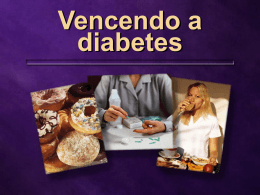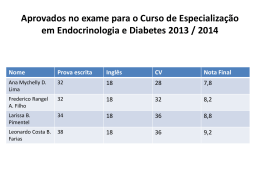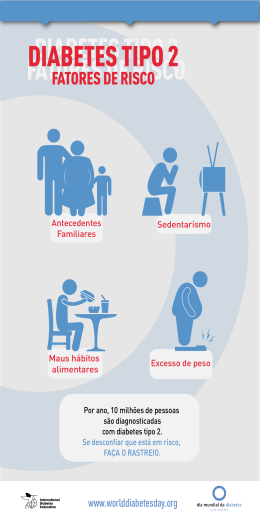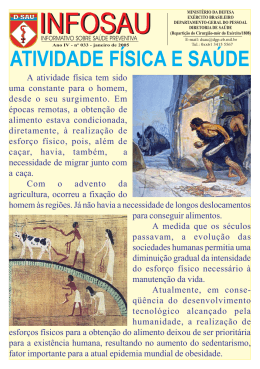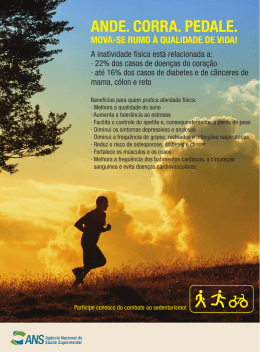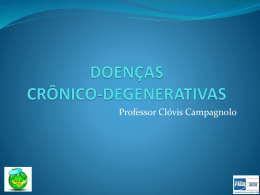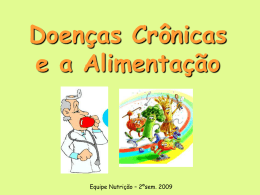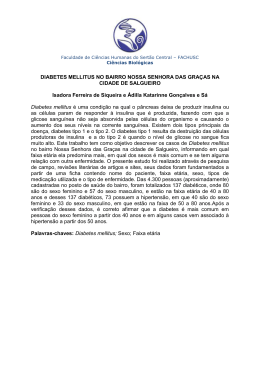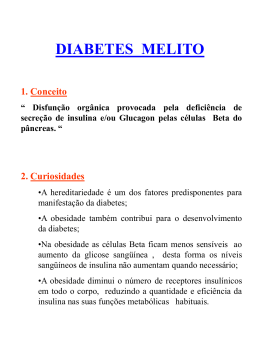issn 0004-2730 30o Congresso brasileiro de endocrinologia e metabologia novembro 2012 7 a 10 de novembro de 2012 Goiânia, GO 56 suplemento 5 Assistente editorial e financeira: Roselaine Monteiro Rua Botucatu, 572 – conjunto 83 – 04023-062 – São Paulo, SP Telefax: (11) 5575-0311 / 5082-4788 [email protected] Submissão on-line / Divulgação eletrônica www.abem-sbem.org.br • www.scielo.br/abem Rua Anseriz, 27, Campo Belo 04618-050 – São Paulo, SP. Fone: 11 3093-3300 www.segmentofarma.com.br • [email protected] Diretor-geral: Idelcio D. Patricio Diretor executivo: Jorge Rangel Gerente financeira: Andréa Rangel Gerente comercial: Rodrigo Mourão Editorachefe: Daniela Barros MTb 39.311 Comunicações médicas: Cristiana Bravo Gerentes de negócios: Marcela Crespi e Philipp Santos Coordenadora comercial: Andrea Figueiro Gerente editorial: Cristiane Mezzari Coordenadora editorial: Sandra Regina Santana Assistente editorial: Camila Mesquita Estagiárias de produção editorial: Aline Oliveira e Patrícia Harumi Designer: Flávio Santana Revisora: Glair Picolo Coimbra Produtor gráfico: Fabio Rangel Cód. da publicação: 13474.10.12 Todos os anúncios devem respeitar rigorosamente o disposto na RDC nº96/08 Rua Alvorada, 631 – Vila Olímpia – 04550-003 – São Paulo – SP Tel.: (11) 3849-0099/3044-1339 [email protected] • growup-eventos.com.br Assessoria Comercial: Reginaldo Ramos Tiragem desta edição: 2.800 exemplares Preço da Assinatura: R$ 450,00/ano – Fascículo Avulso: R$ 55,00 Indexada por Biological Abstracts, Index Medicus, Latindex, Lilacs, MedLine, SciELO, Scopus, ISI-Web of Science ARQUIVOS BRASILEIROS DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. – São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, v. 5, 1955Nove edições/ano Continuação de: Arquivos Brasileiros de Endocrinologia (v. 1-4), 1951-1955 Título em inglês: Brazilian Archives of Endocrinology and Metabolism ISSN 0004-2730 (versões impressas) ISSN 1677-9487 (versões on-line) 1. Endocrinologia – Periódicos 2. Metabolismo-Periódicos I. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia II. Associação Médica Brasileira. CDU 612.43 Endocrinologia CDU 612.015.3 Metabolismo Apoio: Órgão oficial de divulgação científica da SBEM – Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Departamento da Associação Médica Brasileira), SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes, ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e SOBEMOM – Sociedade Brasileira de Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral 2011-2012 EDITOR-CHEFE Comissão Editorial Nacional Luiz Armando de Marco (MG) Sérgio Atala Dib (SP) Ana Luiza Silva Maia (RS) Luiz Augusto Casulari R. da Motta (DF) André Fernandes Reis (SP) Luis Eduardo Calliari (SP) Antônio Carlos Pires (SP) Madson Queiroz Almeida (SP) Antônio Marcondes Lerário (SP) Magnus R. Dias da Silva (SP) Antônio Roberto Chacra (SP) Manoel Ricardo Alves Martins (CE) Ayrton Custódio Moreira (SP) Márcio Faleiros Vendramini (SP) Berenice B. Mendonça (SP) Márcio Mancini (SP) Carlos Alberto Longui (SP) Margaret Cristina S. Boguszewski (PR) Carmen C. Pazos de Moura (RJ) Mario Vaisman (RJ) Célia Regina Nogueira (SP) Marise Lazaretti-Castro (SP) César Luiz Boguszewski (PR) Milton César Foss (SP) EDITORES ASSOCIADOS Claudio E. Kater (SP) Mônica Andrade Lima Gabbay (SP) Presidentes dos departamentos da SBEM Denise Pires de Carvalho (RJ) Mônica Roberto Gadelha (RJ) COEDITORES Alexander A. L. Jorge (SP) Bruno Geloneze Neto (SP) Cynthia Brandão (SP) Evandro S. Portes (SP) Laura Sterian Ward (SP) Renan M. Montenegro Jr. (CE) Editor associado internacional Antonio C. Bianco (EUA) Adrenal e Hipertensão Milena F. Caldato (PA) Diabetes Melito FUNDADOR Waldemar Berardinelli (RJ) EDITORES e CHEFES DE REDAÇÃO* 1951-1955 Waldemar Berardinelli (RJ) Thales Martins (RJ) 1957-1972 Clementino Fraga Filho (RJ) Dislipidemia e Aterosclerose Elaine Maria Frade Costa (SP) Maria Teresa Zanella (SP) Eliana Aparecida Silva (SP) Endocrinologia Básica Eliana Pereira de Araújo (SP) Maria Teresa Nunes (SP) EndoCRINOLOGIA Feminina e Andrologia Alexandre Hohl (SC) Endocrinologia Pediátrica 1995-2006 Claudio Elias Kater (SP) 2007-2010 Edna T. Kimura (SP) Geraldo Medeiros-Neto (SP) Gil Guerra-Júnior (SP) Gisah M. do Amaral (PR) Regina Célia S. Moisés (SP) Ricardo M. R. Meirelles (RJ) Rodrigo Oliveira Moreira (RJ) Rui M. de Barros Maciel (SP) Sandra R. G. Ferreira (SP) Simão A. Lottemberg (SP) Sonir Roberto Antonini (SP) Suemi Marui (SP) Tânia A. S. Bachega (SP) Ubiratan Fabres Machado (SP) Comissão Editorial Internacional Helena Maria Ximenes (SP) Carol Fuzeti Elias (EUA) João Lindolfo C. Borges (DF) Henrique de Lacerda Suplicy (PR) Charis Eng (EUA) Neuroendocrinologia Ileana G. S. Rubio (SP) Décio Eizirik (Bélgica) Janice Sepuvelda Reis (MG) Efisio Puxeddu (Itália) Metabolismo Ósseo e Mineral 1991-1994 Rui M. de Barros Maciel (SP) Francisco Bandeira (PE) Nina Rosa de Castro Musolino (SP) Hans Graf (PR) 1966-1968* Pedro Collett-Solberg (RJ) 1983-1990 Antônio Roberto Chacra (SP) Edna T. Kimura (SP) Eduardo Rochete Ropelle (SP) Angela Maria Spinola-Castro (SP) 1978-1982 Armando de Aguiar Pupo (SP) Edna Nakandakare (SP) Saulo Cavalcanti da Silva (MG) 1964-1966* Luiz Carlos Lobo (RJ) 1969-1972* João Gabriel H. Cordeiro (RJ) Eder Carlos R. Quintão (SP) Manuel dos Santos Faria (MA) Obesidade Rosana Bento Radominski (PR) João Roberto de Sá (SP) Tireoide Jorge Luiz Gross (RS) Laura Sterian Ward (SP) José Augusto Sgarbi (SP) Representantes das Sociedades Colaboradoras José Gilberto H. Vieira (SP) SBD Josivan Gomes de Lima (RN) Saulo Cavalcanti da Silva (MG) ABESO Leila Araujo (BA) SOBEMOM João Lindolfo C. Borges (DF) Fernando Cassorla (Chile) Franco Mantero (Itália) Fredric E. Wondisford (EUA) Gilberto Jorge da Paz Filho (Austrália) Gilberto Velho (França) James A. Fagin (EUA) Laércio Joel Franco (SP) John P. Bilezikian (EUA) Léa Maria Zanini Maciel (SP) Norisato Mitsutake (Japão) Leandro Arthur Diehl (PR) Patrice Rodien (França) Luciano Giacáglia (SP) Peter Kopp (EUA) SBEM – Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Diretoria Nacional da SBEM 2011-2012 Presidente: Airton Golbert Vice-Presidente: Marise Lazaretti-Castro Secretário Executivo: Josivan Gomes de Lima Secretário Executivo Adjunto: Henrique de Lacerda Suplicy Tesoureira Geral: Rosane Kupfer Tesoureiro Geral Adjunto: Luiz Henrique Maciel Griz Rua Humaitá, 85, cj. 501 22261-000 – Rio de Janeiro, RJ Fone/Fax: (21) 2579-0312/2266-0170 Secretária executiva: Julia Maria C. L. Gonçalves www.sbem.org.br [email protected] Departamentos Científicos - 2011/2012 Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Adrenal e Hipertensão Diabetes Mellitus Representante Presidente Milena Caldato Tv. Nove de Janeiro, 456, Umarizal 66000-000 – Belém, PA Fone: (91) 3246-3939 [email protected] Saulo Cavalcanti da Silva Vice-Presidente Luiz Alberto Andreotti Turatti Secretário Antônio Carlos Pires TesoureiroIvan dos Santos Ferraz Diretores Adriana Costa e Forti Rodrigo Nunes Lamounier Balduino Tschiedel Suplentes Sérgio Atala Dib Hermelinda Pedrosa Rua Tomé de Souza, 830, 10o andar, cj. 1005, Savassi 30140-131 – Belo Horizonte, MG Fone: (31) 3261-2927 www.diabetes.org.br [email protected] Dislipidemia e Aterosclerose Endocrinologia Básica Presidente Maria Teresa Zanella Presidente Maria Tereza Nunes Vice-Presidente Fernando Flexa Ribeiro Filho Vice-Presidente Magnus R. Dias da Silva Secretária Gláucia Carneiro SecretáriaTânia Maria Ortiga Carvalho Tesoureira Lydia Mariosa Diretores Celso Rodrigues Franci Diretores Sandra Roberta Vivolo Doris Rosenthal Fernando Giuffrida Adelina Reis Rodrigo Moreira Suplentes Catarina Segreti Porto Ubiratan Fabres Machado Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Rua Leandro Dupret, 365, Vila Clementino 04025-011 – São Paulo, SP Fone: (11) 5904-0400/Fax: (11) 5904-0401 [email protected] Alameda dos Anapurus, ap. 21 04087-022 – São Paulo, SP Fones: (11) 3091-7431/30917645 www.fisio.icb.usp.br [email protected] Departamentos Científicos - 2011/2012 Endocrinologia Feminina e Andrologia Endocrinologia Pediátrica Presidente Alexandre Hohl Vice-Presidente Paulo César Alves da Silva Vice-Presidente Ricardo M. R. Meirelles Diretores Aline Mota da Rocha Presidente Angela Maria Spinola-Castro Diretores Amanda Valéria Luna de Athayde Carlos Alberto Longui Carmen Regina Leal de Assumpção Julienne Ângela Ramires de Carvalho Dolores Perovano Pardini Maria Alice Neves Bordallo Poli Mara Spritzer Marília Martins Guimarães Ruth Clapauch Suplentes Claudia Braga Abadesso Cardoso Maria Tereza Matias Baptista Rodovia SC 401, Km 4, nº 3854 88032-005 – Florianópolis, SC Fone: (48) 3231-0336 www.feminina.org.br • www.andrologia.org.br [email protected] Rua Pedro de Toledo, 980, cj. 52, Vila Clementino 04039-002 – São Paulo, SP Fone: (11) 5579-9409/8259-8277 [email protected]/[email protected] Metabolismo Ósseo e Mineral Neuroendocrinologia Presidente João Lindolfo C. Borges Presidente Vice-Presidente Victória Zeghbi Cochenski Borba Vice-Presidente Antônio Ribeiro de Oliveira Junior Diretores Cynthia Maria Alvares Brandão Diretores César L. Boguszewski Luiz Claudio G. de Castro Lucio Vilar Luiz Henrique de Gregório Luiz Antônio de Araújo Luiz Henrique Maciel Griz Mônica Gadelha Av. Angélica, 1757, cj. 103, Higienópolis 01227-200 – São Paulo. SP Fones: (11) 3822-1965/3826-4677 [email protected] www.sobemom.org.br Obesidade Manuel dos Santos Faria Luciana Ansanelli Naves Suplentes Marcello Delano Bronstein Leonardo Vieira Neto Av. Colares Moreira, 555 65075-441 – São Luis, MA Fone: (98) 3217-4410 [email protected] Tireoide Presidente Rosana Radominski PresidenteLaura Sterian Ward Vice-Presidente Leila Araujo Vice-Presidente Carmen Cabanelas Pazos de Moura Primeiro Secretário Alexandre Koglin Benchimol Secretária Gisah Amaral de Carvalho Segunda Secretária Mônica Beyruti Diretores Cleber Pinto Camacho Tesoureira Cláudia Cozer Vânia Maria Corrêa da Costa Representantes da SBEM Josivan Gomes de Lima Rosalinda Camargo Marcio Mancini José Augusto Sgarbi Suplentes Ana Luiza Silva Maia Célia Regina Nogueira Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade Rua Mato Grosso, 306, cj. 1711 01239-040 – São Paulo, SP Fone: (11) 3079-2298/Fax: (11) 3079-1732 www.abeso.org.br [email protected] Rua Botucatu, 572, cj. 81, Vila Clementino 04023-061 – São Paulo, SP Fone/Fax: (11) 5575-0311 www.tireoide.org.br [email protected] Comissões Permanentes - 2011/2012 Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Acompanhamento do Planejamento Estratégico Internacional Presidente César Boguszewski Presidente Airton Golbert [email protected] Membros Ricardo M. R. Meirelles, Ruy Lyra, Marisa Coral, Valéria Guimarães [email protected] Membros Valéria Guimarães, Thomaz Cruz, Amélio F. Godoy Matos, Marcelo Bronstein Campanhas em Endocrinologia Presidente Adriana Costa e Forti [email protected] Membros Luiz Antônio Araújo, Vívian Ellinger Científica NORMAS, QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO Presidente Ronaldo Neves [email protected] Vice-Presidente Eduardo Dias Membros Diana Viegas, Mauro A. Czepielewski, Nilza Torres Presidente Marise Lazaretti-Castro [email protected] Membros Presidentes Regionais, Presidentes dos Departamentos Científicos Indicados pelas Diretorias Ruy Lyra, Doris Rosenthal, Pedro Wesley, Marcello Bertolucci [email protected] Comunicação Social PESQUISAS Presidente Ricardo M. R. Meirelles [email protected] Editor ABEM Sérgio Atala Dib Membros Marisa Helena César Coral, Rosalvo Reis, Severino Farias Educação Médica Continuada Presidente Dalisbor Marcelo W. Silva [email protected] Membros Laura Sterian Ward, Luiz Susin, Ruth Clapauch Estatutos, Regimentos e Normas Presidente Airton Golber [email protected] Membros Gustavo Caldas, Ronaldo Neves, Alexandre Hohl, Representante da Diretoria Nacional Eduardo Pimentel Ética e Defesa Profissional Paritária – CAAEP Presidente Angela Maria Spinola-Castro MembrosOsmar Monte, Maria Alice Neves Bordallo, Gil Guerra Júnior, Luiz Claudio Castro, Durval Damiani Presidente Freddy Eliaschewitz [email protected] Membros Antônio Roberto Chacra, Luiz Augusto Russo Projeto Diretrizes Coordenador Luiz Claudio Castro [email protected] Adrenal e Hipertensão Milena Caldato Dislipidemia e Aterosclerose Maria Tereza Zanella Diabetes Mellitus Saulo Cavalcanti da Silva Endocrinologia Básica Maria Tereza Nunes Endocrinologia Feminina e Andrologia Alexandre Hohl Endocrinologia Pediátrica Angela Maria Spinola-Castro Metabolismo Ósseo e Mineral João Lindolfo C. Borges Neuroendocrinologia Manuel dos Santos Faria Obesidade Rosana Radominski Tireoide Laura Sterian Ward Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia Corregedor João Modesto [email protected] Vice-CorregedorItairan de Silva Terres 1º vogalTeiichi Oikawa 2º vogal Ney Cavalcanti 3º vogal Victor Gervásio e Silva 4º vogal Neuton Dornellas 5º vogal Maite Chimeno [email protected] História da Endocrinologia Valorização de Novas Lideranças Presidente Luiz César Povoa [email protected] Membros Adriana Costa e Forti, Thomaz Cruz Presidente Presidente: Francisco Bandeira Vice-Presidente: Osmar Monte Membros: Adelaide Rodrigues, César Boguszewski, Lucio Vilar, Marisa Helena César Coral, Marilia Guimarães André Gustavo P. de Sousa [email protected] Vice-Presidente Fernando Ghershman Sociedades e Associações Brasileiras na Área de Endocrinologia e Metabologia SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes Diretoria Nacional da SBD (2012/2013) Presidente Vice-Presidentes 1o Secretário 2a Secretária 1o Tesoureiro 2o Tesoureiro Conselho Fiscal Balduino Tschiedel Hermelinda Cordeiro Pedrosa Lenita Zajdenverg Levimar Rocha Araújo Luiz Alberto Andreotti Turatti Reine Marie Chaves Fonseca Domingos Augusto Malerbi Cristina Figueiredo Sampaio Façanha Antonio Carlos Lerário João Eduardo Nunes Salles Geísa Maria Campos de Macedo Luiz Antonio de Araujo Marcos Cauduro Troian Silmara Oliveira Leite Rua Afonso Brás, 579, cj. 72/74 04511-011– São Paulo, SP Fone/Fax: (11) 3842-4931 [email protected] www.diabetes.org.br Secretária Executiva: Kariane Krinas Davison Gerente Administrativa: Anna Maria Ferreira ABESO – Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica Diretoria Nacional da ABESO (2010-2012) Presidente Vice-Presidente 1o Secretário Geral 2a Secretária Geral Tesoureira Rosana Radominski Leila Araujo Alexandre Koglin Benchimol Mônica Beyruti Cláudia Cozer Rua Mato Grosso, 306, cj. 1711 01239-040 – São Paulo, SP Fone: (11) 3079-2298/Fax: (11) 3079-1732 Secretária: Luciana Bastos [email protected] www.abeso.org.br SOBEMOM – Sociedade Brasileira de Estudos do Metabolismo Ósseo e Mineral Diretoria Nacional da SOBEMOM (2011-2013) Presidente Vice-Presidente Secretária Geral 2o Secretário Tesoureiro Geral 2a Tesoureira Conselho Fiscal João Lindolfo C. Borges Victória Zeghbi Cochenski Borba Cynthia Maria Alvares Brandão Nilson Roberto de Melo Luiz Claudio Gonçalves de Castro Ana Patricia de Paula Marise Lazaretti-Castro, Dalisbor Macerlo Weber Silva, Francisco Alfredo Bandeira e Farias Av. Angélica, 1757, cj. 103, Higienópolis 01227-200 – São Paulo. SP Fones: (11) 3822-1965/3826-4677 [email protected] www.sobemom.org.br TrabalhoS Científicos Trabalhos Científicos A AVALIAÇÃO CIENTÍFICA DOS RESUMOS FOI REALIZADA PELA COMISSÃO CIENTÍFICA DESTE EVENTO. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO ADRENAL E HIPERTENSÃO 1 ASSOCIAÇÃO DE FEOCROMOCITOMA E CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS: UM CASO ATÍPICO – APARECIMENTO TARDIO E FEOCROMOCITOMA MALIGNO....................................................................................................................................................S201 Moura, L. G.; Mourão, G. F.; Muniz, A. L. R.; Rodrigues, M. M. N.; Silva, B. A. C.; Calsolari, M. R.; Noviello, T. B.; Rosário, P. W. 2 ASSOCIAÇÃO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SEDENTARISMO COMO RISCOS CARDIOVASCULARES SOMADOS AO TABAGISMO...................................................................................................................................................................................S201 Mendes, L. J.; Nunes, M. A.; Chalegre, C. M. S.; Kim, I. C.; Menezes, F. T. L.; Melo, J. C. M.; Dantas, D. R. G. 3 CARCINOMA ADRENAL ASSOCIADO À SÍNDROME DE CUSHING................................................................................................S201 Aires, D. K. X.; Fagundes, T. C.; Gomes, P. B.; Félix, T. A. A.; Paz, B. C. S.; Maroccolo, R. R.; Porto, A. L.; Batista, M. C. P. 4 CARCINOMA ADRENAL, SÍNDROME DE CUSHING E HIPERALDOSTERONISMO: RELATO DE CASO...............................................S201 Magalhães, R. S. C.; Reis, M. D. S. L. C.; Maia, C. P.; dos Santos, J. C. V.; Faria, I. M.; Braucks, G. R.; Amorim Júnior, A. C. 5 CARCINOMA ADRENAL: SÉRIE DE CASOS.....................................................................................................................................S202 Souza Júnior, J. A.; Santos, L. R.; Freire, A. C. T. B.; Aum, P. M. P.; Camara, M. F.; Scalissi, N. M.; Lima Júnior, J. V. 6 CARCINOMA ONCOCÍTICO ADRENAL – UMA RARA DOENÇA E DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO........................................................S202 Teixeira, N. M.; Alves, J. M.; Fiorin, D.; Valadão, S. V.; Gentili, A. C.; Cavalcanti T. C.; Rodrigues, A. M. 7 CARCINOMA POUCO DIFERENCIADO EM CÓRTEX DA GLÂNDULA SUPRARRENAL ASSOCIADO A CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE: RELATO DE CASO......................................................................................................................................................S203 Pallone, C. R. S.; Santos, R. A.; Marino, E. C.; Campos, R. G.; Tavares, M. C. S.; Luz, N. M.; Pirozzi, F. F.; Pires, A.C. 8 CRISE ADRENAL PRECIPITADA PELA REPOSIÇÃO COM LEVOTIROXINA NA SUSPEITA DE SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOIMUNE TIPO 2: RELATO DE CASO...............................................................................................................................................................S203 Bizarro, V. R.; Santos, J. C. S.; Bizarro, V.; Araujo, L. M. M.; Rocha, D. R. T. W.; Jorge, A. R.; Arbex, A.K. 9 DOENÇA DE ADDISON POR PARACOCCIDIOIDOMICOSE: RELATO DE CASO..............................................................................S203 Melo, M. C.; Menezes, A. D.; Barros, B. P.; Galvão, A. L. V.; Ferreira, R. D.; Conceição, S. A. 10 EFEITO BENÉFICO DA DEXAMETASONA NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA NÃO CLÁSSICA...............................................S204 Gardin, F. F. G.; Furuta, T. S.; Cunha, L. B.; Callado, C.; Nicolau, A. L.; Arbex, A. K.; Lana, J. M. 11 FEOCROMOCITOMA ASSOCIADO À NEUROFIBROMATOSE DO TIPO 1: RELATO DE CASO...........................................................S204 von Linsingen, C.; Spada, F.; Zanini, E. P. L.; Nishimori, F.; Zagury, R. L.; Vieira Neto, L. 12 FEOCROMOCITOMA COMO CAUSA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE JOVEM: RELATO DE CASO...............S204 Scalfi, V. M.; Silva, E. D.; Annichino, L. R. A.; Castilho, L. N.; Cardoso, F. O. M.; Divitiis, M. J. L. S.; Domenico, C. M.; Silva, A. M. 13 FEOCROMOCITOMA MALIGNO E NEUROFIBROMATOSE: RELATO DE CASO................................................................................S205 Aum, P. M. P.; Silva, A. Z.; Marone, M. M. S.; Hilário, L. N.; Ribas, C.; Scalissi, N. M.; Lima Júnior, J. V. 14 FEOCROMOCITOMA MALIGNO EM UM PACIENTE COM NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 (NF1)......................................................S205 Almeida, M. T.; Almeida, M. Q.; Chambo, J. L.; Soares, I. C. S.; Bronstein, M. D.; Hoff, A. A. F. O.; Fragoso, M. C. B. V. 15 GRANDE CARCINOMA ADRENOCORTICAL PRODUTOR DE CORTISOL ASSINTOMÁTICO.............................................................S205 Marques, T. F.; Beserra, S. R.; Maciel, P. A. G.; Coutinho, D. R. B.; Pequeno, C. P.; Filho, J. M. N. C.; Feitosa, I. D.; Figueiredo, P. R. L. 16 HIPERPLASIA ADRENAL MACRONODULAR: APRESENTAÇÃO DE UM CASO...................................................................................S206 Diniz, E. T.; Marques, T. F.; Martins, A. L. B.; Vasconcelos, R. S.; Siqueira Neto, M. L.; Lima, H. O.; Griz, L. 17 METÁSTASE ADRENAL DE ANGIOSSARCOMA HEPÁTICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CARCINOMA ADRENAL........S206 Magno, G. M.; De Souza Júnior, J. A.; Silva, A. Z.; Cabral, L. M.; Bastos, R. M.; Scalissi, N. M.; Lima Júnior, J. V. 18 NOVO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE DHEA NO SORO POR DILUIÇÃO ISOTÓPICA E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM...........................................................................................................S207 Nakamura, O. H.; Cardozo, K. H. M.; Biscolla, R. P. M.; Brandão, C. M. A.; Vieira, J. G. H.; Carvalho, V. M. 19 PREVALÊNCIA DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO EM FERNANDÓPOLIS E PADRONIZAÇÃO DOS SEUS MÉTODOS LABORATORIAIS.............................................................................................................................................................................S207 Franciscon, L. M. G. S.; Vinhola, S. M.; Merli, B. L. A.; Giavarina, V. I.; Gomes, M. A. R.; Oliveira Neto, J. B.; Fonseca, I. A.; Martines, M. P. 20 PSEUDOCISTO HEMÁTICO DE GLÂNDULA SUPRARRENAL.............................................................................................................S207 Brandão, D. A.; Madeira, M.; Cordeiro, N.; Rivelli, G.; Gabilão, I.; Kasuki, L. 21 PSEUDOCISTO HEMÁTICO DE GLÂNDULA SUPRARRENAL.............................................................................................................S208 Coutinho, E. A. F.; Brandão, D. A.; Cordeiro, N.; Rivelli, G. R.; Netto, I.G.; Kasuki, L. 22 PARAGANGLIOMA EM ADULTO JOVEM COM HISTÓRIA PRÉVIA DE FEOCROMOCITOMA NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO.......S208 Soares, J. O.; Candioto, S. L.; Fonseca, I. F. A.; Nascimento, L. M. V.; Andrade, A. E. M.; Braziliano, C. B.; Almeida, H. G.; Leão, L. M. C. S. M. 23 HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA FORMA CLÁSSICA COM DIAGNÓSTICO TARDIO: RELATO DE CASO..................................S208 Camara, M. F.; Maxta, I. A.; Mandel, F.; Lima Júnior, J. V.; Toledo, L. G. M.; Mendes, R. E.; Scalissi, N. M. 24 PACIENTE COM FEOCROMOCITOMA MALIGNO IRRESSECÁVEL E HIPERCALCEMIA: RELATO DE CASO.......................................S209 Sá, M. A.; Madruga, I. D.; Valeriano, A. M.; Gomes, C. L.; Beltrão, F. E. L.; Farias, M. B.; França, T. C. 25 SÍNDROME DE GARDNER E ADENOMA ADRENAL: RELATO DE CASO............................................................................................S209 Souza Júnior, J. A.; Santos, L. R.; Cyrulnik, F. M. B.; Oliveira, F. M.; Mendes, R. E.; Scalissi, N. M.; Lima Junior, J. V. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 26 SÍNDROME DE CUSHING ACTH-INDEPENDENTE COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ADRENAIS NORMAL...................S209 Conceição, F. L.; Giorgetta, J. M.; Blotta, F. G. S.; Cunha Neto, S. H.; Vieira Neto, L. 27 SÍNDROME DE CUSHING SUBCLÍNICA DECORRENTE DE INCIDENTALOMAS ADRENAIS BILATERAIS.............................................S210 Coutinho, E. A. F.; Rivelli, G. R.; Netto, I. G.; Brandão, D. A.; Cordeiro, N.; Kasuki, L.; Braz, R. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR/GENÉTICA 28 A NOVEL HETEROZYGOUS OTX2 DELETERIOUS VARIANT (P.H230L) IN A PATIENT WITH HYPOPITUITARISM AND ECTOPIC POSTERIOR PITUITARY WITHOUT EYE MALFO..................................................................................................................................S210 Carvalho, L. R. S.; Moreira, M.; França, M.; Otto, A.P.; Correia, F.; Arnhold, I. J. P.; Mendonca, B. B.; Camper, S.A. 29 A PROTEÍNA CARREADORA DO RETINOL 4 COMO BIOMARCADOR DE RISCO CARDIOVASCULAR E RESISTÊNCIA À INSULINA EM PORTADORAS DE DIABETES TIPO 2................................................................................................................................................S210 Comucci, E. B.; Vasques, A. C. J.; Silva, C. C.; Calixto, A. R.; Regiani, D.; Geloneze, B.; Pareja, J. C.; Tambascia, M. A. 30 ANÁLISE DO POLIMORFISMO DE GSTM1 E GSTT1 POR PCR EM TEMPO REAL MULTIPLEX EM ESTUDO CASO CONTROLE NA SUSCETIBILIDADE AO DIABETES TIPO 2...........................................................................................................................................S211 Pinheiro, D. S.; Filho, C. R. R.; Mundim, C. A.; Ulhoa, C. J.; Ghedini, P. C.; Reis, A. A. S. 31 ANÁLISE MOLECULAR DO GENE SOX3 EM PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA COMBINADA DE GH E EM CONTROLES NORMAIS PELA TÉCNICA DE MLPA................................................................................................................................................S211 Madeira, J. L. O.; França, M. M.; Otto, A. P.; Correa, F.; Funari, M.; Arnhold, I. J. P.; Mendonça, B. B.; Carvalho, L. R. 32 DISPLASIA GELEOFÍSICA: RELATO DE CASO...................................................................................................................................S211 Mendes, R. M.; Bandeira, L. G.; Garcia, R. A.; Penedo, P. H.; Cardozo, R. R.; Carvalho L. M.; Araujo, R. O. 33 GENE RSPO1 & DDS 46,XX TESTICULAR SRY-NEGATIVO: NOVA MUTAÇÃO CAUSA FENÓTIPO VARIÁVEL EM UMA GRANDE FAMÍLIA CONSANGUÍNEA.............................................................................................................................................................S212 Silva, R. B.; Nishi, M. Y.; Domenice, S. D.; Carvalho, L. C.; Mendonca, B. B. 34 NOVA MUTAÇÃO DETECTADA NO GENE WFS1 EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS, PERDA AUDITIVA E ATROFIA ÓPTICA..........................................................................................................................................................................................S212 Socachewsky, L. D. A.; Sato, M. T.; Pilotto, R. F. 35 ROSUVASTATINA MELHORA O METABOLISMO GLICÍDICO, NAFLD E DISTRIBUIÇÃO DO TECIDO ADIPOSO EM CAMUNDONGOS C57BL/6 ALIMENTADOS COM DIETA HIGH FAT.............................................................................................................................S213 Ferreira, R. N.; Vilanova, L. C. S.; Carvalho, J. J. 36 SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: RELATO DE CASO....................................................................................................................S213 Sandoval, M. F.; Cabral, M. R. S.; Melo, M. A.; Borges, D. R.; Rodrigues, J. R.; Landim, G. A. C. P.; Queiroz, C. S. 37 SÍNDROME DE MCCUNE ALBRIGHT COM ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS DE HIPERTIREOIDISMO......................................................S213 Garcia, R. A.; Cardoso, M. T. O.; Bandeira, L. G.; Andrade, I. G.; Mendes, R. M.; Cardoso, R. R. S.; Carvalho, L. M. DIABETES 38 24-HOUR BLOOD PRESSURE HOMEOSTASIS IN SUBJECTS WITH DIFFERENT DEGREES OF GLUCOSE TOLERANCE..........................S214 Piccoli, V.; Smith, A. L.; Fabbrin, A.; Santos, M.; von Frankenberg, A. D.; Nascimento, F. V.; Canani, L. H. 39 AÇÃO ACERTE O ALVO: AVALIAÇÃO DO CONTROLE METABÓLICO E PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES MELLITUS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ.....................................................................................................................S214 Pescador, M. V. B.; Zanuzzo, F.; Pescador, S. V. B.; Ceranto, D. F. B.; Machado, R.; Kalinowski, I. C. B.; Rotta, L. S.; Vilas Boas, J. A. 40 ALERGIA À INSULINA......................................................................................................................................................................S215 Réa, R. R.; Valadao, L. S.; Polesel, M. G. 41 ALERGIA ÀS INSULINAS HUMANAS E ANÁLOGOS: EVOLUÇÃO DE PACIENTE SUBMETIDA A UM PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE TOLERÂNCIA À INSULINA HUMANA...............................................................................................................................................S215 Silva, M. C.; Ronsoni, M. F.; Colin, C.; Schreiber, C. S. O.; Kowalski, M. E.; Batti, M. A. C. S. B.; Mazzuco, R. M. 42 ANÁLISE DE RELAÇÃO ENTRE DIABETES E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS – RESULTADOS PARCIAIS..............................S215 Ramos, M. A. B. P.; Oliveira, I. F.; Magalhães, F. O.; Silva, D. E. S.; Lopes, T. N. C.; Araujo, J. N.; Leão, B. C. 43 ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 E PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES...S216 Francisco, B. D. S.; Campos, A. C. N.; Martins, S.; Scalissi, N. M.; Salles, J. E. N. 44 ASSOCIAÇÃO DE APNEIA DO SONO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E COM SÍNDROME METABÓLICA EM DIABÉTICOS TIPO 2.............................................................................................................................................................................................S216 Paula, A. S. L.; Santana, A. N. C.; Sete, A. R. C. 45 ASSOCIAÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E FUNÇÃO RENAL NORMAL EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELITO TIPO 2.............................................................................................................................................................................................S216 Camargo, E. G.; Cheuiche, A. V.; Araújo, G. N.; Silveiro, S. P. 46 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E HIPOTIREOIDISMO AUTOIMUNE: RESULTADOS PARCIAIS...........................................S217 Thirone, A. C. P.; Magalhães, F. O.; Rocha, G. H. C.; Ribeiro, V. M. F. C. R.; Ferreira, G. C.; Caetano, J. A.; Galhardi, A. L. T. 47 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E FENÓTIPO DE RIGIDEZ ARTERIAL EM UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO GERAL............................................................................................................................................................................................S217 Alvim, R. O.; Santos, P. C. J. L.; Musso, M. M.; Cunha, R. S.; Mill, J. G.; Krieger, J. E.; Pereira, A. C. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 48 ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO E CETOACIDOSE DIABÉTICA..........................................................................................S217 Chalegre, C. M. S.; Feitosa, V. A.; Mendes, L. J.; Cavalcanti, M. C. 49 ASSOCIATION BETWEEN ERECTILE DYSFUNCTION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS HYPERTENSIVE PATIENTS AND ECHOCARDIOGRAPHIC VARIABLES...............................................................................................................................................S218 Severo, M. D.; Leiria, L. F.; Ledur, P. S.; Becker, A. D.; Aguiar, F. M.; Gus, M.; Schaan, B. A. 50 AVALIAÇÃO DA COMORBIDADE DE DIABETES E HIPERTENSÃO EM PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL DA GUANABARA..................................................................................................................................................................................S218 Pontes, C. D. N.; Serruya, T.; Demachki, N. 51 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS ANTICÉLULA PARIETAL, ANTIFATOR INTRÍNSECO E ANEMIA PERNICIOSA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1..................................................................................................................................S218 Ferraz, A. L.; Dantas, J. R.; Laudier, A. A.; Barone, B.; Zajdenverg, L.; Rodacki, M.; Oliveira, J. E. P. 52 AVALIAÇÃO DA GLICEMIA E DA HEMOGLOBINA GLICADA COMO CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1.............................................................................................................................................................................S219 Proença, A. F. P.; Rezek, G. S. S.; Araújo, M. F. A.; Rezende, C. A. C.; Toniolo, J. V.; Ferreira, M. R.; Araújo, A. C. M. 53 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM DIABÉTICOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM DIABETES..............................................................................................................................................................S219 Couto, J. S.; Silva, C. P.; Soares, L. S.; Lacerda, A. M.; Krepker, F. F.; Mendonça, M. D. V.; Costa, M. B. 54 AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO INICIAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO ENTRE OS ANOS 2007 E 2012........................................................................................................................................................S220 Coelho, M. C.; Mendes, L. J.; Chalegre, C. M. S.; Feitosa, V. A. 55 AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE PACIENTES INTERNADOS POR DIABETES MELLITUS (DM) NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA E HERBIÁTRICA NA REGIÃO SUDESTE................................................................................................................................................S220 Pacheco, C. F. V.; Sutti, D.; Barcelos, R. N.; Biancardi, N. F.; Biancardi, M. F.; Saavedra, P. C.; Guimarães, F. F. 56 AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÍDICO EM GRÁVIDAS DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA DE UMA MATERNIDADE DE VITÓRIA-ES.....................................................................................................................................................................................S220 Itaborahy, L. M.; Guimarães, R. V.; Peseto, R. P.; Lima, M. M. S.; Casini, A. F.; Lacerda,T. S. G.; Ruschi, G. E. C.; França, L. C. 57 AVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO NO DIAGNÓSTICO DE DM1 EM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO........................................................................................................................................................S221 Mendes, L. J.; Cavalcanti, M. C.; Chalegre, C. M. S.; Feitosa, V. A. 58 AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DAS COMORBIDADES DO DIABÉTICO TIPO 2 PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE........................S221 Sugita, T. H.; Gomes, H. L. F; Yamamoto, R. M. 59 AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO E USO DE MEDICAÇÃO EM PACIENTES DIABÉTICOS EM UNIDADES BÁSICAS DE GOIÂNIA...................................................................................................................................................................................S221 Sugita, T. H.; Gomes, H. L. F.; Yamamoto, R. M. 60 BENEFÍCIO DO USO DO ESQUEMA DE INSULINA BASAL-BOLUS NO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2.......................S222 Araújo, F. A. S.; Almeida, L. H. E.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 61 CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO DIABETES EM JUIZ DE FORA/MG: PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS........................S222 Marquito, A. B.; de Paula, R. B. 62 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 AO DIAGNÓSTICO: UMA VISÃO EVOLUTIVA DE DOIS PERÍODOS NOS ÚLTIMOS 35 ANOS...............................................................................................................S222 Coutinho, C. A.; Noronha, R.; Monte, O.; Calliari, L. E. P. 63 CAUSAS MAIS FREQUENTES DE INTERNAÇÃO EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO.......................................................................................................................S223 Chalegre, C. M. S.; Mendes, L. J.; Feitosa, V. A.; Cavalcanti, M. C. 64 CETOACIDOSE DIABÉTICA, PRIMODIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 1 E IDOSA DE 72 ANOS: UMA RARA COMBINAÇÃO.........S223 Rodrigues, M. M. N.; Calsolari, M. R.; Moura, L. G.; Mourão, G. F.; Muniz, A. L. R.; Noviello, T. B.; Rosário, P. W. S.; Silva, B. A. C. 65 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D (25 OHD) E PREVALÊNCIA DE DIABETES.........................................................................................S223 de Paula, C. A.; Valle, P. O.; Costa, P. S.; Correa, R. C.; Paraguassu, B. R.; Pereira, N. G. B.; Filho, F. F.; Santomauro, A. T. 66 DETERMINAÇÃO DE MENOR DOSE TERAPÊUTICA EFETIVA DO EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATHYMENIA RETICULATA ARA CONTROLE GLICÊMICO........................................................................................................................................................S224 Magalhães, F. O.; Uber-Buceck, E.; Ceron, P. I. B.; Name, T. F.; Amuy, F. F.; Silva, F. C.; Scorsolin, V. C. 67 DETERMINANTS OF b-CELL DISFUNCTION IN SUBJECTS WITH DIFFERENT DEGREES OF GLUCOSE TOLERANCE.............................S224 Nascimento, F. V.; Piccoli, V.; Smith, A. L.; Fabbrin, A.; Santos, M. F.; Frankenberg, A. D.; Canani, L. H. 68 DIABETES COMO PRINCIPAL FATOR DE RISCO PARA DOENÇA CORONARIANA EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO PRETO, MG.....................................................................................................................................S224 Silva, J. F. M.; Resende, N. M.; Silva, L. A. M.; Gontijo, R. V. 69 DIABETES FLATBUSH: RELATO DE CASO..........................................................................................................................................S225 Magalhães, R. S.; Reis, M. D. S. L. C.; Santos, J. C. V.; Maia, C. P.; Corrêa, M. V.; Balderrama, N. R.; Faria, I. M. 70 DIABETES MELLITUS (DM): A INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA NESTA DOENÇA CRÔNICA...........................................................S225 Rocha, I. C.; Brandão, J. F. N.; Nachtigall, M. C.; Borges, M. D. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 71 DIABETES MELLITUS TIPO 1 E POLIRRADICULOPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA: RELATO DE CASO..................S226 Pinho, V. C. M. F.; Paula, S. L. F. M.; Mundim, C. A.; Espindola-Antunes, D.; Jatene, E. M.; Borges, M. A. F.; Dias, M. L. 72 DIABETES MELLITUS TIPO 1 E TUBERCULOSE HEPÁTICA: RELATO DE CASO.....................................................................................S226 Carvalho, C. O.; Carvalho, A.; Carvalho, O. A. O.; Gonzalez, T. S.; Buemerad, J. R.; Aranha, A. B.; Jezini, D. L. 73 DOENÇA RENAL CRÔNICA PODE SER SUBDIAGNOSTICADA EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS.........................................................S226 Carmo, W. B.; Costa, M. B.; Galil, A. G.; Lanna, C. M. M.; Costa, D. M. N.; Bastos, M. G. 74 DOR ABDOMINAL RECORRENTE EM JOVEM COM DIABETES MELLITUS: CAUSA RARA DE DIABETES SECUNDÁRIO.....................S227 Zajdenverg, L.; Blotta, F.; Laudier, A. A.; Miranda, M.; Rodacki, M. 75 DUAS MUTAÇÕES CAUSADORAS DE MODY 2 IDENTIFICADAS DURANTE INVESTIGAÇÃO DE BAIXA ESTATURA............................S227 Caetano, L. A.; Jorge, A. A. L.; Malaquias, A. C.; Trarbach, E. B.; Queiroz, M. S.; Nery, M.; Teles, M. G. 76 EFEITO DA ACUPUNTURA SOBRE METABOLISMO LIPÍDICO E DE ÁCIDO ÚRICO EM PACIENTES DIABÉTICOS: RESULTADOS PARCIAIS........................................................................................................................................................................................S227 Ribeiro, N. C.; Dias, C. R.; Barbosa, G. S.; Vasconcelos, E. B.; Magalhães, F. O.; Lopes, I. C. R. 77 EFEITOS DA ACUPUNTURA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES DIABÉTICOS: RESULTADOS PARCIAIS....................................S228 Barbosa, G. S.; Ribeiro, N. C.; Vasconcelos, E. B.; Magalhães, F. O.; Lopes, I. C. R. 78 EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA (RYGB) NA MELHORA DA SECREÇÃO DE INSULINA E SENSIBILIDADE À INSULINA EM DIABÉTICOS OBESOS GRAU I.........................................................................................................................................................S228 Nascimento, A. C. F.; Lambert, G. S.; Hirsch, F. F.; Lima, M. O.; Pareja, J. C.; Chain, E.; Geloneze, B. 79 EFEITOS DE DIFERENTES DOSES DA INFUSÃO DE FRUTOS DE MOMORDICA CHARANTIA L. EM RATOS DIABÉTICOS ALOXANIZADOS.............................................................................................................................................................................S228 Santos, F. B. G.; Silva, M. M. M. C.; Andrade, M. A. V.; Nazareth, A. F.; Vasconcelos, L. L. B.; Ferreira, R. M. 80 ESCLEREDEMA DE BUSCHKE DE LOCALIZAÇÃO ATÍPICA: RELATO DE CASO..................................................................................S229 Shiappacassa, A.; Bicudo, A. D.; Rocha, D. S.; Kupfer, R.; Kendler, D. B. 81 ESTADO NUTRICIONAL E DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE BARBACENA, MG........................................................................................................................................................S229 Faria, G. B.; Saviotti, C.; Navarro, A. P. C. C.; Chevtchouk, L.; Pinel, S. C. M.; Jurno, M.; Fazito, D. 82 ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM RELAÇÃO À DOENÇA RENAL CRÔNICA.......................................................................................................................................................................................S229 Francisco, B. D. S.; Figueiredo, V. C. T. P.; Dias, C. R.; Andrade, L. C. C.; Louros, M. K.; Scalissi, N. M.; Salles, J. E. N.; Miorin, L. A. 83 FATORES AMBIENTAIS DETERMINANTES NO DESENCADEAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 1................................................S230 Brandao, C. D. G.; Hegner, C. C.; Silvia Rosi Loss, S. R.; Amâncio, L. N.; Magliano, A. C. 84 FATORES ASSOCIADOS À REDUÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (TFG) OU PRESENÇA DE MICROALBUMINÚRIA ISOLADAS EM PACIENTES DIABÉTICOS..........................................................................................................................................S230 Lima, J. G.; Souza, A. B. C.; Mesquita, D. J. T. M.; Fernandes, F. C.; Fernandes, K. M.; Figueiredo, L. S. G.; Nobrega, L. H. C. 85 FATORES DE RISCO METABÓLICO E OBESIDADE EM MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL PRÉVIO........S230 Coutinho, M. A. P.; Macedo, E. A.; Costa, M. J. C.; Filizola, R. G. 86 HEMIBALISMO SECUNDÁRIO À HIPERGLICEMIA NÃO CETÓTICA: RELATO DE CASO....................................................................S231 Nakano, B. S. L.; Pereira, L. S. B.; Moma, C. A.; Tambascia, M. A.; Pavin, E. J.; Parisi, M. C. R.; Minicucci, W. J. 87 HIPERGLICEMIA AGUDA REDUZ O RELAXAMENTO VASCULAR EM CORAÇÕES ISOLADOS DE RATAS OVARIECTOMIZADAS........S231 Gonçalves, W. L. S.; Rodrigues, A. N.; Frasson, T. S.; Resende, R. S.; Gouvea, S. A.; Moyses, M. R.; Abreu, G. R. 88 HIPERPLASIA DE ILHOTAS PANCREÁTICAS INDUZIDA POR EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE PLANTA DO CERRADO....................S232 Magalhães, F. O.; Uber-Buceck, E.; Ceron, P. I. B.; Carlo, R. L.; Coelho, H. E.; Barbosa, C. H. G.; Carvalho, T. F. 89 HIPOGLICEMIA EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SEUS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS – HIPOFISITE E HIPOGLICEMIA FACTÍCIA..............................................................................................................................................................S232 Nascimento, P. P.; Santomauro Júnior, A. C.; Bomfim, O. C.; Alvarenga, T. C.; Nogueira, K. C.; Queiroz, M. S.; Nery, M. 90 IMPACTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL SOBRE O CONTROLE METABÓLICO NO DIABETES MELLITUS DO TIPO 2.....S232 Magalhães, R. M. C.; Fernandes, L. F. M. C.; Amante, B. M.; Sá, G. V.; Barbosa, S. R.; Lima, J. R. L.; Castro, A. P. A. 91 IMPACTO DO POLIMORFISMO +9/-9 DO GENE DO RECEPTOR B2 DA BRADICININA NA GLICEMIA DE JEJUM E NO RISCO PARA DIABETES MELLITUS...............................................................................................................................................................S233 Alvim, R. O.; Santos, P. C. J. L.; Neto, R. M. N.; Machado-Coelho, G. L.; Krieger, J. E.; Pereira, A. C. 92 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL VERSUS ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL: QUAL DOS DOIS APRESENTA MAIOR RELAÇÃO COM O DIABETES MELLITUS TIPO 2?..............................................................................................................................................S233 Oliveira, C. M.; Mourão-Júnior, C. A.; Alvim, R. O.; Krieger, J. E.; Pereira, A. C. 93 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM METFORMINA SOBRE A RESISTÊNCIA INSULÍNICA INDUZIDA PELA DEXAMETASONA EM RATOS WISTAR................................................................................................................................................................................S233 Sousa, M. R. S.; Dantas, J. F.; Sousa, J.; Costa, S. B. A.; Branco, R.; Santos, P. N. C.; Martins, R. L. R. 94 LADA E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................S234 Correa, M. V.; Maia, C. P.; Tonet, C.; Costa, G. R. G.; Mansur, V. A. R.; Cabizuca, C. A.; Oliveira, A. M. N. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 95 MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE EM 42 ATLETAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1) DURANTE CORRIDA DE 18 KM.......................................................................................................................................................................................S234 Lamounier, R. N.; Mendes, G. L. C.; Silva, M. G.; Pereira, W. V. C.; Cordeiro, L. H. L.; Miranda, M. L.; Giannella-Neto, D. 96 NESIDIOBLASTOSE: RELATO DE CASO............................................................................................................................................S234 Bicudo, A. N.; Lalli, C. A. 97 NOVA ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTOANTICORPOS CONTRA O TRANSPORTADOR DE ZINCO 8 E O POLIMORFISMO DO GENE PTPN22 EM UMA POPULAÇÃO MULTIÉTNICA DE PACI.........................................................................................................S235 Araújo, D. B.; Laudier, A. A.; Dantas, J. R.; Kupfer, R.; Milech, A.; Rodacki, M.; Zajdenverg, L.; Oliveira, J. E. P. 98 RELAÇÃO ENTRE GLICEMIA CASUAL E ATIVIDADE FÍSICA DE PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS...................S235 Francescantonio, I. C. M.; Rezende, K. N.; Borges, A. L. F.; Castro, M. A.; Curado, J. A. C.; Cruvinel, W. M.; Miranda, T. M. T.; Francescantonio, I. C. C. M. 99 PARÂMETROS DA SÍNDROME METABÓLICA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2....................................................S235 Veloso, F. L. M.; Mota, G. R.; Rodrigues, G. L.; Dutra, A. S. S.; Lanna, C. M. M.; Costa, M. B.; Ferreira, L. V. 100 PERFIL DE RISCO PARA EVENTOS CARDIOVASCULARES EM DIABÉTICOS TIPO 2 ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DO AMBULATÓRIO ARAÚJO LIMA, MANAUS.................................................................................................S236 Buemerad, J. R.; Gonzalez, T. G. S.; Carvalho, O. A. O.; Aranha, A. B.; Coceiro, K. N.; Costa, M. C. T.; Gomes, L. S.; Jezini, D. L. 101 PERFIL METABÓLICO DOS PACIENTES COM DIABETES MELLITUS ENCAMINHADOS PARA O SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA....S236 Sugita, T. H.; Gomes, H. L. F.; Yamamoto, M. R. M. 102 PHYSIOPATHOLOGY OF TYPE 2 DIABETES INITIATED AFTER SIXTY YEARS OLD AND CHARACTERIZATION OF DIABETIC-RELATED INCRETINPATHY IN AGING SUBJECTS............................................................................................................................................S236 Oliveira, M. S.; Vasques, A. C. J.; Novaes, F. S.; Calixto, A. R.; Pareja, J. C.; Tambascia, M. A.; Geloneze, B. 103 POLIRRADICULOPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DO DIABETES TIPO 1........S237 Moerbeck, A. E. V.; Soffientini, M. G.; Chachamovitz, D. S. O.; Rodrigues, R.; Candia, A. M.; Rodrigues, B. B. B. E. 104 PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1.............................................................................................................................................................................................S237 Homma, T. K.; Noronha, R. M.; Saruhashi, T.; Mori, A. P. I.; Endo, C. M.; Kochi, C.; Calliari, L. E. P. 105 PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL DIABÉTICA ENTRE PACIENTES ATENDIDOS EM UM CENTRO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA, MG.................................................................................................................................................S238 Maddalena, N. C. P.; Musse, G. N. V.; Bertolin, A. J.; Almeida, T. R.; Lanna, C. M. M.; Bastos, M. G.; Andrade, L. C. F. 106 PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS MACROVASCULARES EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2.............................................................................................................................................................................................S238 Paula, C. A.; Dallal, M. V. S.; Vieira, M. C. C.; Valle, P. O.; Paraguassu, B. R.; Pereira, N. G. B.; Santomauro, A. T.; Filho, F. F. 107 PREVALÊNCIA DE LESÃO ARTERIAL CORONARIANA GRAVE EM PACIENTES COM E SEM SÍNDROME METABÓLICA.....................S238 Francisco, B. D. S.; Campos, A. C. N.; Mariani Junior, J.; Scalisse, N. M.; Salles, J. E. N. 108 PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM POPULAÇÃO ATENDIDA EM GOIÂNIA PELA LIGA ACADÊMICA DE DIABETES DA UFG.......................................................................................................................................S239 Melo, M. C.; Dias, N. S.; Trindade, D. B.; Alves, P. F. M.; Oliveira, P. M. 109 PSEUDO-HIPOGLICEMIA: CAUSA DE GLICEMIA CAPILAR NÃO CONFIÁVEL SECUNDÁRIA ÀS ALTERAÇÕES NA MICROCIRCULAÇÃO.....................................................................................................................................................................S239 Nascimento, P. P.; Bomfim, O. C. D.; Silva, M. C.; Santomauro Júnior, A. C.; Oliveira, T. C. A.; Bezerra, M. G. T.; Queiroz, M. S.; Nery, M. 110 RELAÇÃO ENTRE GLICEMIA CASUAL E CREATININA EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA PUC, GO..............................................................................................................................................S239 Rezende, K. N.; Oliveira, I. R.; Ribeiro, K.; Campos, H. A.; Wastowski, I. J.; Francescantonio, I. C. C. M.; Miranda, T. M. T. 111 RELAÇÃO ENTRE HEMOGLOBINA GLICADA E CREATININA EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA MUTIRÃO EM GOIÂNIA.................................................................................................................................S240 Francescantonio, I. C. M.; Carvalho, B. A.; Normanha, L. L.; Ribeiro, K.; Rezende, K. N.; Pires, B. M.; Coutinho, A. C.; Francescantonio, I. C. C. M. 112 ASSOCIAÇÃO DE DIVERSAS DOENÇAS AUTOIMUNES COM DIABETES AUTOIMUNE LATENTE DO ADULTO: RELATO DE CASO.....S240 Francisco, B. D. S.; Campos, A. C.; Dias, C. A. R.; Scalissi, N. M.; Salles, J. E. N. 113 USO ESPONTÂNEO DE INFUSÃO DE PLATHYMENIA RETICULATA: RELATO DE CASO......................................................................S240 Magalhães, F. O.; Uber-Buceck, E.; Ceron, P. I. B.; Name, T. F.; Honorato, L. G. C.; Silva, J. S. P.; Amuy, F. F. 114 DIABETES FLATBUSH: RELATO DE CASO..........................................................................................................................................S241 Tonial, C. C.; Oliveira, K. M. A.; Normando, A. P. C.; Roberto, M. S.; Moraes, D. R.; Renck, A. C. 115 RESPOSTA AO USO DE GLP-1 MIMÉTICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO 2 CARREADORES DE POLIMORFISMO NO TCF7L2.....................................................................................................................................................................................S241 Ferreira, M. C.; Silva, M. E. R.; Fukui, R. T.; Arruda-Marques, M. C.; Correia, M. R.; Santos, R. F. 116 RISCO PARA HIPOGLICEMIA EM IDOSOS COM DIABETES TIPO 2 TRATADOS COM ANTIDIABÉTICOS ORAIS...............................S241 Pereira, N. G. B.; Filho, F. F.; Santomauro, A. T.; Dallal, M. V. S.; Costa, P. S.; Paraguassu, B. R.; Vieira, M. C. C.; Contrucci, A. C. 117 SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS AND PREDIABETES AMONG BRAZILIANS WITH INCREASED RISK OF DEVELOPING TYPE 2 DIABETES.............................................................................................................................................................................S242 Giorelli, G. V.; Saado, A.; Matos, L.; Dias, C. B. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 118 SÍNDROME DE MAURIAC: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA.......................................................................................S242 Jorge, A. S. R.; Barros, J. A. S.; Freire, R. A. C.; Sansana, L. R. Z.; Martins, D. M. C.; Reis, G. M. C. 119 SÍNDROME DE MAURIAC: O MAL CONTROLE DO DM TIPO 1 COMO SINAL DE ALERTA DIAGNÓSTICO.......................................S242 Moreira, A. L.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 120 SÍNDROME DE WOLFRAM: RELATO DE CASOS...............................................................................................................................S243 Nunes, M. N.; Esperidião, A. C.; Guedes, J. T.; Santos, K. D.; Silva, A. E.; Jorge, M. L. M. P.; Jorge, P. T. 121 TEMPO DE INTERNAÇÃO DE DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS INTERNADOS EM ENFERMARIAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TERESÓPOLIS COSTANTINO OTTAVIANO..................................................................................................................S243 Naliato, E. C. O.; Lima Júnior, M. P.; Spinola, E. A. 122 TIREOPATIAS EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS.................................................................................................................................................................................S243 Pereira, L. S. B.; Lorente, A. C.; Parisi, M. C. R.; Tambascia, M. A.; Minicucci, W. J.; Zantut Wittmann, D. E.; Pavin, E. J. 123 TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E RISCO DE DIABETES..................................................................................................S244 Pereira, N. G. B.; Filho, F. F.; Santomauro, A. N.; Dallal, M. V. S.; Costa, P. S.; Correa, R. C.; Paula, C. A.; Vieira, M. C. C. 124 USO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 E ESCLEROSE SISTÊMICA: RELATO DE CASO........................................................................................................................................................S244 Pereira, L. S. B.; Moma, C. A.; Gurgel, A.; Minicucci, W. J.; Moura Neto, A.; Parisi, M. C.; Pavin, E. J. 125 USO DE INIBIDORES DA DPP-IV EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 INADEQUADAMENTE CONTROLADOS COM METFORMINA E GLICAZIDA..................................................................................................................................................S244 Costa, P. S.; Valle, P. O.; Correa, R. C.; Paraguassu, B. R.; Paula, C. A.; Capps, L. M. M.; Santomauro, A. T.; Fraige Filho, F. 126 USO DE LIRAGLUTIDA EM PACIENTE COM OBESIDADE, DIABETES E ACROMEGALIA.....................................................................S245 da Costa, R.; Silva Júnior, W. S.; Cruz, I. C.; Alencastro-Corrêa, A. T.; Warszawski, L.; Campos, C. F. C.; Coutinho, W. F. 127 USO DO ESCORE FRAMINGHAM DE RISCO CARDIOVASCULAR PARA OTIMIZAR USO DE ASPIRINA NA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EM DIABÉTICOS TIPO 2................................................................................................................S245 de Paula, A. S. L.; Santana, A. N. C.; Sete, A. R. C. 128 XANTOMAS ERUPTIVOS COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE DIABETES MELLITUS ASSOCIADO À HIPERTRIGLICERIDEMIA: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................................................S245 Amorim, T. G.; Colombo, B. S.; Costa, M. C.; Correa, C. G.; Schreiber, C. S. O.; Coral, M. H. C.; Hohl, A. DISLIPIDEMIA E ATEROSCLEROSE 129 ASSOCIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR A MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM PACIENTES COM DISLIPIDEMIA.........................S246 da Silva, H. G. V.; Moreira, A. S. B.; Fortunado, J.; Assad, M. H. 130 ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE ÁCIDO ÚRICO COM INGESTÃO DE NUTRIENTES, GORDURA CORPORAL E VISCERAL, E PERFIL LIPÍDICO – BRAMS............................................................................................................................................................S246 Cassani, R. S. L.; Loeschke, V. S.; de Freitas, A. L. G.; Hanada, A. S.; de Souza, A. P. D. F.; Vasques, A. C. J.; Tambáscia, M.; Geloneze, B. 131 AVALIAÇÃO DE LÍPIDES COM USO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATYMENIA RETICULATA..................................................S247 Magalhães, F. O.; Uber-Buceck, E.; Ceron, P. I. B.; Name, T. F.; Honorato, L. G. C.; Silva, F. C.; Scorsolin, V. C. 132 AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE VISCERAL........................................................................S247 Pacheco, M. O.; Aragão, M. T.; Araujo, J.; Costa, P. O.; Pacheco, J. M. O.; Aguiar-Oliveira, M. H.; Silva, A. M. 133 AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE.....................................................................................................................................................................S247 Emmerick, T. C.; Oliveira, H. B. S.; Lucena-Couto, R. A.; Santos, N. L.; Macieira, J. C. 134 CARVEDILOL E SALSALATO NA PREVENÇÃO DE HIPERTENSÃO, DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E INFLAMAÇÃO INDUZIDAS POR ÁCIDOS GRAXOS LIVRES...............................................................................................................................................................S248 Siqueira, J.; Pasquel, F. J.; Newton, C.; Peng, L.; Al Mheid, I.; Smiley, D.; Umpierrez, G. E. 135 COMO TRATAR A HIPERTRIGLICERIDEMIA EM UMA POPULAÇÃO DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR?.......................................S248 da Silva, H. G. V.; Fortunato, J.; Assad, M. H.; Moreira, A. S. B. 136 COMPORTAMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA PODE MODULAR O IMPACTO DO SNP RS9939609 DO GENE FTO EM DISTÚRBIOS DECORRENTES DA OBESIDADE?.................................................................................................................................S248 Pires, M. M.; Curti, M. L. R.; Folchetti, L. D.; Barros, C. R.; Siqueira-Catania, A.; Salvador, E. P.; Vivolo, S. R. G. F. 137 DISLIPIDEMIA GRAVE NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO.................................................................................................................S249 Meneguesso, A. M. A.; Maia, R. E.; Matos, L. L.; Nóbrega, M. P.; Rodrigues, M. L. C.; Diniz, C. M. C.; Silva, M. N. M. 138 ESPESSURA DA ÍNTIMA MÉDIA CAROTÍDEA EM NÃO DIABÉTICOS COMO INDICADOR DE RISCO CARDIOMETABÓLICO: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA.........................................................................................................................S249 Comucci, E. B.; Rocha, L. M.; Vasques, A. C. J.; Regiani, D.; Pareja, A. C.; Tambascia, M. A.; Geloneze, B. 139 FREQUÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE..............................................................................................................S249 Pereira, P. M. V. N.; Braga, I. C. H. B.; Pereira, L. T. A.; Garcia, M. M.; Oliveira, H. B. S.; Aguiar-Oliveira, M. H.; Macieira, J. C. 140 IMPACTO DA HIPERTRIGLICERIDEMIA NO RISCO CARDIOVASCULAR DE ACORDO COM ESCORE DE FRAMINGHAM EM PACIENTES DIABÉTICOS DO TIPO 2................................................................................................................................................S250 Musso, M. M.; Alvim, R. O.; Albuquerque, D. P.; de Oliveira, C. M.; Mourão Júnior, C. A. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 141 PADRÃO DIETÉTICO-COMPORTAMENTAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM DISMETABOLISMO NUTRICIONAL E MEDIDAS DE GORDURA CORPORAL..................................................................................................................................................................S250 Cassani, R. S. L.; Gonçalves, A. L. F.; Souza, C. L.; Camacho, C. M.; Pedrotti, A.; Vasques, A. C. J.; Tambáscia, M.; Geloneze, B. 142 PAPEL DA PLASMAFÉRESE NA HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR GRAVE......................................................................................S250 Lima, J. G.; Nobrega, L. H.; Amorim, A. D. P. S.; Feijo, B. M. X. C. R. R. 143 PROFILE OF NON-TRADITIONAL ATHEROGENETIC MARKERS ACCORDING TO GENDER AND AGE...............................................S251 Pititto, B. A.; Ribeiro Filho, F. F.; Lotufo, P. A.; Bensenor, I. EDUCAÇÃO 144 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA TÉCNICA DO ROLE-PLAYING NO ENSINO DAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES MELLITUS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA...................................................................................................................S251 Rego, D. P.; Almeida, J. H. M.; Almeida Júnior, E. G.; França Neto, M. B.; Sobreira, B. A.; Filgueiras, I. B. R.; Araújo, J. S. A. 145 CURSO DE EDUCAÇÃO EM DIABETES MELLITUS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) EM 2011.........................S251 Rodrigues, M. T.; Carniceiro, G. B. C.; Silva, A. M.; Silva, T. G.; Lima, P. A. M. S.; Rocha, A. E.; Said, L. S. END. FEMININA E ANDROLOGIA 146 ADERÊNCIA À TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL DA MENOPAUSA: UM PERFIL DA MULHER BRASILEIRA................................S252 Menezes, A. M. S.; Alves, Z. S.; Pardini, D. P. 147 ALTERAÇÕES ENDOCRINOLÓGICAS EM PACIENTE COM CROMOSSOMO 11 EM ANEL: RELATO DE CASO.................................S252 Vieira Neto, L.; Mata, F. B.; Oliveira, S. L.; Eccard, G. B. H. 148 EFEITOS DO ESTRADIOL PERCUTÂNEO NOS SINTOMAS CLIMATÉRICOS, LIBIDO E NÍVEIS DE ESTEROIDES SEXUAIS......................S253 Giorelli, G. V.; Avanza, R. C. O.; Pereira, J. Z.; Pereira Junior, L. C.; Duarte, M. P. C.; Farias, M. L. F.; Leão, L. M. C. S. M. 149 EFEITOS DO USO PROLONGADO DE ESTRADIOL PERCUTÂNEO EM PARÂMETROS METABÓLICOS...............................................S253 Pereira Junior L. C.; Pires, B. P.; Giorelli, G. V.; Pereira, J. Z.; Duarte, M. P. C.; Farias, M. L. F.; Leão, L. M. C. S. M. 150 GINECOMASTIA BILATERAL SECUNDÁRIA A TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG PRODUTOR DE ESTRADIOL.....................................S253 Machado, A. S.; Ribeiro Filho, F. F.; Silva, A. M. C.; Oikawa, T.; Felício, K. M.; Felício, J. S. 151 HIPOGONADISMO EM OBESOS GRAU 3 NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU-UFSC).............................................................................................................................................................S253 Tomaz, R. R.; Colombo, B. S.; Silva, M. C.; Schreiber, C. S. O.; Coral, M. H. C.; Hohl, A. 152 HIPOGONADISMO MASCULINO EM HANSENÍASE........................................................................................................................S254 Bittencourt, A. V.; Oliveira, M. F.; Jesus, H. B.; França, L. S. 153 PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO NA PREVENÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA PERIFÉRICA EM RATAS OVARIECTOMIZADAS NÃO DIABÉTICAS.........................................................................................................................................S254 Gonçalves, W. L. S.; Teixeira, L. R.; Farina, G. R.; Kondo, K. R. J.; Poltronieri, G. C. M.; Rodrigues, A. N.; de Abreu, G. R. 154 PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM UM CASO DE INFERTILIDADE CAUSADA POR HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE.................................................................................................................................................S255 Gomes, M. C. S.; Jatene, E. M.; de Paula, S. L. F. M.; Espíndola-Antunes, D.; Viggiano, D. P. P. O.; Mundim, C. A.; Rodrigues, M. L. D. 155 PUBERDADE PRECOCE E BAIXA ESTATURA: UMA ASSOCIAÇÃO COMUM.....................................................................................S255 Rosso, D.; de Sousa, J. D. M.; Caminhas, J. L. D.; Souza, M. C. P.; Franco, B. P.; Silva, M. S. L.; Arbex, A. K. 156 RELAÇÃO DE DESCENSO NOTURNO COM PARÂMETROS METABÓLICOS E RESISTÊNCIA À INSULINA.........................................S255 Oliveira, R. S.; Redorat, R. G.; Hartz, G.; Conceição, F. L. 157 RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA E ÍNTIMA MÉDIA DE CARÓTIDAS EM MULHERES COM SOP.......................................S255 Redorat, R. G.; Oliveira, R. S.; Hartz, G.; Sales, E.; Conceição, F. L. 158 SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER COMO CAUSA DE AMENORREIA PRIMÁRIA...............................................S256 Kapritchkoff, P.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 159 SÍNDROME DE SHEEHAN: RELATO DE CASO..................................................................................................................................S256 Rosa, E. R.; Conceição, S. A.; Andrade, L. M.; Melo, M. C.; Mendonça, A. M.; Santos, D. F.; Barros, B. P. 160 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D...............................................................................S256 Candioto, S. L.; Avanza, R. O.; Pires, B. P.; Bordallo, M. A. N.; Silva, C. N.; Gazolla, F. M.; Leão, L. M. C. S. M. 161 SOP EM JOVEM, COM HIRSUTISMO SEVERO, DM2, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DOR PRECORDIAL ATÍPICA: RESPOSTA AO TRATAMENTO COM ANÁLOGO DO GNRH....................................................................................................................................S257 Weiss, R. V.; Meirelles, R. M.; Milech, A.; Leitão, M. V.; Serfaty, F.; Baldissera, E. R. Endocrinopediatria 162 ASTROCITOMA PILOCÍTICO CEREBELAR EM PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME DE TURNER..................................................S257 Jorge, A. S. R.; Reis, G. M. C.; Oliveira, A. F. R.; Amorim Junior, M. C.; Amorim, P. B.; Guedes, V. R.; Amorim, R. B. P. 163 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA PUBARCA PRECOCE ISOLADA.............................................................................................S258 Alves, L. M. R.; Paiva, R. R.; Guimarães, M. M.; Cargnin, K. R. N.; Hosannah, C. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 164 BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA: UMA ABORDAGEM FARMACOGENÉTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RESPONDEDORES AO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO..................................................................................................................S258 Cunha, I. R. C.; Marques, F. A.; Lamback, E. B.; Barbosa, M. E.; Medina, C. T. N.; Cardoso, M. T. O.; Pogue, R. 165 CONFIRMAÇÃO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA PELO ESTUDO DO GENE CYP21A2 EM CRIANÇAS COM 17- HIDROXIPROGESTERONA PERSISTENTEMENTE ELEVADA..........................................................................................................S258 Castro, P. S.; Rassi, T. O.; Mantovani, R. M.; Pezzuti, I. L.; Bachega, T. S.; Silva, I. N. 166 CONFIRMAÇÃO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA PELO ESTUDO DO GENE CYP21A2 EM CRIANÇAS COM 17-HIDROXIPROGESTERONA PERSISTENTEMENTE ELEVADA AP......................................................................................................S259 Castro, P. S.; Rassi, T. O.; Mantovani, R. M.; Pezzuti, I. L.; Bachega, T. S.; Silva, I. N. 167 DIABETES MONOGÊNICO: DIFICULDADES EM SE ESTABELECER O DIAGNÓSTICO........................................................................S259 Tavares, F. S.; Prado, F. A.; Pedrosa, H. C.; Corbal, B. S.; Guedelha, L. P. S.; Seganfredo, I. B.; Batista, M. C. P.; Araujo, F. J. S. 168 DISTÚRBIO DE CRESCIMENTO E SÍNDROME DE WILLIAMS.............................................................................................................S260 Bandeira, L. G.; Carvalho, L. M.; Cardozo, R. R. S.; Mendes, R. M.; Garcia, R. A.; Penedo, P. H. F.; Dias, R. G. A. 169 DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO SEVERO NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE FORMA CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL......................................................................................................................................................S260 Roberto, M. S.; Rocha, M. P.; Pellucci, L. A.; Normando, A. P. C.; Couto, M. P.; Renck A. C.; Vasconcelos, V. C. 170 EFFECT OF GH THERAPY IN IDIOPATHIC SHORT STATURE WITH MILD GH DEFICIENCY OR PARTIAL GH INSENSITIVITY..................S260 Oliveira, C. R. P.1; Cardoso, D. F.1; Martinelli Junior, C. E.1; Pereira, F. A.1; Pereira, R. M. C.1; Gomes, E. S.1; Oliveira, M. H. A.1 171 HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA PERSISTENTE DA INFÂNCIA: RELATO DE CASO....................................................................S261 Rosa, E. R.; Conceição, S. A.; Melo, M. C.; dos Santos, D. F.; Fernandes, X. L. M.; Soares, P. M. 172 HIPOGLICEMIA NEONATAL POR DEFICIÊNCIA DE GLICOSE 6 FOSFATASE....................................................................................S261 Stella, L. C.; Buck, C. O. B.; Nissola, L. 173 NÍVEIS DE TSH NA POPULAÇÃO MENOR DE 18 ANOS, PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN....................................................S261 Rodrigues, I. K.; Hanna, E.; Rabelo, E. C.; Bomfim, L. M.; Hanna, L. 174 OS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (DGH) ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS MAIS PRECOCEMENTE PARA A REPOSIÇÃO HORMONAL?....................................................................................................................S262 Dias, J. C. R.; Costa, R. G.; Gonçalves, A. L.; Pazello, J. R.; Zampieri, M.; Nigri, A. A.; Senger, M. H. 175 PERCEPÇÃO DA OBESIDADE EM CRIANÇAS.................................................................................................................................S262 Costa, P. S.; Stella, L. C.; Dallal, M. V. S.; Valle, P. O.; Correa, R. C.; Fraige Filho, F.; Paraguassu, B. R. 176 PERFIL DE ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS À ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA...........................S262 Dias, A. L. R.; Cruz, A. P. V.; Silva, E. A.; Freitas, M. M. S.; Costa, M. B.; Leite, C. C. A.; Ferreira, L. V. 177 PREVALÊNCIA DE ALBUMINÚRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE...........................................S263 Maddalena, N. C. P.; Giardini, H. A. M.; Ferreira, L. V.; Costa, M. B. 178 TRATAMENTO COM RADIOIODO (I131) EM CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE GRAVES: RELATO DE CASO DE SUCESSO........................................................................................................................................................................S263 Gontijo, C. C. A.; Luz, B. G.; Rodrigues, E. T.; Albuquerque, F. A.; Rodrigues, L. P.; Pinheiro, M. B.; Maia, N. S. 179 SÍNDROME DE NETHERTON E DEFICIÊNCIA DE GH: RELATO DE CASO..........................................................................................S263 Freire, R. A. C.; Martins, D. M. C.; Ribeiro, L. G.; Amorim, P. B.; Amorim, R. B. P. 180 SÍNDROME DE SMITH LEMLI OPITZ (SLOS): RELATO DE CASO........................................................................................................S264 Rodrigues, A. A.; Peixoto, F. M. C.; Carvalho, L. R. P.; Schainberg, A. 181 TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG SE APRESENTANDO COMO PUBERDADE PRECOCE....................................................................S264 Vasconcelos, A. L. M.; Abreu, C. M.; Souza, A. E. S.; Pereira, F. W. L.; Martins, M. C. N.; Farias, L. F. C. S.; Silva, J. M. C. L. ENDOCRINOLOGIA BÁSICA 182 ACROMEGALIA ASSOCIADA A BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO: RELATO DE CASO....................................................................S265 Ferreira, W. S.; Faria, N. L. A. 183 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME METABÓLICA E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS: RESULTADOS PARCIAIS.......S265 Alves, N. P.; Curado, R. V. C.; Vargas, P. M.; Packer, V. B.; Rufato, G. S.; Nascimento, N. M. M.; Magalhães, F. O. 184 CRISE HIPERCALCÊMICA COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO............S265 Mello, M. P.; Côsso, M. A. M.; Barbosa, E. N.; Rodrigues, L. F. A. A.; Marques, J. N. C.; Abreu, R. K.; Ferreira, A. C. M. N. 185 DIFICULDADE NA DETECÇÃO DA SÍNDROME DE ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER: RELATO DE CASO..............................................S266 Moreira, E. C.; Rocha, D. R. T. W.; Jorge, A. R.; Arbex, A. K.; Bogea, M. A.; Andrade, G. C. M. 186 DOIS IRMÃOS COM SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: RELATO DE CASO...................................................................................S266 Gontijo, C. C. A.; Pinheiro, M. B.; Souza, L. N. B.; Rodrigues, L. P.; Luz, B. G.; Maia, N. S.; Lavareda, P. H. B.; dos Santos, C. M. 187 EFEITOS DO TREINAMENTO NATAÇÃO NA REATIVIDADE VASCULAR CORONARIANA DE RATAS COM DEFICIÊNCIA OVARIANA.....................................................................................................................................................................................S266 Gonçalves, W. L. S.; Calazans, R.; Rodrigues, A. N.; Farina, G. R.; Jacobsen, B. B.; Resende, R. S.; Endlich, P. W.; Abreu, G. R. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 188 ESTUDOS EXPERIMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANIMAL DE SÍNDROME METABÓLICA SEM OBESIDADE....................................................................................................................................................................................S267 Gonçalves, W. L. S.; Rodrigues, A. N.; Poltonieri, G. C. M.; Resende, R. S.; Gouvea, S. A.; Moyses, M. R.; Abreu, G. R. 189 HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO: RELATO DE CASO......................................................................S267 Marques, K. R.; Normando, A. P. C.; Cunha, F. S.; Rocha, M. P.; Vasconcelos, V. C.; Oliveira, K. M. A.; Tonial, C. C. 190 INCREASED GLYCEMIA AFTER ACUTE INTERMITTENT HYPOXIA IS DEPENDENT OF SYMPATHETIC ACTIVATION.............................S267 Zoccal, D. B.; Gonçalves-Neto, L. M.; Ferreira, F. B. D.; Protzek, A. O. P.; Boschero, A. C.; Nunes, E. A. 191 NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 2A (MEN 2A): RELATO DE CASO...................................................................................S268 Vieira, C. A.; Souto, C. L.; Xavier, M. F.; Oliveira, R. C. C.; Junior, A. R. O. 192 NESIDIOBLASTOSE NO ADULTO: RELATO DE CASO........................................................................................................................S268 Batista, M. C. P.; Santos, R. B. A.; Aires, D. K. X.; Castro, M. H. A.; Cunha, A. A.; Tavares, F.; Pedrosa, H. C. 193 RECUPERAÇÃO DO CRESCIMENTO APÓS CORREÇÃO ALIMENTAR..............................................................................................S268 Moreira, E. C.; Rocha, D. R. T. W.; Jorge, A. R.; Arbex, A. K.; Andrade, G. C. M.; Matta, A. ENFERMAGEM 194 AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA DE ACOLHIMENTO INTEGRADO EM AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA AO DIABETES.....S269 Motta, B. F. B.; Castro, A. P. A.; Ribeiro, D. S.; Costa, M. B.; Filgueiras, M. S. T. EPIDEMIOLOGIA 195 ANÁLISE DO PERFIL METABÓLICO DO ESTUDANTE DE MEDICINA RECÉM-INGRESSO NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO (UGF)....S269 Iwamoto, R. C.; Dresch, E. T.; Chachamovitz, D. S. O.; Silva, S. A. R. 196 ASSOCIAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS E GLICEMIA EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTO COMUNITÁRIO......................................................................................................................S269 Francescantonio, I. C. C. M.; Almeida, F. S.; Araújo, A. P.; Monteiro, M. M.; Miranda, T. M. T. 197 ESTUDO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA LIGA ACADÊMICA DE DIABETES NO ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS – 2011...................................................................................................................................................S270 Barros, B. P.; Faria, A. A. S.; Jesus, C. O.; Santos, D. F.; Ferreira, R. D.; Fernandes, X. L. M. 198 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO DIABETES MELLITUS TIPO I E II......................................................................................................S270 Pontes, C. D. N.; Nabila, T. D.; Tally, S. 199 HOSPITALIZAÇÕES POR DIABETES EM MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE BRASILEIRO....................................................................S270 Batista, S. R. R.; Pinto, F. K. M. S.; Pedroso, J. H. V. 200 OBESIDADE E SOBREPESO INFANTIL: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA...........................................S271 Oliveira, C. M.; Magalhães, G. L.; Toaiari, H. M. C.; Mourão-Júnior, C. A. 201 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE TRIAGEM EM ENDOCRINOLOGIA......................................................S271 Saraiva, J. M.; Ferreira, C. T.; Couto, J. S.; Alves, W. C. S.; Peixoto, F. R.; Costa, M. B.; Ferreira, L. V. 202 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS IDOSOS ATENDIDOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM ALAGOAS........S271 Omena, A. A. S.; Ribeiro, H. L.; Presidio, G. A.; Silva, N. M.; Mendonça, T. A.; Vaz, R. M.; Mota, M. C. T. L. 203 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS EM UM MUNICÍPIO FLUMINENSE............................................................................................................................S272 Dantés, L. B.; Dantés, T. B.; Beltrão, M. J.; Sampaio, C. B. D. 204 PERFIL PRESSÓRICO, GLICÊMICO E ANTROPOMÉTRICO DE UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO DE BAEPENDI, MG: DADOS OBTIDOS DURANTE UMA FEIRA DE SAÚDE.....................................................................................................................................S272 Musso, M. M.; Maciel, R. P.; Manso-Musso, M.; Alvim, R. O.; Oliveira, C. M.; Krieger, J. E.; Pereira, A. C.; Mourão-Júnior, C. A. 205 PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM PACIENTES DE 30 A 69 ANOS ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS...................S273 Francescantonio, I. C. C. M.; Francescantonio, I. C. M.; Castro, M. E. C.; Araújo, A. G. O.; Chaves, F. S.; Martins, N. A. T.; Santos, J. P. O.; Mecenas, C. L. 206 PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE.................................................................................................................................................................................S273 Nóbrega, G. B.; Mendes, L. J.; Menezes, F. T. L.; Pinto, P. A. L. A.; Batista, A. V. S.; Neto, A. M. S. 207 PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS EM MAIO DE 2011 E 2012..... S273 Francescantonio, I. C. C. M.; Francescantonio I. C. M.; Rezende, K. N.; Borges, A. L. F.; Miranda, T. M. T.; Carvalho, B. A.; Guimarães, J. P.; Carvalho, M. B. 208 RELAÇÃO ENTRE PERFIL GLICÊMICO E O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA.................................S274 Almeida, S. B.; Gomes Neto, P. S.; Fernandes, V. L. C.; Araújo, J. S. A.; Maia, T. F.; Magalhães, D. R.; Montenegro Junior, R. M. METABOLISMO ÓSSEO 209 AVALIAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO À IRC ANTES E APÓS PARATIREOIDECTOMIA TOTAL........................................................................................................................................................S274 Andrade, L. E. S.; Leal, C. T. S. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 210 A IDADE AO DIAGNÓSTICO ESTÁ DIRETAMENTE ASSOCIADA À BAIXA DENSIDADE ÓSSEA EM PACIENTES COM HEPATITE AUTOIMUNE...................................................................................................................................................................................S274 Barros, L. F.; Casimiro, P. H. R.; Mendonça, L. M. C.; Nogueira, C. A. V.; Perez, R. M. 211 ALTERAÇÕES VOCAIS E AVALIAÇÃO DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO DURANTE O TRATAMENTO COM ALENDRONATO ORAL EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS COM OSTEOPOR......................................................................................................S275 Araújo, A. C. L.; Maia, J. M. C.; Alencar, R. C.; Dubeux, R. A.; Bandeira, F. 212 ASPECTOS CINTILOGRÁFICOS SIMULANDO LESÕES ÓSSEAS METASTÁTICAS EM UMA PACIENTE COM OSTEOMALÁCIA E DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D.........................................................................................................................................................S275 Silva, N. M.; Barbosa, J. L. S.; Camelo, M. G. G.; Souza, P. M. M. S.; Cruz, J. A. S. 213 ASSOCIAÇÃO ENTRE FRATURAS VERTEBRAIS E COMORBIDADES EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS SEDENTÁRIAS................S275 Fronza, F. C. A. O.; Moreira-Pfrimer, L.; Santos, R. N.; Silva, D. A. S.; Petroski, E. L. 214 AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR.............................................................................................................................................................................S276 Lima, G. A. C.; Silva, L. C.; Paranhos Neto, F. P.; Gomes, C. P.; Farias, M. L. F.; Mendonça, L. M. C.; Lima, I. C. B. 215 AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA APÓS FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS: UM ESTUDO DE COORTE NO SUL DO BRASIL.....................S276 Premaor, M. O.; Laranjeira, J. A.; Luft, M.; Brito, L. G.; Monticielo, O. A. 216 BENEFÍCIOS DE UM PROGRAMA DE HIDROGINÁSTICA DE ALTA INTENSIDADE (HYDROS) SOBRE O METABOLISMO ÓSSEO E A MASSA ÓSSEA DE MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS....................................................................................................................S276 Pfrimer, L. D. F. M.; Fronza, F. C. A. O.; dos Santos, R. N.; Teixeira, L. R.; Castro, M. L. 217 BONE MINERAL DENSITY, JOINT FUNCTION AND STRUCTURE IN GENETIC AND LIFETIME ISOLATED GH DEFICIENCY...................S277 Oliveira, C. R. P.; Epitácio-Pereira, C. C.; Silva, G. M. F.; Salvatori, R.; Brito, A. V. O.; Santana, J. A. M.; Pereira, F. A.; Aguiar-Oliveira, M. H. 218 BONE STATUS AND CALCIUM SCORE IN OLDER INDIVIDUALS WITH UNTREATED ISOLATED LIFETIME GH DEFICIENCY..................S277 Oliveira, M. H. A.; Souza, A. H. O.; Farias, M. I. T.; Salvatori, R.; Santana, J. A. M.,; Oliveira, C. R. P.; Pereira, R. M. C. 219 CALCIFICAÇÕES DOS NÚCLEOS DA BASE SECUNDÁRIOS A HIPOPARATIREOIDISMO IDIOPÁTICO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA................................................................................................................................................................S277 Simionatto, C. A. ; Montagna, C. G. ; Finardi, A. B. P. ; Betônico, C. C. R. ; Filho, F. R. P. ; Marin, F. F. 220 CARCINOMA DE PARATIREOIDE ASSOCIADO A TUMOR MARROM: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA......................S278 Carvalho, N. G.; Simionatto, C. A.; Betônico, C. C. R.; Neto, A. M.; Marin, F. F.; Filho, F. R. P. 221 CARCINOMA DE PARATIREOIDE EM PACIENTE COM HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO FAMILIAR: RELATO DE CASO..............S278 Reis, F. M. G.; Lima, M. A. B. 222 CARCINOMA PARATIREOIDE: RELATO DE CASO............................................................................................................................S279 Ferreira, L.; Silva, M. C.; Colombo, B. S.; Correa, C. G.; Canalli, M. H. B. S.; Schreiber, C. S. O.; Hohl, A. 223 ESTUDO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TERESINA, PIAUÍ..............................................................................................................................................................................S279 Dias, M. L. R.; Carvalho, M. S.; Carvalho, M. K. S.; Ventura, C. A.; Cavalcante, T. N.; Alves, M. P.; Sousa, C. C. 224 ETIOPATOGENIA DA OSTEOPOROSE NA DOENÇA DE CROHN (DC) E RETOCOLITE ULCERATIVA (RCU).....................................S279 Paula, F. J. A.; Bastos, C.; Nogueira-Barbosa, M. H.; Salmon, C. E. G.; Troncon, L. E. A. 225 HIDROGINÁSTICA DE ALTA INTENSIDADE (HYDROS) MELHORA EQUILÍBRIO E FORÇA MUSCULAR E REDUZ QUEDAS EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS..................................................................................................................................................S280 Pfrimer, L. D. F. M.; Fronza, F. C. A. O.; Santos, R. N.; Teixeira, L. R.; Castro, M. L. 226 HIPERFOSFATASIA IDIOPÁTICA: RELATO DE CASO..........................................................................................................................S280 Coutinho, E. A. F.; Inoue, T. H.; Loureiro, A. D.; Gomes, G. S.; Rivelli, G. R.; Netto, I. G. 227 HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO (HPT1) POR ADENOMA DE PARATIREOIDE COM DOENÇA ÓSSEA GRAVE ASSOCIADO À CRISE HIPERCALCÊMICA..........................................................................................................................................................................S281 Farias, M. L. F.; Giorgetta, J. M.; Choeri, D. M.; Dias, C. R. P. S.; Laudier, A. A.; Teixeira, P. F.; Conceição, F. L. 228 HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO CLÁSSICO DIAGNOSTICADO APÓS INVESTIGAÇÃO DO SINTOMA DE FRAQUEZA MUSCULAR: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................................................S281 Mariosa, L. S. S.; Araújo, M. F. A.; Toniolo, J. V.; Coelho, C. A. R.; Steck, J. H.; Camacho, E. L.; Theodoro, C. S.; Santos, R. A. 229 HIPOCALCEMIA INCOMUM: RAQUITISMO DEPENDENTE DE VITAMINA D TIPO I...........................................................................S281 Santos, L. M.; Ramalho, M. C. B.; Vale, A. M. C.; Marocco, T.; Oliveira, T. P.; Ayelo, T. P.; Portes, E. 230 HIPOPARATIREOIDISMO COM CALCIFICAÇÕES EM GÂNGLIOS DA BASE E CONFUSÃO MENTAL AGUDA 22 ANOS APÓS TIREOIDECTOMIA...........................................................................................................................................................................S282 Hatanaka, T. S.; Terasaka, F.; Terra, E.; Bianchini, G.; Isaac, L.; Datilo, C.; Corrêa, R.; Padula, F. 231 HIPOPARATIREOIDISMO EM PACIENTE IDOSO...............................................................................................................................S282 Gonçalves, N. C.; Fonseca, E. C. R.; Borges, M. F.; Lara, B. H. J.; Ribeiro, F. A.; Sousa, G. R. V.; Josahkian, J. A. 232 HIPOPARATIREOIDISMO EM PACIENTES BARIÁTRICOS: RELATO DE CASO.....................................................................................S282 Bergamim, A. A. C.; Panazzolo, D. G.; Pires, B. P.; Braga, T. G.; Almeida, H. G.; Maranhão, P. A.; Aguiar, L. G. K. 233 INFLUÊNCIA DO STATUS DE VITAMINA D NA ABSORÇÃO INTESTINAL DE ESTRÔNCIO..................................................................S283 Vilaça, T.; Camargo, M.; Rocha, O. G. F.; Lazaretti-Castro, M. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 234 INTRAOPERATIVE PTH CUTOFF DEFINITION TO PREDICT SUCCESSFUL PARATHYROIDECTOMY IN SECONDARY AND TERTIARY HYPERPARATHYROIDISM................................................................................................................................................................S283 Ohe, M. N.; Kunii, S. I.; Abrahão, M.; Cervantes, O.; Neves, C. M.; Lazaretti-Castro, M.; Vieira, J. G. H. 235 MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E NO ESTADO NUTRICIONAL APÓS PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA..................................................................................................................................................S284 Silva, H. G. V.; Moreira, A. S. B.; Carmo, L. S.; Madeira, F. S.; Maya, M. C. A. 236 NEFROCALCINOSE ASSOCIADA A NORMOCALCEMIA E PTH ELEVADO: HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO OU HIPERPARATIREOIDISMO NORMOCALCÊMICO?...........................................................................................................................S284 Maia, J. M. C.; Amaral, L. M. B.; Almeida, C. B. S.; Lucena, C. S.; Bandeira, F. 237 NÍVEIS SÉRICOS DE 25OHD3 E PTH SE CORRELACIONAM COM COMPONENTES TRADICIONAIS DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA................................................................................................................................S284 Peters, B. S. E.; Martini, L. A.; Hayashi, L. F.; Lazaretti-Castro, M. 238 OSTEODISTROFIA DE ALBRIGHT OU PSEUDO-HIPOPARATIREOIDISMO TIPO 1A.............................................................................S285 Machado, S. C. M. P.; Faria, G. B.; Lameirinhas, T. S.; Rocha, E. T.; Campos, C. M.; Jurno, M. E.; Chevtchouk, L. 239 OSTEOMALACIA SECUNDÁRIA À SÍNDROME DE FANCONI INDUZIDA PELO USO DE TENOFOVIR (TDF).......................................S285 Conceição, F. L.; Blotta, F.; Laudier, A. A.; Teixeira, P. F.; Conceição, F. L. 240 PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE UMA SÉRIE DE CASOS DE CARCINOMA DE PARATIREOIDE................................................S285 Aum, P. M. P.; Scalissi, N. M.; Maeda, S. S.; Magno, G. M.; Souza Júnior, J. A.; Guardia, V. C.; Mendes, R. E. S.; Freire, A. C. T. B. 241 PERFIL OSTEOMETABÓLICO DE UMA AMOSTRA DE INDIVÍDUOS LONGEVOS DA COMUNIDADE: RESULTADOS PRELIMINARES...S286 Foroni, M. Z.; Cendoroglo, M. S.; Peters, B. S. E.; Moreira, P. F. P.; Lazaretti-Castro, M. 242 RADIOFREQUENCY ABLATION OF PULMONARY METASTASES IN PARATHYROID CARCINOMA: AN ALTERNATIVE THERAPY FOR SEVERE REFRACTORY HYPERCALCEMIA........................................................................................................................................S286 Lourenço Junior, D. M.; Hoff, A. O.; Alcantara, A. E. E.; Teixeira, C. H.; Martin, R. M.; Pedro Corrêa, H. S.; Menezes, M. 243 CARCINOMA DE PARATIREOIDE E FOME ÓSSEA: RELATO DE CASO..............................................................................................S286 Martins, C. M.; Orlandi, D. M.; Valle, L. A.; Ohe, M.; Santos, R.; Lazaretti-Castro, M.; Vieira, J. G.; Janovsky, C. 244 HIPERCORTISOLISMO CRÔNICO COMO FATOR DESENCADEANTE DE OSTEOPOROSE EM MULHER JOVEM: RELATO DE CASO.S287 Magalhaes, P. L. D.; Garcia, M. C.; Rezende, T. F. R.; Lima, L. R. M.; Vieira, J. E. M. L.; Noronha, M. V. J. 245 REPERCUSSÕES DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NA FUNÇÃO PULMONAR DE MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS SUBMETIDAS A EXERCÍCIOS AQUÁTICOS......................................................................................................................................S287 Santos, R. N.; Pfrimer, L. D. F. M.; Bocalini, D. S.; Fronza, F. C. A. O.; Lazaretti-Castro, M. 246 SARCOPENIA: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA NO SUL DO BRASIL.................................................................................................S287 Beck, M. O.; Santos, K. R.; Cerezer, L. G.; Tierno, S. A.; Muradás, R. R.; Lampert, M. A.; Premaor, M. O. 247 SEGURANÇA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS DE ALTA INTENSIDADE PARA OS PARÂMETROS VERTEBRAIS DE MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS COM E SEM FR.........................................................................................................................S288 Fronza, F. C. A. O.; Moreira-Pfrimer, L.; Santos, R. N.; Teixeira, L. R.; Silva, D. A. S.; Petroski, E. L. 248 SEGURANÇA RENAL APÓS INFUSÃO ENDOVENOSA RÁPIDA DE PAMIDRONATO (PAM) EM CRIANÇAS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA (OI) NAS FORMAS MODERADAS E GRAVE.................................................................................................................S288 Oliveira, T. P.; Andrade, M. C.; Peters, B. S. E.; Reis, F. A.; Carvalhaes, J. T. A.; Lazaretti-Castro, M. 249 SEGURANÇA RENAL DO PAMIDRONATO ENDOVENOSO EM UM TEMPO DE INFUSÃO DE 2 HORAS PARA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA................................................................................................................................S289 Oliveira, T. P.; Andrade, M. C.; Peters, B. S. E.; Reis, F. A.; Carvalhaes, J. T. A.; Lazaretti-Castro, M. 250 SÍNDROME METABÓLICA E OBESIDADE ESTÃO ASSOCIADAS À DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA NO SUL DO BRASIL.........................................................................................................................................................................S289 Mussio, A. V.; Zottele, L. V.; Muradás, R. R.; Tierno, S. A.; Costa, K. K.; Beck, M. O.; Premaor, M. O. NEUROENDÓCRINO 251 ACROMEGALIA – CASUÍSTICA E ANÁLISE CRÍTICA EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA – HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO......................................................................................................................................................................................S289 Santos, R. A.; Campos, R. G.; Luz, N. M.; Pallone, C. R. S.; Tavares, M. C. S.; Abílio, R. S.; Pires, A. C. 252 ACROMEGALIA ASSOCIADA À DOENÇA DE GRAVES...................................................................................................................S290 Sá, M. A.; Madruga, I. D.; Honório, A. V. M.; Barreto, V. E. C.; Beltrão, F. E. L.; Farias, M. B. 253 ACROMEGALIA E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO...........................................................................................................................S290 Guimarães, R. V.; Camata Junior, O. L.; Heleno, P. T.; Marques, J. V.; Medeiros, L. S.; Silva, P. P.; Graça, M. P.; Casini, A. F. 254 ACROMEGALIA: MELHORA CLÍNICA COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA APÓS INSUCESSO CIRÚRGICO: RELATO DE CASO........................................................................................................................................................................................S290 Braga, P. M. C.; Araújo, J. G. B.; Carvalho, I. A. F.; Castro, I. M.; Léda, T. A. M.; Melo, L. P. P.; Santos, P. B. 255 ADENOMA HIPOFISÁRIO ECTÓPICO PRODUTOR DE GH: DESCRIÇÃO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA...............................S291 Marino, E. C.; Santos, R. A.; Campos, R. G.; Luz, N. M.; Tavares, M. C. S.; Pires, A. C. 256 ADENOMA HIPOFISÁRIO SECRETOR DE TSH: RELATO DE CASO.....................................................................................................S291 Lima Junior, J. V.; Aum, P. M. P.; Scalissi, N. M. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 257 ADENOMA HIPOFISÁRIO SECRETOR DE TSH: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA..........................................................S291 Simionatto, C. A.; Carvalho, N. G.; Betônico, C. C. R.; Filho, F. R. P.; Marin, F. F. 258 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE GENES CODIFICADORES DE PROTEÍNAS RIBOSSOMAIS E MUTAÇÕES GNAS NA PATOGÊNESE E DESFECHOS CLÍNICOS DE SOMATOTROFINOMAS........................................................................................................................S292 Martins, C. S.; Lima, D. S.; Paixao, B. M. C.; Quidute, A. R.; Coeli, F. B.; Moreira, A. C.; Castro, M. 259 ANÁLISE DESCRITIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ACROMEGÁLICOS E SUAS COMORBIDADES ASSOCIADAS.................................................................................................................................................................................S292 Nobrega, L. H. C.; Lima, J. G. L.; Feijo, B. M. X. C. R. R.; Amorim, A. D. P. S.; Mendonça, R. P.; Fernandes, K. M.; Viana, L. S. A. A. 260 ANÁLISE DO PADRÃO DE EXPRESSÃO DO MARCADOR DE CÉLULA-TRONCO SOX2 EM HIPÓFISE DE MODELOS EXPERIMENTAIS DE CAMUNDONGOS COM HIPOPITUITARISMO...................................................................................................S293 Carvalho, L. R. S.; Araujo, R. V.; Cerqueira, C. S.; Soares, I. C.; Camper, S. A.; Carvalho L. R. S. 261 ANÁLOGOS DE SOMATOSTATINA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NO TSHOMA – RELATO DE CASO...........................................S293 Pirozzi, F. F.; dos Santos, R. A.; Marino, E. C.; Pallone, C. R. S.; Tavares, M. C. S.; Luz, N. M.; Pires, A. C. 262 ARREST OF ATHEROSCLEROSIS PROGRESSION AFTER INTERRUPTION OF GH REPLACEMENT IN ADULTS WITH CONGENITAL GROWTH HORMONE DEFICIENCY..........................................................................................................................S293 Oliveira, C. R. P.; Araújo, V. P.; Salvatori, R.,; Oliveira, J. L. M.; Barreto-Filho, J. A. S.; Meneguz-Moreno, R. A.; Ximenes, R.; Aguiar-Oliveira, M. H. 263 AVALIAÇÃO DA REMISSÃO DA DOENÇA DE CUSHING BASEADA NA DINÂMICA DO CORTISOL SÉRICO NO PÓS-OPERATÓRIO PRECOCE.........................................................................................................................................................S294 Costenaro, F.; Rodrigues, T. C.; Rollin, G. A. F.; Ferreira, N. P.; Czepielewski, M. A. 264 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A TAXA DE CURA CIRÚRGICA EM PACIENTES ACROMEGÁLICOS SUBMETIDOS À CIRURGIA TRANSESFENOIDAL...............................................................................................................................S294 Marques, A. R. C.; Martins, M. R. 265 Características clínicas, epidemiológicas e manejo dos pacientes com diagnóstico de acromegalia atendidos na Santa Casa de São Paulo................................................................................................................................S294 Freire, A. C. T. B.; Alli, M. P.; Guardia, V. C.; Oliveira, F. M.; Santos, A. R. L.; Scalissi, N. M.; Lima Junior, J. V. 266 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM PROLACTINOMAS (PRLOMAS) ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA SANTA CASA DE JUIZ DE FORA (SCJF), MG.............................................................................................................................S295 Nassau, D. C.; Moreira, R. O.; Machado, C. V.; Almeida, A. A. L. 267 CATETERISMO DE SEIOS PETROSOS INFERIORES NO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CUSHING: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA SANTA CASA, SP.................................................................................................................................S295 Guardia, V. C.; Oliveira, M. C.; Aguiar, G. B.; Conti, M. L. M.; Santos, A. R. L.; Scalissi, N. M.; Lima Junior, J. V. 268 DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM HOMENS COM PROLACTINOMA ATENDIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.....................S296 Sato, M. M. M.; Camelo, F. S. A.; Bastos, F. A.; Sousa, L. S.; Marques, N. N.; Donza, F. C. S.; Oikawa, T.; Fernandes-Caldato, M. C. 269 DIABETES INSIPIDUS CENTRAL EM PACIENTE COM HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS E TUBERCULOSE: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO..........................................................................................................................................................S296 Tonet, C.; Zorzo, P. T.; Rosa, L. C. G. F.; Costa, G. R. G.; Farias, J. P. F.; Blumenberg, S.; Braucks, G. R. 270 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA SÍNDROME DE CUSHING ACTH DEPENDENTE: RELATO DE CASO..............................................S296 Silva, M. C.; Bomfim, O. C.; Malveira, L.; Puglia, P.; Machado, M. C.; Fragoso, M. C. B. V.; Bronstein, M. D. 271 DIAGNÓSTICO TARDIO DE PAN-HIPOPITUITARISMO CONGÊNITO EM UM PACIENTE COM MICROPÊNIS.....................................S297 Barbosa, J. L. S.; Camelo, M. G. G.; Silva, B. L.; Souza, P. M. M. S.; Silva, N. M.; Cruz, J. A. S. 272 ESCASSEZ DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM UMA PACIENTE COM MACROADENOMA HIPOFISÁRIO AGRESSIVO POR DOENÇA DE CUSHING..................................................................................................................................................................S297 Amaral, L. M. B.; Mesquita, P. N.; Rêgo, D.; Griz, L.; Bandeira, C.; Bandeira, F. B.; 273 HAMARTOMA HIPOTALÂMICO ASSOCIADO À PUBERDADE PRECOCE.........................................................................................S297 Mendonca, A.M.; Jatene, E. M.; De Paula, S. L. F. M.; Andrade, L. M.; Sousa, A. C.; Gomes, M. C. S.; Reis, M. A. L. 274 HEMOCROMATOSE SECUNDÁRIA E PAN-HIPOPITUITARISMO........................................................................................................S298 da Rosa, L. C. G. F.; Tonet, C.; Costa, G. R. G.; Moutinho, A.; Lisboa, P.; Mansur, V. A. R.; Correa, M. V. 275 HETEROZYGOSIS TO A NULL MUTATION IN THE GHRHR GENE REDUCES HEIGHT IN SENESCENCE................................................S298 Oliveira, M. H. A.; Pereira, R. M. C.; Souza, A. H. O.; Valença, E. H. O.; Farias, M. I. T.; Góis Júnior, M. B.; Salvatori, R. 276 HIPERPLASIA HIPOFISÁRIA: RELATO DE DOIS CASOS.....................................................................................................................S298 Spada, F.; Zanini, E. P. L.; von Linsingen, C.; Junqueira, F.; Vieira Neto, L. 277 HIPERTENSÃO INTRACRANIANA NO PROLACTINOMA GIGANTE: RELATO DE CASO.....................................................................S299 Chuva, F. C.; Dytz, M. G.; Giorgetta, J. M.; Moraes, A. B.; Vieira Neto, L.; Gadelha, M. R. 278 HIPOGLICEMIA SECUNDÁRIA À PRODUÇÃO DE IGF 2 POR ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: RELATO DE CASO........................S299 Rodrigues, M. M. N.; Andrade, C. R. M.; Calsolari, M. R.; Líbero, T. C.; Moura, L. G.; Muniz, A. L. R.; Noviello, T. B.; Rosário, P. W. S. 279 HIPONATREMIA EUVOLÊMICA (HE) SINTOMÁTICA RECORRENTE SECUNDÁRIA A HIPOTIREOIDISMO CENTRAL (HC).................S300 Alves Júnior, A. M.; Ribeiro, M. S.; Lima, W. F.; Silva, M. S. G.; Mascarenhas, M. O.; Brandão, D. S.; Feliciano, R. O. 280 HIPONATREMIA SEVERA ASSOCIADA A HIPOGLICEMIA EM UMA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO TARDIO DE SÍNDROME DE SHEEHAN........................................................................................................................................................................................S300 Silva, J. A.; Brito, D.; Gonçalves, L.; Ramalho, M.; Rodrigo, S. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 281 INSULIN SENSITIVITY, BETA CELL FUNCTION AND PREVALENCE OF DIABETES IN INDIVIDUALS HOMOZYGOUS AND HETEROZYGOUS FOR THE C.57+1G > A GHRHR MUTATI................................................................................................................S300 Oliveira, M. H. A.; Rocha, I. E. S.; Vicente, T. R.; Salvatori, R.; Pereira, R. M. C.; Santos, E. G.; Valença, E. H. O. 282 INSULINOMA: RELATO DE CASO E EXAMES INDICADOS PARA SUA INVESTIGAÇÃO.....................................................................S301 Coutinho, E. A. F.; Silva, N. C.; Xavier, T. A.; Brandão, D. A.; Netto, I. G.; Ramos, G. R.; Schrank, Y. 283 MACROADENOMA HIPOFISÁRIO PRODUTOR DE LH: RELATO DE CASO........................................................................................S301 Faria, G. B.; Pinel, S. C. M.; Rocha, E. T.; Lameirinhas, T. S.; Gontijo, G.; Chevtchouk, L.; Jurno, M. E. 284 MACROPROLACTINOMA FAMILIAR...............................................................................................................................................S301 Kairala, H. E.; Rodrigues, P.; Azevedo, E.; Rangel, A. L.; Cargnin, K. R. N.; Waymberg, S.; Pessoa, C. H. C. N. 285 MACROPROLACTINOMA GIGANTE ASSOCIADO A IMPORTANTE COMPONENTE CÍSTICO E RESPOSTA PARCIAL AO USO DE ALTAS DOSES DE CABERGOLINA: RELATO DE CASO.........................................................................................................S302 Camelo, M. G. G.; Silva, B. L.; Souza, P. M. M. S.; Silva, N. M.; Barbosa, J. L. S.; Cruz, J. A. S. 286 MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (CGMS®) EM PACIENTES COM ACROMEGALIA.......................................................S302 Sousa, L. S.; Bastos, F. A.; Machado, A. S.; Camelo, F. S. A.; Sato, M. M. M.; Maciel, M. L.; Miranda, R. V.; Fernandes-Caldato, M. C. 287 PAN-HIPOPITUITARISMO CONGÊNITO NUNCA DIAGNOSTICADO OU TRATADO EM ENGENHEIRO DE 28 ANOS..........................S302 Silva, M. C.; Ronsoni, M. F.; Colombo, B. S.; Oliveira, C. S.; Canalli, M. H. B. S.; Coral, M. H. C.; Hohl, A. 288 PENETRANCE AND CLINICAL IMPACT OF MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 1 – RELATED TUMORS DIAGNOSED IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE.................................................................................................................................................S303 Gonçalves, T. D.; Toledo, R. A.; Sekiya, T.; Coutinho, F. L.; Montenegro, F. L.; Toledo, S. P.; Lourenco Júnior, D. M. 289 PERFIL DOS PACIENTES COM ACROMEGALIA DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA, MG...........................................................................................................................................S303 Alves, D. L.; Amaral, F. F.; Carvalho, B. R. P.; Dantas, C. A. F.; Moreira, R. O.; Nassau, D. C.; Larcher de Almeida, A. A. 290 PERSISTÊNCIA DE NORMOPROLACTINEMIA APÓS RETIRADA DOS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE PROLACTINOMA................................................................................................................................................S303 Soto, C. L.; Carvalho, D. B.; Corrêa, P. C.; Tanigawa, L.; Ramos-Dias, J. C.; Zampieri, M.; Senger, M. H. 291 PROLACTINOMA AGRESSIVO: SÉRIE DE CASOS............................................................................................................................S304 Cyrulnik, F. M. B.; Almeida, M. F. O.; Mendes, R. E.; Maxta, I. A.; Scalissi, N. M.; Santos, A. R. L.; Lima Junior, J. V. 292 PROLACTINOMA GIGANTE: EXPERIÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UFRJ)...............................................................................................................................................S304 Chuva, F. C.; Moraes, A. B.; Vieira Neto, L.; Gadelha, M. R. 293 PROP1 OVEREXPRESSION IN CORTICOTROPHINOMAS: AN ADDITIONAL EVIDENCE OF ITS ROLE ON MAINTENANCE OF PITUITARY CELL LINEAGE COMMITTED WITH CORTI.................................................................................................................S305 Carvalho, L. R. S.; Araujo, R. V.; Chang, C. V.; Fragoso, M. C. B. V.; Bronstein, M. D.; Cescato, V. A. S.; Arnhold, I. J. P.; Mendonca, B. B. 294 REATIVAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-GONADAL PELO USO DE TESTOSTERONA EM PACIENTE COM HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO IATROGÊNICO.........................................................................................................S305 Gonçalves, M. W. T.; Pfeilsticker, A. C. V.; Valadares, L. P.; Zakir, J. C. O. 295 METÁSTASE HIPOFISÁRIA DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO: RELATO DE CASO......................................................................S305 Balthazar, A. P. S.; Marcante, F. P.; Maurique, J. G. S. 296 SÍNDROME DE CUSHING ACTH DEPENDENTE CAUSADA POR TUMOR CARCINOIDE: RELATO DE CASO.......................................S306 Silva, C. Q.; Rodrigues, P.; Rangel, A. L.; Azevedo, E. R.; Cargnin, K. R.; Carvalho Filho, A. B.; Hosannah, C. 297 SEVERA HIPONATREMIA COMO APRESENTAÇÃO CLÍNICA INICIAL DA INSUFICIÊNCIA ADRENAL SECUNDÁRIA.........................S306 Itaborahy, L. M.; Guimarães, R. V.; Araujo, M. B.; Marques, J. V.; Silva, P. P.; Freire, R.; Casini, A. F. 298 SÍNDROME DE HIPERINFECÇÃO POR STRONGYLOIDES STERCORALIS EM ADENOMA HIPOFISÁRIO ACTH-DEPENDENTE: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................................................S306 Polesel, M. G.; Manfredinho, F. J.; Boguszewski, C. L.; Rodrigues, A. M.; Teixeira, L. M.; Valadão, L. S. 299 TAMANHO TUMORAL NAS DOENÇAS HIPOFISÁRIAS.....................................................................................................................S307 Santos, O. C.; Simão, Y. C. S.; Dytz, M. G.; Cantarela, D. S.; Silva, N. A. O. 300 TESTE DE RESTRIÇÃO HÍDRICA EM REGIME AMBULATORIAL: APRESENTAÇÃO DE CASOS E DISCUSSÃO DE PROTOCOLO...........S307 Drummond, J. B.; Pedrosa, W.; Andrade, H. F. A. 301 TUMOR DE SNC COMO CAUSA DE BAIXA ESTATURA....................................................................................................................S307 Santos, J. C. S.; Araújo, L. M. M.; de Sá, L. B. P. C.; Jorge, A. R.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 302 USO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) NA SÍNDROME DE TURNER (ST): COMPARAÇÃO DA ESTATURA FINAL ENTRE GRUPOS TRATADO E CONTROLE.........................................................................................................................................S308 Dias, J. C. R.; Martins, D. D. P.; Pazello, J. R.; Alegre, K. C.; Zampieri, M.; Nigri, A. A.; Ramos- Dias, J. C. NUTRIÇÃO 303 A FARINHA DE BANANA VERDE NO CONTROLE GLICÊMICO DE DIABÉTICOS..............................................................................S308 Coelho, L. M.; Cruz, A. C. N.; Rosa, T. R. O. 304 INGESTÃO ADEQUADA DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DO PESO CORPORAL.........................................................S308 Adamo, C. E.; Said, C.; Gebrim, R.; Leão, C. I. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 305 INGESTÃO DE CÁLCIO E VITAMINA D E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SÉRICOS DE 25OHD3 EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA............................................................................................................................................................S309 Peter, B. S. E.; Martini, L. A.; Folchetti, L. D.; Lazaretti-Castro, M. 306 PERFIL GLICÊMICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 DE JOINVILLE (SC) SUBMETIDOS AO MÉTODO DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS...................................................................................................................................................S309 Coelho, L. M.; Truppel, C. 307 PODE UMA PEQUENA ALTERAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO HABITUAL MELHORAR A RESISTÊNCIA À INSULINA? O AMARANTO COMO ALTERNATIVA PARA O CONSUMO.....................................................................................................................................S309 Rocha, L. M.; Vasques, A. C. J.; Geloneze Neto, B; Amaya-Farfan, J. 308 RELAÇÃO CINTURA ESTATURA COMO PREDITOR DE RISCO CARDIOMETABÓLICO EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS)...........................................................................................................................................S310 Rodrigues, A. M. B.; Sitta, B. D.; Rugolo, V. C.; Silva, C. C.; Cassani, R. S. L.; Vasques, A. C. J.; Zambon, M. P.; Geloneze Neto, B. OBESIDADE 309 A CONTRIBUIÇÃO DA HIPERATIVIDADE VAGAL PARA A INSTALAÇÃO DA OBESIDADE É DEPENDENTE DO MODELO EXPERIMENTAL...............................................................................................................................................................................S310 Coelho, M. L.; de Oliveira, J. C.; Bonfim, A. P.; Barella, L. F.; Grassiolli, S.; Camargo, R. L.; Mathias, P. C. F. 310 A PRÁTICA MÍNIMA DE 150 MINUTOS SEMANAIS DE ATIVIDADE FÍSICA E SEUS BENEFÍCIOS EM PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS – ESTUDO BRAMS......................................................................................................................................S310 Rocha, L. M.; Comucci, E. B.; Vasques, A. C. J.; Tambascia, M. A.; Geloneze Neto, B. 311 ALARMANTE INCIDÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS E HIPOGLICEMIA APÓS TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA........................................................................................................................S311 Andrade, H. F. A.; Passos, V. M. A.; Lima, W. P.; Diniz, M. F. H. S. 312 ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCADORES DE OBESIDADE GERAL E CENTRAL E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS............................................................................................................................S311 Medeiros, L. F.; Costa, I. B. B.; Silveira, F. F. F.; Meireles, R. S. R. V.; Sá, J. C. F.; Azevedo, G. D.; Costa, E. C. 313 ASSOCIAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE ADIPOSIDADE E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS EM MULHERES OBESAS..............................S311 Silva Junior, W. S.; Funes, F. R.; Martins, P. R.; Moreira, R. O.; Coutinho, W. F.; Freitas, S. R. 314 ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS: RESULTADOS PARCIAIS.........................................S312 Oliveira, I. F.; Ramos, M. A. B. P.; Rufato, G. S.; Alves, N. P.; Packer, V. B.; Leão, B. C.; Magalhães, F. O. 315 ASSOCIATION OF GLP-2 SECRETION AND DECREASED INSULIN SENSITIVITY IN OBESITY..............................................................S312 Geloneze Neto, B.; Lima, M. M. O.; Tezoto, D.; Pareja, J. C.; Magro, D. O. 316 AUMENTO NA MEDIDA DO PESCOÇO É MELHOR INDICADOR DO QUE MEDIDA DA CINTURA EM HOMENS COM SÍNDROME METABÓLICA...............................................................................................................................................................S313 Sampaio, K. S.; Silva, F. D.; Oliveira, P. P.; Santos, R. F. 317 AVALIAÇÃO DE INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA ATRAVÉS DE PROTEINA C REATIVA DE ALTA SENSIBILIDADE EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO.........................................................................................................................................................................S313 Cedro, R. M.; Ladeia, A. M.; Olivieri, L.; Góes, P.; Damasceno, H.; Ferraz, I.; Guimarães, A. 318 AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM AMOSTRA POPULACIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE SAÚDE EM MACEIÓ, AL......................................................................................................................S313 Silva, B. L.; Silva, N. M.; Souza, P. M. M. S.; Barbosa, J. L. M.; Cruz, J. A. S. 319 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS E DA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES OBESAS SUBMETIDAS A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ANTIOBESIDADE..............................................................................................................................................S314 Figueiredo, M. D.; Cunha, D. R.; Pinto, J. D.; Santos, C. M. C.; Boguszewski, C. L.; Suplicy, H. L.; Radominski, R. B. 320 BAIXA INCIDÊNCIA DE DIABETES MELLITUS NO SEGUIMENTO DE LONGO PRAZO PÓS-DERIVAÇÃO GÁSTRICA...........................S314 Beleigoli, A. M. R.; Coelho, A. L. B.; Vieira, C. A.; Xavier, M. F.; Camelo, C. G.; Diniz, M. T. C.; Rocha, A. L. S. 321 BLOQUEIO DA ALDOSTERONA REDUZ A PRESSÃO ARTERIAL E MELHORA OS PARÂMETROS METABÓLICOS EM OBESOS HIPERTENSOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICA.............................................................................................................S314 Ezequiel, D. G. A.; De Paula, R. B.; Lovisi, J. C. M.; Veloso, F. L. M.; Souza Filho, S. F.; Rezende, S. P. I.; Bicalho, T. C.; Costa, M. B. 322 CAMPANHA DE DETECÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE A SÍNDROME METABÓLICA EM JOINVILLE, SANTA CATARINA.............S315 Baggenstoss, R.; Kohara, S. K.; Rodrigues, G. S.; Souza, B. V.; Souza Filho, V. J.; Almeida, J. C.; Ramos, L. R.; Zemczak, N. 323 CAMUNDONGOS OBESOS COM ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA APRESENTAM AUMENTO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA GLUT2 EM FÍGADO.........................................................................................................................................................................S315 Silva, A. D.; Favaro, R.; Petroni, R. C.; Furuya, D. T.; Ebersbach, P. S.; Zorn, T. M. T.; Machado, U. F. 324 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA EM CAMUNDONGOS CD1........................................S315 Silva, A. D.; Favaro, R.; Petroni, R. C.; Freitas, H. S.; Okamoto, M. M.; Barrence, F.; Zorn, T. M. T.; Machado, U. F. 325 CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA: PREVALÊNCIA E ASSOCIAÇÃO COM PERFIL DE RISCO CARDIOMETABÓLICO NO BRAMS – BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY....................................................................................................................................S316 Vasques, A. C. J.; Comucci, E. B.; Rocha, L. M.; Vilela, B. S.; Cassani, R. S. L.; Forti, A. C.; Tambascia, M. A.; Geloneze, B. 326 CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO COMO MARCADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES CARDIOMETABÓLICOS...........S316 Stabe, C.; Vasques, A. C.; Lima, M. M.; Tambascia, M.; Pareja, J. C.; Yamanaka, A.; Geloneze, B. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 327 CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO COMO MARCADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES CARDIOMETABÓLICOS...........S316 Stabe, C.; Vasques, A. C.; Lima, M. M.; Tambascia, M.; Pareja, J. C.; Yamanaka, A.; Geloneze, B. 328 COMPORTAMENTO ALIMENTAR AUTORREFERIDO EM MULHERES OBESAS QUE BUSCAM TRATAMENTO CLÍNICO PARA OBESIDADE EM HOSPITAL PÚBLICO DE CURITIBA, PR........................................................................................................................................S317 Figueiredo, M. D.; Cunha, D. R.; Pinto, J. D.; Santos, C. M.C.; Boguszewski, C. L.; Suplicy, H. L.; Radominski, R. B. 329 DIMINUIÇÃO DE INGESTÃO ALIMENTAR COMO EFEITO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATHYMENIA RETICULATA EM RATOS DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS.......................................................................................................................................S317 Magalhães, F. O.; Uber-Buceck, E.; Name, T. F.; Ceron, P. I. B.; Carlo, R. L.; Miziara, P. E. S. C.; Silva, J. S. P. 330 EIXO CORTICOTRÓFICO E VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS EM MULHERES COM OBESIDADE VISCERAL.....................................S317 Bussade, I.; Coutinho, W.; Clapauch, R.; Bouskela, E.; Yuriko, R.; Saraiva, D.; Martins, P. 331 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SÍNDROME METABÓLICA (SM): ESTUDO DE COORTE COMBINADO EM ESTUDANTES DE UM CURSO DE MEDICINA....................................................................................................................................S318 Nascimento, M. R.; Ana Santos, A. C. S.; Oliveira, A. P. R.; Ramos-Dias, J. C.; Senger, M. H. 332 FERRAMENTAS DE PREVISÃO DE RISCO GENÉTICO PARA OBESIDADE..........................................................................................S318 Moraes, M. A. R. 333 HIGH-FAT PROGRAMMING INDUCES PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM HYPERACTIVITY IN WEANLING WISTAR RATS..........S318 Barella, L. F.; de Oliveira, J. C.; Coelho, M. L.; Miranda, R.A.; Mathias, P. C. F. 334 IMAGEM CORPORAL E AUTOPERCEPÇÃO EM MULHERES OBESAS GRAU I E II QUE BUSCAM TRATAMENTO PARA OBESIDADE EM HOSPITAL PÚBLICO DE CURITIBA, PR........................................................................................................................................S319 Figueiredo, M. D.; Cunha, D. R.; Pinto, J. D.; Santos, C. M. C.; Boguszewski, C. L.; Suplicy, H. L.; Radominski, R. B. 335 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS COMO PREDITORES DE RESISTÊNCIA À INSULINA EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS).......................................................................................................................S319 Silva, C. C.; Vasques, A. C. J.; Zambon, M. P.; Rodrigues. A. M. B.; Camilo, D. F.; Antonio, M. A. R. G. M.; Cassani, R. S. L.; Geloneze, B. 336 ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À INSULINA (TYG) E SUA RELAÇÃO COM INDICADORES METABÓLICOS E ANTROPOMÉTRICOS EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRAMS...................................................................................................................................................S319 Silva, C. C.; Vasques, A. C. J.; Zambon, M. P.; Rodrigues, A. M. B.; Camilo, D. F.; Cassani R. S. L.; Antonio, M. A. R. G. M.; Geloneze, B. 337 MORTALIDADE TARDIA PÓS-DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): ELEVADA FREQUÊNCIA DE CIRROSE ALCOÓLICA E SUICÍDIOS....................................................................................................................S320 Diniz, M. F. H. S.; Moura, L. D.; Coelho, A. L. B.; Kelles, S. M. B.; Diniz, M. T. C. 338 NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AS AN EMERGENT RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN OBESE ADOLESCENTS: THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY T................................................................................................................................................S320 Sanches, P. L.; Piano, A.; Mello, M. T.; Elias, N.; Oyama, L. M.; Tufik, S.; Dâmaso, A. R. 339 O BLOQUEIO DA ATIVIDADE VAGAL SUBDIAFRAGMÁTICA ATENUA O DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE EM RATOS MSG, MAS NÃO ALTERA A OBESIDADE EM RATOS RN.....................................................................................................................................S320 Coelho, R. L.; de Oliveira, J. C.; Bonfim, A. P.; Barella, L. F.; Grassiolli, S.; Torrezan, R.; Mathias, P. C. F. 340 O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COMO PREDITOR DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL ANORMAL: ANÁLISE ROC...................S321 Moreira, L. M. P.; Ramos, A. V.; Guerra, L. P.; Lauria, M. W.; Soares, M. M. S.; Freitas, P. C.; Sik, R. F. 341 OBESIDADE MÓRBIDA: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO...........................................................................................................S321 Santos, J. C. S.; Bizarro, V. R.; Bianchetti, G. B.; Jorge, A. R.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 342 OBESIDADE NA URGÊNCIA: AS DOENÇAS QUE LEVAM OS PACIENTES OBESOS AO PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA-HRG EM GAMA, DF......................................................................................................................................................S321 Fonseca, F. B.; Andrade, G. G.; Faria, T. M.; Santos, B. C.; Uzuelli, F. H. P. 343 OBESIDADE: O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ISOLADO NÃO É MAIS EFICAZ QUE A TERAPIA COMPORTAMENTAL................S322 Ferreira, L. V.; Dias, A. L. R.; Cruz, A. P. V.; Ezequiel, D. A. G.; Silva, E. A.; Freitas, M. M. S.; Veloso, F. L. M.; Costa, M. B. 344 PREVALÊNCIA DE PACIENTES OBESOS COM QUADRO CLÍNICO DE HIPERURICEMIA ANALISADOS NO LABORATÓRIO ESCOLA DA PUC DE GOIÁS...............................................................................................................................................................................S322 Francescantonio, I. C. C. M.; Tavares, R. S.; Morais, C. O. B.; Costa, S. H. N.; Moura, A. L. D.; Pereira, V. B. M. 345 PROJETO “OBESIDADE INFANTIL” (GRUPO OI), EM FERNANDÓPOLIS, SP, REALIZADO POR UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR........S322 Franciscon, L. M. G. S.; Merli, B. L. A.; Polisel, E. E.; Rodrigues, C. M.; Marimoto, D. G.; Mendonça, B. J. R.; Palandri, M. F. T.; Schiavetto, M. C. P. 346 REALIZADA AOS 21 DIAS, A VAGOTOMIA SUBDIAFRAGMÁTICA REDUZ A OBESIDADE EM RATOS MSG, NORMALIZANDO SUA HIPERATIVIDADE VAGAL.................................................................................................................................................................S323 Coelho, R. L.; de Oliveira, J. C.; Bonfim, A. P.; Barella, L. F.; Grassiolli, S.; Torrezan, R.; Mathias, P. C. F. 347 RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E ANSIEDADE COM AS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE PESO...........................................................................................................................................S323 Guedes, E. P.; Madeira, E.; Madeira, M.; Matos-Godoy, A. F.; Mafort, T. T.; Lopes, A. J.; Moreira, R. O.; Farias, M. L. F. 348 RELAÇÃO ENTRE INSULINO-RESISTÊNCIA E OBESIDADE EM PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATÓRIO ESCOLA DA PUC DE GOIÁS............................................................................................................................................................................................S323 Costa, S. H. N.; Tavares, R. S.; Magalhães, J. V.; Miranda, G.; Matias, L. P.; Ottobeli, C.; Siqueira, M. H. B. 349 RESTRIÇÃO PROTEICA LACTACIONAL: MAIOR SUSCETIBILIDADE AO DESENVOLVIMENTO DE OBESIDADE E DISFUNÇÃO NA HOMEOSTASE GLICÊMICA EM RATOS ADULTOS............................................................................................................................S324 de Oliveira, J. C.; Coelho, R. L.; Miranda, R. A.; Barella, L. F.; Mathias, P. C. F. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 350 SIMPATECTOMIA PANCREÁTICA COMO UM NOVO MODELO ANIMAL DE OBESIDADE................................................................S324 Bonfim, A. P.; Coelho, M. L.; Oliveira, J. C.; Barella, L. F.; Grassiolli, S.; Torrezan, R.; Mathias, P. C. F. 351 SOBREPESO E OBESIDADE E RISCO DE MORTE EM IDOSOS BRASILEIROS – SEGUIMENTO DE DEZ ANOS DO ESTUDO DE BAMBUÍ SOBRE SAÚDE E ENVELHECIMENTO...............................................................................................................................................S325 Beleigoli, A. M. R.; Boersma, E.; Lima-Costa, M. F.; Ribeiro, A. L. 352 TRATAMENTO CLÍNICO DA OBESIDADE: UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA................................................................................S325 Rocha, F. S. R.; Brandão, M. L. S.; Pinto, M. C. A. PÉ DIABÉTICO 353 ASSOCIAÇÃO DE ARTROPATIA DE CHARCOT E DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA EM PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2.............................................................................................................................................................................................S325 Cunha, A. A.; Corbal, B. S.; Paz, B. C.S.; Félix,T. A. A.; Orsolin, V. F.; Orsolin, V. F.; Batista, M. C. P.; Pedrosa, H. C. 354 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PARA ÚLCERA EM PÉ DIABÉTICO.....................................................................................................S326 Lima, L. G.; Melo, H.; Kim, J. K.; Ortiz, R. T.; Santos, A. G.; Fernandes, T. D.; Parisi, M. C. R. 355 EFICÁCIA E SEGURANÇA DE 24 SEMANAS DE TERAPIA COM SIBUTRAMINA, ANFEPRAMONA, FEMPROPOREX, MAZINDOL OU FLUOXETINA PARA PERDA DE PESO EM MULHER...........................................................................................................................S326 Suplicy, H. L.; Cunha, D. R.; Santos, C. M. C.; Figueiredo, M. D.; Boguszewski, C. L.; Radominski, R. B. 356 ESTUDO DA MICROBIOTA DE ÚLCERAS CRÔNICAS EM PÉ DIABÉTICO.........................................................................................S326 Santomauro Junior, A. C.; Lopes, J. R.; Barroso, P. S.; Oliveira, T. C. A.; Fernandes, T. D.; Nery, M.; Parisi, M. C. R. 357 FATORES DE RISCO: INVESTIGAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PÉ DIABÉTICO..................................................................S327 Rocha, I. C.; Brandão, J. F. N.; Borges, M. D.; Barboza, M. C. N. 358 PÉ DIABÉTICO EM ATENDIMENTO TERCIÁRIO DE ENDOCRINOLOGIA: RASTREAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO.............................................................................................................................................................................S327 Mattos, L. O.; Martins, D. D. P.; Pazello, J. R.; Tedesco, E. L.; Gonçalves, A. L.; Parisi, M. C. R.; Quilici, M. T. V. 359 PERFIL DE RISCO DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO....................................................................S327 Juliano, A. C. S. R. S.; Moutinho, B. D.; Chaves, L. J.; Lanna, C. M. M.; Leite, C. C. A.; Costa, M. B.; Ferreira, L. V. 360 PREVALÊNCIA E ASPECTOS CLÍNICOS DA NEUROARTROPATIA DE CHARCOT NA POPULAÇÃO DIABÉTICA COM ÚLCERA DE PÉ..............................................................................................................................................................................................S328 Nóbrega, M. B. M.; Medeiros, D. A.; Campelo, P. L.; Nunes, M. A. L.; Mendes, L. J.; Charara, G. N.; Aras Júnior, R. TECNOLOGIAS APLICADAS 361 AVALIAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO MONITORADO POR TELEVIGILÂNCIA EM PACIENTES DIABÉTICOS..............................S328 Flumignan, I. H. TIREOIDE 362 A INTOLERÂNCIA À LACTOSE MOTIVANDO A INADEQUAÇÃO NO TRATAMENTO DE UMA GESTANTE HIPOTIREÓIDEA................S328 Biagini, G. L. K.; Sabbag, A. R. N.; de Oliveira, L. C. B.; Camacho, S. L.; Gama, M. P. R. 363 ACTIVATED LYMPHOCYTES ARE ASSOCIATED TO FEATURES OF AGGRESSIVENESS IN DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMAS...............................................................................................................................................................................S329 Ward, L. S.; Santos, M. S.; Nonogaki, S.; Gerhard, R.; Soares, F. A.; Vassallo, J. 364 ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E COGNITIVAS MEDIANTE A VARIAÇÕES NAS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE HORMÔNIOS DA TIREOIDE.............................................................................................................................................................S329 Adamo, C. E.; Prado, A. M.; Fernando, I.; Esper, M. 365 ASSOCIAÇÃO ENTRE A CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE TSH E O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE TIREOIDE EM PACIENTES COM DOENÇA NODULAR DA TIREOIDE.........................................................................................................................................S329 Torres, M. R. S.; Ugulino, L. A. N.; Matos, L. L.; Faria, A. G.; Martins, A. L. B.; Chaves, C. E. S.; Souza, F. D. 366 ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO E SEUS FATORES ASSOCIADOS EM AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DE ENDOCRINOLOGIA: RESULTADOS PARCIAIS.............................................................................................................................S330 Thirone, A. C. P.; Magalhães, F. O.; Ribeiro, V. M. F. C. R.; Ferreira, G. C.; Rocha, G. H. C.; Caetano, J. A.; Prado, T. V. B. 367 ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE/SOBREPESO E HIPOTIREOIDISMO AUTOIMUNE – RESULTADOS PARCIAIS................................S330 Ribeiro, V. M. F. C. R.; Thirone, A. C. P.; Magalhães, F. O.; Ferreira, G. C.; Rocha, G. H. C.; Caetano, J. A.; Medeiros, K. A. 368 ATRASO NEUROPSICOMOTOR, FÁSCIES SINDRÔMICA E HIPOTIROIDISMO NEONATAL APÓS CONSUMO MATERNO DE COCAÍNA NA GESTAÇÃO: RELATO DE CASO................................................................................................................................S330 Carvalho, P. F.; Godoy, R.; Santos, E. C.; Cardoso, A. M.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A.; Azevedo, M. F. 369 CARCINOMA DE TIREOIDE NÃO MEDULAR FAMILIAR: RELATO DE CASO......................................................................................S331 Miziara Filho, J. L.; Silveira Mello, A. P. R. G.; Cadegiani, F. A.; Marcon, L. P.; Costa, M. H. S. C.; Lima, C. J. G.; Ferreira Júnior, J. C. 370 CARCINOMA FOLICULAR DE TIREOIDE COM TROMBO METASTÁTICO EM VEIA JUGULAR INTERNA: RELATO DE CASO...............S331 Rodrigues, T. B.; Nakano, B. S. L.; Vaz, M. C.; Zantut-Wittmann, D. E.; Melo, T. G.; Matos, P. S.; Assumpção, L. V. M. 371 CARCINOMA FOLICULAR DE TIREOIDE, COM PUNÇÃO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA NEGATIVA, DIAGNOSTICADO POR METÁSTASE CUTÂNEA............................................................................................................................................................S331 Mata, A. M. F.; Barbosa, J. O.; Calvo, I. C. S.; Leite, J. C.; Bagustti, R.; Silva, S. E. C.; Gontijo, R. N. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 372 CARCINOMA MEDULAR DA TIREOIDE: RELATO DE CASO..............................................................................................................S332 Rodrigues, A. A.; Oliveira, S. C.; Schainberg, A. 373 CARCINOMA MEDULAR DA TIREOIDE COM PUNÇÃO DE NÓDULO TIREOIDEANO SUGESTIVA DE BENIGNIDADE........................S332 Mourão, G. F.; Muniz, A. L. R.; Moura, L. G.; Rodrigues, M. M. N.; Silva, B. A. C.; Calsolari, M. R.; Noviello, T. B.; Rosário, P. W. 374 CARCINOMA MEDULAR DA TIREOIDE: RELATO DE CASO..............................................................................................................S332 Borges, D. R.; Melo, M. A.; Seganfredo, I. B.; Tavares, F. S.; Gomes, P. B.; Pedrosa, H. C.; Prado, F. A. 375 CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE COM METÁSTASE CEREBRAL E COLUNA VERTEBRAL........................................................S333 Coutinho, E. A. F.; Netto, I. G.; Correa, N. D.; Rivelli, G. R.; Silva, N. C.; Brandão, D. A.; Kasuki, L. 376 CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE COM METÁSTASE CEREBRAL E PARA COLUNA VERTEBRAL..............................................S333 Netto, I. G.; Ramos, G. R.; Correa, N. D.; Brandão, D. A.; da Silva, N. C.; Pinho, L. K. J.; Madeira, M. 377 CARCINOMA PAPILÍFERO TIREOIDIANO........................................................................................................................................S333 Oliveira, K. M. A.; Normando, A. P. C.; Gomes, A. L. L.; Tonial, C. C.; Couto, M. P.; Roberto, M. S.; Vasconcelos, V. C. 378 CORRELAÇÃO ENTRE TEMPO DE HIPOTIREOIDISMO E DISLIPIDEMIA EM AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA.........................S334 Ferreira, G. C.; Magalhães, F. O.; Thirone, A. C. P.; Ribeiro, V. M. F. C. R.; Rocha, G. H. C.; Caetano, J. A.; Galhardi, A. L. T. 379 CROMOGRANINA A E CINTILOGRAFIA COM DMSA PENTAVALENTE: ESTUDO DE CASOS NO ACOMPANHAMENTO DO CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE......................................................................................................................................S334 Machado, M.; Tabet, A.; Orlando, M.; Franco, F. L.; Alexandre, B. G.; Menezes, R. H.; Henriques, J. L. M. 380 DOENÇA DE GRAVES COMO CAUSA DE HEPATOPATIA.................................................................................................................S334 Zorzo, P. T.; Mesquita, F. O.; Tonet, C.; Costa, G. R. G.; Correa, M. V.; Sasson, P.; Mansur, V. A. R. 381 DOENÇA DE PLUMMER EM PACIENTES JOVENS: RELATO DE UMA SÉRIE DE SEIS CASOS..............................................................S335 Gonçalves, L. F.; Martins, J. R. M.; Ratna, K. 382 DOR ÓSSEA E CARCINOMA FOLICULAR DA TIREOIDE: RELATO DE CASO.....................................................................................S335 Paula, A. S. L.; Arantes, N. M.; Nardi, D. C. 383 ELEVAÇÃO DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA E PET/CT INALTERADO: RELATO DE CASO...................................................S335 Magalhães, R. S. C.; Reis, M. D. S. L. C.; Sasson, P.; Corrêa, M. V.; Maia, C. P.; dos Santos, J. C. V.; Depollo, T. C. 384 EMPREGO DA ULTRASSONOGRAFIA NA NORMATIZAÇÃO DO VOLUME DA GLÂNDULA TIREOIDE EM NEONATOS A TERMO.......S336 Almeida, R. F.; Tomimori, E. K.; Monte, O.; Catarino, R. M.; Pereira, A.; Mattos, H.; Sterza, T.; Murad, M. 385 EVOLUÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DE CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE DE ORIGEM FOLICULAR EM SERVIÇO TERCIÁRIO COM SEIS ANOS DE EXISTÊNCIA..................................................................................................................S336 Pazello, J. R.; Tedesco, E. L.; Martins, D. D.; Costa, R. G.; Soto, C. L.; Quilici, M. T. V.; Vieira, A. E. F. 386 FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA CÉLULAS PARIETAIS EM PACIENTES COM DOENÇA AUTOIMUNE DA TIREOIDE.............S336 Valle, A. P. 387 HEPATITE POR PROPILTIOURACIL EM GESTANTE COM DOENÇA DE GRAVES................................................................................S337 Andrade, L. M.; Mendonça, A. M.; Gomes, M. C. S.; Paula, S. L. F. M.; Jatene, E. M.; Espíndola-Antunes, D.,; Oliveira, D. P. P. 388 HIPERTIREOIDISMO E FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA: RELATO DE CASO..............................................................................S337 Bizarro, V. R.; Araujo, L. M. M.; Rocha, D. R. T. W.; Bizaroo, V.; Jorge, A. R.; Lopes, T. A.; Arbex, A. K. 389 HIPERTIREOIDISMO E SÍNDROME DE DOWN – UMA ASSOCIAÇÃO COMUM?..............................................................................S337 de Sousa, A. A.; Lopes, L. C. S.; Costa, G. F.; Soares, B. M. C.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 390 HIPERTIREOIDISMO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: SÉRIE DE CASOS........................................................................................S338 Rocha, A. M.; Viturino, M. G. M.; Pascoal, A. G.; Bezerra, I. M. A.; Matos, L. L.; Meneguesso, A. M. A.; Santos, S. S. 391 HIPERTIREOIDISMO SECUNDÁRIO À ACROMEGALIA.....................................................................................................................S338 Cavalcante, T. F. A.; Gabas, A.; Mafra, F. M.; Franco, R. F. M.; Toledo, L. C.; Morais, L. D. 392 HIPERTIREOIDISMO, DISMORFISMO E DÉFICIT COGNITIVO, EXISTE UMA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO?..............................................S338 Jorge, A. R.; Rocha, D. R. T. W.; Arbex, A. K. 393 HIPOTIREOIDISMO – FATOR DE RISCO EMERGENTE PARA A DISGLICEMIA NA GESTAÇÃO?.........................................................S339 Pedrosa, H. C.; Aires, D. K. X.; Porto, L. B.; de Assis, M. A.; Lauand, T. C. G.; Prado, F. A.; Gomes, P. B.; de Castro, M. H. A. 394 HIPOTIREOIDISMO CENTRAL ASSOCIADO A BÓCIO MULTINODULAR GIGANTE EM IDOSA: RELATO DE CASO............................S339 Colares, V. N. Q.; Nóbrega, M. B. M.; Lima, B. M.; Dantas, S. L. O.; Sousa, M. M.; Lima, M. R. N. 395 HIPOTIREOIDISMO E INSUFICIÊNCIA RENAL: RELATO DE CASO DE UMA ASSOCIAÇÃO RARA E SUBDIAGNOSTICADA................S339 Dantés, L. B.; Alves, B. F.; Leitão, E. J. L.; Ramos, J. E.; Sant’ana, A. R. R. P.; Santos, B. G.; Silva, D. M. 396 HIPOTIREOIDISMO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INSUFICIÊNCIA RENAL ASSOCIADA À PROTEINÚRIA: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................................................S340 Taira, L. G. N.; Pereira, A. M.; Melo, N. C. V.; Porto, L. B. 397 HIPOTIREOIDISMO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: UMA BUSCA ATIVA DE SINAIS E SINTOMAS........................................S340 Rego, D. P.; Cavalcante, R. F.; Almeida Neto, J. N.; Santos, J. M. S.; Lopes, L. D.; Almeida Junior, E. G.; Gomes Neto, P. S. 398 HIPOTIROIDISMO DE HASHIMOTO ASSOCIADO COM PSEUDO-HIPOPARATIREOIDISMO FAMILIAR..............................................S341 Cardozo, R. R. S.; Daher, A. L.; Marques, R. M.; Garcia, R. A.; Penedo, P. H. F.; Groba, L. B.; Carvalho, L. M.; Lindolfo, J. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 399 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA POR TIREOTOXICOSE EM GESTANTE...................................................................................................S341 Silva, J.; Araujo, R. V.; Pimentel, L. L.; Naliato, E. C. O. 400 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA SECUNDÁRIA À MIOCARDIOPATIA TIREOTÓXICA: RELATO DE CASO.................................................S341 Marques, J. N. C.; Côsso, M. A. M.; Barbosa, E. N.; Rodrigues, L. F. A. A.; Mello, M. P.; Ferreira, A. C. M. N.; Abreu, R. K. 401 LINFOMA PRIMÁRIO DA TIREOIDE..................................................................................................................................................S342 Junqueira, F. D.; Ramos, K. M.; Ruiz, D. S.; Vieira Neto, L. 402 MECANISMOS DE EVASÃO TUMORAL EM CARCINOMAS DIFERENCIADOS DE TIREOIDE DETERMINAM CARACTERÍSTICAS DE MAIOR AGRESSIVIDADE TUMORAL...........................................................................................................................................S342 Ward, L. S.; Marcello, M. A.; Morari, E. C.; Razolli, D.; Conte, F. F.; Soares, F. A.; Vassallo, J. 403 MOLECULAR MARKERS IN THYROID CANCER – INTEGRATIVE REVIEW..........................................................................................S342 Bittencourt, A. V.; França, L. S.; Melo, P. R. S.; Andrade, C. S.; Andrade Neto, W.; Margotto, M. 404 NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA (NEM)-2B EM PACIENTE JOVEM COM CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE (CMT) METASTÁTICO.................................................................................................................................................................................S343 Conceição, F. L.; Blotta, F. G. S.; Laudier, A. A.; Teixeira, P. F.; Vaisman, M.; Conceição, F. L. 405 OFTALMOPATIA ASSOCIADA À TIREOIDE (OAT): PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL......................................................................S343 Soares, D. V.; Bello, L. F.; Conceição, F. L.; Henriques, J. L. M. 406 OFTALMOPATIA DE GRAVES NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE CASO............................................................................................S343 Rocha, A. M.; Viturino, M. G. M.; Pascoal, A. G.; Rocha, B. A. M.; Meneguesso, A. M A.; Santos, S. S.; Siqueira, G. B. S. 407 OFTALMOPATIA DE GRAVES UNILATERAL, SEM HIPERTIREOIDISMO E COM ANTICORPOS ANTI-TIREOIDIANOS NEGATIVOS: RELATO DE CASO...........................................................................................................................................................................S344 Nogueira, R. B.; da Silva, D. G.; Ribeiro, C.; Calsolari, M. R.; Líbero, T. C.; Rosário, P. W. S.; Noviello, T. B. 408 ORBITOPATIA DE GRAVES: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E RESPOSTA AO TRATAMENTO EM PACIENTES AMBULATORIAIS...S344 Siqueira, R. A.; Guirado, M. S.; Freitas, S. M. 409 PACIENTE COM NÓDULO SUSPEITO PARA MALIGNIDADE E HISTOPATOLÓGICO DE TIREOIDITE CRÔNICA INESPECÍFICA...........S344 Pacheco, C. F. V.; Sutti, D.; Biancardi, N. F. 410 PADRÕES ULTRASSONOGRÁFICOS DA TIREOIDITE AUTOIMUNE: APLICAÇÕES CLÍNICAS.............................................................S345 Bittencourt, A. V.; França, L. S.; Sousa, A. L. O. F.; Andrade Neto, W. 411 PIODERMA GANGRENOSO EM ASSOCIAÇÃO COM DOENÇA DE GRAVES: RELATO DE CASO....................................................S345 Pereira, A. M.; Porto, L. B.; Zapata, J. M.; Carvalho, C. S. M.; Engel, D.; de Santana, L. M.; Prado, F. A.; Pedrosa, H. C. 412 PIODERMA GANGRENOSO: RELATO DE CASO EM PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE BASEDOW GRAVES...........................S345 Andrade, L. G.; Diniz, R. C.; Andrade, P. R. B.; Tavares, L. C.; Silva, C. R.; Marques, S. M. V. C.; Oliveira, C. R.; Gomes, A. F. 413 POLIMIOSITE ASSOCIADA AO CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE: UMA SÍNDROME PARANEOPLÁSICA?..............................S345 Pallone, C. R. S.; Marino, E. C.; Campos, R. G.; dos Santos, R. A.; Tavares, M. C. S.; Luz, N. M.; Pires, A. C.; Laguna Neto, D. 414 PREVALÊNCIA DE HIPOTIREOIDISMO EM PACIENTES ATENDIDOS NO LABORATÓRIO ESCOLA DA PUC-GOIÁS...........................S346 Costa, S. H. N.; Tavares, R. S.; Matias, L. P.; Ottobeli, C.; Dias, A. A.; Nascimento, E. S.; Gomes, L. B. M. 415 PROLIFERATION CELL MARKER KI-67 IN DIFFERENT BENIGN THYROID NODULES: CLINICAL, LAB AND SONOGRAPHIC CORRELATION ASPECTS.................................................................................................................................................................S346 Maia, F. F. R.; Vassallo, J.; Pinto, G. A.; Pavin, E.; Mattos, P. S.; Zantut-Wittmann, D. E. 416 REDUÇÃO PROGRESSIVA DO VOLUME DE NÓDULOS TIREOIDIANOS TRATADOS POR ALCOOLIZAÇÃO.......................................S346 Cadore, A. C.; Piaia, C. 417 REPERCUSSÕES DO NÍVEL DE CORTE DO TSH PARA 6 MU/L NA TRIAGEM NEONATAL DE HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO EM SANTA CATARINA: RESULTADOS PRELIMINARES.......................................................................................................................S347 Nascimento, M. L.; Dornbusch, P.; Ohira, M.; Simoni, G.; Cechinel, E.; Linhares, R. M. M.; Silva, P. C. A. 418 RESPOSTA TERAPÊUTICA E RISCO DE RECORRÊNCIA EM PACIENTES COM CÂNCER DIFERENCIADO DE TIREOIDE: CRITÉRIOS DA AMERICAN THYROID ASSOCIATION.......................................................................................................................S347 Machado, M.; Venâncio, L.; Henriques, J. L. M. 419 RESULTADOS DA CAMPANHA DA TIREOIDE NO AMAZONAS.........................................................................................................S347 Aguiar, A. H.; Jezini, D. L.; Costa, M. C. T.; Paiva, L.; Pang, Y. C.; Santos, M. B.; Lobo, L. E. S.; Silva, T. M. 420 RUPTURA DIAFRAGMÁTICA ESPONTÂNEA EM PACIENTE COM HIPOTIREOIDISMO.......................................................................S348 Silva, J.; Maciel, L. M. P.; Silveira, L. S. S. C.; Amorim, A. S.; Naliato, E. C. O. 421 SÍNDROME DE DOWN E HIPERTIREOIDISMO: RELATO DE CASO....................................................................................................S348 Barros, M. F.; Carneiro, B. V.; Borges, J. F.; Sandoval, M. F.; Nascimento, M.; Ferreira, W.; Garcia, R. 422 SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOIMUNE TIPO 3 (SPG 3): RELATO DE CASO..............................................................................S348 Alves, J. M.; Manfredinho, F. J.; Fiorin, D.; Teixeira, N. M.; Polesel, M. G.; Carvalho, G. A.; Rea, R. R. 423 TIREOIDE SUBLINGUAL E HIPOTIREOIDISMO, CAUSANDO DISPNEIA, DISFONIA E EPISTAXE: RELATO DE CASO.............................S349 Gomes Neto, P. S.; Almeida Júnior, E. G.; Rego, D. P.; Filgueiras, I. B. R.; Albuquerque A. O.; Araújo, J. S. A.; Lázaro, A. P. P. 424 TIREOIDITE DE RIEDEL: RELATO DE CASO........................................................................................................................................S349 Moreira, R. O.; Alves, D. L.; Amaral, F. F.; Nassau, D. C.; Machado, C. V.; Carvalho, B. R. P.; Larcher de Almeida, A. A. TRABALHOS CIENTÍFICOS – SUMÁRIO 425 TUMOR CARCINOIDE DE PÂNCREAS ASSOCIADO À CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE.......................................................S350 Pacheco, C. F. V.; Sutti, D.; Biancardi, N. F. 426 TUMOR INFILTRATING NATURAL KILLER LYMPHOCYTES MAY PREDICT FAVORABLE PROGNOSIS IN PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA........................................................................................................................................S350 Ward, L. S.; Cunha, L. L.; Nonogaki, S.; Morari, E. C.; Soares, F. A.; Vassallo, J. 427 UTILIZAÇÃO DO CARBONATO DE LÍTIO NA TERAPÊUTICA DO BÓCIO DIFUSO TÓXICO.................................................................S350 Cruz, I. C.; Silva Jr, W. S.; da Costa, R.; Alencastro-Corrêa, A. T.; Caldas, D.; Warszawski, L. 428 VASCULITE CUTÂNEA NECROTIZANTE: UMA RARA MANIFESTAÇÃO CLÍNICA ASSOCIADA AO USO DE PROPILTIOURACIL PARA O TRATAMENTO DO HIPERTIROIDISMO................................................................................................................................S350 Orlandi, D. M.; Carneiro, F. G. S.; Parra, A. M.; Enokihara, M.; Santarosa, V. A.; Sá, J. R.; Martins, J. R. M. Outros 429 “LATE ONSET HYPOGONADISM” IS NOT AN ISOLATED CONDITION – COMORBIDITIES IN ELDERLY HYPOGONADAL MEN PRESENTING OR REFERRED TO UROLOGICAL INSTITUTIONS IN GERMANY....................................................................................S351 Saad, F.; Haider, A.; Yassin, A. 430 LONG-TERM TESTOSTERONE TREATMENT WITH INJECTABLE TESTOSTERONE UNDECANOATE IN HYPOGONADAL MEN WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (M. CROHN AND COLITIS ULCEROSA) ..................................................................................S351 Saad, F.; Haider, A; Kurtz, W.; Nasser, M. 431 TESTOSTERONE TREATMENT WITH INJECTABLE TESTOSTERONE UNDECANOATE SUSTAINABLY IMPROVES ERECTILE FUNCTION, URINARY FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN ELDERLY HYPOGONADAL PATIENTS ......................................................................S352 Saad, F.; Haider, A.; Doros, G. 432 SUSTAINED IMPROVEMENT OF FEATURES OF THE METABOLIC SYNDROME UPON NORMALIZATION OF SERUM TESTOSTERONE IN HYPOGONADAL MEN. FOLLOW-UP UP TO 5 YEARS .......................................................................................................................S352 Saad, F.; Haider, A.; Doros, G. 433 TESTOSTERONE TREATMENT UP TO 5 YEARS IN ELDERLY, HYPOGONADAL MEN HAS PROFOUND FAVOURABLE EFFECTS ON BODY WEIGHT AND WAIST CIRCUMFERENCE .........................................................................................................................................S352 Saad, F.; Haider, A.; Doros, G. 434 SIDE EFFECT PROFILE OF LONG-TERM TREATMENT OF ELDERLY HYPOGONADAL MEN WITH TESTOSTERONE UNDECANOATE ......S352 Saad, F.; Haider A.; Doros G. 435 TREATMENT OF PATIENTS WITH A LATE DIAGNOSIS OF KLINEFELTER’S SYNDROME WITH TESTOSTERONE UNDECANOATE FOR A DURATION OF UP TO 5 YEARS........................................................................................................................................................S353 Saad, F.; Haider, A.; Doros G. 436 SUBSTANTIAL WEIGHT LOSS AND BENEFICIAL EFFECTS ON THE METABOLIC SYNDROME AS A RESULT OF TESTOSTERONE TREATMENT FOR UP TO 15 YEARS WITH TESTOSTERONE UNDECANOATE INJECTIONS IN 334 HYPOGONADAL MEN....................S353 Saad, F.; Zitzmann, M. ADRENAL E HIPERTENSÃO 1 ASSOCIAÇÃO DE FEOCROMOCITOMA E CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS: UM CASO ATÍPICO – APARECIMENTO TARDIO E FEOCROMOCITOMA MALIGNO Moura, L. G.¹; Mourão, G. F.¹; Muniz, A. L. R.¹; Rodrigues, M. M. N.¹; Silva, B. A. C.¹; Calsolari, M. R.¹; Noviello, T. B.¹; Rosário, P. W.¹ ¹ Hospital Santa Casa de Belo Horizonte (HSBH), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Descrever o caso de idosa com carcinoma de células renais e feocromocitoma maligno. Métodos: Relato de caso. Resultados: MMG, feminina, 69 anos, portadora de HAS de difícil controle há 10 anos. Há um ano com emagrecimento, astenia, dor abdominal, edema assimétrico de MIE e massa inguinal E. US abdominal evidenciou imagem em pólo superior renal D. TC de abdome: lesão nodular heterogênea em adrenal D, área hipodensa central e realce pós-contraste, medindo 4,3 x 3,6 cm. Realizada dosagem de catecolaminas plasmáticas: adrenalina 52 (VR 30-60 pg/mL), noradrenalina 144 (VR 40-400 pg/mL), dopamina 90 (VR 10-150 pg/mL) e urinárias: adrenalina 14,2. Discussão: A associação de carcinoma de células renais e feocromocitoma ocorre em síndromes genéticas autossômicas dominantes como doença de von Hippel-Lindau (VHL) subtipo 2B e paraglangioma familiar tipo B (SDHB). Ambas ocorrem em idade média de 30 anos. No SDHB é mais comum a ocorrência de paragangliomas, as lesões são maiores e a malignidade é mais frequente. A sintomatologia e a secreção de catecolaminas parecem ser maiores. Feocromocitoma bilateral tende a ocorrer mais no VHL, o fenótipo é mais brando e a ocorrência de carcinoma de células renais é mais comum. Conclusão: Nessas síndromes, as mutações ocorrem em diferentes genes supressores tumorais e aumentam o risco de desenvolvimento de tumores de células cromafins por uma via comum. Precisam ser confirmadas por meio de testes genéticos específicos e os familiares, adequadamente rastreados e acompanhados. 2 ASSOCIAÇÃO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SEDENTARISMO COMO RISCOS CARDIOVASCULARES SOMADOS AO TABAGISMO Mendes, L. J.¹; Nunes, M. A.¹; Chalegre, C. M. S.¹; Kim, I. C.¹; Menezes, F. T. L.¹; Melo, J. C. M.¹; Dantas, D. R. G.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Verificar a associação entre hipertensão arterial e sedentarismo como riscos cardiovasculares somados ao tabagismo. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal da população atendida pelo projeto Tratamento do tabagismo: enfoque multidisciplinar no período de março a junho de 2012. Foram analisados 87 pacientes por meio de um questionário aplicado no primeiro atendimento e termo de consentimento livre e esclarecido assinado. A abstinência foi acompanhada em consultas quinzenais por um período de três meses. Resultados: Entre os 87 pacientes, todos fumantes, 27,6% (24) tinham o diagnóstico prévio de HAS e 72,4% (63) não o tinham. Em relação à atividade física, 60,9% (53) são sedentários e 39,1% (34) praticam algum tipo, destes: 1,1% (1) apenas no fim de semana, 11,5% (10) 1 a 2 vezes por semana, 14,9% (13) 3 a 5 vezes por semana e 11,5% (10) mais de 5 vezes por semana. Dos 24 tabagistas hipertensos, 87,5% (21) fazem tratamento farmacológico, sendo o inibidor da enzima conversora de angiotensina o mais utilizado e apenas 45,8% (11) praticam atividade física regular. Já entre os tabagistas não hipertensos, temos que 34,9% (22) se exercitam e 65,1% (41) são sedentários. Discussão: O tabagismo é compro- vadamente fator precipitante de diversos problemas à saúde humana, inclusive sendo para a União Europeia o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em adição, o sedentarismo e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) podem ser citados como fatores de risco de alta incidência e prevalência na população mundial. Conclusão: Podemos verificar que neste grupo há possivelmente um elevado risco, pois, além do tabagismo, na maior parte dos pacientes há associação do tabagismo com HAS e/ou sedentarismo, dados que se assemelham na literatura. Além disso, mesmo os hipertensos que usam medicamentos, a maioria não pratica atividade física, uma das mais importantes mudanças do estilo de vida necessárias para controlar de forma independente a HAS, bem como, em conjunto, diminuir o risco cardiovascular. Deve-se incentivar a população para a prática correta da atividade física e combater o tabagismo e a HAS, como medidas efetivas para diminuir os crescentes números de doenças cardiovasculares. 3 CARCINOMA ADRENAL ASSOCIADO À SÍNDROME DE CUSHING Aires, D. K. X.¹; Fagundes, T. C.¹; Gomes, P. B.¹; Félix, T. A. A.¹; Paz, B. C. S.¹; Maroccolo, R. R.¹; Porto, A. L.¹; Batista, M. C. P.¹ ¹ Setor de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal Ambulatório de Gônadas e Adrenais (SES-DF), Laboratório de Farmacologia Molecular (LFM), Hospital Universitário de Brasília, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF, Brasil Objetivo: O carcinoma adrenocortical é uma neoplasia endócrina rara, mais prevalente em mulheres, de diagnóstico tardio e prognóstico reservado. A maioria desses tumores apresenta-se de forma clinicamente funcionante (60%), com grande heterogeneidade clínica, sendo a síndrome de Cushing e o hiperandrogenismo os achados mais comumente associados. Métodos: Apresentação de caso clínico de síndrome de Cushing secundária à carcinoma adrenocortical, a partir de revisão de prontuário e literatura pertinente. Resultados: LVG, 30 anos, sexo feminino, branca, com ganho de peso (14 kg), acne e hipertensão arterial há 4 meses. Ao exame físico, apresentava fácies de lua cheia, plétora facial, acne em face, giba, obesidade centrípeta, fraqueza proximal e hipertensão arterial. Com a suspeita de síndrome de Cushing, foram realizados exames: cortisolúria: 1755,2 μg/24h (valor de referência [VR]: 55-286), cortisol póssupressão com dexametasona 1 mg: 25 μg/dL. Discussão: A presença de hipercortisolismo e o aumento da produção de SHDEA, associados à lesão adrenal maior de 4 cm, com densidade > 20 UH, levantaram a hipótese de carcinoma adrenal. Após confirmação histopatológica, foi proposta terapia adjuvante com mitotano, isômero do pesticida DDD, diretamente tóxico para as células adrenocorticais. Conclusão: A despeito da evolução dos métodos diagnósticos, a sobrevida do carcinoma adrenal não mudou ao longo dos últimos 20 anos. O tratamento sistêmico continua não sendo satisfatório e o manejo de pacientes com câncer adrenal representa um desafio clínico. Estudos futuros são necessários para aprimorar o conhecimento sobre sua patogênese a fim de orientar terapias mais promissoras e melhorar seu prognóstico. 4 CARCINOMA ADRENAL, SÍNDROME DE CUSHING E HIPERALDOSTERONISMO: RELATO DE CASO Magalhães, R. S. C.¹; Reis, M. D. S. L. C.¹; Maia, C. P.¹; dos Santos, J. C. V.¹; Faria, I. M.¹; Braucks, G. R.¹; Amorim Júnior, A. C.¹ ¹ Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Clínica, Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Estácio de Sá (Unesa), Rio de Janeiro, RJ, Brasil S201 Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Objetivo: Relatar um caso raro de carcinoma adrenal. Métodos: Dados do prontuário e revisão da literatura. Resultados: JRMS, 29 anos, sexo feminino, branca. Relatava lesão em adrenal esquerda diagnosticada há 1 mês, durante investigação de dor abdominal, e história de crises hipertensivas, epistaxe e cefaleia recorrentes há 2 anos, além de hipocalemia (K+ 2,3 mEq/L). Relatava uso de losartana 150 mg/dia e cloreto de potássio. Ao exame: PA 210 x 120 mmHg, FC: 88 bpm, IMC 31,2 kg/m². Não apresentava sinais de hipercortisolismo e/ ou hiperandrogenismo. Durante internação hospitalar, fez uso diário de verapamil 240 mg, Hidralazina 150 mg, prazosin 3 mg, postássio 40,5 mEq e dieta normossódica. Laboratório: Metanefrinas plasmáticas normais, aldosterona 35,1 ng/dL, atividade plasmática de renina 0,6 ng/mL/h (Relação = 58.5). Cortisol após 1 mg de dexametasona 29,5 µg/dL; Liddle 1 25,10 µg/dL; SDHEA < 15,0 (35-430) mg/ dL; ACTH: 5.0 (5 a 46) pg/mL, testosterona < 0,025 (0,050-0,522) ng/mL. A tomografia de abdome mostrou formação expansiva de contorno lobulado, heterogênea com focos cálcicos e densidade média de 29 UH na fase sem contraste; realce heterogêneo pelo meio de contraste, nas fases arterial e portal e 63 UH na fase tardia, sem mostrar “washout”, na adrenal esquerda, deslocando inferiormente o rim e os vasos renais, medindo 115 x 82 x 111 mm. Submetida à abordagem cirúrgica sem intercorrências. Histopatológico condizente com carcinoma da córtex adrenal com extensa invasão vascular. Positivo para sinaptofisina, Melan-A, inibina, calretina focalmente e EMA focalmente. Negativo para S100, cromogranina e AE 1/3. Discussão: Os carcinomas adrenocorticais são raros, com uma incidência estimada de 0,6 a 2 casos por milhão por ano. Aproximadamente 54% dos casos apresentam clínica de hipersecreção hormonal e 23%, manifestações locais (dor abdominal, massa palpável ou sintomas compressivos). A maioria dos tumores hipersecretores cursa com hipercortisolismo com ou sem hiperandrogenismo, e somente 1%, hiperaldosteronismo. A taxa de sobrevida em 5 anos é de cerca de 30%. Na maioria dos casos, o tratamento de escolha é cirúrgico. Grande parte dos pacientes desenvolve doença metastática entre 6 e 24 meses após a ressecção. Conclusão: Destacamos a raridade do perfil tumoral cossecretor de glicocorticoides e aldosterona, que acreditamos ter contribuído para a severidade da hipertensão e hipocalemia em nossa paciente. 5 CARCINOMA ADRENAL: SÉRIE DE CASOS Souza Júnior, J. A.¹; Santos, L. R.¹; Freire, A. C. T. B.¹; Aum, P. M. P.¹; Camara, M. F.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Júnior, J. V.¹ ¹ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever quatro casos de pacientes com carcinoma adrenal acompanhados na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no período de novembro de 2010 a março de 2012. Métodos: Avaliamos o quadro clínico inicial, produção hormonal, características radiológicas e anatomopatológicas. Resultados: Em nossa casuística, todos os pacientes eram do sexo feminino, sendo dois pacientes com idade inferior a 30 anos e dois com idade superior a 50 anos. Com relação ao quadro clínico, uma paciente foi diagnosticada devido à dor abdominal, duas apresentavam uma síndrome virilizante e uma era assintomática. De acordo com as características radiológicas, todos os tumores eram maiores que 6 cm e apresentavam realce heterogêneo após infusão de contraste. Em três pacientes, foram vistos tumores com áreas de necrose, sendo que um paciente já apresentava ao diagnóstico sinais de invasão renal associado a implantes secundários hepáticos. As pacientes foram submetidas à adrenalectomia, e uma evoluiu para óbito por complicações S202 do tumor e as três restantes foram submetidas à terapia adjuvante com mitotane. Não descreveremos neste relato o seguimento pós-operatório dessas pacientes. Discussão: O carcinoma adrenal é uma neoplasia rara, com incidência de dois casos por milhão por ano e predileção pelo sexo feminino. Com relação ao quadro clínico, metade desses tumores é não funcionante, sendo diagnosticada por quadro de dor abdominal ou lombar. Os tumores funcionantes apresentam-se como síndrome de Cushing em 40% dos casos e síndrome virilizante nos 10% restantes. De acordo com a literatura, cerca de 25% das massas adrenais com tamanho superior a 6 cm são carcinomas. Conclusão: O carcinoma adrenal é uma neoplasia com alta taxa de morbimortalidade. Ao diagnóstico, a maioria dos pacientes encontra-se em estádio II ou IV, sendo a taxa de sobrevida diretamente relacionada ao estádio inicial. O tratamento cirúrgico associado ao mitotane continua sendo o tratamento de escolha. 6 CARCINOMA ONCOCÍTICO ADRENAL – UMA RARA DOENÇA E DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO Teixeira, N. M.¹; Alves, J. M.¹; Fiorin, D.¹; Valadão, S. V.¹; Gentili, A. C.¹; Cavalcanti T. C.¹; Rodrigues, A. M.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (SEMPR), Departamento de Patologia Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), Curitiba, PR, Brasil Objetivo: Relatar um caso de hiperandrogenismo clínico e laboratorial devido a adenocarcinoma de adrenal funcionante do raro subtipo oncocítico. Métodos: Paciente feminina, 31 anos, encaminhada a um hospital universitário de referência em Curitiba por diagnóstico tomográfico de massa em adrenal direita com 8 x 8 cm e quadro de amenorreia secundária há 5 anos e hirsutismo grave segundo Escala de Ferriman-Gallwey. Exames laboratoriais com evidência de níveis altos de testosterona total (350 ng/ml) e de sulfato de de-hidroepiandrosterona (1.026 mcg/dl) confirmaram hiperandrogenismo devido a tumor adrenal funcionante. Realizada adrenalectomia videolaparoscópica a D. Resultados: Anatomopatológico com diagnóstico inicial de adenoma oncocítico adrenal pela classificação de Weiss. Por causa da alta suspeita clínica de carcinoma, foi solicitada revisão de lâmina, com retificação do diagnóstico para carcinoma oncocítico de adrenal (COA) segundo classificação de Lin-Weiss-Bisceglia. Discussão: O carcinoma adrenocortical é uma doença maligna rara (incidência 0,72 casos por milhão por ano) e heterogênea com pobre prognóstico. Ainda mais rara é a variante oncocítica dessa doença, com 115 casos de neoplasia oncocítica adrenocortical descritos na literatura, sendo somente 24 malignos (COA). Quando a moléstia se apresenta de maneira avançada, o diagnóstico é relativamente fácil, porém tumores estritos a adrenal devem ser avaliados para seu potencial maligno. O Sistema de Score de Weiss é o mais popular atualmente. Contudo, utilizado para classificação de neoplasia adrenocortical convencional, com uso limitado para variante oncocítica. Nessa situação, deve ser usado o sistema próprio, Score de Lin-Weiss-Bisceglia. Nosso caso ilustra a importância do uso desse último para o diagnóstico adequado, visto que houve uma mudança de adenoma para carcinoma. Salienta-se que o CAO parece ter um melhor prognóstico em relação ao carcinoma convencional, com uma média estimada de sobrevida de 58 meses do primeiro contra 14 a 32 meses do segundo. Conclusão: Evidências na literatura sugerem que a neoplasia adrenocortical oncocítica é mais que uma simples curiosidade acadêmica e sim uma doença com características clínicas e patológicas únicas. Nesse contexto, diante da raridade, é fundamental que todos casos sejam descritos para ampliarmos nosso conhecimento sobre o prognóstico e o manejo de tal patologia. 7 CARCINOMA POUCO DIFERENCIADO EM CÓRTEX DA GLÂNDULA SUPRARRENAL ASSOCIADO A CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE: RELATO DE CASO Pallone, C. R. S.¹; Santos, R. A.¹; Marino, E. C.¹; Campos, R. G.¹; Tavares, M. C. S.¹; Luz, N. M.¹; Pirozzi, F. F.¹; Pires, A.C.¹ ¹ Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital de Base de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto (Famerp), São José do Rio Preto, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso de carcinoma de glândula adrenal associado a carcinoma papilífero de tireoide. Métodos: O.N., masculino, 69 anos, branco. Iniciou acompanhamento no Hospital de Base de São José do Rio Preto em junho de 2006 com equipe da Otorrinolaringologia devido a queixa de tosse produtiva há dois anos, dispneia e rouquidão. Ultrassonografia de tireoide com diagnóstico de bócio mergulhante. Resultados: Paciente submetido à tireoidectomia total com esternotomia parcial. A anatomia patológica evidenciou carcinoma papilífero no lobo esquerdo, padrão misto, variante folicular, de células colunares, de 8,2 cm do seu maior eixo, encapsulado, estadiamento T3N0Mx. Submetido a 100 mCi de iodo I131. Em fevereiro de 2012, paciente apresentou dispneia progressiva. Tomografias de tórax e abdome revelaram imagens sugestivas de metástases pulmonares, hepáticas e renal à direita, as quais foram biopsiadas. Laudo da biópsia: carcinoma pouco diferenciado de células claras, com moderado pleomorfismo nuclear e áreas focais de padrão sólido trabecular em todas as amostras. Imuno-histoquímica: carcinoma pouco diferenciado com perfil compatível com sítio primário em córtex da glândula suprarrenal (AE1/AE3, Vimentina e NSE positivos). Em 16/4/12, foi internado por desorientação, hiporexia e astenia. Evoluiu com piora da dispneia, com insuficiência respiratória e óbito dia 18/4/12. Discussão: O carcinoma adrenocortical é uma patologia rara, em geral de mau prognóstico, com suspeita estabelecida pela combinação de critérios clínicos, hormonais, radiológicos e achados histológicos. A imuno-histoquímica pode ser útil na diferenciação entre lesões adrenais e extra-adrenais, sendo os anticorpos alfa-inibina e Melan-A os mais sensíveis para determinar a origem adrenal do tumor. A ocorrência de dois tumores malignos simultaneamente num paciente é um fato raro. Em 2011, Buscemi et al. publicaram um caso de uma paciente transplantada renal que, 79 meses após transplante, apresentou microcarcinoma papilífero de tireoide associado a carcinoma de córtex adrenal. Conclusão: Os tumores adrenocorticais primários e as recidivas locais devem ser tratados cirurgicamente. Na presença de metástases ou doença progressiva, recomenda-se o tratamento com mitotane. Tratamento local ou quimioterapia pode ser indicado. Nesse paciente, não foi iniciado tratamento específico para o tumor primário devido ao estádio avançado da doença, com metástases em pulmões, fígado e rins. 8 CRISE ADRENAL PRECIPITADA PELA REPOSIÇÃO COM LEVOTIROXINA NA SUSPEITA DE SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOIMUNE TIPO 2: RELATO DE CASO Bizarro, V. R.¹; Santos, J. C. S.¹; Bizarro, V.¹; Araujo, L. M. M.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Jorge, A. R.¹; Arbex, A.K.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), São Paulo, SP; Faculdade de Medicina (Famene), João Pessoa, PB, Brasil Objetivo: Relatar um caso de crise adrenal precipitada por reposição com levotiroxina (LT). Métodos: LR, feminina, 22 anos, com história de depressão de longa data controlada com fluoxetina 20 mg/dia. Apresentou perda de peso progressiva com redução de apetite há 3 meses, tendo procurado um outro serviço, onde lhe foi diagnostica- do hipotireoidismo e iniciado tratamento com levotiroxina 75 mcg/ dia. Desde então, apresentou piora dos sintomas psiquiátricos, sendo internada no Serviço de Psiquiatria. Evoluiu durante a internação com náuseas, vômitos, dor abdominal difusa e hipotensão ortostática, sendo solicitada avaliação clínica. Exame físico: mau estado geral, afebril, emagrecida, desorientada, anictérica e com hiperpigmentação cutâneo-mucosa. Peso: 45 kg (habitual 55), PA: 110/70 mmHg (decúbito) e PA: 80/50 (em pé). FC 70 bpm (decúbito) e 90 (em pé). Tireoide palpável, indolor, com aumento difuso (2x do normal). Abdome difusamente doloroso. Suspeitou-se de crise adrenal precipitada pelo uso de LT. Foi suspenso o hormônio tireoidiano e iniciada dexametasona 1 mg/dia. Resultados: Anemia normocítica normocrômica (Hb 10,2 g/dL-N 12-16), glicemia de jejum 85 mg/dL (N 70-99), TSH 16,78 UI/mL (N 0,34-5,6), anti-TPO 921U/mL. Discussão: Deve-se individualizar a abordagem ao paciente com HT, a fim de evitar o surgimento de crise adrenal após início da reposição com LT também naqueles pacientes sem evidência de DA, porém com baixa reserva adrenal. Conclusão: Neste relato, por exemplo, a perda de peso poderia alertar para uma associação de HT com DA como manifestação de uma SPA2. 9 DOENÇA DE ADDISON POR PARACOCCIDIOIDOMICOSE: RELATO DE CASO Melo, M. C.¹; Menezes, A. D.¹; Barros, B. P.¹; Galvão, A. L. V.¹; Ferreira, R. D.¹; Conceição, S. A.¹ ¹ Universidade Federal de Goiás (UFG), Hospital das Clínicas, Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Relatar caso de doença de Addison por paracoccidioidomicose (Pbmicose) diagnosticado pelo Serviço de Endocrinologia de um Hospital Universitário em Goiânia, GO. Métodos: Análise de prontuário, incluindo história clínica e exames de atendimento ambulatorial e enfermaria de paciente internado no referido hospital. Resultados: J.A.F., 61 anos, procedente de São Miguel do Araguaia, GO, lavrador-aposentado, ex-tabagista e etilista, diabético tipo 2, admitido no Pronto-Socorro, referindo há três meses astenia, edema vespertino e esporádico de MMII, perda de 15 kg, diarreia líquida (3x/dia) sem sangue ou muco, náuseas, fraqueza, vômitos pós-alimentares, hipoglicemia, hipotensão e variação de consciência, com piora há 20 dias. Encaminhado à UTI com hipótese de sepse grave com foco urinário, tratado por cinco dias com Tazocin. Fez uso de cloroquina por três anos, suspendido há dois, sem autorização médica, por aparecimento de hiperpigmentação cutânea. Na admissão, apresentou leucocitúria e urocultura negativa, sem hematúria macroscópica. Foram encontrados valores de ACTH: 558 pg/ml (VR: < 37 pg/ml) e cortisol basal: 1,56 ug/dL (VR: 5 a 25 ug/dL), anticorpos anticórtex adrenal (ACA) não reagente; TC de abdome total normal; reação de Mantoux não reativo e Pbmicose reativo. Discussão: A insuficiência adrenal aguda (DA) pode ser secundária a infecções, doenças infiltrativas, hemorragias ou a drogas que interferem na esteroidogênese adrenal. Mesmo não sendo manifestação obrigatória, a hiperpigmentação cutânea facilitou o diagnóstico de DA. A ausência de ACA (ocorre em 60% a 81% desses casos) improbabiliza a etiologia autoimune. A normalidade anatômica das adrenais na TC de abdome não exclui doenças infecciosas, infiltrativo-neoplásicas ou metabólicas, vistas em necrópsia em 50% a 80% dos casos. No Brasil, a Pbmicose é prevalente em homens acima de 30 anos de áreas rurais, a exemplo do paciente. Estudos verificaram 10,6% de pacientes DA com Pbmicose, caracterizada por valores basais altos de ACTH e baixos de cortisol, após estímulo com ACTH. O diagnóstico etiológico pode ser feito pela biópsia das adrenais, guiada S203 Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos Adrenal E Hipertensão por TC ou ultrassom. A conduta não se realizou e a etiologia se traçou por dados epidemiológicos do paciente e reação de Pbmicose positiva. Conclusão: Alterações das adrenais por Pbmicose são responsáveis por grande parcela de pacientes DA. O acompanhamento adequado pode garantir diagnóstico precoce e evitar desfechos fatais. 10 EFEITO BENÉFICO DA DEXAMETASONA NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA NÃO CLÁSSICA Gardin, F. F. G.¹; Furuta, T. S.¹; Cunha, L. B.¹; Callado, C.¹; Nicolau, A. L.¹; Arbex, A. K.¹; Lana, J. M.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Este trabalho visa relatar um caso de HAC não clássica de manifestação tardia, com boa resposta ao uso da dexametasona durante o tratamento. Métodos: Mulher de 55 anos, procurou o serviço médico especializado com queixas de alopécia e hirsutismo. Apresentava, ao exame, obesidade grau 1. Exames laboratoriais: 17alfaOPH: 2,11 ng/ ml (valor 0,11 a 1,08), teste da cortrosina: 17OHP basal: 1.050 ng/ dl (valor 20 a 72); 17OHP após 60 minutos de cortrosina: 2.780 ng/ dl; aldosterona: 6,1 ng/dl (valor 4 a 31 ng/dl); cortisol basal após 1 mg de dexametasona: 0,92 ug/dl; teste de tolerância à glicose jejum = 121 mg/dl, em 120 minutos = 227 mg/dl; cortisol urinário: 44,3 mcg/24 h. TC de abdome: sugestivo de hiperplasia nodular na adrenal esquerda. Firmado o diagnóstico de HAC não clássica. A paciente iniciou o tratamento com dexametasona de 0,5 mg/dia. No momento atual, a dose utilizada é de 0,25 mg de 8/8 h. Resultados: Como resultado do tratamento, houve uma resposta significativa à medicação instituída, com perda de 10 kg de peso ponderal, melhora dos sinais de alopécia, hirsutismo, acne, bem como diminuição dos valores séricos de testosterona. Discussão: A HAC não clássica é um distúrbio autossômico recessivo na esteroidogênese adrenal, caracterizado por uma deficiência de cortisol. A redução desse hormônio leva à elevação do ACTH, gerando estímulo à adrenal e levando à sua hiperplasia. A deficiência da CYP21A2 é responsável por 90% dos casos, e sua deficiência acarreta alteração nas vias glicocorticoide e mineralcorticoide, o que leva à estimulação em excesso de uma via íntegra da suprarrenal, a via androgênica. Na forma não clássica, as manifestações virilizantes nas meninas não ocorrem ao nascimento, pois, neste caso, as mutações no gene permitem uma atividade enzimática residual. Os pacientes com essa forma geralmente apresentam pubarca precoce durante a infância e sinais de hiperandrogenismo durante a adolescência e vida adulta. Conclusão: A paciente citada apresentou queixas compatíveis com hiperandrogenismo, como a alopécia, o hirsutismo e a acne, tendo, então, procurado serviço médico. A dexametasona é a droga de escolha para o tratamento e controle da forma não clássica. Porém, a literatura descreve que a terapia com os corticoides, nas várias manifestações clínicas do hiperandrogenismo, tem resultado pouco adequado, com baixa eficácia na remissão dos sinais e sintomas. Tal fato dificulta a adesão das pacientes à terapêutica instituída e com isso se perde, por vezes, o seguimento clínico e laboratorial do quadro diagnosticado. 11 FEOCROMOCITOMA ASSOCIADO À NEUROFIBROMATOSE DO TIPO 1: RELATO DE CASO von Linsingen, C.¹; Spada, F.¹; Zanini, E. P. L.¹; Nishimori, F.¹; Zagury, R. L.¹; Vieira Neto, L.¹ ¹ Hospital Federal da Lagoa (HFL), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar um caso de feocromocitoma (FEO) associado à neurofibromatose do tipo 1 (NF1). Métodos: Relato de caso. Resul- S204 tados: Paciente de 31 anos, sexo masculino, apresentando hipertensão arterial sistêmica há dois anos e queixa de dor intensa em flanco direito à manobra de Valsalva há seis meses, em uso de enalapril 40 mg/dia. Procurou outro serviço onde foi submetido à ressonância magnética de abdômen, evidenciando formação expansiva de contornos regulares e bem definidos em adrenal direita, com sinal hiperintenso em T2 e isointenso em T1, medindo 6,9 x 7,6 x 6,1 cm, sem alterações em adrenal esquerda bem como demais órgãos intra-abdominais. Encaminhado ao nosso Serviço de Endocrinologia já com dosagens hormonais demonstrando metanefrinas urinárias no valor de 3,30 mg/24h (referencial até 1,0 mg/24h), ácido vanil mandélico urinário de 43,50 mg/24h (referencial de 2,0 a 14,0 mg/24h), epinefrina sérica 1007,0 pg/ml (referencial até 84 pg/ml) e norepinefrina sérica 10351,0 pg/ ml (referencial até 420 pg/ml). Ao exame físico, hipertensão arterial sistêmica, nove manchas café-com-leite (com diâmetro maior que 15 mm), inúmeras efélides em região inguinal, esparsas pápulas tuberosas compatíveis com neurofibromas e nódulos de Lisch em íris bilateralmente, sinais esses também presentes no pai do paciente, exceto pela hipertensão arterial. Solicitada cintilografia por metaiodobenzilguanidina 131I, que evidenciou captação restrita à topografia de adrenal direita. Iniciado prazosin seguido de associação com enalapril, com adequado controle pressórico após 16 mg/dia do alfabloqueador. Atualmente aguarda cirurgia para excisão tumoral. O pai está em investigação e seus familiares diretos foram convocados para consulta ambulatorial. Discussão: FEO é tumor de células cromafins derivado da crista neural, com incidência anual de 0,8/100.000 habitantes, e que pode estar associado a síndromes genéticas em 15%-20% dos casos. Uma dessas possíveis associações é NF1, síndrome de herança autossômica dominante em que ocorre mutação no gene de supressão tumoral NF-1, o qual codifica a proteína neurofibromina, e está associado a FEO em aproximadamente 2% dos casos. Conclusão: Apesar de a maioria dos casos de FEO ser esporádica, deve-se atentar para síndromes genéticas associadas, mesmo naquelas com baixa penetrância para FEO como na NF1, a fim de adequado aconselhamento genético e investigação familiar, especialmente porque o FEO está associado à elevada morbimortalidade. 12 FEOCROMOCITOMA COMO CAUSA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE JOVEM: RELATO DE CASO Scalfi, V. M.¹; Silva, E. D.¹; Annichino, L. R. A.¹; Castilho, L. N.¹; Cardoso, F. O. M.¹; Divitiis, M. J. L. S.¹; Domenico, C. M.¹; Silva, A. M.¹ ¹ Hospital Pitangueiras (HP), Jundiaí, SP, Brasil Introdução: Os feocromocitomas são tumores neuroendócrinos raros, produtores de catecolaminas, muitas vezes subdiagnosticados. Apresentam-se como causa rara de hipertensão secundária e podem cursar com complicações cardiovasculares graves. Objetivos: Relatar caso de feocromocitoma em paciente jovem, evoluindo com infarto agudo do miocárdio, e demonstrar correlação com complicações cardiovasculares, mostrando a importância do rastreio de hipertensão secundária, que abrange 10% dos hipertensos. Métodos: Paciente J.C.O.S., sexo masculino, branco, 17 anos, natural de Jundiaí, solteiro, estudante e história familiar positiva. Dá entrada no serviço com quadro de cefaleia holocraniana, sudorese, tontura, palpitação e pico hipertensivo de início súbito. Apresentou catecolaminas plasmáticas e metanefrinas urinárias normais. Na USG de abdome, massa adrenal à direita. TC de abdome com lesões expansivas adrenais bilaterais. Cintilografia com MIBG mostrando hipercaptação em adrenal direita. Evolui mantendo pico hipertensivo, sinais de hipoperfusão e instabilidade hemodinâmica, apresentando infarto agudo do miocárdio. Houve melhora clínica após introdução de alfabloqueador e betabloqueador. No 46o pós-infarto, foi submetido à adrenalectomia total à direita e parcial à esquerda por videolaparoscopia, evoluindo no pós-operatório com labilidade pressórica. Anatomopatológico: feocromocitoma de adrenal bilateral. Discussão: Os feocromocitomas são geralmente benignos, com pico de incidência por volta da quarta década de vida, e podem estar associados a síndromes genéticas. A tríade clássica é constituída por cefaleia, palpitação e sudorese, normalmente acompanhada de hipertensão. Comprometimento cardiovascular pode caracterizar-se por angina e infarto agudo do miocárdio, muitas vezes sem doença coronariana associada, decorrentes do espasmo coronariano pelas catecolaminas, aumento da agregabilidade plaquetária e do consumo de oxigênio. O diagnóstico é realizado pela dosagem de catecolaminas plasmáticas e metanefrinas urinárias, aumentadas em 98% dos casos. A confirmação é feita por exames de imagem. Conclusão: O diagnóstico de feocromocitoma como causa de hipertensão arterial secundária é fundamental para instituir o tratamento adequado, seguimento de cada caso, controle das complicações cardiovasculares e, consequentemente, a redução da morbimortalidade. 13 FEOCROMOCITOMA MALIGNO E NEUROFIBROMATOSE: RELATO DE CASO Aum, P. M. P.¹; Silva, A. Z.¹; Marone, M. M. S.¹; Hilário, L. N.¹; Ribas, C.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Júnior, J. V.¹ ¹ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP ), Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar caso de paciente com neurofibromatose e feocromocitoma, com metástases em vários sítios 20 anos após diagnóstico do tumor primário, sem resposta à terapia quimioterápica e com MIBG, mostrando a variabilidade do curso clínico da doença e da resposta aos tratamentos disponíveis. Métodos: Levantado prontuário de paciente de ambulatório de Serviço de Endocrinologia. G.S.S., 56 anos, feminina, diagnóstico de neurofibromatose com presença de nódulos cutâneos e manchas café com leite, e feocromocitoma tratado com adrenalectomia há 20 anos, em seguimento irregular. Apresentou fratura patológica de fêmur há 2 anos, com biópsia sugestiva de carcinoma de células claras, sem identificação de sítio primário. Evoluiu com perda ponderal e lombalgia, com novos exames realizados. Resultados: RM abdominal: nódulos hepáticos, pulmonares, ósseos, secundários. MIBG: captação em crânio, vértebras, úmero, fígado, ossos da bacia, fêmures provavelmente secundária à neoplasia de linhagem neuroectodérmica. Catecolaminas urinárias: norepinefrina 265 mcg/24h (VR: até 97), dopamina 590 mcg/24h (VR: até 500); metanefrinas urinárias: normetanefrina 4.408 mcg/24h (VR: até 800), metanefrina 498 mcg/24h (VR: até 400). Revisão de lâmina de biópsia de fêmur: quadro morfológico e imuno-histoquímica compatíveis com feocromocitoma maligno. Submetida a quimioterapia com ciclofosfamida, vincristina e dacarbazina e a terapia com MIBG. Evoluiu com piora clínica e das catecolaminas, metanefrinas e cintilografia com MIBG com progressão da doença metastática. Internada com desidratação e neutropenia febril evoluiu a óbito 6 meses após diagnóstico da doença metastática. Discussão: Feocromocitomas são tumores de células cromafins que produzem e secretam catecolaminas. Em 25% dos casos, associam-se a mutações genéticas. Em casos de neurofibromatose, sua frequência é inferior a 5%, sendo 90% benignos. A histopatologia não é confiável para distinguir tumores benignos de malignos, com necessidade de evidência de metástase em sítios distantes do tumor primário para o diagnóstico. No momento, não existe terapia universalmente efetiva para feocromocitomas malignos. Conclusão: Feocromocitomas podem apresentar doença metastática ao diagnóstico ou anos após a ressecção cirúrgica, em geral nos primeiros 5 anos, às vezes como nesse caso, 15 a 20 anos após retirada da lesão primária. A maioria dos tratamentos é paliativa, havendo grande variação na resposta dos pacientes. Portanto, o seguimento é importante para determinar o comportamento maligno do tumor. 14 FEOCROMOCITOMA MALIGNO EM UM PACIENTE COM NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 (NF1) Almeida, M. T.¹; Almeida, M. Q.¹; Chambo, J. L.¹; Soares, I. C. S.¹; Bronstein, M. D.¹; Hoff, A. A. F. O.¹; Fragoso, M. C. B. V.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever um paciente com NF1 associado com feocromocitoma maligno. Métodos: Relato de caso. Resultados: Paciente do sexo masculino, 36 anos, com NF1 e HAS há 1 ano. CT de abdômen evidenciou rim único à esquerda (E) e formação expansiva de 7,9 x 7,7 cm em adrenal E ocupando 2/3 superiores da loja renal E e nódulo hepático de 3,9 cm. As catecolaminas totais séricas e urinárias encontravam-se 24 e 6 vezes os valores de referência, respectivamente. A cintilografia com MIBG mostrou captação positiva na massa adrenal e lesão hepática. Três meses após o diagnóstico inicial, foi evidenciada progressão da massa abdominal na RM (14 cm no maior diâmetro). CT de tórax e cintilografia óssea não evidenciaram alterações. O paciente foi submetido à exérese em bloco da massa adrenal e rim E, devido ao envolvimento do parênquima e hilo renal, seguida de pancreatectomia distal e esplenectomia devido a íntimo contato com a lesão. Iniciada hemodiálise no pós-operatório. A histologia foi compatível com tumor neuroendócrino PASS 12. Após 1 mês, a metástase hepática foi ressecada. O anatomopatológico confirmou a suspeita de feocromocitoma. As catecolaminas normalizaram 1 mês após ressecção da lesão hepática. A cintilografia com MIBG após ressecções não identificou imagem suspeita. Paciente mantem sessões de hemodiálise e sua pressão arterial se mantém estável sob tratamento anti-hipertensivo. Discussão: A NF1 é uma síndrome hereditária que afeta o crescimento celular dos tecidos neurais, com predisposição a neoplasias, principalmente tumores malignos da bainha e nervos periféricos. Feocromocitomas são identificados em 0,1%-5,7% dos pacientes sem hipertensão arterial sistêmica (HAS) e em até 50% dos hipertensos. Em relato de 216 pacientes com NF1 e feocromocitoma, 14% apresentaram feocromocitoma bilateral e 9,3%, doença maligna. HAS persistente após retirada tumoral pode ser observada em até 60% dos pacientes. Nosso paciente manteve HAS leve num contexto de doença renal crônica, dificultando a interpretação quanto à recidiva da doença. As catecolaminas plasmáticas e a cintilografia com MIBG normais após cirurgias indicam controle da doença até o momento. Conclusão: Apresentamos um caso atípico de NF1 associado com feocromocitoma maligno, ressaltando a importância da investigação de feocromocitoma em pacientes portadores de NF1, principalmente quando associado à HAS. 15 GRANDE CARCINOMA ADRENOCORTICAL PRODUTOR DE CORTISOL ASSINTOMÁTICO Marques, T. F.¹; Beserra, S. R.¹; Maciel, P. A. G.¹; Coutinho, D. R. B.¹; Pequeno, C. P.¹; Filho, J. M. N. C.¹; Feitosa, I. D.¹; Figueiredo, P. R. L.¹ ¹ Faculdade de Medicina de Juazeiro (FMJ), Hospital Regional do Cariri, Juazeiro do Norte, CE, Brasil S205 Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Objetivo: Relatar um caso raro de carcinoma adrenocortical assintomático produtor de cortisol. Métodos: Relato de caso a partir da análise retrospectiva de prontuário médico. Resultados: MCS, 18 anos, masculino, admitido na emergência de um hospital de referência do Ceará, queixando-se de dores abdominais em hipocôndrio esquerdo com duração de 2 meses, intermitente, com irradiação para fossa ilíaca esquerda e que não cessava ao uso de sintomáticos. Associado a esse quadro, havia uma perda ponderal de 12 kg neste intervalo. Ao exame físico, apresentava-se hipocorado, emagrecido, pressão arterial em decúbito de 115 x 90 mmHg, sem evidências de virilização ou feminização, fácies cushingoide, gibosidade, estrias violáceas, equimoses ou fraqueza muscular proximal. O abdome era globoso, Piparot (+), doloroso à palpação em hipocôndrio esquerdo e sem massas palpáveis. Radiografia de tórax evidenciava um derrame pleural moderado à esquerda, para o qual foi realizada toracocentese de alívio e estudo do líquido com pesquisa de células neoplásicas negativa. Realizada ultrassonografia de abdome total sem achados de anormalidade, porém, durante a tomografia computadorizada, foi identificada uma lesão expansiva em loja adrenal esquerda, 13,3 x 11,8 x 8,3 cm, infiltrativa, heterogênea, com calcificações difusas, clareamento do contraste após 10 minutos inferior a 40%, com sinais de invasão pancreática, esplênica, de raiz mesentérica, disseminação linfonodal e carcinomatose peritoneal. Foram solicitadas dosagens hormonais para avaliar função adrenal que mostraram catecolaminas plasmáticas: norepinefrina: 185 pg/mL; epinefrina: 38 pg/mL; dopamina: 68 pg/mL; cortisol após supressão com 1 mg de dexametasona: 43,57 μg/dL; testosterona livre: 0,18 ng/dL, testosterona total: 17,5 ng/dL e sulfato de de-hidroepiandrosterona: 350 μg/dL. Glicemia de jejum: 88 mg/dL. Discussão: Carcinomas adrenocorticais são tumores raros, agressivos, cuja incidência é de aproximadamente 1-2 casos por milhão de habitantes por ano. Podem ocorrer em qualquer faixa etária, no entanto, são mais comuns antes dos 5 anos de idade e entre a quarta e quinta décadas de vida. Acometem predominantemente as mulheres, a maioria é secretor de cortisol e/ou androgênios e, nos homens, há uma tendência a ser assintomático, apresentando-se como uma massa abdominal ou um achado incidental. Conclusão: Este relato evidencia uma apresentação clínica incomum de um grande carcinoma adrenocortical produtor de cortisol. 16 HIPERPLASIA ADRENAL MACRONODULAR: APRESENTAÇÃO DE UM CASO Diniz, E. T.¹; Marques, T. F.¹; Martins, A. L. B.¹; Vasconcelos, R. S.¹; Siqueira Neto, M. L.¹; Lima, H. O.¹; Griz, L.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Relatar um caso raro de síndrome de Cushing (SC) secundária à hiperplasia macronodular das adrenais. Métodos: Relato de caso clínico a partir da análise retrospectiva de prontuário médico. Resultados: Paciente de 68 anos, sexo feminino, portadora de diabetes mellitus, hipertensão e osteoporose, evoluiu no último ano com piora dos níveis glicêmicos e insuficiência cardíaca descompensada. Antecedentes: doença de Plummer tratada com I131, na dose de 30 mCi, há dois anos. Exame físico evidenciou face de lua cheia, adelgaçamento cutâneo, equimoses em membros e fraqueza muscular proximal. A avaliação laboratorial mostrou: cortisol livre urinário = 339,2 mcg/24h (normal = 21 a 111 mcg/24h); cortisol salivar (quimioluminescência) = 0,73 mcg/dl; ausência de supressão significativa do cortisol após a administração de dose baixa de dexametasona (Liddle I) com cortisol = 25,1 mcg/dl); ACTH plasmático basal S206 (ensaio imunométrico quimioluminescente) = 5 pg/ml (repetido e confirmado); TSH = 0,15 UI/ml e T4 livre = 0,85 ng/dl. Com a hipótese diagnóstica de SC independente de ACTH, a paciente foi submetida à tomografia computadorizada (TC) de abdome, que mostrou adrenais de dimensões aumentadas, contornos lobulados, à custa de múltiplas imagens nodulares, apresentando impregnação heterogênea pelo meio de contraste, sendo aventada a possibilidade de hiperplasia macronodular das adrenais. No momento, a paciente encontra-se em preparação pré-operatória para realização de adrenalectomia bilateral. Discussão: A hiperplasia adrenal bilateral macronodular (AIMAH) é uma entidade rara caracterizada pelo aumento bilateral das adrenais, na ausência do estímulo exercido pelo ACTH. Na maior parte dos casos relatados na literatura, a expressão clínica da hiperplasia adrenal bilateral macronodular ocorreu após a quinta ou sexta década de vida. Clínica e laboratorialmente, a SC causada pela AIMAH apresenta praticamente as mesmas características das encontradas nas outras doenças primárias das adrenais. A TC costuma evidenciar um aumento maciço das adrenais, com múltiplos nódulos (alguns podendo atingir até 5 cm de diâmetro). O tratamento de escolha da AIMAH consiste na adrenalectomia bilateral. Conclusão: Este relato evidencia uma causa rara de SC ACTH-independente. 17 METÁSTASE ADRENAL DE ANGIOSSARCOMA HEPÁTICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE CARCINOMA ADRENAL Magno, G. M.¹; De Souza Júnior, J. A.¹; Silva, A. Z.¹; Cabral, L. M.¹; Bastos, R. M.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Júnior, J. V.¹ ¹ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar o caso de paciente com angiossarcoma hepático e metástase adrenal. Métodos: Levantado prontuário da paciente MFJ, 58 anos, sexo feminino, história de perda de 15 kg, febre, dor abdominal e vômitos por 10 meses. Resultados: TC de abdome com massa sólido cística, bem delimitada em topografia de loja adrenal direita de 10 x 9 x 7 cm; DHEA-S: 177 ng/mL (valor de referência-VR- : 7603780); testosterona total < 20 ng/dL (VR: 21-119); cortisol após 1 mg de dexametasona: 7,9 mcg/dL (VR: < 1,8); triagens para feocromocitoma e hiperaldosteronismo negativas. RM de abdome e pelve: fígado com lesões sólidas esparsas pelo lobo direito, entremeadas por lesões liquefeitas, algumas com componente hemorrágico, sendo o maior componente sólido de 10 cm; grande lesão hemorrágica e heterogênea comprometendo adrenal direita de 10 cm; ausência de lesões focais ovarianas. Anatomopatológico (AP) com imuno-histoquímica (IH) do material proveniente da biópsia de lesão hepática guiada por ultrassonografia: compatível com carcinoma pouco diferenciado, não determinando sede primitiva da neoplasia. Discussão: Aventada a hipótese diagnóstica de carcinoma adrenal secretor de cortisol, no entanto, tal hipótese foi enfraquecida com o resultado do ACTH: 134 pg/ mL (VR < 46), sendo levantada a possibilidade de metástase adrenal e que a não supressão do cortisol teria sido em função da situação de estresse em que a paciente se encontrava. Apresentou dor abdominal, vômitos, constipação, desconforto respiratório, hipotensão e queda do hematócrito, evoluindo a óbito após 4 dias; AP com IH proveniente da necrópsia: angiossarcoma hepático. Angiossarcoma hepático é um tumor raro, sendo estimada sua incidência anual em 0,14 a 0,25 caso por milhão. Macroscopicamente são massas mal definidas de aspecto esponjoso e hemorrágico, podendo haver metástases para linfonodos, ossos e adrenais. Conclusão: Em função do rápido crescimento do angiossarcoma hepático, a cirurgia ou transplante são de difícil realização, e a causa de morte, na maioria dos casos, é a ruptura tumoral com consequente hemorragia intraperitoneal. Deve-se, então, considerar a metástase adrenal do angiossarcoma hepático como diagnóstico diferencial de carcinoma adrenal, para a instituição da terapêutica adequada de maneira precoce. 18 NOVO MÉTODO PARA A DETERMINAÇÃO DE DHEA NO SORO POR DILUIÇÃO ISOTÓPICA E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM Nakamura, O. H.¹; Cardozo, K. H. M.¹; Biscolla, R. P. M.¹; Brandão, C. M. A.¹; Vieira, J. G. H.¹; Carvalho, V. M.¹ ¹ Grupo Fleury, São Paulo, SP, Brasil Objetivo: De-hidroepiadrosterona (DHEA) é um esteroide produzido principalmente pelas adrenais, mas também pelas gônadas e pelo tecido adiposo. É o precursor da androstenediona, que, por sua vez, dá origem a testosterona, estradiol e estrona. A determinação de DHEA no soro é importante para a avaliação da condição funcional das adrenais. DHEA é comumente determinado por imunoensaios que são suscetíveis a interferências por outros esteroides endógenos ou exógenos. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e a validação de um novo teste semiautomatizado e mais específico para a dosagem de DHEA. Métodos: Um pipetador robotizado Janus foi utilizado para o preparo da diluição isotópica, que consiste na combinação de 0,2 mL de soro e 20 µL de DHEA-d7 (100 ng/mL). Em seguida, as amostras são desproteinizadas e o DHEA, extraído em fase líquido-líquido imobilizada. Após evaporação dos extratos orgânicos, os resíduos são convertidos a oximas por tratamento com hidroxilamina. Os derivados são purificados por cromatografia líquida em fase reversa e detectados por espectrometria de massas em tandem, utilizando o modo de ionização por eletrospray positiva. O novo ensaio foi submetido a uma validação analítica completa e os resultados foram comparados com os obtidos com um radioimunoensaio (RIE) baseado em anticorpos desenvolvidos “in-house”. Resultados: Os parâmetros de extração foram otimizados por meio de uma estratégia de “design of experiment” baseada em fatorial completa. A comparação do método aqui descrito, com o método RIE “in house”, que envolve uma prévia extração líquido-líquido das amostras (n = 204), mostrou uma correlação de 0.83. Discussão: O ensaio apresentado é compatível com rotinas de alto volume. Apesar da alta complexidade associada à LC-MS/MS, o preparo semiautomatizado das amostras e aquisições curtas poupa o tempo de máquina precioso dos espectrômetros. Todos os parâmetros analíticos avaliados apresentaram ganho significativo quando comparados ao RIE. Conclusão: O novo ensaio apresentou ganhos importantes em sensibilidade e especificidade, o que que aumenta o valor diagnóstico da determinação de DHEA no soro humano. 19 PREVALÊNCIA DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO EM FERNANDÓPOLIS E PADRONIZAÇÃO DOS SEUS MÉTODOS LABORATORIAIS Franciscon, L. M. G. S.¹; Vinhola, S. M.¹; Merli, B. L. A.¹; Giavarina, V. I.¹; Gomes, M. A. R.¹; Oliveira Neto, J. B.¹; Fonseca, I. A.¹; Martines, M. P.¹ ¹ Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo), Fernandópolis, SP, Brasil Introdução: O hiperaldosteronismo primário (HAP) foi por três décadas tido como uma causa rara de hipertensão (HAS), e agora reconhecemos, após screening da razão plasmática aldosterona/atividade da renina (ARR), ser uma das causas mais comuns de hipertensão secundária, mesmo em normocalêmicos 50%. Dados estimam que, de 8% a 13% dos pacientes com HAS moderada a severa, destes, é de 17% a 23% de pacientes apresentam HAS refratária ao tratamento medicamentoso. O hiperaldosteronismo primário é uma produção excessiva de aldosterona, supressão da atividade plasmática de renina (APR) e presença de HAS, podendo haver hipocalemia e alcalose metabólica. A detecção de HAP é de particular importância não somente para melhorar seu tratamento e provável cura da HAS, como também para prevenção de patologias cardiovasculares e lesão de órgãos-alvo do que a idade e sexo, em pacientes correspondentes, com hipertensão essencial e HAS semelhante. Diante da estimativa, 30% da população mundial será hipertensa até 2025. Objetivo: Estimar a real prevalência de HAP em pacientes HAS na região de Fernandópolis, propondo um padrão metodológico laboratorial rotineiro aos HAS, para após podermos diminuir consequentemente a taxa de morbimortalidade desses pacientes. Métodos: O rastreamento será realizado em todos os pacientes com HAS do Posto Pôr do Sol, clínica médica, ambulatório dos alunos de medicina da Unicastelo, e que apresentem: suspeita de HAS secundária, hipocalemia espontânea ou provocada por diuréticos, HAS refratários aos tratamentos habituais, HAS com tumor abdominal, pacientes com HAS grau II ou III, história familiar de HAS ou AVE em pessoas com menos de 40 anos. Foram realizadas dosagens de: sódio e potássio séricos (mg/dl), creatinina, aldosterona sérica (ng/dl) e atividade plasmática da renina (ng/ml/hr), ARR. Resultados: Observou-se que, dos 42 pacientes avaliados, três apresentaram ARR > 20 ng/dl em seu rastreamento inicial, mostrando uma relação de 7,14%, estatisticamente significante. Discussão: De acordo com a literatura, os resultados mostraram a importância do rastreamento dos pacientes com esse exame laboratorial para possíveis diagnósticos de HAS refratários. Conclusão: Demonstrou-se a importância da determinação do rastreamento para HAP, uma causa de HAS passível de tratamento curativo, por meio da ARR, e não apenas a triagem por potássio sérico, diminuindo as complicações graves decorrentes dessa doença. Mais estudos devem ser realizados para uma mudança da triagem inicial da HAS. 20 PSEUDOCISTO HEMÁTICO DE GLÂNDULA SUPRARRENAL Brandão, D. A.¹; Madeira, M.¹; Cordeiro, N.¹; Rivelli, G.¹; Gabilão, I.¹; Kasuki, L.¹ ¹ Hospital Federal de Bonsucesso (HGB), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar um caso de pseudocisto hemático em glândula suprarrenal. Métodos: M.E.S., 62 anos, feminina, hipertensa. Há oito anos realizou radiografia de abdome para investigação de dor lombar, que evidenciou lesão calcificada em quadrante médio esquerdo. Não prosseguiu a investigação diagnóstica até que, há um ano, foi submetida à tomografia para elucidação de dor lombar associada à disúria, que mostrou volumosa formação hipodensa de aspecto cístico com calcificação anelar, medindo 9,1 x 7,4 x 6,9 cm em adrenal esquerda (adrenal direita sem alterações), sendo encaminhada para avaliação endocrinológica. Foram realizadas provas funcionais com exclusão dos diagnósticos de síndrome de Cushing, feocromocitoma e hiperaldosteronismo primário, além de nova tomografia de abdome, na qual foi confirmada formação expansiva ovalada de aspecto cístico, conteúdo hipodenso e sem realce pelo contraste, com calcificações parietais grosseiras e difusas, medindo 5 x 10 x 6,8 cm em adrenal esquerda, sem plano de clivagem com baço e pâncreas, determinando deslocamento inferior do rim ipsilateral, de aspecto inespecífico e comportamento benigno; adrenal direita normal. Foi, então, submetida à adrenalectomia esquerda devido S207 Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos ao tamanho da lesão (≥ 4 cm); a cirurgia foi realizada por via videolaparoscópica e sem complicações. Resultados: O estudo histopatológico da peça cirúrgica revelou pseudocisto adrenal composto por parede fibrosa sem revestimento epitelial próprio, com calcificações e conteúdo hemático, compatível com pseudocisto hemático. É importante salientar que a paciente nega qualquer história de trauma local, infecção, anticoagulação ou outra condição que justifique tal achado. Conclusão: O adenoma representa a etiologia mais frequente de incidentalomas adrenais, apresentando-se geralmente como lesões pequenas e não funcionantes. Nesses casos, a ressecção está indicada quando o tumor tem tamanho maior ou igual a 4 cm, visto que massas maiores têm maior risco de serem malignas. Já o cisto adrenal é uma condição rara, que responde por menos de 6% dos incidentalomas adrenais, sendo 32%80% pseudocistos. Esses geralmente são benignos, assintomáticos e têm sua origem relacionada a episódios repetidos de trauma, infecção ou sangramento. Além disso, os pseudocistos raramente podem causar hipofunção adrenal, síndrome de Cushing ou feocromocitoma. 21 PSEUDOCISTO HEMÁTICO DE GLÂNDULA SUPRARRENAL Coutinho, E. A. F.¹; Brandão, D. A.¹; Cordeiro, N.¹; Rivelli, G. R.¹; Netto, I.G.¹; Kasuki, L.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia do Hospital Federal de Bonsucesso (HGB), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar um caso de pseudocisto hemático em glândula suprarrenal. Métodos: M.E.S., 62 anos, feminina, hipertensa. Há oito anos realizou radiografia de abdome para investigação de dor lombar, que evidenciou lesão calcificada em quadrante médio esquerdo. Não prosseguiu a investigação diagnóstica até que, há um ano, foi submetida à tomografia para elucidação de dor lombar associada à disúria, que mostrou volumosa formação hipodensa de aspecto cístico com calcificação anelar, medindo 9,1 x 7,4 x 6,9 cm em adrenal esquerda (adrenal direita sem alterações), sendo encaminhada para avaliação endocrinológica. Foram realizadas provas funcionais com exclusão dos diagnósticos de síndrome de Cushing, feocromocitoma e hiperaldosteronismo primário, além de nova tomografia de abdome, na qual foi confirmada formação expansiva ovalada de aspecto cístico, conteúdo hipodenso e sem realce pelo contraste, com calcificações parietais grosseiras e difusas, medindo 5 x 10 x 6,8 cm em adrenal esquerda, sem plano de clivagem com baço e pâncreas, determinando deslocamento inferior do rim ipsilateral, de aspecto inespecífico e comportamento benigno; adrenal direita normal. Foi, então, submetida à adrenalectomia esquerda devido ao tamanho da lesão (≥ 4 cm); por via videolaparoscópica e sem complicações. Resultados: O estudo histopatológico da peça cirúrgica revelou pseudocisto adrenal composto por parede fibrosa sem revestimento epitelial próprio, com calcificações e conteúdo hemático, compatível com pseudocisto hemático. É importante salientar que a paciente nega qualquer história de trauma local, infecção, anticoagulação ou outra condição que justifique tal achado. Conclusão: O adenoma representa a etiologia mais frequente de incidentalomas adrenais, apresentando-se geralmente como lesões pequenas e não funcionantes. Nesses casos, a ressecção está indicada quando o tumor tem tamanho maior ou igual a 4 cm, visto que massas maiores têm maior risco de serem malignas. Já o cisto adrenal é uma condição rara, que responde por menos de 6% dos incidentalomas adrenais, sendo 32%-80% pseudocistos. Esses geralmente são benignos, assintomáticos, e têm sua origem relacionada a episódios repetidos de trauma, infecção ou sangramento. Além disso, os pseudocistos raramente podem causar hipofunção adrenal, síndrome de Cushing ou feocromocitoma. S208 22 PARAGANGLIOMA EM ADULTO JOVEM COM HISTÓRIA PRÉVIA DE FEOCROMOCITOMA NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO Soares, J. O.¹; Candioto, S. L.¹; Fonseca, I. F. A.¹; Nascimento, L. M. V.¹; Andrade, A. E. M.¹; Braziliano, C. B.¹; Almeida, H. G.¹; Leão, L. M. C. S. M.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Introdução: Feocromocitomas são tumores de células cromafins que produzem, armazenam e secretam catecolaminas. Têm maior incidência entre a 4ª e a 5ª décadas e somente 10% ocorrem em crianças. Sua prevalência é estimada em 1 caso a cada 500 a 1.000 indivíduos hipertensos, dentre os quais 75% não são diagnosticados em vida. Pode ser familiar ou esporádico, sendo este último o mais comum. As formas familiares ocorrem isoladamente ou como parte de síndromes genéticas como a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, doença de Von Hippel-Lindau, neurofibromatose tipo 1 e os paragangliomas hereditários do pescoço. É uma patologia potencialmente maligna e letal, sendo uma causa curável de hipertensão, devendo ser sempre investigada. Objetivo: Nosso objetivo é o relato de um caso raro de paraganglioma em adulto jovem com história pregressa de feocromocitoma na infância. Métodos: Relato de caso. Resultado: Paciente de 37 anos, masculino, pardo, assintomático, procurou atendimento ambulatorial portando tomografia computadorizada de abdome que demonstrava uma massa de 6,9 x 5,7 cm em topografia de adrenal esquerda, deslocando inferiormente o rim esquerdo. Tinha história pregressa de feocromocitoma aos 11 anos, diagnosticado durante investigação de hipertensão secundária. Na ocasião, apresentava episódios de sudorese, taquicardia, hipertensão, retinopatia hipertensiva grau IV e miocardiopatia catecolinérgica. Foi realizada adrenalectomia bilateral em dois momentos devido à persistência do quadro clínico. A histopatologia revelou feocromocitoma bilateral. Durante a atual investigação foram dosadas catecolaminas plasmáticas: epinefrina 86.2 pg/ml. Conclusão: Raramente o feocromocitoma faz parte de doença familiar de herança autossômica dominante. Estudos recentes mostraram que até 81% dos feocromocitomas multifocais e 59% dos pacientes com menos de 18 anos, como o caso relatado, seriam portadores das doenças familiares, mostrando a importância de valorizar as síndromes genéticas nesses casos. 23 HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA FORMA CLÁSSICA COM DIAGNÓSTICO TARDIO: RELATO DE CASO Camara, M. F.¹; Maxta, I. A.¹; Mandel, F.¹; Lima Júnior, J. V.¹; Toledo, L. G. M.¹; Mendes, R. E.¹; Scalissi, N. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso de hiperplasia adrenal congênita (HAC) forma clássica virilizante simples por deficiência de 21-hidroxilase (21OH), caracterizado por virilização extrema e genitália ambígua tratada tardiamente. Métodos: Relatado caso clínico de paciente em acompanhamento no ambulatório de endocrinologia, por meio de revisão de prontuário. Resultados: Paciente S.F.R., sexo feminino, 18 anos, encaminhada ao ambulatório de endocrinologia com hipótese diagnóstica de síndrome dos ovários policísticos (SOP). Relatava nascimento por parto normal e a termo, com distúrbio de diferenciação sexual diagnosticado ao nascimento, porém sem etiologia definida. Pubarca aos 7 anos e telarca aos 13 anos. Diagnosticada amenorreia primária aos 16 anos, sendo prescrito acetato de ciproterona 2 mg com etinilestradiol 0,035 mg, evoluindo com sangramento mensal e aumento das mamas. Antecedente familiar de irmão falecido aos 22 dias de vida. Pais sem consanguinidade. Ao exame físico, hirsutismo (Ferriman 18) e genitália ambígua, com clitoromegalia (6,0 x 3,0 cm, com estímulo de glande), uretra tópica e vagina hipoplásica (Prader II), além de Tanner M3P5. Os exames laboratoriais evidenciavam níveis aumentados de 17OH-progesterona (31 ng/mL, valor de referência-VR entre 0,18-0,25 ng/mL), testosterona total-TT (726 ng/ dL, VR entre 14-76 ng/dL), DHEA-S (609 mcg/dL, VR entre 37280 mcg/dL), androstenediona 10,90 ng/ml; (VR: 0,10-3,0) e cariótipo 46XX (30 metáfases). Tomografia computadorizada de abdome com espessamento hipoatenuante em adrenal esquerda (2,3 x 1,3 cm) e ultrassom pélvico com útero de dimensões reduzidas (11,7 cm³) e ovários sem alterações. Discussão: Diante do diagnóstico de HAC forma clássica virilizante simples, iniciou-se dexametasona 0,5 mg/dia, com redução de progressão de virilização e melhora dos níveis hormonais, com 17OHP 2,9 ng/mL, TT. Conclusão: É importante o diagnóstico precoce da HAC, de forma a controlar os sinais e sintomas de hiperandrogenismo e permitir a correção cirúrgica prematura da genitália ambígua, para evitar trauma psicológico, baseando-se no sexo social e genético do paciente. 24 PACIENTE COM FEOCROMOCITOMA MALIGNO IRRESSECÁVEL E HIPERCALCEMIA: RELATO DE CASO Sá, M. A.¹; Madruga, I. D.¹; Valeriano, A. M.¹; Gomes, C. L.¹; Beltrão, F. E. L.¹; Farias, M. B.¹; França, T. C.¹ ¹ Hospital Universitário Lauro Wanderley, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Complexo Hospitalar Governador Tarcisio Burity, João Pessoa, PB, Brasil Objetivo: Descrever um caso de hipercalcemia secundária a feocromocitoma maligno irressecável em uma paciente jovem. Métodos: Paciente feminino, 25 anos, hipertensa desde os 14 anos, com internação prévia por síncope, convulsão, constipação, sonolência e hipertensão arterial. Fez encefalopatia hipertensiva e edema agudo de pulmão. TC de abdome revelou tumoração em adrenal esquerda, sendo encaminhada ao HULW para investigação. À admissão: astenia, anorexia, vômitos e perda de peso (14 kg em 1 mês). Ao exame: hipocorada, sudoreica, FC: 156 bpm, FR: 24, PA: 170 x 130 mmHg; abdome tenso, distendido, doloroso, massa palpável em topografia esquerda. Exames: Ca: 16,2; P: 1,9; Ca de 24h: 545,6 mg; P de 24h: 615,2 mg; adrenalina = 19,5 mcg/24h, noradrenalina = 1.000 mcg/24h, dopamina = 1.000 mcg/24h; normetanefrina = 5.000 mcg/24h, metanefrina = 53,6 mcg/24h; PTH-intacto: 12 pg/mL; TC de abdome e pelve: grande massa heterogênea em adrenal esquerda, lobulada, com 9 x 13 x 10,5 cm estendendo-se para região peri-aórtico-caval, polo superior do rim e pilar diafragmático esquerdos; íntima relação com pâncreas (corpo e cauda), estômago, baço e cólon transverso; extensa adenomegalia peri-aórtico-caval, peri-renal esquerda e retrocrural; envolve veia renal esquerda e artérias aorta e renal esquerdas. Resultados: Foi diagnosticado feocromocitoma maligno irressecável. Tratada com os devidos anti-hipertensivos, necessitou durante internação de ácido zoledrônico para controle da hipercalcemia. Iniciada quimioterapia com vinblastina, ciclofosfamida e dacarbazina. Discussão: A maioria dos casos de hipercalcemia (90%) é decorrente de hiperparatireoidismo primário (HPT) ou malignidade, sendo necessária a diferenciação de ambos. FEO e HPT fazem parte do diagnóstico de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM2). Entretanto, HPT foi descartado na paciente pela dosagem do PTH. Associação de FEO com hipercalcemia maligna está relacionada à proteína que tem relação com o hormônio da paratireoide (PTHrP). Poucos casos são descritos na literatura e, em nenhum caso pesquisado, a hipercalcemia foi inicialmente tratada com ácido zoledrônico. Conclusão: A importância deste caso se deve por existirem poucos relatos de feocromocitoma maligno com hipercalcemia, sendo ainda mais raros os casos irressecáveis já ao diagnóstico. Uma vez que a hipercalcemia é potencialmente ameaçadora à vida, é importante que essa associação seja lembrada. 25 SÍNDROME DE GARDNER E ADENOMA ADRENAL: RELATO DE CASO Souza Júnior, J. A.¹; Santos, L. R.¹; Cyrulnik, F. M. B.¹; Oliveira, F. M.¹; Mendes, R. E.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Junior, J. V.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCS P), São Paulo, SP, Brasil Métodos: D.E.A., 22 anos, masculino, portador de síndrome de Gardner diagnosticada em 2008, submetido à colectomia total profilática em abril de 2010. Durante realização de exames de controle pós-operatório, evidenciou-se, por meio de tomografia de abdome, um incidentaloma adrenal à direita com 4,7 x 4,3 x 2,9 cm, com atenuação de -4 UH na fase pré-contraste e wash-out relativo > 40%. Posteriormente, RNM confirmou formação expansiva na adrenal direita com perda de sinal na sequência out fase, medindo 5,4 x 2,8 x 3,9 cm, sugestivo de adenoma. Resultados: Exames laboratoriais: cortisol sérico pós-supressão com dexametasona: 1,4 µg/dL, testosterona total: 492 ng/dL, DHEAS: 819 ng/mL, somatória das catecolaminas plasmáticas: 153 pg/mL e somatória das metanefrinas urinárias: 453 MCG em 24 horas. O paciente foi avaliado pelo Serviço de Urologia, sendo indicada adrenalectomia direita por via aberta. Atualmente, o paciente aguarda cirurgia. Discussão: A síndrome de Gardner é uma desordem genética autossômica dominante que se caracteriza como uma variante da polipose adenomatosa familiar associada a tumores extracolônicos, entre eles cistos epidermoides, osteomas e tumores desmoides. O principal risco para pacientes portadores dessa patologia é o desenvolvimento de câncer colorretal, embora exista associação com outras neoplasias, como o carcinoma de tireoide e adrenal. A incidência de massas adrenais em pacientes portadores de polipose adenomatosa familiar é cerca de 2 a 4 vezes maior que na população geral, embora a apresentação clínica e prognóstico não difiram. Conclusão: Ainda que rara, deve-se estar atento a essa associação, pois, devido a uma maior taxa de sobrevida desses pacientes atualmente, essa incidência está se tornando cada vez mais frequente. 26 SÍNDROME DE CUSHING ACTH-INDEPENDENTE COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ADRENAIS NORMAL Conceição, F. L.¹; Giorgetta, J. M.¹; Blotta, F. G. S.¹; Cunha Neto, S. H.¹; Vieira Neto, L.¹ ¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Descrever um caso de síndrome de Cushing (SC) ACTH -independente com tomografia computadorizada (TC) de adrenais normal. Métodos: Relato de caso. Resultados: Paciente 24 anos, sexo feminino, branca, ganho ponderal de 20 kg em 4 anos, fraqueza muscular proximal, pletora facial e hirsutismo há 5 anos, além de amenorreia secundária há 9 meses e diagnóstico de HAS em uso de três drogas anti-hipertensivas, dislipidemia e esteatose hepática não alcoólica. Negava doença endócrina na família. Apresentava obesidade generalizada, estrias violáceas > 1 cm em abdome, pletora facial, giba, acantose S209 Adrenal E Hipertensão Trabalhos Científicos Biologia Celular E Molecular/genética Trabalhos Científicos nigricans, acne e hirsutismo em face. IMC: 41,87 kg/m² e PA: 214 x 124 mmHg. Cortisol salivar noturno: 0,18/0,18 (VR < 10 pg/mL = supressão). TC de adrenais normal. Indicada cirurgia pela possibilidade de doença adrenocortical nodular pigmentada primária (PPNAD). Realizada adrenalectomia bilateral por videolaparoscopia, com adrenais macroscopicamente normais. Histopatológico: nódulos pardos, não encapsulados, definidos. Discussão: PPNAD é uma doença rara caracterizada por nódulos adrenais. Conclusão: Apesar de a PPNAD ser uma doença rara, deve ser incluída no diagnóstico diferencial da SC ACTH-independente, porque a TC abdome falha em reconhecer essa condição em alguns casos, como foi descrito. A adrenalectomia bilateral é o tratamento de escolha e é obrigatória a pesquisa do complexo de Carney devido à elevada prevalência nesses casos. 27 SÍNDROME DE CUSHING SUBCLÍNICA DECORRENTE DE INCIDENTALOMAS ADRENAIS BILATERAIS Coutinho, E. A. F.¹; Rivelli, G. R.¹; Netto, I. G.¹; Brandão, D. A.¹; Cordeiro, N.¹; Kasuki, L.¹; Braz, R.² ¹ Serviço de Endocrinologia do Hospital Federal Bonsucesso (HGB); ² Serviço de Radiologia Intervencionista do Hospital Federal de Bonsucesso (HGB), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar o caso de paciente com incidentalomas adrenais bilaterais e síndrome de Cushing (SC) subclínica. Métodos: NGMF, feminino, 49 anos. Durante investigação para enterorragia, realizou TC abdominal, que mostrou adenomas adrenais, medindo 2,8 x 1,7 cm à direita e 2,7x1,6 cm à esquerda. A avaliação funcional do incidentaloma excluiu feocromocitoma e hiperaldosteronismo e evidenciou hipercortisolismo ACTH-independente: cortisol após supressão com 1 mg dexametasona: 5,0 mcg/dL. Resultados: Três meses após a cirurgia, houve melhora do controle glicêmico e pressórico, perda ponderal e normalização do hipercortisolismo: CLU 38 mcg/24h (10-100) e cortisol salivar às 23h: 39 ng/dL (< 100). Discussão: Doenças primárias das adrenais representam 20%-30% dos casos de SC. Geralmente são adenomas (60%) e comumente são lesões unilaterais. Quando bilaterais, pode haver dificuldade na definição da lesão produtora de cortisol. SC subclínica pode ser definida como hipercortisolismo resultante de adenoma adrenal diagnosticado ao acaso. Em incidentalomas adrenais, a frequência de tumores secretores de cortisol é, em média, 8,3%. Conclusão: Na SC subclínica não haverá estigmas clássicos de SC, porém, como no caso apresentado, haverá alta prevalência de obesidade, HAS, DM2 e fraturas. Essas alterações geralmente melhoram com a intervenção cirúrgica. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR/GENÉTICA 28 A NOVEL HETEROZYGOUS OTX2 DELETERIOUS VARIANT (P.H230L) IN A PATIENT WITH HYPOPITUITARISM AND ECTOPIC POSTERIOR PITUITARY WITHOUT EYE MALFO Carvalho, L. R. S.¹; Moreira, M.¹; França, M.¹; Otto, A.P.¹; Correia, F.¹; Arnhold, I. J. P.¹; Mendonca, B. B.¹; Camper, S.A.¹ ¹ Endocrinologia do Desenvolvimento, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brazil; Human Genetics Department, University of Michigan (UM), Ann Arbor, USA Introduction: The incidence of short stature due to growth hormone (GH) deficiency occurs in 1:4,000-10,000 live births. Several transcription factors are necessary for the differentiation of five hormone producing cell types in the adenohypophysis. Patients with mutations in S210 HESX1, GLI2, LHX3, LHX4, SOX2, SOX3, PROP1, and POU1F1 have been described in humans with pituitary hormone deficiencies. OTX2 mutations can cause eye malformations such as anophthalmia and microphthalmia alone or in association with isolated GH deficiency (IGHD) or combined pituitary hormone deficiency (CPHD). Recently, two unrelated patients with CPHD and ectopic posterior pituitary lobe (EPP) without ocular abnormalities were found to harbor heterozygous OTX2 mutations, suggesting a role for this gene in the etiology of hypopituitarism without other syndromic features. Objective: The aim of this study was to analyze OTX2 in patients with IGHD or CPHD and correlate molecular findings with phenotype. Method: We studied 142 Brazilian patients with CPHD (7 consanguineous parents and 33 relatives with short stature) and 44 with IGHD (7 consanguineous parents and 11 relatives with short stature). Patients’ DNA samples were subjected to polymerase chain reaction using primers designed to amplify the translated exons and intron-exon borders. The PCR products were purified and sequenced by the Sanger method. Result: A novel variant p.H230L in OTX2 was found in a single patient with CPHD associated with EPP without eye malformation. This variant was not found in 400 alleles from 200 Brazilian controls. The histidine at the position 230 is conserved across all vertebrate species and in silico analysis predicts a deleterious effect of leucine substitution. Familial segregation revealed that the mother and two unaffected brothers are heterozygous carriers, suggesting incomplete penetrance. Discussion: This idea is consistent with the observation that the features of mice heterozygous for Otx2 loss of function are strongly influenced by genetic background. We are assessing the function of this variant in cell culture assays and exploring the possibility of digenic inheritance with exome sequencing in the affected patient. Conclusion: In conclusion, our set of 186 patients with hormone deficiencies without ocular malformation is the largest population screened for mutations in OTX2. The detection of only one suspicious variant in 186 individuals suggests that OTX2 is an uncommon cause of CPHD or IGHD without eyes malformation in the Brazilian population. 29 A PROTEÍNA CARREADORA DO RETINOL 4 COMO BIOMARCADOR DE RISCO CARDIOVASCULAR E RESISTÊNCIA À INSULINA EM PORTADORAS DE DIABETES TIPO 2 Comucci, E. B.¹; Vasques, A. C. J.¹; Silva, C. C.¹; Calixto, A. R.¹; Regiani, D.¹; Geloneze, B.¹; Pareja, J. C.¹; Tambascia, M. A.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Introdução: Em humanos, os níveis séricos elevados da proteína carreadora do retinol (RBP4) estão associados com a severidade da resistência à insulina (RI). A RBP4 é uma adipoquina que pode ser responsável pelo up-regulation das moléculas de adesão endotelial (MAE), levando ao desenvolvimento de complicações vasculares no diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A expressão das MAE causa disfunção vascular e o aumento destas está relacionado à progressão de complicações vasculares em diabéticos. Objetivo: Avaliar se a RBP4 é um bom biomarcador de risco cardiovascular e RI em mulheres eutróficas e obesas com tolerância normal à glicose e obesas com DM2. Métodos: Estudo transversal, com 139 mulheres na pré-menopausa divididas em três grupos (Grupo controle, G1 n = 45; Grupo obesas, G2 n = 53; Grupo obesas/DM2, G3 n = 41), com idades entre 22 e 53 anos. Foram avaliados: índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal por bioimpedância (%GC), pressão arterial e espessura da camada íntima média carotídea (EIMC) por meio de ultrassom. Dosagens bioquímicas: perfil lipídico, glicemia de jejum, insulina de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c) e RBP4. A RI foi avaliada pelo índice HOMA-IR. Os dados foram analisados no software SPSS Statistics 20.0. Utilizou-se o teste de correlação de Spearman. Considerouse p < 0,05. Resultados: G1, G2 e G3 apresentaram média de idade de 37 ± 7,58 vs. 39 ± 7 vs. 43 ± 7 anos, respectivamente. A média de IMC foi de 24,4 ± 2,5 vs. 35,7 ± 4,7 vs. 37,1 ± 4,6 kg/m². No G1, houve correlação positiva entre RBP4 e HbA1c (r = 0,38), insulina (r = 0,34) e %GC (r = 0,47); com p < 0,05. No G2, houve correlação positiva entre RBP4 e idade (r = 0,34; p < 0,05) e HbA1c (r = 0,49; p < 0,001). No G3, houve correlação positiva entre RBP4 e HbA1c (r = 0,33; p < 0,05), glicemia de jejum (r = 0,46) e o índice HOMA-IR (r = 0,48), com p < 0,01. Não houve correlação positiva significante entre os níveis de RBP4 e as demais variáveis estudadas. Discussão: Os resultados demonstram que pode haver, na ausência de obesidade e DM2, tendência crescente nos níveis de RBP4 e suas correlações com marcadores já bem estabelecidos de RI. Porém, em grupos com obesidade e DM2, essas tendências são anuladas pelo efeito dos elevados níveis de glicemia. Conclusão: Esses resultados corroboram parcialmente a literatura já existente indicando que a RBP4 não é o melhor e mais prático biomarcador de RI e doença cardiovascular. 30 ANÁLISE DO POLIMORFISMO DE GSTM1 E GSTT1 POR PCR EM TEMPO REAL MULTIPLEX EM ESTUDO CASO CONTROLE NA SUSCETIBILIDADE AO DIABETES TIPO 2 Pinheiro, D. S.¹; Filho, C. R. R.¹; Mundim, C. A.¹; Ulhoa, C. J.¹; Ghedini, P. C.¹; Reis, A. A. S.¹ ¹ Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Goiás (HCUFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: O estudo caso-controle visou analisar a associação entre o polimorfismo dos genes GSTM1 e GSTT1 na suscetibilidade ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2) por meio de ferramenta molecular. Tais genes expressam enzimas que participam da defesa contra o estresse oxidativo celular. Como esses genes apresentam polimorfismo de deleção, é possível que indivíduos com genótipo nulo para cada enzima estejam sujeitos a um nível maior de intermediários tóxicos, os quais podem ser responsáveis pelo risco individual de dano nas células β de Langerhans. Métodos: O presente estudo foi realizado com 102 pacientes e 163 indivíduos saudáveis. Em ambos os grupos foram determinados glicemia de jejum, hemoglobina glicada (A1C) e perfil lipídico. Os grupos foram pareados por idade e sexo. Para a análise do polimorfismo de GSTM1 e GSTT1, foi realizado PCR em tempo real por SYBR Green multiplex, sendo utilizada a análise de gene endógeno como controle interno da reação. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para comparar as frequências genotípicas e o cálculo de risco relativo e odds ratio foram utilizados para avaliar o genótipo de risco e suscetibilidade ao DM2. Resultados: A média de idade nos pacientes do grupo caso foi de 59,02 anos com tempo médio de doença de 10 anos, sendo o valor médio de glicemia de jejum e hemoglobina glicada (A1C), 194 mg/dL e 9%, respectivamente. Quanto ao perfil lipídico, 70,58% dos pacientes com DM2 apresentaram resultados desejáveis, 17,64%, limítrofe e 11,76%, alterado. A frequência na distribuição dos genótipos nulo e presente de GSTM1 e GSTT1 entre os grupos caso e controle não apresentou diferença significativa. A análise de risco por risco relativo e odds ratio sugere que os pacientes que apresentam genótipos de risco GSTM1 nulo (OR = 1.098; RR = 1.095) e GSTT1 nulo (OR = 1.673; RR = 1.039) têm maior suscetibilidade ao desenvolvimento de DM2. Discussão: O DM2 é uma doença multifatorial, que se desen- volve pela interação entre exposição a fatores ambientais de risco e suscetibilidade genética, de forma que os polimorfismos genéticos podem influenciar no risco para o desenvolvimento dessa patologia. Similar aos estudos realizados em outros países, os dados obtidos demonstram associação entre o polimorfismo analisado e DM2 na população pesquisada. Conclusão: Os dados sugerem que o polimorfismo de GSTM1 e GSTT1 pode estar envolvido na predisposição de DM2 na população estudada, corroborando com estudos descritos na literatura. 31 ANÁLISE MOLECULAR DO GENE SOX3 EM PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA COMBINADA DE GH E EM CONTROLES NORMAIS PELA TÉCNICA DE MLPA Madeira, J. L. O.¹; França, M. M.¹; Otto, A. P.¹; Correa, F.¹; Funari, M.¹; Arnhold, I. J. P.¹; Mendonça, B. B.¹; Carvalho, L. R.¹ ¹ Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento da Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Laboratório de Hormônios e Genética Molecular, Hospital das Clínicas (FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: Mutações em ponto ou pequenas deleções descritas nos fatores de transcrição HESX1, GLI2, PROP1, POU1F1, LHX3, LHX4, SOX2 são associadas ao hipopituitarismo, porém apenas duplicações gênicas ou deleções/expansões do trato de polialaninas foram descritas no gene SOX3 em pacientes masculinos e femininos portadores de hipopituitarismo. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi o de pesquisar duplicações e/ou deleções nesse gene em pacientes com hipopituitarismo congênito e controles normais por meio da técnica de MLPA. Métodos: Foram selecionados 14 pacientes com deficiência combinada de hormônios hipofisários (DCHH) (7 femininos) e 22 controles normais (12 femininos). Quatro sondas foram desenhadas, de acordo com as instruções do fabricante (MRC Holland®), para se cobrir as diferentes regiões do gene. O DNA foi amplificado e os produtos de MLPA foram submetidos à eletroforese. Os resultados foram analisados pelo programa Peak Scanner® (Applied Biosystems®). Considerou-se duplicação gênica um DQ ≥ 1,3 e deleção; DQ < 0,1. Amostras de pacientes de um determinado sexo foram comparadas com controles do mesmo sexo, pois o gene SOX3 é ligado ao X. Resultados: Os pacientes masculinos apresentaram DQ = 0,77 a 0,96 (DP = 0,058) e os femininos, DQ = 0,79 a 1,18 (DP = 0,072). Os controles masculinos apresentaram DQ = 0,84 a 1,16 (DP = 0,052) e os femininos, DQ = 0,84 a 1,18 (DP = 0,063). Discussão: Apesar de terem sido descritos casos de hipopituitarismo congênito associados a duplicações do gene SOX3, expansões e deleções no seu trato de polialanina, em nossa casuística não foram encontradas duplicações gênicas ou deleções. Embora a técnica de MLPA seja sensível para detectar duplicações/deleções, ela não é adequada para avaliar expansões dos tratos de polialanina, sendo, portanto, necessário se fazer essa análise por PCR e sequenciamento. Conclusão: Apesar de não terem sido identificadas duplicações ou deleções gênicas na casuística de 14 pacientes, é necessário expandir o número de pacientes estudados para podermos concluir a raridade desse achado na nossa população. 32 DISPLASIA GELEOFÍSICA: RELATO DE CASO Mendes, R. M.¹; Bandeira, L. G.¹; Garcia, R. A.¹; Penedo, P. H.¹; Cardozo, R. R.¹; Carvalho L. M.¹; Araujo, R. O.¹ ¹ Universidade Católica de Brasília (UCB), Hospital Materno-Infantil da Asa Sul (HRAS), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Descrever um caso de displasia geleofísica (DG), que é um diagnóstico diferencial raro de baixa estatura. Métodos: Revisão de S211 Biologia Celular E Molecular/genética Trabalhos Científicos Biologia Celular E Molecular/genética Trabalhos Científicos prontuário de paciente atendido pelo Serviço de Genética em hospital materno-infantil. Resultados: Paciente do sexo masculino, 8 meses de idade, encaminhado à Genética por dismorfias após internação em unidade de Pediatria Geral. O paciente nasceu com 31 semanas e 3 dias por parto cesáreo indicado por descolamento prematuro de placenta. Ficou internado por 2 meses e 11 dias em UTI neonatal por doença da membrana hialina. No sétimo dia de vida, ecocardiograma evidenciou persistência de canal arterial e estenose valvar pulmonar discreta. Teve outras duas internações hospitalares por sibilância, aos 4 meses e aos 8 meses, ficando 11 dias internado em UTI pediátrica por insuficiência respiratória na segunda internação. Ao exame físico, o peso e a estatura estavam abaixo do percentil 3 e o perímetro cefálico estava entre percentis 10 e 25. Apresentava atraso do desenvolvimento neuropsicomotor; não se sentava sozinho e não tinha sustento cefálico. Apresentava fontanela ampla, fronte proeminente, hipertelorismo, nariz pequeno, filtro nasolabial longo e apagado, lábios finos e cantos da boca voltados para cima. Apresentava arqueamento acentuado das pernas. A pele era espessada e de consistência enrijecida. O diagnóstico de DG foi feito pela clínica apresentada pelo paciente. Discussão: A DG é doença de herança mendeliana cuja denominação deriva do aspecto facial dos pacientes (geleos significa “feliz” em grego). Dois genes foram associados à doença, ADAMTLS2 e FBN1, e levam ao mesmo quadro clínico, definido pelas características faciais (rosto arredondado, hipertelorismo, nariz pequeno, lábios finos e cantos da boca voltados para cima), limitações articulares progressivas, doença cardíaca valvular, baixa estatura, mãos e pés pequenos, espessamento de pele, hepatomegalia e estenose traqueal progressiva. A inteligência é normal, embora seja observado atraso neuromotor. Os principais achados radiológicos são a idade óssea atrasada, ossos tubulares curtos, epífises cônicas e corpos vertebrais ovoides. O mecanismo fisiopatológico sugerido é de depósito lisossomal focal. Conclusão: A displasia geleofísica é um diagnóstico diferencial raro de osteodisplasia e baixa estatura e seu reconhecimento é importante pela necessidade de acompanhamento por várias especialidades médicas para tratamento precoce das complicações. 33 GENE RSPO1 & DDS 46,XX TESTICULAR SRY-NEGATIVO: NOVA MUTAÇÃO CAUSA FENÓTIPO VARIÁVEL EM UMA GRANDE FAMÍLIA CONSANGUÍNEA Silva, R. B.¹; Nishi, M. Y.¹; Domenice, S. D.¹; Carvalho, L. C.¹; Mendonca, B. B.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento, Laboratório de Hormônios e Genética Molecular, São Paulo, SP, Brasil Introdução: O gene RSPO1 está envolvido nos processos de determinação e diferenciação sexual e de diferenciação e proliferação de fibroblastos. Até o momento, em pacientes portadores de distúrbio do desenvolvimento sexual (DDS) 46,XX testicular (T) SRY negativo (-) associado a hiperceratose palmoplantar (HPP) e carcinoma de células escamosas (CCE), foram descritas apenas duas mutações nesse gene. Objetivo: Nosso objetivo foi analisar o gene RSPO1 em uma família consanguínea com quatro indivíduos portadores de DDS 46,XX T SRY(-) com ambiguidade genital e HPP. Métodos: Analisamos 67 familiares de quatro gerações. A região codificadora do gene RSPO1 foi amplificada e sequenciada. Nos indivíduos afetados, foram realizados cariótipo convencional, pesquisa do gene SRY por PCR e avaliação da dosagem gênica do SOX9 e do WNT4 por MLPA. A técnica array-CGH foi realizada para investigar a mulher afetada. Resultados: Identificamos a nova variante S212 NM_001038633.2:c.1093G > A, ausente em 150 controles normais. Na família, a variante segregou em concordância com o fenótipo de HPP, com um padrão de herança autossômico recessivo. Dez indivíduos homozigotos para a mutação c.1093G > A apresentavam HPP: 4 homens com DDS 46,XX T SRY(-); 5 homens 46,XY e, inesperadamente, uma mulher fértil 46,XX. Três deles apresentaram alterações oculares (córneas opacas, íris e pupilas irregulares) e um desenvolveu câncer de pele. O número de cópias do SOX9 e do WNT4 foi normal. Não houve perdas ou ganhos de segmentos cromossômicos na paciente 46,XX com fenótipo feminino. Discussão: O balanço entre as vias antagônicas Wnt4/β-catenina e Sox9/Fgf9 regula o processo de determinação sexual. R-spondina1 ativa e regula a via WNT4/β-catenina, promovendo a diferenciação ovariana e, paralelamente, antagoniza o SOX9, impedindo a diferenciação testicular. A mutação c.1093G > A provoca mudança do 102o aminoácido (C102Y), localizado em um domínio altamente conservado. A mutação C102Y deve comprometer a função da proteína justificando o fenótipo de DDS 46,XX T e HPP nessa família. Ganho de função de algum gene da via feminina de diferenciação sexual poderia justificar a ausência de reversão sexual na mulher 46,XX. Entretanto, o número de cópias do WNT4 foi normal e o exame de array-CGH não identificou duplicações ou deleções. Conclusão: Identificamos a nova mutação c.1093G > A no gene RSPO1 associada com o quadro de DDS 46,XX T SRY(-), HPP e alterações oculares em uma grande família consanguínea. A ausência de reversão sexual na mulher afetada permanece inexplicada. 34 NOVA MUTAÇÃO DETECTADA NO GENE WFS1 EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS, PERDA AUDITIVA E ATROFIA ÓPTICA Socachewsky, L. D. A.¹; Sato, M. T.¹; Pilotto, R. F.¹ ¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil Objetivo: Neste relato de caso apresentamos uma mutação espontânea no gene WFS1 ainda não descrita, em um paciente masculino de 9 anos, pais não consanguíneos, que apresenta diabetes mellitus tipo 1, surdez e atrofia óptica. Métodos: O paciente NTV compareceu à consulta de rotina em clínica oftalmológica. Já fora diagnosticado ao nascimento com surdez profunda bilateral. Ao exame de fundo de olho, observou-se atrofia bilateral do nervo óptico. Foi solicitado um dextro, que mostrou hiperglicemia. Submetido, então, a um teste genético, este revelou a mutação heterozigótica c.2402T > A(p.Asp80/ Val), no éxon 8 do gene WFS1. Resultados: Após coleta do histórico médico, outros achados foram diagnosticados: diabetes mellitus tipo 1, fissura labiopalatal, dislipidemia, camptodactilia, criptorquidia associada à hérnia inguinal e baixos níveis de IGF-1. O IMC do paciente é 19,4. Anticorpos anti-GAD e anti-ilhotas foram negativos. Discussão: Mais de 120 mutações no gene WFS1, que codifica a Wolframina, já foram identificadas, a maioria no éxon 8. Elas estão associadas à síndrome de Wolfram(WS), conhecida também pelo acrônimo DIDMOAD, uma rara doença de caráter autossômico recessivo, e também à perda auditiva neurossensorial de baixa frequência (LFSNHL), de caráter autossômico dominante. Entre essas duas situações, um espectro de clínica variável tem sido documentado em poucos relatos; famílias dinamarquesas com herança autossômica dominante apresentaram variadas combinações de sintomas atribuídos à WS. Estudos belgas sugerem que esse espectro se dá não apenas pela dominância, mas pela capacidade de a mutação correspondente inativar ou não o gene. O fenótipo da WS ocorre quando as mutações levam à perda de função, Trabalhos Científicos 35 ROSUVASTATINA MELHORA O METABOLISMO GLICÍDICO, NAFLD E DISTRIBUIÇÃO DO TECIDO ADIPOSO EM CAMUNDONGOS C57BL/6 ALIMENTADOS COM DIETA HIGH FAT Ferreira, R. N.¹; Vilanova, L. C. S.¹; Carvalho, J. J.¹ ¹ Fundação Dom André Arcoverde (FAA), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar se a rosuvastatina (HMGCoA redutase) modula o metabolismo dos carboidratos e lipídios, a doença não alcoólica do fígado gorduroso (esteatose hepática), e o ganho de massa corporal em modelo de obesidade induzida por dieta. Métodos: Camundongos C57BL/6, machos (3 meses de idade) foram alimentados com uma dieta rica em lipídios (HF, lípidos 60%) ou uma ração padrão (SC, lípidos 10%) durante 15 semanas. Depois, foram tratados com rosuvastatina nas doses de 10 mg/kg/ dia (HF-R10 grupo), 20 mg/kg/dia (HF-R20), ou 40 mg/kg/dia (HF-R40) durante cinco semanas. Resultados: A dieta HF levou a intolerância à glicose, resistência à insulina, ganho de peso, aumento da adiposidade visceral com a hipertrofia dos adipócitos, e esteatose hepática (micro e macrovesicular). O tratamento com rosuvastatina reduziu a adiposidade e o tamanho dos adipócitos nos grupos HF-R10 e HF-R20. Além disso, a rosuvastatina mudou o padrão de distribuição de gordura no grupo HF-R40, uma vez que mais gordura subcutânea foi armazenada em comparação com os depósitos de gordura viscerais. Essa redistribuição resultou na melhora da glicemia de jejum e a intolerância à glicose. A rosuvastatina também melhorou os parâmetros morfológicos hepáticos (estruturais e ultraestruturais) em um mecanismo dose-dependente. Discussão: O presente modelo de síndrome metabólica baseado na alimentação de camundongos com dieta hiperlipídica foi caracterizado por obesidade, resistência à insulina, intolerância à glicose, dislipidemia e esteatose hepática compatível com NAFLD. Todas essas mudanças foram atenuadas ou melhoradas pela rosuvastatina de maneira dose-dependente. É notável que as maiores dosagens de rosuvastatina mostraram efeitos pleiotrópicos benéficos no tecido adiposo, uma vez que atenuou o ganho da massa corporal, massa de gordura e tamanho dos adipócitos, bem como aumentou a massa de gordura subcutânea (gordura inguinal), sendo evidenciada pela razão da gordura visceral: gordura subcutânea. Conclusão: Em conclusão, a rosuvastatina exerce efeitos pleiotrópicos, melhorando a intolerância à glicose, a sensibilidade à insulina e a doença não alcoólica do fígado gorduroso de maneira dose-dependente, mostrando também uma mudança na distribuição dos depósitos de gordura visceral, para depósitos de gordura subcutânea em modelo de obesidade induzida por dieta em camundongos. 36 SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: RELATO DE CASO Sandoval, M. F.¹; Cabral, M. R. S.¹; Melo, M. A.¹; Borges, D. R.¹; Rodrigues, J. R.¹; Landim, G. A. C. P.¹; Queiroz, C. S.¹ ¹ Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Relatar um caso precoce de síndrome de Berardinelli-Seip (SBS), desordem rara e pouco conhecida, discutir a conduta terapêutica e o prognóstico. Métodos: C.S.C., feminina, 7 anos, estudante, foi trazida pela mãe ao observar musculatura muito definida na filha. Mãe relata que a criança sempre teve este porte físico; apresenta dificuldade de aprendizado na escola (não alfabetizada). Tem alimentação adequada. Nascida de parto normal, hospitalar, a termo, chorou ao nascer, APGAR 9/10. Desenvolvimento neuropsicomotor adequado, aleitamento exclusivo, vacinação completa (sic). Nega doenças, internações ou cirurgias prévias. Os pais não tem grau de parentesco. Ao exame físico, observaram-se pés e mãos aumentados de tamanho, hipertrofia da musculatura dos MMII e MMSS, Tanner M1P1. Os demais aparelhos estão sem alterações. Os exames laboratoriais mostraram leve alteração no HDL (30,6 mg/dL) e LDL (119,8 mg/dL). Resultados: A SBS é uma doença rara de caráter genético com transmissão autossômica recessiva. Sua prevalência é de 1:12 milhões de pessoas. Frequentemente está relacionada à consanguinidade paterna. Caracteriza-se por uma desordem do metabolismo dos lipídeos e carboidratos que geralmente surgem após a puberdade, pelo efeito protetor da acelerada velocidade de crescimento. As células adiposas são escassas e apresentam volume reduzido devido à sua incapacidade de armazenamento de lipídeos. As principais características são a redução extrema da quantidade de tecido adiposo, hipertrofia muscular, extremidades alongadas (mãos, pés, mandíbula), crescimento linear acelerado, intolerância à glicose, aparência acromegálica, acantose nigricans, dislipidemia, entre outras. Discussão: Como a paciente ainda não apresenta alterações significativas, optou-se pela observação de 6 em 6 meses com avaliação clínica e laboratorial. Além disso, foram recomendados orientação nutricional e acompanhamento com psicólogo. A SBS tem mau prognóstico e o tratamento é paliativo para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. O controle da trigliceridemia pode retardar o aparecimento do diabetes melito. Conclusão: Sendo a SB uma doença rara, pouco estudada e sem cura, um bom prognóstico depende do diagnóstico precoce, como foi o caso dessa paciente, e um acompanhamento multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida, reduzindo os sintomas precocemente. 37 SÍNDROME DE MCCUNE ALBRIGHT COM ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS DE HIPERTIREOIDISMO Garcia, R. A.¹; Cardoso, M. T. O.¹; Bandeira, L. G.¹; Andrade, I. G.¹; Mendes, R. M.¹; Cardoso, R. R. S.¹; Carvalho, L. M.¹ ¹ Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, DF, Brasil Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente portadora da síndrome de McCune Albright que apresentava características fenotípicas de hipertireoidismo com avaliação laboratorial normal. Discute-se também a importância de uma abordagem multidisciplinar em casos semelhantes, bem como a necessidade de monitorização desses pacientes. Métodos: Relato de um caso em acompanhamento no Hospital da Criança de Brasília (HCB). Resultados: Criança do sexo feminino, 6 anos de idade, foi encaminhada ao Serviço de Genética Clínica do HCB com quadro de enterorragia baixa há 2 anos. Ao exame físico, apresentava fronte proeminente, exof- S213 Biologia Celular E Molecular/genética enquanto na LFSNHL não há inativação. É possível que outras alterações encontradas nesse caso sejam decorrentes da mutação, como a dislipidemia, pois há relatos de expressão da Wolframina em menores quantidades no fígado, embora a clínica ainda não tenha sido descrita. O diabetes mellitus atribuído à WS também difere do tipo I clássico: os pacientes apresentam menor frequência de cetoacidose e não apresentam ou fazem de forma indolente as complicações tardias como retinopatia e glomerulopatia; a mortalidade também é mais elevada e precoce. Conclusão: Como se trata de um caso esporádico de padrão dominante, é de grande importância sua documentação, diante dos poucos casos com esse padrão associados ao diabetes mellitus do tipo 1, e ao fato de que as funções do gene WFS1 ainda não são totalmente conhecidas. Diabetes Trabalhos Científicos talmia e hiperemia de conjuntiva bilateralmente, bem como manchas café-com-leite em hemicorpo direito, distribuídas principalmente em braços, tórax e pescoço. Em relação à maturação sexual, encontrava-se nos estágios M1P1G0. A ecografia de abdome total mostrou exame sem evidências de anormalidade. Adicionalmente, a avaliação laboratorial revelou níveis normais de TSH e T4 livre. A criança foi então encaminhada à oftalmologia e está em investigação endócrina e óssea periodicamente. Discussão: A síndrome de McCune Albright é uma doença genética rara, que inclui a tríade de endocrinopatias hiperfuncionantes, displasia fibrosa poliostótica e manchas café-com-leite. Sabe-se que a idade de aparecimento dos sintomas bem como a apresentação clínica da doença são amplamente variáveis. Geneticamente, há uma mutação do tipo mosaicismo que ocorre em estágio embrionário. Ocorre a ativação do gene para a subunidade alfa da proteína Gs, que estimula a produção intracelular de AMPc. Dessa forma, alguns tecidos e glândulas passam a ter secreção autônoma. A puberdade precoce é a endocrinopatia mais comum encontrada na síndrome, seguida por distúrbios hiperfuncionantes da tireoide, presentes em 30% a 40% dos pacientes, variando desde hipertireoidismo subclínico até hipertireoidismo franco com bócio. Diante de um paciente com a síndrome de McCune Albright, torna-se fundamental a identificação de um quadro de hipertireoidismo, além da associação com outras manifestação clínicas. Conclusão: Vale destacar que uma dosagem hormonal satisfatória não exclui a possibilidade do desencadeamento futuro de alterações endócrinas. Assim, tendo em vista o caso descrito e os mecanismos fisiopatológicos da síndrome, torna-se imprescindível enfatizar a necessidade de monitorização dos pacientes portadores, a fim de se estabelecer o diagnóstico precocemente e iniciar o tratamento oportuno. DIABETES 38 24-HOUR BLOOD PRESSURE HOMEOSTASIS IN SUBJECTS WITH DIFFERENT DEGREES OF GLUCOSE TOLERANCE Piccoli, V.¹; Smith, A. L.¹; Fabbrin, A.¹; Santos, M.¹; von Frankenberg, A. D.¹; Nascimento, F. V.¹; Canani, L. H.¹ ¹ Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA-UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil Objective: By 24-h arterial blood pressure monitoring (ABPM) we analyzed the behavior of blood pressure (BP) and its possible determinants in subjects with different degrees of glucose tolerance (GT). Methods: In a cross sectional design, 116 subjects (53.7 ± 12.8 years, females 77.6%) were submitted to a standard 75-g OGTT after overnight fast and classified as normal GT (NGT; n = 29), prediabetes (PDM; n = 52) and diabetes (DM; n = 35). Glucose (Glu), islets hormones (insulin [Ins], plasma glucagon, C-peptide, pancreatic polypeptide [PP]), GLP-1, cortisol, adiponectin, fibrinogen, US-CRP, 24-h urinary sodium, metanephrines and albumin excretion (UAE) were measured. Body size (BMI), central obesity (waist circumference; WC), insulin sensitivity (Stumvoll index; ISI), β-cell function (oral disposition index [ΔIns30-0/ΔGlu30-0 x 1/Ins0]; DI) and glomerular filtration rate (eGFR; CKD-EPI) were estimated. Subjects were defined as dippers (n = 35) when their nocturnal BP fell > 10% from daytime BP. Results: By ABPM, 24-h systolic BP progressively increased from NGT to DM (P = 0.016). The same pattern was found with daytime (P = 0.013) and nighttime ABPM (P = 0.037). Diastolic BP did not increase with decreased GT (data not shown). The 24-h systolic BP (SBP) was positively related to age (P = 0.004), WC (P = 0.037), 2-h glucose (P = 0.008), C-peptide (P = 0.009), plasma cortisol (P = 0.036), and urinary S214 metanephrines (P = 0.026), whereas it was inversely related to ISI (P = 0.011), DI (P = 0.047) and eGFR (P = 0.01) and not related to BMI, fasting glucose, glucagon, PP, GLP-1, adiponectin, US-CRP, fibrinogen, UAE, and 24-h urinary sodium excretion. BP rhythm significantly differs along the day. Discussion: Decreased insulin sensitivity and increasing age, central obesity, postprandial hyperglycemia, β-cell dysfunction, and counterregulatory hormones are possible determinants of 24-h BP levels and its behavior in subjects with different degrees of GT. Conclusions: These findings open new perspectives of studies in prevention and treatment of hypertension and its complications in early stages of abnormal glucose metabolism and new onset DM. 39 AÇÃO ACERTE O ALVO: AVALIAÇÃO DO CONTROLE METABÓLICO E PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES MELLITUS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ Pescador, M. V. B.¹; Zanuzzo, F.¹; Pescador, S. V. B.¹; Ceranto, D. F. B.¹; Machado, R.¹; Kalinowski, I. C. B.¹; Rotta, L. S.¹; Vilas Boas, J. A.¹ ¹ Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, Universidade Paranaense (Unipar), Faculdade Assis Gurgaz, União Educacional de Cascavel (Univel), Instituto da Visão, Cascavel, PR, Brasil Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, progressiva e deletéria, requerendo tratamento intensivo, suporte educacional e acompanhamento médico periódico, adaptado às necessidades individuais. Além disso, pode causar complicações crônicas em diversos órgãos e sistemas, elevando, assim, os custos relacionados a esse distúrbio. Objetivos: Realizar um levantamento sobre o controle metabólico atual dos pacientes com diagnóstico previamente estabelecido de DM e avaliar a prevalência de complicações crônicas relacionadas à doença em 14 municípios do oeste do Paraná. Métodos: Os participantes foram selecionados por profissionais de saúde dos municípios integrantes e encaminhados para atendimento em um evento realizado na cidade de Cascavel-PR, em 12/11/2011. Após cadastramento, eles eram encaminhados ao pré-atendimento para realização de teste de glicemia capilar, aferição da PA, avaliação antropométrica e nutricional, entrega dos exames laboratoriais realizados previamente em cada município. Foram realizados: atendimento odontológico, exame de fundo de olho (FO), oficinas de educação em diabetes e orientações sobre complicações crônicas deste. Resultados: Foram avaliados 315 pacientes (192 ♀/ 123 ♂), e em 75,5% desses os valores de hemoglobina glicada encontravam-se acima da meta preconizada pela SBD, 35% apresentaram sinais de retinopatia diabética ao exame de FO e 42% apresentaram alterações bucais na avaliação odontológica. Além disso, 70% dos avaliados apresentavam HAS associada; 32% apresentavam hipercolesterolemia, assim como 24% apresentavam associação das duas patologias. Discussão: Estudos demonstram que a educação sobre o DM desempenha um papel fundamental ao fornecer às pessoas o conhecimento e as habilidades necessárias para administrar sua condição. Quanto maior o nível de conhecimento sobre a doença e suas complicações, maior a perspectiva na melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Esses resultados evidenciaram o mau controle do DM nos pacientes em acompanhamento na rede pública de saúde na região oeste do Paraná, bem como a alta prevalência de complicações crônicas e de comorbidades associadas nesta população. Conclusão: Faz-se necessária a adoção de programas de educação em diabetes que proporcionem melhora do controle do DM, incluindo medidas que favoreçam maior adesão ao tratamento. Essa ação foi realizada como projeto-piloto para a idealização de um programa de educação em diabetes que está em fase de implantação para melhor orientação e controle dessa população. 40 ALERGIA À INSULINA Réa, R. R.¹; Valadao, L. S.¹; Polesel, M. G.¹ ¹ Hospital das Clínicas, Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), Serviço de Endocrinologia e Metabologia (SEMPR), Curitiba, PR, Brasil Objetivo: Relatar caso do paciente S.R.S., 45 anos, com suspeita de alergia à insulina. Métodos: Revisão de prontuário, paciente atendido pela endocrinologia, internação em março de 2012, HC-UFPR. Resultados: Paciente do sexo masculino, branco, 45 anos, ex-etilista e tabagista (30 anos-maço), com história de três episódios de pancreatite aguda, sendo o primeiro em 2002 e o último em 2007. Diagnóstico de diabetes mellitus (DM) desde 2004 e insulinização no mesmo ano por mau controle glicêmico. Atualmente em uso irregular de NPH 44/12U, pela manhã e ao deitar-se, respectivamente. Internado em 2012 pela gastroenterologia por quadro de diarreia crônica, sem características invasivas, de início há 4 anos, com emagrecimento de 40 kg nesse período. Apresentava-se emagrecido, peso de 60 kg, IMC 18 kg/m², com dor à palpação profunda de hipocôndrio direito e hepatimetria de 8 cm. Apresentava dor e parestesia em membros inferiores, além de xerodermia difusa, com prurido acentuado em dorso. O paciente relacionava as alterações dermatológicas ao uso da insulina, já que nos períodos de abandono da insulina havia melhora do quadro, e, ao voltar a usar (como dentro de ambiente hospitalar), havia recorrência das lesões e do prurido. Pelo uso muito irregular da insulina NPH, apresentava hemoglobina glicada (HbA1c) de 15,8%. Dessa forma, foi optado pela troca pelas insulinas Detemir e Aspart. Com essa troca, houve melhora do prurido e da xerodermia. Durante o internamento, ficou confirmado o diagnóstico de pancreatite crônica (tomografia de abdome). Dois meses após a alta, o paciente estava em uso de Detemir 46 U antes do café e 22U antes de dormir, com boa adesão ao tratamento, HbA1c 8,9%, glicemias compatíveis com a normalidade. Discussão: A alergia à insulina representa uma rara condição que requer uma investigação alergológica para diagnóstico, uma vez que pode não se identificar claramente a causa substancial da alergia entre os vários aditivos nas preparações insulínicas. A apresentação clínica da alergia à insulina pode variar entre discreta manifestação dermatológica, ou como uma reação alérgica grave e generalizada. Na maioria dos casos, as reações são restritas à pele e acontecem por uma reação local imediata, ou tipo reação tardia. Conclusão: Com a mudança do tratamento para o uso de novas insulinas, Detemir e Aspart, o paciente apresentou boa tolerância ao uso e tendência ao controle da glicemia capilar, e posterior resolução do quadro cutâneo. 41 ALERGIA ÀS INSULINAS HUMANAS E ANÁLOGOS: EVOLUÇÃO DE PACIENTE SUBMETIDA A UM PROTOCOLO DE INDUÇÃO DE TOLERÂNCIA À INSULINA HUMANA Silva, M. C.¹; Ronsoni, M. F.¹; Colin, C.¹; Schreiber, C. S. O.¹; Kowalski, M. E.¹; Batti, M. A. C. S. B.¹; Mazzuco, R. M.¹ ¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Hospital Universitário, Florianópolis, SC, Brasil Objetivo: Há diversos tipos de hipersensibilidade alérgica a drogas. Prevalência estimada de 7%, sendo choque anafilático a representação mais grave da hipersensibilidade de tipo imediato. Alergia IgE mediada (tipo imediato) à insulina humana e seus análogos é rara, porém, quando esta é essencial para o paciente, como no caso relatado, necessitam-se protocolos de indução de tolerância. Métodos: Relato de caso: feminina, 54 anos, dislipidêmica, diabetes secundário à pancreatectomia parcial (pancreatite medicamentosa), não responsivo à terapia oral (antidiabéticos orais + subcutâneo [SC]). Resultados: Após início de insulina NPH e Regular (IR), apresentou rash cutâneo nas primeiras aplicações e, em quatro semanas, choque anafilático. Realizou tentativas de reintrodução da insulina NPH associada à prednisona, além dos análagos Lispro e Glargina, mas apresentou angioedema e dispneia. Reação cutânea prévia à vacina antitetânica. Angioedema por picada de abelha. Ao exame, IMC 27,9 kg/m², PAS 160 mmHg. Laboratório: glicemia de jejum 143 mg/dL, A1c 9,6%, peptídeo C 3,27 ng/mL (valor de referência [VR] 1,1-5,0), colesterol total 302 mg/dL (VR < 200), HDL 57 mg/dL (VR > 50), LDL 208 mg/dL (VR < 150). Insulinas humanas (NPH e IR) e análogos (Levemir, Lispro e Glargina) foram avaliadas por testes alérgicos de punctura (TP) e intradérmicos (ID) em doses de 0,1 a 100 UI/mL. Testes fortemente positivos a todas as insulinas. Realizou-se indução de tolerância a IR (melhor perfil no teste cutâneo) em unidade de terapia intensiva. Foram feitas doze aplicações de insulina em intervalos de 20 min (6 ID 0,02 ml [concentração 0,5] e após 6 SC). Surgimento de pápulas locais (redução progressiva a cada nova dose). Iniciado uso de dose duplicada a cada 4h até controle glicêmico. Prescrito IR 10 UI 3x/dia e metformina + IDPP4. Melhora da glicemia e do lipidograma no seguimento. Aos 60 dias, reiniciou dor e enduração no local de aplicação, rash cutâneo e angioedema (associado fexofenadina 180 mg e hidroxizine 25 mg). Manteve apenas queixas locais. Seis meses após protocolo A1c 6,4% IMC 39,3. Discussão: Relatamos 6 meses de evolução de paciente com alergia à insulina submetida a protocolo de indução de tolerância rápida. Embora raro e com poucos dados na literatura, foi adaptado protocolo para nosso meio. Apesar de queixas locais, obteve melhora do perfil glicêmico sem repercussões sistêmicas. Conclusão: Salientamos a necessidade do desenvolvimento de protocolos específicos para pacientes intolerantes à insulina. 42 ANÁLISE DE RELAÇÃO ENTRE DIABETES E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS – RESULTADOS PARCIAIS Ramos, M. A. B. P.¹; Oliveira, I. F.¹; Magalhães, F. O.¹; Silva, D. E. S.¹; Lopes, T. N. C.¹; Araujo, J. N.¹; Leão, B. C.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Determinar a associação entre depressão e diabetes mellitus em um grupo de idosos no município de Uberaba, MG. Métodos: Estudo transversal por meio de amostragem aleatória de 250 indivíduos da Unidade de Assistência ao Idoso (UAI). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 0058.0.227.000-11. Foram realizados a Escala de rastreamento populacional para depressão (CES-D), o formulário com dados de saúde e atividades realizadas. Os indivíduos em jejum realizaram os seguintes exames: glicemia capilar, colesterol total e triglicérides capilares; medidas antropométricas: cintura abdominal, quadril, altura, peso; e pressão arterial. Os dados foram analisados pelo teste do qui-quadrado com nível de significância de 5%. Resultados: Dos 102 idosos entrevistados, houve prevalência de 20,58% (21/102) de diabetes, sendo diagnosticada pela glicemia capilar diabetes em 17,9% (9/52), pré-diabetes em 46,15% (24/52) e glicemia normal em 36,53% (19/52). A depressão foi informada em 25,5% (26/102), sendo diagnosticada pelo CES-D em 55,9% (57/102) dos indivíduos. Houve associação entre presença de doenças crônicas e depressão (Qui2 = 4,505, p = 0,034); entretanto não ocorreu entre diabetes e depressão (R = 2,592, p = 0,107). Dos 40,38% dos idosos que apresentaram diabetes, 55,9% possuem depressão. Discussão: O diabetes tem elevada associação com a de- S215 Diabetes Trabalhos Científicos Diabetes Trabalhos Científicos pressão. Há evidências, de acordo com a literatura, de que a depressão é um fator de risco para desenvolvimento do diabetes e que os pacientes diabéticos têm maior incidência de depressão (Fráguas, 2009). Lustman et al. (1997) evidenciaram que a depressão associada ao diabetes tende a recorrer ao longo dos anos. Esse estudo encontrou persistência de recorrência da depressão em 23 (92%) dos pacientes, com uma média de 4,8 episódios depressivos durante os cinco anos. Três grandes estudos sugerem que a depressão aumenta o risco para a ocorrência do diabetes tipo 2: Eaton et al. (1996) avaliaram 1.715 homens e mulheres e, 13 anos depois, aqueles com depressão apresentaram risco relativo de 2,3 para diabetes; risco que se manteve mesmo controlando idade; raça; sexo; e variáveis socioeconômicas. Conclusão: Apesar de evidências científicas, não encontramos relação entre as duas entidades clínicas neste grupo de idosos. No entanto, diante da grande implicação na qualidade de vida e abordagem clínica dessas patologias, é necessária uma melhor análise buscando associação entre diabetes e depressão, estilo de vida, hábitos alimentares, sedentarismo e tabagismo. 43 ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 E PREVALÊNCIA DE COMPLICAÇÕES Francisco, B. D. S.¹; Campos, A. C. N.¹; Martins, S.¹; Scalissi, N. M.¹; Salles, J. E. N.¹ ¹ Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e a evolução e prevalência de complicações. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo realizado na Unidade Básica de Saúde, São Miguel, município de Marília/SP com uma amostra de cento e oitenta e três prontuários de pacientes portadores de DM tipo 2 acima de 30 anos de idade em acompanhamento na unidade. As variáveis utilizadas foram: ocorrência de complicações macro e microvasculares, idade, sexo, raça e IMC. Resultados: A prevalência do diabetes do tipo 2 na população de 30 anos e mais da área de abrangência do serviço em estudo foi igual a 3,4; com frequência aumentada entre o sexo feminino (64,5%) e entre brancos (56,8%). A faixa etária mais acometida foi entre 60 e 69 anos. Dos prontuários analisados, 61,7% descreviam um IMC igual ou maior que 30 kg/m², e, em 37,2%, não havia informação sobre o peso no prontuário. A frequência de complicações foi de 24,6% e, destes, 15% evoluíram com retinopatia, 28,8% dos pacientes evoluíram com nefropatia diabética, 33,3% dos pacientes evoluíram com neuropatia diabética, 28,8% dos pacientes tiveram acidente vascular encefálico, 2,2% evoluíram para obstrução dos membros inferiores e 22% evoluíram com complicações cardiovasculares. Discussão: O diabetes mellitus vem tomando proporções epidêmicas em todo o mundo, com um enorme ônus econômico e social. Evidências indicam que a detecção precoce e o tratamento adequado permitem atenuar e prevenir complicações micro e macrovasculares, diminuindo custos. A realização de campanhas de screening em diabetes permite o diagnóstico precoce, a promoção de educação em diabetes e o levantamento de dados epidemiológicos, assim como prevenção de suas complicações. Conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de se reforçar, junto aos serviços básicos de saúde, medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, com o intuito de reduzir os fatores de risco e reforçar orientações e tratamento mais efetivo, evitando-se, assim, suas complicações. S216 44 ASSOCIAÇÃO DE APNEIA DO SONO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E COM SÍNDROME METABÓLICA EM DIABÉTICOS TIPO 2 Paula, A. S. L.¹; Santana, A. N. C.¹; Sete, A. R. C.¹ ¹ Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Avaliar a prevalência de apneia do sono (AS) em pacientes com diabetes tipo 2 (DM2) e também se há associação entre AS com outros fatores de morbimortalidade em DM2, como idade, sexo masculino, tempo de DM2, glicemia de jejum, hipertensão arterial (HAS), síndrome metabólica (SM), entre outros. Métodos: Estudo transversal, observacional, com aplicação do Questionário de Berlin para AS, uma única vez, pelo mesmo entrevistador, em pacientes com DM2 atendidos consecutivamente no ambulatório de DM2 de um hospital de ensino em Brasília-DF. Foram avaliados também: sexo, idade, tempo de DM2, triglicerídeo, creatinina, glicemia, Hb glicada, circunferência de abdome e de pescoço, LDL, IMC, microalbuminúria, HAS e SM. Resultados: Foram entrevistados 61 pacientes, sendo 33 (54%) com AS (AS-s) e 28 sem AS (AS-n). Entre esses dois grupos (AS-s versus AS-n), houve diferença estatística. Discussão: A prevalência de AS é alta em DM2 (54%). Assim, tem-se de pesquisar ativamente AS em DM2, pois a AS está associada com glicemia de jejum elevada, HAS e SM nesses diabéticos, com consequente elevação exponencial do risco cardiovascular. Outros estudos mostram que o tratamento de AS associa-se com melhora do controle da glicemia de jejum, da HAS e da SM. Conclusão: O Questionário de Berlin, por ser de fácil aplicação, pode ser de grande utilidade para o diagnóstico de AS nos pacientes com DM2, especialmente naqueles com mau controle da diabetes, com HAS e com SM associadas. Assim, o tratamento da AS nesses pacientes poderá facilitar o controle da glicemia de jejum, da HAS e da SM associadas, com consequente possível redução do risco de complicações cardiovasculares. 45 ASSOCIAÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E FUNÇÃO RENAL NORMAL EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELITO TIPO 2 Camargo, E. G.¹; Cheuiche, A. V.¹; Araújo, G. N.¹; Silveiro, S. P.¹ ¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas (Endocrinologia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre, RS, Brasil Objetivo: Avaliar a relação entre os níveis séricos de 25-hidroxi-vitamina D3 (25-OHvitD) e os diferentes estágios de excreção urinária de albumina (EUA) em pacientes com diabetes melito (DM) tipo 2 e a taxa de filtração glomerular (TFG) ≥ 60 ml/min/1,73 m2. Métodos: Estudo transversal avaliando 90 indivíduos, dos quais 49 (54%) eram homens, 9 (10%) de etnia negra, com idade média de 60 ± 10 anos, duração do DM de 12 ± 7 anos, índice de massa corporal (IMC) de 30 ± 4 kg/m² e HbA1c 8,5 ± 1,6%. A EUA foi medida por imunoturbidimetria, a creatinina por Jaffe rastreável e a TFG foi medida pelo método do 51Cr-EDTA e estimada pela equação CKD-EPI. Os pacientes foram classificados como normo-, micro- e macroalbuminúricos, quando níveis de EUA < 17, 17-174 e > 174 mg/l, respectivamente. A 25-OHvitD foi medida por quimioluminescência (DiaSorin) e classificada como normal (> 30 ng/ml), insuficiente (20 a 30 ng/ ml) e deficiente. Resultados: Os pacientes foram classificados como normo-, micro- e macroalbuminúricos em 52%, 38% e 10% dos casos, respectivamente. A TFG estimada foi de 81 ± 20 (24-122) e a TFG medida de 97 ± 28 (60-185) ml/min/1,73 m2. Em relação aos Trabalhos Científicos 46 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E HIPOTIREOIDISMO AUTOIMUNE: RESULTADOS PARCIAIS Thirone, A. C. P.¹; Magalhães, F. O.¹; Rocha, G. H. C.¹; Ribeiro, V. M. F. C. R.¹; Ferreira, G. C.¹; Caetano, J. A.¹; Galhardi, A. L. T.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: O hipotireoidismo é uma enfermidade com alta prevalência na população mundial, sendo sua principal etiologia a tireoidite autoimune de Hashimoto, uma condição inflamatória da tireoide ocasionada por produção de autoanticorpos. O diabetes mellitus (DM) tipo 2 é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizado por hiperglicemia crônica resultante de uma diminuição da ação e secreção de insulina. Os distúrbios metabólicos do DM interferem na função da glândula tireoide, assim como as disfunções desta influenciam o metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas. Diante de tal contexto, o objetivo do presente trabalho reside em avaliar uma possível associação entre o hipotireoidismo autoimune e a DM por meio de um estudo de corte transversal. Métodos: Após a aprovação pelo Comitê de Ética, contabilizaram-se 1.482 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia da Universidade entre 2005 e 2010, de modo que serão avaliados, por amostragem aleatória, 250 prontuários, com margem de erro de 2,4%. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram colhidos dados acerca de variáveis previamente estipuladas em uma ficha, de 187 prontuários: como sexo, doenças preexistentes, peso, altura, índice de massa corporal, além de valores de TSH e T4 livre. Para análise estatística, utilizou-se o teste do Qui-quadrado, sendo o nível de significância para os testes de a = 0,05. Resultados: Os resultados parciais revelaram que houve prevalência de 37,6% (68/181) de hipotiroidismo e 53,3% (98/184) de DM. Houve associação entre DM e hipotireoidismo (Qui2 = 5,646). Discussão: Dados de literatura mostram que distúrbios da função tireoidiana são induzidos por alterações metabólicas do DM, com evidências de alterações, tais como menor secreção de T3 livre, menor secreção de tirotrofina (TSH) ao estímulo pelo TRH, que é proporcional à elevação dos níveis glicêmicos e à diminuição dos níveis de desalogenase hipofisária (Pimenta WP et al., 2005). Conclusão: Dessa forma, o presente trabalho sugere, mediante resultados parciais, que há uma associação estatisticamente significativa entre diabetes e hipotiroidismo autoimune, porém estudos prospectivos sobre tal assunto seriam de suma importância para uma adequada compreensão da correlação entre essas doenças. 47 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E FENÓTIPO DE RIGIDEZ ARTERIAL EM UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO GERAL Alvim, R. O.¹; Santos, P. C. J. L.¹; Musso, M. M.¹; Cunha, R. S.¹; Mill, J. G.¹; Krieger, J. E.¹; Pereira, A. C.¹ ¹ Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) é um distúrbio metabólico sabidamente associado à incidência aumentada de eventos cardiovasculares. A rigidez arterial (RA), condição determinada por componentes estruturais e funcionais das artérias, tem sido colocada como importante fator preditor de risco cardiovascular. Nesse contexto, o principal objetivo do estudo foi avaliar a associação entre o DMT2 e o fenótipo de RA em uma população geral. Métodos: Foram elegíveis 1.369 indivíduos da população urbana de Vitória, ES (44,8 ± 10,9 anos; 45,4% do gênero masculino). Foram classificados como diabéticos os indivíduos com diagnóstico prévio ou com glicemia de jejum > 126 mg/dL. A RA foi determinada de forma não invasiva por meio da velocidade de onda de pulso (VOP) carótida-femural e, posteriormente, categorizada de acordo com a mediana (9,4 m/s). A análise do risco foi realizada pela determinação da odds ratio (OR) e os valores foram devidamente corrigidos para gênero, idade e pressão arterial média. Resultados: Os indivíduos diabéticos apresentaram maiores valores de VOP quando comparados aos não diabéticos (10,7 ± 2,6 vs. 9,7 ± 1,9 m/s, respectivamente; p < 0,001). Além disso, os diabéticos apresentaram risco 2,19 vezes maior para RA elevada quando comparado aos não diabéticos (IC 95% = 1,27-3,75; p = 0,004). Conclusão: O presente estudo demonstrou que indivíduos diabéticos apresentaram maiores valores de VOP e maior risco para RA elevada. Sendo a RA amplamente associada à incidência aumentada de eventos cardiovasculares, supomos que esta constitua uma das vias pelas quais o DMT2 relaciona-se com a morbimortalidade cardiovascular. 48 ASSOCIAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO E CETOACIDOSE DIABÉTICA Chalegre, C. M. S.¹; Feitosa, V. A.¹; Mendes, L. J.¹; Cavalcanti, M. C.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Analisar a relação entre o desenvolvimento de hipotireoidismo em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) que possuem histórico de cetoacidose diabética (CAD). Métodos: Estudo transversal envolvendo portadores de DM1 atendidos no ambulatório de Endocrinologia. No momento do estudo, a população cadastrada no referido ambulatório era de 253 indivíduos, sendo a amostra consensual constituída por 137 (54,15%). Os dados foram coletados por meio de consulta dos prontuários no período de maio a julho de 2012, utilizando um formulário estruturado. Os critérios para inclusão no estudo foram: diagnóstico consolidado da doença, estar em insulinoterapia e data do diagnóstico de DM1 no período de janeiro de 2007 a março de 2012. Os critérios de exclusão foram: tempo de diabetes superior a cinco anos e preenchimento inadequado do questionário. Resultados: Dos 137 pacientes analisados, o diagnóstico de hipotireoidismo estava presente em 5,1% pacientes (n = 7). A ocorrência da CAD foi encontrada em 16,78% (n = 23). Entre os 114 pacientes que não tinham histórico de CAD, o hipotireoidismo estava presente em 3,5% pacientes (n = 4). Entre os 23 pacientes que desenvolveram CAD, o hipotireoidismo estava presente em 13,03% (n = 3). Discussão: As alterações S217 Diabetes níveis de 25-OHvitD, 65% dos pacientes apresentavam deficiência, 27%, insuficiência e 8%, nível normal. A medida da 25-OHvitD foi de 18,7 ± 8,5 nos normo, 19,5 ± 10,4 nos micro- e 13,8 ± 6,5 nos macroalbuminúricos (P90 (N = 43) e 60-90 (N = 47) ml/min/1,73 m2; a medida da 25-OHvitD foi de 19,6 ± 9,1 e 15,5 ± 7,9 ng/ml, respectivamente (P = 0,030), com r = -0,23 , P = 0,03. Essa correlação não foi vista com a equação CKD-EPI, r = -0,06 e P = 0,580. Discussão: Tem sido demonstrado que indivíduos com diabetes melito tipo 2 (DM2) têm níveis significativamente mais baixos de vitamina D, sugerindo que a hipovitaminose poderia estar envolvida no aumento do risco cardiovascular e pior prognóstico renal que esses indivíduos apresentam. Embora a EUA seja um marcador estabelecido de nefropatia diabética, poucas evidências existem sobre a associação da hipovitaminose D e albuminúria em indivíduos com DM2. Da mesma forma, não há relatos sobre a associação dos níveis séricos de vitamina D e a TFG neste grupo de indivíduos. Conclusão: A prevalência de deficiência de vitamina D é bastante elevada em indivíduos com DM2, estando já presente mesmo com leve redução da função renal. Diabetes Trabalhos Científicos metabólicas do DM interferem na função da glândula tireoide, assim como as disfunções tireoidianas influenciam o metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas. Sendo o DM1 uma doença autoimunológica, é esperada a associação com outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, principal causa de hipotireoidismo. A prevalência de autoimunidade tireoidiana em pacientes com DM1 é muito variável. Na literatura, a prevalência varia entre 3 a 50%, sendo geralmente maior que a encontrada entre indivíduos sem DM. Na presente amostra, 5,1% dos pacientes possuem diagnóstico de hipotireoidismo. Quando comparados quanto à presença ou não de CAD durante curso da doença, foi observado que, aqueles pacientes que apresentaram a CAD, possuem uma taxa considerável de hipotireoidismo (13,03%) quando comparados aos demais pacientes com DM1 sem histórico de CAD (3,5%). Conclusão: Tais dados sugerem que um diagnóstico de DM1 estabelecido durante um quadro de CAD ou casos em que existe um mau controle metabólico e ocorrem múltiplos episódios de CAD possam ser um fator de risco para o desenvolvimento de hipotireoidismo. Mais estudos devem ser realizados com o objetivo de analisar essa correlação e entender melhor a associação entre essas patologias. 49 ASSOCIATION BETWEEN ERECTILE DYSFUNCTION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS HYPERTENSIVE PATIENTS AND ECHOCARDIOGRAPHIC VARIABLES Severo, M. D.¹; Leiria, L. F.¹; Ledur, P. S.¹; Becker, A. D.¹; Aguiar, F. M.¹; Gus, M.¹; Schaan, B. A.¹ ¹ Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA-UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil Objective: A cross-sectional study was conducted in order to assess the prevalence of erectile dysfunction among individuals with diabetes and hypertension and to assess the association between erectile dysfunction and cardiovascular risk variables including hypertrophy and diastolic function assessed by echocardiography. Methods: We evaluated 114 men with type 2 diabetes mellitus and hypertension selected at a tertiary care teaching hospital in Southern Brazil. Erectile dysfunction was assessed by the IIEF-5 score. We evaluated clinical and laboratory variables, transthoracic echocardiography, test for evaluation of cardiac autonomic neuropathy, C-reactive protein and ankle brachial index (ABI). Comparisons between patients with erectile dysfunction (IIEF-5 < 22) and without erectile dysfunction (IIEF-5 ≥ 22) and with erectile dysfunction and CRP > 3 mg/L vs. without erectile dysfunction (to attain a clinical phenotype of higher risk) were performed using analysis of covariance with age, blood pressure and HbA1c as covariates. Results: Patients were 56.8 ± 5.7 years-old, systolic and diastolic blood pressure were 150.7 ± 19.5 mmHg and 85.4 ± 11.4 mmHg, respectively, and HbA1c was 8.0% ± 1.7%. The majority (74.6%) had a diagnosis of erectile dysfunction according to the IIEF-5 score. Comparisons between the groups above described did not show any association between the cardiovascular risk variables and erectile dysfunction. There was a slight lower left ventricular ejection fraction in men with erectile dysfunction (64.91 ± 7.26 vs. 68.10 ± 3.96 %, p = 0.004). Discussion: The lower left ventricle ejection fraction in subjects with erectile dysfunction, as compared to those with no erectile dysfunction has questionable clinical relevance. Moreover, multiple comparisons may have been responsible for this difference. Since the study population consists of individuals with poorly controlled diabetes and hypertension, subtle differences may not be perceptible considering the high cardiovascular risk. Possibly other factors not assessed in our study, as endothelial function, psychosocial factors S218 and relative deficiency of androgens may be important covariates in the evaluation of erectile dysfunction in diabetic and hypertensive patients. Larger sample may be required in order to evince more subtle differences. Conclusion: Erectile dysfunction assessed by IIEF-5 score is not associated with clinically significant alterations in echocardiographic variables, as well as with other cardiovascular risk factors. 50 AVALIAÇÃO DA COMORBIDADE DE DIABETES E HIPERTENSÃO EM PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL DA GUANABARA Pontes, C. D. N.¹; Serruya, T.¹; Demachki, N.¹ ¹ Unidade Municipal de Saúde da Guanabara, Ananindeua, PA, Brasil Objetivo: Com o objetivo de caracterizar a comorbidade entre hipertensão arterial e diabetes mellitus na Unidade Municipal de Saúde da Guanabara, foram recolhidos dados condensados com agentes comunitários de saúde e enfermeiras das três Estratégias Saúde da Família que compõem a UMS Guanabara, no período de maio a julho de 2012, dos quais se pretendeu identificar a quantidade de pacientes portadores de hipertensão, de diabetes e de ambos. Métodos: O estudo foi dividido em duas principais metas: traçar um perfil epidemiológico sobre os pacientes atendidos da UMS Guanabara, quanto à hipertensão e/ou ao diabetes mellitus. E, após isso, comparar o perfil do bairro da Guanabara com o perfil do município de Ananindeua e de Belém. Foram analisados os dados condensados sobre os pacientes cadastrados na Estratégia Saúde da Família e no programa HIPERDIA na UMS Guanabara. Esses dados foram disponibilizados por arquivos de agentes comunitários de saúde (ACS’s) e enfermeiros das Estratégias Saúde da Família da UMS Guanabara. Resultados: Verificou-se que 7,5% da população atendida na UMS Guanabara possui hipertensão e/ou diabetes. Desses pacientes, 60% são hipertensos, 27,5% são diabéticos e 12,5%, hipertensos e diabéticos. Dos pacientes portadores de hipertensão, 20,7% são também diabéticos. E, nas três Estratégias de Saúde da Família, há maior prevalência de hipertensão em comparação ao diabetes. Discussão: Discutiu-se, então, sobre a importância da atenção básica no sentido da prevenção dessas doenças e de um mapeamento do perfil epidemiológico dessas patologias em unidades básicas, a fim de redirecionar o planejamento de ações que visem a uma maior qualificação da atenção básica na prevenção e promoção da saúde dos pacientes hipertensos diabéticos. Conclusão: Entende-se que, para um maior controle dessas patologias, bem como prevenção dos agravos que delas surgem, são necessários diagnóstico precoce, acompanhamento adequado do paciente pela unidade e adesão ao tratamento. Além disso, estudos epidemiológicos são fundamentais para a reordenação das políticas públicas na área em estudo. 51 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS ANTICÉLULA PARIETAL, ANTIFATOR INTRÍNSECO E ANEMIA PERNICIOSA EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 Ferraz, A. L.¹; Dantas, J. R.¹; Laudier, A. A.¹; Barone, B.¹; Zajdenverg, L.¹; Rodacki, M.¹; Oliveira, J. E. P.¹ ¹ Serviço de Nutrologia, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF-UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar a frequência de anticorpos anticélula parietal (ACP), antifator intrínseco (AFI) e anemia perniciosa (AP) em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de duração variável, quando comparados a um grupo controle pareado por idade, sexo e etnia. Métodos: Para este estudo caso-controle, foi realizada coleta de 20 mL de sangue nos participantes de ambos os grupos estudados para dosagem de ACP e AFI e extração de DNA. Pacientes com anticorpos positivos foram convocados para nova coleta de sangue para dosagem de vitamina B12 para o diagnóstico de AP. Nos casos em que o valor da vitamina B12 se situou na faixa de incerteza, foram dosados ácido metilmalônico (AMM) e homocisteína (HMO). Dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais foram obtidos em questionário e prontuário médico. Associações entre ACP, AFI ou AP com essas variáveis foram pesquisadas, assim como com anti-GAD e polimorfismos dos genes PTPN 22 e da insulina. Para os testes genéticos, pesquisamos polimorfismos de um único nucleotídeo (SNP) por PCR em tempo real. Resultados: Cento e cinquenta participantes foram incluídos, sendo 75 com DM1 (casos) e 75 no grupo controle. A ACP foi reagente em 10 (13,3%) pacientes do grupo dos casos e em nenhum paciente do grupo dos controles. Entre as características clínicas e epidemiológicas, a única associação estatisticamente significativa com o ACP foi com a presença de outras doenças autoimunes (p = 0,003). Não foram identificadas associações entre o gene PTPN 22 (p = 0,600) e o gene da insulina (p = 0,436) com ACP reagente no grupo dos casos. O AFI foi positivo em 3 (4%) pacientes dos casos e 22 (29,3%) pacientes dos controles. Não foram identificadas associações entre AFI reagente e quaisquer das variáveis estudadas. O diagnóstico de AP foi realizado em 3 (4%) pacientes dos casos e 2 (2,7%) pacientes dos controles. Dessa forma, ACP foi mais frequente em pacientes com DM1 do que no grupo controle, enquanto o inverso foi observado para AFI. AP foi identificada em ambos os grupos, tanto com ACP quanto com AFI positivos. Discussão: Pacientes com DM1 apresentam um aumento na prevalência de agressão autoimune órgão-específica contra outros tecidos endócrinos (como tireoide e adrenal) e, também, em tecidos não endócrinos (como a mucosa gástrica). Conclusão: Estudos longitudinais são necessários para avaliar o desenvolvimento de AP nos indivíduos com anticorpos positivos, não apenas no grupo de casos, mas também no controle. 52 AVALIAÇÃO DA GLICEMIA E DA HEMOGLOBINA GLICADA COMO CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Proença, A. F. P.¹; Rezek, G. S. S.¹; Araújo, M. F. A.¹; Rezende, C. A. C.¹; Toniolo, J. V.¹; Ferreira, M. R.¹; Araújo, A. C. M.¹ ¹ Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, MG, Brasil Objetivo: Os objetivos deste trabalho foram analisar a média de hemoglobina glicada (A1C) ao diagnóstico de DM tipo 1 (DM1), correlacionar os valores de A1C ao diagnóstico de DM1 com os valores de glicemia de jejum e com a idade dos pacientes ao diagnóstico e comparar as características clínicas e laboratoriais, principalmente os valores de A1C e glicemia, em relação à presença ou à ausência de cetoacidose e quanto às diferentes faixas etárias dos pacientes. Métodos: Foram coletados dados de prontuários de pacientes com diagnóstico de DM1 que estavam em acompanhamento no ambulatório de endocrinologia pediátrica de um hospital universitário e nos consultórios particulares de três endocrinologistas. Foram incluídos apenas os pacientes com dosagem da A1C pelo método cromatografia líquida de alta performance. Resultados: Foram coletados dados de 94 prontuários e 86 pacientes foram incluídos no estudo. A idade média dos pacientes foi de 8,7 anos, sendo que a A1C média foi 10,1% (DP = 2,6%) e a glicemia média ao diagnóstico foi 335,7 mg/dL (DP = 131,4). Entre esses pacientes, 40,7% apresentaram cetoacidose e 53,5% foram internados ao diagnóstico de DM1. A A1C foi menor nos pacientes que apresen- taram cetoacidose diabética (9,4%) em relação aos pacientes que não apresentaram essa complicação (10,5%) (p = 0,049). Os valores de glicemia foram maiores nos pacientes que apresentaram cetoacidose diabética (430,5 mg/dL) em relação aos pacientes que não apresentaram cetoacidose (270,5 mg/dL) (p = 0,000). Não houve correlação entre os valores de A1C e os valores de glicemia (r = 0,42/p = 0,700) e não houve diferença quanto aos valores de A1C (p = 0,062) e glicemia (p = 0,856) ao comparar os pacientes de diferentes faixas etárias. Discussão: Trabalhos na literatura também questionam a A1C como critério diagnóstico para DM e apenas alguns estudos que demonstraram que a A1C está relacionada à média de glicemia foram realizados em pacientes com DM1. Neste trabalho, não houve correlação entre os valores de A1C e os valores de glicemia conforme já descrito por alguns autores. Os valores de A1C, diferentemente dos valores de glicemia, foram menores em pacientes que apresentaram cetoacidose diabética. Conclusão: Esses resultados sugerem que a glicemia ainda deveria ser considerada como o exame de escolha para o diagnóstico do DM1, pois, além da associação dos valores elevados de glicemia com a presença de cetoacidose diabética, esse é um exame mais rápido que a A1C, de menor custo, de fácil interpretação e disponível em qualquer centro de saúde. 53 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM DIABÉTICOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM DIABETES Couto, J. S.¹; Silva, C. P.¹; Soares, L. S.¹; Lacerda, A. M.¹; Krepker, F. F.¹; Mendonça, M. D. V.¹; Costa, M. B.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Avaliar o impacto de um programa de educação em saúde sobre a qualidade de vida de indivíduos diabéticos. Métodos: Pacientes em primeira consulta em Ambulatório Multidisciplinar de Atenção ao Diabetes tipo 2 foram convidados a participar de um programa de Educação em Diabetes. Foi aplicado o questionário SF-36 para avaliação da qualidade de vida e colhidos dados antropométricos e de exames laboratoriais por ocasião da admissão e um ano após a participação no projeto. Resultados: No período de junho/2011 a maio/2012, 61 indivíduos preencheram os critérios de inclusão e 32 foram reavaliados. A idade variou de 30 a 60 anos, com média de 50,5 ± 7,86 anos, sendo 65,6% do sexo feminino. Os resultados da avaliação clínico-laboratorial estão na tabela. O número de pontos no questionário SF-36 mostrou importante melhora na qualidade de vida quanto a estado geral de saúde: 56,34 ± 24,0 vs. 64,13 ± 20,0 (p = 0,048); vitalidade: 50,25 ± 22,0 vs. 59,84 ± 24,54 (p = 0,009); aspectos emocionais: 44,76 ± 45,29 vs. 68,72 ± 43,94 (p = 0,034) e saúde mental: 57,93 ± 21,53 vs. 72,09 ± 17,00 (p = 0,001), na admissão e um ano após, respectivamente. Discussão: No presente estudo, observou-se que a atenção interdisciplinar contribuiu significativamente para a melhora na qualidade de vida de indivíduos diabéticos de forma semelhante a estudos que mostram que os resultados obtidos por meio de programas de educação em diabetes são positivos, ultrapassando os custos relacionados a esse tipo de intervenção. Observou-se ainda melhora dos níveis glicêmicos corroborando a ideia de que a abordagem visando ao autogerenciamento da doença pode controlar a glicemia e melhorar as condições físicas e mentais dos indivíduos conforme demonstrado também por outros autores. Conclusão: A participação em Programa Interdisciplinar de Educação em Diabetes contribuiu para a melhora significativa na qualidade de vida, assim como no controle glicêmico de pacientes diabéticos. S219 Diabetes Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 54 AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO INICIAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO ENTRE OS ANOS 2007 E 2012 Coelho, M. C.¹; Mendes, L. J.¹; Chalegre, C. M. S.¹; Feitosa, V. A.¹ Diabetes ¹ Hospital Universitário Alcides Carneiro, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Descrever o perfil de uma população de pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) em relação a sexo, idade do início da doença e manejo da doença no momento do diagnóstico. Métodos: Estudo descritivo envolvendo portadores de DM1 com uma amostra consensual constituída por 137 pacientes. Os dados foram coletados por meio de consulta dos prontuários, no período de maio a junho de 2012, utilizando um formulário com informações demográficas, temporal, dados de consultas e de internamentos. O critério para inclusão no estudo foi: diagnóstico consolidado de DM1 no período de janeiro de 2007 a março de 2012. Resultados: A população do estudo foi composta por 85 homens (62%) e 52 mulheres (48%). No momento do diagnóstico, a faixa etária de 4-10 anos correspondeu à maior parte da amostra, 47 pacientes (34,4%), seguida por 42 (30,6%) na faixa de 11-18 anos, e 24 (17,5%) nas faixas de 0-4 anos e maior de 18 anos. Quanto à apresentação inicial da doença, a internação em enfermaria foi a mais frequente, 64 casos (47%), seguida pelo diagnóstico ambulatorial por meio dos sinais e sintomas sugestivos de DM com 63 casos (46,8%) e internação em UTI com 10 casos (7,2%). As admissões com quadro de cetoacidose diabética (CAD) foram de 23 casos, sendo 10 em UTI e 13 tratados em enfermaria. A CAD no momento do diagnóstico predominou na faixa etária de 4-10 anos, sendo 12 casos (52,17%), seguida da faixa de 0-4 anos com 5 casos (21,73%), pela faixa de 11-18 anos e de maior de 18 anos com 3 casos cada uma (13,05%). Discussão: Os estudos descritivos são muito importantes para estabelecer o perfil dos pacientes com DM1 e definir o melhor manejo da doença. A amostra estudada não difere da literatura em termos de idade do início da doença, diferindo em termos de sexo. Quanto ao início da doença, as proporções entre os pacientes com sintomas clínicos e os internados na enfermaria com hiperglicemia ou CAD foram semelhantes. Dos pacientes internados com CAD na enfermaria e UTI, houve predomínio entre as crianças de 4-10 anos, seguido pela faixa etária de 0-4 anos, dado esse importante devido aos riscos de morbimortalidade associados a CAD. Conclusão: A idade, o sexo e o manejo da doença por especialistas tiveram influência na forma do diagnóstico. Além disso, o maior número de casos de CAD em menores de 10 anos evidencia a importância da informação e orientação dos pais e familiares dessas crianças para evitar os internamentos e as complicações da doença. 55 AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE PACIENTES INTERNADOS POR DIABETES MELLITUS (DM) NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA E HERBIÁTRICA NA REGIÃO SUDESTE Pacheco, C. F. V.¹; Sutti, D.¹; Barcelos, R. N.¹; Biancardi, N. F.¹; Biancardi, M. F.¹; Saavedra, P. C.¹; Guimarães, F. F.¹ ¹ Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Teresópolis, RJ, Brasil Objetivo: O banco de dados Datasus representa uma fonte rica de informações em saúde, importante para locação de recursos e geração de políticas de saúde públicas voltadas para doenças com grande incidência e/ou prevalência na população. O DM representa uma doença com grande morbidade que, se não diagnosticada precocemente e tratada, leva a número elevado de internações e aumento de gastos públi- S220 cos. Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar o número de casos de internação por DM nos estados da região Sudeste do Brasil, na população abaixo dos 20 anos. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo longitudinal, realizado mediante consulta ao banco de dados do Datasus. Foram analisados o número de internações por estado da Região Sudeste e a idade das internações. Os dados são referentes aos anos de 2007 a 2011. Resultados: Nesse período o número total de internações foi de 3.459 no ano de 2007; 3.713 em 2008; 3.714 em 2009; 3.740 em 2010; e 3.662 internações em 2011. Quanto à faixa etária, observamos um maior número de casos entre 10 e 14 anos de idade, conforme segue: em 2007, 1.334; em 2008, 1.390; em 2009, 1.388; em 2010, 1.413; e em 2011, 1.360 casos nos quatro estados. O estado com maior número de registros, em todas as faixas etárias, é o de São Paulo, registrando 1.847 casos em 2007; 2008 casos em 2008; 2.039 em 2009; 2.068 em 2010; e 2.030 em 2011. Quando avaliamos por estado o ano com maior número de registros, temos: Minas Gerais, ano de 2009, registrados 1.070 casos; Espírito Santo, 2010, 188 casos; Rio de Janeiro, 2007, 574 casos. E no estado de São Paulo observa-se um maior registro de casos em 2010. Discussão: Observamos que não houve aumento estatisticamente significativo no número de internações por DM no período estudado. Temos na faixa etária de 10-14 anos um maior número de casos gerais por DM, não sendo possível classificar o tipo de DM registrado por escassez de dados no Datasus. O estado de São Paulo foi o que registrou um maior número de casos em valores absolutos, entretanto não podemos extrapolar essa constatação e concluir que o sistema de notificação é adequado, haja vista tratar-se do estado mais populoso. Conclusão: Com os dados disponíveis no Datasus, não foi possível identificar o perfil epidemiológico dos pacientes internados por DM. Concluímos, com isso, que o sistema de notificação ainda é bastante falho, limitando a implementação de políticas públicas de prevenção e promoção à saúde para o DM. 56 AVALIAÇÃO DO PERFIL GLICÍDICO EM GRÁVIDAS DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA DE UMA MATERNIDADE DE VITÓRIA-ES Itaborahy, L. M.¹; Guimarães, R. V.¹; Peseto, R. P.¹; Lima, M. M. S.¹; Casini, A. F.¹; Lacerda,T. S. G.¹; Ruschi, G. E. C.¹; França, L. C.¹ ¹ Universidade Vila Velha (UVV), Maternidade Pró Matre de Vitória, Liga Acadêmica Capixaba de Obstetrícia e Ginecologia (LACOG-ES), Vitória, ES, Brasil Objetivo: Avaliar o perfil glicídico em grávidas no ambulatório de prénatal. Métodos: Avaliamos prospectivamente 135 gestantes e realizamos avaliação clínica/laboratorial por meio da identificação de fatores de risco para DMG, exame físico com medida do índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional e dosagens de glicemia assim realizadas: glicemia de jejum (GJ) na primeira consulta e teste de tolerância oral à glicose com 75 g dextrosol (TTOG) entre 24 e 28 semanas. Quando os valores de GJ encontrados foram 85 mg/dL, estas eram submetidas ao TTOG. As que apresentaram pelo menos um valor de TTOG alterado obtiveram diagnóstico de DMG (segundo a International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups-IADPSG6). Considera-se como ponto de corte para o diagnóstico de DMG no TTOG GJ: basal ≥ 92 mg/dL, 1 hora: ≥ 180 mg/dL e 2 horas: ≥ 153 mg/dL. Resultados: A média do IMC pré-gestacional foi de 24,41 ± 4,014 kg/m², variando de 16,76 a 36,8 kg/m². A prevalência de IMC > 25 kg/m² foi de 37,5%. A prevalência de GJ de rastreio alterada na primeira consulta foi de 24,41% e a sua média de 102,90 ± 41,092 mg/dL. Encontramos 6 (4,41%) pacientes com diagnóstico Trabalhos Científicos 57 AVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO NO DIAGNÓSTICO DE DM1 EM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Mendes, L. J.¹; Cavalcanti, M. C.¹; Chalegre, C. M. S.¹; Feitosa, V. A.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Avaliar os sinais e sintomas, glicemia de jejum e IMC no diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Métodos: Estudo transversal envolvendo portadores de DM1 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia. No momento do estudo, a população cadastrada era de 253 indivíduos, sendo a amostra consensual de 54,15% (137). Critérios de inclusão: termo de consentimento livre e esclarecido assinado, diagnóstico consolidado da doença e data do diagnóstico de DM1 inferior a cinco anos. Critério de exclusão: falta de dados nos prontuários. Os dados foram coletados por meio de consulta dos prontuários no período de maio a julho de 2012, utilizando formulário estruturado, com posterior análise estatística. Resultados: Dos 137 participantes, 62% (85) são do sexo masculino e 38% (52), feminino, 74,45% (102) tinham mais de 9 anos de idade no diagnóstico, 54,7% (75) estavam eutróficos pelo Z-IMC/idade e 72,4% (99) afirmaram perda de peso no mês anterior ao diagnóstico. Principais sintomas: poliúria 83,2% (114), polidipsia 81,8% (112), polifagia 78,1% (107), alterações gastrointestinais 26,3% (36), astenia 14,6% (20), nictúria 12,4% (17), desidratação 9,5% (13) e alteração do nível de consciência 8,8% (12). Assintomáticos: 1,5% (2). Média da glicemia em jejum: 405,88 (± 145,9) e 49,6% (68) foram internados devido a complicações agudas no diagnóstico. Discussão: Diferentemente do paciente com DM2 que é assintomático e obeso, o paciente com DM1 apresenta fome excessiva, perda de peso sem explicação, sede excessiva, náuseas e, nos casos graves, evoluem com cetoacidose diabética (CAD). Apresentam IMC normal ou com tendência à magreza e altos níveis glicêmicos devido à ausência total ou parcial de produção de insulina. O pico de incidência de DM1 ocorre na adolescência com predomínio no sexo masculino. Conclusão: Vemos que as estatísticas encontradas nesse grupo estão em concordância com as da literatura, devendo os pais estar atentos às alterações biológicas e físicas no cotidiano dos seus filhos, pois os sintomas são sutis, mas, com o evoluir da doença, podem ser mais severos, principalmente quando há o acúmulo excessivo de corpos cetônicos no sangue, podendo o paciente entrar em coma. Em razão da alta morbidade e mortalidade prematura no DM1, após sua confirmação, deve-se encaminhar o paciente a um atendimento multidisciplinar que permita o controle glicêmico adequado por meio da insulinoterapia, dieta e atividade física, prevenindo as complicações micro e macrovasculares. 58 AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DAS COMORBIDADES DO DIABÉTICO TIPO 2 PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE Sugita, T. H.¹; Gomes, H. L. F¹; Yamamoto, R. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Preceptoria do Internato da UFG, Goiânia, GO, Brasil Objetivo: É bem definida a associação entre diabetes mellitus (DM) e entidades como dislipidemia (DLP), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a importância disso na evolução das complicações crônicas do DM. Este estudo avalia o estado clínico e a conduta terapêutica relacionada a comorbidades do paciente com DM tipo 2 (DM2) sob tratamento na atenção básica quando encaminhado para endocrinologista. Métodos: Foi realizado um estudo observacional, descritivo dos diabéticos de um Ambulatório de Endocrinologia no “Programa de Diabetes” em um Centro Integrado de Assistência Médico-Sanitária em Goiânia-GO. Foi feita a análise de prontuários, coletando-se dados da primeira consulta, dos quais 258 pacientes eram portadores de DM2. Os dados referiam-se a diagnósticos prévios de HAS e DLP, perfil lipídico e medicações em uso. Foram utilizados valores conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes para análise de meta de perfil lipídico. Foi considerada sem controle uma pressão arterial (PA) > 130 x 80 mmHg. Resultados: Dos 258 pacientes, 71 pacientes não usavam nenhum tratamento medicamentoso para DM. Do total, 176 apresentavam perfil lipídico, dos quais 150 apresentavam DLP descompensada. Apenas 6 de 39 pacientes em uso de medicação hipolipemiante apresentavam níveis lipídicos na meta preconizada. Cento e noventa e sete pacientes apresentavam medida de PA, sendo que 125 apresentavam PA descompensada, 121 faziam uso de medicação e, destes, apenas 97 faziam uso de bloqueador do sistema renina angiotensina (BSRA). Discussão: Pacientes DM2 apresentam 3-4 vezes mais risco para doenças cardiovasculares (DCV), pois a doença aterosclerótica nesses indivíduos é mais grave e precoce. A DCV é a causa de 75% das mortes do diabético. O tratamento rigoroso da HAS e DLP nesses pacientes é importante para prevenção e progressão da DCV e de complicações crônicas do DM. Apesar do diagnóstico, muitos pacientes com DM2 associado a DLP e/ou HAS não alcançam os alvos necessários na atenção primária. Apesar das vantagens no uso de BSRA para prevenir o aparecimento e progressão das complicações do DM2, quase 20% dos pacientes tratados não faziam uso deles. Quase 30% dos pacientes não iniciaram tratamento medicamentoso para DM, mesmo com diagnóstico. Conclusão: Comprovamos que os pacientes diabéticos não estão sendo adequadamente acompanhados na atenção básica e urge a realização de capacitação dos clínicos, bem como orientações da real necessidade de alcançar as metas glicêmica, hipertensiva e lipídica. 59 AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO E USO DE MEDICAÇÃO EM PACIENTES DIABÉTICOS EM UNIDADES BÁSICAS DE GOIÂNIA Sugita, T. H.¹; Gomes, H. L. F.¹; Yamamoto, R. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Preceptoria do Internato da UFG, Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Com o aumento da expectativa de vida, da obesidade e do sedentarismo, aumenta a frequência de doenças crônicas como diabe- S221 Diabetes de DMG. Dessas, uma paciente teve DMG na gestação anterior com normalização pós-parto da GJ e duas apresentaram IMC > 25 kg/ m². Discussão: Durante a gestação, ocorrem profundas e importantes modificações, tanto funcionais quanto anatômicas, em quase todos os sistemas do organismo materno. O propósito dessas modificações é criar um ambiente materno-conceptual favorável. A gestação é um estado hiperinsulinêmico, em que há diminuição da sensibilidade à insulina, devido à ação dos hormônios diabetogênicos, entre outros o hormônio lactogênico placentário. Entende-se por diabetes mellitus gestacional (DMG) qualquer nível de intolerância a carboidratos, levando a uma hiperglicemia diagnosticada na gestação, que, associada à obesidade materna, leva a sérias complicações tanto maternas quanto fetais. Conclusão: No nosso estudo, encontramos uma prevalência de DMG em acordo com a literatura, que oscila entre 1% e 14%. A importância do resultado desse estudo é a necessidade da identificação de fatores de risco, diagnóstico precoce das alterações no perfil glicêmico, seja ele por meio da GJ na consulta inicial e/ou durante o TTOG. Dessa forma, permitimos a intervenção adequada, evitando, assim, inúmeras complicações materno-fetais. Diabetes Trabalhos Científicos tes mellitus (DM). É intuito deste trabalho avaliar os fatores de risco relacionados e o uso de medicamentos para DM dos pacientes tratados em unidades básicas de saúde em Goiânia. Métodos: Foi realizado um estudo observacional, descritivo no Ambulatório de Endocrinologia no “Programa de Diabetes” em um Centro Integrado de Assistência Médico-Sanitária em Goiânia. Foi feita análise de prontuários, coletando dados da primeira consulta de diabéticos. O número da amostra foi 291. Os dados analisados foram: antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida, medicações em uso e dados antropométricos. Resultados: Do total de pacientes, 258 (88,7%) eram DM tipo 2. A média de tempo de diagnóstico foi de aproximadamente 8 anos (N = 226). Cento e sessenta e cinco (58,1%, N = 284) eram mulheres e, entre estas, 80 sabiam o peso dos filhos recém-nascidos, sendo que 33 (41,3%) dessas tiveram um filho > 4.000 g. Do total de pacientes, 120 (41,2%) eram sedentários, 60 (20,6%) são/foram tabagistas e 39 (13,4%), etilistas. Dos pacientes que souberam referir sobre parentes de 1o grau: 149 (64,9%, N = 230) tinham parentes com DM diagnosticado; 115 (50,7%, N = 227) com dislipidemia; e 171 (63,8%, N = 268) com hipertensão arterial sistêmica. Dos 219 pacientes que apresentavam peso e altura, 59 (26,9%) apresentavam IMC normal, 78 (35,6%), sobrepeso e 82 (37,4%), obesidade. De 216 pacientes que faziam uso de medicação para DM, 66 (30,6%) não usavam metformina e 76 (35,2%) usavam insulina. Discussão: Já é comprovado que o controle de fatores de risco modificáveis, como atividade física, tabagismo, dieta e manutenção de peso adequado, associaram-se à redução de 88% nos casos com história familiar de DM. Nota-se que as famílias de DM não modificam seus hábitos com atenção à prevenção primária do DM. A macrossomia aumenta ainda mais as chances de filhos de diabéticas se tornarem diabéticos. Apenas em torno de 30% dos pacientes diabéticos faziam uso de metformina, mesmo sendo considerado tratamento de primeira escolha. Conclusão: Alterações dos hábitos deveriam ser medidas efetivadas na atenção primária, entretanto é grande o número de pacientes sedentários e acima do peso encaminhados para o serviço secundário. Há necessidade de programas intensivos de prevenção primária principalmente em parentes de 1o grau de diabéticos. O uso de metformina deve ser reforçado nas unidades básicas de saúde. 60 BENEFÍCIO DO USO DO ESQUEMA DE INSULINA BASAL-BOLUS NO TRATAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 2 Araújo, F. A. S.¹; Almeida, L. H. E.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Avaliar os benefícios do esquema basal-bolus como opção terapêutica eficaz no paciente com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Métodos: Paciente masculino, 73 anos, branco, aposentado, hipertenso há 15 anos e com DM2 há 25 anos. Procurou nosso ambulatório relatando quadros de hipoglicemia, com valores de glicemia capilar variando de 66 a 200 mg/dL, principalmente na madrugada, duas vezes na semana. Em uso de: insulina NPH 120UI/dia dividida em três aplicações. Não fazia dieta. Sedentário devido à artrose avançada no acetábulo e joelho bilateralmente. Negava dormências nos pés. Exame físico: peso: 115 kg, altura: 1,70 m, IMC: 39 kg/m², CA: 135 cm, PA: 140/80 mmHg. Hemoglobina glicada (A1c): 6%. Resultados: Na consulta seguinte, o paciente se encontrava assintomático, com os seguintes resultados: hemograma completo normal, A1c: 7%, glicemia pós-prandial: 138 mg/dL (N < 20). Discussão: As constantes hipoglicemias, presentes com uso da NPH, dificultam a adesão dos pacientes à insulinoterapia. Optamos pelo uso de análogos, substituindo a NPH por glargina e introduzindo a insulina ultrarrápida antes e S222 após as refeições, associado à dieta alimentar adequada para eliminação dos eventos hipoglicêmicos. A glargina nos permitiu uma dosagem 20% inferior àquela feita com a NPH. Conclusão: A terapia basal-bolus no paciente com DM2 deve ser utilizada com mais frequência pelos endocrinologistas, pois reduz os episódios de hipoglicemias, facilita a adesão ao tratamento e reduz os riscos de complicações dessa doença. 61 CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO DIABETES EM JUIZ DE FORA/MG: PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS Marquito, A. B.¹; de Paula, R. B.¹ ¹ Fundação Imepen, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Descrever o perfil de utilização de medicamentos de indivíduos de um centro urbano de Minas Gerais, aliado ao rastreio de fatores de risco para diabetes mellitus (DM). Métodos: Estudo transversal conduzido em Campanha de Combate e Prevenção da Diabetes na cidade de Juiz de Fora/MG, no ano de 2011, onde foram aplicados questionários multiprofissionais e coletados dados de fatores de risco, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, medidas antropométricas para aconselhamento e orientação aos participantes. A digitação e a análise do banco de dados foram efetuadas nos programas Excel 1.0 e SPSS, versão 17.0. Estatística descritiva foi apresentada pelas porcentagens dos respectivos totais para variáveis categóricas e médias (± desvio-padrão) para variável contínua. Para avaliar as associações entre as variáveis, foi aplicada a correlação de Pearson. Resultados: Participaram da pesquisa 617 pessoas, na maioria idosos (54,3%) (TAB1). Dos participantes, 71,7% fazem uso contínuo de medicamentos, sendo estes em quantidade menor que cinco (49,3%). Relataram que nunca esquecem tomá-los (60,2%), que às vezes esquece (30,9%), quase sempre (3,0%) e sempre esquecem (5,9%). A glicemia casual média apresentada foi de 124,3 ± 61,9 mg/dL, observando-se sua correlação com o número de medicamentos. Discussão: A detecção precoce do DM, bem como a identificação e o tratamento dos fatores de risco, principalmente para doenças cardiovasculares, torna possível prevenir ou retardar o desfecho desfavorável dessa doença. Nesse contexto, torna-se fundamental abordar questões que envolvem a utilização de medicamentos pela população em campanhas de cunho preventivo. Conclusão: A partir dos dados obtidos, tornou-se possível delinear estratégias de incentivo à adesão e ao uso racional dos medicamentos, bem como de planejamento das ações de saúde, fundamental para a prevenção de complicações advindas do diabetes. A Campanha foi capaz de mobilizar a sociedade, facilitar o acesso à informação, identificar indivíduos suspeitos de serem diabéticos e estimular a confirmação diagnóstica. 62 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 AO DIAGNÓSTICO: UMA VISÃO EVOLUTIVA DE DOIS PERÍODOS NOS ÚLTIMOS 35 ANOS Coutinho, C. A.¹; Noronha, R.¹; Monte, O.¹; Calliari, L. E. P.¹ ¹ Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Avaliar as características clínicas dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ao diagnóstico e analisar eventuais mudanças dessas características nos últimos 35 anos. Métodos: Análise de 280 pacientes com DM1, divididos em dois grupos segundo a época do nascimento. Grupo 1: 1976 a 1989 e Grupo 2: 1990 a 2011. Foram Trabalhos Científicos 63 CAUSAS MAIS FREQUENTES DE INTERNAÇÃO EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO Chalegre, C. M. S.¹; Mendes, L. J.¹; Feitosa, V. A.¹; Cavalcanti, M. C.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Identificar as causas mais frequentes de internação de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Métodos: Estudo transversal envolvendo portadores de DM1 atendidos no Ambulatório de Endocrinologia. No momento do estudo, a população cadastrada no referido ambulatório era de 253 indivíduos, sendo a amostra consensual constituída por 137 (54,15%). Os dados foram coletados por meio de consulta dos prontuários no período de maio a julho de 2012, utilizando um formulário estruturado. Os critérios para inclusão no estudo foram: diagnóstico consolidado da doença, estar em insulinoterapia e data do diagnóstico de DM1 no período de janeiro de 2007 a março de 2012. Os critérios de exclusão foram: tempo de diabetes superior a 5 anos e preenchimento inadequado do questionário. Resultados: Dos 137 participantes, 32,1% (n = 44) necessitaram de internação hospitalar e 67,9% (n = 93) não necessitaram nem durante o ato diagnóstico, nem durante o curso da doença. Entre as principais causas de internação, temos: CAD 38,60% (n = 17); poliúria, podipsia, polifagia (polis) e hiperglicemia associada à perda de peso com 25% (n = 11) e sem associação com perda de peso 4,54% (n = 2); hipoglicemia isolada com 4,54% (n = 2); infecções com 9,10% (n = 4) e alteração do nível de consciência 4,54% (n = 2). Discussão: A literatura aponta o DM como a sexta causa de diagnóstico primário de internação hospitalar. No DM1, por ocorrer o hipoinsulinismo absoluto, devido à destruição das ilhotas de Langerhans, temos como resultado um quadro clínico com sintomas bem sugestivos, que orientam o diagnóstico. Em decorrência disso, o quadro clínico se inicia de forma mais grave e aguda, havendo necessidade de internação, como no caso de cetoacidose diabética. Conclusão: Uma porcentagem alta de pacientes DM1 necessitará de internação em alguma época do curso da doença, logo cuidados especiais devem ser oferecidos prontamente pois, devido ao grave distúrbio metabólico, condições potencialmente fatais são mais frequentes que em pacientes DM2. Implementar ações educativas para profissionais de saúde, para os diabéticos e seus familiares, no sentido de remover fatores de risco para o agravamento do quadro de DM, também se faz necessário. 64 CETOACIDOSE DIABÉTICA, PRIMODIAGNÓSTICO DE DIABETES TIPO 1 E IDOSA DE 72 ANOS: UMA RARA COMBINAÇÃO Rodrigues, M. M. N.¹; Calsolari, M. R.¹; Moura, L. G.¹; Mourão, G. F.¹; Muniz, A. L. R.¹; Noviello, T. B.¹; Rosário, P. W. S.¹; Silva, B. A. C.¹ ¹ Santa Casa de Belo Horizonte (SCBH), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Descrever um atípico caso de diabetes mellitus (DM) tipo 1 autoimune com diagnóstico aos 72 anos e apresentação inicial com cetoacidose diabética. Métodos: Dados colhidos a partir de exame clínico e laboratorial. Resultados: Paciente de 72 anos, sexo feminino, sem antecedentes de diabetes, glicemia alterada ou qualquer outra comorbidade, com IMC 25 kg/m². Admitida em serviço de urgência com dor abdominal importante, desidratação intensa, hipotensão e prostração, com os seguintes exames: bicarbonato sérico: 3 mEq/L, pH < 7,1, glicemia > 700 mg/dL e cetonúria francamente positiva. Estabelecido diagnóstico de cetoacidose diabética grave, não foi encontrado fator desencadeante aparente (rastreamento para infecção e IAM negativos) nem qualquer etiologia para dor abdominal, que foi atribuída ao quadro cetótico. Exames posteriores mostraram tratarse de caso atípico de DM tipo 1 autoimune: anti-GAD fortemente positivo: 158,5 U/mL ( VR: < 10 U/mL), peptídeo C baixo: 0,3 ng/mL ( VR: 0,7-7,1 ng/mL ), glico-hemoglobina: 9,5%. Após tratamento, recebeu alta com boas condições clínicas, sendo submetida à insulinização plena (esquema basal-bolus 0,7 U/kg). Retornou para controle ambulatorial em 3 meses com controle glicêmico otimizado, sem hipoglicemias relevantes, mantendo o mesmo peso anterior, com nova glico-hemoglobina: 7,4%. Discussão: Sabe-se que a cetoacidose diabética não é evento exclusivo de diabéticos tipo 1, podendo ocorrer também em adultos com DM2. No entanto, o caso acima descreve um evento raro: a ocorrência do quadro cetótico como manifestação inicial de DM em paciente de 72 anos, com diabetes tipo 1 autoimune e não diabetes tipo 2. Conclusão: A determinação etiológica do diabetes se faz necessária perante certos casos de primodiagnóstico, mesmo em grupos nos quais determinado tipo seja mais provável, como DM2 em idosos. Como visto, embora incomum, pode tratar-se de DM1 autoimune, podendo-se direcionar de maneira mais adequada o tratamento, sendo evitadas terapias ineficazes como hipoglicemiantes orais no caso em questão. 65 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D (25 OHD) E PREVALÊNCIA DE DIABETES de Paula, C. A.¹; Valle, P. O.¹; Costa, P. S.¹; Correa, R. C.¹; Paraguassu, B. R.¹; Pereira, N. G. B.¹; Filho, F. F.¹; Santomauro, A. T.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil Objetivo: No Brasil, apesar da adequada exposição solar e da alta incidência de radiação ultravioleta durante a maior parte do ano, é frequente a deficiência de vitamina D (25-hidroxi-vitamina D) na população em geral e principalmente nos idosos. Valores séricos baixos de S223 Diabetes levantados os seguintes dados do prontuário: idade cronológica (IC), estabelecida como até 6 meses do diagnóstico, estatura (E), peso (P) e estadiamento puberal (segundo os critérios de Tanner), todos no momento da primeira consulta, e cetoacidose diabética (CAD) ao diagnóstico. Foram excluídos: pacientes com doença crônica ou doença que interferisse no crescimento. Estatura e índice de massa corporal (zE; zIMC) foram expressos em escore z (NCHS 2000). Análise estatística utilizada: SIGMA-STAT 3.5. Resultados: Quanto a CAD ao diagnóstico encontramos, no grupo 1: 60,3% e no grupo 2: 70,3% (p = ns). Houve diferença estatística entre os grupos em relação à idade e ao zIMC. Discussão: Esses achados sugerem que pacientes nascidos nos anos mais recentes tiveram o diagnóstico de DM1 em idades mais precoces. Também encontramos neste grupo um IMC mais elevado, maior percentual de sobrepeso e obesidade ao diagnóstico. A associação desses dados está de acordo com outros estudos, que encontraram aumento da incidência de DM1 em crianças mais novas e maior prevalência de sobrepeso e obesidade ao diagnóstico. Quanto à estatura ao diagnóstico, não houve diferença entre os grupos, mas ambos apresentaram estatura discretamente aumentada em relação à média populacional. Conclusão: Constatamos que o grupo de pacientes com diagnóstico de DM1 nas últimas duas décadas apresentou o quadro inicial com idade mais precoce e maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Os dados sugerem que os profissionais de saúde devem ficar atentos a essas mudanças de características para que a suspeita clínica seja mais precoce, reduzindo a prevalência de CAD ao diagnóstico. Diabetes Trabalhos Científicos vitamina D promovem disfunção celular em vários tecidos, incluindo o pâncreas endócrino, e especula-se que sua deficiência possa alterar o balanço de cálcio intra e extracelular, interferindo por consequência na liberação normal de insulina pelas células betapancreáticas. Métodos: Avaliamos os níveis de 25-hidroxi-vitamina D (25-OHD) em 459 pacientes, com média de idade de 54,74 ± 8,56, atendidos em um ambulatório particular de endocrinologia de um hospital da cidade de São Paulo, nos últimos 3 anos, a fim de correlacionar valores de 25-OHD e presença de diabetes e obesidade. Dessa população, 111 eram do sexo masculino, 128 apresentavam diabetes e 197, dislipidemia. Quanto ao IMC, 274 apresentavam sobrepeso e 148 obesidade. Resultados: Tomando-se como referência os valores de 25-OHD, não observamos valores com significado estatístico quando correlacionamos ao IMC (p = 0,334), mas observamos valores baixos de 25OHD relacionados com a presença de diabetes mellitus tipo 2 (15,38 ± 6,34), sendo que, nessa população, os níveis de 25 OHD mais baixos se correlacionaram com os maiores IMC. Discussão: Esses nossos dados corroboram dados da literatura que sugerem que a deficiência de 25-OHD está implicada no desenvolvimento de doenças metabólicas de prevalência crescente como o diabetes. Conclusão: Estudos futuros deveriam avaliar se a administração de 25-OHD poderia reduzir o risco do desenvolvimento de DM2 e, adicionalmente, avaliar as implicações de sua suplementação em indivíduos obesos com ou sem síndrome metabólica associada. 66 DETERMINAÇÃO DE MENOR DOSE TERAPÊUTICA EFETIVA DO EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATHYMENIA RETICULATA PARA CONTROLE GLICÊMICO Magalhães, F. O.¹; Uber-Buceck, E.¹; Ceron, P. I. B.¹; Name, T. F.¹; Amuy, F. F.¹; Silva, F. C.¹; Scorsolin, V. C.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso a frio da Plathymenia reticulata e determinar a menor dose terapêutica efetiva para controle glicêmico em ratos diabéticos. Métodos: Experimento realizado com um total de 53 ratos machos adultos Wistar, pesando entre 180 g-220 g, divididos em 8 grupos: controles tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (CAF25, CAF50 e CAF100, respectivamente) e diabéticos tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (DAF25, DAF50 e DAF100, respectivamente), diabéticos tratados com água (DC) e controles tratados com água (CC). Foi administrado estreptozotocina (65 mg/kg) via intraperitoneal em 31 ratos, para induzir diabetes. Após 7 dias, o diagnóstico de diabetes foi: perda de peso associada à glicemia ≥ 200 mg/dL. O tratamento com extrato da planta ou água foi realizado diariamente, por gavagem, durante 30 dias. No final do experimento, foi feito sacrifício com coleta do sangue dos animais para análise laboratorial: hemoglobina glicada (HbA1C). Foi aplicada ANOVA e teste Tukey-Kramer com nível de significância de 5%. Os resultados foram expressos em media ± EPM. Resultados: Houve diminuição significativa da glicemia na semana 4 de tratamento com 100 mg/kg do extrato em relação ao DC (DAF100 282,42 ± 35,03, n = 7; DAF50 367,14 ± 41,70, n = 7; DAF25 393,12 ± 63,84, n = 8; DC 493,40 ± 34,78, n = 5; p = 0,045). Os demais grupos não tiveram diferença significativa. Não houve alteração significativa na glicemia dos animais não diabéticos tratados com os respectivos extratos nas 4 semanas estudadas. Houve diferença significativa entre os grupos em relação à hemoglobina glicada (F = 13,67. Discussão: Observouse diminuição significativa da glicemia nos animais diabéticos tratados S224 com o extrato aquoso a frio na dose de 100 mg/kg, somente a partir da última semana de tratamento. Nas doses de 50 mg/kg e 25 mg/ kg, não houve alterações significativas da glicemia, ambos os casos comparados ao grupo diabético não tratado. Não houve alterações na hemoglobina glicada entre os grupos diabéticos, pois o tempo de normalização é de 8 semanas enquanto o experimento teve duração de 4 semanas. Conclusão: A menor dose terapêutica efetiva para controle glicêmico do extrato aquoso a frio de Plathymenia reticulata é de 100 mg/kg peso, em ratos diabéticos, a partir da 4ª semana de tratamento. 67 DETERMINANTS OF b-CELL DISFUNCTION IN SUBJECTS WITH DIFFERENT DEGREES OF GLUCOSE TOLERANCE Nascimento, F. V.¹; Piccoli, V.¹; Smith, A. L.¹; Fabbrin, A.¹; Santos, M. F.¹; Frankenberg, A. D.¹; Canani, L. H.¹ ¹ Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (HCPA-UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil Objective: The oral disposition index (ODI), an estimation of β-cell function adjusted by background insulin sensitivity, is considered a strong predictor of prediabetes (PDM) and diabetes (DM). To understand how β-cell dysfunction develops with hyperglycemia, we analyzed the determinants of ODI in subjects with different degrees of glucose tolerance (GT). Methods: In a cross sectional design, 159 subjects (52.6 ± 12.1 years, females 75.5%) were submitted to a standard 75-g OGTT and classified as normal GT (NGT; n = 48), prediabetes (PDM; n = 72) and diabetes (DM; n = 39). Glucose (Glu), insulin (Ins), plasma glucagon, C-peptide, pancreatic polypeptide (PP), adiponectin, US-CRP, γGT, cortisol and the catecholamine metabolite (24-h urinary metanephrines) were measured. GLP-1 was measured every 30 min. during the OGTT, its incremental area under the curve (AUC) was calculated and related to ODI. Body size (BMI), central obesity (waist circumference; WC), body fat by bioimpendaciometry, resting metabolic rate (RMR) by indirect calorimetry and β-cell function by ODI (Ins30-0/Glu30-0 x 1/Ins0) were estimated. Results: The ODI decreased with decreasing GT (NGT vs. PDM vs. DM. Discussion: Since the ODI is an estimation of β-cell function adjusted by insulin sensitivity, several factors related to insulin resistance were determinants of its values, namely body size, central obesity, adiponectin, US-CRP, γGT and the RMR. Markers of insulin secretion or directly related to it were also determinants of its values, such as Cpeptide and GLP-1 secretion in the second half of OGTT. Conclusion: These findings suggest that factors related to insulin sensitivity/ resistance may be important determinants of β-cell function. Furthermore, GLP-1, an important determinant of early insulin secretion in the postprandial period was in fact linked to β-cell function in the last part of OGTT. 68 DIABETES COMO PRINCIPAL FATOR DE RISCO PARA DOENÇA CORONARIANA EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OURO PRETO, MG Silva, J. F. M.¹; Resende, N. M.¹; Silva, L. A. M.¹; Gontijo, R. V.¹ ¹ Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, MG, Brasil Objetivo: Investigar a distribuição dos principais fatores de risco para doença arterial coronariana (DAC), por meio da estimativa de prevalências e do estudo da ocorrência simultânea dos fatores de risco entre os pacientes atendidos no ambulatório pelos alunos do terceiro ano do curso de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Métodos: Trata-se de estudo transversal, no qual foram avaliados 66 indivíduos adultos, de ambos os sexos, atendidos nos Postos de Saúde de Ouro Preto, em 2011. Os dados foram compilados por meio de formulário. As variáveis estudadas foram idade, gênero, escolaridade, atividade física, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, hiperlipidemia, obesidade, história familiar de doença coronariana, diabetes mellitus, índice de massa corpórea e circunferência abdominal. Resultados: A prevalência dos fatores de risco encontrada foi: diabetes mellitus -81,8%; tabagismo -77,3%; história familiar de doença arterial coronariana -59,1%; obesidade -57,6%; sedentarismo -39,4%; hipertensão arterial -36,4% e hiperlipidemia -12,1%. Discussão: A manifestação mais importante do comprometimento macrovascular causado pelo diabetes é a DAC, em razão do processo precoce e acelerado de aterosclerose. Na literatura é descrito que a DAC é duas a quatro vezes mais comum nos diabéticos, o que pôde ser evidenciado no estudo. Os diabéticos representam aproximadamente 25% de todos os pacientes submetidos a procedimentos de revascularização a cada ano e infelizmente apresentam pior evolução quando comparados aos não diabéticos. Concentrações plasmáticas elevadas de glicose, porém ainda abaixo da faixa do diabetes, estão relacionadas com risco maior para DAC. A associação do diabetes com hipertensão arterial, sedentarismo, tabagismo, história familiar e hiperlipidemia aumenta substancialmente a incidência e mortalidade por DAC. A relação causa/efeito entre esses fatores se confunde, pois um problema pode gerar outro e o segundo pode agravar o primeiro e gerar um possível terceiro problema, formando um círculo vicioso. Conclusão: A elevada prevalência de pacientes diabéticos, tabagistas, obesos e com história familiar de doença coronariana encontrada alerta para a necessidade de adoção de programas de promoção de saúde e prevenção de doenças cardiometabólicas e cardiovasculares, pois tais medidas gerariam um ganho expressivo em qualidade de vida para esses pacientes e também diminuiriam os gastos com procedimentos de alta complexidade. 69 DIABETES FLATBUSH: RELATO DE CASO Magalhães, R. S.¹; Reis, M. D. S. L. C.¹; Santos, J. C. V.¹; Maia, C. P.¹; Corrêa, M. V.¹; Balderrama, N. R.¹; Faria, I. M.¹ ¹ Hospital Federal dos Servidores do Estado, Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Universidade Estácio de Sá (Unesa), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: A cetoacidose diabética é uma forma clássica de apresentação do diabetes mellitus (DM) autoimune ou tipo 1. Porém, outras formas do DM podem estar associadas a essa complicação. Métodos: Relatamos o caso de um paciente com quadro clínico compatível com diabetes Flatbush e realizamos revisão literária nas bases de dados do PubMed. Resultados: Paciente de 37 anos, negro, sexo masculino, sem história prévia de DM, iniciou quadro de perda ponderal, poliúria e vômitos em setembro de 2011, com piora nos 2 meses subsequentes, quando foi levado à emergência do nosso serviço. Deu entrada com desidratação grave, hiperglicemia (450 mg/dL), acidose metabólica e cetonúria. Realizado tratamento específico para CAD, com insulinoterapia venosa e reposição hidroeletrolítica. Após a estabilização clínica, foi iniciada a insulinização plena subcutânea. A hemoglobina glicada era 5,0% e não foi evidenciado foco infeccioso específico. Em dezembro de 2011, obteve alta hospitalar, em uso de insulina NPH (20UI antes do café, 10UI antes do almoço e 10 UI antes da ceia) e regular (4UI antes do café, 8UI antes do almoço e 6UI antes do jantar). Solicitados anticorpos anti-GAD e anti-ilhota, ambos negativos. Mantém acompanhamento em nosso ambulatório de Endocrinologia Geral, ainda com necessidade de doses crescentes de insulina. Discussão: A CAD é classicamente a apresentação clínica de pacientes com DM tipo 1, porém, em alguns casos, esta pode ocorrer em pacientes com DM tipo 2, espe- cialmente em africanos e hispânicos. Esses casos evoluem com possível interrupção da insulinoterapia. Não se identificam os autoanticorpos anti-GAD e anti-ilhota, além de preservação da função pancreática. É comum a associação com haplotipos HLA classe II. Esse subtipo diferenciado de diabetes é denominado diabetes Flatbush. Rodacki et al. relataram o caso de uma paciente obesa, caucasiana, em que foi possível a interrupção da insulinoterapia. Pitteloud et al. estudaram um grupo de adultos com CAD, exclusivamente caucasianos, em que 16% apresentavam DM tipo 2. A suspensão da insulinoterapia é possível em 34%-76% dos casos. Conclusão: Descrevemos o caso de um paciente da etnia africana, com início abrupto de CAD, posterior insulinização e anticorpos negativos, compatível com essa patologia. Ainda há poucos estudos sobre a patogênese desse subtipo peculiar de diabetes, necessária para melhor definição sobre a conduta nesses casos. 70 DIABETES MELLITUS (DM): A INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA NESTA DOENÇA CRÔNICA Rocha, I. C.¹; Brandão, J. F. N.¹; Nachtigall, M. C.¹; Borges, M. D.¹ ¹ Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Universitário do Araguaia (CUA), Barra do Garças, MT, Brasil Introdução: O aumento da incidência mundial de DM está relacionado com o aumento progressivo dos cuidados de saúde crescentes de uma população em envelhecimento, sedentária, atribuído à obesidade e à urbanização desordenada, como forte impacto negativo na economia de vida das pessoas. Objetivo: Neste estudo, objetiva-se investigar o estilo de vida de pacientes diabéticos internados em um hospital de Mato Grosso. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo-exploratório, com coleta de dados por meio de entrevista utilizando instrumento semiestruturado. A coleta de dados ocorreu de abril a junho de 2012. Ressalta-se que esta pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). Resultados: Verifica-se que, dos participantes, 55% são do sexo masculino e 45%, feminino, com média de idade de 60,8 anos. Em relação à escolaridade, 22,2% são analfabetos, 33,3% têm ensino primário e 44,5%, o ensino fundamental. Dos diabéticos, 100% são do tipo II e, destes, 55,5% são ex-fumantes e 11,1% têm o hábito de fumar. Quanto ao consumo de álcool, 55,5% são ex-etilistas. Referente à prática de exercício físico, 66,7% não fazem nenhuma atividade e 33,3% praticam a caminhada duas vezes por semana. Evidencia-se que 33,3% não foram orientados sobre a dieta a seguir, 55,6% foram orientados, porém a seguem irregularmente e 11,1% foram orientados e seguem-na corretamente. Em relação ao nível glicêmico, identifica-se que 89,9% estavam alterados e, destes, 75% são a glicemia pós-prandial e 25%, glicemia em jejum. Discussão: Nos dados obtidos, a questão escolaridade pode delimitar o acesso a informações por meio de leitura, escrita, interferindo, desse modo, na educação para o autocuidado dos diabéticos. É importante salientar que o tabagismo e o etilismo são considerados agravantes por constituir-se como um fator de oclusão dos vasos sanguíneos. Para um estilo de vida saudável ao diabético, a prática de atividades físicas regularmente e uma alimentação seguida de orientações são condições primordiais. Conclusão: Diabéticos bem informados quanto à alimentação, autocuidado e importância do exercício físico têm uma vida saudável com qualidade e raramente evoluem para complicações. Nesse sentido, é imperativo realizar medidas socioeducativas referentes ao estilo de vida, no intuito melhorar significativamente a qualidade de vida dos diabéticos e também evitar que hábitos de vida irregulares influenciem pessoas saudáveis a desenvolverem o diabetes. S225 Diabetes Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 71 DIABETES MELLITUS TIPO 1 E POLIRRADICULOPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA: RELATO DE CASO Pinho, V. C. M. F.¹; Paula, S. L. F. M.¹; Mundim, C. A.¹; Espindola-Antunes, D.¹; Jatene, E. M.¹; Borges, M. A. F.¹; Dias, M. L.¹ Diabetes ¹ Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), Goiânia, GO, Brasil Introdução: A polirradiculopatia desmielinizante inflamatória crônica (CIPD) é uma neuropatia crônica de etiologia autoimune. O quadro clínico da CIPD inclui sintomas sensoriais e motores, arreflexia e evolução maior que 2 meses, distinguindo de Guillain-Barré, que tem evolução aguda. Pode apresentar curso monofásico ou recorrente-recidivante. A CIDP é causa incomum de neuropatia na infância, com prevalência estimada de 1/100.000 indivíduos. Objetivo: Relatar o caso de uma criança com diabetes mellitus (DM) tipo 1 e CIPD e discutir sobre associação das duas patologias. Métodos: Relato de caso. Resultados: Menino, 10 anos, com DM1 há 2 anos, sem complicações crônicas, com controle glicêmico insatisfatório em uso de detemir e asparte, apresentando, há 10 dias, dor, paresia e parestesias de membros inferiores (MMII). Exame neurológico: paraparesia crural flácida, força muscular grau 3 de MMII, com predomínio proximal, hiporreflexia em patelar e aquileu. Eletroneuromiografia (ENMG) evidenciou desnervação recente importante em nervos de MMII sugestivo de polirradiculoneurite. RNM de crânio, coluna e análise do LCR normal. Foi aventada hipótese de Guillain-Barré. Realizada pulsoterapia com imunoglobulina humana (Ig). ENMG de controle mostrou melhora significativa. Porém, após 2 meses, retornou com piora da dor neuropática, progressão do quadro motor para tetraparesia flácida e disfagia para sólidos. Devido ao quadro de polirradiculoneurite recorrente, sugeriu diagnóstico de CIDP. Realizada pulsoterapia com Ig por 5 dias por 6 meses associado a azatioprina, que foi preferido ao corticoide em função do DM de difícil controle. Apresentou resolução do quadro neurológico. Discussão: DM é a causa mais comum de neuropatia periférica e a CIPD deve ser considerada no diagnóstico diferencial da neuropatia diabética (ND). Enquanto a CIDP progride em meses, com recidivas em 20%-30% dos casos, na ND o curso é mais lento, progredindo em anos, e, geralmente, relacionada ao tempo de DM. Além disso, a ENMG revela desmielinização com anormalidades da condução nervosa, ao contrário do padrão axonal da ND. Nesse paciente, o diagnóstico de CIDP foi baseado no padrão progressivo e recorrente da neuropatia e ENMG compatível com polineuropatia desmielinizante. O tratamento é realizado com corticosteroides, Ig humana, imunossupressores e plasmaférese. Conclusão: Os estudos demonstram que os pacientes com DM1 têm maior predisposição para desenvolver CIPD, o pronto reconhecimento dessa condição, e o tratamento imunossupressor melhora a evolução desses pacientes. 72 DIABETES MELLITUS TIPO 1 E TUBERCULOSE HEPÁTICA: RELATO DE CASO Carvalho, C. O.¹; Carvalho, A.¹; Carvalho, O. A. O.¹; Gonzalez, T. S.¹; Buemerad, J. R.¹; Aranha, A. B.¹; Jezini, D. L.¹ ¹ Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Hospital Universitário Getúlio Vargas, Manaus, AM, Brasil Objetivo: Descrever caso de associação de diabetes mellitus (DM) tipo 1 e tuberculose (TB) hepática, forma rara de tuberculose, em homem de 38 anos. Métodos: Estudo retrospectivo por análise de prontuário. Resultados: F. C. S. N., 38 anos, masculino, natural de Jutaí-AM, dia- S226 bético tipo 1 desde 1992, com retinopatia e nefropatia, apresentando descontrole glicêmico, associado a dispepsia recorrente, pirose e regurgitação, evoluiu com náuseas, epigastralgia, plenitude pós-prandial, mal-estar, astenia e vômitos esparsos. História prévia de tuberculose pulmonar em 2006. Exames: elevação discreta das transaminases, altos valores de fosfatase alcalina e gama-gt. Tomografia de abdome: fígado aumentado com parênquima difusamente heterogêneo, linfonodomegalias abdominais superiores e líquido livre peritoneal. Biópsia hepática: formações granulomatosas, células gigantes do tipo Langhans a par de necrose de caseificação, laudado como tuberculose hepática. Iniciou terapia COXCIP-4, com melhora progressiva do quadro. Discussão: DM é fator de risco conhecido para TB, segunda maior causa de doença infecciosa no mundo, devido ao estado de imunossupressão decorrente do descontrole glicêmico crônico. As formas de acometimento da TB são variadas, sendo que um quinto dos infectados apresenta a forma extrapulmonar e, desses, 5% a 7% apresentam a forma gastrointestinal (segunda forma mais comum); a forma hepática é a mais rara entre elas. Conclusão: Pacientes diabéticos, com difícil controle glicêmico, associado a sintomas gastrointestinais crônicos e hepatomegalia, merecem investigação detalhada, considerando a TB hepática como diagnóstico diferencial, principalmente em regiões endêmicas. 73 DOENÇA RENAL CRÔNICA PODE SER SUBDIAGNOSTICADA EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS Carmo, W. B.¹; Costa, M. B.¹; Galil, A. G.¹; Lanna, C. M. M.¹; Costa, D. M. N.¹; Bastos, M. G.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Fundação (Imepen/Niepen), Juiz de Fora, MG, Brasil Introdução: A doença renal crônica (DRC) representa grave complicação crônica do diabetes mellitus (DM). O HIPERDIA Minas (HIPERDIA) é um programa de prevenção secundária para DM tipo 1 e tipo 2 (DM) com controle metabólico inadequado, hipertensão arterial (HAS) de alto e muito alto grau de risco cardiovascular e DRC estágios 3B a 5 e/ou que apresentam queda da taxa de filtração glomerular (TFG) > 5 mL/min/1,73 m2. Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar a prevalência de DRC em pacientes diabéticos e hipertensos encaminhados ao HIPERDIA. Métodos: Foram obtidos dados demográficos e laboratoriais (creatinina plasmática) por ocasião da primeira consulta de pacientes encaminhados por médicos das UAPS das microrregiões de abrangência de um Centro HIPERDIA, devido a DM e HAS no período de agosto de 2010 a junho de 2011. A TFG foi estimada a partir da creatinina plasmática pelo método Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD) e a DRC, diagnosticada para valores. Resultados: Foram estudados 969 encaminhamentos ao HIPERDIA, dos quais 354 foram por DM e 257, por HAS. A média de idade dos pacientes foi de 58,8 ± 12,60 anos, sendo 58% do sexo feminino. A média da creatinina plasmática foi de 1,2 ± 0,57 mg/dL, o que caracterizou uma TFG média de 63,4 ± 23,90 mL/min/1,73 m2. A DRC foi diagnosticada em 49% dos pacientes, sendo 27% no estágio 3A, 16,5% no estágio 3B, 5% no estágio 4 e 1% no estágio 5. Quando comparados aos pacientes sem DRC, aqueles com a doença apresentavam idade mais avançada (63 ± 10,8 vs. 55 ± 12,7 anos, p < 0,001). Discussão: O DM e a HAS representam a principal causa de DRC em unidades de terapia substitutiva em nosso meio. A despeito dos consensos de diferentes entidades sobre medidas de prevenção e triagem da DRC nesse grupo de risco, cerca da metade dos indivíduos encaminhados ao HIPERDIA por DM e HAS apresentou DRC não diagnosticada previamente pela equipe de Saúde da Família que acompanhava esses pacientes em nível primário de atenção à saúde. Conclusão: Há necessidade de maior disseminação do conhecimento sobre prevenção e detecção de DRC entre profissionais da atenção primária visando ao diagnóstico precoce e à adoção de medidas terapêuticas para retardar a progressão da doença, corrigir as complicações e diminuir a mortalidade. 74 DOR ABDOMINAL RECORRENTE EM JOVEM COM DIABETES MELLITUS: CAUSA RARA DE DIABETES SECUNDÁRIO Zajdenverg, L.¹; Blotta, F.¹; Laudier, A. A.¹; Miranda, M.¹; Rodacki, M.¹ ¹ Serviço de Nutrologia e Diabetes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (HUCFF-UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Apresentar agenesia/atrofia pancreática como causa rara de diabetes mellitus (DM) secundário. Material e método: Relato de caso. Sexo masculino, 19 anos, IMC 24,8 com diagnóstico de DM aos 14 anos (polis) e história familiar de DM2. Iniciou ao diagnóstico Levemir+aspart e metformina 8 meses depois. Exames: HbA1C 11,8%; peptídeo C 1,9 ng/ml; AcAnti-ilhota e Anti-GAD negativos. Evoluiu com controle satisfatório (HbA1c 6,2%) e suspensão da insulinoterapia. Seis meses após, devido à piora glicêmica, foi associada sitagliptina, obtendo nova melhora da HbA1c (7,1%). Entretanto, após 9 meses, foi necessária insulinização plena. Três anos após o diagnóstico, apresentou forte dor abdominal com suspeita de pancreatite aguda. Amilase/lipase normais e PCR-t elevada. TC abdome revelou agenesia do pâncreas dorsal. Alguns meses depois, apresentou novo episódio de dor abdominal. Nova TC abdome revelou, além da agenesia do corpo/cauda, má rotação intestinal. US endoscópico (US-EDA) mostrou ausência de alterações no processo uncinado e cabeça, observando-se o corpo e a cauda do pâncreas com aspecto atrófico, sem pancreatite crônica. Ducto pancreático normal. Pancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) não realizada devido ao risco de pancreatite. Discussão: Agenesia do pâncreas dorsal é causa rara de malformação (53 casos/100 anos). Observação de familiares sugere herança autossômica dominante e pode existir associação com outras malformações. DM é visto em 53% dos casos. Dor abdominal é o sintoma mais comum. Pancreatite é vista em 30%. A maioria dos casos é diagnosticada por TC e/ou CPRE. US-EDA é um exame recente, menos invasivo e de boa acurácia. Neste paciente, o US-EDA identificou o corpo/cauda do pâncreas atróficos, o que não é descrito na literatura. O uso recente do US-EDA e poucos profissionais experientes no exame podem justificar essa discrepância. A atrofia do corpo/cauda pode se comportar como agenesia devido a seu diminuto tamanho. Essa hipótese diagnóstica deve ser feita quando diante de um paciente jovem, cuja evolução não se encaixe no DM2/DM1, fazendo diagnóstico diferencial com MODY pela possibilidade de herança autossômica dominante. Conclusão: Agenesia pancreática dorsal deve ser pensada em jovens DM com anomalia congênita associada ou com dor abdominal não explicada. CPRE é o padrão-ouro, mas o US-EDA pode ser alternativa. 75 DUAS MUTAÇÕES CAUSADORAS DE MODY 2 IDENTIFICADAS DURANTE INVESTIGAÇÃO DE BAIXA ESTATURA Caetano, L. A.¹; Jorge, A. A. L.¹; Malaquias, A. C.¹; Trarbach, E. B.¹; Queiroz, M. S.¹; Nery, M.¹; Teles, M. G.¹ ¹ Unidade de Endocrinologia Genética e Laboratório de Endocrinologia Molecular e Celular/LIM25, Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Maturity-onset diabetes of the young (MODY) é um tipo de diabetes monogênico, autossômico dominante, com início precoce de hiperglicemia e defeito na secreção de insulina. Já foram descritos 11 tipos de MODY, sendo os mais frequentes o 3 e o 2. O MODY 2 é associado a mutações no gene glucoquinase (GCK). Até o momento, poucas mutações foram identificadas nesse gene no Brasil. Relatamos dois casos encaminhados para investigação de baixa estatura (BE) e diagnosticados com MODY 2. Métodos: Relatos de caso: Caso 1: masculino, 14 anos, pré-púbere, com estatura de 130 cm (-3,5SD), peso de 25,5 kg, avaliado por atraso constitucional do crescimento e puberdade. No seguimento, foram verificadas alterações persistentes de glicemia de jejum (113-124 mg/dL) e aumento dos níveis de HbA1c (5,9-6,6%). Anticorpos anti-células β negativos. O teste de tolerância oral à glicose mostrou um aumento de 35 mg/dL na glicemia após 2h. Apresentava história familiar de hiperglicemia leve (pai e 2 irmãos). Foi identificada uma mutação missense em heterozigose no éxon 5 do gene GCK, c.571C > T (p.R191W) no probando e também nos 11 membros da família com glicemia elevada (do total de 19 membros rastreados). Caso 2: masculino, 4 anos, com 95 cm (-1,5 SD) e 15,8 kg, avaliado por baixa estatura. Os exames laboratoriais não mostravam alterações, exceto por glicemia elevada (118-123 mg/dL). Anticorpos anti-células β negativos. Seu pai, uma tia paterna e a avó paterna também apresentavam glicemia discretamente elevada, e sua mãe tinha glicemia normal. O sequenciamento do gene GCK identificou uma mutação missense em heterozigose no éxon 6, c.661G > A (p.E221K) no caso índice e também em todos os membros da família com hiperglicemia. Discussão: Embora a BE tenha sido o motivo inicial da avaliação, na literatura não há relato de associação entre MODY e BE, indicando que a hiperglicemia desses pacientes foi um achado incidental. Apesar de descritas em outras etnias, as mutações p.R191W e p.E221K nunca foram identificadas em famílias brasileiras. Conclusão: Como a identificação de mutações GCK em pacientes com hiperglicemia tem implicações no tratamento e prognóstico, o rastreamento de mutações deve ser considerado em pacientes com hiperglicemia crônica assintomática, de início precoce, com história familiar de glicemia elevada e anticorpos anti-células β negativos, como foi observado nesses pacientes investigados para baixa estatura. 76 EFEITO DA ACUPUNTURA SOBRE METABOLISMO LIPÍDICO E DE ÁCIDO ÚRICO EM PACIENTES DIABÉTICOS: RESULTADOS PARCIAIS Ribeiro, N. C.¹; Dias, C. R.¹; Barbosa, G. S.¹; Vasconcelos, E. B.¹; Magalhães, F. O.¹; Lopes, I. C. R.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Este trabalho tem por objetivo avaliar uma possível relação entre a realização de tratamento com acupuntura e os valores séricos de lípides e ácido úrico. Métodos: Após a aprovação pelo Comitê de Ética, no CAAE 0048.0.227.000-10, foram selecionados 6 pacientes diabéticos, em acompanhamento no ambulatório sem complicações crônicas graves e/ou incapacitantes, com controle glicêmico regular (hemoglobina glicada A1C ≥ 7,0 e < 8,5%), além de 1 paciente com síndrome metabólica. Foram realizadas 14 sessões de acupuntura, durante 12 semanas. No início e final do tratamento, os indivíduos foram avaliados do ponto de vista metabólico, com realização de exames laboratoriais: colesterol total (CT), LDL-colesterol (LDL), HDL-colesterol (HDL), triglicerídeos (TG), ácido úrico (AU). Todos mantiveram os antidiabéticos orais, outros medicamentos e dieta prescrita. Para análise estatística, utilizou-se o teste t de Student pareado, sendo S227 Diabetes Trabalhos Científicos Diabetes Trabalhos Científicos o nível de significância para os testes de a = 0,05. Os resultados são descritos em média ± EPM. Resultados: De acordo com os dados obtidos, não houve resultados estatisticamente significativos com relação à análise do perfil lipídico e ácido úrico. Os valores encontrados foram: CT inicial = 182,50 ± 21,08, CT final = 171,83 ± 27,70 (t = 0,589; p = 0,581); LDL inicial = 90,50 ± 26,19, LDL final = 84,33 ± 20,35 (t = 0,520; p = 0,626); TG inicial = 222,50 ± 107,94, TG final = 211,83 ± 68,98 (t = 0,273; p = 0,796); HDL inicial = 44,83 ± 8,08, HDL final = 47,00 ± 9,92 (t = 1,603, p = 0,170); AU inicial = 4,980 ± 2,38, AU final = 4,08 ± 1,97 (t = 2,271, p = 0,086). Discussão: Entre os pacientes participantes dessa etapa do estudo, todos apresentaram melhora dos níveis em relação ao perfil lipídico e de ácido úrico após serem submetidos a sessões de acupuntura. Sabe-se que, nas últimas três décadas, um incremento progressivo da pesquisa em acupuntura trouxe provas científicas dos seus mecanismos neurobiológicos e das suas aplicações clínicas. Não atingimos relevância estatística devido ao N, entretanto os pacientes envolvidos relataram melhora dos aspectos biopsicossociais, além da melhora laboratorial já exposta, o que fornece subsídio para continuação deste estudo. Conclusão: Embora não tenham sido encontrados resultados estatisticamente significativos, percebe-se uma redução nos níveis séricos de colesterol total, LDL, triglicérides e ácido úrico, e aumento de HDL, o que sugere o efeito benéfico da acupuntura no controle metabólico de pacientes portadores de DM2 e síndrome metabólica. 77 EFEITOS DA ACUPUNTURA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES DIABÉTICOS: RESULTADOS PARCIAIS Barbosa, G. S.¹; Ribeiro, N. C.¹; Vasconcelos, E. B.¹; Magalhães, F. O.¹; Lopes, I. C. R.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Verificar os efeitos da acupuntura na qualidade de vida de pacientes portadores de diabetes mellitus (DM) após 14 sessões de acupuntura. Métodos: O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, no CAAE 0048.0.227.000-10. Foram selecionados seis pacientes diabéticos sem complicações crônicas graves, com controle glicêmico regular e uma paciente portadora de síndrome metabólica, que, após assinatura do TCLE, foram submetidos a 14 sessões de acupuntura, durante 12 semanas. Foi realizado o teste de WHOQOL-BREF para avaliação da qualidade de vida em que foi avaliada a qualidade de vida geral e 4 parâmetros: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. As respostas seguem uma escala de Likert (de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida). Os dados foram analisados por meio do teste t de Student pareado, com nível de significância de 5%. Resultados: Após análise do questionário dos indivíduos diabéticos, obtivemos uma melhora significativa do domínio psicológico (2,86 vs. 3,24; t = 2,67, p = 0,044), e uma tendência à piora da autoavaliação geral (4,33 vs. 3,83; t = 2,24, p = 0,076). A paciente com síndrome metabólica apresentou melhora apenas em relação ao domínio físico (2,57 vs. 3,57). Discussão: A acupuntura tem propriedades que buscam o equilíbrio do corpo por meio de estímulos em pontos específicos ao longo de meridianos conhecidos. Alguns mecanismos de ação são comprovados pela medicina ocidental. Após as sessões de acupuntura, obtivemos dados que demonstram a diminuição do estresse, o qual representa fator desencadeante de inúmeras alterações sistêmicas que acarretam desequilíbrio metabólico, potencialmente prejudicial ao controle glicêmico a ser atingido pelo paciente portador de DM, o que demonstra que sua diminuição é benéfica. A maior parte dos pacientes relatou interesse na continuidade do projeto, pois houve melhora em S228 aspectos como: descontração, disposição, alegria, qualidade do sono, diminuição de sintomas álgicos e consequentemente do estresse. O quadro laboratorial mostrou diminuição da glicemia após as sessões de acupuntura. Este estudo demonstrou melhora da autoestima, sentimentos positivos, além de propiciar melhor convívio em ambiente familiar. Conclusão: Os pacientes acompanhados neste estudo demonstraram melhora na qualidade de vida em relação ao aspecto psicológico, o que, para o portador de DM, é extremamente relevante, uma vez que está relacionada a um controle glicêmico adequado. 78 EFEITOS DA CIRURGIA BARIÁTRICA (RYGB) NA MELHORA DA SECREÇÃO DE INSULINA E SENSIBILIDADE À INSULINA EM DIABÉTICOS OBESOS GRAU I Nascimento, A. C. F.¹; Lambert, G. S.¹; Hirsch, F. F.¹; Lima, M. O.¹; Pareja, J. C.¹; Chain, E.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (Limed), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Avaliar os efeitos da RYGB sobre controle glicêmico, sensibilidade à insulina e secreção de insulina em diabéticos IMC 30-35 kg/m². Métodos: Estudo prospectivo com seguimento de 1 ano com 36 pacientes DM2, IMC 30-35 kg/m², 24 pacientes em terapia insulínica, 12 em uso de antidiabéticos orais (ADOs). Todos com antiGAD negativo, peptídeo C > 1,2 ng/ml, HbA1c > 8%. Nos tempos pré-operatório, 3, 6 e 12 meses pós-operatórios foram avaliados com teste de refeição padrão de 180 minutos, dados antropométricos, avaliação de composição corporal com bioimpedância e testes bioquímicos. Todos submetidos ao bypass gástrico com reconstrução em Y-de-Roux. Resistência à insulina foi avaliada por meio do HOMA e por índices derivados de um teste de refeição padrão de 525 kcal: OGIS (oral glucose sensitivity index), ISI (índice de Matsuda) e MCR (metabolic clearance rate). A secreção de insulina foi medida pelo índice insulinogênico (IGI), que reflete a primeira fase de secreção de insulina, pela secreção de insulina e peptídeo C ajustados pela glicemia (AUC ins/AUCgli e AUC pepC/AUCgli) e pela secreção ajustada pelo grau de sensibilidade à insulina [disposition index (DI)]. Resultados: Após 1 ano de seguimento, os pacientes apresentaram redução do IMC de 32(0,3) para 25,1(0,32) kg/m², da glicemia de jejum média de 183,3(68,2) para 110,9(50,2) mg/dl, da HbA1c de 9(1,9) para 6,2(1,3) % com p. Conclusão: A cirurgia bariátrica (RYGB) é eficaz em melhorar a sensibilidade à insulina e a função de célula beta (secreção de insulina) em pacientes diabéticos obesos grau I, levando a um melhor controle e remissão do DM2 na maioria dos pacientes. 79 EFEITOS DE DIFERENTES DOSES DA INFUSÃO DE FRUTOS DE MOMORDICA CHARANTIA L. EM RATOS DIABÉTICOS ALOXANIZADOS Santos, F. B. G.¹; Silva, M. M. M. C.¹; Andrade, M. A. V.¹; Nazareth, A. F.¹; Vasconcelos, L. L. B.¹; Ferreira, R. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina de Barbacena (FUNJOB), Barbacena, MG, Brasil Objetivo: Verificar a interferência de três diferentes doses da infusão dos frutos de Momordica charantia (MC) sobre a glicemia de ratos diabetes aloxano-induzido, por meio da dosagem da glicemia inicial e final, e investigar a correlação entre o aumento da dosagem do extrato e a ocorrência de lesão hepática nos animais tratados, mediante dosagem da enzima alaninaminotransferase (ALT) e análise histopatológica de fígado e pâncreas dos ratos tratados. Métodos: Trinta ratos Trabalhos Científicos 80 ESCLEREDEMA DE BUSCHKE DE LOCALIZAÇÃO ATÍPICA: RELATO DE CASO Shiappacassa, A.¹; Bicudo, A. D.¹; Rocha, D. S.¹; Kupfer, R.¹; Kendler, D. B.¹ ¹ Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá (Unesa), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com diabetes mellitus com escleredema de Buschke. Métodos: Paciente 59 anos, sexo feminino, portadora de diabetes mellitus tipo 2 há 22 anos, em acompanhamento no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrionologia Luiz Capriglione há 17 anos, com má aderência ao tratamento desde o diagnóstico, atualmente em uso de metformina e glibenclamida (HBA1c de 5,5%). Em consulta de rotina, queixou-se de surgimento, há três meses, de placas eritêmato-infiltrativas, dolorosas, quentes, bem delimitadas e de consistência lenhosa inicialmente acometendo tornozelos e dorso dos pés, que ascenderam progressivamente até a raiz de ambas as coxas. Negou intercorrências infecciosas, febre, história recente de trauma, anorexia, perda ponderal ou outras queixas correlatas. Avaliação ginecológica e exames de imagem de tórax, abdome e pelve não evidenciaram neoplasias sólidas; o Doppler de membros inferiores não revelou sinais de trombose venosa profunda. Sorologias (HBV, HCV, herpes, CMV, toxoplasmose e HIV) negativas, hemograma e eletroforese de proteínas normais. Foi considerada a hipótese de escleredema de Buschke (EB) com localização atípica. Realizou-se biópsia da lesão, cujo laudo histopatológico revelou áreas de espessamento de feixes de fibras colágenas e reação inflamatória mononuclear perivascular. As colorações para ferro coloidal revelaram mucina entre os feixes de colágeno. A conduta proposta foi corticoterapia (prednisona 30 mg (0,5 mg/ kg/dia) e contole do perfil glicêmico. Houve melhora parcial da dor e do comprometimento cutâneo. Feita redução gradual da dose. Foi feito diagnóstico e instituído tratamento. Discussão: O EB é doença rara do tecido conjuntivo, do grupo das mucinoses. Grupo heterogêneo de desordens em que quantidade anormal de mucina é encontrada na pele. As lesões são bem definidas e de consistência lenhosa, geralmente localizadas no pescoço, nos ombros e no dorso, poupando a palma das mãos e plantas dos pés. É classificado em: Tipo 1, a forma clássica, em crianças e adultos jovens, geralmente precedida por infecção estreptoccócica, curso autolimitado; Tipo 2, curso insidioso e crônico, em adultos jovens, associado a doenças inflamatórias, em que se destacam paraproteinemias; Tipo 3, associado ao DM tipo 1 ou 2, normalmente com controle metabólico inadequado. Conclusão: Considerada doença rara, o EB acomete preferencialmente indivíduos do sexo masculino, com predileção por dorso, ombros, região cervical, membros superiores e face. Raramente acomete membros inferiores, mas pode ocorrer quando há envolvimento disseminado. Nossa paciente apresentou localização atípica da doença. 81 ESTADO NUTRICIONAL E DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE BARBACENA, MG Faria, G. B.¹; Saviotti, C.¹; Navarro, A. P. C. C.¹; Chevtchouk, L.¹; Pinel, S. C. M.¹; Jurno, M.¹; Fazito, D.¹ ¹ Associação de Diabéticos de Barbacena (Assodibar), Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Barbacena, MG, Brasil Objetivo: Avaliar o estado nutricional, com bases nos dados antropométricos, e a prevalência de diabetes mellitus em adolescentes de 10 a 15 anos de escolas públicas da cidade de Barbacena, MG. Métodos: Estudo de coorte transversal, com análise quantitativa de março a abril de 2011. O estado nutricional foi avaliado numa balança digital eletrônica e estatura/CA com fita métrica e a glicemia com uso glicosímetro. Foram analisados idade, sexo, IMC, CA e glicemia capilar. Para a prevalência de sobrepeso e/ou obesidade, foi empregada a definição de IMC ajustada pela idade e sexo do CDC 2000. Para CA, foi considerada obesidade central CA > p75. Para avaliar o diagnóstico de diabetes, utilizou valor de referência proposto pela ADA GCPP > 140 mg/dl. Resultados: Total de 288 alunos, sendo 152 meninos (58,78%) e 139 meninas (47,22%) com média de idade de 12,6 ± 1,3 anos. No total da amostra, a prevalência de sobrepeso foi em 36 (12,50%) e obesidade em 19 (6,60%). Para a prevalência de obesidade central, 199 (30,90%) encontravam-se acima do indicado para idade, sendo 87 (57,24%) meninos e 112 (82,35%) meninas. Houve uma associação significativa dessa variável em ambos os gêneros (p = 0,004). Já no diagnóstico de DM, 2 alunos (0,69%) tiveram a GCPP acima de 140 mg/dl. Houve associação significativa entre IMC, nas variáveis sobrepeso e obesidade, com obesidade central (p = 0,001). Não houve associação significativa do IMC (p = 0,27) e obesidade central (p = 0,88) com glicemia. Discussão: Os resultados encontrados mostram alta prevalência do ganho de peso em escolares, confirmando o aumento entre crianças brasileiras, principalmente da CA. Segundo dados do NHANES III, houve aumento da CA em 65,4% meninos e 69,4% meninas em comparação aos dados NHANES II. Fernandez et al., avaliando população pediátrica de 2 a 18 anos, demonstraram que a medida da CA varia de acordo com a etnia e a evolução puberal. Além disso, a velocidade de aumento da CA também ocorre quando há aumento do IMC. No estudo de Mariana et al., apontaram-se valores normais para a glicemia de jejum em adolescentes obesos. Conclusão: Considerando-se a probabilidade de que a obesidade da adolescência possa permanecer na vida adulta, é importante estratégias de prevenção e controle, ressaltando o papel da escola na implementação de programas educacionais visando à atividade física e aos hábitos alimentares adequados. 82 ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM RELAÇÃO À DOENÇA RENAL CRÔNICA Francisco, B. D. S.¹; Figueiredo, V. C. T. P.¹; Dias, C. R.¹; Andrade, L. C. C.¹; Louros, M. K.¹; Scalissi, N. M.¹; Salles, J. E. N.¹; Miorin, L. A.¹ ¹ Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Estratificar uma população de diabéticos em relação às diferentes fases da doença renal crônica (DRC). Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo realizado no Ambulatório de Especialidades da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com uma amostra de 224 prontuários de pacientes com DM tipo 2 com avaliação do controle glicêmico por meio de hemoglobina glicada e da S229 Diabetes foram separados em 5 grupos de 6 animais, sendo eles: controle sadio, diabético não tratado e outros três, compostos por animais diabéticos tratados com três diferentes doses de infusão aquosa de Momordica charantia. Utilizaram-se os testes de Scott-Knott e de Fischer para análise estatística dos resultados encontrados. Resultados: Houve menor aumento de glicemia no grupo tratado com MC a 10% e alterações hepáticas evidenciado na histopatologia e nos valores de ALT. Conclusão: Não foram demonstrados efeito hipoglicemiante e restauração celular na histologia do pâncreas. Os valores de ALT e a histopatologia do fígado não demonstraram lesão hepática importante nos grupos tratados com o fruto. Diabetes Trabalhos Científicos DRC por meio da fórmula de Cockroft-Gault, classificada em 5 fases: 1) ritmo de filtração glomerular (RFG) normal (> 90 ml/min), 2) leve, GFR entre 60 e 89 ml/min; 3) moderada, RFG entre 30 e 59 ml/min; 4) grave, RFG entre 15 e 29 ml/min; e 5) muito grave, RFG < 15 ml/ mim. A análise da média e desvio-padrão foi comparada com o teste t de Student. Resultados: Foram avaliados 224 prontuários, dos quais 50% apresentaram estágio 1 da DRC com média de glicemia glicada 8,35 mg/dl, 29,9% estágio 2 com 7,56 mg/dl, 15,6% estágio 3 com 7,82 mg/dl, 3,5% estágio 4 com 7,33 mg/dl e 0,8% em estágio 5 com 7,05 mg/dl. Discussão: O diabetes mellitus (DM) é uma das causas mais importantes de DRC, sendo responsável por aproximadamente 45% dos casos de terapia de substituição renal nos Estados Unidos. No Brasil, as causas mais frequentes de DRC são hipertensão arterial sistêmica (36%) e DM (26%). O controle da glicemia diminui o risco de doença renal, incluindo a microalbuminúria e a progressão para macroalbuminúria. A hemoglobina glicada ideal recomendada varia de 6,5% a 7%. A nefropatia diabética acomete cerca de 40% dos pacientes diabéticos e é a principal causa de insuficiência renal e ingressão em programas de diálise. O DM compensado é fundamental para evitar a evolução para nefropatia, por isso o interesse em relatar o controle glicêmico desses pacientes nas diferentes fases de DRC. Conclusão: Houve uma variação no controle glicêmico nas diferentes fases da DRC em pacientes com DM tipo 2, com prevalência dos estágios 1 e 2 e alteração glicêmica significativa nos estágios 1 e 3, revelando a importância do manuseio clínico com intuito de reduzir o impacto de complicações, como a nefropatia, na qualidade de vida desses pacientes. 83 FATORES AMBIENTAIS DETERMINANTES NO DESENCADEAMENTO DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 Brandao, C. D. G.¹; Hegner, C. C.¹; Silvia Rosi Loss, S. R.¹; Amâncio, L. N.¹; Magliano, A. C.¹ ¹ Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), Vitória, ES, Brasil Objetivo: Conhecer os fatores ambientais implicados no desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 1 (DM1) em crianças acompanhadas no Serviço de Endocrinologia da Santa Casa. Métodos: Estudo transversal de 33 crianças com diagnóstico de DM1, acompanhadas no Serviço de Endocrinologia no período de janeiro a julho de 2011, de ambos os sexos, idade abaixo de 18 anos, em que seus responsáveis foram submetidos a um questionário sobre fatores ambientais desencadeantes da doença. Foi realizada uma análise descritiva dos dados e alguns cruzamentos para avaliar as respostas do questionário. Foi utilizado o teste Qui-quadrado ao nível de significância 5% para variáveis bidimensionais e o pacote estatístico SPSS 18 para análise. Resultados: 33,33 das crianças tiveram aleitamento materno exclusivo até os 3 meses de vida, 45,45% foram amamentadas exclusivamente até os 6 meses, 15,15% por mais de seis meses e 6,06% não chegaram a ser amamentadas exclusivamente com o leite materno. Alimentos contendo glúten e nitrosaminas foram adicionados à dieta antes dos 6 meses, respectivamente, em 18,18% e 3,03% das crianças. Quando indagados quanto a um fator estressante passado antes do diagnóstico, 51,52% afirmaram ter sofrido algum tipo. Entre tais estresses, o mais prevalente foi o emocional. A maior parte das crianças (69,70%) não apresentou nenhuma doença que precedeu ao diagnóstico de DM1, enquanto 21,21% apresentaram outras enfermidades como pneumonia (n:1), asma (n:1) e varicela (n:5). Em relação à situação vacinal, as 33 crianças foram corretamente vacinadas contra Haemophilus influenzae tipo B, BCG e tríplice viral. Discussão: Os determinantes S230 ambientais na patogênese do DM1 são de extrema importância nos indivíduos geneticamente suscetíveis. Neste estudo, o estresse emocional foi o fator ambiental mais citado (51,52%) destacando-se os conflitos familiares, corroborando o que diz a literatura. Conclusão: DM1 resulta da interação de fatores genéticos e ambientais. O estresse é uma situação complexa e dinâmica, na qual a homeostase normal do meio interno é perturbada. Uma falência na resposta adequada ao estresse pode contribuir com a patogênese da doença. Porém, estamos diante de uma doença complexa e ainda não totalmente definida, o que dificulta uma intervenção mais específica e clinicamente eficaz. 84 FATORES ASSOCIADOS À REDUÇÃO DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR (TFG) OU PRESENÇA DE MICROALBUMINÚRIA ISOLADAS EM PACIENTES DIABÉTICOS Lima, J. G.¹; Souza, A. B. C.¹; Mesquita, D. J. T. M.¹; Fernandes, F. C.¹; Fernandes, K. M.¹; Figueiredo, L. S. G.¹; Nobrega, L. H. C.¹ ¹ Hospital Universitário Onofre Lopes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (HUOL/UFRN), Centro de Endocrinologia de Natal (CEN), Natal, RN, Brasil Objetivo: Determinar, em pacientes diabéticos, fatores que estejam associados à redução isolada na TFG ou à presença isolada de microalbuminúria. Métodos: Retrospectivamente foram estudados 226 pacientes diabéticos tipos 1 ou 2 no período de 2005 a 2010. Os pacientes foram divididos em dois grupos: Grupo 1 (n = 45) – presença de microalbuminúria e TFG > 90 ml/min/1,73 m² e Grupo 2 (n = 181) – ausência de microalbuminúria e TFG < 90 ml/min/1,73 m². Foram avaliados sexo, idade, IMC, perfil lipídico, hemoglobina glicada (HbA1c) e glicemia de jejum (GJ), comparando-as entre os grupos. Foram excluídos os pacientes em uso de medicações que pudessem alterar o curso da microalbuminúria (inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina). A TFG foi calculada utilizando o MDRD-IDMS. Resultados: A maioria da amostra foi do sexo feminino (56,2%), com médias de idade 61,1 ± 14,1 anos, duração do diabetes 7,1 ± 7,5 anos, IMC 27,8 ± 4,6 kg/m², creatinina 0,89 ± 0,17 mg/dl, GJ 121,7 ± 44,9 mg/dl, HbA1c 6,93% ± 1,59, colesterol total 185,0 ± 47,7 mg/dl, triglicerídeos 170,3 ± 132,8 mg/dl, HDL 45,2 ± 9,9 mg/dl e LDL 105,7 ± 37,9 mg/dl. A Tabela 1 mostra a comparação dessas variáveis nos dois grupos. Discussão: A microalbuminúria é a alteração mais precoce da nefropatia diabética, no entanto, em pacientes com a doença bem controlada e em determinados grupos específicos com mulheres mais idosas, a TFG pode ocorrer mais precocemente, relacionada provavelmente com o declínio natural da idade ou mesmo outras patologias como hipertensão, que são mais prevalentes em idades mais avançadas. Já no grupo de homens com pior controle glicêmico, a microalbuminúria foi a alteração renal mais precoce. Conclusão: A redução isolada na TFG foi associada com o sexo feminino e com uma idade mais avançada. Presença de microalbuminúria com TFG normal foi relacionada com pior controle glicêmico e, no grupo estudado, parece ser uma alteração característica do diabetes e não da idade mais avançada. 85 FATORES DE RISCO METABÓLICO E OBESIDADE EM MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL PRÉVIO Coutinho, M. A. P.¹; Macedo, E. A.¹; Costa, M. J. C.¹; Filizola, R. G.¹ ¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB, Brasil Objetivo: Verificar a frequência de diabetes, obesidade e síndrome metabólica em pacientes com diabetes mellitus (DM) gestacional prévio. Métodos: A população do estudo foi composta de 28 pacientes atendidas no Ambulatório de Endocrinologia Pré-Natal do Hospital Universitário Lauro Wanderley – Universidade Federal da Paraíba, no mínimo 6 meses após o parto. Foram realizadas as medidas antropométricas, solicitados exames bioquímicos e realizada a bioimpedância. Analisaram-se as frequências de obesidade, SM e DM. Analisaram-se as médias e os desvios-padrão por meio do teste t de Student não pareado no caso de variáveis quantitativas e teste Qui-quadrado para variáveis qualitativas. Resultados: As pacientes tiveram um peso médio de 70,4 ± 12 kg, IMC de 28 ± 4, glicemia de 115 ± 55 mg/dL, porcentagem de gordura na bioimpedância de 37,6 ± 5,4%. Média de 2,25 ± 1,3 fatores da síndrome metabólica, sendo a circunferência abdominal e um baixo HDL os mais frequentes (75% e 67% das pacientes, respectivamente). Das 28 pacientes estudadas, 78,5% estavam acima do peso, sendo 28,5% na faixa de obesidade. Doze pacientes (42%) se enquadraram nos critérios de síndrome metabólica. Quanto à prevalência de diabetes, 17 pacientes apresentaram um perfil glicêmico alterado, sendo 12 (42%) com pré-diabetes ( glicemia de jejum alterada ou intolerância à glicose oral) e 5 (18%) com diabetes franco. Quando comparamos a frequência de síndrome metabólica, observamos uma média de 0,8 ± 1,1 fatores de risco nas pacientes com peso normal e 2,6 ± 1 fatores de risco nas pacientes com peso aumentado ( p = 0,002). As pacientes diabéticas apresentaram, em média, 3,6 ± 1,1 fatores de risco, enquanto as pacientes sem diabetes apresentaram 1,9 ± 1,1 fatores de risco (p = 0,009). Discussão: Na população de mulheres que apresentaram DMG prévio, observamos uma frequência elevada de obesidade (28,5%), de pré-diabetes e diabetes (60%), bem como de síndrome metabólica (42%). Em sua maioria não faziam atividade física e nenhuma das pacientes que se enquadrava como DM estava fazendo tratamento. Conclusão: As pacientes com DM gestacional diagnosticadas previamente apresentaram altas frequências de diabetes, obesidade e síndrome metabólica. 86 HEMIBALISMO SECUNDÁRIO À HIPERGLICEMIA NÃO CETÓTICA: RELATO DE CASO Nakano, B. S. L.¹; Pereira, L. S. B.¹; Moma, C. A.¹; Tambascia, M. A.¹; Pavin, E. J.¹; Parisi, M. C. R.¹; Minicucci, W. J.¹ ¹ Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Relatar caso de hemibalismo (HB) secundário à hiperglicemia não cetótica (HNC) com dados clínicos, laboratoriais e radiológicos. Métodos: Revisão de prontuário. Resultados: Relato de caso: mulher, 54 anos, negra, hipertensa, há 7 dias com movimentos involuntários em membro superior D, diagnosticada com HB; Gli 478 mg/dL, HbA1c 15,9%, Osm. sérica 292 mOsm/L, sem emergência hiperglicêmica; tomografia computadorizada (TC) de crânio normal; avaliação neurológica descartou outras causas de HB. Resolução do quadro 24h após controle glicêmico com insulina. Negava diagnóstico prévio de diabetes (DM), mas perdeu 10 kg, sem “polis”; negava outras comorbidades ou história familiar semelhante, exceto mãe com DM. Seguimento ambulatorial em insulinização intensiva e, em seguida, com antidiabéticos orais, com bom controle. Não houve recorrência do HB. Com um mês de evolução, submetida à ressonância nuclear magnética (RNM) que não evidenciou alterações. Discussão: A primeira descrição de HB secundário a HNC foi de três casos do Johns Hopkins Hospital em 1982. No Brasil, há publicados três casos de São Paulo em 2007 e um caso do Paraná em 2010. HB é desordem rara caracterizada por movimentos involuntários de membros de um hemicorpo, secundária a lesões focais nos gânglios da base (GB) contralaterais e núcleo subtalâmico. Causas vasculares são as mais comuns. A segunda mais comum é a HNC, com HB precipitado por hiperglicemia. Predomina em mulheres, asiáticos, idade média 70 anos, com ou sem diagnóstico prévio de DM. Podem exibir hiperdensidade à TC e hiperintensidade em T1 à RNM em GB; em geral, reversíveis. A imagem pode ser normal e não é critério diagnóstico. O prognóstico é bom, com resolução com a euglicemia; raros persistem após controle glicêmico. A fisiopatologia não é bem estabelecida com muitos mecanismos propostos: infarto ou hemorragias petequiais nos GB, injúria por hiperviscosidade, depleção de GABA (ácido gama aminobutírico) e acetilcolina com a redução do sinal inibitório do globo pálido ao tálamo, hipersensibilidade de receptores dopaminérgicos. O caso teve evolução típica: mulher, evoluiu com HB em vigência de hiperglicemia e na ausência de outras causas e que, após controle glicêmico, teve resolução do HB. Diferente da maior parte dos casos descritos, não houve alteração radiológica, favorecendo a hipótese de distúrbio funcional. Conclusão: Ressaltamos o caso pela raridade e pela importância da avaliação glicêmica diante de quadros de HB e do diagnóstico diferencial entre HB secundário a HNC e a outras causas com necessidade de tratamento específico. 87 HIPERGLICEMIA AGUDA REDUZ O RELAXAMENTO VASCULAR EM CORAÇÕES ISOLADOS DE RATAS OVARIECTOMIZADAS Gonçalves, W. L. S.¹; Rodrigues, A. N.¹; Frasson, T. S.¹; Resende, R. S.¹; Gouvea, S. A.¹; Moyses, M. R.¹; Abreu, G. R.¹ ¹ Escola de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC), Colatina, ES; Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil Introdução: Relatos na literatura sugerem associação entre a hiperglicemia aguda (HG) e o aumento de eventos coronarianos em mulheres menopáusicas não diabéticas. Objetivo: Investigar os efeitos da HG na reatividade vascular coronariana de ratas intactas e ovariectomizadas. Métodos: Ratas Wistar adultas (250-275 g) foram distribuídas em dois grupos: Grupo SHAM (n = 16), cirurgia fictícia; Grupo OVX (n = 16) ovariectomia, cirurgia para retirada dos ovários. Após 30 dias de recuperação, as ratas foram decapitadas, os corações, retirados e a artéria aorta foi conectada ao equipamento para perfusão do leito coronariano pelo método de Langendorff. O fluxo coronariano foi mantido constante (10 ml/min.). Na perfusão basal, foi utilizada solução de Krebs modificada para mimetizar o estado de HG solução hipertônica de glicose (55 mM/L) e solução de ringer lactato (LACT, 33 mM/L) para controle da osmolaridade. A perfusão foi continuamente saturada com mistura carbogênica (95% O2 + 5% CO2) sob pressão controlada de 100 mmHg, e aquecida (37°C) com pH de 7.4. Foram registrados a frequência sinusal (FS), a pressão de perfusão coronariana (PPC) e o relaxamento vascular coronariano (rVC) avaliado por injeções do vasodilatador adenosina (Adn). Utilizou-se AVOVA duas vias, seguido do teste de Bonferroni com nível de significância de p < 0.05. Discussão: Os achados indicaram que, indiferentemente do estado hormonal feminino, a hiperglicemia aguda causou taquicardia sinusal e hipertensão coronariana em corações isolados de ratas. Mostrou também que, no grupo OVX, a hiperglicemia aguda causou maior atenuação do rVC. Esses achados evidenciaram o efeito vascular tóxico da glicose, além da participação dos hormônios femininos na modulação desse efeito da hiperglicemia, pois, no grupo SHAM durante a perfusão com ringer lactato, não ocorreu redução do rVC. Conclusão: A hiperglicemia aguda, independentemente da condição hormonal, causa taquicardia e hipertensão coronariana, contudo, associada à OVX, produz maior atenuação do rVC em corações isolados de ratas, elevando o risco para eventos coronarianos. S231 Diabetes Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 88 HIPERPLASIA DE ILHOTAS PANCREÁTICAS INDUZIDA POR EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE PLANTA DO CERRADO Magalhães, F. O.¹; Uber-Buceck, E.¹; Ceron, P. I. B.¹; Carlo, R. L.¹; Coelho, H. E.¹; Barbosa, C. H. G.¹; Carvalho, T. F.¹ Diabetes ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: O presente trabalho visa avaliar o potencial anti-hiperglicêmico e os efeitos no pâncreas em ratos tratados com o extrato hidroalcoólico, nas doses de 100 mg/kg e 200 mg/kg, da planta Plathymenia sp. Métodos: A indução do diabetes foi realizada por meio da administração de estreptozotocina (65 mg/kg) por via intraperitoneal. O diagnóstico do diabetes foi por intermédio da perda de peso associada e glicemia ≥ 200 mg/dL. Este trabalho foi realizado em uma amostragem de 75 ratos machos da linhagem Wistar, com peso entre 180 g e 220 g, os quais foram divididos em grupos: Controles Tratados-C100 e C200; Diabéticos Tratados-D100 e D200; Diabéticos não Tratados-DC; Controles não Tratados-CC; Diabéticos Tratados com Glibenclamida-DG e Controles Tratados com GlibenclamidaCG. Para o tratamento, foi utilizado o extrato nas dosagens de 100 e 200 mg/kg de peso, sendo realizada gavagem, por um período de 30 dias, sendo a glicemia e a medida de peso realizadas semanalmente. Aos resultados foram aplicados a análise estatística (ANOVA) e o teste Tukey-Kramer, e teste do Qui-quadrado, com nível de significância de 5%. Os resultados foram expressos em média ± EPM. Resultados: Houve, nos grupos controle, redução da glicemia, na segunda semana de tratamento (C100 80,80 ± 4,84 vs. CC102,60 ± 2,31 vs. C200 101,14 ± 8,41, p = 0,044). Na quarta semana, ocorreu redução dos níveis de glicemia nos grupos C100 e C200 (C100 74,331,31 vs. CC93,10 ± 3,61 e C200 74,83 ± 8, 41, p = 0,017). Nos grupos diabéticos, observa-se redução da glicemia na primeira semana (D100 239,50 ± 29,27 vs. DC 319,00 ± 43,85, p = 0,008), na terceira semana (D100 198,71 ± 65,27 vs. DC 428,00 ± 15,25, p = 0,010), e na quarta semana (D100 253,29 ± 47,37 vs. DC 443,22 ± 42,72, p = 0,024 e D200 219,00 ± 143,00, p = 0,024). Em relação às alterações anatomopatológicas pancreáticas, observa-se que ocorreu hiperplasia de ilhotas nos grupos C100 e D200. Observa-se, também, que houve presença de cistos pancreáticos nos grupos C200, D100, D200, CG E DG. Discussão: Plathymenia sp., planta do cerrado brasileiro, cujos componentes químicos são flavonoides e taninos, mostrou-se, durante o experimento, capacidade em reduzir os níveis glicêmicos dos animais, tanto na dosagem de 100 mg/kg como em 200 mg/kg, por meio da proteção pancreática, com hiperplasia de ilhotas. Conclusão: O experimento mostrou que o extrato hidroalcoólico de Plathymenia sp. reduz os níveis glicêmicos tanto nos animais controles como nos grupos diabéticos. Ocorre proteção do pâncreas com 200 mg/kg peso, o que não ocorre com a glibenclamida. 89 HIPOGLICEMIA EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E SEUS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS – HIPOFISITE E HIPOGLICEMIA FACTÍCIA Nascimento, P. P.¹; Santomauro Júnior, A. C.¹; Bomfim, O. C.¹; Alvarenga, T. C.¹; Nogueira, K. C.¹; Queiroz, M. S.¹; Nery, M.¹ ¹ Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: A partir de um relato de caso de hipoglicemia em um paciente portador de diabetes mellitus (DM), fazer uma revisão da literatura sobre os diagnósticos diferenciais dessa condição, dando ênfase às S232 hipóteses diagnósticas de hipofisite e hipoglicemias factícias. Métodos: Relato de caso. Resultados: Paciente de 31 anos, feminina, parda, com diagnóstico de DM tipo 1 e hipotireoidismo primário aos 16 anos de idade, com anticorpos antitireoidianos e anti-GAD positivos. Após gestação, refere início de vários episódios de hipoglicemias graves e assintomáticas, com redução progressiva das doses de insulina, em uso atual de apenas 0,08 unidade de insulina/kg. Nega letargia, tontura, cefaleia, alterações visuais, poliúria, polidipsia, uso de corticoides, traumas, doenças inflamatórias ou infecciosas. Duas gestações sem intercorrências, tendo amamentado por dois anos. Ciclos menstruais regulares. Sem alterações no exame físico, IMC 27,7 kg/m². Realizado dosagem de cortisol basal de 3,8 (5-25 µg/dL) e ACTH de 5 (18 µg/dL). Durante internação, paciente necessitou de altas doses de insulina para controle glicêmico, não apresentando nenhuma hipoglicemia. Após avaliação psicológica e exclusão da deficiência de ACTH pelo teste da cortrosina, a principal hipótese diagnóstica foi a de hipoglicemias factícias induzidas pela aplicação exógena de insulina. Discussão: O diagnóstico de hipoglicemias em paciente com DM pode ser desafiador, sendo necessário investigar a integridade do eixo corticotrófico e somatotrófico, lembrando que deficiência isolada de ACTH nos faz pensar no diagnóstico de hipofisite. E, após excluir causas orgânicas para a hipoglicemia, é necessária uma avaliação psicológica minuciosa buscando o diagnóstico de distúrbio factício. Conclusão: Este caso ilustra paciente DM tipo 1 em uso de insulinoterapia com hipoglicemias de repetição. Nessa situação, o uso indevido ou até malicioso de doses erradas de insulina deve ser lembrado sempre. Causas orgânicas devem ser suspeitadas pela história clínica e descartadas antes de confirmado o diagnóstico de hipoglicemia factícia. 90 IMPACTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL SOBRE O CONTROLE METABÓLICO NO DIABETES MELLITUS DO TIPO 2 Magalhães, R. M. C.¹; Fernandes, L. F. M. C.¹; Amante, B. M.¹; Sá, G. V.¹; Barbosa, S. R.¹; Lima, J. R. L.¹; Castro, A. P. A.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: O treinamento físico (TF) constitui ferramenta indispensável para o controle metabólico adequado do diabetes mellitus, todavia, a adesão à prática de exercício físico nesta população ainda é baixa. Posicionamentos recentes aconselham que o aumento no nível da atividade física habitual (AFH) pode ser suficiente para melhorar parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes diabéticos. O objetivo do presente estudo é investigar o impacto do nível de AFH sobre parâmetros metabólicos e antropométricos de portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Métodos: Participaram do estudo indivíduos atendidos em Ambulatório Multidisciplinar de Atenção ao Diabetes Mellitus, por ocasião do primeiro atendimento com a equipe de educadores físicos. Os pacientes foram divididos em dois grupos, conforme o escore mediano de AFH obtido a partir do questionário proposto por Baecke et al. (1982) em: grupo 1, alto nível de AFH e grupo 2, baixo nível de AFH. Os dados antropométricos e de exames laboratoriais foram registrados e utilizados para comparação entre os grupos. Resultados: Foram avaliados 30 indivíduos, de ambos os sexos, sendo 70% do sexo feminino. Os resultados dos dados antropométricos e bioquímicos encontram-se descritos em valores de média ± desvio-padrão, conforme apresentado na tabela. O teste t de Student para amostras independentes foi aplicado para detectar possíveis diferenças entre os grupos. *: diferença estatisticamente significativa (p ≤ 0,05). Discussão: Observou-se que o controle glicêmico foi melhor em indivíduos com alto nível de atividades do cotidiano. Embora a literatura aponte que os efeitos metabólicos do TF sejam superiores aos da AFH, os resultados do presente estudo apontam que maior nível de AFH pode repercutir positivamente nos parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes diabéticos, corroborando as recomendações institucionais (American College of Sports Medicine/American Diabetes Association, 2010). Conclusão: O aconselhamento para aumento do nível de AFH parece ser uma abordagem eficiente para melhora do controle metabólico com indivíduos com DM2. 91 IMPACTO DO POLIMORFISMO +9/-9 DO GENE DO RECEPTOR B2 DA BRADICININA NA GLICEMIA DE JEJUM E NO RISCO PARA DIABETES MELLITUS Alvim, R. O.¹; Santos, P. C. J. L.¹; Neto, R. M. N.¹; Machado-Coelho, G. L.¹; Krieger, J. E.¹; Pereira, A. C.¹ ¹ Instituto do Coração, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: A bradicinina, por intermédio do seu receptor B2, vem sendo implicada em vias do metabolismo glicídico como: captação de glicose e sensibilidade à insulina. Adicionalmente, estudos genéticos têm demonstrado que o genótipo -9/-9 do polimorfismo +9/-9 do gene BDKRB2 está associado à maior expressão do receptor B2. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar os níveis de glicose de jejum e o risco para diabetes mellitus de acordo com o polimorfismo BDKRB2 +9/-9. Métodos: Foram elegíveis 1.053 indivíduos de uma amostra representativa da população brasileira (43,0 ± 14,3 anos; IMC 26,9 ± 5,1 kg/m²) e, posteriormente, genotipados para o polimorfismo BDKRB2 +9/-9 (genótipos +9/+9 e +9/-9, n = 845; genótipo -9/-9, n = 208) por intermédio da técnica de PCR-RFLP. A glicemia de jejum foi dosada por meio do método capilar point-of-care (Roche Diagnostics, Accu-Check). Foram classificados como diabéticos os indivíduos com diagnóstico prévio ou em uso de medicação hipoglicemiante. A análise do risco foi realizada pela determinação da odds ratio (OR). Resultados: Indivíduos portadores dos genótipos +9/-9 e +9/+9 apresentaram maiores valores de glicemia de jejum e frequência de diabetes mellitus (84,6 ± 28,0 mg/dL e 7,6%) quando comparados aos portadores do genótipo -9/-9 (79,7 ± 21,8 mg/dL e 3,6%) (p = 0,03 e p = 0,03, respectivamente). Além disso, os portadores dos genótipos +9/-9 e +9/+9 apresentaram risco de 2,44 vezes maior para o diabetes mellitus em comparação aos portadores do genótipo -9/-9 (IC 95% = 1,13-5,27; p = 0,02). Contudo, os dados antropométricos (IMC e circunferência abdominal) e os metabólicos (triglicérides, colesterol total e frações) não foram diferentes entre os grupos genotípicos. Conclusão: O polimorfismo BDKRB2 +9/-9 foi associado ao fenótipo de glicemia de jejum e ao risco para diabetes mellitus. Essa associação genética, embora exploratória, pode gerar hipóteses a serem testadas em estudos controlados no cenário da homeostase da glicose e da suscetibilidade às doenças cardiovasculares. 92 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL VERSUS ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL: QUAL DOS DOIS APRESENTA MAIOR RELAÇÃO COM O DIABETES MELLITUS TIPO 2? Oliveira, C. M.¹; Mourão-Júnior, C. A.²; Alvim, R. O.¹; Krieger, J. E.¹; Pereira, A. C.¹ ¹ Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular (InCor-HC-FMUSP), São Paulo, SP; ² Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Levando-se em consideração a falta de estudos comparando os métodos índice de massa corpórea (IMC) e índice de adiposidade corporal (IAC), e a forte associação entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o presente estudo tem como objetivo comparar o IMC e o IAC, avaliando sua relação com o DM2. Métodos: Foram estudados 1.701 indivíduos do “Projeto Corações de Baependi” (43,2% do sexo masculino; idade = 44,2 ± 17,0 anos; 7,6% de diabéticos; 12,9% de obesos classificados pelo IMC; 25,2% de obesos classificados pelo IAC). Foram classificados como diabéticos os indivíduos com glicemia de jejum > 126 mg/dL ou uso de hipoglicemiantes. Foram classificados como obesos os indivíduos com IMC > 29,9 e IAC > 25 para os homens e > 38 para as mulheres. O IMC foi calculado dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). O IAC foi calculado dividindo-se a circunferência do quadril (em cm) pelo produto da altura (em cm) pela raiz quadrada da altura, menos 18. O odds ratio (OR) foi obtido por regressão logística, com controle das variáveis sexo e idade. Resultados: Os 130 indivíduos diabéticos apresentaram maiores valores do IMC (27,4 ± 5,6 vs. 24,2 ± 4,6. Discussão: A obesidade é um dos principais fatores de risco para o DM2. O método mais utilizado para classificar a obesidade é o cálculo do IMC. Recentemente o IAC, que leva em consideração a circunferência do quadril e a altura, também tem sido apontado como um método promissor para a classificação da obesidade. Nossos dados revelaram que, entre indivíduos diabéticos, tanto IAC quanto IMC apresentaram valores mais elevados quando comparados à população não diabética, e o IMC apresentou maior correlação com a presença dessa doença quando comparado com o IAC. Conclusão: Os indivíduos portadores de DM2 apresentaram maiores valores de IMC e IAC em comparação aos não diabéticos. Em nosso estudo, o IMC apresentou uma maior relação com o DM2, quando comparado com o IAC. 93 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO COM METFORMINA SOBRE A RESISTÊNCIA INSULÍNICA INDUZIDA PELA DEXAMETASONA EM RATOS WISTAR Sousa, M. R. S.¹; Dantas, J. F.¹; Sousa, J.¹; Costa, S. B. A.¹; Branco, R.¹; Santos, P. N. C.¹; Martins, R. L. R.¹ ¹ Universidade do Estado do Pará (UEPA), Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), Santarém, PA, Brasil Objetivo: Avaliar o perfil glicêmico e lipídico dos animais resistentes à insulina induzidos pela dexametasona e/ou tratados com metformina. Métodos: Foram utilizados três grupos compostos por 10 animais cada, sendo um controle (CONT), um tratado com dexametasona (DEXA) na dose 0,1 mg/kg e um grupo tratado com DEXA mais metformina na dose 850 mg/kg (DEXA+ MET), simultaneamente. Em seguida, foram avaliados o perfil glicêmico e lipídico dos animais e comparados entre si. Resultados: Ao final do estudo, foi possível detectar aumento da glicemia e triglicerídeos do grupo DEXA e redução, desses mesmos parâmetros, no grupo DEXA+MET. Discussão: Houve aumento significante nas taxas glicêmicas dos animais DEXA (194,8 ± 10,43 mg/dL) quando comparamos ao grupo CONT (142,8 ± 5.910 mg/dl). Segundo Guyton e Hall (2006), um dos efeitos dos corticoides é a alteração do metabolismo dos carboidratos, de modo que há aumento do estímulo da gliconeogênese pelo fígado e redução da utilização celular de glicose. Tais efeitos também foram observados em estudos realizados por Novelli et al. (1999); Barbera et al. (2001); Santos, Rafacho e Bosqueiro (2007). Apesar de não ter sido significante a redução da glicemia dos ratos do grupo DEXA+MET (174,6 ± 12,71 mg/dl), a metformina foi capaz de reduzir a glicemia dos ratos tratados com dexametasona. Isso se deve a um dos efeitos da metformina, como estímulo da atividade quinase dos receptores de insulina, melhora da atividade das enzimas envolvidas na cascata de S233 Diabetes Trabalhos Científicos Diabetes Trabalhos Científicos sinalização intracelular da insulina, aumentando o transporte da proteína GLUT-4 na membrana celular (Hermann, Wiernsperger, 2002). Tais resultados corroboram com os estudos de Ferreira et al. (2009) e Gonçalves et al. (2006). Conclusão: O tratamento com glicocorticoides sintéticos, quando em doses elevadas e por tempo maior que o necessário, pode levar a alterações metabólicas, tais como aumento do perfil glicêmico e lipídico, podendo aumentar o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. Com o tratamento da metformina foi possível observar que há uma reversão do quadro lipídico e glicêmico quando estes estão elevados, demonstrando agir nesse modelo experimental de intolerância à glicose e dislipidemia (Boyle, Mckay, Fisher, 2010; Angelucci et al., 2008). 94 LADA E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO Correa, M. V.¹; Maia, C. P.¹; Tonet, C.¹; Costa, G. R. G.¹; Mansur, V. A. R.¹; Cabizuca, C. A.¹; Oliveira, A. M. N.¹ ¹ Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE-RJ), Instituto de PósGraduação Médica Carlos Chagas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar um caso de LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) diagnosticado após gestação. Métodos: Relato de caso e revisão sobre LADA. Resultados: Mulher de 31 anos, branca, natural do Rio de Janeiro, diagnóstico de diabetes mellitus (DM) aos 21 anos (3 anos após sua primeira gestação), com astenia e glicemia > 400 mg/dL. Usava sulfonilureia e metformina, sem controle glicêmico adequado. No primeiro trimestre da segunda gestação, iniciou acompanhamento no ambulatório de endocrinologia gestacional do HFSE-RJ, sendo prescrita insulina (dose: 0,48UI/kg/dia). Não há outras comorbidades. História gestacional: G2P1A0 (1o filho: parto vaginal, a termo, peso = 4.150 g). História familiar: avós maternos e paternos diabéticos. IMC 19,8 kg/m² (peso: 60 kg) e HbA1c 8,1%, no início da gestação. Exame físico: normal. Sem complicações crônicas do diabetes, evoluiu com melhor controle glicêmico após insulinização. No final da gestação, a necessidade de insulina era 1,77 UI/ kg/dia e o índice de massa corporal (IMC) 25,76 kg/m² (peso: 78 kg). O parto foi cesáreo na 37ª semana e o peso fetal, de 3.175 g, sem hipoglicemia. Amamentou até o sexto mês. Após a gestação, a paciente usava 0,53UI/kg de insulina. IMC pós-gestação: 21,30 kg/ m² (peso: 64,5 kg). Foram incluídas dosagens de peptídeo C: 0,2 ng/ mL (0,9-7,1) e anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico (AntiGAD): 203,8UI/mL (reativo > 20) para investigação da etiologia do DM. Discussão: Devido ao lento e progressivo declínio da função das células betapancreáticas, semelhante a do DM tipo 2, porém associado aos baixos valores do peptídeo C e positividade do acAnti-GAD, a paciente foi classificada como portadora de LADA, por isso foi mantida a insulinoterapia no pós-parto. O LADA pode ocorrer em cerca de 10% dos pacientes com fenótipo de diabetes mellitus tipo 2. Assim como outras formas de DM, pacientes portadores de LADA necessitam de rastreamento para complicações micro e macrovasculares. O caso relatado ilustra a necessidade do diagnóstico precoce de LADA, pois o uso de sulfonilureia e o retardo na insulinização podem levar a aceleração da falência das células betapancreáticas e maior risco de cetoacidose. Conclusão: Pela oportunidade de mudanças positivas na evolução do paciente portador de LADA, no que diz respeito a complicações agudas e crônicas, é preciso considerar esse diagnóstico, principalmente em pacientes adultos com diagnóstico precoce de diabetes. Devemos, ainda, rastrear mulheres que desenvolvem diabetes gestacional sem fatores de risco. S234 95 MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE EM 42 ATLETAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1) DURANTE CORRIDA DE 18 KM Lamounier, R. N.¹; Mendes, G. L. C.¹; Silva, M. G.¹; Pereira, W. V. C.¹; Cordeiro, L. H. L.¹; Miranda, M. L.¹; Giannella-Neto, D.¹ ¹ Centro de Diabetes de Belo Horizonte, Hospital Mater Dei, Hospital das Clínicas, Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Exercício físico regular é importante para pessoas com diabetes mellitus tipo 1 (DM1), mas pode predispor à variação glicêmica e hipoglicemia. O Projeto “Volta Monitorada de BH” objetiva preparar portadores de DM1 para participar de corridas de rua. Este estudo avaliou o perfil glicêmico por meio da monitoração contínua de glicose (MCG) em corrida de 18 km. Métodos: Quarenta e dois atletas realizaram a prova com MCG, em Belo Horizonte. De acordo com o tratamento, foram divididos em 3 grupos: bomba de infusão de insulina subcutânea contínua (BIISC, n = 10); análogos basais (AB, n = 22); NPH (n = 10), todos em insulinoterapia intensiva. Dependendo da velocidade na prova, foram divididos em alta (AP) ou baixa performance (BP), se acima ou abaixo da mediana da velocidade (MV). Leituras de MCG foram feitas 24h antes e 36h após a corrida. Glicemia capilar (GC) foi medida no início, meio e fim da prova. A exposição a níveis altos e baixos de glicose e variabilidade glicêmica foi acessada pelo coeficiente de variação (CV). Resultados: A idade média foi 28,8 ± 8,2 anos e tempo da corrida foi 139 ± 29,4 min. MV foi 8,03 (5,48-11,87 km/h). Média de A1c foi 7,84 ± 1,34% (similar entre os grupos). Foram monitorados por 4.333,2 ± 108,8 min, com 866,64 ± 339,25 leituras cada um. Valor médio MCG foi 150,7 ± 21,6 mg/ dL, semelhante entre grupos de tratamento, bem como exposição a hipo e hiperglicemia com 32,4 ± 37,6 leituras < 54 mg/dL e 474,24 ± 206,44 > 200 mg/dL. A redução da GC após 9 km, em relação ao início da prova, foi maior entre BIISC em comparação com AB (55,4 ± 25,4% vs. 16,1 ± 46,1%, p = 0,01). O grupo AP (10,68 km/h) teve glicemias menores que o BP (6,80 km/h); mediana: 140,7 vs. 158,28 mg/dL, p = 0,03; bem como menor CV (0,39 vs. 0,50, p < 0,01). Discussão: O CV foi similar entre os diferentes tipos de tratamento. Conclusão: Neste estudo, com atletas com DM1, o melhor preparo físico foi relacionado a melhor controle da glicose e menor CV, independentemente do tratamento, similarmente, aqueles com menor A1c prévia, apresentaram melhor rendimento físico. 96 NESIDIOBLASTOSE: RELATO DE CASO Bicudo, A. N.¹; Lalli, C. A.¹ ¹ Hospital Centro Médico de Campinas (HCMC), Campinas, SP, Brasil Introdução: A nesidioblastose é uma doença rara que se manifesta por múltiplos episódios de hipoglicemia, podendo levar à morte. Objetivo: Este estudo teve como objetivo relatar um caso da doença. Métodos: NPC, 36 anos, procurou atendimento médico com história de episódios de hipoglicemia iniciados há oito meses, a princípio duas vezes por semana e, posteriormente, chegando a três vezes ao dia no último mês. Foi internada e submetida a exames que mostraram hiperinsulinismo endógeno. Foram realizadas tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética do abdome, com resultado normal, e ecoendoscopia que evidenciou lesão hipoecogênica em cauda do pâncreas, suspeita de insulinoma. Foi optado pela realização de pancreatectomia corpo-caudal, com esplenectomia. O exame anatomopatológico evidenciou aumento do número de ilhotas de Langerhans Trabalhos Científicos 97 NOVA ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTOANTICORPOS CONTRA O TRANSPORTADOR DE ZINCO 8 E O POLIMORFISMO DO GENE PTPN22 EM UMA POPULAÇÃO MULTIÉTNICA DE PACI Araújo, D. B.¹; Laudier, A. A.¹; Dantas, J. R.¹; Kupfer, R.¹; Milech, A.¹; Rodacki, M.¹; Zajdenverg, L.¹; Oliveira, J. E. P.¹ ¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivos: Avaliar a frequência das variantes dos anticorpos antiZnT8 - ZnT8-arginina (anti-ZnT8R), ZnT8 Triptofano (anti-ZnT8W) e ZnT8 glutamina (anti-ZnT8Q)- em uma população multiétnica de pacientes com DM1 e seus familiares de primeiro grau (FPG) 2) e a associação entre o anti-ZnT8 e os polimorfismos do gene da Insulina (INS) e do gene da proteína tirosina fosfatase não-receptor 22 (PTPN22). Métodos: Foram realizadas dosagens das variantes (RWQ) do anti-ZnT8 no soro de pacientes com DM1 (n = 72) e de seus FPG (N = 78). O ensaio utilizado foi o RBA (radioligand binding assay). Em seguida, a positividade do anti-ZnT8 para cada variante (anti-ZnT8R, anti-ZnT8W e anti-ZnT8Q) foi analisada separadamente com um ensaio padrão (RBA). Realizada extração de DNA leucocitário para genotipagem por SNP dos genes INS e PTPN22 com PCR em tempo real (polimorfismo -23 Hphl rs689 e R620W rs 2476601, respectivamente). Análise estatística por meio do programa SPSS 17.0 para Windows utilizando o teste do Qui-Quadrado para a comparação entre grupos e Man-Whitney para a comparação das variáveis contínuas, sendo p ≤ 0,05 considerado significativo. Resultados: Foram incluídos 72 pacientes, com idade de 30,3 ± 11,4 anos, sendo 49 do sexo feminino (68%) e 41 (57%) considerados não brancos. Já os FPG (n = 78) tinham uma idade média de 18,3 ± 9,1 anos, sendo 57,7% do sexo feminino e 60,3% não brancos. O anticorpo anti-ZnT8R foi detectado em 23% (n = 17) dos indivíduos com DM1 e em 4% (n = 3) dos FPG. Discussão: Recentemente, o anticorpo antitransportador de Zinco (anti-ZnT8) tem demonstrado ser um dos marcadores preditivos de risco para o desenvolvimento do DM1 em populações caucasianas, porém ainda com um papel pouco conhecido em populações multiétnicas. Conclusão: Este estudo evidenciou diferenças significativas na frequência e nos títulos de anti-ZnT8 em uma população multiétnica de pacientes com DM1 e seus FPG. A variante R foi a mais prevalente em nossa população. O anti-ZnT8R apresentou associação positiva com o polimorfismo do PTPN22 nos pacientes com DM1. 98 RELAÇÃO ENTRE GLICEMIA CASUAL E ATIVIDADE FÍSICA DE PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS Francescantonio, I. C. M.¹; Rezende, K. N.¹; Borges, A. L. F.¹; Castro, M. A.¹; Curado, J. A. C.¹; Cruvinel, W. M.¹; Miranda, T. M. T.¹; Francescantonio, I. C. C. M.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: O presente estudo se propõe a investigar a associação entre atividade física e glicemia casual em indivíduos residentes em GoiâniaGoiás, atendidos em eventos de extensão, em 2011. Métodos: Após aprovação no Comitê de Ética, foi realizado um estudo transversal com 469 pacientes, 65,2% mulheres e 34,8% homens, com idades entre 18 e 83 anos. As variáveis mensuradas foram: sexo, idade, glicemia casual, prática de atividade física, frequência e período das atividades. Os pacientes foram agrupados em 3 grupos: Sedentário (não pratica atividade física), Atividade Física Ocasional (< 30 minutos/sessão de atividades < 5 dias/semana; < 60 minutos/sessão de atividade < 3 dias/semana) e Atividade Física Regular (≥ 30 minutos/sessão de atividades ≥ 5 dias/semana; ≥ 60 minutos/sessão de atividade ≥ 3 dias/ semana). Os dados foram tabulados em planilha do programa Microsoft® Excel 2007 e analisados por testes de porcentagem. Resultados: No sexo feminino, a média das glicemias das pacientes que não praticam atividade física foi 97,8 mg/dL, já para as que praticam foi 97,3 mg/dL, das pacientes com glicemia casual > 200 mg/dL, 50% eram sedentárias, 16,7% das mulheres praticavam atividade física ocasional e 33,4% praticavam atividade física regular. No gênero masculino, a média das glicemias dos pacientes que não fazem atividade física foi 111,3 mg/dL, já para os que fazem foi 99,7 mg/dL, dos pacientes com glicemia casual > 200 mg/dL,75% eram sedentários, 12,5% praticavam atividade física ocasional e 12,5% praticavam atividade física regular. Discussão: Observamos, em ambos os gêneros, a maior média das glicemias casuais nos grupos que não praticam atividade física. Entre os pacientes com glicemia casual > 200 mg/dL, os sedentários representam a maioria. Os resultados ratificam a teoria de que a atividade física tem benefícios a curto prazo, por meio do aumento do consumo de glicose como combustível por parte do músculo em atividade, e a médio e longo prazo contribui para diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular, aumentado no paciente portador de diabetes. Conclusão: Considerando a tendência a diabetes mellitus no Brasil, incluindo a população goiana demonstrada por esse estudo, e sua associação com outras doenças, intervenções na população visando estimular a prática de atividade física são de extrema importância para a prevenção e o controle de doenças cardiovasculares. 99 PARÂMETROS DA SÍNDROME METABÓLICA EM INDIVÍDUOS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 Veloso, F. L. M.¹; Mota, G. R.¹; Rodrigues, G. L.¹; Dutra, A. S. S.¹; Lanna, C. M. M.¹; Costa, M. B.¹; Ferreira, L. V.¹ ¹ Fundação Imepen, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Introdução: O agrupamento dos transtornos característicos da síndrome metabólica (SM) implica elevado risco cardiovascular. Objetivo: Conhecer o impacto do tratamento no controle de parâmetros diagnósticos de SM em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Métodos: Foram avaliados pacientes acompanhados em Ambulatório de Atenção a Diabéticos de alto risco. Foram comparados dados demográficos, clínicos e laboratoriais obtidos por ocasião da admissão e após 12 meses de acompanhamento no serviço. Resultados: Foram estudados 117 indivíduos, com idade de 59,3 ± 12,10 anos, sendo 72 (68,3%) do S235 Diabetes com hiperplasia das células endócrinas, sendo feito o diagnóstico de nesidioblastose. Voltou a apresentar hipoglicemia três meses após a cirurgia e procurou atendimento ambulatorial, tendo feito cintilografia com captação de octreotide (99mTc), sem evidência de lesões. Durante episódio de hipoglicemia grave, foi internada e realizados exames, mantendo hiperinsulinismo. Foi iniciado octreotide subcutâneo, com melhora do controle glicêmico. Foi optado por nova pancreatectomia, permanecendo pequena parte do órgão, não apresentando novos episódios de hipoglicemia. Conclusão: A hipoglicemia, caracterizada clinicamente pela “tríade de Whipple”, constitui uma doença com extrema importância clínica, dado o risco de óbito e de lesões neurológicas. Excetuando os pacientes diabéticos, é uma doença extremamente rara, que necessita de investigação. A nesidioblastose, descrita por Laidlaw em 1936, é caracterizada pela hiperplasia das células betapancreáticas, causando secreção aumentada de insulina. É mais comum na infância. Pode ser focal (40% dos casos) ou difusa. Existem diversas formas clínicas de apresentação da doença, podendo causar desde hipoglicemia leve até lesão cerebral e morte. Diabetes Trabalhos Científicos sexo feminino. O tempo de diagnóstico de DM2 foi 11 ± 8,0 anos. A prevalência de SM permaneceu inalterada durante o período de acompanhamento, sendo de 73,6%, na admissão e 72,6%, após um ano de acompanhamento (p = 0,97). Em relação à adesão à dieta e à prática regular de atividade física, o número de indivíduos que modificaram o estilo de vida também permaneceu inalterado. Os resultados da avaliação clínico-laboratorial podem ser vistos na tabela. Discussão: A prevalência de SM na população estudada foi superior àquela descrita em outros estudos, possivelmente por se tratar de um centro de tratamento de DM2 de difícil controle e elevado risco cardiovascular. A melhora do controle metabólico teve impacto favorável sobre os parâmetros laboratoriais relacionados à SM, conforme descrito em outros estudos. Os marcadores de obesidade não se modificaram significativamente, refletindo a não adesão às orientações de mudança de estilo de vida e sendo, possivelmente, uma das causas de não se observarem modificações na prevalência da SM após um ano de tratamento. Conclusão: A despeito da não adesão ao tratamento não farmacológico, após acompanhamento especializado, houve melhora no controle glicêmico e no perfil lipídico sugerindo que a intensificação do tratamento do DM2 produz resultados favoráveis na prevenção da doença macrovascular. 100 PERFIL DE RISCO PARA EVENTOS CARDIOVASCULARES EM DIABÉTICOS TIPO 2 ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DO AMBULATÓRIO ARAÚJO LIMA, MANAUS Buemerad, J. R.¹; Gonzalez, T. G. S.¹; Carvalho, O. A. O.¹; Aranha, A. B.¹; Coceiro, K. N.¹; Costa, M. C. T.¹; Gomes, L. S.¹; Jezini, D. L.¹ ¹ Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Manaus, AM, Brasil Objetivo: Caracterizar o perfil de risco para eventos cardiovasculares de diabéticos tipo 2 atendidos no Serviço de Endocrinologia do Ambulatório Araújo Lima, em Manaus, AM. Métodos: Estudo descritivo transversal retrospectivo com base na revisão de prontuários de 181 pacientes diabéticos atendidos no período de abril de 2009 a abril de 2011. Resultados: Dos prontuários analisados, a média da idade encontrada foi 57,42 anos, sendo a maioria mulheres (72,38%), 59,12% portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS), 26,52% apresentavam dislipidemia, entre os quais 27,78% eram por hipercolesterolemia (> 200 mg/dl), 44,44% por redução no HDL (70 mg/dl) e 30% por hipertrigliceridemia (> 150 mg/dl). A média da glicemia foi de 155,64 mg/dl e 25,96% dos pacientes apresentaram hemoglobina glicada (HbA1c) entre 7,0% e 8,5%. O índice de massa corporal (IMC) predominante foi de sobrepeso (38,12%), e circunferência abdominal (CA) média foi de 102,36 cm; da totalidade, 26,52% relatavam cumprir dieta e 41,99% exercer atividade física regular, 5,52% eram tabagistas, 4,97% etilistas. O diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) foi 33,7% há menos de 5 anos; 61,33% relatavam história familiar positiva para DM2 e 13,26% com doenças cardiovasculares (DCV). Discussão: A DCV é importante causa de morte na população diabética, que, em geral, apresenta diversos fatores de risco que adiantam em 15 anos a ocorrência de DCV, entre eles, descontrole glicêmico, HAS, dislipidemia aterogênica, obesidade, aumento na circunferência abdominal e síndrome metabólica. Neste estudo, levantamos os principais fatores de risco encontrados em pacientes diabéticos atendidos em hospital público de referência, com e sem DCV descrita, e observamos aumento praticamente em todos. Importante ressaltar que, na maioria, o diagnóstico de DM2 foi há menos de 5 anos, evidenciando processo prévio de comprometimento, já descrito nas DCV e DM2. Conclusão: Os fatores de risco associados para DCV são frequentes no DM2, S236 impondo necessidade de intervenção precoce, abordagens terapêuticas, educativas e profiláticas, reduzindo, com isso, o número de complicações advindas do DM2 ou melhorando o prognóstico das DCV. 101 PERFIL METABÓLICO DOS PACIENTES COM DIABETES MELLITUS ENCAMINHADOS PARA O SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA Sugita, T. H.¹; Gomes, H. L. F.¹; Yamamoto, M. R. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, Preceptoria do Internato da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Introdução: O diabetes mellitus (DM) e a dislipidemia (DLP) aumentam o risco para doença cardiovascular, que, nos diabéticos, é mais grave e precoce. Além disso, existe uma relação direta entre obesidade, resistência insulínica e DM tipo 2. Mudanças nos hábitos de vida e adequado controle metabólico e do peso ajudam a prevenir e/ou retardar as complicações dessas doenças. Objetivo: O objetivo deste estudo é mostrar o perfil metabólico dos pacientes quando encaminhados para o especialista. Métodos: Fez-se um estudo observacional, descritivo do tipo série de casos. A amostra do estudo é de 291 pacientes diabéticos. Buscaram-se, em uma revisão de prontuários, os valores dos exames laboratoriais que o paciente trazia em sua primeira consulta e o cálculo do IMC no ambulatório de endocrinologia (“Programa de Diabetes”) em um Centro Integrado de Assistência Médico-Sanitária em Goiânia. Resultados: O IMC foi calculado em 219 diabéticos, sendo que 35,6% apresentavam sobrepeso e 37,4%, obesidade. De 205 pacientes que apresentavam glicemia de jejum (GJ), em 62,4% a GJ > 130 mg/dL. Dos 123 pacientes com resultado de glicemia pós-prandial (GPP), em 63,4% a GPP > 180 mg/dL. Considerando pacientes > 40 anos que trouxeram exames lipídicos: 62,2% (de 143 pessoas) possuíam LDL > 100 mg/dL; 35% (de 160 pessoas) possuíam HDL < 40 mg/dL; e 64,4% (de 163 pessoas) possuíam triglicérides > 150 mg/dl. Discussão: Encontramos 73% dos pacientes acima do peso. Percebe-se que mais de 63% dos pacientes encaminhados ao ambulatório apresentavam um controle glicêmico acima dos níveis tolerados, preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Além disso, encontramos significantes alterações lipídicas, com mais de 62% dos pacientes com LDL e triglicérides fora das metas preconizadas (SBD). Sabe-se que a DM descompensada, principalmente associada com DLP, aumenta a morbimortalidade dos diabéticos. Notou-se que 29,4% dos pacientes com DM encaminhados para o especialista não trouxeram uma glicemia de jejum e 35,4% não trouxeram lipidograma, dificultando uma conduta imediata. Conclusão: A população diabética está acima do peso, mal acompanhada e evoluindo gradativamente para complicações da DM. A grande maioria dos pacientes diabéticos encaminhados estava metabolicamente descompensada, logo, uma rápida intervenção médica é necessária para reverter esse cenário. No entanto, devido à falta de exames, a conduta inicial fica restrita ao próximo retorno que pode demorar meses ou nem acontecer. 102 PHYSIOPATHOLOGY OF TYPE 2 DIABETES INITIATED AFTER SIXTY YEARS OLD AND CHARACTERIZATION OF DIABETICRELATED INCRETINPATHY IN AGING SUBJECTS Oliveira, M. S.¹; Vasques, A. C. J.¹; Novaes, F. S.¹; Calixto, A. R.¹; Pareja, J. C.¹; Tambascia, M. A.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, Universidade Estadual de Campinas (Limed-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objective: To estimate and separate the impact of aging and diabetes on the diabetic physiopathology (i.e., insulin sensitivity [IS], beta cell function and incretin production). Methods: Hyperglycemic clamp (HC), arginine test and meal tolerance test (MTT) was performed in 50 subjects divided in 26 with normal glucose tolerance [NGT], and 26 with type 2 diabetes (DM) with less than 5 years of disease and taking OADs. Each NGT and DM groups were composed by 12 middleage (MA-NGT and MA-DM) and 13 elderly subjects (E-NGT and E-DM), with a BMI below 30 kg/m². IS and insulin production were evaluated by HC and MTT. During 180 minutes MTT, glucagon and incretins (GLP-1 and GIP) were evaluated. Results: Clamp-derived insulin sensitivity index (glucose infusion rate – GIR) and MTT-derived indeces (metabolic clearance rate – MCR and oral glucose insulin sensitivity – OGIS) were reduced in elderly and DM groups compared with MA-NGT (p < 0.01). IS was similar in MA-DM and E-DM, but reduced in comparison to Elderly NGT (p < 0.05). Beta cell function (Insulinogenic index, arginine index, and clamp-derived first and second phase insulin secretion in relation to GIR – First and Second phase Disposition indexes) were reduced in elderly and DM groups (p < 0.05). Discussion: In non-obese subjects, diabetic state and aging impair insulin sensitivity and incretin production independently of one another. Insulin production is affected by the DM itself, and aging exacerbates this condition. Aging associated defects superimposed diabetic physiopathology, in special regarding incretin production. Conclusion: The knowledge of complex relationship of aging and glucose homeostasis in diabetic and non-diabetic subjects could support the development of physiopathological-based diabetic therapies. 103 POLIRRADICULOPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DO DIABETES TIPO 1 Moerbeck, A. E. V.¹; Soffientini, M. G.¹; Chachamovitz, D. S. O.¹; Rodrigues, R.¹; Candia, A. M.¹; Rodrigues, B. B. B. E.¹ ¹ Cemed Care Amil, Niterói, RJ, Brasil Objetivo: Relatar o caso de uma paciente de 28 anos, com passado de obesidade, sedentarismo e diabetes gestacional, que abriu quadro de diabetes tipo 1 e neuropatia grave. Métodos: Evoluiu com diminuição progressiva da força em grupamentos proximais e distais nos quatro membros, com predomínio em membros inferiores e musculatura proximal; hiporreflexia generalizada e disestesias sem perda de sensibilidade. As hipóteses diagnósticas foram de neuropatia diabética sensitivo-motora (PND), amiotrofia diabética e polirradiculopatia crônica desmielinizante inflamatória (CIDP). Os resultados de anti-GAD e anti-ilhota positivos, além de peptídio C baixo, confirmaram o diagnóstico de diabetes tipo 1. A eletroneuromiografia demonstrou polirradiculoneuropatia com características axonais desmielinizantes. Exame do liquor com hiperproteinorraquia. Optamos por pulsoterapia com IgV, considerando CIDP. Iniciamos com 2 g/kg por 5 dias, seguidos de 4 doses de manutenção (1 g/kg) a cada 3 semanas. Resultados: Após o segundo ciclo de IgV, houve melhora progressiva ao longo dos primeiros três meses, com recuperação total da força nos quatro membros, mantendo hiporreflexia difusa. Considerando doença em remissão, foi mantida a IgV a cada 6 meses. Em paralelo, houve ótimo controle glicêmico com insulina NPH (0,3 UI/kg pela manhã) e metformina (2 g/ dia), seguido por uma possível fase de lua de mel. As tentativas de retirada da metformina acompanharam-se de piora das glicemias, demonstrando forte componente de resistência insulínica. Discussão: A CIDP é a neuropatia crônica autoimune mais comum, com prevalência de 9/100.000. Pode ser de etiologia primária ou secundária. Estudos demonstram que o curso dos pacientes com CIDP de etiologia secundária é mais frequentemente crônico-progressivo e os de etiologia primária, mais surto-remissão, com boa resposta à terapia com imunoglobulina intravenosa (IgV), corticoide ou ambas. Este caso descreve uma forma particular de concomitância entre DM e CIDP, com possível superposição das duas formas de DM e neuropatias. Enfatiza a importância de considerar o diagnóstico de CIDP sempre que houver déficit motor muito superior à queixa sensitiva ou quando a terapia para NPD não apresentar resposta ou piora evolutiva. Conclusão: A IgV parece ser uma excelente opção para CIPD associada ao DM, a se somar favoravelmente com alguns relatos existentes na literatura. 104 PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS JOVENS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 Homma, T. K.¹; Noronha, R. M.¹; Saruhashi, T.¹; Mori, A. P. I.¹; Endo, C. M.¹; Kochi, C.¹; Calliari, L. E. P.¹ ¹ Fundação Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de longa evolução. Um dos principais fatores envolvidos na fisiopatologia dessa complicação é a dislipidemia. Objetivo: Avaliar a prevalência de dislipidemia em pacientes com DM1 acompanhados em um serviço de referência endocrinológica. Métodos: Realizou-se estudo retrospectivo, em que foram analisados prontuários de pacientes portadores de DM1 em acompanhamento em um serviço de referência endocrinológica, no período de 1998-2011. Foram extraídas e analisadas as seguintes informações: gênero, idade cronológica no momento da avaliação (ICA), idade cronológica ao diagnóstico de DM1 (ICD), tempo de evolução da doença (TE), peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), hemoglobina glicosilada (HbA1c), triglicerídeos (TG) e colesterol total (CT) e frações (HDL e LDL). Após a coleta dos dados, os pacientes foram estratificados e avaliados em relação ao perfil lipídico e metabólico de acordo com a faixa etária, zIMC e recomendações da Diretriz Brasileira de Prevenção de Aterosclerose na Infância e na Adolescência. Posteriormente, realizou-se análise estatística por meio do Epi Info e SSP-SP. Resultados: Foram analisados 156 pacientes (77M/79F), ICA = 16,6 anos (+ 5,7), ICD = 7,2 anos (+ 4) e o TE = 12,9 anos (+ 5,9). Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com a faixa etária: 19 anos = 50. Observou-se que 61,5% dos pacientes apresentavam alguma forma de dislipidemia; 42,9% tinham aumento do CT; 11,5%, diminuição do HDL; 47,4%, aumento do LDL e 12,2%, elevação de TG. Em relação ao IMC, 132 pacientes estavam com o zIMC dentro da normalidade, 18 no grupo obesidade+sobrepeso e 6 nos desnutridos. Com relação aos fatores de risco, houve correlação positiva entre ICA x TG (r = 0,17; p < 0,05). Discussão: Mudanças no estilo de vida, como o aumento do sedentarismo e maus hábitos alimentares, com consequente sobrepeso e obesidade, além do próprio estado hiperglicêmico per si, podem ser fatores contribuintes para o aumento da prevalência de dislipidemia nessa população. Conclusão: A maioria dos pacientes com DM1 apresentou alguma forma de dislipidemia, sendo a mais prevalente o aumento de LDL. Observou-se correlação positiva entre a obesidade e o aumento de LDL e entre a elevação de TG e maior faixa etária e pior controle glicêmico. S237 Diabetes Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 105 PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL DIABÉTICA ENTRE PACIENTES ATENDIDOS EM UM CENTRO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA, MG Maddalena, N. C. P.¹; Musse, G. N. V.¹; Bertolin, A. J.¹; Almeida, T. R.¹; Lanna, C. M. M.¹; Bastos, M. G.¹; Andrade, L. C. F.¹ Diabetes ¹ Centro Hiperdia de Juiz de Fora, Niepen, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Conhecer a prevalência de doença renal diabética nos pacientes encaminhados para o centro de atenção secundária à saúde na cidade de Juiz de Fora, MG. Métodos: Foram avaliados, retrospectivamente, os prontuários de todos os pacientes do centro Hiperdia de Juiz de Fora submetidos a pelo menos um exame de rastreamento para albuminúria. Resultados: 1.548 pacientes foram submetidos a pelo menos um exame de urina para investigação de albuminúria em sua admissão no Centro. Destes, 820 eram diabéticos, dos quais 227 (30,2%) tinham macroalbuminúria, 481 ( 64%) microalbuminúria, 44 ( 5,9 %) normoalbuminúria e 68 não retornaram com exame. A hemoglobina glicada no início do acompanhamento demonstrava controle metabólico insatisfatório, com HbA1C média de 12,4% em diferentes métodos. As demais características dos pacientes diabéticos em sua admissão no Centro encontram-se na tabela. Discussão: A doença renal diabética (DRD) é uma das complicações mais graves do diabete melito (DM), afetando aproximadamente 15% a 25% dos pacientes com diabetes tipo 1 e 30% a 40% dos diabéticos tipo 2. Em vários países, a DRD já é a etiologia mais frequente de doença renal crônica (DRC) com necessidade de diálise ou transplante renal. No Brasil, a DRD é a segunda causa mais comum de DRC estágio final. Nossa amostra representa pacientes atendidos em centro de atenção secundária a diabéticos em uso de insulina ou doses máximas de antidiabéticos orais. Encontramos elevada prevalência de micro e macroalbuminúria, que pode refletir rastreamento tardio dessa complicação na atenção primária à saúde. Conclusão: Os pacientes diabéticos que já apresentem micro ou macroalbuminúria, uma vez identificados, poderão beneficiar-se de medidas que visem à estabilização ou mesmo à regressão da doença. O presente estudo atenta para a necessidade de educação continuada junto à atenção primária à saúde para a detecção precoce dessa complicação. 106 PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS MACROVASCULARES EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Paula, C. A.¹; Dallal, M. V. S.¹; Vieira, M. C. C.¹; Valle, P. O.¹; Paraguassu, B. R.¹; Pereira, N. G. B.¹; Santomauro, A. T.¹; Filho, F. F.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBPSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: A doença macrovascular é uma importante causa de óbito e ocupa lugar de destaque entre portadores de diabetes mellitus (DM). Tivemos como objetivo determinar a importância das doenças macrovasculares como causa de internação em portadores de DM e, entre elas, as mais prevalentes. Métodos: Analisamos, retrospectivamente, dados clínicos de pacientes acompanhados pelo Serviço de Endocrinologia durante a internação hospitalar, por meio de avaliações solicitadas durante os últimos cinco anos. Selecionamos pacientes portadores de DM2 com diagnóstico de doença macrovascular no início da internação e coletamos os seguintes dados: gênero, idade, tipo de doença macrovascular e tempo de acompanhamento intra-hospitalar pela equipe. Enfocando as causas macrovasculares de internação, os pacientes foram subdivididos em 3 grupos: Grupo A – Doença cardiovascular, Grupo B – Doença cerebrovascular, Grupo C – Doença S238 arterial periférica. Resultados: Realizamos levantamento de 1.324 prontuários de pacientes portadores de DM2. Obtivemos a mediana de idade de 72 anos (25-86). As medianas de idade conforme cada grupo são: Grupo A – 68 anos, Grupo B – 71 anos e grupo C – 67 anos. Em relação ao gênero, 63,7% eram do sexo masculino. As causas macrovasculares foram responsáveis por 824 (62,3%) das internações acompanhadas. Deste total de pacientes, 524 (63,7%) apresentaram doença cardiovascular (312 mulheres), 146 (17,8%) tiveram doença cerebrovascular (54 mulheres) e 152 (18,5%) sofreram de doença arterial periférica (46 mulheres). Discussão: Assim como a literatura, nossos dados apontam as doenças cardiovasculares como a principal causa de internação em portadores de DM2 e, em decorrência da natureza difusa da aterosclerose nesses pacientes, há também alta prevalência da doença arterial periférica e doença cerebrovascular. Em nosso estudo, observamos a prevalência aumentada de diabéticos do sexo masculino com insuficiência arterial periférica, enquanto em mulheres houve predominância de doença cardiovascular. Na literatura, a doença cardiovascular é mais prevalente no sexo masculino e se mostra de maior gravidade. Provavelmente em nosso estudo a prevalência foi maior nas mulheres devido a um perfil mais prolongado da doença. Conclusão: Ensaios clínicos evidenciam a importância de um tratamento precoce e agressivo dos múltiplos fatores de risco das doenças macrovasculares, objetivando a redução das internações por essa causa. 107 PREVALÊNCIA DE LESÃO ARTERIAL CORONARIANA GRAVE EM PACIENTES COM E SEM SÍNDROME METABÓLICA Francisco, B. D. S.¹; Campos, A. C. N.¹; Mariani Junior, J.¹; Scalisse, N. M.¹; Salles, J. E. N.¹ ¹ Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relacionar a prevalência de lesão arterial coronariana grave em pacientes com e sem síndrome metabólica (SM). Métodos: Trata-se de um estudo analítico, descritivo, com dados obtidos da avaliação de 22 pacientes submetidos ao cateterismo entre maio e julho de 2012. A SM foi definida de acordo com os critérios da Federação Internacional sobre Diabetes com a presença de circunferência abdominal > 94 cm em homens e > 80 cm em mulheres e mais dois dos seguintes: 1- Triglicérides > 150 mg/dl; 2- High density lipoprotein cholesterol ( HDL) < 40 mg/dl em homens e < 50 mg/dl em mulheres ou uso de estatina; 3-Pressão arterial > 130/85 mmHg ou uso de anti-hipertensivo; 4- Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl. (Ou DM2). Serão consideradas graves as lesões coronarianas com obstrução ≥ 70% na luz vascular em território vascular e moderadas as que apresentarem de 40% a 69%. Os dados foram armazenados e analisados pelo software Epi Info versão 3.3.2. Foi utilizado teste t de Student. Foram consideradas significativas as diferenças estatísticas com p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 22 pacientes, 13 com SM, 6 mulheres e 7 homens, com 15% apresentando lesão coronariana moderada, 61% grave e 23% sem lesões, sendo 30% triarteriais e 38%, biarteriais. Entretanto, 9 pacientes não apresentaram SM, 8 homens, 1 mulher, com 55% apresentando lesão coronariana moderada, 22% grave e 22% sem lesão, sendo 11% lesões triarteriais, 33%, biarteriais. Discussão: A SM é diagnosticada pela associação de fatores de risco metabólicos para o diabetes do tipo 2 e doença cardiovascular, como obesidade, dislipidemia e hipertensão. A prevalência mundial está entre 20% e 25% (1,2) e é elevada em indivíduos com doenças cardiovasculares (3). A SM apresenta grande impacto na doença arterial coronariana, sendo, portanto, de suma importância o desenvolvimento de estudos que relatem não só a prevalência da doença aterosclerótica em pacientes portadores de SM, assim como sua severidade e extensão (4). Conclusão: O presente estudo nos permite concluir que os pacientes com SM apresentaram prevalência maior de lesões arteriais coronarianas graves. Partindo do princípio que a SM apresenta grande impacto na doença arterial coronariana, é de suma importância o desenvolvimento de recursos adequados e mais eficazes para prevenção e tratamento interferindo positivamente na história natural da doença. 108 PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM POPULAÇÃO ATENDIDA EM GOIÂNIA PELA LIGA ACADÊMICA DE DIABETES DA UFG Melo, M. C.¹; Dias, N. S.¹; Trindade, D. B.¹; Alves, P. F. M.¹; Oliveira, P. M.¹ ¹ Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Relatar prevalência em porcentagem de fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em população atendida em parque de Goiânia, baseada na análise de 175 fichas lá preenchidas. Métodos: Estudo descritivo de fichas preenchidas por alunos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, Farmácia e Odontologia da Liga Acadêmica de Diabetes da UFG, que colheram dados sobre pressão arterial, glicemia capilar casual, sintomas, antecedentes e fatores de risco para DM2. Resultados: A análise das fichas revelou 22,86% da população com hipertensão arterial sistêmica (HAS) diagnosticada, 13,14% compatíveis com HAS estágio 1 e 2,28% HAS estágio 2 e 5,14% com DM, sendo que, destes, 77,78% eram DM2. Entre a população analisada, 78,28% possuíam familiares com DM, HAS e/ou doença cardiovascular (DCV) e 17,71% são ou já foram tabagistas. Etilismo ocasional foi presente em 32,57% da população; etilismo frequente, em 2,28%; 29,71% se mostraram sedentária; 21,71% apresentaram sobrepeso; 9,14%, obesidade grau I; e 2,86%, obesidade grau II. Entre esses, 54,40% das mulheres apresentaram obesidade abdominal e 41,70% dos homens. Em relação à glicemia capilar, apenas 3 pessoas tiveram glicemia casual acima de 200 mg/dL, sendo que uma não relatou sintomas clássicos de DM. Discussão: DM é um distúrbio metabólico crônico de deficiência na ação da insulina que geralmente cursa com HAS, obesidade e dislipidemia, atinge um número cada vez maior de pessoas no mundo e suas complicações trazem perdas importantes na qualidade de vida e encargos exorbitantes para o sistema público de saúde. Os sintomas clássicos de DM2, poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal não foram muito recorrentes, mas os fatores de risco da doença apresentaram valores alarmantes. A HAS aumenta o risco para complicações micro e macrovasculares, e sua frequência é 2 vezes maior em pacientes diabéticos. História familiar de DM2 em primeiro grau aumenta de 2 a 6 vezes o risco de desenvolver a doença e, em caso de história familiar ascendente, o risco aumenta de 5 a 10 vezes. O tabagismo e etilismo são altos fatores de risco para DCV. Obesidade e sedentarismo levam à resistência insulínica e a uma maior predisposição a DM2. Conclusão: A liga de diabetes tem por principal objetivo o desenvolvimento de programas de prevenção primária, por meio de campanhas de rastreamento e educação em DM, construindo a consciência do autocuidado e da necessidade de bons hábitos de vida para prevenir o surgimento e as complicações do DM2. 109 PSEUDO-HIPOGLICEMIA: CAUSA DE GLICEMIA CAPILAR NÃO CONFIÁVEL SECUNDÁRIA ÀS ALTERAÇÕES NA MICROCIRCULAÇÃO Nascimento, P. P.¹; Bomfim, O. C. D.¹; Silva, M. C.¹; Santomauro Júnior, A. C.¹; Oliveira, T. C. A.¹; Bezerra, M. G. T.¹; Queiroz, M. S.¹; Nery, M.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever um caso de pseudo-hipoglicemia artefactual em paciente com alteração na microcirculação periférica. Métodos: Paciente, 57 anos, portadora de esclerodermia com fenômeno de Raynaud e insuficiência renal crônica (IRC) dialítica por vasculite, internada para avaliação de hipoglicemias (glicemias capilares menores que 40 mg/dL), sobretudo durante a hemodiálise (HD) e não associadas a sintomas característicos. Negava diagnóstico de diabetes mellitus (DM) e uso de medicações hipoglicemiantes. Evidenciou-se, ao exame físico, esclerodactilia, com absorção de falanges distais, acrocianose, sem úlceras digitais. Para investigação do quadro, realizaram-se a monitorização contínua da glicemia por 24 horas (CGMS), capilaroscopia, ultrassonografia (USG) com Doppler de mãos e medidas comparativas de glicemia capilar e em sítios alternativos. Resultados: Nas sessões de HD realizadas na internação, foram aferidas glicemias capilares abaixo de 40 mg/dL, assintomáticas e associadas a valores sanguíneos 1,5 a 2 vezes mais altos, dentro da faixa da normalidade. CGMS mostrou valores de glicose intersticial entre 80-187 mg/dL, com medidas capilares variando de 40-118 mg/dL, confirmando a discordância entre os resultados da glicemia capilar e sanguínea e, com isso, o diagnóstico de pseudo-hipoglicemia artefactual. Capilaroscopia demonstrou microangiopatia, caracterizada por desvascularização difusa e intensa deleção capilar, compatível com esclerodermia sistêmica, e o USG Doppler evidenciou estenose maior que 50% na artéria ulnar esquerda, com fluxo presente nas artérias interdigitais bilateralmente. Essas alterações são possíveis causas para essa pseudo-hipoglicemia artefactual. As medidas de glicemias em sítios alternativos, como em áreas de antebraço sem alterações cutâneas de esclerodermia, mostraram valores compatíveis aos obtidos nas glicemias venosas. Discussão: Neste caso de paciente com esclerodermia com fenômeno de Raynaud, a pseudo-hipoglicemia resultou do aumento da extração de glicose pelos tecidos, devido à lentificação do fluxo na microcirculação digital, confirmado pela capilaroscopia, USG Doppler de mãos. Conclusão: Apesar de a glicemia capilar em ponta de dedo ser o local preferencial para monitorização em diabetes, a presença de alterações na microcirculação leva a estimativas da glicemia capilar errôneas como evidenciado no CGMS. Neste caso, sítios alternativos, como antebraço ou lobo da orelha, mostraram-se confiáveis. 110 RELAÇÃO ENTRE GLICEMIA CASUAL E CREATININA EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA PUC, GO Rezende, K. N.¹; Oliveira, I. R.¹; Ribeiro, K.¹; Campos, H. A.¹; Wastowski, I. J.¹; Francescantonio, I. C. C. M.¹; Miranda, T. M. T.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Introdução: O descontrole crônico da glicemia em um paciente diabético é um fator predisponente para o desenvolvimento de nefropatia diabética. Com o avançar da doença, surgem sinais de insuficiência renal como a elevação da creatinina no sangue. O presente estudo se propõe a investigar a associação entre glicemia casual e creatina em indivíduos residentes no município de Goiânia-Goiás, atendidos em eventos de extensão da PUC-Goiás, em 2011, considerando os diferentes gêneros. Métodos: Após aprovação no Comitê de Ética, foi realizado um estudo transversal com 531 pacientes, 66,3% mulheres e 33,7% homens, com idades entre 18 e 83 anos. As variáveis mensuradas foram: sexo, idade, glicemia casual. Resultados: Para as mulheres, observou-se que 2,8% apresentaram creatinina > 1,2 mg/dl e, destas, 90% possuíam glicemia casual < 200 mg/dl e 10%, glicemia casual ≥ 200 mg/dl. Para os homens, verificou-se creatinina > 1,2 mg/dl S239 Diabetes Trabalhos Científicos Diabetes Trabalhos Científicos em 11,2% e, destes, 95% apresentaram glicemia casual < 200 mg/dl e 5%, glicemia casual ≥ 200 mg/dl. Estatisticamente, verificou-se que as correlações entre glicemia casual e creatinina não são significativas para ambos os sexos. Discussão: Os resultados encontrados podem ser justificados por: a glicemia casual ser um exame de triagem, ou seja, um resultado alterado não significa que o paciente seja diabético e sim que necessita de uma avaliação específica; a creatinina não é um marcador específico de função renal, já que depende da massa muscular de cada paciente e a alteração da creatinina se torna evidente nos estágios finais da nefropatia diabética. Conclusão: Considerando a tendência crescente de diabetes na população brasileira e sua associação com insuficiência renal, concluímos que exames de triagem mais específicos devem ser realizados nos pacientes diabéticos para o diagnóstico precoce da nefropatia, sendo recomendada a dosagem de microalbuminúria anualmente após cinco anos do diagnóstico de diabetes mellitus (DM) tipo 1 e anualmente após o diagnóstico de DM tipo 2. 111 RELAÇÃO ENTRE HEMOGLOBINA GLICADA E CREATININA EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA MUTIRÃO EM GOIÂNIA Francescantonio, I. C. M.¹; Carvalho, B. A.¹; Normanha, L. L.¹; Ribeiro, K.¹; Rezende, K. N.¹; Pires, B. M.¹; Coutinho, A. C.¹; Francescantonio, I. C. C. M.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Introdução: Os valores de hemoglobina glicada (HbA1c ) refletem a glicemia média no intervalo de dois a três meses precedentes à coleta. É um exame utilizado não só para o diagnóstico como também é um indicador de maior probabilidade de ocorrer complicações do diabetes mellitus (DM), entre essas a nefropatia diabética (ND). A taxa de filtração glomerular (TFG) é uma importante ferramenta na análise da função renal. Para estimar essa taxa, uma das opções rotineiras é quantificar a concentração de creatinina sérica. O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre hemoglobina glicada e creatinina sérica em pacientes atendidos na Unidade Escola de Saúde da Família (UESF). Métodos: Foram analisados exames de 110 pacientes atendidos na UESF em abril de 2012. A creatinina foi dosada por métodos enzimáticos em equipamento automatizado (Selectra E, Vitalab) e a HbA1c, por HPLC. Os valores de referência para normalidade foram: creatinina (Cr) 0,4 a 1,2 mg/dL e HbA1c > 6,5% (DM), 5,7% a 6,4% risco aumentado de desenvolver DM. A análise estatística consistiu em uma correlação, pelo teste de Spearman, feita no programa GraphPad Prism 5.1. Resultados: Do total de pacientes, 66,4% (73) são mulheres e 33,6% (37), homens. Entre as mulheres, 27,4% (20) apresentaram HbA1c dentro do valor de risco para desenvolver DM e 37,7% (29) apresentaram o valor da HbA1c > 6,5%. Em relação aos homens, 8% (3) estão dentro do grupo de risco para DM, 48% (18), com valores > 6,5%. Quanto às dosagens de creatinina, 83,6% (61) das mulheres estavam dentro do valor de referência e 16,4% (12) estavam acima. Entre os homens, 70,3% (26) apresentavam valores dentro da referência, 29,7% (11), acima. Na análise estatística, obteve-se uma correlação positiva entre as mulheres com p = 0,0041 e negativa entre os homens com p = 0,6163. Discussão: Os dados obtidos mostram que nas mulheres o aumento dos níveis de HbA1c estão relacionados com o aumento da creatinina, que é um marcador grosseiro da função renal, mas é importante para o cálculo da TFG e que deve ser solicitado como critério para prescrição de metformina. O baixo número de pacientes do sexo masculino explicaria o resultado encontrado. Conclusão: A relação de níveis aumentados de HbA1C e creatinina revela S240 a utilidade da realização desse exame para rastreamento de complicações diabéticas diante da impossibilidade por condições técnicas ou econômicas de realizar exames mais sensíveis. 112 ASSOCIAÇÃO DE DIVERSAS DOENÇAS AUTOIMUNES COM DIABETES AUTOIMUNE LATENTE DO ADULTO: RELATO DE CASO Francisco, B. D. S.¹; Campos, A. C.¹; Dias, C. A. R.¹; Scalissi, N. M.¹; Salles, J. E. N.¹ ¹ Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar caso incomum de diabetes latente autoimune do adulto (LADA) associado a diversas doenças autoimunes com bom controle glicêmico ao uso de metformina. Métodos: Coletamos dados e exames do prontuário da paciente. Resultados: P.V.S., 31 anos, branca, solteira, iniciou quadro de diarreia crônica há 12 anos, sendo diagnosticada doença de Crohn em uso de mesalazina. Evoluiu com cansaço, xerose cutânea, ganho de peso e perda capilar, sendo diagnosticada com hipotireoidismo, em uso de levotiroxina. Apresentou manchas hipocrômicas em nádegas, mãos e região Peri-labial há 8 anos, sendo diagnosticado vitiligo. Há 7 anos apresentou dor abdominal intensa em região de hipocôndrio direito associado a icterícia, FAN e anticorpo antimúsculo liso positivo. Realizou biópsia hepática e foi diagnosticada hepatite autoimune. Há 2 anos evoluiu com polifagia, polidipsia, poliúria e hiperglicemia com anti-GAD positivo, sendo diagnosticada com diabetes (LADA) em uso de metformina com bom controle glicêmico. Discussão: O termo diabetes autoimune latente do adulto foi introduzido por Tuomi e Zimmet para definir pacientes diabéticos adultos que não requeriam insulina inicialmente, mas que apresentavam autoanticorpos contra as células-beta e progressão mais rápida para insulino-dependência (1). Embora a presença de qualquer um dos anticorpos (IAA, IA2, ICA, GADA) indique autoimunidade em adultos diabéticos, a solicitação do anti-GAD é necessária e, na maioria das vezes, suficiente (2,3). Apresentamos um caso de LADA associado a diversas doenças autoimunes, incomum na literatura. Conclusão: O LADA deve ser analisado como uma entidade clínica diferente do diabetes tipo I e tipo II, embora apresente características de ambos os tipos. Esse caso demonstra que, apesar de inúmeras doenças autoimunes, a paciente apresenta 31 anos e possui características e forma de tratamento compatível com os dois tipos de diabetes citados anteriormente. 113 USO ESPONTÂNEO DE INFUSÃO DE PLATHYMENIA RETICULATA: RELATO DE CASO Magalhães, F. O.¹; Uber-Buceck, E.¹; Ceron, P. I. B.¹; Name, T. F.¹; Honorato, L. G. C.¹; Silva, J. S. P.¹; Amuy, F. F.¹ ¹ Universidade de Uberaba, Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de uso espontâneo da planta Plathymenia reticulata, no ano de 2010, em paciente diagnosticado com diabetes mellitus (DM) e dislipidemia, analisando a evolução dos parâmetros laboratoriais. Métodos: Avaliação laboratorial do paciente em questão antes, durante e após uso de infusão aquosa da planta Plathymenia reticulata. Resultados: Ao diagnóstico, o paciente estava com glicemia de jejum de 142 mg/dL; ácido úrico de 8,3 mg/dL; colesterol total de 274 mg/dL e triglicérides de 548 mg/dl. Com 13 dias de uso de infusão da planta, tivemos glicemia de jejum de 115 mg/dL; ácido úrico de 7,2 mg/dL; colesterol total de 171 mg/ Trabalhos Científicos 114 DIABETES FLATBUSH: RELATO DE CASO Tonial, C. C.¹; Oliveira, K. M. A.¹; Normando, A. P. C.¹; Roberto, M. S.¹; Moraes, D. R.¹; Renck, A. C.¹ ¹ Hospital Santa Marcelina (HSM), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar caso paciente com diabetes flatbush. Métodos: Para o diagnóstico, foram necessários apenas acompanhamento clínico e exames laboratoriais. Resultados: M.C.G, 24 anos, sexo feminino, negra, deu entrada no PS do HSM na cidade de São Paulo no dia 5/4/09 com rebaixamento do nível de consciência, desidratada, e dextro de 587. Perda de peso em torno de 9 kg associada a polifagia e poliúria há 2 meses. Negava comorbidades, sobrepeso com IMC de 28,6 ( P 77 kg). Tia materna com DM tipo 2. Exames laboratoriais da entrada: gasometria (ph 6,722, pCO2 13,8, HCO3 1,7, BE -30), ureia 29,4, creatinina 1,38, sódio 145, potássio 3,36. Evolução: paciente foi mantida na UTI durante 11 dias, permaneceu em ventilação mecânica durante 8 e evoluiu com insuficiência renal necessitando de três sessões de hemodiálise. Recebeu alta dia 24/4/09 com insulina NPH 12 UI pela manhã e enalapril 20 mg/dia. Manteve acompanhamento ambulatorial. O uso de insulina foi suspenso após 1 ano e iniciada metformina. A metformina foi suspensa dia 18/7/10 de acordo com os seguintes exames: Hba1C 5,7% e glicemia de jejum 100 mg/dl. Apresentava anticorpos anti-GAD, anti IA2 e anti-insulina negativos. Discussão: Na maioria das vezes, a apresentação clínica do DM nos permite classificar os pacientes em DM tipo 1, DM tipo 2 ou diabetes gestacional. Em alguns casos, entretanto, a classificação adequada da doença pode ser um pouco mais complexa e necessitar acompanhamento evolutivo. Neste relato, descrevemos o caso de uma paciente adulta jovem, com DM diagnosticado por meio de um episódio de CAD, complicação aguda considerada classicamente como característica do DM tipo 1, que, após a reversão desse quadro, apresentou curso clínico compatível com DM tipo 2, autoanticorpos negativos. Esse tipo de evolução configura a presença de um subtipo peculiar de DM denominado diabetes flatbush. A causa do aparecimento de CAD nesse subgrupo parece estar associada a uma queda transitória da função pancreática endócrina. Conclusão: Este caso demonstra que devemos estar alertas para o fato de que casos de CAD em adultos nem sempre se tratam de DM tipo 1. 115 RESPOSTA AO USO DE GLP-1 MIMÉTICO EM INDIVÍDUOS COM DIABETES TIPO 2 CARREADORES DE POLIMORFISMO NO TCF7L2 Ferreira, M. C.¹; Silva, M. E. R.¹; Fukui, R. T.¹; Arruda-Marques, M. C.¹; Correia, M. R.¹; Santos, R. F.¹ ¹ Laboratório de Carboidratos e Radioimunoensaio, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O TCF7L2 (Transcription Factor 7-Like 2) é um fator de transcrição que participa da via Wnt, desempenha um papel importante na proliferação das células β, secreção de GLP-1 e de insulina. Tem sido bem demonstrada a associação entre polimorfismos no gene TCF7L2 e diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Portanto, o presente estudo teve objetivo de avaliar o padrão de resposta hormonal ao exenatida, GLP-1 mimético, mediante a realização de um teste de refeição mista em portadores dos genótipos CC e TT no rs 7903146 do gene TCF7L2. Métodos: Foram genotipados 153 indivíduos (57 anos ± 7,6, IMC 30,5 ± 5,1 kg/m²) com DM2. Os resultados correspondem ao estudo de 35 pacientes, sendo 23 CC e 12 TT, que realizaram teste da refeição mista, antes e após o tratamento com exenatida por 8 semanas. Durante o teste, amostras de sangue foram obtidas nos tempos 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 min, para avaliação de glicose, insulina, pró-insulina e glucagon. As curvas foram comparadas usando ANOVA. Resultados: Na população estudada, o subtipo selvagem (CC) esteve presente em 36%, e os genótipos de risco CT em 40,7% e TT em 9,6% dos pacientes. Verificamos que os carreadores CC e TT apresentaram redução semelhante das concentrações plasmáticas de glicose após o tratamento. Discussão: De acordo com nossos achados, acredita-se que um dos importantes mecanismos envolvidos na fisiopatologia do DM2 nos portadores do alelo T seja a redução da sensibilidade à insulina. Já foi demonstrado que indivíduos portadores do alelo T podem apresentar uma redução na sensibilidade à insulina aliada à falha das células beta em compensar totalmente o grau de resistência à insulina, proporcionando adicionais evidências de que os problemas que relacionam o TCF7L2 ao DM2 estão em ambos os mecanismos. Conclusão: Esses dados preliminares sugerem que os indivíduos com DM2 portadores do genótipo TT no rs7903146 do TCF7L2 respondem ao GLP-1 mimético principalmente devido ao seu efeito na melhora da sensibilidade à insulina. Entidade financiadora: Fundação Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 116 RISCO PARA HIPOGLICEMIA EM IDOSOS COM DIABETES TIPO 2 TRATADOS COM ANTIDIABÉTICOS ORAIS Pereira, N. G. B.¹; Filho, F. F.¹; Santomauro, A. T.¹; Dallal, M. V. S.¹; Costa, P. S.¹; Paraguassu, B. R.¹; Vieira, M. C. C.¹; Contrucci, A. C.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBPSP), Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Este estudo examinou as taxas de hipoglicemia e fatores de risco entre os idosos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) em uso de antidiabéticos orais (ADOs). Métodos: Seiscentos e sessenta e nove pacientes com DM2 (idade ≥ 65 anos) acompanhados no Serviço de Endocrinologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e na Faculdade de Medicina do ABC foram avaliados no período de março de 2007 a março de 2011. Os pacientes selecionados foram classificados nos seguintes grupos de acordo com o tratamento que vinham recebendo: Grupo 1 – monoterapia, que podia ser sulfonilureia S241 Diabetes dL e triglicérides de 113 mg/dl. Após 27 dias do uso da planta, os resultados dos exames foram: glicemia de jejum de 73 mg/dL; ácido úrico de 5,9 mg/dL; colesterol total de 133 mg/dL e triglicérides de 103 mg/dl. Paciente relatou perda ponderal de 11 kg, durante o uso da infusão e intolerância ao sabor amargo e forte que a infusão apresentava. Discussão: O uso popular da planta Plathymenia reticulata vem sendo relatado, e seu uso experimental comprova efeito de controle glicêmico em animais diabéticos (Magalhães FO et al., 2011). Entretanto, não havia relato do uso terapêutico em seres humanos. Nesse relato, descrevemos o uso espontâneo na forma de infusão da casca da árvore da Plathymenia reticulata, três vezes ao dia, sem associação com nenhum outro medicamento, somente com dieta específica. O paciente teve diagnóstico de DM e dislipidemia cinco dias antes do início do uso da infusão. Houve alteração significativa, em 27 dias, dos parâmetros avaliados (glicemia de jejum, ácido úrico, colesterol total e triglicérides). Além de resultados comprovados laboratorialmente, o paciente refere efeito anorexígeno e perda significativa de peso. Conclusão: Podemos observar que o uso da infusão de Plathymenia reticulata associado à dieta específica teve resultados significativos na glicemia de jejum, ácido úrico, colesterol total, triglicérides, e peso do indivíduo. Diabetes Trabalhos Científicos (SU), metformina (MET), tiazolidinedionas (TZDs) ou inibidores DPP IV (DPP IV), e Grupo 2 – terapia combinada, que era MET+SU, MET+TZDs ou MET+DPPIV. As taxas de hipoglicemia durante os 48 meses foram avaliadas em cada um dos grupos acima relatados. Resultados: A distribuição dos pacientes era a seguinte: com monoterapia SU = 107, MET = 254, TZD = 13, DPP IV = 14 e terapia combinada com MET+SU = 220, MET+TZDs = 16 ou MET+DPPIV = 45. Entre os pacientes em monoterapia, os que recebiam DPPIV e MET como monoterapia apresentaram as menores taxas de hipoglicemia nos 34 meses de acompanhamento (0,8% e 1%, respectivamente) em comparação com pacientes em uso de SU (14%). Pacientes que receberam a terapia combinada com SU apresentaram as maiores taxas de hipoglicemia (18%). Discussão: Na análise multivariada, a monoterapia com DPP IV (Risco Relativo [RR] = 0,82). Conclusão: Em uma população de idosos com DM2, o risco de hipoglicemia varia de acordo com o tipo de antidiabético oral. A monoterapia com MET e DPPIV foi associada com riscos mais baixos ao longo do estudo, em comparação com SU (tanto em monoterapia ou combinação). Este estudo comprova os dados atuais que mostram que, em pacientes idosos, o uso de sulfonilureias deve ser revisto pelo elevado risco de hipoglicemia, principalmente nos mais idosos e portadores de comorbidades. 117 SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS AND PREDIABETES AMONG BRAZILIANS WITH INCREASED RISK OF DEVELOPING TYPE 2 DIABETES Giorelli, G. V.¹; Saado, A.¹; Matos, L.¹; Dias, C. B.¹ ¹ Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, IAMSPE, FMO, São Paulo, SP, Brasil Objective: Our aim was to analyze serum vitamin D in subjects free of diabetes with increased risk of T2DM and its correlation with glucose metabolism in the city of São Paulo. Methods: We performed the measurement of 25(OH)D in 53 subjects with risk for T2DM (43 prediabetes) in an outpatient internal medicine clinic. Prediabetes was defined as fasting glucose of 100-125 mg/dl or glucose concentration of 144-199 mg/dl two hours after ingestion of 75 g of glucose. Increased risk for T2DM was defined as one or more of the following characteristics: body mass index (BMI) ≥ 25 kg/m², first-degree relatives with T2DM, blacks, Asian, Hispanic American, gestacional diabetes, hypertension, HDL > 35 mg/dL, triglycerides > 250 mg/dL. Results: Prediabetes and control group had not difference between age (66.4 ± 10.6 vs. 62.6 ± 9.1 years), gender distribution (52.6 vs. 73.3% of female) and BMI (30.1 ± 4.61 vs. 27.9 ± 4.7 kg/m²). Low serum levels of 25 OHD were found in both groups, without difference between them (29.1 ± 11.8 vs. 26.87 ± 9.2 ng/dL). There was no correlation between vitamin D with clinical or laboratorial variables. Discussion: Several clinical studies have evaluated the role of low serum 25-hydroxyvitamin D (25OHD) in the pathogenesis of type 2 diabetes (T2DM) with controversial results. Prediabetes is a continuous stage to T2DM whereas metabolic process has already been started. One study has look into prediabetes and 25OHD in a US population. There are very few studies with prediabetes and vit D in the world, there is none in south American countries. Despite of the small sample this study show new data in an area with lack of information. Conclusion: Vitamin D deficiency and its impact in diabetes is an emerging area, more studies are needed to conclu the 25(OH) D role in T2DM pathogenesis, once it could prevent or delay T2DM onset. S242 118 SÍNDROME DE MAURIAC: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA Jorge, A. S. R.¹; Barros, J. A. S.¹; Freire, R. A. C.¹; Sansana, L. R. Z.¹; Martins, D. M. C.¹; Reis, G. M. C.¹ ¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), Palmas, TO, Brasil Objetivo: Relatar caso de paciente portadora de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) que evoluiu com características clínicas e laboratoriais compatíveis com a síndrome de Mauriac. Métodos: Realizou-se revisão de prontuários e bibliográfica em bases de dados para pesquisa médica. Resultados: EJSR, 16 anos, sexo feminino, com diagnóstico de DM1 desde 2007, quando iniciou insulinoterapia. Evoluiu com dificuldade de controle glicêmico e déficit de desenvolvimento estatural e puberal. Em abril de 2011, foi internada com dor abdominal, náuseas, diarreia e astenia, e negava febre. Encontra-se em amenorreia primária, Tanner M2P3 e idade óssea de 13 anos. Estatura de 135 cm (p50 para 9,5 anos), pesa 34 kg (p50 para 10,5 anos) e IMC de 18,9 kg/m². Não há déficit neuropsicomotor. O abdome era globoso, doloroso à palpação em hipocôndrio direito e fígado palpável a 4 cm do rebordo costal direito. A análise laboratorial revelou: glicemia de jejum de 300 mg/ dL; HbA1c de 12,3%; IGF-1 de 73 ng/ml; TGO de 89 U/L; TGP de 83 U/L. Os marcadores de hepatite viral foram negativos e antiHBS de 129,6 U/L. Apresenta história de seis internações associadas à cetoacidose diabética. No acompanhamento ambulatorial, as funções renais e tireoidiana encontravam-se normais, HbA1c manteve-se elevada e o IGF-1 manteve-se reduzido. Discussão: A síndrome de Mauriac, apresentação rara de DM1, caracteriza-se pela presença de DM1 de difícil controle de longa evolução, hepatomegalia e retardo de crescimento. A situação epidemiológica dessa síndrome não está definida na literatura pelo pequeno número de casos descritos. Os principais achados são hepatomegalia, dor em flanco direito, náuseas e vômitos; déficit pôndero-estatural; controle glicêmico inadequado de longa data e diminuição dos níveis séricos e da atividade do IGF-1. Outros achados possíveis são dislipidemia, atraso puberal, características cushingoides, obesidade e elevação de transaminases. O diagnóstico é baseado na história clínica, exame físico e exames laboratoriais, no entanto, não há marcadores específicos dessa doença, sendo muitas vezes necessário o auxílio de métodos de imagem e biópsia. O diagnóstico precoce é de grande importância para início de insulinoterapia adequada, levando a um melhor prognóstico e controle de complicações dessa síndrome, como retinopatia e nefropatia. Conclusão: As características clínicas, laboratoriais e da evolução da paciente são compatíveis com os dados disponíveis na literatura médica atual que confirmam se tratar de síndrome de Mauriac. 119 SÍNDROME DE MAURIAC: O MAL CONTROLE DO DM TIPO 1 COMO SINAL DE ALERTA DIAGNÓSTICO. Moreira, A. L.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Minas Gerais (IPEMED), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: O diabetes mellitus Tipo 1 (DM1) é uma doença endócrinometabólica de domínio médico amplo. Porém, é importante considerar um sinal de alerta: o mau controle glicêmico do DM1, um dos ramos da tríade diagnóstica da síndrome de Mauriac (SM), que se apresenta associado a hepatomegalia e retardo do crescimento. Estima-se que 1:2.500 crianças < de 5 anos e 1:300 pessoas < de 18 anos são portadoras dessa doença, mas a real incidência ainda é desconhecida por subno- tificações ou falta de diagnósticos. Métodos: A.R.M., sexo feminino, 15 anos, portadora de DM1 há 8, diagnóstico de SM há 2, pós-internação hospitalar por cetoacidose e sequelas hepáticas; e P.S.R.M., sexo masculino, 13 anos, portador de DM1 há 2, irmãos por parte de mãe, residentes em Ribeirão das Neves, MG, procuraram o ambulatório, por falência no controle glicêmico e, então, um plano de cuidados individual foi traçado: controle periódico de altura, peso e desenvolvimento sexual, exames complementares e de imagem, monitorização sistemática da glicemia capilar em diário anotado, educação alimentar e do uso intensivo de insulina multidoses. Resultados: Ao se avaliar A.R.M., detectaram-se hemoglobina glicada (A1c), nos últimos 2 anos de 10%, menarca há um ano, estatura (< - 2,5 DP), Us e TC com alterações hepáticas; já no irmão, sem controle médico após diagnóstico de DM1, manifestações clínicas e os exames: TSH normais; Hba1c: 8,1% (2010) e 18,6% (2012), hipercolesterolemia (230 mg/dl), fígado palpável e doloroso, atraso puberal, altura < - 2,5 DP e abaixo do canal de crescimento, quando, então, foi diagnosticado SM. Para seguimento, foram pedidos US abdominal, Rx de idade óssea e dosagens de IGF-1, IGFBP-3, GH. A monitorização multiprofissional e a educação multidoses de insulina têm demonstrado controle glicêmico promissor, sendo o objetivo terapêutico no irmão a intervenção na estatura final possível e, na irmã, evitar piora prognóstica hepática. Discussão: O diagnóstico de SM é eminentemente clínico, sendo a anamnese e o exame clínico fundamentais. O mau controle glicêmico do DM1 e marcadores como HBA1C, função hepática, níveis séricos de IGF-1, GH, US abdominal, Rx de idade óssea, alterados, associam fortemente a presença daquela síndrome e determinam um prognóstico, com sequelas hepáticas, em crescimento, desenvolvimento sexual, comprometendo qualidade de vida, quanto mais tardia a intervenção terapêutica. Conclusão: Nos casos de mau controle glicêmico do DM1, o médico deve alertar-se à possibilidade diagnóstica de SM de forma precoce. 120 SÍNDROME DE WOLFRAM: RELATO DE CASOS Nunes, M. N.¹; Esperidião, A. C.¹; Guedes, J. T.¹; Santos, K. D.¹; Silva, A. E.¹; Jorge, M. L. M. P.¹; Jorge, P. T.¹ ¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG, Brasil Objetivo: A síndrome de Wolfram (SW) ou DIDMOAD (do inglês, diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, deafness) é uma doença neurodegenerativa, de herança autossômica recessiva, com incidência estimada de 1:770.000 nascidos vivos. O presente relato tem como objetivo descrever dois irmãos portadores de SW atentando para a raridade e importância do diagnóstico. Métodos: Trata-se do relato de dois casos realizados por meio de revisão de prontuários, acompanhamento dos pacientes e levantamento bibliográfico. Resultados: Pacientes masculinos, irmãos, um de 18 anos, outro de 16 anos. O primeiro com diagnóstico de diabetes mellitus (DM) desde os 3 anos e o segundo desde os 6 anos, sem história familiar de diabetes. Ambos abriram o quadro com polidipsia e poliúria, porém nunca apresentaram cetoacidose diabética. Foi evidenciado, no primeiro, ao exame oftalmológico, atrofia de nervo óptico bilateral, sem sinais de retinopatia diabética. O exame de urina rotina mostrou densidade urinária baixa. Audiometria detectou hipoacusia moderada. Ressonância magnética de encéfalo mostrou redução do sinal do nervo óptico; atrofias da região hipotalâmica, tronco cerebral, cerebelo e córtex cerebral; além de ausência de sinal da neuro-hipófise. A mãe dos pacientes possui alteração psiquiátrica caracterizada como esquizofrenia. O irmão de 16 anos apresentou, à avaliação oftalmológica, palidez de papila bilateral com atrofia perinervo à esquerda. Apresenta densidade urinária baixa e hipoacusia leve a moderada à audiometria e imitanciometria. Ambos possuem anti-GAD negativo e ultrassonografia renal com ectasia de pelve e vesical. Discussão: O diagnóstico da SW é essencialmente clínico e baseado na presença obrigatória de DM insulino-dependente e atrofia do nervo óptico. Os pacientes também podem apresentar diabetes insípido central, surdez neurossensorial, alterações do trato urinário e distúrbios psiquiátricos. O diabetes é resultado de uma deficiência de insulina de etiologia não autoimune. A cetoacidose geralmente não ocorre durante evolução do diabetes, bem como há uma baixa prevalência de complicações crônicas. Conclusão: O diagnóstico precoce da SW é importante para melhorar o prognóstico, antecipar complicações e, consequentemente, reduzir a morbidade e mortalidade. O acompanhamento deve ser estendido aos familiares diretos, tendo em vista o risco aumentado da ocorrência de distúrbios psiquiátricos e DM entre os portadores heterozigotos da síndrome de Wolfram. 121 TEMPO DE INTERNAÇÃO DE DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS INTERNADOS EM ENFERMARIAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE TERESÓPOLIS COSTANTINO OTTAVIANO Naliato, E. C. O.¹; Lima Júnior, M. P.¹; Spinola, E. A.¹ ¹ Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso), Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), Teresópolis, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar o tempo de internação de pacientes diabéticos e não diabéticos internados nas enfermarias do Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO). Métodos: Estudo seccional com a análise de dados de 76 pacientes internados na enfermaria de clínica médica do HCTCO. Foram coletados os dados relativos a idade, sexo, tempo de internação, histórico patológico pregresso, motivo da internação hospitalar e dosagem de glicemia de jejum dos pacientes. Resultados: Dos 76 pacientes internados (44,7% homens e 55,3% mulheres), 50% eram diabéticos. A prevalência de diabetes mellitus correspondeu a 59,5%, nas mulheres, e 38,2%, nos homens. O principal motivo de internação de diabéticos foram as complicações cardiovasculares. Os pacientes diabéticos ficaram uma média de 10,9 dias internados a mais que pacientes não diabéticos, e a principal causa de internação desses pacientes foram complicações cardiovasculares. Não se encontrou correlação entre a média das glicemias obtidas durante a internação e o tempo em que os diabéticos permaneceram internados. Discussão: A maior duração de internação observada em pacientes diabéticos do HCTCO mediante a comparação com os não diabéticos se encontra em concordância com os dados disponíveis na literatura. Os diabéticos apresentam cicatrização lentificada, diminuição da resposta imunológica e estão mais suscetíveis à infecção hospitalar. Conclusão: Confirmando dados da literatura, no HCTCO, pacientes diabéticos permaneceram internados por um maior tempo que pacientes não diabéticos, gerando maior ônus financeiro para o município. Esse dado reforça a necessidade de prevenção das complicações do diabetes, especialmente as cardiovasculares. 122 TIREOPATIAS EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS Pereira, L. S. B.¹; Lorente, A. C.¹; Parisi, M. C. R.¹; Tambascia, M. A.¹; Minicucci, W. J.¹; Zantut Wittmann, D. E.¹; Pavin, E. J.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Determinar a prevalência de tireopatias em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) correlacionando-a às carac- S243 Diabetes Trabalhos Científicos Diabetes Trabalhos Científicos terísticas clínicas e laboratoriais e à presença de complicações crônicas do DM. Métodos: Estudamos 79 diabéticos: 39m/40h, idade: 64,6 ± 10,4a, idade de início DM: 47,8 ± 11,6a, tempo DM: 16,9 ± 6,8, HBA1c: 8,5% ± 1,6, IMC: 29,6 ± 3,2, atendidos de forma consecutiva, por meio de dosagens séricas de T4L, T3L e TSH, pesquisa de anticorpos antiperoxidase (AATPO) e antitireoglobulina (AATG) e presença de bócio ao exame físico. Drogas que interferissem na função tireoidiana constituíram critérios de exclusão para o estudo. Resultados: Os valores de T4L, T3L e TSH foram: 1,37 ± 0,22; 0,33 ± 0,22 e 3,45 ± 3,74. Anticorpos antitireoidianos foram positivos em 26,6% dos pacientes, prevalecendo os anti-TPO. Disfunção tireoidiana ocorreu em 34% dos diabéticos, sendo: 16,4% hipotireoidismo subclínico, 13,9% hipotireoidismo clínico, 2,5% hipertireoidismo subclínico e clínico 1,2%. A análise comparativa entre pacientes com (n = 27) e sem DT (n = 59) revelou associação estatisticamente significativa com: gênero feminino (p = 0,027), tempo DM (p = 0,031), IMC (p = 0,001) e positividade para ACTPO. Discussão: Pacientes portadores de DM apresentam maior prevalência de DT, sobretudo os diabéticos tipo 1 (autoimunidade). Mas no DM2 os dados sobre tireopatias ainda são conflitantes. Nosso estudo evidenciou alta taxa de DT em diabéticos tipo 2, prevalecendo hipotiroidismo subclínico, seguido do clínico, a maioria assintomática. Os fatores mais fortemente associados à DT foram: AATPO, gênero feminino, tempo DM e IMC. Conclusão: Tireopatias, sobretudo hipotiroidismo subclínico e clínico, são altamente prevalentes em diabéticos tipo 2. O principal fator de risco associado à presença de DT foi o IMC elevado. Esses achados apontam para possível investigação periódica funcional da tireoide no DM2. 123 TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E RISCO DE DIABETES Pereira, N. G. B.¹; Filho, F. F.¹; Santomauro, A. N.¹; Dallal, M. V. S.¹; Costa, P. S.¹; Correa, R. C.¹; Paula, C. A.¹; Vieira, M. C. C.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBPSP), Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O uso de diuréticos e betabloqueadores está associado com risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes mellitus (DM) tipo 2. Métodos: Foram avaliados e acompanhados, por cinco anos, 182 pacientes portadores de hipertensão arterial e não portadores de DM, em monoterapia com betabloqueadores ou diuréticos, quanto ao risco de desenvolver DM. Resultados: Desses pacientes, 48 usavam betabloqueador e 54, diuréticos. Do total de pacientes, 80 necessitaram uma segunda medicação para controle adequado das cifras tensionais (foram utilizados inibidores de ECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II [BRA]). A presença de DM foi avaliada em cada visita ao longo do acompanhamento nos cinco anos. O risco para desenvolver DM associado ao uso de betabloqueadores ou diuréticos foi avaliado com o uso da regressão de Cox, ajustando-se para cinco covariáveis, e foi avaliado se esse risco foi modificado após o uso de inibidores de ECA ou BRA. Dos 182 pacientes sem diabetes no início do estudo (131 homens/com idade média de 62,33 ± 7,23 anos), 28 desenvolveram diabetes ao longo do período de observação. Discussão: Nas análises estatísticas, BB e uso de diuréticos foram associados com um risco aumentado para o desenvolvimento de DM (BB HR 2.2, diurético HR 1.8). A associação de um inibidor de ECA ou BRA diminuiu o risco de desenvolvimento de DM nos dois grupos, com significado estatístico nos dois grupos (HR 1.15 e 1.22, respectivamente). Conclusão: Em resumo, o uso de betabloqueadores e diuréticos foi associado com risco aumentado para desenvolver DM e esse S244 risco foi reduzido em pacientes tratados concomitantemente com um inibidor da ECA ou BRA. Esses dados sugerem que, no tratamento da hipertensão arterial, a combinação contendo um inibidor da ECA ou BRA pode diminuir o risco de alterações da glicose observados com os diuréticos e betabloqueadores. 124 USO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA EM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 E ESCLEROSE SISTÊMICA: RELATO DE CASO Pereira, L. S. B.¹; Moma, C. A.¹; Gurgel, A.¹; Minicucci, W. J.¹; Moura Neto, A.¹; Parisi, M. C.¹; Pavin, E. J.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Relato de caso de paciente com esclerose sistêmica, dificuldade de aplicação de insulina e controle insatisfatório do diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Métodos: Relato de caso, P.R.J.O., sexo feminino, branca, 40 anos, portadora de DM1 há 22 anos. Nesse período, desenvolveu hipotiroidismo de etiologia autoimune (tireoidite de Hashimoto) e doença celíaca. Há 4 anos, desenvolveu quadro de esclerose sistêmica fazendo uso de D-penicilamina e diltiazem. Até julho de 2011, a paciente vinha em uso de insulinoterapia convencional esquema basal-bolus 0,93U/kg/dia, em quatro aplicações diárias, hemoglobina A1c (HbA1c) em torno de 9,1% e importante labilidade glicêmica, com episódios frequentes de hipoglicemias, sendo descartado o diagnóstico de insuficiência adrenal. Há três anos, evoluiu com dificuldade para realização de glicemia capilar devido a espessamento da pele das mãos, com agravamento do quadro, sendo que nos últimos dois anos começou a apresentar dificuldade progressiva para aplicação de insulina. Em janeiro de 2011, evoluiu com formação de abscesso em região de coxa direita de aproximadamente 2 cm, doloroso, com aumento de temperatura local necessitando de internação hospitalar para antibioticoterapia e drenagem cirúrgica. Posteriormente, observaram-se vários microabscessos em locais de aplicação de insulina. Por esses motivos, optou-se por iniciar terapia com Bomba de Infusão de Insulina (Spirit®). Atualmente, a paciente faz uso de 13,9 UI de insulina (0,27UI/kg/dia) apresentando pequenas variações glicêmicas, HbA1c média de 8,5%, sem novas lesões cutâneas e relatando grande melhora na sua qualidade de vida. Discussão: Devido à dificuldade de aplicação de insulina nessa paciente, levando a um controle glicêmico insatisfatório, aos múltiplos abscessos de pele e às importantes oscilações glicêmicas, optamos pelo tratamento com bomba de infusão de insulina, que se revelou eficaz. Conclusão: A associação entre esclerodermia e DM1 não é frequente. Nesse caso, a terapia com bomba de infusão de insulina mostrou-se altamente eficaz diante das alterações cutâneas relacionadas à doença reumática autoimune agravadas por aplicações diárias de insulina por via subcutânea. 125 USO DE INIBIDORES DA DPP-IV EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 INADEQUADAMENTE CONTROLADOS COM METFORMINA E GLICAZIDA Costa, P. S.¹; Valle, P. O.¹; Correa, R. C.¹; Paraguassu, B. R.¹; Paula, C. A.¹; Capps, L. M. M.¹; Santomauro, A. T.¹; Fraige Filho, F.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBPSP), Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), São Paulo, SP, Brasil Introdução: Os hormônios secretados pelas células enteroendócrinas em resposta à ingestão de nutrientes, conhecidos como incretinas, Trabalhos Científicos 126 USO DE LIRAGLUTIDA EM PACIENTE COM OBESIDADE, DIABETES E ACROMEGALIA da Costa, R.¹; Silva Júnior, W. S.¹; Cruz, I. C.¹; Alencastro-Corrêa, A. T.¹; Warszawski, L.¹; Campos, C. F. C.¹; Coutinho, W. F.¹ ¹ Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar o impacto da liraglutida no peso, controle glicêmico e necessidade de insulina de um paciente obeso com diabetes tipo 2 (DM2) e acromegalia. Métodos: Paciente de 55 anos, masculino. DM2 diagnosticado há 20 anos. Acromegalia há 15 anos, por cefaleia contínua e aumento no número dos calçados. Cirurgia transesfenoidal e radioterapia há 12 anos, evoluindo com doença persistente e hipogonadismo. Doenças coexistentes: obesidade grau III, hipertensão, apneia do sono, esteatose hepática e osteoporose. Tabagismo (30 anos-maço). Hiperfagia. Medicamentos em uso: insulinas NPH + lispro (2,15 U/kg/dia), metformina 2.550 mg/dia, octreotide LAR 20 mg/mês, cipionato de testosterona 200 mg a cada 15 dias, sinvastatina 40 mg/dia, aspirina 200 mg/dia, mononitrato de isossorbida 120 mg/dia, captopril 150 mg/dia, clonidina 0,2 mg/dia. Ao exame físico, estigmas de acromegalia, obesidade androide e acantose nigricans. Peso: 125 kg; índice de massa corporal: 43,5 kg/m². Pressão arterial: 120 x 80 mmHg. Pulso: 100 ppm. Resultados: Evolução clínica e laboratorial de antes e ao longo de 24 semanas do uso da liraglutida demonstrada na Tabela 1. Com doses de até 1,8 mg/dia de liraglutida, o paciente apresentou perda ponderal de 18,1 kg, queda de 1,2% na HbA1c e redução de 36% no número de U/kg/dia de insulina. Discussão: Acromegalia e obesidade são doenças que cursam com resistência insulínica, dificultando o controle do DM2. A liraglutida é o medicamento de maior benefício combinado sobre o peso e a hemoglobina glicada (HbA1c). Metade dos pacientes em uso das doses de 1,2 e 1,8 mg/dia atinge reduções de peso ≥ 4 kg, e a associação dessas doses com metformina 2 g/dia promove queda adicional de 1% na HbA1c. No presente caso, observou-se, ainda, redução marcante da necessidade de insulina. Deve-se ressaltar, no entanto, que a com- binação liraglutida + insulina não é contemplada em bula. Conclusão: O uso de liraglutida promoveu perda ponderal, melhora do controle glicêmico e redução substancial da necessidade de insulina no paciente estudado. 127 USO DO ESCORE FRAMINGHAM DE RISCO CARDIOVASCULAR PARA OTIMIZAR USO DE ASPIRINA NA PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EM DIABÉTICOS TIPO 2 Diabetes estimulam a secreção de insulina. Os efeitos glicorreguladores desses hormônios são as bases para as novas terapias no diabetes mellitus tipo 2 (DM2). As drogas que inibem a enzima dipeptidil-dipeptidase IV (DPP-IV), que é responsável por degradar as incretinas, mostraram capacidade de aumentar o nível circulante desses hormônios e, consequentemente, melhorar o controle glicêmico. Métodos: Trata-se de um estudo transversal com pacientes portadores de DM2 há mais de 10 anos, atendidos no ambulatório de diabetes do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e da Faculdade de Medicina do ABC. Resultados: Foram analisados 142 pacientes (89 mulheres e 53 homens) com idade média de 62,43 ± 8,2 anos e 14,74 ± 4,33 anos de doença. Estes já recebiam 90 mg/dia de glicazida em combinação com metformina 1,7g/dia por um período médio de 5,3 anos. Após a introdução da vildagliptina, pode-se perceber melhora do controle glicêmico (214,42 ± 45,33 para 108,64 ± 6.38. Discussão: Descrever nossa experiência com o uso de vildagliptina em pacientes com DM2 inadequadamente controlados com metformina e sulfonilureia. Conclusão: Outros estudos vêm mostrando que a melhora no controle glicêmico após o uso de inibidores da DPP-IV parece refletir uma melhora na função das ilhotas pancreáticas, principalmente na fase inicial do diabetes. No momento, podemos dizer que nossos dados indicam que essa nova classe de ADO é uma boa opção para pacientes diabéticos crônicos inadequadamente controlados com ADO clássicos. de Paula, A. S. L.¹; Santana, A. N. C.¹; Sete, A. R. C.¹ ¹ Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Avaliar se há o uso correto de aspirina profilática nos pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) com alto risco cardiovascular pelos Critérios de Framingham (ARCCF). Também avaliar se há associação entre ARCCF com outros fatores de morbimortalidade em DM2, como idade, sexo masculino, tempo de DM2, glicemia de jejum, entre outros. Métodos: Estudo transversal, observacional, com aplicação de questionário clínico uma única vez, pelo mesmo entrevistador, em pacientes com DM2 atendidos consecutivamente no ambulatório de DM2 de um hospital de ensino em Brasília, DF. Foi utilizado Escore de Framingham para Risco Cardiovascular. Os pacientes foram classificados em baixo-moderado risco cardiovascular (BRCCF) e ARCCF (> ou = 20% de eventos cardiovasculares em 10 anos). Foram avaliados idade, sexo, tempo de DM2, IMC, cintura abdominal (CA), circunferência de pescoço, hemoglobina (Hb) glicada, glicemia de jejum, triglicerídeo, uso de aspirina, creatinina, LDL, microalbuminúria. Resultados: Foram entrevistados 61 pacientes, sendo 17 com ARCCF e 44 com BRCCF. O uso de aspirina profilática aconteceu apenas em 29% dos pacientes com ARCCF. Entre os dois grupos (ARCCF versus BRCCF), houve diferença estatística. Discussão: Os pacientes com DM2 devem receber especial atenção para risco cardiovascular, especialmente se apresentam triglicerídeo alto ou idade mais avançada. Nos pacientes com ARCCF, deve-se usar aspirina profilática para reduzir o risco de IAM e AVC. Entretanto, na população estudada, a aspirina profilática ainda é subutilizada. Conclusão: O Escore Framingham de Risco Cardiovascular, por ser de fácil aplicação, pode ser de grande utilidade para avaliação do paciente com DM2 e consequente otimização do uso de aspirina profilática nos pacientes com alto risco de IAM e AVC (ARCCF). 128 XANTOMAS ERUPTIVOS COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL DE DIABETES MELLITUS ASSOCIADO À HIPERTRIGLICERIDEMIA: RELATO DE CASO Amorim, T. G.¹; Colombo, B. S.¹; Costa, M. C.¹; Correa, C. G.¹; Schreiber, C. S. O.¹; Coral, M. H. C.¹; Hohl, A.¹ ¹ Universidade Federal de Santa Catarina, Hospital Universitário (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil Introdução: Xantomas eruptivos são lesões cutâneas relacionadas a elevados níveis séricos de triglicerídeos. São pápulas amareladas, isoladas ou em confluência, formando placas, surgem de forma súbita nas superfícies extensoras das mãos, cotovelos, joelhos, glúteos, e podem deixar cicatrizes após resolução. Histologicamente, caracterizam-se pela presença de um infiltrado inflamatório misto e de células espumosas na derme. Métodos: Relato do caso: Sexo feminino, 27 anos, história de psoríase vulgar, compareceu ao Ambulatório de Dermatologia por pápulas, com conteúdo denso, amareladas, indolores, S245 Dislipidemia E Aterosclerose Trabalhos Científicos de início súbito e evolução de três meses. Iniciaram nos cotovelos e na região lombar, disseminando-se para membros inferiores e tronco. Avós paternos portadores de diabetes mellitus (DM). Sob a hipótese diagnóstica de xantomas eruptivos, investigação laboratorial com glicemia de jejum 363 mg/dl, HbA1c 13,4%, triglicerídeos 7.177 mg/ dl (valor de referência [VR] < 150), VLDL 1.435 mg/dl (VR 40). Hemograma, função renal e hepática normal. Avaliada pela Endocrinologia, relatou poliúria, polidipsia e polifagia. Ao exame físico: peso 77,5 kg, IMC 27,13 kg/m², glicemia capilar 330 mg/dl (2 horas pós-prandial); acantose nigricans em áreas flexoras; e lesões papulares amareladas acima descritas. Iniciado tratamento com atorvastatina 20 mg, insulina NPH/Regular (70/30) e metformina. Encaminhada para avaliação nutricional e orientada quanto à necessidade de perda de peso e prática de atividade física regular. Após um mês de tratamento, notaram-se redução das lesões cutâneas e melhora laboratorial: triglicerídeos 680 mg/dl, colesterol total 238 mg/dl, HDL 40 mg/ dl, glicemia de jejum 152 mg/dl, HbA1c 8,1%. Realizado ajuste do esquema insulínico e a paciente continuou o acompanhamento no Ambulatório de Endocrinologia, permanecendo com algumas lesões cicatriciais, e futuramente necessitando da associação de ciprofibrato 100 mg/dia. Discussão: Os xantomas eruptivos são importantes marcadores cutâneos de doenças sistêmicas subjacentes. A hipertrigliceridemia pode ser decorrente de fatores como: genéticos (hiperlipoproteinemias primárias), hábitos alimentares inadequados ou secundários a outras patologias, como DM. Conclusão: A identificação precoce dos xantomas e o reconhecimento das possíveis desordens sistêmicas relacionadas ao seu aparecimento fazem-se essenciais na realização de um tratamento eficaz e na prevenção de complicações relacionadas a essas comorbidades. DISLIPIDEMIA E ATEROSCLEROSE 129 ASSOCIAÇÃO DO PADRÃO ALIMENTAR A MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM PACIENTES COM DISLIPIDEMIA da Silva, H. G. V.¹; Moreira, A. S. B.¹; Fortunado, J.¹; Assad, M. H.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, Instituto Nacional de Cardiologia Rio de Janeiro (INC), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar a associação entre a PCR, estado nutricional, perfil lipídico e padrão alimentar em pacientes com dislipidemia. Métodos: Estudo longitudinal envolvendo pacientes dislipidêmicos tratados por equipe multidisciplinar, durante três meses. Foram avaliados perfil clínico, antropométrico, alimentar e bioquímico. Os valores de PCR-US foram descritos por mediana (intervalo interquartil). Para análise estatística, utilizou-se o SPSS, sendo realizados o teste de Mann-Whitney e a correlação de Spearman; considerou-se significativo p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 68 pacientes, sendo 60,3% homens; 50%, idosos; 90%, HAS; 55,4%, diabéticos; 58,8% com IAM prévio; 94% com síndrome metabólica; 92%, sedentários; e 43%, obesos. A PCR se correlacionou positivamente com as variáveis antropométricas (IMC r = 0,328 e p = 0,022; CC r = 0,331, p = 0,017), perfil lipídico (CT r = 0,373, p = 0,007; LDL r = 0,295, p = 0,03), com a resistência insulínica (insulina r = 0,458, p = 0,019; HOMA-IR r = 0,51. P = 0,008) e com processo inflamatório (VHS r = 0,517, p = 0,001 e leucócitos totais r = 0,592, p = 0,001). A PCR se correlacionou positivamente ao padrão alimentar: uso de temperos prontos (r = 0,357 p = 0,01) e com consumo de embutidos (r = 0,357 p = 0,018) e inversamente com a quantidade (r = - 0,340, p = 0,003) e qualidade de leite (desnatado r = -0,398, p = 0,001). A PCR-US associou-se de maneira significativa S246 com a obesidade, resistência à insulina, consumo de temperos prontos e de leite desnatado. Não houve associação entre a PCR e o consumo de frutas, verduras e legumes, de peixe nem com o consumo de frituras, doces, sobremesas e produtos de pastelaria. Discussão: A proteína C reativa (PCR) é um novo marcador de eventos cardiovasculares e tem sido investigada como um marcador de obesidade. Entretanto, poucos são os relatos da sua relação com os hábitos alimentares. Conclusão: Em pacientes dislipidêmicos, a PCR apresentou associação com obesidade, resistência à insulina e padrão alimentar. Os mecanismos biológicos responsáveis pela associação da PCR como marcadores de maus hábitos alimentares e de obesidade precisam ser elucidados. 130 ASSOCIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE ÁCIDO ÚRICO COM INGESTÃO DE NUTRIENTES, GORDURA CORPORAL E VISCERAL, E PERFIL LIPÍDICO – BRAMS Cassani, R. S. L.¹; Loeschke, V. S.¹; de Freitas, A. L. G.¹; Hanada, A. S.¹; de Souza, A. P. D. F.¹; Vasques, A. C. J.¹; Tambáscia, M.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED), Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivos: Correlacionar as associações entre as concentrações sanguíneas de ácido úrico com outros marcadores da SM e investigar quais nutrientes associam-se à elevação dos níveis sanguíneos de ácido úrico. Métodos: Estudo transversal. Casuística: 452 voluntários (17 a 75 anos), 21% homens, diferentes graus de adiposidade. Subamostra: 101 mulheres com cálculo do consumo alimentar. Antropometria: peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) e diâmetro abdominal sagital (DAS). Composição corporal: bioimpedância tetrapolar. Avaliação clínica: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Avaliação bioquímica: colesterol total e frações, triglicérides (TG), glicemia e insulinemia de jejum, hemoglobina glicada, TGO, TGP, adiponectina e ácidos graxos livres. Resistência à insulina: HOMA-IR. Composição nutricional: software DietPro5. Análises estatísticas: software SPSS (versão 20). Teste de correlação de Spearman, significância. Resultados: Concentrações séricas de ácido úrico correlacionaram-se com TGO (r = 0,279; p = 0,005); LDL-c (r = 0,257; p = 0,010); e TG (r = 0,237; p = 0,017). Em relação aos nutrientes, ácido alfa-linolênico (ALA) mostrou associação com redução dos níveis séricos de ácido úrico (r = -0,226; p = 0,023). CA e % de gordura corporal não apresentaram correlação com os níveis de ácido úrico. Tais medidas antropométricas mostraram relação com a ingestão de ALA, respectivamente, r = -0,275; p = 0,005 e r = -0,348; p = 0,000. Discussão: Foi observada associação de CA aumentada e concentrações séricas de ácido úrico com marcadores de SM e esteatose hepática não alcoólica, e também de TG e LDL-c com ingestão de carboidratos de rápida absorção, já descrito em outros estudos. Níveis de ácido úrico correlacionaram-se negativamente com ALA e gordura corporal mostrando associações entre FR cardiometabólicos e necessidade de reconhecer precocemente, por recordatório habitual e antropometria, padrões dietéticos inflamatórios. Conclusão: Concentrações séricas de ácido úrico apresentaram-se associadas a LDL-c, TG e TGO, componentes associados à esteatose hepática não alcoólica e à SM. A verificação da antropometria e da ingestão dietética habitual mostrou a necessidade do controle da gordura corporal e visceral, pois ambas associaram-se negativamente a ingestão de ALA, um reconhecido nutriente anti-inflamatório. Menor ingestão de ALA correlacionou-se a maiores concentrações de ácido úrico sérico, o que indica a relevância de alguns nutrientes no desenvolvimento de fatores de risco cardiometabólicos que desencadeiam a SM. 131 AVALIAÇÃO DE LÍPIDES COM USO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATYMENIA RETICULATA Magalhães, F. O.¹; Uber-Buceck, E.¹; Ceron, P. I. B.¹; Name, T. F.¹; Honorato, L. G. C.¹; Silva, F. C.¹; Scorsolin, V. C.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Avaliar o efeito do extrato aquoso a frio da Plathymenia reticulata no controle de dislipidemias, em animais diabéticos e controles. Métodos: Experimento realizado com um total de 53 ratos machos adultos Wistar, pesando entre 180 g e 220 g, divididos em 6 grupos: controles tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (CAF25, CAF50 e CAF100, respectivamente) e diabéticos tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (DAF25, DAF50 e DAF100, respectivamente), diabéticos tratados com água (DC) e controles tratados com água (CC). Foi administrado estreptozotocina (65 mg/kg) via intraperitoneal em 31 ratos, para induzir diabetes. Após 7 dias, o diagnóstico de diabetes foi: perda de peso com glicemia ≥ 200 mg/dL. O tratamento com extrato da planta ou água foi realizado diariamente por gavagem durante 30 dias. No final do experimento, foram feitos sacrifício e coleta do sangue para análise laboratorial: colesterol total, triglicérides, HDL, LDL. Aplicados ANOVA e teste Tukey-Kramer com nível de significância de 5%. Os resultados foram expressos em media ± EPM. Resultados: Observamos que os níveis de triglicérides tiveram redução significativa em ratos não diabéticos tratados com o extrato nas dosagens de 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg (CAF25 35,75, n = 4 ± 6,18 vs. CC 93,50, n = 4 ± 4,71, p = 0,01; CAF 50 48,75, n = 4 ± 7,52 vs. CC 93,50, n = 4 ± 4,71, p = 0,05; CAF 100 52,67, n = 3 ± 8,14 vs. CC 93,50, n = 4 ± 4,71, p = 0,016). Não houve alterações significativas de colesterol total, HDL e LDL em ratos não diabéticos. Nos ratos diabéticos, não houve alterações significativas de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides. Discussão: Foram observados uma diminuição significativa dos níveis de triglicérides em ratos não diabéticos tratados com extrato aquoso a frio nas dosagens de 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg, e os demais lípides (HDL, LDL e colesterol total) não tiveram alteração significativa. Os ratos diabéticos não apresentam alterações significativas dos lípides (HDL, LDL e colesterol total), com o uso do extrato aquoso a frio por até quatro semanas. Conclusão: O extrato se mostrou eficaz em diminuir o nível de triglicérides, em ratos não diabéticos, podendo vir a ser uma nova alternativa como tratamento de hipertrigliceridemia. 132 AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE VISCERAL Pacheco, M. O.¹; Aragão, M. T.¹; Araujo, J.¹; Costa, P. O.¹; Pacheco, J. M. O.¹; Aguiar-Oliveira, M. H.¹; Silva, A. M.¹ ¹ Serviço de Infectologia e Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju, SE, Brasil Objetivo: Avaliar o perfil lipídico de pacientes com leishmaniose visceral (LV) recém- diagnosticados. Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo envolvendo 30 pacientes com diagnóstico de leishmaniose visceral (GLV), 18 crianças e 12 adultos, comparados com grupo controle (GC) pareados para idade e sexo (n = 30). Foram determinadas as concentrações plasmáticas de colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicérides (TG). Também foram mensurados peso, altura e índice de massa corpórea. Para as variáveis paramétricas, aplicou o teste t de Student e, para as não paramétricas, o teste de Mann-Whitney. Resultados: O perfil lipídico encontrado nos pacientes com LV foi caracterizado por concentrações séricas elevadas de TG (GLV = 237,1 ± 9,4 vs. GC = 101,3 ± 30 mg/dl) e diminuição significativa de CT (GLV = 99,5 ± 28,9 vs. GC = 151,9 ± 17 mg/dl), LDL (GLV = 48,3 ± 9,3 vs. GC = 106,5 ± 16 mg/dl) e HDL (GLV = 14,3 ± 9,7 vs. GC = 44,9 ± 3,0 mg/dl). Discussão: Alterações transitórias nos níveis plasmáticos de lipídios, colesterol e triglicerídeos têm sido observadas em diferentes infecções agudas. Na LV têm sido reportados distúrbios no metabolismo lipídico. Em nosso estudo, o perfil lipídico encontrado nos pacientes com LV foi caracterizado por concentrações séricas elevadas de triglicérides e diminuição significativa de CT, HDLc e LDLc em relação ao grupo controle, tanto na população adulta como na pediátrica. Esses achados corroboram com os dados existentes na literatura sobre alterações do perfil lipídico na LV. Liberopoulos et al. (2002), Sçemmer et al. (2006) e Soares et al. (2010) evidenciaram hipocolesterolemia e hipertrigliceridemia em pacientes com LV. Bekaert et al. (1989) encontraram, em 17 crianças entre 10 meses e 6 anos de idade, níveis aumentados de TG e diminuídos de HDLc, LDLc. Conclusão: O perfil lipídico de pacientes com leishmaniose visceral é caracterizado por elevação da concentração plasmática de TG e diminuição de CT, LDL e HDL em relação a indivíduos saudáveis de mesma idade e sexo. A hipocolesterolemia e a hipertrigliceridemia podem ser marcadores bioquímicos no diagnóstico de LV. 133 AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES E SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE REUMATOIDE Emmerick, T. C.¹; Oliveira, H. B. S.¹; Lucena-Couto, R. A.¹; Santos, N. L.¹; Macieira, J. C.¹ ¹ Serviços de Endocrinologia e Reumatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju, SE, Brasil Objetivo: Avaliar os fatores de risco para doença cardiovascular (DCV) e síndrome metabólica (SM) em pacientes com artrite reumatoide (AR). Métodos: Estudo observacional, transversal e descritivo de 40 pacientes com AR (GAR) e 40 indivíduos saudáveis (GC). Foram avaliados por meio de exame físico e laboratorial com determinação das concentrações séricas de colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), HDL e LDL, glicemia plasmática e foi determinada SM por meio dos critérios da International Diabetes Federation. Foi utilizado teste t de Student para análise das variáveis contínuas. O nível de significância adotado para rejeição da hipótese de nulidade foi de 5% (p < 0,05). Resultados: Os GC e GAR foram pareados para sexo, altura, peso e idade. A SM esteve presente em 3 pacientes do GC e em 21 (52,5%) pacientes do GAR. Entre os fatores de critérios para a SMV, a circunferência abdominal, glicemia, HAS, TG e HDL estavam presentes em 60%, 22,5%, 67,5%, 32,5% e 35%, respectivamente, nos pacientes do GAR. Houve diferença estatística entre o GC e o GAR para as determinações de circunferência abdominal (GC = 76,8 ± 9,3 vs. GAR = 93,8 ± 13,2 cm); glicemia (GC = 72,3 ± 6,7 vs. GAR = 96,8 ± 67,2 mg/dl); CT (GC = 139,8 ± 23 vs. GAR 189,7 ± 40,7 mg/dl); TG (GC = 110,0 ± 30,4 vs. GAR = 155,1 ± 103 mg/dl), HDL (GC = 56,7 ± 3,5 vs. GAR = 49,7 ± 17,9 mg/dl) e LDL (GC = 83,4 ± 10,7 vs. GAR = 110,7 ± 37,4 mg/dl). Discussão: Os pacientes com AR apresentam maior morbimortalidade por DCV, bem como a associação da SM e AR é evento comum, tendo diversos fatores que justificam essa associação. Neste estudo, a frequência de SM pelos critérios IDF foi elevada. Existe a necessidade de avaliação e diagnóstico S247 Dislipidemia E Aterosclerose Trabalhos Científicos Dislipidemia E Aterosclerose Trabalhos Científicos dos fatores de risco cardiometabólico em pacientes portadores de AR. Estudos prospectivos com o objetivo de esclarecer as implicações clínicas entre a associação de AR e DCC são necessários para adoção de medidas preventivas nessa população. Conclusão: A frequência de SM e de fatores de risco cardiovascular em pacientes com AR foi elevada no grupo estudado, o que justifica a pesquisa destes na tentativa de reduzir eventos cardiovasculares nessa população. 134 CARVEDILOL E SALSALATO NA PREVENÇÃO DE HIPERTENSÃO, DISFUNÇÃO ENDOTELIAL E INFLAMAÇÃO INDUZIDAS POR ÁCIDOS GRAXOS LIVRES Siqueira, J.¹; Pasquel, F. J.¹; Newton, C.¹; Peng, L.¹; Al Mheid, I.¹; Smiley, D.¹; Umpierrez, G. E.¹ ¹ Emory University School of Medicine (SOM), Atlanta, GA, University of Tennessee Health Science Center (UTHSC), Memphis, TN, Rollins School of Public Health, Atlanta, GA (SPH), Atlanta, GA, USA Objetivo: Elucidar mecanismos pelos quais os ácidos graxos livres (FFA) levam à hipertensão, à disfunção endotelial e à inflamação em pacientes com sobrepeso ou obesidade. Métodos: Estudo prospectivo randomizado duplo-cego em que 35 pacientes com sobrepeso ou obesos foram submetidos à infusão endovenosa suprafisiológica de FFA (20 ml/h de solução intralipídica a 20%) antes e depois de seis semanas de tratamento com salsalato (n = 11; idade 34 ± 11 anos; IMC 35 ± 9 kg/m²; pressão arterial sistólica/PAS 111 ± 16 mmHg), carvedilol (n = 12; 41 ± 11 anos; IMC 30 ± 6 kg/m²; PAS 111 ± 13 mmHg) ou placebo (n = 12; 37,5 ± 8 anos; IMC 29 ± 4 kg/m²; PAS 115 ± 11 mmHg). Durante a infusão: PA aferida a cada 4h; dilatação mediada por fluxo (FMD) avaliada 4h e 24h do início; e marcadores inflamatórios medidos a cada 6 horas. Análise estatística por ANOVA, com p = 0,05. Resultados: Níveis de FFA aumentaram de forma similar durante a infusão intralipídica antes e depois das 6 semanas de tratamento. Discussão: A resistência insulínica (RI) está relacionada a vários fatores de risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, intolerância à glicose, dislipidemia e distúrbios plaquetários. Estudos recentes sugerem que o aumento de FFA tenha papel importante na patogênese da RI em pacientes obesos. Estudo prévio do grupo mostrou hipertensão arterial, disfunção endotelial e aumento da resposta inflamatória induzidos pela infusão intralipídica. O carvedilol, pelas ações vasodilatadora e antioxidante por meio do bloqueio dos receptores α1 e β1-adrenérgicos; e o salsalato, pela ação anti-inflamatória por inibição do sistema NF-κB, foram considerados candidatos na prevenção daquelas alterações. Conclusão: O atual estudo confirmou o aumento da PAS e dos marcadores inflamatórios relacionados com a infusão intralipídica em pacientes com sobrepeso ou com obesidade. No entanto, o tratamento de seis semanas com o carvedilol ou com o salsalato não preveniu a hipertensão arterial nem o aumento da atividade inflamatória induzidos pela infusão intralipídica endovenosa. 135 COMO TRATAR A HIPERTRIGLICERIDEMIA EM UMA POPULAÇÃO DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR? da Silva, H. G. V.¹; Fortunato, J.¹; Assad, M. H.¹; Moreira, A. S. B.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Reduzir os níveis de triglicerídeos em uma população de alto risco cardiovascular, identificando os fatores associados a essa redução. Métodos: Estudo longitudinal envolvendo 57 pacientes com hipertrigliceridemia (TG ³ 150 mg/dl) tratados durante 3 meses com S248 hipolipemiantes e metformina, associado à modificação do estilo de vida, com dieta hipocalórica. Foi definida como meta a redução de 30% do triglicerídeo. Avaliou-se o perfil clínico, antropométrico e bioquímico, no início e final do período. Análise estatística foi realizada utilizando o SPSS, teste de Mann-Witney, Wilcoxon e kruskal-Wallis e foi considerado p < 0,05. Resultados: 54,8% homens, 52,4% idosos; 56,5% diabéticos; 42,5% obesos, 90% com síndrome metabólica e 54,5% com IAM prévio. No início do tratamento, 56,1% apresentavam entre 200-499 mg/dl e 17,5%, acima de 500 mg/dl. O tratamento durou em média 131 dias com melhora significativa nos níveis séricos de TG (mg/dl): 358 x 268 respectivamente inicial e final, p5% foi fator determinante à melhora no perfil lipídico, sem influência em relação ao uso de metformina e hipolipemiantes. Discussão: A hipertrigliceridemia é um dos fatores de risco para eventos cardiovasculares, principal causa de morte no mundo. Em geral, está associada a outros fatores de risco como obesidade, baixos níveis de HDL-colesterol e diabetes tipo 2. Reduzir seus níveis envolve modificação no estilo de vida, em especial a redução de peso. Conclusão: Para populações com alto risco cardiovascular, atingir metas é uma tarefa difícil. A perda de peso maior que 5% é um fator importante para o sucesso no tratamento da hipertrigliceridemia. 136 COMPORTAMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA PODE MODULAR O IMPACTO DO SNP RS9939609 DO GENE FTO EM DISTÚRBIOS DECORRENTES DA OBESIDADE? Pires, M. M.¹; Curti, M. L. R.¹; Folchetti, L. D.¹; Barros, C. R.¹; SiqueiraCatania, A.¹; Salvador, E. P.¹; Vivolo, S. R. G. F.¹ ¹ Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O SNP rs9939609 do gene FTO (T > A) tem sido associado a obesidade e suas comorbidades. Em portadores do alelo A, a atividade física (AF) parece minimizar o impacto deletério sobre o peso corporal, o que poderia reduzir o risco cardiovascular. Porém, a forma como o comportamento sedentário pode influenciar essa associação foi pouco explorada. O objetivo do estudo foi investigar se o tempo gasto assistindo à televisão e o nível de AF modulam os efeitos da presença do alelo A do FTO na adiposidade e marcadores de inflamação, em indivíduos de alto risco cardiometabólico. Métodos: Trata-se de estudo transversal com 158 indivíduos pré-diabéticos (103 mulheres, 54,7 ± 12,5 anos, IMC 30,5 ± 5,6 kg/m²). As atividades físicas foram medidas pela versão longa do IPAQ; os indivíduos foram genotipados e estratificados de acordo com o tempo de AF total. Resultados: Entre os indivíduos que assistiam a menos de 15 horas/semana de TV, os portadores do alelo A apresentaram maiores concentrações de colesterol total e LDL-c, apolipoproteína B (88,4 ± 27,0 vs. 96,8 ± 21,1 mg/dL) e interleucina-6 (2,37 ± 2,06 vs. 3,54 ± 3,07 pg/mL), mas não diferiram quanto às medidas antropométricas. Entre os que assistiam a mais de 15 horas de TV por semana, não foram observadas diferenças em variáveis clínicas quando comparados portadores e não portadores do alelo A. No que diz respeito a AF total, a presença do alelo variante não influenciou o perfil metabólico. Em portadores do alelo A, o tempo assistindo à TV foi correlacionado com PCR (r = 0,227, p = 0,039), atingindo significância limítrofe para IMC (p = 0,187, p = 0,08). Discussão: Contrariamente à literatura, não encontramos maiores valores de medidas antropométricas em portadores do alelo A e o nível de AF não influenciou os efeitos desfavoráveis do SNP. Conclusão: A presença do alelo A no gene FTO parece deteriorar os perfis metabólico e inflamatório, especialmente para os indivíduos menos expostos a atividades sedentárias, tais como assistir à TV. Para indivíduos mais inativos, a presença desse alelo não interfere na predisposição à adiposidade e suas comorbidades. 137 DISLIPIDEMIA GRAVE NA INFÂNCIA: RELATO DE CASO Meneguesso, A. M. A.¹; Maia, R. E.¹; Matos, L. L.¹; Nóbrega, M. P.¹; Rodrigues, M. L. C.¹; Diniz, C. M. C.¹; Silva, M. N. M.¹ ¹ Unidade de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Universitário Alcides Carneiro, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, PB, Brasil Objetivo: Descrever um caso de dislipidemia grave em lactente acompanhado em um hospital universitário. Métodos: Estudo retrospectivo individuado, cujos dados foram obtidos mediante consulta de prontuário. Resultados: Lactente, sexo feminino, com 2 meses e 22 dias de vida, peso ao nascer de 3.350 g, produto de terceira gestação sem intercorrências de pais consanguíneos, em aleitamento materno exclusivo, admitida no serviço por exacerbação de diarreia não disentérica presente desde o nascimento. Ao exame físico, mostrava-se com estado geral regular, eupneica, sonolenta, com fontanela anterior normotensa, vesículas amareladas em mucosa alveolar dentária, edema periorbitário bilateral e hipotonia generalizada, com mãos em flexão. O abdome era normotenso, doloroso, com fígado palpável a 2 cm do rebordo costal direito. Os exames laboratoriais revelaram colesterol total 1.460 mg/dl, HDL 17 mg/dl, triglicerídeos 5.425 mg/dl e soro lipêmico. A eletroforese de lipoproteínas mostrou alfa lipoproteínas 11,7; pré -beta lipoproteínas 38,1; beta lipoproteínas 50,2 e quilomícrons 6,6%. Teste do pezinho, ecografia abdominal, amilase, PCR e análise fecal foram normais, assim como o perfil lipídico em parentes de 1o grau. A descontinuação do aleitamento materno e a dieta com triglicerídeos de cadeia média reduziram apenas discretamente os níveis lipídicos, e a paciente evoluiu com persistência da diarreia e hipertrigliceridemia (HTG) grave, além de retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, peso abaixo do percentil 5 para idade e sexo e convulsões tônicas. Discussão: A literatura tem dados limitados acerca da epidemiologia da HTG grave (> 500 mg/dL) em crianças. A etiologia varia com a gravidade e o caráter, puro ou misto da HTG, sendo a hiperlipidemia familiar combinada a principal causa. HTG grave resulta principalmente de desordem genética no metabolismo lipídico, como deficiência de lipase lipoproteica, que seria uma possibilidade para etiologia do caso relatado, acarretando pancreatite aguda e controverso risco aterogênico. Nessa situação, o uso de fibratos não é eficaz, sendo a dieta com baixo teor de gordura a principal medida. Conclusão: A HTG grave é uma condição fatal na ausência de uma abordagem eficaz a fim de prevenir suas principais complicações. A definição etiológica é de extrema importância, uma vez que as condutas diferem entre as causas mais prevalentes. Diagnóstico precoce e acompanhamento clínico, laboratorial e radiológico são imprescindíveis quando se busca o sucesso no manejo desses pacientes. 138 ESPESSURA DA ÍNTIMA MÉDIA CAROTÍDEA EM NÃO DIABÉTICOS COMO INDICADOR DE RISCO CARDIOMETABÓLICO: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA Comucci, E. B.¹; Rocha, L. M.¹; Vasques, A. C. J.¹; Regiani, D.¹; Pareja, A. C.¹; Tambascia, M. A.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (FCMUnicamp), Campinas, SP, Brasil Introdução: A medida da espessura da camada íntima média da artéria carótida (EIMC) por ultrassom representa um método substituti- vo válido de avaliação da evolução da doença aterosclerótica. Poucos estudos relacionam, no entanto, os marcadores já conhecidos de risco cardiovascular (RCV) com a EIMC em indivíduos não diabéticos. Objetivo: Examinar a relação entre a EIMC com parâmetros cardiometabólicos em indivíduos não diabéticos. Métodos: Foram avaliados 299 indivíduos (99 homens) não diabéticos, com idades entre 19 e 78 anos. A avaliação foi composta pela medida da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), IMC, diâmetro abdominal sagital (DAS), perfil lipídico, glicemia e insulina de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c). A resistência à insulina (RI) foi avaliada pelo índice HOMA-IR. A EIMC foi avaliada em triplicata pelo mesmo avaliador por meio de ultrassom. Os dados foram analisados no software IBM SPSS Statistics 20.0. A EIMC foi dividida em quartis e utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste post-hoc de Tukey com p < 0,05. Resultados: O IMC foi de 29,3 ± 7 kg/m² para mulheres e 27,5 ± 4,5 kg/m² para homens. Comparando as médias do primeiro versus o quarto quartil de medidas de EIMC, notamos que as diferenças foram estatisticamente significantes. Discussão: Foi identificado aumento da EIMC em indivíduos não diabéticos associado a outros parâmetros cardiometabólicos marcadores de doença cardiovascular (DCV). Recentes estudos chineses identificaram, em indivíduos não diabéticos, correlação significante entre níveis de HbA1c e EIMC que, de forma similar, podem indicar estados precoces de RI e doença aterosclerótica. Conclusão: Neste estudo, foi possível demonstrar que os mesmos marcadores de RCV usados para indivíduos diabéticos podem indicar, em indivíduos não diabéticos, estados precoces de DCV e RI. 139 FREQUÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE Pereira, P. M. V. N.¹; Braga, I. C. H. B.¹; Pereira, L. T. A.¹; Garcia, M. M.¹; Oliveira, H. B. S.¹; Aguiar-Oliveira, M. H.¹; Macieira, J. C.¹ ¹ Serviço de Reumatologia e Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Aracaju, SE, Brasil Objetivo: Avaliar a frequência dos fatores de risco para doença cardiovascular e síndrome metabólica (SM) em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES), conforme critérios da IDF e NEP/ ATPIII. Métodos: Estudo observacional, transversal e descritivo de 70 pacientes com LES (GL) e 70 indivíduos saudáveis (GC). Foram avaliados por meio de exame físico e laboratorial e foi determinada SM mediante critérios para classificação da Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP/ATPIII), 2001 e International Diabetes Federation (IDF), 2005. Resultados: Os GC e GL foram pareados para sexo, altura, peso e idade. A SM esteve presente em 5 (7,14%) pacientes do GC e em 33 (47,14%) pacientes do GL, segundo critérios da NCEP/ATPIII e em 8 (11,4%) pacientes do GC e em 35 (50%) pacientes do GL, pelos critérios da IDF. Entre os fatores de risco para doença cardiovascular, a circunferência abdominal e a hipertensão arterial foram os fatores mais frequentes, segundo os critérios da IDF e NCEP/ATPIII, respectivamente. Houve correlação significativa entre a presença de SM e peso e índice de massa corpórea (IMC) no GL, independente do critério diagnóstico utilizado. Não houve correlação significativa entre SM e tempo de diagnóstico do LES e uso de medicamentos. Discussão: Os pacientes com LES apresentam maior morbimortalidade por DCV, S249 Dislipidemia E Aterosclerose Trabalhos Científicos Dislipidemia E Aterosclerose Trabalhos Científicos com risco 5-10 vezes aumentado de eventos cardiovasculares. A prevalência de SM em pacientes com lúpus é mais elevada, quando comparada à população geral. Neste estudo, a frequência de SM pelos critérios da NCEP/ATPIII e IDF foi semelhante, correspondendo a 47,14% e 50%, respectivamente. Independente do critério, a frequência encontrada em nosso meio foi elevada. Fortes Filho et al. (2010) encontraram frequência de SM elevada (50%) pelo critério da NCEP/ATPIII. Existe a necessidade de avaliação e diagnóstico dos fatores de risco cardiometabólico em pacientes portadores de LES. Estudos prospectivos com o objetivo de esclarecer as implicações clínicas entre a associação do LES e eventos CV é necessário. Conclusão: A frequência de SM e de fatores de risco cardiovascular em pacientes com LES foi elevada, independentemente dos critérios diagnósticos utilizados. 140 IMPACTO DA HIPERTRIGLICERIDEMIA NO RISCO CARDIOVASCULAR DE ACORDO COM ESCORE DE FRAMINGHAM EM PACIENTES DIABÉTICOS DO TIPO 2 Musso, M. M.¹; Alvim, R. O.¹; Albuquerque, D. P.¹; de Oliveira, C. M.¹; Mourão Júnior, C. A.¹ ¹ Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG; Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: As doenças cardiovasculares apresentam elevada prevalência e alta morbimortalidade, e um importante fator envolvido em sua gênese é a hipertrigliceridemia. O escore de Framingham para doenças cardiovasculares permite estimar o risco de doença arterial coronária em dez anos, de acordo com a faixa etária, sexo, pressão arterial sistólica, colesterolemia total e fração HDL, tabagismo e diabetes. Entretanto, esse escore não inclui a trigliceridemia como fator preditor de risco. Objetivo: Avaliar o impacto da hipertrigliceridemia no risco cardiovascular em pacientes diabéticos tipo 2, por meio do escore de Framingham. Métodos: Estudo retrospectivo do tipo caso-controle. Foram analisados 127 indivíduos portadores de diabetes do tipo 2 de ambos os sexos (49,6% do sexo masculino; idade: 56,2 ± 10,7 anos). A classificação do risco cardiovascular em dez anos foi realizada por meio do escore de Framingham, adotando-se como baixo risco valores percentuais iguais ou inferiores a 10%, e médio/alto risco percentuais superiores a 10%. Foram considerados portadores de hipertrigliceridemia os indivíduos que apresentaram níveis de triglicérides (após 12 horas de jejum) maiores ou iguais a 150 mg/dL. A medida do risco foi realizada por meio da determinação do odds ratio (OR) obtido em um modelo de regressão logística, no qual os valores foram devidamente corrigidos para sexo e idade. Resultados: O risco percentual para doenças cardiovasculares foi maior em pacientes com hipertrigliceridemia quando comparados ao grupo com valores de triglicérides considerados ótimos (19,9 ± 12,5% vs. 15,1 ± 8,5%; p = 0,002, respectivamente). Além disso, os portadores de hipertrigliceridemia apresentaram risco 3,96 vezes (IC 95% = 1,31 a 11,95; p = 0,02) maior de serem englobados na classificação médio/alto risco percentual para doenças cardiovasculares, de acordo com escore de Framingham, quando comparados aos pacientes com valores ótimos de triglicérides. Conclusão: Em nosso estudo, os níveis de triglicérides se mostraram associados ao risco cardiovascular determinado pelo escore de Framingham em pacientes portadores de diabetes do tipo 2. S250 141 PADRÃO DIETÉTICO-COMPORTAMENTAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM DISMETABOLISMO NUTRICIONAL E MEDIDAS DE GORDURA CORPORAL Cassani, R. S. L.¹; Gonçalves, A. L. F.¹; Souza, C. L.¹; Camacho, C. M.¹; Pedrotti, A.¹; Vasques, A. C. J.¹; Tambáscia, M.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes, Universidade Estadual de Campinas (Limed-Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivos: Investigar associações entre padrão dietético-comportamental e medidas antropométricas de gordura corporal e correlacionar tempo de jejum que precede algumas refeições com fatores de risco cardiometabólicos. Métodos: Estudo transversal. Casuística: Estudados 452 voluntários (17 a 75 anos), 21% homens, diferentes graus de adiposidade. Subamostra: 101 mulheres com determinação do padrão dietético-comportamental. Avaliação antropométrica: peso, altura, índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) e diâmetro abdominal sagital (DAS). Composição corporal avaliada por bioimpedância tetrapolar. Avaliação clínica: pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Avaliação bioquímica: colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia e insulinemia de jejum, hemoglobina glicada, transaminases oxalacética (TGO) e pirúvica (TGP), adiponectina e ácidos graxos livres. Resistência à insulina: HOMA-IR. Padrão dietético-comportamental: recordatório dietético habitual. Análise estatística: software SPSS (versão 20). Teste de correlação de Spearman, significância: valores de p. Resultados: Medidas antropométricas e componentes associados a SM apresentaram associações significativas com o maior número de horas de jejum que precedem refeições. Para as medidas associadas a % de gordura e FR cardiometabólicos, observou-se associação positiva com número de horas de jejum que precedem o jantar, respectivamente, % de gordura (r = 0,225; p = 0,027), IMC (r = 0,233; p = 0,027), CA(r = 0,247; p = 0,015); DAS r = 0,338; p = 0,001) LDL-c (r = 0,236; p = 0,022); PAD (r = 0,296; p = 0,003). Adiponectina correlacionou-se inversamente com número de horas de jejum que precedem o desjejum (r = -0,221; p = 0,040). Discussão: Nossas correlações corroboram com estudos nos quais um maior número de horas de jejum entre as refeições ocasiona padrão dietético inflamatório, elevação de insulina pós-prandial e gordura visceral, e redução de adiponectina na presença de refeição com maior carga glicêmica. Verificaram-se tais associações em nosso estudo mostrando a importância do padrão dietético e não a verificação de apenas um único nutriente no comprometimento da SM. Conclusão: O padrão dietético-comportamental, horas de jejum que precedem algumas refeições, mostrou-se uma importante característica de estilo de vida associada ao aumento de gordura corporal, bem como com outros FR relacionados ao dismetabolismo nutricional, o que evidenciou a relevância de um recordatório alimentar habitual que permita conhecer comportamentos preditores de risco para a SM. 142 PAPEL DA PLASMAFÉRESE NA HIPERTRIGLICERIDEMIA FAMILIAR GRAVE Lima, J. G.¹; Nobrega, L. H.¹; Amorim, A. D. P. S.¹; Feijo, B. M. X. C. R. R.¹ ¹ Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN), Natal, RN, Brasil Introdução: Hipertrigliceridemia familiar é uma desordem genética que pode se apresentar clinicamente como dor abdominal recorrente por pancreatite de repetição. A plasmaférese é uma modalidade terapêutica salvadora nos casos mais graves refratários ao tratamento conservador otimizado. Objetivo: Descrever o uso terapêutico da Trabalhos Científicos 143 PROFILE OF NON-TRADITIONAL ATHEROGENETIC MARKERS ACCORDING TO GENDER AND AGE Pititto, B. A.¹; Ribeiro Filho, F. F.¹; Lotufo, P. A.¹; Bensenor, I.¹ ¹ Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Objective: The role of early markers of atherogenesis for identifying individuals at cardiovascular risk is unclear. Considering that aging and gender are cardiovascular risk factors, it is of interest to know how these non-traditional markers are distributed according to these variables. Methods: Anthropometry, inflammatory markers, leptin and Eselectin concentrations were assessed in a convenience sample of 998 individuals (547 women), aged 35 to 55 years, without diabetes or cardiovascular disease. Results: Stratifying by gender, E-selectin concentrations were significantly higher in men and leptin levels higher in women. Mean values of abdominal circumference and fasting plasma glucose increased with aging in both genders, while inflammatory markers increased with aging in women and leptin concentrations in men (shown in table). Inflammatory markers did not correlate with plasma glucose or anthropometric values. Leptin concentrations were associated with BMI (r = 0.190). Discussion: As expected, higher central adiposity found in older individuals may be contributing to a deleterious impact on glucose metabolism, even in individuals at lowto-moderate risk. At similar BMI levels, women should have higher subcutaneous tissue, resulting in higher leptin concentrations than men. The findings of higher central adiposity and E-selectin concentration in men are coherent with the higher cardiovascular risk profile described for the male sex. Conclusion: The cross-sectional design does not allow establishing cause-effect relationship; however, our findings suggest that gender and age might be taken into consideration when assessing non-traditional cardiovascular risk markers. EDUCAÇÃO 144 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA TÉCNICA DO ROLE-PLAYING NO ENSINO DAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES MELLITUS PARA ESTUDANTES DE MEDICINA Rego, D. P.¹; Almeida, J. H. M.¹; Almeida Júnior, E. G.¹; França Neto, M. B.¹; Sobreira, B. A.¹; Filgueiras, I. B. R.¹; Araújo, J. S. A.¹ ¹ Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil Objetivo: Avaliar a eficácia de uma ferramenta didático-pedagógica diferenciada, o role-playing ou dramatização, no âmbito do ensino -aprendizagem das complicações do DM para estudantes de medicina. Métodos: Alunos de medicina, entre 4o e 6o semestres, de um projeto de extensão simularam uma consulta médica a um paciente diabético para estudantes de medicina do 2o semestre, a fim de transmitir conhecimentos acerca das complicações crônicas do DM, como cardiopatia, nefropatia, neuropatia, vasculopatia e retinopatia diabética. Para avaliar a eficácia dessa técnica, role-playing, foram realizados pré-teste e pós-teste com seis questões objetivas, as quais abrangiam o assunto abordado. Os dados coletados, então, foram analisados pelo programa EpiInfo 3.5.3. Resultados: Quarenta e seis alunos do 2o semestre participaram do pré-teste, o qual teve os seguintes níveis de acertos da 1a a 6a questão, respectivamente: 5 (10,87%), 40 (86,96%), 21 (45,65%), 33 (73,33%), 16 (34,78%) e 36 (78,26%). Já no pós-teste, dos 56 alunos participantes do 2o semestre, da 1a a 6a questão, os acertos foram, respectivamente: 24 (42,86%), 54 (96,43%), 46 (82,14%), 41 (74,55%), 42 (76,36%) e 53 (96,36%). No geral, 54,7% dos alunos acertaram o pré-teste enquanto 77,4% responderam corretamente ao pós-teste. Discussão: O principal achado dessa atividade foi o aumento do número de alunos que responderam corretamente às questões dos testes, o que nos permite afirmar que a aplicação dessa técnica alternativa à aula expositiva obteve resultados positivos na transmissão de informações sobre DM, doença crônica de elevada prevalência que requer cuidado médico contínuo e educação em saúde eficaz para que os pacientes possam evitar complicações crônicas. Além disso, a atividade permitiu interação entre os envolvidos na atividade, tornando, assim, o aprendizado dinâmico e descontraído. Conclusão: A utilização do role-playing como método pedagógico alternativo foi capaz de contribuir para a assimilação de conteúdos relevantes, no que concerne às complicações do DM, que, embora seja uma doença endócrina de grande importância na saúde pública, não é conhecida satisfatoriamente por parte dos acadêmicos de medicina. 145 CURSO DE EDUCAÇÃO EM DIABETES MELLITUS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) EM 2011 Rodrigues, M. T.¹; Carniceiro, G. B. C.¹; Silva, A. M.¹; Silva, T. G.¹; Lima, P. A. M. S.¹; Rocha, A. E.¹; Said, L. S.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil Objetivo: Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica complexa, multifatorial, que afeta qualidade e expectativa de vida dos pacientes. Apresenta dois tipos principais, o tipo 1 (DM1), que ocorre S251 Educação plasmaférese em uma paciente com hipertrigliceridemia grave com pancreatite de repetição. Métodos: Foram realizadas revisão do prontuário do caso e coleta de informações com a paciente. Resultados: Mulher com 59 anos que iniciou acompanhamento há 11 anos em nosso serviço. Fora internada para realização de colecistectomia como tratamento de pancreatite aguda. Apresentava episódios intermitentes de dor abdominal, náuseas e vômitos, trigliceridemia de até 6.750 mg/dl e quadros de pancreatite aguda. Irmã falecida aos 25 anos por pancreatite aguda. Não apresenta diabetes ou doença cardiovascular. Há dois anos, apesar do tratamento otimizado, evoluiu com piora importante dos níveis séricos de triglicerídeos e episódios mais frequentes de pancreatite aguda, sendo iniciadas sessões de plasmaférese para tentar conter a desnutrição gradual da paciente devido à restrição alimentar terapêutica. Realizavam-se duas ou três sessões de plasmaférese sempre que trigliceridemia > 1.300 mg/dl, com resultados satisfatórios e melhora clínica (9 sessões até o momento). As medianas (mínimo-máximo) das trigliceridemias pré e pós-plasmaférese foram: 2.580 mg/dl (1.676-4.747 mg/dl) e 508 mg/dl (116-869 mg/dl). Após melhora clínica inicial, a paciente voltou a apresentar quadro de pancreatite apesar das sessões. Atualmente, encontra-se clinicamente compensada com triglicerídeos 2.370 mg/dl, sem realizar sessões há cinco meses. Estão programadas novas sessões apenas se apresentar quadro clínico de dor abdominal que possa sugerir o início de episódio de pancreatite. Discussão: Em estudo multicêntrico com 17 pacientes, houve uma queda média do TG e colesterol total após aférese de 1.929 e 510 mg/dl para 762 e 227 mg/dl, respectivamente. A aférese impediu recidivas de pancreatite aguda e foi segura, sendo capaz de reduzir até 70% dos triglicerídeos em cada sessão. Deve ser realizada dentro das primeiras 48 horas de dor abdominal e, quanto maior o nível de triglicerídeos, melhor o resultado do procedimento. Conclusão: A plasmaférese surge como uma ferramenta terapêutica segura e útil, removendo o agente causador da inflamação pancreática. End. Feminina E Andrologia Trabalhos Científicos na infância ou adolescência, e o tipo 2 (DM2), mais frequente, que aparece insidiosamente, principalmente em adultos. As palestras educativas objetivam informar diabéticos, familiares e interessados sobre o assunto, a respeito da doença, suas complicações, tratamento, salientando a importância das formas não medicamentosas. Métodos: O curso ocorreu entre outubro-dezembro de 2011 por meio de palestras semanais, realizadas por equipe multidisciplinar, que dispunha de recursos audiovisuais. Abordaram-se temas como: conceito, classificação e formas de tratamento do DM, complicações, abordagem psicossocial; presente, passado e futuro da doença. Foram aplicados dois questionários, um no início e outro no fim do ciclo de palestras. Resultados: Do total de inscritos (51 pessoas), 60,78% participaram assiduamente. A maioria dos participantes era do sexo feminino, estava na 5ª década de vida e tinha ensino médio completo. Pela aplicação dos questionários no começo do ciclo de palestras, observou-se que havia o senso comum de que o DM era uma doença em que diminuir a quantidade de ingesta de açúcar era o principal tratamento. O uso da insulina era a terapêutica mais temida por todos os pacientes, inclusive os DM1. Ao término das palestras, observou-se satisfação pelos assuntos abordados, maiores esclarecimentos. Discussão: A interação e a análise das informações transmitidas favoreceram a aprendizagem multiprofissional e interdisciplinar, em que ação-reflexão-ação foram simultâneas. A inter-relação promovida entre pessoas com a mesma doença pode dar aos participantes a certeza de que os problemas enfrentados são coletivos, que as dúvidas são as mesmas e que é possível aprender a conviver de forma saudável e sem discriminações. Conclusão: A partir do que foi vivenciado, nota-se a necessidade de mais atividades como essa, visando atingir um número cada vez maior de espectadores. END. FEMININA E ANDROLOGIA 146 ADERÊNCIA À TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL DA MENOPAUSA: UM PERFIL DA MULHER BRASILEIRA Menezes, A. M. S.¹; Alves, Z. S.¹; Pardini, D. P.¹ ¹ Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A terapia hormonal da menopausa (THM) melhora os sintomas vasomotores, a massa óssea, o risco de fratura, e a qualidade de vida. A continuidade da terapêutica é necessária para a obtenção e manutenção dos benefícios. Objetivo: Estudar a aderência à THM, entre as mulheres atendidas em um ambulatório público especializado em Endocrinologia do Climatério/Menopausa, e os fatores envolvidos na interrupção da terapêutica. Métodos: Os prontuários de 234 mulheres em THM foram revisados em busca dos registros das datas de início e fim, bem como dos motivos da cessação da terapêutica. A aderência ao tratamento foi estudada pelo método da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier por meio do software SPSS-16. Resultados: A média e a mediana do tempo em uso de THM para toda a amostra foram de, respectivamente, 3,6 anos (IC 95% = 3,2 - 3,9 anos) e 1,9 anos (IC 95% = 1,6 - 2,2 anos). Ao final do 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o anos de seguimento, ainda estavam em THM, respectivamente, 88,0; 47,4; 40,6; 33,3; 26,5; 21,8; 17,5; 14,1 e 9,0% das mulheres estudadas. Nenhuma mulher atingiu o 10o ano em THM. Sessenta por cento das mulheres estudadas interromperam a THM por razões financeiras; 20%, por ordem médica; e os 20% remanescentes, por medo de complicações. Discussão: A aderência à THM é baixa em muitos países em razão principalmente de fatores relacionados ao médico prescritor e a temores das pacientes (câncer, sangramento vaginal, S252 ganho de peso). Não há na literatura informações sobre a aderência à THM no Brasil. Este estudo destaca o aspecto financeiro como a principal limitação para o uso da THM por nossas mulheres, usuárias do serviço público de saúde em um ambulatório universitário especializado. Considerando o aumento da longevidade feminina no Brasil e os benefícios da THM bem indicada, o acesso gratuito ao tratamento poderia melhorar a adesão das mulheres a essa terapêutica no nosso país. Com a ampliação dessa investigação, já em curso em âmbito nacional, envolvendo mulheres usuárias de serviços públicos e privados, esperamos consubstanciar essa hipótese. Conclusão: A aderência de mulheres brasileiras à THM é baixa como no resto do mundo. A disponibilização gratuita da THM no Brasil deve ser considerada por nossas autoridades e profissionais de saúde, como medida estimuladora da aderência ao tratamento e manutenção dos benefícios às usuárias. 147 ALTERAÇÕES ENDOCRINOLÓGICAS EM PACIENTE COM CROMOSSOMO 11 EM ANEL: RELATO DE CASO Vieira Neto, L.¹; Mata, F. B.¹; Oliveira, S. L.¹; Eccard, G. B. H.¹ ¹ Hospital Federal da Lagoa (HFL), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar alterações endócrinas em paciente com cromossomo 11 em anel. Métodos: Relato de caso. Resultados: Vinte anos, sexo feminino, encaminhada ao nosso Serviço para avaliação de hirsutismo iniciado aos 5 anos de idade e irregularidade menstrual. À história patológica pregressa, destacam-se plaquetopenia desde o nascimento, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, baixa estatura, puberdade precoce, comunicação interventricular e alterações ortopédicas (3 cirurgias para correção de escoliose e pé torto congênito). Cariótipo aos 5 anos revelou cromossomo 11 em anel, 46,XX,r(11). Aos 13 anos, foi submetida à investigação diagnóstica do hirsutismo, com níveis de S-DHEA, androstenediona, testosterona total, estradiol e TSH normais, porém com glicemia de jejum de 138 mg/dL e insulinemia de 24,8 µU/mL. Ultrassonografia pélvica normal. Ressonância magnética de abdome com imagem sugestiva de adenoma em adrenal E de 0,8 cm. Ao exame, estatura abaixo do percentil 3, IMC: 26,7 kg/m², hirsutismo caracterizado por 26 pontos (Ferriman & Gallwey), com padrão de distribuição masculino, clitoromegalia, alopécia androgênica, sopro sistólico pancardíaco e alterações ortopédicas. Solicitamos novos exames laboratoriais, evidenciando glicemia de jejum 153 mg/ dL, insulina 26 mU/mL (Homa-IR 9,82) e HbA1C 7,3%. Diidrotestosterona 437,5 pg/mL (23 a 368 pg/mL), testosterona livre calculada 0,53 ng/dL, SHBG 5,7 nmol/L, cortisol basal 13,7 µg/dL, cortisol após 1 mg de dexametasona 0,4 mcg/dL. Níveis de S-DHEA, androstenediona, 17-hidroxiprogesterona, TSH e perfil lipídico normais. Tomografia computadorizada de abdome e pelve mostrando esteatose hepática e suprarrenal E discretamente aumentada, sem configurar um nódulo. Iniciado tratamento com metformina 1.500 mg/ dia, etinilestradiol 0,035 mg associado a acetato de ciproterona 1 mg, finasterida 5 mg/dia e solução capilar de 17-alfa-estradiol. A paciente evoluiu com bom controle glicêmico, melhora parcial da alopécia e retardo na velocidade de crescimento dos pelos. Na última avaliação, foi adicionado espironolactona 50 mg/dia. Discussão: Trata-se de uma paciente com alguns sinais de virilização, com níveis de androgênios circulantes normais, à exceção da diidrotestosterona, o que pode refletir uma maior atividade da 5α-redutase, associada a uma maior sensibilidade do receptor androgênico. Conclusão: Descrevemos a associação de uma síndrome genética rara com sinais de virilização sem produção aumentada de androgênios. 148 EFEITOS DO ESTRADIOL PERCUTÂNEO NOS SINTOMAS CLIMATÉRICOS, LIBIDO E NÍVEIS DE ESTEROIDES SEXUAIS Giorelli, G. V.¹; Avanza, R. C. O.¹; Pereira, J. Z.¹; Pereira Junior, L. C.¹; Duarte, M. P. C.¹; Farias, M. L. F.¹; Leão, L. M. C. S. M.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Hospital Universitário, Endocrinologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar os efeitos da terapia isolada com a dose padrão de estradiol (E2) percutâneo nos sintomas climatéricos, libido e níveis séricos de esteroides sexuais. Métodos: Selecionamos 21 mulheres entre 40 e 65 anos, histerectomizadas, com FSH > 21,7 mUI/mL, sem doenças crônicas exceto hipertensão arterial leve/moderada, sem contraindicações para terapia hormonal (THM) ou utilização de THM nos três meses que precediam sua inclusão no estudo, para usar gel percutâneo de E2 (1 mg/dia) por 1 ano. Os sintomas climatéricos foram avaliados pelo índice de Blatt e Kupperman (BK) e a libido, segundo escores de ausente a extremo. Empregamos quimioluminescência para as dosagens de SHBG (DPC), estradiol (DPC) e testosterona total (Bayer) no basal e após 12 meses de tratamento. O índice de testosterona livre (ITL) foi usado para determinar a biodisponibilidade androgênica. Os dados das variáveis contínuas foram expressos em média ± desvio-padrão. Utilizamos porcentagens para as variáveis categóricas. Para a comparação dos parâmetros nos dois tempos, utilizamos o teste t pareado. As variáveis categóricas foram avaliadas através do teste do Qui-quadrado. Consideramos significativos valores de p < 0,05. Resultados: Pacientes apresentavam idade e IMC de 52,5 ± 6,2 anos e 28,7 ± 6,8 kg/m². Observamos elevação do E2 sérico (39,5 ± 11,7 X 133,5 ± 110,7 pg/ mL; p = 0,0004) sem alterações nos níveis de testosterona total (293,5 ± 93,7 X 269 ± 122 pg/mL; p = 0,47), SHBG (49,7 ± 32,6 X 54,2 ± 29,4 nmol/L; p = 0,64) ou ITL (3,2 ± 2,3 X 2.4 ± 1.7; p = 0,20). Redução significativa dos sintomas pelo BK (26,1 ± 9,5 X 5,3 ± 3,6. Discussão: Durante a transição menopáusica, a instabilidade vasomotora afeta de 60% a 80% das mulheres com prejuízos à qualidade de vida. Paralelamente, cerca de 40% das mulheres apresentam diminuição da libido, a qual pode ser exacerbada pela reposição oral de estrogênio (redução da testosterona biodisponível). O uso regular de 1 mg/dia de E2 percutâneo após a menopausa elevou os níveis séricos de E2 controlando adequadamente os sintomas climatéricos. O esquema não alterou a testosterona total ou biodisponível, apresentando efeitos neutros sobre a libido. Conclusão: Nossos resultados corroboram a eficácia da reposição percutânea para controle de sintomas vasomotores e sugerem que essa via pode ser indicada a mulheres com queixa de redução da libido. 149 EFEITOS DO USO PROLONGADO DE ESTRADIOL PERCUTÂNEO EM PARÂMETROS METABÓLICOS Pereira Junior L. C.¹; Pires, B. P.¹; Giorelli, G. V.¹; Pereira, J. Z.¹; Duarte, M. P. C.¹; Farias, M. L. F.¹; Leão, L. M. C. S. M.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Hospital Universitário Pedro Ernesto, Endocrinologia (HUPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Endocrinologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar os efeitos do uso prolongado de estradiol percutâneo sobre parâmetros clínicos e laboratoriais vinculados ao risco metabólico em mulheres após a menopausa. Métodos: Vinte mulheres histerectomizadas, com FSH > 21,7 mUI/mL, entre 44 e 62 anos, sem doenças crônicas (exceto HAS leve ou moderada segundo a IV Diretriz Brasileira de HAS), sem contraindicações para THM e sem modificações de estilo de vida (dieta ou atividade física), foram sele- cionadas para utilizar estradiol percutâneo (E2) na dose de 1 mg/ dia. As médias dos parâmetros estudados foram comparadas no basal e após 1 ano de tratamento regular. Os dados foram expressos em média ± desvio-padrão. As diferenças entre os parâmetros foram avaliadas por meio do teste t Student pareado, considerando-se significativos valores de p < 0,05. Discussão: O uso regular da medicação elevou significativamente os níveis plasmáticos de E2 e teve efeitos benéficos em parâmetros da função hepática e renal. O peso corporal não se alterou. Houve redução não significativa da pressão arterial sistólica (PAS). Em concordância com a literatura, não foram registradas elevações significativas nos níveis séricos de SHBG ou triglicerídeos (reduziram) e os benefícios classicamente descritos com a reposição oral sobre HDL ou LDL não foram demonstrados. Os efeitos sobre o metabolismo glicídico mostraram-se neutros, observando-se apenas discreta melhora na sensibilidade à insulina. Conclusão: Nossos resultados sugerem que a utilização prolongada de E2 percutâneo após a menopausa não promove ganho de peso e apresenta benefícios discretos no metabolismo lipídico/glicídico. Estudos mais amplos são necessários para esclarecer se esse tratamento pode melhorar a sensibilidade à insulina, com benefícios na PAS e níveis de triglicerídeos. 150 GINECOMASTIA BILATERAL SECUNDÁRIA A TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG PRODUTOR DE ESTRADIOL Machado, A. S.¹; Ribeiro Filho, F. F.¹; Silva, A. M. C.¹; Oikawa, T.¹; Felício, K. M.¹; Felício, J. S.¹ ¹ Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, PA, Brasil Objetivo: Descrever um caso clínico de um paciente com tumor de células de Leydig produtor de estradiol que se manifestou com ginecomastia bilateral e remissão parcial do quadro após remoção tumoral. Métodos: L.S., sexo masculino, 32 anos, iniciou investigação para ginecomastia bilateral, redução da libido e disfunção erétil, sem evidências de massa testicular à palpação. Após avaliação clínica, foi confirmado o diagnóstico de hipogonadismo com diminuição dos níveis de testosterona e elevação dos níveis de estradiol, além de achado ultrassonográfico de tumor testicularà direita. O paciente foi encaminhado para realização de orquiectomia unilateral, cujo exame histopatológico evidenciou neoplasia benigna de células de Leydig. Resultados: Após tratamento cirúrgico, apresentou remissão dos sintomas de hipogonadismo e redução parcial do volume mamário, além de queda acentuada dos níveis de estradiol e normalização dos níveis de testosterona. Discussão: Atividade hormonal pode ser encontrada em 20% dos casos de neoplasia de células de Leydig, incluindo aumento do estradiol e diminuição dos níveis de testosterona sérica. As manifestações endócrinas podem preceder a massa testicular palpável, a qual é a apresentação clínica mais comum. Conclusão: Tumores de células de Leydig são raros, contudo são os tumores não germinativos mais comuns do testículo. Apesar de sua raridade, esses tumores produtores de hormônios são particularmente interessantes devido ao seu potencial de causar manifestações endocrinológicas em homens adultos. 151 HIPOGONADISMO EM OBESOS GRAU 3 NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU-UFSC) Tomaz, R. R.¹; Colombo, B. S.¹; Silva, M. C.¹; Schreiber, C. S. O.¹; Coral, M. H. C.¹; Hohl, A.¹ ¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Hospital Universitário, Florianópolis, SC, Brasil S253 End. Feminina E Andrologia Trabalhos Científicos End. Feminina E Andrologia Trabalhos Científicos Introdução: A obesidade tem se tornando cada vez mais prevalente em nosso meio e, juntamente com os distúrbios associados, promove importantes impactos na saúde e na qualidade de vida da população. Sabe-se que há relação direta entre grau de obesidade e baixos níveis de testosterona sérica. Apesar de muito prevalente, essa associação é subdiagnosticada e isso se deve, em parte, à falta de valorização dessa condição pela equipe médica. Objetivos: Estudar os níveis de testosterona nos pacientes do sexo masculino com obesidade grau 3 em avaliação pré-operatória para cirurgia bariátrica atendidos no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário (HU-UFSC). Métodos: Foram avaliados 18 pacientes do sexo masculino, atendidos em 2012 no HU-UFSC, com média de idade de 43,12 ± 11,51 anos (mediana: 43 anos). As médias e medianas de peso, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal foram, respectivamente, 154,2 ± 34,04 kg (mediana: 140,6 kg); 59,59 ± 9,32 kg/ m² (mediana: 49,49 kg/m²) e 144 ± 14,38 cm (mediana: 141,5 cm). As médias dos níveis hormonais foram: testosterona total 214,65 ± 89,30 ng/dL, testosterona livre calculada 5,26 ± 2,19 ng/dL. Estratificando os níveis de testosterona, 16 pacientes (88,9%) apresentaram níveis inferiores a 300 ng/dL e 10 indivíduos, níveis abaixo de 240 ng/dL (55,6%). O perfil metabólico das pacientes foi (média): glicose de jejum 102.94 ± 18.96 mg/dL (VR < 100), hemoglobina glicada 6,51 ± 1,11% (VR < 5,7%), colesterol total 180,72 ± 30,91 mg/dL (VR 40 mg/dL), triglicerídeos 155,24 ± 71,14 mg/dL. Conclusão: A associação da obesidade com níveis diminuídos de testosterona em homens vem sendo descrita na literatura nos últimos anos. A presença dos fatores da síndrome metabólica aumenta esse risco. Este trabalho revela que a maioria dos nossos pacientes obesos em pré-operatório encontra-se em tal situação e a cirurgia bariátrica pode levar à resolução desse hipogonadismo funcional. A avaliação pré-operatória e a reavaliação dos níveis de testosterona após a gastroplastia devem fazer parte do protocolo de avaliação desses pacientes. 152 HIPOGONADISMO MASCULINO EM HANSENÍASE Bittencourt, A. V.¹; Oliveira, M. F.¹; Jesus, H. B.¹; França, L. S.¹ ¹ Faculdade de Medicina, UESC, Fundação Nacional de Saúde, Faculdade de Medicina, UFBA, Itabuna, BA, Brasil Introdução: A hanseníase é uma doença sistêmica infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae (bacilo de Hansen). É um problema de saúde pública, principalmente por causa de seu estigma e discriminação social. O hipogonadismo em homens com hanseníase pode ocorrer devido ao envolvimento testicular da doença lepromatosa. Objetivo: O objetivo deste estudo foi para avaliar a função gonadal em homens com hanseníase. Métodos: Desenho do estudo: estudo transversal em um ambulatório de hanseníase. Sujeitos e métodos: Apenas a avaliação dos hormônios sexuais em homens com hanseníase com mais de 1 ano de evolução da doença foi analisada. Foram avaliados os níveis séricos de testosterona livre (TL), hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH) em 21 homens com hanseníase crônica. Os pacientes foram divididos em dois grupos: até 60 anos (G1) e com mais de 60 anos (G2), devido ao declínio fisiológico da produção de testosterona em homens acima de 60 anos de idade. Resultados: A idade média dos pacientes foi de 48,43 ± 18,65 anos. A TL sérica apresentou valores reduzidos em 37,5% dos pacientes. Os níveis séricos de LH e FSH apresentaram valores elevados em 18,8 e 6,3% dos pacientes, respectivamente. Os níveis basais do LH e FSH foram significativamente elevados e da TL foi significativamente reduzida quando comparados os grupos G1 e G2. Além disso, o G1 S254 apresentou uma correlação estatisticamente significante com os baixos níveis de FT (P < 0,002). Discussão: Este estudo relata a frequência das alterações de gonadotrofinas e testosterona em homens com hanseníase crônica. A frequência de hipogonadismo em nosso estudo foi de 37,50%, demonstrando uma correlação significativa entre os elevados níveis séricos de gonadotrofinas e baixa dos níveis de TL em homens com hanseníase crônica até 60 anos de idade. Foi observado também que não ocorreu associação estatisticamente significante entre o hipogonodismo e a forma clínica da hanseníase. Conclusão: Este estudo mostrou elevada frequência de hipogonadismo em homens com hanseníase. Portanto, a avaliação da função gonadal nesses pacientes deve ser recomendada rotineiramente, para rastreamento de hipogonadismo. 153 PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO NA PREVENÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA PERIFÉRICA EM RATAS OVARIECTOMIZADAS NÃO DIABÉTICAS Gonçalves, W. L. S.¹; Teixeira, L. R.¹; Farina, G. R.¹; Kondo, K. R. J.¹; Poltronieri, G. C. M.¹; Rodrigues, A. N.¹; de Abreu, G. R.¹ ¹ Escola de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), Colatina, ES, Brasil; Departamento de Ciências Fisiológicas (CCS), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória, ES, Brasil Introdução: Relatos na literatura mostram que a deficiência ovariana natural (menopausa) e/ou cirúrgica (ovariectomia) eleva potencialmente o risco de resistência insulínica (RI) em mulheres não diabéticas. Objetivo: Analisar os efeitos da prática regular de exercícios na prevenção da RI em ratas ovariectomizadas. Métodos: Ratas Wistar adultas (220-270 g) foram divididas em quatro grupos (n = 40): sedentárias cirurgia-fictícia SHAM-SD, sedentárias ovariectomizadas OVX-SD, treinadas SHAM-TC e treinadas OVX-TC. Após 21 dias da cirurgia, foi iniciado o treinamento corrida na esteira, que teve duração de oito semanas, durante 30 minutos 5 dias/sem., com adaptação ao treino nas 1a e 2a semanas, com intensidade de 10 m/min/dia, progredindo até de 20 m/min/dia nas 7a e 8a semanas. Após 48 horas do último treino, as ratas foram decapitadas e o sangue foi coletado para análises bioquímicas (glicemia, insulinemia). Foram avaliados composição corporal (peso, comprimento) e gordura central determinada por lipectomia abdominal/pélvica. Também foi avaliada a atividade da enzima catalase (CAT) no plasma e no homogenato de tecido muscular (biceps femoral). Utilizaram-se ANOVA duas vias e teste de Bonferroni, com significância de p < 0,05. Resultados: Verificou-se aumento na composição corporal do grupo OVX-SD em comparação ao grupo SHAM-SD, que não ocorreu nos grupos treinados. Observou-se, ainda, que no grupo OVX-SD os níveis de intolerância à glicose e o índice HOMA-IR estavam mais elevados em relação aos obtidos no grupo SHAM-SD e que nos grupos TC a atividade da enzima CAT estava aumentada, em relação aos grupos SD. Discussão: O estudo mostrou que sedentarismo eleva potencialmente os riscos para o desenvolvimento de RI em fêmeas, independente da condição hormonal, e que a prática regular de corrida foi capaz de prevenir o ganho de peso com acúmulo de gordura central e de melhorar a intolerância à glicose e a sensibilidade à insulina em ratas não diabéticas. Esses achados sugerem que o aumento do sistema redox induzido pelo exercício para profilaxia e reparo ao dano muscular pode ter favorecido ao sistema vascular, provavelmente pela redução do estresse oxidativo, que produz déficit na homeostasia de glicose. Conclusão: O treinamento aeróbico (corrida) por oito semanas previne a resistência insulínica periférica em ratas com e sem deficiência hormonal. 154 PROCESSO SAÚDE-DOENÇA EM UM CASO DE INFERTILIDADE CAUSADA POR HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE Gomes, M. C. S.¹; Jatene, E. M.¹; de Paula, S. L. F. M.¹; EspíndolaAntunes, D.¹; Viggiano, D. P. P. O.¹; Mundim, C. A.¹; Rodrigues, M. L. D.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Relatar e discutir o processo saúde-doença de paciente com HAC, infertilidade e constrangimento social. Métodos: Estudo de caso. Resultados: A hiperplasia adrenal congênita (HAC) por deficiência da 21-hidroxilase (D21OH) é um distúrbio da diferenciação sexual que, na sua forma clássica (FC), causa virilização de fetos femininos por exposição a androgênios. Na idade adulta, é responsável por queda na qualidade de vida, relacionada a disfunção sexual, distúrbios psicossociais e infertilidade. Relato do caso: paciente feminina, 24 anos, negra, união estável, encaminhada pelo serviço de reprodução após abandono de tratamento por cinco anos. Queixava-se de infertilidade, excesso de pelos e voz masculina. Referia duas clitoroplastias e amenorreia primária. Fez tratamento irregular com prednisona e anticoncepcional oral, sem o qual se mantém em amenorreia. Vida sexual satisfatória. Desconhece crises perdedoras de sal. Pais não consanguíneos; irmã com quadro semelhante, sem acompanhamento. Ao exame: cabisbaixa, voz baixa e grave, desconfortável com sua aparência e voz. Estatura: 1,55 m, IMC: 21,97 kg/m². Hirsutismo severo, pele acneica, musculatura desenvolvida, acantose nigricans cervical. Genitália: pelos com padrão ginecoide (P5), sinéquia de pequenos lábios, clitóris diminuto. Mamas pequenas (M5). Laboratório: 17OH progesterona basal = 603 ng/ mL, testosterona total = 474 ng/dL. USG EV: útero = 16 cm³, ovário D = 10 cm³, ovário E = 6 cm³, sem cistos. Diagnosticada FC virilizante simples de HAC por D21OH. Reiniciado glicocorticoide. Discussão: Em comparação à população não afetada, maior número de mulheres com a FC de HAC é solteira, sexualmente inativa, demonstra autoimagem negativa, baixa autoestima e dificuldade de aceitação social. Com avanço de técnicas cirúrgicas para correção da genitália ambígua, muitas estabelecem relacionamentos estáveis e desejo de gestação. Contudo, as taxas de gestação e parto são baixas (0-50%). Conclusão: A infertilidade é uma das principais motivações de visita médica entre pacientes adultas portadoras de HAC, como evidenciado pelo caso descrito. A paciente manteve-se alheia ao diagnóstico e a possibilidades terapêuticas durante toda a adolescência. Apesar de satisfeita com o resultado da correção da genitália e sexualidade, apresentava desconforto perante os demais sinais de hiperandrogenismo. Não apenas desordens biológicas afetam a fertilidade nesses casos, mas também distúrbios psicossociais e sexuais têm grande contribuição. 155 PUBERDADE PRECOCE E BAIXA ESTATURA: UMA ASSOCIAÇÃO COMUM Rosso, D.¹; de Sousa, J. D. M.¹; Caminhas, J. L. D.¹; Souza, M. C. P.¹; Franco, B. P.¹; Silva, M. S. L.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia, Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Demonstrar a associação comum entre puberdade precoce e baixa estatura. Métodos: Relato de caso: Paciente, A.l.A.F., do sexo feminino, de 7 anos e 11 meses, parda, nascida de parto normal, a termo e sem intercorrências, com peso ao nascer: 2,8 kg e 48 cm. Aleitamento materno exclusivo até sexto mês. Desenvolvimento normal. Sem internações previas, não faz uso de medicação e está em acompanhamento neurológico desde os 2 anos de idade. Encaminhada para avaliação endocrinológica aos 6 anos de idade, devido a desenvolvimento de mamas e pelos pubianos. Resultados: Exame físico: Estatura: 129 cm (percentil 60th), Peso: 40 kg (percentil 95th), CA: 76 cm, Tanner P3M3. A tireoide palpável sem alterações. Genitália com discreta hiperemia da vulva e pouca lubrificação. Resultados: FSH: 116 mUI/ml (N: < 0,3 ), LH: 0,07 mUI/ml (N: < 0,2 ), S-DHEA: 68,6 mcg/dl (N: 2,8 a 85,2), prolactina: 6,85 ng/ml (N: 2,83 a 30,0), testosterona total: 21 pg/ml. Discussão: O avanço desproporcional da maturação óssea, secundário ao excesso de esteroides sexuais, determina o fechamento prematuro da cartilagem de crescimento, levando à baixa estatura. Em idade adequada, o bloqueio da liberação das gonadotrofinas e consequente supressão da liberação dos esteroides gonadais são capazes de prevenir ou mesmo recuperar essa etapa do desenvolvimento. Conclusão: As crianças que iniciam prematuramente a puberdade apresentam evidências de perda progressiva da estatura final, mas o diagnóstico e o tratamento precoces permitem a recuperaçao do desenvolvimento estatural. 156 RELAÇÃO DE DESCENSO NOTURNO COM PARÂMETROS METABÓLICOS E RESISTÊNCIA À INSULINA Oliveira, R. S.¹; Redorat, R. G.¹; Hartz, G.¹; Conceição, F. L.¹ ¹ Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar os parâmetros metabólicos e de resistência à insulina de pacientes com síndrome dos ovários policísticos (SOP) correlacionando com o descenso noturno (DN). Métodos: Avaliadas 43 pacientes com diagnóstico de SOP, cujos critérios utilizados foram os do consenso de Rotterdam. Dados coletados: IMC, perfil lipídico, glicemia, HOMA-IR, ausência ou presença de DN por meio da monitorizarão ambulatorial de pressão arterial (MAPA). DN foi caracterizado como a queda de > 10% da PA sistólica durante o sono. A análise estatística realizada para comparar os parâmetros metabólicos e de resistência à insulina das pacientes sem DN com as pacientes com DN foi o teste t de Student. Resultados: Os resultados estão presentes na tabela 1. Discussão: A MAPA permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial nas 24 horas, podendo avaliar a presença ou ausência de DN, o que pode estar relacionado com implicações cardiovasculares consideráveis. Discute-se se as pacientes com SOP apresentam maior risco cardiovascular mediante maior prevalência de fatores de risco cardiovascular relacionados com a resistência à insulina, tais como hiperglicemia, dislipidemia e hipertensão arterial. Entretanto, não se sabe se as pacientes com SOP apresentam maior probabilidade de desenvolver alterações da pressão arterial, como a ausência de descenso noturno, diante da presença de fatores cardiovasculares e de resistência à insulina. Ao comparar esses parâmetros metabólicos nos dois grupos, não encontramos diferença em suas médias. Sugere-se que outros fatores são determinantes no comportamento da pressão arterial das pacientes com SOP, independente da presença de fatores de risco cardiovascular e de resistência à insulina. Conclusão: Não houve diferença significativamente estatística dos parâmetros avaliados nas pacientes com SOP sem e com descenso noturno. 157 RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À INSULINA E ÍNTIMA MÉDIA DE CARÓTIDAS EM MULHERES COM SOP Redorat, R. G.¹; Oliveira, R. S.¹; Hartz, G.¹; Sales, E.¹; Conceição, F. L.¹ ¹ Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Introdução: A síndrome de ovários policísticos (SOP) tem prevalência em torno de 10% nas mulheres em idade reprodutiva, sendo S255 End. Feminina E Andrologia Trabalhos Científicos End. Feminina E Andrologia Trabalhos Científicos caracterizada por anuvolação crônica e hiperandrogenismo, associando-se fortemente à resistência insulínica, marca importante de risco cardiovascular. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a espessura da íntima média das carótidas (IMT) em mulheres com SOP. Métodos: Foram avaliadas 27 pacientes com SOP e média de idade de 29,7 anos e 23 pacientes controle com média de idade de 26,4 anos. Os critérios utilizados para o diagnóstico de SOP foram os do Consenso de Rotterdam. Os dados coletados foram: IMC, HOMA-IR e EcoDoppler de carótidas para avaliação da IMT. A análise estatística realizada para comparar a resistência à insulina e a IMT das pacientes com o grupo controle foi o teste t. Resultados: Os resultados estão presentes na tabela. Discussão: Décadas de silenciosas alterações vasculares na parede arterial precedem eventos clínicos que, em seguida, refletem doença aterosclerótica avançada. As primeiras anormalidades morfológicas das paredes arteriais podem ser visualizadas por ultrassonografia (USG), técnica não invasiva e de detecção das fases iniciais da doença aterosclerótica. Identificar SOP como fator de risco para doença cardiovascular (DCV) é difícil devido à síndrome iniciar em idade jovem enquanto os eventos da DCV ocorrem com o envelhecimento; a maioria dos estudos acontece em mulheres jovens, consequentemente o risco de DCV somente ocorrerá com avançar da idade. A USG tem sido utilizada em um maior número de estudos para monitorar a IMT das artérias carótidas, uma medição que tem mostrado, por conseguinte, associação com fatores de risco cardiovasculares e incidência de DCV. Conclusão: Os resultados desse estudo sugerem que pacientes com diagnóstico de SOP nao apresentam sinais de aterosclerose subclínica nem maior resistência à insulina quando comparadas ao grupo controle. 158 SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER COMO CAUSA DE AMENORREIA PRIMÁRIA Kapritchkoff, P.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso de amenorreia primária devido a SMRKH (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser). Métodos: T.M.S, 15 anos, sexo feminino, foi encaminhada pelo ginecologista, que, ao fazer US pélvico, não visualizou útero nem ovários. A paciente procurou o ginecologista por apresentar amenorreia primária. Negava uso de quaisquer medicações ou aparecimento de caracteres sexuais secundários. Dados ao nascimento: peso ao nascer 3.530 g, Apgar 8/9, a termo, parto normal. Exame físico: altura: 1,69 cm, peso: 74,5 kg, IMC: 26,08 kg/m², PA: 90 X 70 mmHg, Tanner M1 P0. Foram solicitados: cariótipo, exames laboratoriais e RX idade óssea. Resultados: IGFBP3 : 5,01 ug/ml (N:3,5-10,0), prolactina: 5,11 ng/ml (N:2,829,2), progesterona (pré-pubere) < 1,00), glicemia de jejum: 91 mg/ dl (N:70-99) HDL: 35 mg/dl (N: ≥ 35 mg/dl) (10-19 anos), IGF1: 273 ng/ml (N: 237-996), LH (pré-pubere): 0,07 Mui/ml (N: < 0,2), estradiol (pré-pubere) 13 pg/ml (N: < 43 pg/ml), CT: 226 mg/dl (N: < 200 170), LDL: 174 mg/dl (N: < 100), GH: 0,79 ug/L (N: < 8,00) FSH (pré-pubere). Discussão: A paciente apresenta hipoplasia uterina e vaginal, com ovários de dimensões reduzidas e presença de folículos. A ausência de caracteres sexuais secundários e dosagens pré-puberais de FSH, LH e estradiol não é compatível com a síndrome clássica. Conclusão: O tratamento é multidisciplinar, visando obter melhor qualidade de vida para a paciente, com orientação psicológica, reposição dos hormônios femininos e técnicas para reconstrução vaginal, com o objetivo de a paciente obter uma vida sexual satisfatória. S256 159 SÍNDROME DE SHEEHAN: RELATO DE CASO Rosa, E. R.¹; Conceição, S. A.¹; Andrade, L. M.¹; Melo, M. C.¹; Mendonça, A. M.¹; Santos, D. F.¹; Barros, B. P.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Relatar um caso de síndrome de Sheehan (SS) acompanhado no Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Métodos: Revisão de prontuário e da literatura sobre essa síndrome. Resultados: MGS, 65 anos, foi levada ao HC-UFG dia 5/4/2011 para investigação de astenia e hiporexia, iniciadas há 8 meses, após fratura do fêmur. Nesse período, evolui com tonturas, perda de 30 kg e alopecia difusa com rarefação de pelos. Na admissão, encontrava-se com quadro de desnutrição importante (IMC 11,43 Kg/m²), palidez cutâneo-mucosa, rebaixamento do nível de consciência e hipontensa. Paciente relata menarca aos 13 anos e menopausa aos 25 anos, após sua única gestação, a qual apresentou hemorragia volumosa seguida por agalactilia. Nega uso de anticoncepcionais orais, laqueadura tubária e hemotransfusão. Hipotireoidismo e osteoporose em tratamento, ambos diagnosticados há um ano. A RNM de sela túrcica evidenciou hipófise de volume reduzido. Após avaliação hormonal, a dosagem de levotiroxina foi aumentada para 50 mcg/dia e iniciada prednisona 7,5 mg/dia. Discussão: A SS se caracteriza pelo hipopituitarismo pós-parto secundário à necrose hipofisária decorrente de hipotensão ou choque em virtude de hemorragia maciça durante ou logo após o parto. No caso em discussão, a paciente apresentou volumosa perda sanguínea durante parto seguida de amenorreia e agalactilia, sugerindo insuficiência hipofisária. Outros aspectos clínicos esperados nessa síndrome foram verificados: adinamia, caquexia, palidez, anemia, rarefação dos pelos axilares e pubianos, hipotireoidismo. Entretanto, o diagnóstico diferencial da SS deve ser feito com hipofisite linfocítica, desordem hipofisária associada à gestação, que pode resultar em hipopituitarismo. Um método de distinção das duas hipóteses é pelo exame de imagem, o qual foi realizado pela RNM da sela túrcica, que apontou imagem de sela vazia. Na hipofisite linfocítica, seriam esperados aumento difuso simétrico da hipófise ou espessamento da haste hipofisária. Para o déficit corticotrófico, utilizou-se a prednisona e, para correção da disfunção tireoidiana, levotiroxina, com boa resposta. Conclusão: A síndrome de Sheehan sempre deve ser suspeitada e investigada em pacientes com história de hemorragia no intra- e pós-parto e alterações da função hipofisária, independente do tempo transcorrido entre os eventos. 160 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E NÍVEIS SÉRICOS DE VITAMINA D Candioto, S. L.¹; Avanza, R. O.¹; Pires, B. P.¹; Bordallo, M. A. N.¹; Silva, C. N.¹; Gazolla, F. M.¹; Leão, L. M. C. S. M.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar as concentrações séricas de 25OH vitamina D (25OH) num grupo de mulheres com a síndrome dos ovários policísticos (SOP) de nosso meio e analisar sua relação com parâmetros clínicos/bioquímicos vinculados à resistência à insulina (RI). Métodos: Estudamos 29 pacientes acompanhadas no ambulatório de gônadas, com diagnóstico de SOP segundo critérios estabelecidos pelo consenso de Rotterdam. Foram excluídas as pacientes que haviam utilizado metformina, anticoncepcionais orais, antiandrogênios ou drogas que pudessem interferir no metabolismo do cálcio nos três meses que antecederam sua inclusão no estudo. A dosagem da 25OH foi realizada por eletroquimioluminescência com Kit da Eclesys e Cobas, em alícotas de soro congeladas a -80°C. Resultados: Vinte e cinco por cento das pacientes eram brancas e 44% relatavam tabagismo corrente. A ingestão diária média de cálcio foi < 1 g/dia. Todas as participantes relatavam exposição frequente ao sol. As pacientes (24,4 ± 2,8 anos) apresentavam leve hiperandrogenismo clínico; testosterona total: 492,9 ± 390,5 pg/mL; SHBG: 54,4 ± 45,8 nmol/L; ITL: 4,37 ± 4,8% (0,51-6,53%); IMC: 24,31 ± 3,15 kg/m²; cintura: 77,2 ± 6,1 cm; PAS: 117,6 ± 13,9 mmHg; PAD: 79,4 ± 10,9 mmHg; colesterol total: 195,5 ± 45,6 mg/dL; HDL: 52,1 ± 7,3 mg/dL; triglicerídeos: 132 ± 27,3 mg/dL; glicose: 92,8 ± 9,9 mg/dL; insulina: 11,1 ± 4,3 µUI/mL e HOMA: 2,54 ± 1,16. Os níveis de 25 OH foram 33,2 ± 15,4 ng/mL, observando-se hipovitaminose. Discussão: A redução dos níveis séricos de 25OH foi anteriormente descrita em mulheres com SOP, sendo inversamente correlacionada a IMC, cintura, HOMA, colesterol, triglicerídeos e hiperandrogenismo. Neste estudo, observamos hipovitaminose D em cerca de 40% de uma amostra de jovens portadoras de SOP sem obesidade. A deficiência de 25OH poderia desencadear RI, por mecanismos ainda não inteiramente compreendidos, contribuindo para a patogênese da síndrome metabólica (SM), uma condição frequente e de instalação precoce na SOP. Conclusão: Nossos resultados corroboram a alta prevalência de hipovitaminose D na SOP e sugerem que a aferição de 25OH é relevante mesmo em pacientes com fenótipo brando e não obesas. Novos estudos são necessários para estabelecer-se a relação de causa e efeito entre hipovitaminose D e RI nesta população. 161 SOP EM JOVEM, COM HIRSUTISMO SEVERO, DM2, HIPERTENSÃO ARTERIAL E DOR PRECORDIAL ATÍPICA: RESPOSTA AO TRATAMENTO COM ANÁLOGO DO GNRH Weiss, R. V.¹; Meirelles, R. M.¹; Milech, A.¹; Leitão, M. V.¹; Serfaty, F.¹; Baldissera, E. R.¹ ¹ Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Introdução: O tratamento convencional do hirsutismo não é factível em paciente com diabetes melito tipo 2 (DM2), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e síndrome dos ovários policísticos (SOP). Objetivo: Mostrar os efeitos do uso do análogo do GnRH (GnRHa) associado a estrogênio transdérmico e progesterona natural como terapia alternativa e segura para a associação de contraceptivo oral (CO) e antiandrogênios. Métodos: Mulher negra, 29 anos, com telarca e pubarca aos 9 anos, apresentou crescimento gradual de pelos grossos e pigmentados em face, tronco, abdome e coxas. A menarca foi induzida aos 16 anos com CO, mantendo seu uso até os 21 anos, quando iniciou HAS. Quatro anos após a suspensão do CO, engravidou, evoluindo com aborto espontâneo. Foi reiniciado CO, mas permaneceu em amenorreia até os 27 anos, quando apresentou sangramento vaginal necessitando de internação hospitalar. Resultados: Ao exame, preenchia os critérios de síndrome metabólica, hirsutismo severo com escore Ferriman-Gallwey = 24, clitoromegalia (2,5 cm) e acantose nigricans. O teste de tolerância oral à glicose após 2 h diagnosticou DM2, com HOMA-IR = 23,2 e com níveis séricos de androgênios matinais elevados. Cariótipo 46, XX. O diagnóstico diferencial de virilização de origem ovariana ou adrenal se impôs. Hiperprolactinemia e hipotireoidismo também foram excluídos. Estudos de imagens foram negativos, exceto os ovários, com morfologia característica de SOP. Discussão: Paciente preenchia todos os critérios de Rotterdam e da Sociedade de Excesso de Androgênio para SOP. Inicialmente, foi tratada com metformina, CO e antiandrogênio combinado com terapia cosmética/ laser. Houve melhora do hirsutismo, porém, durante o tratamento, apresentou dor torácica. Testes para isquemia miocárdica mostraram cintilografia anormal, mas o cateterismo de coronárias apresentou-se normal. Devido à presença de vários fatores de risco e forte história familiar de cardiopatia isquêmica, o CO e o antiandrogênio foram suspensos. Como alternativa, foi iniciado o acetato de leuprolide depot 22,5 mg. Depois de duas aplicações do GnRHa (seis meses), a testosterona total e a livre caíram para valores muito baixos, confirmando origem androgênica ovariana. Conclusão: O tratamento com análogos é uma opção terapêutica para hirsutismo severo numa paciente com contraindicações à terapia tradicional. Durante o tratamento, obteve-se uma resposta clínica favorável com melhora importante do hirsutismo (Ferriman-Gallwey de 24 caiu para 18) e aumento da autoestima e confiança da paciente. Endocrinopediatria 162 ASTROCITOMA PILOCÍTICO CEREBELAR EM PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME DE TURNER Jorge, A. S. R.¹; Reis, G. M. C.¹; Oliveira, A. F. R.¹; Amorim Junior, M. C.¹; Amorim, P. B.¹; Guedes, V. R.¹; Amorim, R. B. P.¹ ¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), Palmas, TO, Brasil Objetivo: Relatar um caso de uma paciente portadora de síndrome de Turner (ST) diagnosticada com astrocitoma pilocítico e analisar a associação da ST e dos tumores primários do sistema nervoso central a partir de dados da literatura médica. Métodos: Foram realizados revisão de prontuários e acompanhamento clínico da paciente no pós -operatório e em seguimento ambulatorial, além de revisão bibliográfica do tema em bases de dados para pesquisa médica. Resultados: Paciente, 13 anos e 5 meses, sexo feminino, procurou serviço particular de endocrinologia com queixa de baixa estatura, amenorreia primária, ausência de caracteres sexuais secundários (M1P1) e história pregressa de edema de pés ao nascer e de cirurgia para correção de anomalia parcial de veias pulmonares. Refere ainda cefaleia holocraniana há 2 anos. Ao exame físico, apresentava palato em ogiva, hipertelorismo mamário, pescoço alado, nevus pigmentares. Os resultados de exames complementares foram cariótipo 45, X0, tomografia computadorizada (TC) de crânio com imagens hipodensas em lobo cerebelar esquerdo, e a ressonância magnética (RNM) de crânio revelou imagem sugestiva de astrocitoma pilocítico. Foi feita ressecção cirúrgica do tumor cerebelar, com aparente ressecção total da lesão, e enviada amostra para análise. O exame histopatológico revelou que não havia sinais de malignidade, confirmando se tratar de um astrocitoma pilocítico juvenil grau I. Discussão: A partir das características clínicas da paciente, aventou-se a hipótese de ST, confirmada com resultado de cariótipo 45, X0. Para investigação inicial da cefaleia crônica, foi realizada TC de crânio, que detectou imagens hipoatenuantes em cerebelo. Foi sugerida a realização da RNM pela superioridade desta em avaliar a fossa posterior a partir de imagens multiplanares, sendo o padrão-ouro para análise dos astrocitomas pilocíticos. Ao histopatológico, confirmou-se que se tratava de um astrocitoma pilocítico classificado como grau I pela OMS. O grau I se aplica a lesões com baixo potencial proliferativo e possibilidade de cura somente com a ressecção cirúrgica. A ST foi relacionada a uma grande variedade de neoplasias primárias, conforme já discutido por vários autores, no entanto não foi demonstrada forte S257 Endocrinopediatria Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos correlação entre ST e tumores primários do SNC nas fontes de dados pesquisadas. Conclusão: Consideramos que a associação entre a ST na paciente e o astrocitoma pilocítico se deve a um achado clínico não relacionado diretamente a essa aneuploidia. Endocrinopediatria 163 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA PUBARCA PRECOCE ISOLADA Alves, L. M. R.¹; Paiva, R. R.¹; Guimarães, M. M.¹; Cargnin, K. R. N.¹; Hosannah, C.¹ ¹ Instituto de Endocrinologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (HGSCM), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar a prevalência de obesidade e baixo peso ao nascer na pubarca precoce isolada em meninas. Métodos: Estudo retrospectivo histórico de 36 prontuários de crianças com diagnóstico de pubarca precoce isolada, sendo anotados: idade de início e na primeira consulta, peso ao nascer, primeira avaliação de altura e peso e calculado o índice de massa corpórea. Resultados: A pubarca ocorreu entre 4 meses e 7 anos, mas na maioria (58%) na idade acima de 6 anos. A idade na primeira consulta foi de 7 ± 1,9 ano. A maioria (67%) encontrava-se no estádio 2 de Tanner. Baixo peso ao nascer foi observado em 18,5% e obesidade e/ou sobrepeso em 49,9%. Discussão: A média de idade de aparecimento da pubarca encontrada em nosso grupo foi um pouco mais baixa do que as referidas na literatura, que variaram de 5,1 e 7,3 anos. A maioria das meninas encontrava-se na primeira consulta no estádio 2, semelhante ao descrito por outros autores. A maioria das crianças apresentou peso adequado ao nascer e a ocorrência de baixo peso ao nascer foi bem menor, porém ainda maior, que a da população do sudeste (cerca de 9,1% em 2007) segundo o Datasus. Nossos dados são concordantes com outros estudos, porém discordantes de Ibanez et al., que referem a associação entre pubarca precoce e baixo peso ao nascer. Encontramos uma alta frequência de obesidade e sobrepeso em nosso estudo. A prevalência de obesidade foi maior no estádio 3 em relação ao estádio 2 e bem mais alta se compararmos com a população em geral, que é em torno de 8% a 14% em crianças e adolescentes. Nossos dados são semelhantes aos demais estudos, em relação a pubarca precoce, pois um estudo realizado em 2002 com crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, de uma escola elementar de Belo Horizonte, mostrou prevalência de sobrepeso e obesidade de 8,4% e 3,1%, respectivamente. Miller et al. relatam correlação significativa entre o aumento do IMC do início do quadro de PP com o IMC pós-puberal, assim como a maior prevalência de síndrome metabólica foi recentemente reportada em meninas pré-puberes no norte europeu com diagnóstico de PP que apresentavam sobrepeso e hiperinsulinemia. Conclusão: Observamos alta prevalência de obesidade e ou sobrepeso nas meninas com pubarca precoce isolada. 164 BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA: UMA ABORDAGEM FARMACOGENÉTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES RESPONDEDORES AO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO Cunha, I. R. C.¹; Marques, F. A.¹; Lamback, E. B.¹; Barbosa, M. E.¹; Medina, C. T. N.¹; Cardoso, M. T. O.¹; Pogue, R.¹ ¹ Universidade Católica de Brasília (UCB), Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil Objetivo: Baixa estatura (BE) é uma condição que afeta 3% da população. Este trabalho visa propor um protocolo para incorporar análises farmacogenéticas para a identificação de pacientes com baixa estatura S258 idiopática (BEI) que podem responder ao tratamento com hormônio de crescimento (GH). Métodos: Pacientes com BEI são selecionados com estatura abaixo do 3º percentil quando comparado a idade, população e sexo, com exames físico, cromossômico, endócrino e radiológico normais e que não sugiram osteodisplasia ou outra síndrome genética reconhecível, sendo proporcionais ou desproporcionais. Para investigação, é utilizada análise genética do gene SHOX (short stature homeobox) e do gene do receptor do GH (GHR). Resultados: Esses testes genéticos têm utilidade para diferenciar entre pacientes que respondem ao GH (mutação no SHOX) e que são resistentes (mutação no GHR). Discussão: O gene SHOX está localizado nos cromossomos sexuais. A sua proteína atua para assegurar que crescimento ósseo continue até a puberdade. Por ser dosagem-dependente, a perda de uma cópia por mutação acarreta no encerramento prematuro das placas de crescimento. Essa é a base molecular de BE causada por mutação no SHOX e também da BE na síndrome de Turner. Conclusão: Está documentado na literatura que pacientes com BE causada por mutação no SHOX respondem ao tratamento com GH. Esse protocolo de tratamento já está disponível nos Estados Unidos e em vários outros países (segundo o Consenso de BEI publicado em 2008 na Endocrine, os pacientes adquiriram em média 3,5-7,5 cm). Visto que pacientes com BE proporcional têm baixa frequência de mutações (5%) no SHOX, não se pode justificar a sua análise em pacientes proporcionais, a não ser que o tratamento com GH seja aprovado no Brasil. Assim, se o paciente não irá receber o tratamento com GH, não se justifica o sequenciamento do SHOX. A análise em pacientes desproporcionais é justificada, por ter maior probabilidade de se detectar mutações no SHOX (estimada a 23%). A investigação genética tem benefício aos pacientes do ponto de vista de aconselhamento genético. Diante disso, é de suma importância que os endocrinologistas considerem disponibilizar GH aos pacientes com mutação no SHOX e busquem ações governamentais para o tratamento desses pacientes. 165 CONFIRMAÇÃO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA PELO ESTUDO DO GENE CYP21A2 EM CRIANÇAS COM 17HIDROXIPROGESTERONA PERSISTENTEMENTE ELEVADA Castro, P. S.¹; Rassi, T. O.¹; Mantovani, R. M.¹; Pezzuti, I. L.¹; Bachega, T. S.¹; Silva, I. N.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), Belo Horizonte, MG; Hospital das Cínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita (HAC) é importante para prevenção de complicações nas formas graves da doença. Um dos principais problemas durante a sua realização é a detecção de crianças que permanecem com níveis persistentemente elevados de 17-hidroxiprogesterona (17OHP), sem diagnóstico. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilidade do estudo molecular na discriminação entre as crianças afetadas pela doença e aquelas com elevação transitória da 17OHP. Métodos: Foi realizado estudo molecular do gene CYP21A2 pelos métodos de Southern blotting para pesquisar grandes rearranjos gênicos e PCR alelo-específico para identificar mutações de ponto. Foram selecionadas 33 crianças (21 do sexo feminino) com tempo médio de seguimento de 3 anos e 5 meses, sem fenótipo da doença. Entre elas, 9 eram prematuras, 19 apresentaram intercorrências perinatais e 29 (87,8%) eram adequadas para a idade gestacional. Resultados: No primeiro exame sérico, a mediana da 17OHP foi 1.680 ng/dL (VR: 72 ng/dl nas meninas e 82 nos meninos) e se manteve elevada, com mediana de 164 na última avaliação. Foram detectadas mutações em 17 crianças (30,3%), sendo que 7 eram heterozigotas: 5 com mutação do tipo V281L e 2 com Q318X. Em 9 foram encontradas alterações compatíveis com a forma não clássica, sem sinais clínicos da doença, sendo a V281L a mais frequente em ambos alelos. No alelo materno, detectaram-se também as mutações: -126C > T, -113G > A, -110T > C no promotor do CYP21A2 de uma criança e Q318X, em outra. No paterno, um paciente apresentou as alterações Ins T, Q318X, R356W, dois a mutação I2 splice e outro uma grande conversão gênica. Uma criança apresentou a mutação Q318X/I2 splice, compatível com a forma clássica. Esta menina não tem, até o momento, sinais clínicos da doença, constituindo uma exceção à boa correlação genótipo-fenótipo geralmente encontrada na HAC. Discussão: Um alto percentual de diagnósticos de HAC foi realizado nos pacientes dessa casuística, o que aponta para a relevância da análise molecular do gene CYP21A2 na elucidação dos prováveis casos falso-positivos durante a realização da triagem neonatal. Conclusão: Este diagnóstico obtido de forma mais precisa e rápida contribui para a redução do tempo médio de acompanhamento dessas crianças, dos gastos associados e de tratamentos desnecessários em pacientes com a forma não clássica, além de minimizar o estresse familiar relacionado ao possível diagnóstico de HAC. 166 CONFIRMAÇÃO DA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA PELO ESTUDO DO GENE CYP21A2 EM CRIANÇAS COM 17-HIDROXIPROGESTERONA PERSISTENTEMENTE ELEVADA AP Castro, P. S.¹; Rassi, T. O.¹; Mantovani, R. M.¹; Pezzuti, I. L.¹; Bachega, T. S.¹; Silva, I. N.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), Belo Horizonte, MG; Hospital das Cínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita (HAC) é importante para prevenção de complicações nas formas graves da doença. Um dos principais problemas durante a sua realização é a detecção de crianças que permanecem com níveis persistentemente elevados de 17-hidroxiprogesterona (17OHP), sem diagnóstico. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilidade do estudo molecular na discriminação entre as crianças afetadas pela doença e aquelas com elevação transitória da 17OHP. Métodos: Foi realizado estudo molecular do gene CYP21A2 pelos métodos de Southern blotting para pesquisar grandes rearranjos gênicos e PCR alelo-específico para identificar mutações de ponto. Foram selecionadas 33 crianças (21 do sexo feminino) com tempo médio de seguimento de 3 anos e 5 meses, sem fenótipo da doença. Entre elas, 9 eram prematuras, 19 apresentaram intercorrências perinatais e 29 (87,8%) eram adequadas para a idade gestacional. Resultados: No primeiro exame sérico, a mediana da 17OHP foi 1.680 ng/dL (VR: 72 ng/dl nas meninas e 82 nos meninos) e se manteve elevada, com mediana de 164 na última avaliação. Foram detectadas mutações em 17 crianças (30,3%), sendo que 7 eram heterozigotas: 5 com mutação do tipo V281L e 2 com Q318X. Em nove foram encontradas alterações compatíveis com a forma não clássica, sem sinais clínicos da doença, sendo a V281L a mais frequente em ambos os alelos. No alelo materno, detectaram-se também as mutações: -126C > T, -113G>A, -110T > C no promotor do CYP21A2 de uma criança e Q318X, em outra. No paterno, um paciente apresentou as alterações Ins T, Q318X, R356W, dois apresentaram a mutação I2 splice e outro, uma grande conversão gênica. Uma criança apresentou a mutação Q318X/I2 splice, compatível com a forma clássica. Esta menina não tem, até o momento, sinais clínicos da doença, constituindo uma exceção à boa correlação genótipo-fenótipo geralmente encontrada na HAC. Discussão: Um alto percentual de diagnósticos de HAC foi realizado nos pacientes desta casuística, o que aponta para a relevância da análise molecular do gene CYP21A2 na elucidação dos prováveis casos falso-positivos durante a realização da triagem neonatal. Conclusão: Este diagnóstico, obtido de forma mais precisa e rápida, contribui para a redução do tempo médio de acompanhamento dessas crianças, dos gastos associados e de tratamentos desnecessários em pacientes com a forma não clássica, além de minimizar o estresse familiar relacionado ao possível diagnóstico de HAC. 167 DIABETES MONOGÊNICO: DIFICULDADES EM SE ESTABELECER O DIAGNÓSTICO Tavares, F. S.¹; Prado, F. A.¹; Pedrosa, H. C.¹; Corbal, B. S.¹; Guedelha, L. P. S.¹; Seganfredo, I. B.¹; Batista, M. C. P.¹; Araujo, F. J. S.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Diabetes, Hospital Regional de Taguatinga, Polo de Pesquisa, Fepecs, Capes, SES-DF, Brasília, DF, Brasil Objetivo: Relatar a investigação de criança com glicemia de jejum (GJ) alterada – caso suspeito de diabetes monogênico. Métodos: V. G.C., 8 anos, sexo feminino, assintomática, com peso normal para a idade, apresentando glicemias de jejum repetidamente alteradas (113 mg%, 118mg% e 121mg/dl) e teste de tolerância oral à glicose aos 120 minutos após 75 g de glicose via oral igual a 107 mg%; anti-GAD negativo e peptídeo C normais. Resultados: Apenas com dietoterapia, não houve melhora nas glicemias. Acrescentou-se, então, sulfonilureia (inicialmente glibenclamida 5 mg/dia e, depois, glimepirida 1 mg/ dia) também com pouca resposta. Optou-se, então, pelo uso de saxagliptina 5 mg/dia, mas novamente não houve melhora significativa no perfil glicêmico. O uso combinado de glimepirida 1 mg/dia e saxagliptina 5 mg/dl igualmente não trouxe melhora no controle. No momento está em uso de glimepirida 1,5 mg/dia e apresenta glicemia de jejum média de 110 mg/dl e pós-prandial média de 120 mg/dl. Novos exames mostraram A1C 6,4%; anti-GAD negativo; anti-ICA (negativo); peptídeo C normal, PCR < 0,33 (VR de 0,5 a 3,0), proteinúria negativa, USG renal normal. Pai e tios paternos diabéticos, com diagnóstico antes dos 20 anos de idade. Indicado estudo citogenético para MODY3, o que não foi possível pelo alto custo do exame. Discussão: A persistência de GJ alterada com perfil imunológico negativo em duas ocasiões, sem resposta ao plano alimentar, atividade física regular e uso de antidiabéticos orais, motivou a suspeita clínica de diabetes mellitus (DM) monogênico, especificamente tipo MODY (Maturity Diabetes Onset of the Young). A falta de controle metabólico após uso de sulfonilureia não é compatível com MODY2, cujo controle metabólico sem medicações é muito estável e adequado. Níveis baixos de proteína C reativa (PCR ultrassensível) têm sido apontados em vários casos de MODY3. A investigação imunogenética não constitui rotina clínica para os casos de GJ alterada, devido à dificuldade de acesso ao exame e ao alto custo. Consequentemente, muitos pacientes são tratados indiscriminadamente como DM tipo 1 ou 2, quando poderiam tratar-se de DM do tipo MODY, cuja prevalência não está totalmente definida, mas cuja estimativa é calculada em torno de 2% a 5%. Conclusão: Considerando-se o aumento mundial na prevalência do DM, torna-se imperativa a classificação correta do tipo da doença para abordagens terapêuticas mais eficazes e individualizadas. Infelizmente, pelo alto custo dos exames citogenéticos, nem sempre isso é possível. S259 Endocrinopediatria Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 168 DISTÚRBIO DE CRESCIMENTO E SÍNDROME DE WILLIAMS Bandeira, L. G.¹; Carvalho, L. M.¹; Cardozo, R. R. S.¹; Mendes, R. M.¹; Garcia, R. A.¹; Penedo, P. H. F.¹; Dias, R. G. A.¹ Endocrinopediatria ¹ Universidade Católica de Brasília (UCB), Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Abordar a síndrome de Williams, um diagnóstico diferencial de distúrbio de crescimento. Métodos: Consulta realizada em hospital pediátrico. Resultados: Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 9 anos, acompanhada pela mãe, vem ao ambulatório da genética com diagnóstico de distúrbio e déficit de atenção. Mãe se queixa de que a paciente é muito ativa, tem dificuldade em acompanhar os colegas de classe e não apresenta rendimento escolar satisfatório. Relata atraso no desenvolvimento motor e baixa estatura importante. Apresenta como achados físicos relevantes: fácies atípica com espessamento periorbital, filtro labial longo, lábios grossos, ponte nasal achatada, aletas nasais grossas; baixa estatura desproporcional, abaixo do percentil 3, abaixo do percentil 25 da velocidade de crescimento e abaixo do canal de crescimento segundo alvo genético; exame cardiológico sem alterações. Discussão: A paciente obteve diagnóstico clínico de síndrome de Williams, sendo solicitados FISH e ecocardiograma para complementação da investigação. A incidência dessa síndrome é de 1:20.000 nascidos vivos. A síndrome chama mais atenção na idade pré-escolar, quando os achados fenotípicos se tornam mais evidentes. É ocasionada pela microdeleção do 7q11.23, que inclui o gene da elastina, uma proteína abundante nos tecidos conectivos. Os achados mais comuns são: fácies atípica, anormalidades do tecido conjuntivo, retardo mental e personalidade ímpar, baixa estatura, cardiopatia congênita e hipercalcemia. Na suspeita de baixa estatura de origem genética, deve-se procurar achados dismórficos e calcular a relação U/L para verificar baixa estatura desproporcional. Na presença destes, solicita-se o cariótipo e recomendam-se, também, exames radiológicos para busca de displasia esquelética. Conclusão: Toda criança com baixa estatura deve ser investigada cuidadosamente. A síndrome de Williams é um diagnóstico diferencial de distúrbios endócrinos do crescimento, que não vem recebendo a devida consideração, sendo frequentemente não diagnosticada, e pode apresentar complicações como a estenose aórtica supravalvar, alterações psicomotoras e atraso no desenvolvimento e crescimento. 169 DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO SEVERO NA HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA DA 21-HIDROXILASE FORMA CLÁSSICA PERDEDORA DE SAL Roberto, M. S.¹; Rocha, M. P.¹; Pellucci, L. A.¹; Normando, A. P. C.¹; Couto, M. P.¹; Renck A. C.¹; Vasconcelos, V. C.¹ ¹ Hospital Santa Marcelina (HSM), Departamento de Endocrinologia, São Paulo, SP, Brasil Introdução: A hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase forma clássica perdedora de sal (HAC) é uma doença muitas vezes fatal durante o período neonatal, caso não sejam estabelecidos o diagnóstico e o tratamento adequados. Objetivo: O objetivo foi relatar o caso de um recém-nascido (RN) com grave distúrbio hidroeletrolítico secundário a HAC. Métodos: Relato de caso por meio de análise retrospectiva do prontuário. Resultados: RN de E.R.P.S., nascido de parto normal a termo, genitália externa masculina, testículos tópicos em bolsa escrotal e peso ao nascimento 3.160 g. No 15o dia de vida, iniciou quadro de vômitos incoercíveis, sendo medicado por doença do refluxo gastroesofágico, evoluindo com letargia e desidra- S260 tação grave. Com 45 dias de vida, foi internado na UTI neonatal com hiponatremia: 88 mEq/L, hipercalemia: 6.9 mEq/L e hipoglicemia: 20 mg/dL. Foram iniciados reposição hídrica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e, na suspeita de insuficiência adrenal, foi realizado hidrocortisona 70 mg/m2 IV em bolus, e manutenção de 50 mg/m2 IV de 8 em 8 h. Exames laboratoriais (16/6/2011): 17-OH-progesterona plasmática (17OHP) > 20 ng/mL, androstenediona > 10 ng/ mL. O paciente evoluiu com melhora clínica e laboratorial progressiva e, atualmente, encontra-se em uso de acetato de hidrocortisona VO (8 mg/dia ) e fludrocortisona VO ( 0,2 mg/dia). Últimos exames (26/3/2012) Na 140 mEq/L, K 3,8 mEq/L, Gl 73 mg/dL, androstenediona 3,6 ng/mL, testosterona 0,2 ng/mL. Discussão: A HAC nas meninas é geralmente detectada ao nascimento, devido à ambiguidade genital. Nos meninos, muitas vezes o diagnóstico passa despercebido até que eles sofram uma crise adrenal potencialmente fatal. Esse risco é permanente durante toda a vida da criança em períodos de estresse fisiológico. O caso elucida uma grave patologia, com incidência estimada no Brasil de 1:10.000, que poderia ser precocemente detectada caso fosse incluída junto ao programa nacional de triagem neonatal. O screening neonatal para HAC, com dosagem de 17OHP, é suficientemente sensível e específico para identificar crianças, de ambos os sexos, com a HAC. Entretanto, na prática, ainda é um exame de acesso limitado apenas a dois estados no país. Conclusão: A HAC é uma doença grave e potencialmente fatal quando o tratamento da crise adrenal não é prontamente realizado, mostrando a importância da introdução da triagem neonatal dessa doença no Brasil. 170 EFFECT OF GH THERAPY IN IDIOPATHIC SHORT STATURE WITH MILD GH DEFICIENCY OR PARTIAL GH INSENSITIVITY Oliveira, C. R. P.1; Cardoso, D. F.1; Martinelli Junior, C. E.1; Pereira, F. A.1; Pereira, R. M. C.1; Gomes, E. S.1; Oliveira, M. H. A.1 ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju, Brazil and Department of Pediatrics and Child Care. Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, USP, Campus de Aracaju, SE, Brasil Introduction: Idiopathic short stature (ISS) is defined by heterogeneous conditions with apparent normal GH secretion, which may include partial GH insensitivity (PGHI) and mild GH deficiency (MGHD) with high or low GH response, respectively, on GH stimulation tests. Objective: The objective of this work is to compare GH therapy in PGHI and MGHD to a group with severe GH deficiency (SGHD). Methods: A retrospective study was done in 20 PGHI (GH peak ≥ 18 ng/ml), 12MGHD (GH peak between 5 and 10 ng/ml) and 19 SGHD (GH peak lower than 5 ng/ml), treated with GH for one to ten years. The main outcome measures are the increase of standard deviation score (SDS) of height and IGF-I . Results: SDS of initial height of SGHD was lower than MGHD (p < 0.01) and PGHI (p < 0.01). GH therapy has brought about a lower increase in PGHI than SGHD in height SDS and IGF-I SDS (p < 0.05 in both cases) and in the bone age (p < 0.01), but similar effects in MGHD and SGHD. Discussion: The response to GH therapy was similar in SGHD and MGHD. This means that there may be an overlapping between ISS children with GH peak less than 5 ng/mL and between 5 and 10 ng/ml. Whereas the majority of children with GH deficiency should be located in this last group, it seems exaggerated the cutoff value of 5 ng/ml required for treatment. It is possible that GH secretion in the range 5 to 10 ng/ml may be insufficient for children with reduced sensitivity to GH. Approximately one third of children with GH deficiency or ISS failed to increase the height SDS by 0.5 during the first year of treatment, suggesting insufficient GH doses in function of reduced sensitivity to GH. The median increase in SDS height in PGHI was similar to the increase described with GH therapy in ISS and other non GH deficent conditions in which GH therapy has been adopted. This finding indicates that the dose of GH in PGHI should be titrated to keep IGF-I SDS around + 2, as suggested by Cohen et al. Conclusion: Treatment response was similar in MGHD and SGHD groups, suggesting that children with ISS and GH peak between 5 and 10 ng/ml may have benefits with GH treatment. The lower height gain in the PGHI suggests that the partial GH insensitivity needs higher GH doses to be surpassed. 171 HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA PERSISTENTE DA INFÂNCIA: RELATO DE CASO Rosa, E. R.¹; Conceição, S. A.¹; Melo, M. C.¹; dos Santos, D. F.¹; Fernandes, X. L. M.¹; Soares, P. M.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Relatar um caso de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente da infância (HHPI) em criança pré-escolar diagnosticado pela Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). Materiais e métodos: Revisão de prontuário e literatura sobre HHPI. Resultados: A.V.S., 3 anos e 2 meses, sexo feminino, há 3 meses apresentando crises convulsivas tônico-clônicas secundárias à hipoglicemia identificada em Unidade Básica de Saúde, acompanhadas de sonolência, prostração e inapetência. Nasceu pré-termo com 2.200 g e 44 cm. Sem aleitamento materno, mas com uso de leite NAN. Desenvolvimento neuropsicomotor atrasado. Exame físico normal. Hipoglicemia persistente a soro glicosado a 5% endovenoso (VIG). TC de abdome e cortisol normais excluíram diagnóstico de insuficiência adrenal. Realizado teste terapêutico de Octreotide, após cinco dias, em jejum, sem soroterapia e HGT menos que 40 mg/dl; foram obtidos valores de peptídeo C, insulina e glicemia favoráveis para nesidioblastose. Paciente encaminhado ao HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde realizou tratamento sem resposta ao octreotide e diazóxido. Realizadas pancreatectomia ampla, colecistectomia e derivação biodigestiva em Y de Roux, a biópsia revelou tecido pancreático com mínimas alterações histológicas com foco de células endócrinas pancreáticas em tecido conectivo interlobular, o que não contribuiu com a hipótese de HHPI. A criança evoluiu desde o 1o pós-operatório com hiperglicemias, atualmente em insulinoterapia. Discussão: Crianças com história de macrossomia fetal se encaixam no perfil de portadores de hiperinsulinismo congênito, uma das principais causas de retardo mental e quadros epiléticos relacionados à hipoglicemia neonatal. De caráter esporádico (1:40.000 nascidos vivos), o diagnóstico é feito com peptídeo-C e insulina elevados e hipoglicemia espontânea ou induzida por jejum. A biópsia revela alterações focais ou difusas no tecido pancreático, com histologia variável, como nesse caso com mínimas alterações histológicas, que prejudicou o raciocínio para HHPI. Conclusão: Apesar de rara, a HHPI deve sempre ser pensada como um caso de hipoglicemia persistente de difícil controle, pois se trata de uma emergência médica que requer diagnóstico etiológico preciso e manuseio correto. 172 HIPOGLICEMIA NEONATAL POR DEFICIÊNCIA DE GLICOSE 6 FOSFATASE Stella, L. C.¹; Buck, C. O. B.¹; Nissola, L.¹ ¹ Universidade São Camilo, Faculdade de Medicina, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Departamento de Genética, Campinas, SP, Brasil Objetivo: Hipoglicemia neonatal prolongada pode resultar em dano neurológico grave e irreversível, pois 90% da glicose fornecida ao neo- nato é consumida pelo cérebro. Cetonas e lactato são fontes alternativas de energia, porém produzidas em menor quantidade. A glicogenólise permite a homeostase da glicemia e, entre outras, requer a enzima glucose-6-fosfatase (G6Pase). Essa enzima é expressa no fígado, rim e mucosa intestinal e sua inatividade, distúrbio autossômico recessivo, está associada ao acúmulo de glicogênio hepático, com prevalência de 1 em 100 mil nascidos vivos. Métodos: Lactente, 10 meses, sexo feminino, atendida para investigação de hipoglicemia neonatal. Os pais referiam convulsões generalizadas desde o nascimento, motivo pelo qual foram introduzidos glicocorticoide e anticonvulsivantes. Nascida pré-termo por descolamento de placenta e oligoâmnio com 2.700 g, necessitou de fototerapia. Pais primos de primeiro grau, sem outros casos de hipoglicemia neonatal na família. Ao exame, peso 8,9 kg (P50); estatura 72 cm (P50); fáscies cushingoide, hipertelorismo ocular, nariz pequeno com base plana e narinas antevertidas, filtro curto, boca em carpa com palato ogival. Dedos longos com prega palmar única. Hipotonia acentuada, incapaz de sustentar a cabeça. Hepatoesplenomegalia ao exame do abdome. Exames: glicemia 79 mg/dl; ácido úrico 11,4 mg/dL; hemoglobina 10,2; plaquetas 574 mil; colesterol 182 mg/dl; TG 305 mg/dl; HDL 52 mg/dl; TSH 3,3 UI/ml; T4L 0,9 ng/dl; GH 1,47 ng/ml; lactato 8,0 mmol/L (até 2,1); gasometria: pH 7,42; HCO3 20 mEq/L; BE -3 mEq/L. Pesquisa molecular: mutação em homozigose no gene SLC37A4. Evolução: Retirada gradativa do glicocorticoide com oferta alimentar em intervalos reduzidos por meio de sonda nasogástrica e, posteriormente, gastrostomia. Discussão: A deficiência G6Pase ocasiona hipoglicemia persistente e severa com hepatomegalia, até mais pela deposição anormal de gordura do que propriamente glicogênio. Outras alterações metabólicas estão associadas: dislipidemia com elevação das frações VLDL e LDL resultando em hipertrigliceridemia; hiperuricemia resultante da diminuição da excreção de urato pelo rim e produção aumentada de ácido úrico; acidose metabólica pelo acúmulo de lactato, geralmente de quatro vezes acima do normal. Ainda podem ocorrer disfunção plaquetária, neutropenia e diarreia intermitente. Conclusão: A suspeita diagnóstica sobrecai em casos de convulsão neonatal por hipoglicemia e o tratamento precoce pode minimizar os danos neurológicos. 173 NÍVEIS DE TSH NA POPULAÇÃO MENOR DE 18 ANOS, PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN Rodrigues, I. K.¹; Hanna, E.¹; Rabelo, E. C.¹; Bomfim, L. M.¹; Hanna, L.¹ ¹ Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGELICA), Anápolis, GO, Brasil Introdução: No presente trabalho, comparamos os níveis de TSH em pacientes eutireoidianos portadores de SD com não portadores. Objetivo: O objetivo principal é estabelecer níveis de TSH nesta população. Métodos: O estudo analisou 33 pacientes com SD, de 0 a 18 anos, sendo 24 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Foram excluídos os pacientes com dosagem de TSH abaixo de 0,3 µU/ml e acima de 5 µU/ml e pacientes com uso de medicamentos interferentes e/ ou reposição hormonal, passado de exposição a radioterapia externa e presença de bócio. Para o grupo controle, foi utilizada a dosagem de TSH de 50 pacientes, 25 de cada sexo, escolhidos aleatoriamente, os quais apresentavam níveis de TSH entre 0,3 e 4,2 µU/ml, sem terapia de reposição hormonal e não portadores de SD. Esses resultados estão dentro da faixa de normalidade encontrada por Rosario et al. (VN = 0,43-3,24). Para análise dos dados, foram aplicados o teste de Kolmogorov-Smirnov e o Teste t para amostras independentes. Foram considerados como significantes os valores de p < 0,05. Resultados: Nos pacientes com SD, o nível médio de TSH encontrado entre os pa- S261 Endocrinopediatria Trabalhos Científicos Endocrinopediatria Trabalhos Científicos cientes masculinos foi de 2,83 e, entre os femininos, de 2,92. Os resultados encontrados no grupo controle foram de 2,32 entre os pacientes masculinos e 2,18 entre os pacientes femininos. Os participantes sem SD apresentaram média de 2,16 ± 0,9 e os com SD de 2,74 ± 1,27 de TSH (p = 0,001). Discussão: De acordo com vários trabalhos já realizados, os pacientes portadores de SD, eutireoideos, apresentam o nível de TSH ligeiramente acima da média da população geral. O estudo de Oliveira ATA et al. mostrou que o nível de TSH encontrado em pacientes com SD, excluindo-se os valores acima de 5,0 µU/ml, foi de 3,0 µU/ml. Esse valor pode ser devido a: 1) hipotireoidismo primário inicial, ainda subclínico; 2) certo grau de bioinatividade do hormônio; 3) resistência tireoidiana ao nível dos receptores de TSH, ou mesmo um evento pós-receptor; e 4) diminuição do tônus dopaminérgico sobre o hipotálamo e a hipófise. Conclusão: Concluímos que os níveis de TSH na população com SD são superiores àqueles encontrados na população não portadora, confirmando dados da literatura e necessitando de atenção especial do endocrinologista/pediatra na busca de anormalidades da função tireoidiana. 174 OS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (DGH) ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS MAIS PRECOCEMENTE PARA A REPOSIÇÃO HORMONAL? Dias, J. C. R.¹; Costa, R. G.¹; Gonçalves, A. L.¹; Pazello, J. R.¹; Zampieri, M.¹; Nigri, A. A.¹; Senger, M. H.¹ ¹ Área de Endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Sorocaba, SP, Brasil Introdução: O tratamento da DGH se tornou mais acessível com a dispensação do GH, mas a resposta à terapêutica requer diagnóstico adequado e precoce. Objetivo: Avaliar variações na idade cronológica (IC) e óssea (IO) ao diagnóstico da DGH e intervalo de tempo até o início de tratamento em pacientes atendidos desde a década de 1990. Métodos: Avaliamos 20 pacientes com DGH idiopática que completaram o tratamento até altura final e foram divididos em dois grupos de acordo com a mediana da data de início do GH: G1 (n = 9), início entre 1990-1997 e G2 (n = 11), entre 1999-2008. Utilizou-se o teste t para comparação entre os grupos. Resultados: A IC ao diagnóstico foi semelhante em G1 e G2, respectivamente de 9,5 ± 5,2 e 11,9 ± 3,9 anos (média ± DP), bem como a IC no início do GH (G1: 10,3 ± 5,2 vs. G2: 13,5 ± 3,0 anos). A IO inicial do G1 foi de 6,2 ± 3,9 anos, menor que a do G2 (10,6 ± 3,2; p = 0,006). O intervalo de tempo entre o diagnóstico e início da reposição foi igual em G1: 0,8 ± 0,4 e G2: 1,6 ± 2,0 anos. A média de tempo de uso de GH foi maior no G1 (7,5 ± 4,2 anos) vs. G2 (4,1 ± 1,6 anos); p = 0,025. A altura do G1 foi menor no início do GH (G1: 107,4 ± 23,0 vs. G2: 134,9 ± 13,7 cm; p = 0,019), bem como o z escore da estatura (G1: -4,8 ± 1,3 vs. G2: -3,0 ± 1,1; p = 0,003). Não houve diferença significante quanto à altura final (G1: 158,9 ± 8,7 vs. G2: 163,3 ± 5,8 cm), IO final (G1: 14,7 ± 0,9 vs. G2: 14,9 ± 1,1 anos) e z escore da estatura (G1: -1,6 ± 1,5 vs. G2: -1,0 ± 0,6). A diferença entre a altura final e a altura-alvo não mostrou diferença entre G1 e G2 (G1: -3,9 ± 6,1 vs. G2: -7,6 ± 5,8 cm). Discussão: Os pacientes que ingressaram no serviço terciário mais recentemente têm IC semelhante àqueles que iniciaram GH no começo da década de 1990, assim como o intervalo de tempo entre diagnóstico e tratamento. Embora os pacientes atendidos mais remotamente (G1) apresentassem maior déficit da estatura, mostraram resultados semelhantes quanto à estatura final do G2, talvez compensada pela menor IO inicial e consequente maior tempo de uso de GH. No entanto, ambos permanecem igualmente comprometidos quanto S262 à estatura-alvo. Conclusão: A despeito de mais de duas décadas da dispensação de GH, nossos pacientes com DGH permanecem com início tardio da reposição hormonal (IC e IO > 10 anos) e com comprometimento da estatura final comparado ao padrão familiar. Ainda há necessidade de melhorias para diagnóstico e encaminhamento precoce ao serviço terciário. 175 PERCEPÇÃO DA OBESIDADE EM CRIANÇAS Costa, P. S.¹; Stella, L. C.¹; Dallal, M. V. S.¹; Valle, P. O.¹; Correa, R. C.¹; Fraige Filho, F.¹; Paraguassu, B. R.¹ ¹ Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo (HBPSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, com cerca 22 milhões de crianças menores de 5 anos acima do peso, caracterizando uma epidemia mundial. Dados da cidade de São Paulo mostram que, entre os escolares do ensino fundamental em 2005, 17% estavam acima do peso. O baixo peso ao nascer estaria associado ao desenvolvimento de doenças crônicas no adulto e obesidade. Verificou-se associação inversa entre peso ao nascer e síndrome metabólica: crianças de baixo peso ao nascer tiveram 2,5 vezes mais chance de apresentar síndrome metabólica na idade adulta. Métodos: Foram revisados os prontuários dos pacientes menores de 18 anos atendidos em primeira consulta no período de janeiro de 2010 a julho de 2012 na Clínica de Endocrinologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Os dados colhidos foram queixa na primeira consulta, sexo, idade, peso ao nascimento, peso atual e idade óssea. A interpretação da idade óssea foi baseada no Atlas de Greulich Pyle, bem como o desvio-padrão. O percentil de peso para idade foi feito de acordo com dados do Centers for Disease Control (CDC). Resultados: Foram avaliados 87 pacientes com média de idade de 10,5 anos (2,7-18), sendo 59,7% meninas e 40,3% meninos. Entre as crianças atendidas, 17 procuraram o serviço por queixa de obesidade (19,54%), e verificou-se que 41 deles (47,1%) situavam-se acima do percentil 85 do peso para idade; destes, 29 pacientes eram obesos (P > 95) e 12 pacientes classificavam-se com sobrepeso (P85-95). Entre os 41 pacientes que apresentavam sobrepeso/obesidade, 1 paciente nasceu PIG e 3 nasceram GIG. Apenas 8 pacientes dessa amostra dispunham de raio X de punho esquerdo para idade óssea e, entre esses dois, tinham avanço da idade óssea. Discussão: De etiologia multifatorial, envolve aspectos genéticos, metabólicos, nutricionais, socioeconômicos e hábitos de vida. Entretanto, permanece ainda uma patologia pouco reconhecida pelos pais e médicos. Verificamos, em nossa amostra, prevalência de 47,1% de crianças acima do peso, sendo que apenas 19,54% apresentavam essa queixa. Apesar da amostra limitada, encontramos a prevalência de 9,75% de crianças obesas nascidas nos extremos de peso. Conclusão: O reconhecimento precoce da obesidade com mudança dos hábitos de vida pode se refletir em uma população adulta com menos doenças metabólicas. 176 PERFIL DE ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS À ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA Dias, A. L. R.¹; Cruz, A. P. V.¹; Silva, E. A.¹; Freitas, M. M. S.¹; Costa, M. B.¹; Leite, C. C. A.¹; Ferreira, L. V.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Estudar prevalência de doenças que motivaram o encaminhamento ao Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica em hospital Trabalhos Científicos 177 PREVALÊNCIA DE ALBUMINÚRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE Maddalena, N. C. P.¹; Giardini, H. A. M.¹; Ferreira, L. V.¹; Costa, M. B.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o excesso de peso atingirá de 20% a 45% das crianças em 2020. Esse aumento da obesidade provoca aumento linear das suas complicações metabólicas, mesmo na faixa etária pediátrica. O objetivo deste estudo é avaliar a presença de albuminúria em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade acompanhados em Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica. Métodos: Foram avaliados, retrospectivamente, os prontuários de 36 pacientes ( 18 meninas e 18 meninos), com idades entre 2 e 16 anos, acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário da UFJF. Resultados: A média de idade encontrada foi de 9,19 ± 3,46 anos. Apresentavam sobrepeso 35% das meninas e 11% dos meninos. Eram obesos 89% dos meninos e 65% das meninas. O desvio-padrão do peso foi 4,70 ± 2,64. A prevalência de microalbuminúria na avaliação inicial foi de 25,7%. Discussão: Além de complicações amplamente conhecidas, como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, vê-se aumento importante da prevalência da doença renal em paralelo ao aumento da obesidade. A obesidade é associada a inúmeros fatores de risco cardiovasculares, que também são fatores de risco para doença renal crônica (DRC), em especial a hiperinsulinemia. A glomerulopatia relacionada à obesidade é definida como glomerulomegalia com ou sem glomeruloesclerose focal e segmentar e, clinicamente, apresenta-se com excreção urinária de proteínas em vários graus e perda progressiva da função renal. Sabe-se que a presença de microalbuminúria pode significar perda incipiente da função renal, mesmo com níveis normais de creatinina. Conclusão: O presente estudo, de acordo com a literatura, sugere que a obesidade infantil aumenta o risco de doença renal crônica e suas consequências. Como a obesidade é um fator de risco potencialmente modificável para diversas complicações crônicas, incluindo DRC, esforços para evitá-la e tratá-la têm efeitos benéficos positivos na evolução dessas complicações. 178 TRATAMENTO COM RADIOIODO (I131) EM CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE GRAVES: RELATO DE CASO DE SUCESSO Gontijo, C. C. A.¹; Luz, B. G.¹; Rodrigues, E. T.¹; Albuquerque, F. A.¹; Rodrigues, L. P.¹; Pinheiro, M. B.¹; Maia, N. S.¹ ¹ Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Divinópolis, MG, Brasil Objetivo: Descrever a evolução de criança com diagnóstico de doença de Graves (DG) tratada com radioiodo. Métodos: Análise de prontuário após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo responsável da paciente. Para revisão, foram utilizadas as bases de dados PubMed e SciELO. Resultados: Menina de 2 anos e 4 meses, levada ao consultório devido a aumento do volume cervical. Histórico de tireoidopatia. Teste do pezinho sem alterações. Queixas iniciais: agitação, irritabilidade, rouquidão e insônia. Exames: TSH: 0,02UI/mL; T4 Livre: 4,92 mg/dL; Anti-TPO: positivo (2289UI/mL); Anti-Tg: positivo (178 ng/mL). US da tireoide: 3 nódulos no lobo direito, 2 no esquerdo e volume total de 8,3 cm³. Ao exame, apresentava olhos arregalados e tireoide aumentada em 2 a 3 vezes, irregular e sem nódulos dominantes. A hipótese diagnóstica foi doença de Graves. O tratamento com atenolol e tapazol, constantemente reajustado, não foi eficaz no controle da função tireoidiana. Aos 4 anos e 1 mês, foi internada em crise tireotóxica, anêmica e com hiperglicemia. Após 2 meses, a paciente foi submetida a tratamento com I131 (3,6 uci) e, posteriormente, iniciou com Puran T4 (dose atual: 88 mg/dia). Aos 3 anos, viu-se avanço da idade óssea, estando, hoje, 22 meses adiantada. Aos 4 anos e 8 meses, detectaram-se anemia microcítica e hipocrômica, tratada com Neutrofer, sem sucesso. Atualmente, com 7 anos de idade, observa-se melhora dos valores da série vermelha. Discussão: A prevalência do hipertireoidismo varia com o grau de suficiência de iodo. A DG é a causa mais comum de hipertireoidismo em pessoas com menos de 40 anos, sendo rara abaixo dos 10 anos. Caracteriza-se por bócio difuso e tireotoxicose, podendo, ainda, ter orbitopatia e dermopatia infiltrativas e oftalmopatia. Os autoanticorpos específicos para DG hipertireoidea são vistos contra o TSH e têm atuação estimulante na tireoide. Principais fatores de risco: suscetibilidade genética, infecção e gênero. A evolução da tireotoxicose nos pacientes é variável, mas a tendência é caminhar para o eutireoidismo. O tratamento de DG na infância e adolescência é controverso, sendo os principais objetivos a restauração e a manutenção de estado eutireoideo. O uso de I131 vem crescendo, tendo muitos benefícios, porém há poucos relatos sobre a utilização em crianças. O principal efeito colateral do I131 é a alta incidência de hipotireoidismo permanente. Conclusão: A terapêutica prescrita foi eficaz para remissão dos sintomas da paciente, porém, outros estudos se fazem necessários. 179 SÍNDROME DE NETHERTON E DEFICIÊNCIA DE GH: RELATO DE CASO Freire, R. A. C.¹; Martins, D. M. C.¹; Ribeiro, L. G.¹; Amorim, P. B.¹; Amorim, R. B. P.¹ ¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), Palmas, TO; Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso sobre síndrome de Netherton associado à deficiência de hormônio do crescimento e hipocortisolismo. Méto- S263 Endocrinopediatria de ensino. Métodos: Trata-se de estudo observacional transversal, no qual foram analisados os prontuários de pacientes encaminhados ao Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica de unidade de atenção secundária. Foram coletados dados referentes ao diagnóstico, demográficos, antropométricos e laboratoriais. Resultados: Foram avaliados 84 indivíduos, na faixa etária de 1,1 a 19,9 anos e média de idade de 9,98 ± 3,86, sendo 42 (50%) do sexo feminino. Observou-se que as causas mais frequentes de encaminhamento foram: obesidade e sobrepeso (53,57%), baixa estatura (26,19%), pubarca precoce (4,76%), diabetes mellitus tipo 1 e hipotireoidismo (ambos com 3,57%). Os transtornos menos prevalentes foram: lesão hipofisária, crescimento acelerado, hipercolesterolemia, hiperplasia adrenal congênita, hipogonadismo primário, puberdade atrasada. Os achados dos pacientes encaminhados por obesidade e sobrepeso estão na tabela 1. Discussão: Observa-se que, entre as diversas doenças que motivaram encaminhamento, obesidade/sobrepeso representaram a causa principal. Esse achado confirma os dados de estudos que apontam para o aumento do número de casos de obesidade em diferentes populações. No Brasil, confirmam o fenômeno da transição nutricional descrito por outros autores/IBGE. Como segunda causa mais frequente, foi encontrada a baixa estatura que corrobora o encontrado na literatura. Alterações tiroidianas e distúrbios de puberdade não foram frequentes em nossos pacientes. Conclusão: O conhecimento do encaminhamento à endocrinopediatria auxilia no desenvolvimento de programas de intervenção precoce sobre tais doenças, em nível primário, reduzindo seu impacto. No que diz respeito à obesidade, é importante a criação de programas que estimulem hábitos saudáveis entre crianças e adolescentes, por parte dos endocrinologistas e dos gestores em saúde. Endocrinopediatria Trabalhos Científicos dos: Revisão de prontuário. Resultados: Paciente 14 anos, masculino, branco, com história de descamação difusa da pele desde os 3 meses de vida e infecções secundárias de repetição. Foi diagnosticada, aos 7 anos, a síndrome de Netherton. Em primeira consulta com endocrinologista aos 14 anos e 1 mês, apresentava estatura de 120,2 cm, peso de 21.700 g, classificação de Tanner P1 e G3, sem pelos e idade óssea compatível com 4 anos, sendo iniciada investigação para baixa estatura. Paciente retornou após 5 meses sem ganho de peso ponderal, estatura de 122 cm, velocidade de crescimento estimada em 1,9 cm/ ano, e com resultados de exames revelando: hemograma e dosagens de IGFBP-3 = 5,1 µg/L e IGF-1 = 357 µg/L normais para a idade; teste de clonidina com valor de GH máximo basal de 3,68 ng/ml; função tireoidiana normal. Com esses dados, foi solicitado teste de tolerância à insulina, com hipoglicemia satisfatória (até 30 mg/dL, 30’ após insulina), porém, sem aumento da dosagem do GH (valor máximo basal de 8,32 ng/mL) e do cortisol (valor máximo em 60’ de 1,72 µg/dl), sendo diagnosticado hipocortisolismo. Na ocasião, foi solicitada ressonância nuclear magnética de sela túrcica, que não evidenciou alterações na região hipotalâmica hipofisária. Iniciado tratamento com aplicação subcutânea de GH (0,1 U/kg/dia), notamos que, após cerca de dois meses, houve aumento da estatura de 1,2 cm, demonstrando resposta periférica ao GH. O paciente segue em acompanhamento para investigação do hipocortisolismo. Discussão: A síndrome de Netherton (SN) é uma doença caracterizada por eritrodermia descamativa, defeitos nos cabelos e manifestações de atopia. Vários estudos descreveram complicações envolvidas nessa síndrome como: atraso psicomotor, atraso pôndero-estatural e infecções de repetição. Apesar de o atraso de crescimento ser uma complicação frequentemente descrita em SN, não houve associação desse sintoma com uma importante deficiência de GH na literatura revisada. Além disso, a patogênese de tal deficiência ainda não foi elucidada. Conclusão: Neste caso clínico, foi possível associar a baixa estatura na SN com a deficiência de GH, sendo que tal deficiência pode estar relacionada às origens patogenéticas da doença. Além disso, encontramos evidências laboratoriais de hipocortisolismo, o que nos leva a questionar sobre um possível quadro de pan-hipopituitarismo. 180 SÍNDROME DE SMITH LEMLI OPITZ (SLOS): RELATO DE CASO Rodrigues, A. A.¹; Peixoto, F. M. C.¹; Carvalho, L. R. P.¹; Schainberg, A.¹ ¹ Hospital Governador Israel Pinheiro (IPSEMG), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Relatar caso de paciente portadora de síndrome genética que afeta a síntese do colesterol. Métodos: Relato do caso de paciente atendida no Serviço de Endocrinologia do HGIP-IPSEMG e revisão da literatura correspondente. Resultados: ACSM, feminina, 3 anos e 2 meses. Ao nascimento, notaram-se alterações: PIG, excesso de pele na nuca, baixa implantação das orelhas, diminuição da distância bitemporal, ponte nasal alargada, palato alto e fenda palatina, úvula bífida, clinodactilia de 2o e 5o dedos da mão e sindactilia de 2o e 3o artelhos. Evoluiu com sucção débil, atraso grave no DNPM, hipotonia generalizada, constipação intestinal e CIA (resolvida). Durante propedêutica, teve cariótipo e RNM de encéfalo normais, encurtamento de 1o metacarpos, colesterol total baixo (10 mg/dL). Síndrome de Smith Lemli Opitz (SLOS) foi confirmada após dosagem de 7-de-hidrocolesterol: 15,9 mg/dL (VR até 1,5). Reserva adrenal foi normal. Iniciada reposição com colesterol dietético (5 gemas/dia), não tolerada. Há mais ou menos 1 mês, iniciou uso de colesterol sintético (Sloesterol®), na dose de 30 mg/kg/dia. Segundo a mãe, paciente apresentou completa resolução de constipação intestinal prévia, melhora acentuada do S264 tônus muscular e, segundo fisioterapeuta, encontra-se mais ativa e ágil. Colesterol em 5/7/2012: 143 mg/dL; então, iniciada sinvastatina 10 mg/dia. Discussão: SLOS é uma doença autossômica recessiva que cursa com malformações congênitas e retardo mental, causada por mutações no gene da 7-de-hidrocolesterol redutase, enzima que converte o 7-de-hidrocolesterol (7-DHC) em colesterol. Os achados clínicos incluem microcefalia, micrognatia, implantação baixa das orelhas e sindactilia do 2o e 3o dedos, falência de crescimento, desordens cardíacas, problemas comportamentais e intelectuais, além de fotossensibilidade. Meninos afetados podem apresentar genitália ambígua. Pode haver insuficiência adrenal. O diagnóstico é feito pelo achado de colesterol baixo associado a níveis altos de 7-DHC e estudo molecular. O acúmulo de 7-DHC no cérebro tem sido associado a dificuldade de aprendizado e retardo no crescimento. O tratamento com suplemento de colesterol provê colesterol para os tecidos, exceto cérebro (não atravessa barreira hematoencefálica), e a sinvastatina reduz os níveis tóxicos do 7-DHC, com melhora de vários dos sintomas. Conclusão: Este caso revela a importância do colesterol no crescimento e desenvolvimento da criança. 181 TUMOR DE CÉLULAS DE LEYDIG SE APRESENTANDO COMO PUBERDADE PRECOCE Vasconcelos, A. L. M.¹; Abreu, C. M.¹; Souza, A. E. S.¹; Pereira, F. W. L.¹; Martins, M. C. N.¹; Farias, L. F. C. S.¹; Silva, J. M. C. L.¹ ¹ Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina, PI, Brasil Objetivo: Relatar um caso de paciente infantil apresentando o raro tumor de células de Leydig em testículo. Métodos: Relatamos o caso de paciente de 5 anos e 9 meses com puberdade precoce provocada pelo raro tumor de células de Leydig em testículo, submetido à orquiectomia radical direita. Após seguimento de 9 anos, não houve recidiva tumoral. Resultados: Paciente de 5 anos e 9 meses, masculino, encaminhado ao Programa de Puberdade Precoce para receber análogo de LHRH. História de surgimento de pelos pubianos há 1 ano. Ao exame físico, altura: 129,5 cm, peso: 35,7 kg, genitália externa com pelos Tunner 2, testículos tópicos, aumentado à direita. Idade óssea: 8 anos, LH: 0,05 mUI/mL, FSH: 0,66 mUI/mL, testosterona: 103 ng/dL e DHEAS < 15 ug/dL, 17DHP: 48 ng/dL, A4: 0,7 ng/mL, hemograma normal, creatinina: 0,8 mg%, glicose: 70 mg%. US testicular: lesão hipoecogênica com halo hiperecogênico, hipervascularizada ao Doppler em testículo direito. Encaminhado à cirurgia, realizou orquiectomia direita. Histopatológico revelou tumor de células de Leydig. No pós-operatório, houve queda da testosterona para < 20 ng/dL, sendo o LH: 0,42 mUI/ml e FSH: 2,47 mUI/mL. A oncologia julgou desnecessário tratamento complementar. Em seu último controle, aos 14 anos de idade, apresentava altura: 170 cm, peso: 74 kg, idade óssea: 18 anos, US de testículo esquerdo normal, LH: 3,72 mUI/mL, FSH: 3,57 mUI/mL, testosterona: 424 ng/dL. Discussão: Os tumores de células de Leydig têm etiologia desconhecida e, embora seja o tipo mais comum de tumor testicular não germinativo, são bastante raros. A malignidade, manifestada basicamente apenas pela metastatização, está presente em apenas 10% dos casos. São unilaterais em 91%-94% dos casos e mais frequentes em crianças (20%-25% dos casos) e em adultos da 4a a 5a décadas de vida. A importância desses tumores está no fato de provocarem alterações endocrinológicas salientes nos pacientes acometidos; em prépúberes, provoca, na maioria dos casos, virilização precoce associada com aumento do tamanho peniano, crescimento dos pelos pubianos, axilares e faciais, mudança no timbre da voz e em menor frequência, ginecomastia. Como já foi descrito aparecimento de metástases após oito anos de seguimento, é necessário acompanhamento prolongado do paciente. Conclusão: O caso relatado constitui um tumor de grande raridade, importante pelas alterações endocrinológicas causadas no paciente. Corrobora com a literatura por ter apresentado caráter benigno, ser unilateral e causado virilização precoce. ENDOCRINOLOGIA BÁSICA 182 ACROMEGALIA ASSOCIADA A BÓCIO MULTINODULAR TÓXICO: RELATO DE CASO Ferreira, W. S.¹; Faria, N. L. A.¹ ¹ Universidade Católica de Brasília, Hospital da Universidade Católica de Brasília (HUCB), Centro de Especialidades Ambulatoriais, Brasília, DF Brasil Objetivo: Discutir a relação entre acromegalia e tumores tireoidianos, além de seus tratamentos, por meio de um relato de caso. Métodos: Será realizado relato de caso, seguido por revisão da literatura dos temas abordados. Resultados: Paciente 49 anos, sexo feminino, foi atendida pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital da Universidade Católica de Brasília com queixas de crescimento de extremidades há 4 anos, acompanhadas de cefaleia, palpitação, alopecia, polifagia, polidipsia, artralgia, hiperidrose e apneia do sono. Foi submetida a exames que demonstraram níveis séricos de TSH diminuídos, T4 livre e IGF-1 elevados, glicemia em jejum levemente alterada, TRAB de 1%, além disso apresentava macroadenoma hipofisário à direita, observado por ressonância nuclear magnética e aparecimento de nódulo pela ecografia com Doppler na tireoide, que se mostrou hipocaptante à cintilografia e que, posteriormente, foi submetido a PAAF guiado por ecografia. Feito diagnóstico de hipertireodismo por bócio multinodular tóxico, foi tratado com DT I-131 , paciente atualmente eutireoidiana. Após o diagnóstico da acromegalia, realizou-se inicialmente tratamento com octretide, que obteve melhoras dos sintomas, porém de maneira instável, sendo substituído por Sandostatin LAR. Paciente foi submetida à retirada do tumor hipofisário por microcirurgia transesfenoidal há 6 meses e, atualmente, mantém os níveis de IGF-1 normalizados e ausência de cefaleias. Discussão: É frequente a presença de distúrbios da tireoide em pacientes acromegálicos. A principal manifestação é o bócio, sendo o do tipo nodular o mais prevalente. Mais especificamente, um estudo mostrou que 14,3% dos pacientes avaliados apresentaram o bócio nodular tóxico, como terceira maior causa de distúrbio tireoidiano na acromegalia. O GH não atua diretamente, mas sim por meio do IGF1, um importante fator de crescimento e diferenciação celular. Como foram observados receptores para IGF-1 nas células tireodianas, acredita-se que exista um possível papel desse fator em sua autorregulação, favorecendo o desenvolvimento de anomalias glandulares. Conclusão: Existem evidências na literatura da associação entre acromegalia e o bócio nodular tóxico, tornando-se necessária a investigação detalhada em pacientes com suspeita dessa síndrome, porém são necessários mais esclarecimentos dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. 183 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME METABÓLICA E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS: RESULTADOS PARCIAIS Alves, N. P.¹; Curado, R. V. C.¹; Vargas, P. M.¹; Packer, V. B.¹; Rufato, G. S.¹; Nascimento, N. M. M.¹; Magalhães, F. O.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Determinar a associação entre depressão e síndrome metabólica e outras doenças crônicas em um grupo de idosos no mu- nicípio de Uberaba, MG. Métodos: Estudo transversal por meio de amostragem aleatória de 250 indivíduos da Unidade de Assistência ao Idoso (UAI). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 0058.0.227.000-11. Foram realizados a Escala de Rastreamento Populacional para Depressão (CES-D) e o formulário com dados de saúde e atividades realizadas. Os indivíduos em jejum realizaram os seguintes exames: glicemia capilar, colesterol total e triglicérides capilares; medidas antropométricas: cintura abdominal, quadril, altura, peso; e pressão arterial. Os dados foram analisados por meio do teste do Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Resultados: Dos 102 indivíduos entrevistados, foram realizados os exames com 52, sendo que 44 puderam ser avaliados quanto à SM. A média de idade foi de 70,33 ± 7,45, a glicemia estava alterada em 63,5% (33/52); houve hipertrigliceridemia em 42,6% (20/47); hipercolesterolemia em 30% (15/50); obesidade abdominal em 64% (32/50); pressão alterada (pré-hipertensão ou hipertensão) em 50% (26/52); síndrome metabólica em 65,9% (29/44) e depressão em 55,9% (57/102) dos indivíduos. Não houve associação entre depressão e síndrome metabólica (Qui2 = 0,130, p = 0,718), em que 60% dos indivíduos com SM e 65,5% sem SM apresentavam depressão pela avaliação do CES-D. Entretanto, houve associação entre a presença de doenças e depressão nesse mesmo grupo (Qui2 = 4,505, p = 0,034). Discussão: Existem evidências que apontam a associação de resistência insulínica em nível de sistema nervoso central e depressão. Como a síndrome metabólica é uma condição caracterizada por resistência insulínica, propomo-nos a avaliar a associação entre depressão e essa síndrome. Como a realização dos exames e medidas antropométricas foi feita em cerca de 50% dos indivíduos, não conseguimos identificar essa associação. Além do mais, a prevalência de síndrome metabólica, depressão e todos os componentes dessa síndrome foi expressiva nessa população, por ser uma população de idosos, de alto risco. Essa prevalência mostra a importância da avaliação desses grupos, visto que muitos indivíduos não se encontravam em acompanhamento com especialistas, tendo sido encaminhados após a identificação dos problemas de saúde. Conclusão: Apesar de evidências científicas indicarem uma relação entre resistência insulínica e depressão, não encontramos relação entre as duas entidades clínicas nesse grupo de idosos. 184 CRISE HIPERCALCÊMICA COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO Mello, M. P.¹; Côsso, M. A. M.¹; Barbosa, E. N.¹; Rodrigues, L. F. A. A.¹; Marques, J. N. C.¹; Abreu, R. K.¹; Ferreira, A. C. M. N.¹ ¹ Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte, Feluma, Belo Horizonte, MG, Brasil Introdução: Crise hipercalcêmica é uma rara condição caracterizada por hipercalcemia grave, alterações neurológicas e da função renal. É uma emergência médica que, se não tratada rapidamente, pode levar o paciente à morte. Entre as causas, destaca-se o hiperparatireoidismo primário (HPTP). Método: Relato de casos. Caso-clínico: paciente de 80 anos, sexo masculino, previamente hígido, admitido com quadro de prostração, confusão mental e inapetência de início há uma semana. Ao exame clínico, apresentava-se desidratado, taquicárdico e sonolento. Exames da admissão revelaram: cálcio total 19 mg/dL (VR: 8,1-10,4), cálcio iônico 13 mg/dL (VR: 4,4-5,4) e creatinina 2,2 mg/dL (VR: 0,8-1,5). Iniciada hidratação venosa vigorosa com solução de cloreto de sódio, corticoide e furosemida venosos, com redução significativa do cálcio sérico. Associaram-se, posteriormente, pamidronato (60 mg de 7/7 dias) e cinacalcet, com controle parcial dos níveis de cálcio. Estudo etiológico mostrou hipercalcemia PTH dependente: PTH 463 S265 Endocrinologia Básica Trabalhos Científicos Endocrinologia Básica Trabalhos Científicos pg/mL (VR: 4-58), TSH, 1,25 (OH) 2D3, eletroforese de proteínas, proteinúria de Bence Jones e cintilografia óssea sem alterações. Tomografia computadorizada de região cervical revelou nódulo de 3,0 x 3,0 cm em topografia de lobo tireoidiano direito. Cintilografia das paratireoides com 99Tc-sestamibi não mostrou captação. O paciente foi submetido à exploração cervical cirúrgica, com identificação de provável adenoma de paratireoide inferior direita, medindo 3,0 x 3,0 x 2,2 cm, que foi ressecado. O paciente evoluiu com normalização da calcemia e função renal. Discussão: Crise hipercalcêmica necessita de tratamento urgente para redução da calcemia. Ao mesmo tempo, deve ser feita extensa propedêutica para diagnosticar sua etiologia, que inclui HPTP, neoplasias, sarcoidose, intoxicação por vitamina D, tireotoxicose, entre outras. Conclusão: Hidratação venosa associada à furosemida é a base do tratamento. Se a diurese não for satisfatória, hemodiálise é o tratamento de escolha. Outras opções são: bisfosfonatos, glicocorticoide, calcitonina e cinacalcet. Deve-se suspeitar de hipercalcemia em todos os pacientes com alterações neurológicas sem causa aparente. 185 DIFICULDADE NA DETECÇÃO DA SÍNDROME DE ROKITANSKYKÜSTER-HAUSER: RELATO DE CASO Moreira, E. C.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Jorge, A. R.¹; Arbex, A. K.¹; Bogea, M. A.¹; Andrade, G. C. M.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar a dificuldade no diagnóstico de MRKH por serem suas manifestações fenotípicas inespecíficas, confundindo-se com outras síndromes. Métodos: P.C.C., 23 anos, feminina, primeira consulta em 15/7/2011 com queixa principal “ter muitos hormônios e agressividade”. Nega uso de medicações. Ao exame físico: peso 67,5 kg e altura 145,5 cm (dentro do alvo genético, porém abaixo do percentil 3 th para sexo e idade na altura e, acima do percentil 97 th, para o peso), obesidade (IMC 31,8 kg/m²), PA 110 x 60 mmHg, hirsutismo (12 pontos na escala de Ferriman e Gallwey), Tanner M5G5 e genitália feminina com aumento de grandes lábios. Restante do exame sem alterações. Déficit cognitivo e amenorreia primária. Nega sexarca. Resultados: Cariótipo 46, XX, progesterona 0,61 ng/mL (N: pré -púberes < 1,0), prolactina 12,1 (N: 2,8 a 29,2), SHBG: 98,1 nmol/L (N: 18 a 114), TSH: 5,93 uUI/mL (N: 0,5 a 5,0), T4L: 1,07 ng/dL (N: 0,7 a 1,8), testosterona total: 44 ng/dL (N: 6,0 a 82,0), diidrotestosterona 179,0 pg/mL (N: 20 a 430), androstenediona: 1,1 ng/mL (0,8 a 4,4), cortisol basal 7,2 mcg/dL (6,7 a 22,6), ACTH: 10,4 pg/ mL. Discussão: A MRKH é definida tardiamente quando atentamos para amenorreia primária e sua etiologia permanece desconhecida. O tratamento da aplasia vaginal, que consiste na criação de uma neovagina, pode ser oferecido para permitir a atividade sexual. Conclusão: O diagnóstico precoce assim como a intervenção cirúrgica e o tratamento psicológico em paralelo são fundamentais para o bem-estar físico e psíquico das pacientes com MRKH. 186 DOIS IRMÃOS COM SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: RELATO DE CASO Gontijo, C. C. A.¹; Pinheiro, M. B.¹; Souza, L. N. B.¹; Rodrigues, L. P.¹; Luz, B. G.¹; Maia, N. S.¹; Lavareda, P. H. B.¹; dos Santos, C. M.¹ ¹ Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Divinópolis, MG, Brasil Objetivos: Descrever e comparar a evolução do quadro metabólico e suas complicações em dois irmãos portadores da síndrome de Be- S266 rardinelli-Seip. Métodos: Análise de prontuários de consultório endocrinológico. Dados divulgados mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido pelos pacientes. Revisão bibliográfica realizada em PubMed e SciELO. Resultados: Dois homens, irmãos, portadores da SBS. O primeiro, atualmente com 38 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus aos 23 anos, evoluindo com miocardiopatia hipertrófica aos 34 anos e insuficiência renal crônica dialítica aos 37 anos. Apresentava glicemia de difícil controle, mesmo com uso de insulina em altas doses, porém com melhora do controle glicêmico após início da hemodiálise, usando atualmente insulina NPH associada a inibidor de DPPIV. Já o irmão, 30 anos, diagnosticado com diabetes mellitus com a atual idade. Ambos com aparência acromegálica, hipertrofia muscular, tecido adiposo escasso e acantose nigricans. Discussão: A SBS é uma desordem pouco frequente (1:10 milhões de pessoas), caracterizada por escasso tecido adiposo subcutâneo e desordens metabólicas, como dislipidemia. Devido à deficiência de tecido adiposo, triglicérides se acumulam em locais ectópicos, o que explica a maioria das complicações: esteatose hepática, hepatoesplenomegalia, cirrose, resistência à insulina, acantose nigricans, diabetes mellitus, arteriosclerose e miocardiopatia hipertrófica. Observam-se, também, aparência acromegálica e hipertrofia muscular. A SBS é uma desordem genética de herança autossômica recessiva. Em estudo com 22 pacientes no estado do RN, história familiar foi identificada em 86,4% dos casos. Comparação entre dois irmãos indianos com SBS mostrou desenvolvimento semelhante de algumas características: escasso tecido adiposo, hipertrofia muscular e acantose nigricans. Um deles, porém, apresentou também hepatoesplenomegalia e níveis alterados de HDL, triglicérides e glicemia. Conclusão: Tendo em vista a raridade dessa doença e a escassez de relatos sobre a evolução da SBS entre familiares, percebe-se a importância de se destacar e relatar a diferente evolução do quadro clínico entre irmãos. 187 EFEITOS DO TREINAMENTO NATAÇÃO NA REATIVIDADE VASCULAR CORONARIANA DE RATAS COM DEFICIÊNCIA OVARIANA Gonçalves, W. L. S.¹; Calazans, R.¹; Rodrigues, A. N.¹; Farina, G. R.¹; Jacobsen, B. B.¹; Resende, R. S.¹; Endlich, P. W.¹; Abreu, G. R.¹ ¹ Escola de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), Colatina, ES, Brasil; Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória, ES, Brasil Introdução: Estudos recentes descrevem que a deficiência ovariana natural (menopausa) e a cirúrgica (ovariectomia) estão associadas com aumento dos riscos coronarianos e que a prática regular de exercícios diminui esses riscos. Objetivo: O objetivo foi investigar os efeitos do treinamento natação sobre a reatividade vascular em corações isolados de ratas ovariectomizadas. Métodos: Ratas Wistar adultas (220-270 g) foram divididas em 4 grupos (n = 40): sedentárias cirurgia-fictícia SHAM-SD, sedentárias ovariectomizadas OVX-SD, treinadas SHAM -NT e treinadas OVX-NT. Após 21 dias da cirurgia, foi iniciado treinamento natação (NT) com sessão de 1h, 5 dias/sem., por 8 semanas, com adaptação inicial sem carga e progressão de carga presa à cauda até 5% do peso corporal. Após o treino, as ratas foram decapitadas, o tórax aberto, o coração retirado e a artéria aorta conectada ao equipamento para perfusão do leito vascular coronariano pelo método de Langerdorff. Na perfusão basal, utilizou-se solução de Krebs modificada. O fluxo coronariano foi mantido constante (10 ml/min) e a perfusão foi continuamente saturada com mistura carbogênica (O2 95% + CO2 5%) sob pressão de 100 mmHg, aquecida (37°C), e pH de 7.4. Um balão conectado a um transdutor foi introduzido no ventrículo Trabalhos Científicos 188 ESTUDOS EXPERIMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO ANIMAL DE SÍNDROME METABÓLICA SEM OBESIDADE Gonçalves, W. L. S.¹; Rodrigues, A. N.¹; Poltonieri, G. C. M.¹; Resende, R. S.¹; Gouvea, S. A.¹; Moyses, M. R.¹; Abreu, G. R.¹ ¹ Escola de Medicina do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), Colatina, ES, Brasil; Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória, ES, Brasil Introdução: A ampla utilização da energia ultrassônica nas áreas da saúde possibilitou a identificação de diferentes efeitos teciduais biológicos induzidos pelo ultrassom (US) de alta frequência, tais como: fibrinolíticos, trombolíticos e lipolíticos, angiogênicos, enzimáticos, oxidativos, sinérgicos com drogas vasoativas, entre outros. Objetivo: Considerando principalmente o efeito lipolítico em adipócitos, denominado lipoclasia ultrassônica (LCU), o objetivo do estudo foi produzir um estado dislipidêmico agudo por LCU, a fim de desenvolver quadro de síndrome metabólica em ratos sadios. Métodos: Ratos Wistar foram distribuídos em dois grupos: Controle-sham (CS = 25) e lipoclasia ultrassônica (LC; n = 25). Após sedação (halotano-3% vaporizado), os animais eram submetidos à lipoclasia ultrassônica em região infra-abdominal e inguinal, ajustada com os seguintes parâmetros: ISATA = 3-MHz, 1W. cm-2, modo pulsado 2:8ms, ciclo de 30% por três minutos. As variáveis analisadas foram peso corporal, comprimento naso-anal, composição corporal (lipectomia), parâmetros metabólicos e hormonais (bioquímica), pressão arterial e relaxamento coronariano (método Langendorff), além de histomorfometria cardíaca. O nível de significância foi de 5%. Discussão: Os resultados deste estudo mostram que a LCU provoca lipólise infra-abdominal e inguinal com elevação do perfil lipídico (dislipidemia), o que pode ter produzido o desenvolvimento de várias outras características comumente associadas com o diabetes e a síndrome metabólica humana, hipertensão, hiperglicemia, hiperinsulinemia, resistência insulínica, hiperleptinemia e disfunção cardiovascular. Conclusão: A LCU demonstra potencialidades como indutor exógeno de lipólise, e essa dislipidemia induzida favorece o surgimento de componentes da síndrome metabólica. Entretanto, estudos mais amplos, utilizando ferramentas tecnológicas com acompanhamento temporal, são necessários para melhor elucidar os mecanismos envolvidos nas alterações metabólicas observadas. 189 HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO: RELATO DE CASO Marques, K. R.¹; Normando, A. P. C.¹; Cunha, F. S.¹; Rocha, M. P.¹; Vasconcelos, V. C.¹; Oliveira, K. M. A.¹; Tonial, C. C.¹ ¹ Casa de Saúde Santa Marcelina (HSM), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A hipoglicemia hiperinsulinêmica de etiologia endógena é mais frequentemente relacionada com a presença de insulinomas. Níveis inapropriadamente altos de insulina, peptídeo C e pró-insulina sugerem essa patologia, porém, em alguns casos, sua comprovação diagnóstica é uma difícil tarefa. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar, por meio de relato de caso, fatores que podem dificultar o diagnóstico e a localização de insulinomas. Métodos: Relato de caso. Resultados: C.P.S., sexo feminino, 43 anos, com episódios de hipoglicemia e alguns destes com sintomas neuroglicopênicos iniciados há 2 anos da data de avaliação. Controle de glicemia capilar mostrou valores tão baixos quanto 12 mg/dL. Exames laboratoriais evidenciaram glicemia plasmática de 59 mg/dL, insulina basal de 125,4 mcU/mL e peptídeo C de 11,15 ng/mL, com uma relação insulina/glicose de 2,09. Anticorpo anti-insulina negativo. Após falha do US endoscópico na localização tumoral, optou-se por realizar cateterização seletiva pancreática com infusão de gluconato de cálcio. Durante o procedimento, a paciente apresentou hipoglicemia (12 mg/dL) e sintomas neuroglicopênicos, com necessidade de infusão de glicose endovenosa. Após análise dos resultados, não houve o incremento esperado nos níveis de insulina. Foi iniciado tratamento com acarbose, levando à diminuição importante dos episódios de hipoglicemia. Discussão: O diagnóstico de hipoglicemia é mais convincentemente baseado na tríade de Whipple (glicemia abaixo de 54 mg/dl, sintomática, com alívio dos sintomas após elevação dos níveis de glicose). O padrão de hipoglicemia hiperinsulinêmica, com relação insulina/glicose maior do que 0,3 e peptídeo C elevado, sugere fortemente a presença de insulinoma. US endoscópico e arteriografia pancreática com gluconato de cálcio têm mostrado sensibilidades acima de 90% na localização do tumor. A arteriografia pancreática, embora invasiva, pode ser uma alternativa quando os métodos de imagem tradicionais falham em demonstrar a lesão. Conclusão: A arteriografia seletiva pancreática com infusão de cálcio pode ser inconclusiva na localização dos insulinomas. Deve ser realizada preferencialmente em centros onde haja experiência com sua realização e interpretação dos seus resultados. O diagnóstico diferencial de hipoglicemia hiperinsulinêmica não insulinoma, com mutação no gene do receptor da sulfonilureia (SUR1) ou no gene da subunidade Kir6.2 do canal de potássio ATP dependente, deve ser considerado. 190 INCREASED GLYCEMIA AFTER ACUTE INTERMITTENT HYPOXIA IS DEPENDENT OF SYMPATHETIC ACTIVATION Zoccal, D. B.¹; Gonçalves-Neto, L. M.¹; Ferreira, F. B. D.¹; Protzek, A. O. P.¹; Boschero, A. C.¹; Nunes, E. A.¹ ¹ Departamento de Ciências Fisiológicas, CCB, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC; Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, IB, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objective: The acute intermittent hypoxia (AIH) reproduce some characteristics of obstructive sleep apnea (OSA), such as activation of sympathetic drive. In OSA patients, it has been described altered glucose homeostasis, but its precise mechanisms are not yet elucidated. Thus, we aimed to evaluate the possible changes on glucose homeostasis elicited by AIH in healthy rats. Methods: Male adult rats were S267 Endocrinologia Básica esquerdo para registro intracardíaco. Após estabilização, foram registrados frequência sinusal (FS), pressão de perfusão coronariana (PPC) e realizada uma curva concentração-resposta (CCR) do peptídeo vasoconstritor angiotesina-II (ang-II). Utilizou-se AVOVA, seguido do teste de Bonferroni com nível de significância de p < 0,05. Resultados: Houve redução da FS no grupo SHAM-NT em relação aos grupos SHAM-SD, OVX-SD e NT (Figura 1A). Também observamos decréscimo na PPC do grupo OVX-SD em relação ao grupo SHAM-SD, e entre os grupos SHAM-NT e SD (Figura 1B). Na CCR de ang-II, houve aumento da constrição coronariana dose-dependente no grupo OVX-SD em relação aos grupos SHAM-SD e NT e OVX-NT (Figura 1C). Discussão: Os resultados indicam que o aumento da CCR para ang-II provavelmente ocorreu para compensar a queda da PPC basal produzida pela OVX e que o treinamento natação foi eficaz na redução desse efeito. Também suportam a hipótese de que os hormônios femininos participam da manutenção do tônus coronariano via modulação do sistema renina-angiotensina local. Conclusão: A OVX aumenta a vasoconstrição induzida por ang-II em corações isolados de ratas e o treinamento natação melhora esses efeitos vasoconstritores. Endocrinologia Básica Trabalhos Científicos submitted to 10 episodes of hypoxia (6% O2, for 45 s) (HIP) interspersed with 5-min intervals of normoxia, whereas the control (CTL) group was kept in normoxia. Results: HIP rats showed higher blood glucose values (27%), compared with CTL rats (n = 10). Discussion: These data contrast with those showing higher glycemia in association to reduced IS after a more prolonged IH paradigm, whereas it agreed with others demonstrating increased glucose utilization after hypoxic conditions. Conclusion: In conclusion, we suggest that AIH induces an increase in blood glucose concentration as a result of hepatic glycogenolysis recruitment through sympathetic activation. The augmentation of GT and IS might be attributed, at least in part, to the increased b-adrenergic sympathetic stimulation and Akt activation (e.g. in skeletal muscles), leading to a higher glucose availability and utilization. 191 NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 2A (MEN 2A): RELATO DE CASO Vieira, C. A.¹; Souto, C. L.¹; Xavier, M. F.¹; Oliveira, R. C. C.¹; Junior, A. R. O.¹ ¹ Departamento de Endocrinologia do Hospital das Clínicas de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Descrever caso de neoplasia endócrina múltipla tipo 2A com evolução incomum, pois teve como manifestação inicial o feocromocitoma (FEO). O câncer medular de tireoide (CMT) teve comportamento indolente e foi diagnosticado em propedêutica. Faz-se importante a correlação do tipo de mutação do gene RET e comportamento do CMT, assim como o aconselhamento genético para os parentes de primeiro grau do caso índice. Métodos: Relato de caso: EGB, 28 anos, feminina. Apresentou DHEG seguido de hipertensão, cefaleia e taquicardia supraventricular no oitavo dia pós-parto. Verificou-se aumento de catecolaminas e metanefrinas urinárias e séricas. À ressonância nuclear magnética abdominal: imagens adrenais bilaterais sugestivas de FEO, com MIBG confirmatório. Ultrassom de tireoide: nódulo tireoidiano suspeito à direita e punção aspirativa sugestiva de CMT. Realizadas adrenalectomia bilateral e tireoidectomia total. Anatomopatológicos confirmaram FEO e CMT. Sequenciamento genético do gene RET: mutação V804M-éxon 14. Confirmado diagnóstico de MEN -2A. Paciente tem filha de 3 anos. Mantém calcitonina pós-operatória elevada, com doubling time de 1 ano; e MIBG de controle inalterado. Resultados: Não se aplicam. Discussão: MEN são síndromes neoplásicas que envolvem múltiplas glândulas endócrinas, classificadas em MEN-1 e MEN-2. Esta última é uma condição autossômica dominante rara, subclassificada em MEN-2ª (75%) e MEN-2B. Cinquenta por cento de parentes de primeiro grau podem desenvolver MEN. A MEN -2A é composta por FEO, CMT e hiperparatireoidismo e há várias combinações entre elas. O CMT é a manifestação mais comum (90%) e quase sempre a inicial, seguida do FEO (40%) e hiperparatireoidismo (10%-35%). Estudos mostram mutações do gene RET em 99% dos casos de MEN-2, sendo o seu tipo determinante da agressividade e prognóstico da doença. Este caso mostra uma paciente, com FEO bilateral e, em rastreamento, foi diagnosticado CMT sem repercussões clínicas. É um caso raro, já que a primeira manifestação foi o FEO. A mutação V804M do gene RET apresenta risco intermediário para essa neoplasia, o que leva ao comportamento indolente do CMT. Outra questão é a filha de 3 anos com indicação de rastreamento genético e possível tireoidectomia profilática. Conclusão: O caso descreve paciente portadora de MEN-2A, na variação FEO+CMT. A ordem de aparecimento das neoplasias não foi a habitual, pois o FEO foi a primeira manifestação. Conclui-se que a mutação V804M do RET, que expressa uma forma menos agressiva do CMT, justifica a clínica deste caso. S268 192 NESIDIOBLASTOSE NO ADULTO: RELATO DE CASO Batista, M. C. P.¹; Santos, R. B. A.¹; Aires, D. K. X.¹; Castro, M. H. A.¹; Cunha, A. A.¹; Tavares, F.¹; Pedrosa, H. C.¹ ¹ Hospital Regional de Taguatinga (HRT), Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Apresentar um caso de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente endógena (HHPE) na idade adulta devido à nesidioblastose. Métodos: Relato de caso de paciente com HHPE atendida nesta instituição. Resultados: MCNR, sexo feminino, 42 anos, leucoderma, internada em abril/2011 para investigação de hipoglicemias severas de repetição. Apresentava IMC = 26,06 kg/m², sem outros achados. Não etilista, síndrome de Guillain-Barré aos 18 anos. Glicemia = 36 mg/ dL (VR: 60-99 mg/dL), insulina basal = 374 mcU/mL. Discussão: A nesidioblastose representa 0,5%-5% dos casos de HHPE no adulto. Neste caso, a presença de lesão em corpo de pâncreas evidenciada à RNM associada à HHPE levou à indicação de exploração cirúrgica, com hipótese diagnóstica de insulinoma, a despeito de a localização em corpo constituir apresentação incomum para tumores neuroendócrinos. O Octreoscan poderia localizar lesões pancreáticas e extrapancreáticas, porém esse exame encontrava-se temporariamente indisponível no serviço. Houve recidiva da HH, com menor gravidade, corroborando dados da literatura que mostram recidiva mesmo após retirada de 95% do pâncreas nesses casos. Indicado tratamento medicamentoso complementar, cujas opções recomendadas são octreotide ou diazóxido. Conclusão: A nesidioblastose é uma condição rara que deve ser considerada em todo caso de HHPE, sobretudo quando métodos de imagem falham em localizar lesão pancreática. São disgnósticos diferenciais o insulinoma e a hipoglicemia factícia. Não há consenso em relação ao tratamento da nesidioblastose no adulto. Os pacientes podem se beneficiar do tratamento cirúrgico associado ao uso de drogas. 193 RECUPERAÇÃO DO CRESCIMENTO APÓS CORREÇÃO ALIMENTAR Moreira, E. C.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Jorge, A. R.¹; Arbex, A. K.¹; Andrade, G. C. M.¹; Matta, A.¹ ¹ Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Hoje se sabe que o fator ambiental é muito mais importante que o fator genético na determinação da estatura final do indivíduo. As causas da baixa estatura são diversas, como: nutrição materna insuficiente, desnutrição intrauterina, falta de aleitamento materno até seis meses, introdução tardia de alimentos complementares, alimentos complementares em quantidade e qualidade inadequadas, absorção de nutrientes prejudicada por infecções e verminoses. Métodos: S.P.S., sexo feminino, 13 anos e 10 meses, primeiro atendimento em 16/12/2011, queixa principal: “altura menor que as colegas de colégio”. Segundo sua mãe, há dois anos, observou que sua filha não crescia adequadamente. Nasceu de parto normal, a termo, com PN: 2.430 g (PIG), CN: 45 cm, PC: 31 cm e APGAR 9/10. Recuperação adequada do crescimento e nutricional até 2 anos. Vacinações em dia. Nega aleitamento materno exclusivo, mas teve aleitamento misto por quatro anos. Nega cirurgias e internações. É filha única e nega menarca. Menarca da mãe aos 18 anos. Exame físico: fácies atípica, P: 32 kg. Resultados: IO: 13 anos, ferro 100 mg/dL (50 a 150), cálcio 9,8 mg/dL (8,8 a 11), fósforo 3,5 mg/dL (3,0 a 7,0), ferritina 165,5 ng/mL (6 a Trabalhos Científicos ENFERMAGEM 194 AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA DE ACOLHIMENTO INTEGRADO EM AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA AO DIABETES Motta, B. F. B.¹; Castro, A. P. A.¹; Ribeiro, D. S.¹; Costa, M. B.¹; Filgueiras, M. S. T.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Visando melhorar a qualidade da porta de entrada de serviço de saúde como desafio do SUS, foi desenvolvido o projeto de Acolhimento Integrado (AI) em serviço de atenção secundária ao diabético. O AI visa à supressão de ações repetitivas por parte da equipe multidisciplinar, à melhora da atenção aos usuários e ao aprimoramento das práticas interdisciplinares. O objetivo do presente estudo é relatar experiência da mudança do modelo assistencial à saúde do diabético, em hospital de ensino, tendo como base a diretriz operacional do AI. Métodos: Trata-se de pesquisa qualitativa de relato de experiência realizada por meio do método observacional, em que os pesquisadores, trabalhadores do ambulatório, assumiram a postura de “participante como observador”. Nessa modalidade de estudo, o pesquisador “já tem ou assume um papel social significativo dentro do grupo estudado” (Dallos, 2011). Os relatos se basearam na observação semanal dos profissionais em Ambulatório de Atenção ao Diabetes Mellitus. Resultados: A operacionalização do projeto resultou na modificação da estrutura do atendimento de médico-centrada para usuário-centrada. Paralelamente, observaram-se ampliação e qualificação dos espaços de interseção entre trabalhador de saúde e usuário, fortalecendo o vínculo, a segurança e a corresponsabilização no tratamento, além de melhoria do acesso e das possibilidades de cuidado e atenção ao paciente diabético. Discussão: Observouse melhora do rendimento profissional da equipe não médica, que determinou, por consequência, ampliação da oferta e da acessibilidade aos serviços de saúde. Os resultados vão ao encontro das metas propostas pela Política Nacional de Humanização (Brasil, 2010), que entende o acolhimento como diretriz de grande relevância ética, estética e política. Ética por se pautar no reconhecimento da subjetividade do usuário; estética quando propõe a dignificação da vida e do viver; e política pelo fato de implicar no compromisso coletivo de se envolver e na atitude de inclusão do usuário. Conclusão: A prática do AI possibilitou importantes modificações no serviço de atenção ao diabético, com práticas pautadas na integralidade entendendo aquele que demanda o serviço como sujeito portador de desejos e necessidades. Além disso, observaram-se a supressão de ações repetitivas por parte dos membros da equipe e o aprimoramento das práticas interdisciplinares. EPIDEMIOLOGIA 195 ANÁLISE DO PERFIL METABÓLICO DO ESTUDANTE DE MEDICINA RECÉM-INGRESSO NA UNIVERSIDADE GAMA FILHO (UGF) Iwamoto, R. C.¹; Dresch, E. T.¹; Chachamovitz, D. S. O.¹; Silva, S. A. R.¹ ¹ Universidade Gama Filho (UGF), Rio de Janeiro, RJ,Brasil Objetivo: Analisar o perfil metabólico do estudante de medicina recém-ingresso, a fim de subsidiar futuras propostas de intervenção nesse campo. Métodos: Avaliamos 162 alunos de medicina para o risco de desenvolver diabetes por meio do questionário FINDRISK e caracterização dos principais parâmetros da síndrome metabólica. A glicemia capilar (GC) foi aleatória, medida com Kit Breeze 2 (BAYER). A pressão arterial (PA) foi aferida pelo estetoscópio Littmann Classic II e esfigmomanômetro Premium. Classificou-se como “alterada” PA ≥ 140/90 mmHg. Peso e altura foram mensurados pela balança/estadiômetro WELMY. A circunferência abdominal (CA) foi medida com fita métrica. Considerou-se “aumentada” valores entre 80 e 88 cm e 94 e 102 cm para mulheres e homens, respectivamente. Acima desses valores, “muito aumentada”. Sedentarismo definido como atividade física menor que 150 minutos/semana. Resultados: Dos 162 alunos, 64,19% eram do sexo feminino. A média de idade foi 21,21 ± 3,45 anos; altura 1,68 ± 0,093 m; peso 65,99 ± 12,54 kg e IMC: 23,12 ± 2,93 kg/m². Sobrepeso correspondeu por 11,55% das mulheres e 44,8% dos homens; obesidade grau I por 0,95% das mulheres e 1,70% dos homens. A média de CA foi 70,10 ± 6,72 cm (mulheres) e 82,25 ± 6,06 cm (homens). Apenas as mulheres apresentaram CA aumentada (6,73%) e somente os homens apresentaram PA alterada (4,93%). Sedentarismo correspondeu por 56% dos alunos, sendo 73,6% desses mulheres. Somente 29% relatou consumir álcool de 1-3 vezes/semana e 4% são tabagistas. O risco de diabetes Tipo 2 foi classificado como ligeiramente elevado em 17% das mulheres e 26% dos homens, restante como baixo risco. Não houve GC acima de 140 mg/dl. Discussão: O ingresso na faculdade de medicina pode predispor ao ganho de peso pelas mudanças impostas na sobrecarga de aulas e conteúdos. Além disso, muitos alunos provêm de outros estados, residindo no entorno da Universidade, área carente na oferta de atividade física e opções de refeições saudáveis. Observou-se maior prevalência de sobrepeso entre os homens, apesar de CA adequada. Nas mulheres, o principal fator de risco foi o sedentarismo. Conclusão: Os alunos recém-ingressos do sexo masculino estão expostos a maior risco de diabetes e síndrome metabólica que as mulheres, possivelmente pela maior prevalência de sobrepeso, hipertensão arterial, tabagismo e alcoolismo nos homens. Esse risco pode ainda ser agravado pela carência de alternativas para um estilo de vida saudável na região. 196 ASSOCIAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS E GLICEMIA EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTO COMUNITÁRIO Francescantonio, I. C. C. M.¹; Almeida, F. S.¹; Araújo, A. P.¹; Monteiro, M. M.¹; Miranda, T. M. T.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Considerando que, nos últimos anos, o diabetes mellitus (DM) tem crescido em proporções epidêmicas em todo o mundo e que, entre os diferentes fatores que contribuem para a elevação de casos de DM, a obesidade abdominal e a hereditariedade destacam-se como os mais importantes, realizou-se o presente estudo com a finalidade de avaliar a associação entre valores de circunferência abdominal (CA), his- S269 Enfermagem 70), IGF1 438 ng/mL (220 a 972), vitamina D: 1,25 di-hidroxi 34,8 pg/mL (18 a 78), T4 livre 0,87 ng/dL (0,7 a 1,8), TSH: 1,269 uUi/mL (0,50 a 4,90). Discussão: Na desnutrição, observam-se redução dos valores de GHBP e da IGF-1 e a diminuição da capacidade ligadora do GH com seu receptor hepático. Tanto a oferta proteica quanto a calórica atuam na regulação da IGF-1 e são necessárias para retomar os valores normais de IGF-1 após um período de jejum. Conclusão: O estado nutricional deficiente interfere negativamente no crescimento infantil e uma intervenção alimentar adequada pode corrigir esse problema e modificar o prognóstico da estatura final. Epidemiologia Trabalhos Científicos tórico familiar de DM (HFDM) e níveis elevados de glicemia. Métodos: Analisaram-se 867 pacientes de ambos os gêneros atendidos em um evento comunitário. Durante esse evento, foram obtidos dados de HFDM, aferidos valores de CA e coletadas amostras de sangue venoso para a dosagem de glicemia. Os dados obtidos foram armazenados e analisados no programa GraphPad Prism 5. Resultados: Dos 867 pacientes, 593 (68,4%) eram mulheres e 274 (31,6%), homens. Verificouse associação direta entre CA e valores de glicemia (r = 0,1399). Além disso, evidenciou-se que as mulheres apresentaram maior índice de HFDM (p = 0,0333) e de valores de CA acima dos valores de referência. O estudo observou ainda que indivíduos com HFDM apresentaram maiores elevações dos níveis de glicemia (p = 0,03) e medidas de CA (p = 0,01). Neste estudo, não houve diferença estatística significativa entre gêneros e valores alterados de glicemia (p = 0,17). Discussão: O DM é um dos mais graves problemas de saúde publica no mundo, e, particularmente no Brasil, apresenta tanto índices de prevalência (%) como de mortalidade (%) bastante elevados. Assim o estudo dos componentes que contribuem para a gênese dessa doença tem grande relevância clínica. A obesidade, particularmente aquela localizada na região abdominal, medida pela CA, pode elevar o risco da ocorrência de diabetes tipo 2 em até dez vezes. Foi possível observar nesta investigação essa relação, uma vez que a CA apresentou associação direta com a hiperglicemia e HFDM. Além disso, este estudo mostrou que os pacientes com HFDM apresentaram maiores índices de glicemia, o que sugere a característica genética do diabetes tipo 2. Por outro lado, não foi demonstrado que houve diferença estatística entre gênero e glicemia. Conclusão: O presente estudo mostrou que valores elevados de CA têm associação direta com a hiperglicemia e HFDM. Além disso, mostrou que os pacientes com HFDM apresentam maiores níveis séricos de glicemia, o que corrobora a característica genética do diabetes tipo 2. 197 ESTUDO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA LIGA ACADÊMICA DE DIABETES NO ENCONTRO DAS LIGAS ACADÊMICAS – 2011 Barros, B. P.¹; Faria, A. A. S.¹; Jesus, C. O.¹; Santos, D. F.¹; Ferreira, R. D.¹; Fernandes, X. L. M.¹ ¹ Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico da população atendida no Encontro das Ligas Acadêmicas de 2011 por meio do estudo de fatores de risco, complicações e da prevalência do diabetes mellitus (DM) em Goiânia, tendo em vista a relevância deste mal atualmente. Métodos: Aplicação de questionários que incluíam identificação, antecedentes patológicos pessoais e familiares, hábitos de vida, pesquisa por sinais e sintomas de DM, avaliação do índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA), e glicemia capilar casual. Resultados: Foram avaliadas 229 pessoas na campanha. Obtivemos: antecedentes pessoais: 41 pessoas com hipertensão arterial sistêmica (HAS) (17,9%); 17 com DM2 (7,4%); 6 com complicações relacionadas ao DM (2,6%), das quais 4 possuíam a glicemia superior a 200 mg/dL; e 23 com dislipidemia (10%). Antecedentes familiares: 170 pessoas com história familiar de HAS (74,2%), 118 de DM (51,5%) e 121 de dislipidemia (52,8%). Hábitos de vida: 11 tabagistas (4,8%) e 37 ex-fumantes (16,2%); 8 etilistas frequentes (3,5%) e 75 ocasionais (32,8%); 75 sedentários (32,8%) e 124 praticantes regulares de exercícios (54,2%); 101 pacientes com alimentação hipercalórica ou hiperlipídica (44,1%). IMC: 111 pessoas com IMC > 25 (48,5%). CA: risco aumentado de complicações metabólicas (CA > 94 cm) em 32 homens (29,9%), e risco aumentado (CA > 80 cm) em 57 mulheres (46,7%). Glicemia capilar: 51 pessoas com glicemias entre 126 e 199 mg/dl (22%); e 12 com 200 mg/dl S270 ou mais (5,2%), sendo 4 destas (33,3%) não diagnosticadas para DM mas portadoras de sintomas relacionados à doença. Discussão: Dos pacientes com DM2: 15 possuíam IMC > 25 (88,2%); 8 apresentaram a glicemia casual maior que 200 mg/dL (47%); 12 praticam exercícios regularmente (70,6%) e 5 eram sedentários (29,4%); 11 eram ex-fumantes (64,7%) e 1 ainda fumava. Os valores confirmam que os parâmetros usados possuem relação com o DM, sendo ora fatores de risco para a doença, ora para as suas complicações. Conclusão: Campanhas de rastreamento associadas a orientações à população são de grande valia na detecção de possíveis alterações e no auxílio às mudanças dos hábitos de vida essenciais à prevenção e à terapêutica do DM. 198 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO DIABETES MELLITUS TIPO I E II Pontes, C. D. N.¹; Nabila, T. D.¹; Tally, S.¹ ¹ UBS Julia Seffer, Ananindeua, PA, Brasil Objetivo: Com o intuito de caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes diabéticos cadastrados na microárea 04 da área 01 correspondente ao PSF Júlia Seffer em Ananindeua, PA, e comparar dados estatísticos locais com dados regionais e nacionais, foram recolhidas informações a partir das fichas A do SIAB. Métodos: A primeira etapa para a confecção do trabalho foi o recolhimento de dados estatísticos provenientes das fichas A do SIAB em agosto de 2011. Dessa forma, foi avaliada a prevalência de diabetes mellitus I e II na respectiva microárea. Em um segundo momento, esses dados obtidos foram comparados com a média de prevalência da enfermidade em nível estadual e nacional com o ano de 2010, correspondente ao último Censo. Resultados: Dessa forma, verificou-se que a microárea 04 do PSF Júlia Seffer apresentava 5,36% de diabéticos entre uma amostra populacional de 298. Baseado no Censo 2010, o Pará possuía 2% de diabéticos e o Brasil, 6%. Assim, a microárea alvo da pesquisa está acima da média paraense e abaixo da brasileira. Constatou-se, ainda, que no norte do País o Pará tem maior número de diabéticos e que, entre todos os estados, em São Paulo está a maior incidência de diabetes, enquanto em Roraima está a menor. Observou-se também o aumento do número de internações e mortes causadas por diabetes e o crescimento conjunto de pacientes hipertensos, obesos e idosos. Não foi possível a diferenciação de dados entre os tipos de diabetes em função da organização das fichas usadas como fonte estatística, apesar de tal informação ser importante no tratamento da doença referida. Discussão: Discutiu-se a importância da identificação de um perfil epidemiológico local e comparação deste em nível estadual e nacional. Conclusão: Dessa maneira, é possível notificar se a amostra populacional escolhida está acima ou abaixo das médias do Pará e do Brasil e, assim, identificar qual a resolutividade das políticas públicas. E, se houver necessidade, contribuir para a elaboração de novas políticas que visem à promoção e à prevenção da saúde, seja na microárea-alvo do estudo em Ananindeua, no Pará. 199 HOSPITALIZAÇÕES POR DIABETES EM MUNICÍPIOS DO CENTRO OESTE BRASILEIRO Batista, S. R. R.¹; Pinto, F. K. M. S.¹; Pedroso, J. H. V.¹ ¹ Grupo de Pesquisa em Medicina de Família e Comunidade, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Introdução: Intervenções relacionadas ao manejo de doenças crônicas na Atenção Primária à Saúde (especialmente para diabetes) são com- Trabalhos Científicos 200 OBESIDADE E SOBREPESO INFANTIL: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO EM UMA POPULAÇÃO BRASILEIRA Oliveira, C. M.¹; Magalhães, G. L.¹; Toaiari, H. M. C.¹; Mourão-Júnior, C. A.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Realizar estudo sobre a prevalência de obesidade e sobrepeso em crianças de creche e escola pública de uma cidade brasileira. Métodos: Trata-se de um estudo populacional, transversal e descritivo. Foram aferidos peso e altura de um população composta por 606 crianças de creche e escolas públicas no município brasileiro de Cataguases (MG). De posse dos dados de toda a população, calculou-se o índice de massa corpórea (IMC) dessas crianças, e foi feito o diagnóstico de sobrepeso e obesidade segundo critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS). Somente foram realizadas medidas do IMC, pelo fato de esse método ser acessível a qualquer profissional que milita na atenção primária à saúde. Em seguida, foi realizada a análise estatística descritiva da população estudada. Resultados: Do total de crianças que compõem a população, 308 (50,8%) eram do sexo masculino e 298 (49,2%), do sexo feminino; 428 crianças (70,6%) tinham peso adequado, 67 (11,1%) apresentavam sobrepeso e 66 (10,9%) apresentavam obesidade, perfazendo um total de 133 (22%) crianças com peso considerado acima do normal. Entre os meninos, 57 (18,5%) apresentavam sobrepeso ou obesidade, e esse número subiu para 76 (25,5%) entre as meninas. A prevalência de sobrepeso ou obesidade foi maior entre as crianças negras (29,9%) do que entre as brancas (20,8%) e pardas (18,54%). Discussão: As prevalências de sobrepeso e obesidade foram equivalentes às relatadas em estudos de escolas públicas brasileiras. Quando comparamos as prevalências entre sexos e etnias, observamos que as meninas e crianças negras apresentam maior prevalência de peso alterado, padrão este observado em alguns estudos brasileiros. Conclusão: Encontramos uma elevada prevalência de obesidade e sobrepeso infantil na população estudada. Outros estudos devem ser feitos em outras populações brasileiras, a fim de que se tenha um maior conhecimento acerca do problema da obesidade infantil no Brasil. 201 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE TRIAGEM EM ENDOCRINOLOGIA Saraiva, J. M.¹; Ferreira, C. T.¹; Couto, J. S.¹; Alves, W. C. S.¹; Peixoto, F. R.¹; Costa, M. B.¹; Ferreira, L. V.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Identificar procedência e motivo da consulta em pacientes encaminhados para avaliação endocrinológica em ambulatório de atenção secundária à saúde. Métodos: Em estudo prospectivo, analisaram-se prontuários de ambulatório de Triagem em Endocrinologia de hospital de ensino. Resultados: Foram avaliados 571 indivíduos (78% mulheres), com idade de 52 ± 14,3 anos. Deste grupo, 247 (48,2%) foram encaminhados das unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), devido a diabetes mellitus (30,4%, sendo DM2: 29,2%, DM1: 0,8% e DMG: 0,4%), obesidade e sobrepeso (22,3%); tireoidopatias (34,4%, sendo hipotireoidismo: 18,3%, hipertireoidismo: 3,6%, nódulos: 3,6%; avaliação de exames laboratoriais: 8,9%). Dez (4,1%) indivíduos foram encaminhados para avaliação de queixas inespecíficas, não relacionadas a doenças endócrinas. Entre os pacientes encaminhados por outros Serviços do Hospital Universitário, em 138 (51,9%) foram diagnosticadas doenças endócrinas, com encaminhamento inespecífico de apenas 2 (0,75%) casos. Observou-se predomínio de encaminhamentos por diabetes mellitus (38,8%, sendo DM1: 0,4%; DM2 38%; DMG: 0,4%), obesidade e sobrepeso (21,1% e tireoidopatias (30,8%, sendo hipotireoidismo 18,4%; hipertireoidismo: 2,6%; doença nodular: 6,4%; alterações laboratoriais: 3,4%). Discussão: O aumento da procura por cuidados especializados representa grande preocupação dos gestores em saúde e os resultados deste estudo podem ser úteis na formulação de diretrizes de referência visando orientar a demanda. Paralelamente, os grupos de doenças mais prevalentes deveriam nortear a educação médica contribuindo para a formação de profissional mais qualificado. Embora seja semelhante o perfil de diagnósticos mais prevalentes entre os encaminhamentos de serviços de atenção primária e secundária, as UAPS poderiam ter maior resolubilidade buscando a triagem racional para a avaliação especializada. Conclusão: Nos cursos de graduação, o diabetes mellitus, a obesidade e as doenças tireoidianas devem merecer destaque visando à formação médica adequada no que diz respeito ao diagnóstico e à conduta terapêutica nessas endocrinopatias, considerando-se os critérios de prevalência, potencial de prevenção e importância pedagógica. Nas UAPS, o treinamento voltado para o diagnóstico e tratamento dessas doenças poderia direcionar melhor os encaminhamentos. 202 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS IDOSOS ATENDIDOS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM ALAGOAS Omena, A. A. S.¹; Ribeiro, H. L.¹; Presidio, G. A.¹; Silva, N. M.¹; Mendonça, T. A.¹; Vaz, R. M.¹; Mota, M. C. T. L.¹ ¹ Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Faculdade de Medicina, Maceió, AL, Brasil Objetivo: O diabetes mellitus (DM) tem apresentado prevalência crescente e hoje atinge mais de 340 milhões de pessoas no mundo, sendo 6,4 vezes mais frequente em pessoas entre 60 e 69 anos quando compa- S271 Epidemiologia provadamente efetivas e estão associadas à melhoria de indicadores de cuidado. As condições sensíveis à atenção primária à saúde, como o diabetes, são situações clínicas que podem refletir o cuidado dessas doenças no primeiro nível de atenção à saúde. A taxa de hospitalização por diabetes e suas complicações mede indiretamente a efetividade do sistema de saúde para o manejo dessa condição. Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar as taxas de hospitalização por diabetes e suas complicações de forma a verificar a efetividade dos serviços de APS no manejo desses pacientes. Métodos: Realizou-se um estudo ecológico nas 16 regiões de saúde (246 municípios do estado de Goiás, Centro -Oeste brasileiro) no período entre 2009 e 2011, utilizando-se dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da Saúde, Brasil. As taxas de hospitalização foram calculadas pela razão entre as hospitalizações devido ao diabetes e suas complicações e a população entre 30 e 59 anos. Os dados foram avaliados segundo sexo, município de residência, distância entre o indivíduo e a região metropolitana, distância da capital do Estado e condições de moradia. A variação dos dados quanto à diferença significativa foi avaliada utilizando teste t e ANOVA. Resultados: Ocorreram 7.981 hospitalizações por diabetes e suas complicações (45,88% no sexo masculino e 54,11% no feminino). A taxa de hospitalização geral foi de 11.29/10.000 ( 10,58 para homens; 11,97 para mulheres). As maiores taxas foram observadas em áreas com maior necessidade de serviços de saúde, incluindo a atenção primária à saúde. No período avaliado, foi observada uma redução nas hospitalizações tanto para homens (10,8 para 9,71) quanto para mulheres (12,7 para 10). Discussão: O maior declínio nas taxas de hospitalização por diabetes e suas complicações em mulheres do que em homens é, provavelmente, devido ao maior acesso da população feminina aos serviços da atenção primária e aos benefícios que essa proporciona. As altas taxas de hospitalização por diabetes e suas complicações em algumas regiões refletem a qualidade da atenção primária. Conclusão: Dessa maneira, um incremento na estrutura dos serviços de saúde poderia influenciar significativamente na qualidade do cuidado, de vida e na melhoria da situação de saúde dessa população. Epidemiologia Trabalhos Científicos rada à faixa de 30 a 59 anos. Por se tratar de uma doença potencialmente aterosclerótica de alto risco cardiovascular, sua elevada prevalência em idosos junto às comorbidades frequentes, principalmente hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemias (DLP) e obesidade, exige atenção diferenciada. O presente estudo visa a estabelecer o perfil desse grupo para aprofundamento da situação deste em relação ao DM. Métodos: É um estudo descritivo transversal de revisão de prontuários de pacientes diabéticos acima de 60 anos atendidos no setor de endocrinologia de um hospital público entre maio de 2011 e junho de 2012. Foram estudadas as variáveis: sexo; idade; presença de HAS; DLP; obesidade; relato de dieta e de prática de exercícios; hemoglobina glicada (HbA1c); uso de hipoglicemiante oral, insulina ou ambos. Resultados: Em 96 prontuários estudados, a média de idade foi de 69,2 anos ± 6,9 anos, sendo 77,1% do sexo feminino. O tempo médio de diagnóstico foi de 15,2 anos ± 8,75 e houve associação com HAS em 85,4% e com DLP em 87,5%. Nesta, 51% tinham o colesterol total elevado, 45,8%, triglicerídeos, 73,9%, LDL acima da meta terapêutica e 69,8%, HDL baixo. O sobrepeso e a obesidade totalizaram 69,7%. Quanto ao tratamento, 19,8% referiam fazer exercícios regulares e 69,8%, dieta; o uso exclusivo de hipoglicemiantes e insulina foi encontrado em 45,8% e 26%, respectivamente, e a terapia combinada, em 25%. Discussão: Os resultados corroboram os achados de outras pesquisas. A predominância feminina pode ser justificada por uma maior procura pelo serviço de saúde. O tempo do diagnóstico sinaliza para o risco de complicações e morte cardiovascular, principalmente com o elevado nível de HbA1c e associação de comorbidades como HAS, DLP e obesidade, que foram frequentes no grupo estudado. A maioria dos pacientes usava somente hipoglicemiantes orais, o que provavelmente justifique o descontrole do diabetes e a necessidade de insulinização mais precoce. Conclusão: O estudo ratifica os achados da literatura e reforça a importância do conhecimento do perfil epidemiológico visando ao melhor controle do diabético idoso, mostrando também a necessidade de uma maior atenção às estratégias de controle desses pacientes. 203 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS EM UM MUNICÍPIO FLUMINENSE Dantés, L. B.¹; Dantés, T. B.¹; Beltrão, M. J.¹; Sampaio, C. B. D.¹ ¹ Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), DF, Brasil; Faculdade Pública Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), RJ, Brasil; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé (FAFIMA), RJ, Brasil Introdução: O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia) tem por finalidades permitir o monitoramento dos pacientes nele cadastrados, garantindo acompanhamento e tratamento aos portadores dessas enfermidades. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico e estimar a prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e das complicações a ambos relacionadas entre usuários acompanhados por meio do Sistema HiperDia no município de Macaé, na Região da Costa do Sol, no Estado do Rio de Janeiro. Métodos: Estudo epidemiológico retrospectivo, quantitativo e descritivo, cujas informações foram coletadas mediante análise dos dados cadastrais de pacientes assistidos pelo Programa HiperDia, na cidade de Macaé/RJ, no período de 1o de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2011. Resultados: Foi feito levantamento de 2.874 pacientes com DM2, sem HAS associada, compreendendo 0,06% da população do Estado e 14,9% de cobertura estimada pelo HiperDia. Houve maior prevalência na faixa etária de 50 a 54 anos (23,6%) e no sexo feminino (52,5%). A S272 maioria não era tabagista (80,2%) e o sobrepeso esteve presente em 30,1%, sendo 48,7% sedentários. Doença renal foi a complicação mais prevalente (9,3%), seguida por coronariopatias (5,4%), pé diabético (4,4%), infarto agudo do miocárdio (3,3%) e acidente vascular encefálico (2,2%). DM2 concomitante à HAS (DM-HAS) foi notificado em 32.160 casos, compreendendo 0,9% da população total e 34,9% de cobertura estimada pelo Programa. Houve maior prevalência no sexo feminino (60,5%) e na faixa etária de 55 a 59 anos (14,8%). Tabagismo foi hábito de 24,2%, sobrepeso foi constatado em 42,8% e 50,5% eram sedentários. Das complicações no DM-HAS, a mais frequente foi doença renal (12,4%), seguida por coronariopatias (10,5%), infarto agudo do miocárdio (9,6%), acidente vascular encefálico (8,7%) e pé diabético (4,8%). Discussão: O perfil epidemiológico dos portadores de DM2 caracteriza-se por pacientes do sexo feminino, não tabagistas, sem sobrepeso e cuja complicação principal é doença renal. Nos usuários com DM-HAS, notam-se as mesmas características, exceto a faixa etária. Apesar disso, tabagismo, sobrepeso e sedentarismo ainda são frequentes em ambos os grupos, com prevalência mais expressiva no segundo. Conclusão: A cobertura do HiperDia ainda se mostra aquém do preconizado, evidenciando necessidade de expansão e consolidação do Programa e, sobretudo, de melhorias no sistema de cadastramento, evitando-se subnotificação de casos. 204 PERFIL PRESSÓRICO, GLICÊMICO E ANTROPOMÉTRICO DE UMA AMOSTRA DA POPULAÇÃO DE BAEPENDI, MG: DADOS OBTIDOS DURANTE UMA FEIRA DE SAÚDE Musso, M. M.¹; Maciel, R. P.¹; Manso-Musso, M.¹; Alvim, R. O.¹; Oliveira, C. M.¹; Krieger, J. E.¹; Pereira, A. C.¹; Mourão-Júnior, C. A.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG; Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP), São Paulo, SP; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM ), MG, Brasil Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo. A forma mais eficiente de prevenir e tratar as DVC é focando em intervenções terapêuticas nos seus inúmeros fatores de risco, tais como dislipidemia, diabetes, obesidade e hipertensão. Para isso, é necessário investigar a prevalência dos fatores de risco para DCV em diferentes populações. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi traçar o perfil pressórico, metabólico e antropométrico de uma amostra da população de Baependi-MG, durante a realização de uma feira de saúde. Métodos: Foram investigados 149 indivíduos adultos obtidos por amostragem aleatória simples, correspondendo a 1% da população adulta do município. A glicemia casual foi determinada por meio do glicosímetro portátil Accu-Chek Plus. Foram classificados como diabéticos os indivíduos sintomáticos com glicemia casual > 200 mg/dL. O índice de massa corporal (IMC) foi determinado dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). Foram classificados como obesos os indivíduos com IMC > 29,9. As pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram determinadas, após 5 minutos em posição sentada, por meio do aparelho automático oscilométrico Omron. Foram classificados como hipertensos os indivíduos que apresentaram PAS > 140 e ou PAD > 90 mmHg. A circunferência abdominal (cm), medida na menor circunferência da cintura, foi considerada elevada com base nos seguintes critérios: homens > 102 cm e mulheres > 88 cm. Resultados: A obesidade e a circunferência abdominal elevada foram mais prevalentes no sexo feminino, enquanto a hipertensão se mostrou mais prevalente no sexo masculino. O diabetes apresentou prevalência semelhante em ambos os sexos. Conclusão: Os resultados obtidos nesta amostra da população de Baependi demonstraram uma elevada prevalência dos principais fatores de risco para a DCV. Esses resultados preocupantes devem ser corroborados ou refutados por estudos em outras populações, a fim de que se tenha um perfil epidemiológico mais preciso da população brasileira. 205 PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM PACIENTES DE 30 A 69 ANOS ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS Francescantonio, I. C. C. M.¹; Francescantonio, I. C. M.¹; Castro, M. E. C.¹; Araújo, A. G. O.¹; Chaves, F. S.¹; Martins, N. A. T¹.; Santos, J. P. O.¹; Mecenas, C. L.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Introdução: A prevalência do diabetes mellitus (DM) tem se elevado assustadoramente. Estamos presenciando uma verdadeira epidemia da doença com impacto negativo sobre a qualidade de vida e alto custo para o sistema de saúde. Os principais fatores associados ao aumento da prevalência dessa doença são a obesidade, o envelhecimento populacional, a história familiar e o sedentarismo. Em 1992, foi publicado, por Malerbi e Franco, um estudo realizado em nove capitais brasileiras, no qual a prevalência de DM foi de 7,6% da população entre 30 e 69 anos. Em 2003, Torquato et al. detectaram uma prevalência de 12,1% na mesma faixa etária. Moraes et al., em 2006, já encontraram 15,02% em uma população acima de 30 anos, com intervalo de confiança variando de 12,68 a 7,36. Objetivo: A análise realizada no presente trabalho tem por objetivo avaliar a prevalência do DM na população atendida em nossa capital, possibilitando criar e/ou melhorar programas de prevenção primária que revelem impacto positivo sobre a qualidade de vida dessa população. Métodos: Os entrevistadores treinados previamente avaliaram aleatoriamente 1.027 pacientes, de ambos os sexos, que participaram de um evento comunitário realizado em maio de 2011, por meio de um questionário fechado. Eles responderam se tinham ou não DM e se apresentavam sintomas como poliúria, polidipsia e perda de peso inexplicável. Destes, 623 tinham entre 30 e 69 anos. Os dados obtidos foram analisados em conjunto com os valores de glicemia casual e foi considerado como critério diagnóstico a presença de glicemia casual ≥ 200 mg/dL, com sintomas. Resultados: Dos 623 pacientes, apenas 76 (12,2%) apresentavam DM. Desses, 43 (56,6%) tinham conhecimento que apresentavam a doença e 13 (17,1%) não sabiam que tinham DM, mas apresentaram glicemia casual alterada. Entre os diabéticos, 67,1% eram do sexo feminino e 32,9%, do sexo masculino. Discussão: Neste estudo, a prevalência de DM na população estudada (12,2%) foi muito semelhante à porcentagem encontrada por Torquato et al., em 2003, e quase o dobro da encontrada por Malerbi e Franco em 1992. A porcentagem de pessoas que desconheciam que tinham a doença (17,1%) é um pouco acima do encontrado no estudo de Moraes et al. (15%). Conclusão: Este estudo mostrou uma prevalência de DM, na nossa capital, significativamente maior do que a encontrada no estudo multicêntrico realizado nas capitais brasileiras e reflete, entre outras causas, as mudanças nos hábitos de vida da população e o crescente aumento da obesidade. 206 PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE Nóbrega, G. B.¹; Mendes, L. J.¹; Menezes, F. T. L.¹; Pinto, P. A. L. A.¹; Batista, A. V. S.¹; Neto, A. M. S.¹ ¹ Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), Campina Grande, PB, Brasil Objetivos: Relatar relação entre hipertensão arterial sistêmica (HAS) e insuficiência renal crônica (IRC) e mostrar prevalência de pacientes hipertensos em terapia dialítica. Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal descritivo na unidade de hemodiálise no período de setembro a outubro de 2011. Dos 78 pacientes em tratamento hemodialítico, 72 atenderam aos critérios de inclusão: IRC em hemodiálise e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. Foram realizados questionários respondidos pelos pacientes e/ou familiares, busca nos prontuários, formulação de estatísticas e consulta na literatura. Resultados: A pesquisa demonstrou que a maior parte dos pacientes submetidos à hemodiálise são homens (58,33%), não idosos (71,84%) e pardos (45,83%). Em relação à etiologia, vemos que HAS se mostrou a mais prevalente com 38,88%, seguida por causas indeterminadas (16,66%), outros (15,27%), rins policísticos (12,5%), diabetes mellitus (11,11%) e glomerulopatias crônicas (5,55%). Discussão: Dados na literatura mostram que a HAS está entre as principais causas de IRC e essa associação aumenta consideravelmente o risco cardiovascular (CVC). A fisiopatologia se baseia na sobrecarga de volume e exaustão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, presentes na HAS, levando a uma sobrecarga salina e consequente lesão renal. Os objetivos do tratamento são diminuir a progressão da IRC nos estágios mais precoces e reduzir o risco CVC em todos os estágios da doença. As metas de controle da pressão arterial em IRC são mais baixas e são necessárias mudanças do estilo de vida (MEV) e terapêutica medicamentosa. Contudo, estando o rim em fase terminal e na impossibilidade do transplante renal, indica-se a diálise. Conclusão: Verificamos uma importante prevalência de HAS em pacientes hemodialíticos, sendo a principal causa de IRC terminal neste serviço. Esses dados são compatíveis com a literatura de países em desenvolvimento, onde o diagnóstico de diabetes mellitus é subestimado. Os resultados mostram que ainda não há um controle adequado da HAS, patologia tão comum atualmente. É necessário um controle mais rígido para se evitar uma diálise futura, o que deve ser buscado com triagem e diagnóstico de HAS e de IRC precoce, MEV e terapia medicamentosa com inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina II. 207 PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM PACIENTES ATENDIDOS EM EVENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS EM MAIO DE 2011 E 2012 Francescantonio, I. C. C. M.¹; Francescantonio I. C. M.¹; Rezende, K. N.¹; Borges, A. L. F.¹; Miranda, T. M. T.¹; Carvalho, B. A.¹; Guimarães, J. P.¹; Carvalho, M. B.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Introdução: A obesidade é uma doença complexa e multifatorial, resultando da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais. Atualmente, observa-se aumento significativo de sua prevalência em diversas populações do mundo, incluindo o Brasil. Traz consigo comorbidades como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus 2, dislipidemias, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Objetivo: Diante do exposto, o presente estudo se propõe a investigar a prevalência de obesidade em indivíduos residentes no município de Goiânia-GO, atendidos em eventos de extensão, em 2011, considerando os diferentes gêneros e faixas etárias. Métodos: Após aprovação no comitê de ética, foi realizado um estudo transversal com 605 pacientes, 66,1% mulheres e 33,9% homens, com idades entre 18 e 89 anos. As variáveis mensuradas foram: sexo, idade, S273 Epidemiologia Trabalhos Científicos Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos peso e altura. Os dados foram tabulados em planilha do programa Microsoft® Excel e o Índice de Massa Corpórea foi calculado pelo mesmo programa e classificado com base na Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica em: Baixo peso. Resultados: Para as mulheres, observou-se que 3,5% apresentaram baixo peso, 35% peso saudável, 32,8% sobrepeso e 28% obesidade. Para homens, 2,4% foram classificados em baixo peso, 38% em peso saudável, 41,5% em sobrepeso e 18,1% em obesos. Das mulheres em obesidade, 69,6% foram classificadas em grau I, 24,1% em grau II e 6,3% em grau III. Já para os homens em obesidade, 75,7% estavam em obesidade grau I, 18,9% em grau II e 5,4% em grau III. Dos pacientes em obesidade, 41,6% estavam entre 18 e 44 anos, 39,6% entre 45 e 59 anos e 18,8% ≥ 60 anos. Discussão: Observamos, em ambos os gêneros, alta prevalência de obesidade nos pacientes atendidos, com predomínio de obesidade grau I. Analisando as faixas etárias, percebemos que o maior índice de obesos encontra-se entre os adultos jovens. Conclusão: Considerando a tendência crescente de obesidade no Brasil, incluindo a população goiana demonstrada por esse estudo, e sua associação com outras doenças, devem ser realizadas intervenções na população, incluindo todas faixas etárias, com o objetivo de prevenir e controlar a obesidade, além de evitar o desenvolvimento de outras doenças como as endocrinometabólicas e cardiovasculares. 208 RELAÇÃO ENTRE PERFIL GLICÊMICO E O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA Almeida, S. B.¹; Gomes Neto, P. S.¹; Fernandes, V. L. C.¹; Araújo, J. S. A.¹; Maia, T. F.¹; Magalhães, D. R.¹; Montenegro Junior, R. M.¹ ¹ Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil Objetivo: Avaliar o perfil glicêmico e a aptidão física relacionada à saúde de estudantes de medicina de uma universidade pública brasileira. Métodos: Durante o presente estudo, conduzido no período de novembro de 2010 a maio de 2012, foram entrevistados 102 acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, nos quais se aplicou o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), versão curta para avaliar o nível de atividade física cotidiana e não programada. Os indivíduos foram classificados em dois grupos (G). O G1, abrangendo o grupo de estudantes considerado muito ativo ou ativo, e o G2, englobando o grupo considerado insuficientemente ativo ou sedentário, segundo o IPAQ. Foram registrados também idade, sexo e glicemia. Resultados: A média de idade do G1 foi de 22,0 +2,3 anos e do G2, de 21,46 +1,91 anos. A distribuição dos sexos nessas categorias foi: G1 - 58,6% homens e 41,4% mulheres; G2 - 39,7% homens e 60,3% mulheres. Em relação à média glicêmica: G1 = 89,18 +13,27 mg/dL e G2 = 94,84 +18,37 mg/dL. Discussão: As amostras de G1 e G2 apresentavam-se relativamente homogêneas em relação à idade e ao sexo. Evidenciou-se diferença estatisticamente significativa apenas entre a média de glicemia dos dois grupos. Conclusão: O presente estudo demonstrou haver uma relação significativa entre a glicemia e o grau de atividade física realizada, comprovando a importância dessa prática e dos seus efeitos benéficos na prevenção da ocorrência de doenças como obesidade, hipertensão e diabetes. O panorama encontrado sugere a implantação, junto aos cursos de graduação em Medicina, de ações intervencionistas mais efetivas direcionadas à adoção e à manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo durante a formação universitária e no período de transição para a atuação profissional. S274 METABOLISMO ÓSSEO 209 AVALIAÇÃO DE PACIENTES PORTADORES DE HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO À IRC ANTES E APÓS PARATIREOIDECTOMIA TOTAL Andrade, L. E. S.¹; Leal, C. T. S.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Metabologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (SEM-SCMJF), Juiz de Fora, MG, Brail Objetivo: Avaliar características clínicas, bioquímicas e radiológicas dos pacientes com HPT2 à IRC já submetidos ou não à PTx. Métodos: Avaliados dados clínicos, laboratoriais e as imagens de 22 pacientes com IRC, sendo que 10 foram submetidos à PTx com implante e 12 com a doença em estágio avançado estavam em acompanhamento e tinham indicações para cirúrgica. Para a análise estatística, foi utilizado o teste t de Student para comparar variáveis contínuas e o teste Quiquadrado para variáveis categóricas com auxílio do estatístico Epi Info 3.5.3, Centers for Disease Control and Prevention®, USA. Resultados: O sexo masculino foi o mais prevalente. A média de idade dos pacientes foi de 46 ± 12,4 para o sexo masculino e 50,9 ± 17,0 para o sexo feminino. A média de tempo entre o diagnóstico de IRC e início da terapia dialítica até a PTx foi de 12,9 ± 6,2 anos. A etiologia da IRC mais prevalente foi glomerulonefrite (40,9% dos casos), seguida por nefropatia hipertensiva com 22,7%. A principal indicação para a PTx foi dor óssea (90% nos pacientes operados e encontrada em 58,3% nos que ainda não foram paratireoidectomizados). Deformidades ósseas por fraturas em 20% dos pacientes operados e 8,3% nos que aguardam cirurgia. O número de paratireoides encontradas na exploração cirúrgica foi um preditor de hiperparatiroidismo recorrente, visto que os dois únicos pacientes que apresentaram 5 paratireoides não obtiveram êxito com a PTx. Discussão: Avaliamos o perfil de pacientes portadores de HPT2 à IRC antes e após a PTx com o intuito de amenizar as complicações e melhorar a qualidade de vida. Os pacientes em geral são tratados tardiamente, ou por demora na procura pelo tratamento ou mesmo pela adoção de medidas mais conservadoras. A demora na indicação da PTx pode justificar a gravidade do HPT2 e os elevados níveis de Ca, P e PTH. Glândulas supranumerárias poderiam estar associadas a não cura dos pacientes. Os pacientes foram gravemente acometidos pelo HPT2: em média com 3 indicações de PTx, RX de esqueleto alterados, aumento da prevalência de deformidades ósseas, além de hipercalcemia persistente que impede o tratamento clínico com carbonato de cálcio e calcitriol. Conclusão: As principais indicações de PTX foram dor óssea refratária, aumento do PTH e aumento persistente do CAxP. RX de esqueleto foram úteis para confirmar a presença do acometimento ósseo do HPT2. É importante reconhecer o diagnóstico precoce e instituir tratamento medicamentoso e/ ou cirúrgico em tempo hábil para minimizar danos à saúde desses pacientes. 210 A IDADE AO DIAGNÓSTICO ESTÁ DIRETAMENTE ASSOCIADA À BAIXA DENSIDADE ÓSSEA EM PACIENTES COM HEPATITE AUTOIMUNE Barros, L. F.¹; Casimiro, P. H. R.¹; Mendonça, L. M. C.¹; Nogueira, C. A. V.¹; Perez, R. M.¹ ¹ Disciplinas de Endocrinologia e Hepatologia, Faculdade de Medicina da UFRJ, Rio de Janeiro RJ, Brasil Objetivo: Avaliar fatores associados à densidade mineral óssea (DMO) nos pacientes com hepatite autoimune (HAI) atendidos Trabalhos Científicos 211 ALTERAÇÕES VOCAIS E AVALIAÇÃO DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO DURANTE O TRATAMENTO COM ALENDRONATO ORAL EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS COM OSTEOPOR Araújo, A. C. L.¹; Maia, J. M. C.¹; Alencar, R. C.¹; Dubeux, R. A.¹; Bandeira, F.¹ ¹ Divisão de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas, Hospital Agamenon Magalhães, SUS, MS, UPE, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Pernambuco (UPE), Recife, PE, Brasil Introdução: Osteoporose é considerada um problema de saúde pública por ser uma doença prevalente, assintomática, que pode levar a fraturas espontâneas ou trauma mínimo. Os bisfosfonatos (BP) são medicamentos de primeira escolha no tratamento da osteoporose e seu uso por via oral pode levar a alterações gastrointestinais, como úlceras gástricas e esofagite. Pouco se sabe sobre ocorrência de doença de refluxo gastroesofágico (DRGE) e suas consequências, independente da ocorrência de esofagite, nos pacientes tratados com BP orais. Objetivo: O presente estudo visa identificar a presença de alterações vocais e de refluxo gastroesofágico durante o tratamento com alendronato oral em mulheres pós-menopausadas com osteoporose. Métodos: Estudo do tipo caso-controle realizado entre agosto de 2009 e abril de 2011. Foram selecionadas 33 mulheres para Grupo 1 (Caso) e 33 para Grupo 2 (Controle). Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário semiestruturado e realização do exame de endoscopia digestiva alta (EDA). A margem de erro dos testes estatísticos foi 5% e software SPSS v.17. Resultados: O tempo de uso do alendronato oral variou de menos de 1 ano a mais de 6 anos com uma média de 3,7 anos e DP ± 2,46. Várias foram as manifestações apresentadas, destacandose as representadas na Tabela 1. Discussão: DRGE é considerada doença crônica com pouca chance de remissão espontânea. Em condições patológicas, independente da ocorrência de esofagite, o refluxo pode atingir o trato aerodigestivo superior com sintomas de rouquidão, tosse crônica, pigarro, globus faríngeo, disfonia, disfagia, odinofagia e laringoespasmo. Rouquidão tem sido relatada em mais de 92% de pacientes com refluxo e pode ser um cofator para desenvolvimento de carcinoma de prega vocal. Conclusão: DRGE e alterações vocais foram percebidas na maioria das mulheres em tratamento com alendronato oral, independente da presença de esofagite. 212 ASPECTOS CINTILOGRÁFICOS SIMULANDO LESÕES ÓSSEAS METASTÁTICAS EM UMA PACIENTE COM OSTEOMALÁCIA E DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D Silva, N. M.¹; Barbosa, J. L. S.¹; Camelo, M. G. G.¹; Souza, P. M. M. S.¹; Cruz, J. A. S.¹ ¹ Universidade Federal de Alagoas, Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, Faculdade de Medicina (UFAL), Maceió, AL, Brasil Objetivo: Relatar a importância do diagnóstico diferencial entre lesões ósseas secundárias a osteomalácia e lesões ósseas metastáticas por meio de um relato de caso. Métodos: Paciente, sexo feminino, 64 anos, relata que nos últimos quatro anos vem apresentando fraqueza em membros inferiores associada a dores em articulações de quadril e joelhos que impossibilitaram a deambulação. Refere que as dores foram piorando principalmente na região torácica, a qual evoluiu com deformidade. Ao exame: sistemas cardiorrespiratório e neurológico normais. Apresentou uma fratura ao mínimo trauma em ramo direito da mandíbula, sendo submetida a uma cintilografia óssea com MDP 99mTc, que evidenciou várias hiperfixações em gradil costal bilateralmente, não se podendo afastar a possibilidade de implantes secundários. Resultados: Hematimetria e bioquímica normais; sorologia para doença celíaca: não reagente; 25-hidroxivitamina D: 13,2 ng/ml; Ca sérico: 7,8 mg/dl; calciúria de 24h = 46 mg/24h; fósforo: 3,8 mg/ dl; TSH: 0,7mUI/L; PTH: 75 pg/ml; FA: 1052U/L; RX-tx: fraturas de vértebras torácicas e sinais de fraturas costais bilaterais; aspecto de “peito de pombo”; RX-bacia: Coxa vara bilateral e zonas lucentes nos ramos pubianos; densitometria óssea: BMD coluna lombar = 0,746 g/ cm² e escore T = -3,6; fêmur: 0,459 g/cm² e escore T = - 4,5. Biópsia de fêmur: osteopatia paratireoidea. Foi realizado tratamento com altas doses de vitamina D (50.000U/semana por 6 semanas e manutenção com 1.000U/dia mantendo níveis acima de 30 ng/ml) e reposição de Ca. A paciente apresentou melhora importante das dores e da fraqueza muscular, além de normalização da FA. Discussão: A osteomalácia é uma doença caracterizada pela diminuição da mineralização óssea, com comprometimento de osso cortical e trabecular e acúmulo de tecido osteoide não mineralizado. Na deficiência de vitamina D, há diminuição da concentração sérica de cálcio e consequente hiperparatireodismo secundário. A osteomalácia adquirida ocorre em qualquer faixa etária e cursa com fraqueza muscular, dores e deformidades ósseas progressivas. A cintilografia óssea pode demonstrar reação osteogênica no gradeado costal, o que pode simular implantes secundários, como descrito no caso da paciente. Conclusão: Este caso ilustra a importância do diagnóstico diferencial de osteomalácia por deficiência de vitamina D em idosos com deformidades ósseas, fraturas osteoporóticas e lesões ósseas simulando metástases. 213 ASSOCIAÇÃO ENTRE FRATURAS VERTEBRAIS E COMORBIDADES EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS SEDENTÁRIAS Fronza, F. C. A. O.¹; Moreira-Pfrimer, L.¹; Santos, R. N.¹; Silva, D. A. S.¹; Petroski, E. L.¹ ¹ Faculdade de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo (USP), Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina (Unifesp), São Paulo, SP; Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil Introdução: Mulheres pós-menopausadas sofrem uma abrupta queda na produção dos estrógenos, hormônios que protegem a massa óssea, o que as caracteriza como população de risco para a osteoporose. Essa é uma doença sistêmica que prejudica tanto a quantidade quanto S275 Metabolismo Ósseo no HUCFF. Métodos: Estudamos 45 pacientes com HAI, 7 homens e 38 mulheres, 15 a 56 anos (média 29) excluindo os transplantados de fígado, usuários de medicação antiosteoporótica no último ano, gestantes e mulheres em aleitamento, e também 59 controles. Todos realizaram densitometria óssea (DXA-Prodigy, GE) e dosaram PTH (N < 0,05). Resultados: Encontramos 25(OH) D3. Discussão: Não encontramos na literatura estudo semelhante. A idade ao diagnóstico, mais que o tempo de doença, foi determinante da redução da DMO nos pacientes HAI. A dose cumulativa de corticosteroides, não calculada, assim como o atraso puberal podem ter influenciado a não aquisição do pico de massa óssea geneticamente determinado nos pacientes com HAI desde a infância e adolescência. A insuficiência de vitamina D foi alta em ambos os grupos, de acordo com relatos prévios de baixos níveis de vitamina D no Brasil. Conclusão: Pacientes com HAI apresentam importante comprometimento ósseo. A idade ao diagnóstico da doença hepática tem grande influência na alteração da densidade mineral óssea. Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos a qualidade do osso, levando a um aumento do risco de fraturas, prioritariamente na coluna, no quadril e no punho. Objetivo: O objetivo do estudo é analisar as associações entre fraturas vertebrais e comorbidades como hipertensão, pneumopatias, fibromialgia, cardiopatias e osteoartrite em mulheres pós-menopausadas. Métodos: Avaliaram-se 108 mulheres pós-menopausadas (58,8 ± 6,4 anos de idade), submetidas a uma anamnese para investigar a presença de comorbidades e avaliadas para a detecção de fraturas vertebrais pelo exame de densitometria óssea (Hologic, Discovery A), seguido da avaliação da morfometria vertebral. Foram randomizadas em grupo com fratura vertebral (FV; n = 19) e sem fratura vertebral (SFV; n = 89). O teste Qui-quadrado foi utilizado para investigar as associações entre as comorbidades e a presença de fraturas. Foram considerados significantes os resultados quando p < 0,05. Resultados: Avaliando a incidência de comorbidades no grupo, observou-se que 71% apresentaram hipertensão arterial, 94% osteoartrite, 17% pneumopatias, 27% fibromialgia, 18% cardiopatias e 18% fraturas vertebrais. Entre essas comorbidades, estão significativamente associadas às FV a hipertensão arterial (p = 0,05), as pneumopatias (p = 0,00) e a fibromialgia (p = 0,04). Discussão: Comorbidades como a HAS, pneumopatias e fibromialgia, dados seus comprometimentos sistêmicos e metabólicos, parecem agravar a fragilidade óssea em mulheres na pós-menopausa, já expostas a perdas ósseas pelas deficiências estrogênicas. Conclusão: Foram observadas associações entre as comorbidades avaliadas e a incidência de fraturas vertebrais nas mulheres pós-menopausadas. 214 AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR Lima, G. A. C.¹; Silva, L. C.¹; Paranhos Neto, F. P.¹; Gomes, C. P.¹; Farias, M. L. F.¹; Mendonça, L. M. C.¹; Lima, I. C. B.¹ ¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar as alterações ósseas de pacientes masculinos entre 50 e 71 anos com doença renal crônica (DRC) estágios 3 e 4 (taxa de filtração glomerular [TFG] de 30 a 59 e de 15 a 29 ml/min/1,73 m2, respectivamente), por meio da densitometria óssea (DO) de coluna, fêmur e rádio 33%, e correlacioná-los com PTH e função renal. Métodos: Estudo transversal que incluiu 17 homens com DRC 3 (61,5 ± 6,04 anos e TFG 43,2 ± 7,3 ml/min/1,73 m2) e 12 com DRC 4 (61,7 ± 7,99 anos e TFG 22,8 ± 4,4 ml/min/1,73 m2). Foram excluídos mulheres, história de paratiroidectomia prévia ou uso de medicamentos ou doenças que interferissem na saúde óssea. Análise estatística foi realizada pelo teste de T não pareado ou Mann-Whitney. Resultados: Pacientes DRC 4 obtiveram PTH significativamente maior que DRC 3 (162,7 ± 81,05 pg/ml x 67,8 ± 41,31 pg/ml, p = 0,002). Não houve diferença entre os grupos quanto ao T-score de coluna, fêmur e rádio 33%, nem correlação significativa entre os níveis de PTH e T-score dos sítios mencionados. Osteopenia ocorreu em 7/17 (41,1%) no grupo DRC 3 e em 7/12 (58,3%) no grupo DRC 4. Nenhum caso de osteoporose foi observado. Discussão: O hiperparatiroidismo é o principal componente dos distúrbios osteominerais (DOM) da DRC. O aumento do PTH ocorre precocemente na DRC, com aumento inversamente proporcional à TFG, devido a fatores como hiperfosfatemia, hipocalcemia, resistência ao PTH e diminuição da síntese de vitamina D ativa (calcitriol), assim como aumento do FGF-23 e deficiência de vitamina D. Apesar de a massa óssea ser habitualmente aferida pela DO, calcificações de partes moles e alterações específicas de corpos vertebrais dificultam sua interpretação na DRC, pois superestimam a massa óssea. Conclusão: Apesar de o aumento do PTH ser proporcional ao grau de disfunção renal e estar relacionado S276 à reabsorção óssea, não ocorre piora da densidade mineral aferida pela DO. Os dados obtidos corroboram com a literatura sobre a incapacidade da DO em predizer o tipo de DOM ou fraturas na DRC. 215 AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA APÓS FRATURA DE FÊMUR EM IDOSOS: UM ESTUDO DE COORTE NO SUL DO BRASIL Premaor, M. O.¹; Laranjeira, J. A.¹; Luft, M.¹; Brito, L. G.¹; Monticielo, O. A.¹ ¹ Departamento de Clínica Médica, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Serviço de Ortopedia, Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Santa Maria, RS, Brasil Introdução: A osteoporose é considerada uma prioridade de saúde em nosso país. Todavia, existem poucos estudos epidemiológicos sobre fraturas de fragilidade e seu impacto na mortalidade no Brasil. Objetivo: O objetido de nosso estudo foi avaliar a mortalidade intra-hospitalar e um ano após fratura de fêmur. Métodos: Um estudo de coorte prospectivo foi realizado em indivíduos idosos atendidos no Serviço de Ortopedia e Traumatologia (SOT) do Hospital Universitário de Santa Maria, Rio Grande do Sul, durante o período de 1o de abril de 2005 a 1o de abril de 2011. Todas as fraturas de fêmur foram confirmadas por exame radiológico. Após a alta hospitalar, os pacientes foram acompanhados no ambulatório do SOT. Para assegurar o seguimento, os pacientes que não compareceram às consultas foram contatados por telefone. Todos os pacientes preencheram TCLE. Resultados: No total, 544 indivíduos foram incluídos no estudo e 512 completaram o seguimento. Destes, 76,5% eram do sexo feminino e a média de idade foi 80,6 ± 7,5 anos. O tempo médio entre a internação e a realização da cirurgia foi 7,8-5,4 dias. Vinte e cinco por cento dos pacientes morreram ao final de um ano. O tempo de sobrevida médio foi 297,7 (IC 95% 286,4; 309,0) dias e 12,5% morreram durante a internação hospitalar. Os fatores associados ao óbito intra-hospitalar foram a não realização de cirurgia [OR 13,3 (IC 95% 8,6; 30,9)] e o escore ASA ≥ 3 [OR 3,6 (IC 95% 1,6; 8,2)]. O sexo masculino [HR 1,7 (IC 95% 1,02; 2,96)], a idade [HR 1,04 (IC 95% 1,00; 1,08)], o escore ASA ≥ 3 [HR 1,73 (IC 95% 1,03; 2,91)] e o tempo porta-cirurgia [HR 1,06 (IC 95% 1,02; 1,10)] foram fatores de risco para o óbito em um ano. Discussão: Um quarto dos pacientes morreu dentro de um ano após a fratura de fêmur. Apesar de a maioria dos fatores preditores de óbito serem fatores não modificáveis (idade, sexo e escore ASA), chama nossa atenção a associação entre o tempo porta-cirugia e o óbito. Em nosso estudo, realizado em um hospital universitário que atende unicamente o Sistema Único de Saúde, o tempo médio de espera para realização da cirurgia foi maior que uma semana. Além disso, para cada dia de espera o risco de morrer dentro do primeiro ano pós-fratura aumentou em 6%. Conclusão: A mortalidade após uma fratura de fêmur foi consideravelmente alta em nosso estudo. Entretanto, a tomada de medidas de saúde pública que venham a diminuir o tempo de espera para a cirurgia pode vir a apresentar um impacto positivo na diminuição dessa mortalidade. 216 BENEFÍCIOS DE UM PROGRAMA DE HIDROGINÁSTICA DE ALTA INTENSIDADE (HYDROS) SOBRE O METABOLISMO ÓSSEO E A MASSA ÓSSEA DE MULHERES PÓSMENOPAUSADAS Pfrimer, L. D. F. M.¹; Fronza, F. C. A. O.¹; dos Santos, R. N.¹; Teixeira, L. R.¹; Castro, M. L.¹ ¹ Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Faculdade de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Trabalhos Científicos 217 BONE MINERAL DENSITY, JOINT FUNCTION AND STRUCTURE IN GENETIC AND LIFETIME ISOLATED GH DEFICIENCY Oliveira, C. R. P.¹; Epitácio-Pereira, C. C.¹; Silva, G. M. F.¹; Salvatori, R.2; Brito, A. V. O.¹; Santana, J. A. M.¹,3; Pereira, F. A.¹; Aguiar-Oliveira, M. H.¹ ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju, Brazil; 2 Johns Hopkins University School of Medicine, Division of Endocrinology, Baltimore, MD, United States; 3 Climedi, Aracaju, SE, Brazil Objective: GH/IGF-I axis is important to the acquisition of bone mineral density (BMD), joint function and structure. BMD is described as normal, but early osteoarthritis (OA) and some orthopedic problems (as limitation of elbow extension and genum valgum) are found in GH resistant individuals. There are no reports on BMD and joint status in congenital isolated GH deficiency (IGHD). We have shown that adult IGHD individuals with severe short stature due to the c.57+1G > A GHRHR mutation, have lower bone stiffness than normal controls (CO) (1), but BMD, joint function and structure in this IGHD cohort are unknown. The purposes of this work were to study BMD, joint function and OA severity in this cohort. Methods: Anthropometric measurements, BMD (by DXA), volumetric BMD were measured in 25 IGHD (13 males, 38.16 ± 12.17 yrs, height 129 ± 10.73 cm) and 22 CO (9 males, 38.9 ± 10.44 yrs, height 163 ± 9.77 cm). Joint function was assessed by goniometry of elbow, hips and knees. Radiographic severity of OA was defined by an adaptation of the Osteoarthritis Research Society International classification as a 1-point increase in joint space narrowing or osteophytes scores on radiographs of the knees and hip. Student’s t test was used to compare groups. Results: As expected, height and weight standard deviation scores were lower in IGHD than CO (-6.47 ± 1.52 vs. -0.98 ± 0.89). Discussion: Adult GH-naïve individuals with congenital IGHD present lower BMD, more OA and genu valgum than CO. Conclusion: Congenital, lifetime IGHD reduces BMD and causes joint problems. 218 BONE STATUS AND CALCIUM SCORE IN OLDER INDIVIDUALS WITH UNTREATED ISOLATED LIFETIME GH DEFICIENCY Oliveira, M. H. A.¹; Souza, A. H. O.¹; Farias, M. I. T.¹; Salvatori, R.2; Santana, J. A. M.¹,3; Oliveira, C. R. P.¹; Pereira, R. M. C.¹ ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju; 2 Johns Hopkins University School of Medicine, Division of Endocrinology, Baltimore, MD, United States; 3 Climedi, Aracaju, SE, Brazil Objective: The acquisition and loss of bone mineral density (BMD) is strongly influenced by the GH/IGF-I axis. We have shown that adult individuals with isolated GH deficiency (IGHD) due to the c.57+1G > A GHRHR mutation have lower bone stiffness than normal controls (CO) (1). Furthermore, while they present cardiovascular risk (CV) factors, they do not show evidence of premature atherosclerosis. As the risk of both osteoporosis and CV disease increases with age, we decided to study IGHD individuals older than 60 years. Methods: Anthropometric measurements, serum IGF-I, BMD (DXA), volumetric BMD, vertebral fracture assessment (VFA) and calcium score (a CV risk marker) were measured in 10 IGHD (5 males, 71.0 ± 10.2 yrs, height 120 ± 10 cm) and 20 CO (10 males, 69.6.5 ± 10.5 yrs, height 155 ± 8.4 cm). The number of individuals with fractures, the mean number, the grade (mild, moderate, or severe), and the type of fractures (biconcave, crush, wedge) were compared by Student›s t test. Results: As expected, height standard deviation score and weight were lower in IGHD than CO (-8.0 ± 0.6 vs. - 2.4 ± 1.1, p < 0.0001), total femur (0.80 ± 0.09 vs. 0.96 ± 0.16, p = 0.002) and volumetric BMD (1.48 ± 0.10 vs. 1.86 ± 0.38, p = 0.005, respectively) were all reduced in IGHD in comparison with the CO. The number of individuals with fractures was similar in IGHD and CO (5/10 and 6/20, respectively) but the mean number of fractures per fractured individual was lower in IGHD than CO (14 in 5 vs. 32 in 6 respectively, p = 0.018). There were 9 wedge fractures in CO and none in IGHD. The calcium score was similar in IGHD (9 with negative risk and 1 moderate risk) and CO (15 with negative risk, 1 mild risk, 2 moderate risk and 3 high risk). No IGHD presented high risk calcium score. Discussion: Aged GH-naïve individuals with congenital IGHD present lower BMD, but the number of fractures per fractured individual seems to be lower than age-matched controls. The normal calcium score confirms atherosclerosis protection in IGHD despite CV risk factors. Conclusion: Congenital IGHD reduces BMD in old age, without increase in fractures number, and does not have deleterious consequences on cardiovascular disease. 219 CALCIFICAÇÕES DOS NÚCLEOS DA BASE SECUNDÁRIOS A HIPOPARATIREOIDISMO IDIOPÁTICO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA Simionatto, C. A. ¹; Montagna, C. G. ¹; Finardi, A. B. P. ¹; Betônico, C. C. R. ¹; Filho, F. R. P. ¹; Marin, F. F ¹. ¹ Hospital Regional de Presidente Prudente, Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Presidente Prudente, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso de uma paciente com calcificações dos núcleos da base secundários a hipoparatireoidismo idiopático. Métodos: Relato do caso de uma paciente do sexo feminino, 59 anos, com S277 Metabolismo Ósseo Introdução: Os exercícios físicos fazem parte do tratamento e da prevenção da osteoporose, contudo, ainda há dúvidas sobre qual seria a melhor modalidade. Os exercícios aquáticos poderiam ser considerados ideais, pois, na água, o risco de lesões é baixo. Contudo, não se sabe se a redução da sobrecarga mecânica no corpo imerso poderia diminuir seu efeito no metabolismo ósseo. Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de hidroginástica de alta intensidade sobre os marcadores de remodelação óssea e a massa óssea de mulheres pós-menopausadas. Métodos: Cento e oito mulheres pós-menopausadas (58,8 ± 6,4 anos) foram randomizadas em Grupo Controle (GC, n = 44) e Grupo Hidroginástica (GH, n = 64). Todas receberam 500 mg de cálcio elementar e 1.000 UI de colecalciferol/dia. O GH participou do programa de hidroginástica de alta intensidade (70% a 90% do esforço máximo – Tabela de Borg) por 24 semanas e o GC se manteve sedentário. Antes e após a intervenção, a massa óssea do fêmur e da coluna lombar foi medida pela densitometria óssea (Hologic, Discovery A) e os marcadores de formação óssea (propeptídeo aminoterminal do pró-colágeno do tipo 1 – P1NP) e de reabsorção óssea (telopeptídeo carboxiterminal do colágeno tipo 1 – CTX) foram dosados. Os grupos eram estatisticamente semelhantes antes do estudo para todos os parâmetros avaliados. Consideramos significantes os resultados quando p < 0,05. Resultados: Após o período de 24 semanas, o GC perdeu densidade mineral óssea (DMO) no trocânter femoral (de 0,672 ± 0,092 para 0,664 ± 0,101 g/cm²; p = 0,009), enquanto o GH manteve a DMO nesse sítio (de 0,687 ± 0,118 para 0,693 ± 0,112 g/ cm²; p = 0,069). Discussão: O protocolo de hidroginástica intensa estimulou o metabolismo ósseo tanto pela desaceleração da reabsorção como pelo aumento da taxa de formação óssea, o que se refletiu na manutenção da massa óssea do trocânter femoral. Conclusão: O programa de hidroginástica de alta intensidade (HydrOS) foi eficiente em melhorar o metabolismo ósseo e evitar a perda de massa óssea no trocânter femoral das mulheres pós-menopausadas estudadas. Por essa razão, deve ser recomendado como parte da prevenção e tratamento não medicamentoso da osteoporose. Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos diagnóstico de síndrome de Fahr secundária a hipoparatireoidismo primário. Revisão de literatura por meio de consulta em base de dados PubMed utilizando como palavras-chave hypoparathyroidism and basal ganglia calcification. Resultados: Relatamos o caso de uma paciente do sexo feminino de 59 anos com histórico de há 15 anos apresentar quadro depressivo em acompanhamento psiquiátrico. Há dois anos, em tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e piora dos sintomas depressivos, evoluindo há quatro meses com queda do estado geral, episódios de crises convulsivas, associados a emagrecimento de 8 kg,marcha atáxica e engasgos, sendo encaminhada ao ambulatório de neurologia para investigação. Tomografia computadorizada de crânio mostrou calcificações de núcleos da base e exames laboratoriais compatíveis com hipocalcemia grave (Ca ionizado 0,46). A paciente foi encaminhada para o serviço de endocrinologia do Hospital Regional de Presidente Prudente, apresentando ao exame físico sinais de tetania, Chevostek e Trosseau e exames de cálcio ionizado 0,47 mg/dl, fósforo 7,34 mg/dl e PTH 1 pg/ml, CPK 918 UI/L, confirmando o diagnóstico de síndrome de Fahr secundária a hipoparatireoidismo primário. Foi realizado tratamento inicialmente com gluconato cálcio endovenoso e, em seguida, carbonato de cálcio e calcitriol via oral,com melhora da marcha, e dos sinais clínicos de hipocalcemia, mantendo o quadro de labilidade emocional. Discussão: A hipocalcemia crônica é causa frequente de distúrbios neurológicos, podendo se manifestar com sintomas de parestesias, tetanias, sinais extrapiramidais, depressão e convulsões. Calcificações dos gânglios da base podem estar presentes no hipoparatireoidismo de longa evolução e caracterizam a síndrome de Fahr. A fraqueza muscular é um sinal importante de pacientes com hipoparatireoidismo, e o aumento de enzimas musculares é um achado raro. O hipoparatireoidismo caracteriza-se por hipocalcemia com níveis de paratormônio baixos, podendo ser idiopático ou secundário a cirurgia, desordem autoimune isolada ou em associação com outras deficiências endócrinas. Conclusão: A identificação precoce dos sinais e sintomas de hipocalcemia pode prevenir a evolução para calcificações dos núcleos da base, evitando a evolução para um quadro neurológico muitas vezes irreversível. 220 CARCINOMA DE PARATIREOIDE ASSOCIADO A TUMOR MARROM: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA Carvalho, N. G.¹; Simionatto, C. A.¹; Betônico, C. C. R.¹; Neto, A. M.¹; Marin, F. F.¹; Filho, F. R. P.¹ ¹ Hospital Regional de Presidente Prudente, Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Presidente Prudente, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso raro de carcinoma de paratireoide associado a tumor marrom e fratura patológica. Métodos: Após o consentimento livre e esclarecido de paciente, sexo feminino, 45 anos, realizamos relato de caso de carcinoma de paratireoide associado a tumor marrom. Revisão da literatura utilizando o PubMed com as palavraschave: hiperparatireoidismo, tumor marrom, carcinoma de paratireoide. Resultados: Relatamos o caso de uma paciente do sexo feminino, 45 anos, encaminhada ao serviço endocrinologia do Hospital Regional de Presidente Prudente, referindo fraqueza muscular generalizada e dificuldade de deambular. Em seu histórico, apresentava, há seis meses, fratura patológica médio-diafisária de ulna esquerda, nodulações em antebraço direito e membros inferiores e exames radiológicos sugestivos de tumor marrom. Aferições séricas de cálcio total 13,29 mg/ dl, fósforo 3,63 mg/dl, e PTH 300 pg/ml, confirmando, assim, hiperparatireoidismo primário. Cintilografia de paratireoides evidenciou S278 hipercaptação no polo superior esquerdo. Submetida à paratireoidectomia à esquerda e tireoidectomia do lobo esquerdo, cujo anatomopatológico confirmou carcinoma de paratireoide infiltrante e adenoma folicular de tireoide. Retornou ao ambulatório após três meses da cirurgia com melhora importante da miastenia, deambulando com leve claudicação e exames com normalização do cálcio e fósforo séricos, e queda progressiva do PTH. Mantém acompanhamento com a equipe de endocrinologia e oncologia. Discussão: O carcinoma de paratireoide é responsável por menos de 1% dos casos de hiperparatireoidismo primário. A associação dessa desordem com tumor marrom também é rara, equivalente a 3% dos casos. O tumor marrom é uma lesão que apresenta áreas osteolíticas de margens bem definidas, caracteristicamente formada por tecido fibroso que substitui osso normal, podendo expandir a cortical óssea, ocorrendo mais frequentemente em ossos longos e maxilar. Acomete predominantemente mulheres, na 3a e 4a décadas de vida. A exérese da glândula acometida reduz os sintomas, a recorrência local e melhora prognóstico, tratando o tumor marrom. Neste caso, foi realizada a cirurgia conforme manda a literatura, havendo melhora dos sintomas e normocalcemia. Conclusão: O diagnóstico de carcinoma de paratireoide deve ser lembrado em pacientes com fraturas patológicas acompanhadas de história de miastenia, nodulações e dores diafisárias, podendo ser facilmente confirmado com exames séricos de cálcio, fósforo e PTH, alterando, assim, o prognóstico e a evolução da doença. 221 CARCINOMA DE PARATIREOIDE EM PACIENTE COM HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO FAMILIAR: RELATO DE CASO Reis, F. M. G.¹; Lima, M. A. B.¹ ¹ Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Introdução: Carcinoma de paratireoide é uma neoplasia incomum, correspondendo a menos de 1% dos casos de hiperparatireoidismo primário. É causa de hipercalcemia severa, frequentemente acompanhada de distúrbios ósseos e renais. Métodos: Estudo de um caso de hipercalcemia de dez anos de evolução em paciente portador de hiperparatireoidismo primário familiar isolado, com diagnósticos anatomopatológicos de hiperplasia e adenoma de paratireoide, até diagnóstico final de carcinoma. Resultados: Paciente de 45 anos, com diagnóstico de hiperparatireoidismo primário aos 32 anos, encaminhado ao nosso serviço em 2002 por hipercalcemia e PTH: 383 pg/ml. História prévia de nefrectomia parcial por litíase de repetição e paratireoidectomia subtotal por adenoma. História familiar de hiperparatireoidismo. Realizados paratireoidectomia total e implante de metade de paratireoide em antebraço esquerdo com histopatológico de hiperplasia. Três anos após, apresentou recidiva do hiperparatireoidismo. Ressecado tecido paratireoidiano de antebraço, após detecção de captação na cintilografia com tecnécio sestamibi. Permaneceu hipercalcêmico sem identificação de foco de produção hormonal após flebografia com dosagem de PTH ao nível de ázigos e jugulares. Após um ano, submetido à cervicotomia exploradora com diagnóstico de adenoma de paratireoide. Apresentou, após três anos, intoxicação calcêmica por recidiva do adenoma, tentado alcoolização sem resposta. Realizada nova abordagem cirúrgica sem evidência de adenoma, com PTH no pós-operatório imediato de 1.500 pg/ ml. Após três meses, uma cervicotoracotomia exploradora revelou carcinoma de paratireoide com metástase linfonodal e invasão para- Trabalhos Científicos 222 CARCINOMA PARATIREOIDE: RELATO DE CASO Ferreira, L.¹; Silva, M. C.¹; Colombo, B. S.¹; Correa, C. G.¹; Canalli, M. H. B. S.¹; Schreiber, C. S. O.¹; Hohl, A.¹ ¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Hospital Universitário, Florianópolis, SC, Brasil Introdução: Carcinoma de paratireoide, embora raro, é um dos diagnósticos diferenciais de hiperparatireoidismo (estima-se que menos de 1% dos casos). A manifestação clínica é semelhante aos adenomas de paratireoide, embora de forma mais exuberante, principalmente com hipercalcemia significativa. Mais de 50% dos casos cursam com doença renal ou óssea. Dados consistentes sobre o tratamento, a sobrevida e a mortalidade são escassos devido à baixa incidência dessa doença. Métodos: Relato do caso. Resultados: Masculino, 44 anos, hipertenso, com quadro de dor progressiva nos últimos quatro meses, principalmente em membros inferiores (MMII), com restrição funcional e dificuldade de deambular, sem melhora com uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Procurou atendimento na Unidade de Emergência por quadro de dor intensa, nos últimos dois dias, e diminuição da força em MMII. Na admissão, apresentava fratura em úmero esquerdo e durante transferência de maca sofreu fratura de fêmur bilateral, com desvio importante, necessitando procedimento cirúrgico ortopédico para fixação de fêmur bilateral. Apresentava PTH 1.273 pg/ml (valor de referência [VR] 15-65), fósforo 2,3 mg/dl (VR 2,7-4,5), cálcio total 17,2 mg/dl (VR 8,4-10,2). Ultrassonografia de região cervical: nódulo hipoecoico mal definido, heterogêneo, com áreas císticas na face posterior do polo inferior esquerdo da tireoide, medindo 3,0 x 2,5 x 2,2 cm. Exames complementares evidenciaram osteopenia importante e litíase renal esquerda. Submetido à paratireoidectomia esquerda, evoluindo com síndrome de fome óssea de difícil controle no primeiro mês pós-operatório, embora mantivesse manutenção de níveis elevados de paratormônio (203,1 pg/ml). Optado por tireoidectomia e paratireoidectomia total após dois meses. Anatomopatológico: carcinoma de paratireoide. Apresentou boa evolução, recebendo alta após quatro meses de internação, com leve restrição de movimento. Há seis anos é acompanhado no ambulatório de endocrinologia sem evidências clínicas e laboratoriais de recidiva, com uso de levotiroxina e calcitriol. Discussão: A apresentação clínica do carcinoma de paratireoide é variada e, muitas vezes, pouco valorizada na prática clínica. Este diagnóstico deve sempre ser aventado quando a sintomatologia é muito evidente, fazendo diagnóstico diferencial com os adenomas e as hiperplasias de paratireoide. Conclusão: O tratamento cirúrgico é a melhor opção terapêutica e, em muitos casos, com uma excelente sobrevida em longo prazo. 223 ESTUDO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TERESINA, PIAUÍ Dias, M. L. R.¹; Carvalho, M. S.¹; Carvalho, M. K. S.¹; Ventura, C. A.¹; Cavalcante, T. N.¹; Alves, M. P.¹; Sousa, C. C.¹ ¹ Universidade do Oeste Paulista (Unoeste); Universidade Federal do Piauí (UFPI); Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM-PB), Teresina, PI, Brasil Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar as variações metabólicas dos indivíduos em hemodiálise (HD) por meio de resultados de exames laboratoriais e observar possíveis influências de variáveis, como idade e sexo. Métodos: O presente estudo reuniu 59 pacientes com diagnóstico de IRC em hemodiálise no ano de 2011 na clínica nefrológica de Hospital Público na cidade de Teresina, Piauí. Excluíram-se do estudo pacientes transplantados, transferidos e que foram a óbito. Foram considerados os seguintes exames: cálcio e fósforo iônicos e paratormônio (PTH). A prevalência entre o sexo, a idade e a doença de base dos indivíduos também foi observada. Resultados: As doenças de base apresentaram as seguintes proporções: 59,4% (n = 35) com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 28,8% (n = 17) com diabetes mellitus (DM) seguido de 1 caso de glomerulonefrite crônica (GNC) e 1 caso de lúpus eritematoso sistêmico (LES). A distribuição dos sexos resultou em 33 homens (56%) e 26 mulheres (44%) e a distribuição das idades, em 31 pessoas > 50 anos (53%), 16 pessoas entre 30 a 50 anos (27%) e 12 pessoas entre 18 e 30 anos (20%). Níveis de fósforo alterados segundo o sexo apresentaram-se em 42% (n = 13,8) no sexo masculino e 54% (n = 14) no sexo feminino. Níveis de fósforo segundo a idade apresentaram-se mais alterados no intervalo entre 18 e 30 anos (67%, n = 8). Os níveis de PTH segundo o sexo do indivíduo apresentaram-se 88% alterados no sexo masculino e 81% alterados no feminino. Os níveis de PTH segundo a idade apresentaram-se 100% (n = 12) alterados nos indivíduos entre 18 e 30 anos, seguindo alterados nas demais idades. O cálcio apresentou-se mais alterado no sexo masculino (31%, n = 10) e nos indivíduos com idade superior a 50 anos (33%, n = 11). Discussão: No presente estudo, foi identificada uma diferença pequena entre os sexos dos indivíduos submetidos ao processo de diálise. Em relação à faixa etária, observou-se, na pesquisa, que a prevalência de sujeitos com mais de cinquenta anos (53%) submetidos ao tratamento hemodialítico pode ser correlacionada com o envelhecimento populacional da população brasileira, e o aumento da prevalência das doenças bases, como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, consideradas uma das principais causas do desenvolvimento da insuficiência renal crônica terminal (Kusumoto L. et al., 2008). Conclusão: De acordo com o estudo, alterações significativas foram encontradas nos níveis de cálcio, fósforo e PTH, devendo-se, portanto, serem corrigidas clinicamente, evitando-se maiores consequências aos pacientes. 224 ETIOPATOGENIA DA OSTEOPOROSE NA DOENÇA DE CROHN (DC) E RETOCOLITE ULCERATIVA (RCU) Paula, F. J. A.¹; Bastos, C.¹; Nogueira-Barbosa, M. H.¹; Salmon, C. E. G.¹; Troncon, L. E. A.¹ ¹ Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FMRPUSP), Ribeirão, Preto, SP, Brasil Introdução: As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) estão incluídas entre as causas secundárias de osteoporose. Entretanto, diversos aspectos etiopatogênicos e as consequências osteometabólicas das DIIs em adultos jovens, em remissão, não foram ainda conveniente- S279 Metabolismo Ósseo traqueal. O paciente evoluiu durante seis meses com PTH normal, sendo submetido a três sessões de radioterapia por nova ascensão do PTH. Discussão: Carcinoma de paratireoide é uma desordem rara, associada a mutações somáticas e germinativas no gene HRPT2 e irradiação do pescoço por outras patologias. As manifestações clínicas são decorrentes do aumento do cálcio e PTH, geralmente com complicações renais e ósseas. O diagnóstico diferencial com adenoma é difícil, caracterizado por invasão vascular, comprometimento capsular e metástase local e a distância. Ressecção tumoral em bloco é a terapia mais efetiva. Conclusão: Apesar de raro, o carcinoma de paratireoide deve ser lembrado como etiologia nos casos de hipercalcemias refratárias, sendo um diagnóstico difícil, realizado por meio do exame anatomopatológico. Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos mente avaliados. Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar a massa óssea (DMO), o metabolismo mineral e quantificar a adiposidade da medula óssea nestes pacientes. Métodos: Participaram 88 indivíduos [26 com DC, 20 com RCU e 42 controles (C)]. Os pacientes foram avaliados quanto a atividade da doença e uso de glicocorticoides. Todos realizaram teste de absorção do cálcio, densitometria óssea, ressonância magnética com medida da adiposidade em L3 por espectroscopia e avaliação bioquímica (cálcio, albumina, PTH e osteocalcina). Resultados: Os três grupos não diferiram quanto a idade, peso e IMC (DC: 36,9 ± 10,1 anos; 69,0 ± 16,8 kg; 24,6 ± 5,7 kg/m²) vs. (RCU: 41,1 ± 12,8 anos; 71,0 ± 14,1 kg; 25,5 ± 3,3 kg/m²) vs. (C: 35,8 ± 9,6 anos; 75,7 ± 16,5 kg; 26,0 ± 4,4 kg/m²). Todos os pacientes com DC e 90% daqueles com RCU estavam em remissão clínica. O uso de prednisona atual e prévio foi de 15% e 88% na DC e de 15% e 85% na RCU. Os pacientes com DC apresentaram maior frequência de osteopenia e osteoporose em L1-L4, e quadril total que os com RCU e C (por exemplo, quadril total DC: 46%, RCU: 21% e C: 17%). A DMO e o conteúdo mineral ósseo em corpo total foram significativamente menores nos grupos DC e RCU que em C (P < 0,05). Os grupos mostraram valores de PTH semelhantes (DC: 51,5 ± 19,9 vs. RCU: 57,0 ± 31,5 vs. C: 44,8 ± 19,5 pg/ml). A resposta calcêmica e calciúrica foi maior no grupo RCU que no C, com P = 0,07 e P = 0,01 (DC: 1,3 ± 0,7 mg/dl e 0,10 ± 0,08 mg/dl) vs. (RCU: 1,6 ± 0,5 mg/dl e 0,15 ± 0,10 mg/dl) vs. (C: 1,3 ± 0,5 mg/dl e 0,09 ± 0,05 mg/dl). O conteúdo de adiposidade medular em L3 não diferiu entre os três grupos (DC: 44,7%) vs. (RCU: 37,9%) vs. (C: 42,2%). Discussão: Em longo prazo, as DIIs têm impacto diferente sobre o tecido ósseo. O prejuízo de manutenção ósseo é preponderante na DC. Esses pacientes apresentam alta frequência de baixa massa óssea mesmo em remissão de longa data e com absorção de cálcio aparentemente preservada. Conclusão: A adiposidade de medula óssea é normal em indivíduos com DII em remissão e eutróficos. Portanto, o aumento de tecido gorduroso na medula óssea não parece ser um mecanismo importante de osteoporose nas DIIs. 225 HIDROGINÁSTICA DE ALTA INTENSIDADE (HYDROS) MELHORA EQUILÍBRIO E FORÇA MUSCULAR E REDUZ QUEDAS EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS Pfrimer, L. D. F. M.¹; Fronza, F. C. A. O.¹; Santos, R. N.¹; Teixeira, L. R.¹; Castro, M. L.¹ ¹ Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM); Faculdade de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Verificar os efeitos de um programa de hidroginástica de alta intensidade no equilíbrio, na força muscular e no número de quedas e de caidoras em mulheres pós-menopausadas. Métodos: Cento e oito mulheres (58,8 ± 6,4 anos) foram randomizadas em Grupo Controle (GC, n = 44) e Grupo Hidroginástica (GH, n = 64). Todas receberam 500 mg de cálcio elementar e 1.000 UI de colecalciferol/ dia. Por 24 semanas, o GH participou do programa de hidroginástica de alta intensidade (70% a 90% do esforço máximo – Tabela de Borg) e o GC se manteve sedentário. Antes e após a intervenção, as voluntárias realizaram os seguintes testes físicos: equilíbrio em um pé só com olhos fechados (EQ em segundos), força de preensão manual (FPM em kg; por dinamômetro isocinético Grip Takei Physical Fitness Test – T.K.K. 5001, Japão), além da força isométrica máxima dos músculos extensores da coluna (FEC em kg) e extensores do joelho (FEJ em kg) por meio de um dinamômetro portátil (Modelo 01163, Lafayette Manual Muscle Test System). Comparamos o número de quedas S280 (QUEDAS) e o de mulheres que sofreram quedas (CAIDORAS) nos seis meses antes do início e ao final do estudo. Os grupos eram estatisticamente semelhantes antes do estudo para todos os parâmetros avaliados. Consideramos significantes os resultados quando p < 0,05. Resultados: A análise de variância (two way ANOVA) mostrou que, após a intervenção, houve melhora significativa no GH em todas as variáveis estudadas em relação ao basal: EQ (de 6,3 ± 6,4 para 8,9 ± 6,9; p < = 0,001), QUEDAS (de 2,0 para 0,29; p < 0,001). Discussão: Esse é o primeiro estudo a evidenciar a diminuição significativa do número de quedas e de caidoras entre mulheres pós-menopausadas praticantes de hidroginástica. Conclusão: A HydrOS melhorou a força muscular e o equilíbrio das mulheres pós-menopausadas estudadas, resultando na diminuição expressiva do número de quedas e de caidoras no grupo. 226 HIPERFOSFATASIA IDIOPÁTICA: RELATO DE CASO Coutinho, E. A. F.¹; Inoue, T. H.¹; Loureiro, A. D.¹; Gomes, G. S.¹; Rivelli, G. R.²; Netto, I. G.² ¹ Conjunto Hospitalar do Mandaqui; ² Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar o caso de paciente com hiperfosfatasia idiopática. Métodos: Paciente de 13 anos, masculino, negro, vem encaminhado pela pediatria ao ambulatório de Endocrinologia do Conjunto Hospitalar do Mandaqui para investigação de aumento da fosfatase alcalina. Paciente assintomático. Negava dor óssea ou fratura prévia. Ao exame: LOTE, fáscies atípica, corado, hidratado, sem anormalidades ósseas. PA = 110 X 70 mmHg,FC = 80 bpm, FR = 16 irpm. Tireoide – móvel, fibroelástica, consistência lisa, sem nódulos. Estádio puberal – G3P3. Restante sem alterações. Exames iniciais (abril/2011) Hb13,8 mg/dL, creatinina-0,7 mg/dL, TGO-28 U/L, TGP-21 U/L, FA-710 mg/dL (VR: 13 a 17 anos – até 190), GGT-28 U/L. (Junho/2011) TGO-24 U/L, TGP-36 U/L, FA-1634, GGT-21U/dL, Ca-9,5 mg/dL, P-4,9 mg/dL, PTH-29 pg/mL, albumina-4,6 mg/ dL. Em virtude do quadro laboratorial apresentado, foram solicitados os seguintes exames para avaliação de hepatopatia ou doença óssea: DO (Julho/2011) – dentro da normalidade para idade. Cintilografia óssea 99mTc (Agosto/2011) – discreto acúmulo anormal do radiofármaco em úmero esquerdo. Radiografia de ossos longos – sem anormalidades. (Setembro/2011) Sorologias para hepatites A, B e C negativas, 250HvitD – 37,9 ng/mL, calciúria – 36 mg/24h e fosfatúria – 0,55g/24h. Resultados: Pelos resultados dos exames, foi descartada a hipótese de acometimento hepático ou ósseo promovendo a elevação dos níveis da fosfatase alcalina, tornando a hiperfosfatasia transitória da infância e adolescência a principal hipótese diagnóstica. Em acompanhamento ambulatorial, novos exames laboratoriais oito meses depois (dezembro de 2011) já demonstraram diminuição da FA – 380 mg/dL. Discussão: Hiperfosfatasia da infância e adolescência é caracterizada pela elevação benigna dos níveis da fosfatase alcalina na ausência de qualquer distúrbio hepático ou ósseo. Raramente se associa a outras doenças, com retorno aos níveis normais em semanas ou meses. Há um pico em torno de dois anos de idade e um segundo pico na puberdade (12 anos em meninas e 14 anos em meninos). A fisiopatologia não é bem conhecida, possivelmente sendo causada pela maior atividade osteoblástica, a qual levaria à excessiva sialação da fosfatase alcalina. Dessa forma, uma história clínica cuidadosa, exame físico detalhado e acompanhamento laboratorial são geralmente suficientes. Conclusão: Ter conhecimento dessa condição permite evitar procedimentos e preocupação desnecessários, desde que doenças hepáticas e ósseas sejam previamente excluídas. 227 HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO (HPT1) POR ADENOMA DE PARATIREOIDE COM DOENÇA ÓSSEA GRAVE ASSOCIADO À CRISE HIPERCALCÊMICA Farias, M. L. F.¹; Giorgetta, J. M.¹; Choeri, D. M.¹; Dias, C. R. P. S.¹; Laudier, A. A.¹; Teixeira, P. F.¹; Conceição, F. L.¹ ¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Descrever hiperparatireoidismo primário (HPT1) por adenoma de paratireoide com doença óssea grave associado à crise hipercalcêmica. Métodos: Relato de caso. Resultados: Sexo feminino, 39 anos, admitida com fratura no braço D e relato de náuseas, vômitos, anorexia, perda peso (12 kg), poliúria, fraqueza muscular proximal há dois meses associada à piora da lombalgia crônica. Palpava-se lesão endurecida (2 cm) cervical anterior D. Exames: ureia (103), Cr (1,7 e ClCr 45 ml/min), cálcio (21,4), P (6,4), Mg (0,8), Alb (3,7), FA (897), PTH (1338), CaU (653 mg/24hs e Vol. 2300 ml). US cervical: formação cística septada 3,2 x 2,5 cm polo inf. LD tireoide. Cintilografia Sestamibi: captação restrita ao nódulo. TC abdome: nefrolitíase + lesões líticas infiltrativas em arcos costais, corpos vertebrais, sacro ilíaco e cabeças femorais. TC coluna: múltiplas lesões líticas insuflantes L1, L4, L5. Cintilografia óssea: hipercaptação em crânio, arcos costais e ossos longos. RM encéfalo: lesões ósseas (occipital/ clivus) com efeito de massa comprimindo o cerebelo, tronco cerebral, IV ventículo e invadindo os seios paranasais. Conduta: hidratação venosa generosa + pamidronato + furosemida e depois paratireoidectomia inferior D + lobectomia D + istmectomia + esvaziamento ganglionar D. Congelação sugeria carcinoma de PT, mas histopatológico foi de adenoma de PT (lesão encapsulada, sem infiltração, sem mitoses, com focos de atipas em células oxifílicas). Apresentou hipocalcemia no pós-operatório e mantém cálcio. Discussão: Raros são os HPT1 com osteíte fibrosa e litíase renal, crise paratireóidea e paratireoide palpável, sendo fundamental, nesses casos, o diagnóstico diferencial com CA de paratireoide. Favorecem CA: hipercalcemia grave e PTH > 1.000 pg/ml, massa cervical e concomitância de manifestações renais e ósseas, mas o adenoma de células oxifílicas pode mimetizar as manifestações clínico-laboratoriais do CA. Nos carcinomas, recomenda-se ressecção em bloco com remoção do tecido tireoideano adjacente diferentemente do HPTH (adenoma) em que a paratireoidectomia é suficiente. Conclusão: Descrevemos caso muito grave e raro de HPT1, causado por adenoma de paratireoide, com excelente evolução clínica e radiológica. 228 HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO CLÁSSICO DIAGNOSTICADO APÓS INVESTIGAÇÃO DO SINTOMA DE FRAQUEZA MUSCULAR: RELATO DE CASO Mariosa, L. S. S.¹; Araújo, M. F. A.¹; Toniolo, J. V.¹; Coelho, C. A. R.¹; Steck, J. H.¹; Camacho, E. L.¹; Theodoro, C. S.¹; Santos, R. A.¹ ¹ Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (HMMG), Serviço de Medicina Nuclear de Pouso Alegre, Corpus Imagens de Pouso Alegre, Pouso Alegre, MG, Brasil Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma paciente com diagnóstico de hiperparatireoidismo primário devido a um adenoma de paratireoide enfatizando a importância da avaliação dos valores de cálcio (Ca) plasmático durante a investigação de um quadro de fraqueza muscular e após o diagnóstico de osteoporose. Métodos: O relato de caso foi realizado por meio dos dados obtidos após diagnóstico e tratamento da paciente. Resultados: Paciente de 51 anos, feminina, relatava diminuição da força muscular há 18 meses com investigação neurológica prévia e biópsia muscular compatível com mio- patia inespecífica. Durante a investigação foi realizada uma tomografia computadorizada de tórax que evidenciou formação nodular sólida expansiva no mediastino superior, inferiormente à glândula tireoide, medindo 4 x 2 cm e com vascularização intensa em seu interior confirmada ao ultrassom cervical. A tireoide apresentava dimensões normais com pequenos cistos coloides. A paciente relatava osteoporose em uso de alendronato, carbonato de Ca e colecalciferol e, ao exame físico, apresentava hipertensão arterial. Em nosso serviço, foi confirmado diagnóstico de hiperparatireoidismo primário (Ca total plasmático: 13,2 mg/dL, fósforo plasmático: 1,9 mg/dL e paratormônio (PTH): 1.168 pg/mL). A cintilografia das paratireoides com sestamibi evidenciou uma área focal de hipercaptação na projeção inferior do lobo da tireoide que se manteve nas imagens de 3 horas. Exames evidenciaram creatinina: 1,5 mg/dL, 25-OHD: 19,2 ng/mL e presença de microcálculos renais bilaterais. A paciente foi submetida à paratireoidectomia e o exame anatomopatológico foi compatível com adenoma de paratireoide. A paciente evoluiu com hipocalcemia no pós-operatório e usou carbonato de cálcio, calcitriol e colecalciferol. Houve desaparecimento da queixa de fraqueza muscular, melhora da massa óssea e diminuição progressiva dos valores de PTH (8 meses após cirurgia: PTH 87 pg/ mL). Discussão: Os adenomas de paratireoide são a principal etiologia do hiperparatireoidismo primário (HPTP). Atualmente, a maioria dos pacientes apresenta a forma assintomática do HPTP, entretanto, as doenças óssea e renal são as principais manifestações do HPTP clássico. A paciente estava em investigação diagnóstica há 18 meses devido à queixa de fraqueza muscular, mas já apresentava doença óssea e renal. Conclusão: A dosagem do Ca plasmático deve ser realizada sempre para esclarecimento da etiologia da osteoporose e durante a investigação de sintomas neuromusculares como fraqueza e miopatia proximal. 229 HIPOCALCEMIA INCOMUM: RAQUITISMO DEPENDENTE DE VITAMINA D TIPO I Santos, L. M.¹; Ramalho, M. C. B.¹; Vale, A. M. C.¹; Marocco, T.¹; Oliveira, T. P.¹; Ayelo, T. P.¹; Portes, E.¹ ¹ Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever caso clínico de hipocalcemia devido raquitismo por deficiência de vitamina D de causa genética. Métodos: Paciente do sexo masculino, 40 anos, procurou o pronto-socorro por parestesias em membros superiores e inferiores há quatro meses. Com história pregressa de hipocalcemia e convulsão desde a infância. História familiar de irmão com hipocalcemia, com deformidades ósseas e morte aos 29 anos. Paciente fazia uso de bifosfonato um comprimido ao dia e cálcio na dose de 1.000 mg ao dia. Ao exame físico: peso = 51 kg, estatura = 1,59 cm, sem sinais de Chvostek ou Trousseau, sem deformidades ósseas e sem alterações dentárias. Resultados: Apresentava os seguintes exames: cálcio total = 5,3 mg/dL (8,3 - 10,2), cálcio iônico = 0,53 mg/dL (1,11 - 1,33), albumina = 3,9 g/L (3,5 - 4,5), PTH = 124 pg/dL (12 - 72), 25 (OH) vitamina D = 35 ng/dL(> 30 ), 1,25 (OH) vitamina D = 35 pg/ml (18 - 78), clearance de creatinina = 130 ml/min/1,73 m² e cálcio urinário = 16 mg/24 h (54 - 250). Feita a hipótese de hipocalcemia por deficiência da enzima 1 α-hidroxilase. Retirado o bifosfonato e, com o uso de calcitriol e carbonato de cálcio, o paciente obteve a normalização da calemia. A densitometria óssea se apresentou sem alterações, assim como a tomografia de crânio e o ultrasson de vias urinárias. Discussão: O raquitismo é uma doença óssea caracterizada pela diminuição da mineralização da placa epifisária de crescimento e a osteomalacia é caracterizada pela diminuição da mineralização do osso cortical e trabecular, com acúmulo de tecido S281 Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos osteoide não mineralizado ou pouco mineralizado. Após o fechamento da cartilagem epifisária, apenas a osteomalacia permanece. A etapa final da produção da vitamina D ativa é a 1 α-hidroxilação da 25 (OH) vitamina D para 1,25 (OH)2 vitamina D. O PTH e a hipofosfatemia são os principais estimuladores dessa enzima, enquanto o cálcio e seu produto a inibem. A principal causa de deficiência dessa enzima é a insuficiência renal, que este paciente não apresentava, levando-nos a acreditar em herança genética. Conclusão: O raquitismo dependente de vitamina D tipo I é devido a uma mutação no gene da enzima 1 α-hidroxilase (12q 13), de herança autossômica recessiva, que se apresenta no primeiro ano de vida com raquitismo, osteomalacia e convulsões. A mutação desse gene constitui a base molecular do distúrbio e, como esperado, doses fisiológicas de calcitriol resultam em remissão da doença. 230 HIPOPARATIREOIDISMO COM CALCIFICAÇÕES EM GÂNGLIOS DA BASE E CONFUSÃO MENTAL AGUDA 22 ANOS APÓS TIREOIDECTOMIA Hatanaka, T. S.¹; Terasaka, F.¹; Terra, E.¹; Bianchini, G.¹; Isaac, L.¹; Datilo, C.¹; Corrêa, R.¹; Padula, F.¹ ¹ Hospital Ipiranga (HI), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso de HP com complicações neurológicas se manifestando 22 anos após tireoidectomia parcial por bócio multinodular. Métodos: O hipoparatireoidismo (HP) pós-cirúrgico é a principal causa de HP e pode evoluir com hipocalcemia crônica oligossintomática, retardando por anos o diagnóstico, com surgimento de manifestações neurológicas tardias. Os sintomas da hipocalcemia aguda estão relacionados com aumento da excitabilidade neuronal: câimbras, parestesias, sinais de Trousseau e Chvostek, mialgia, fraqueza muscular, arritmias, insuficiência cardíaca, em casos mais graves tetania e convulsões. Esses sintomas podem não estar presentes nos casos crônicos. Calcificações em núcleos da base decorrentes da hipocalcemia se apresentam com parkinsonismo, demência ou estados confusionais agudos. Os quadros neurológicos centrais são comuns na hipocalcemia do HP idiopático e considerados raros na forma pós-cirúrgica. Eaton et al. hipotetizaram que haveria deposição de cristais de cálcio secundária a processo degenerativo do sistema extrapiramidal. O tratamento com cálcio e vitamina D ao restabelecer a calcemia pode reverter ou estabilizar as manifestações neurológicas. Resultados: T. J.C.S., 82 anos, internada devido a confusão mental e desvio de rima para direita. Antecedente de tireoidectomia parcial em 1980 devido a bócio multinodular, não evoluindo com hipotireoidismo ou complicações pós-operatórias. Nunca fez reposição de levotiroxina. Ao exame físico, paciente se apresentava confusa, sem déficits motores, reflexos patelares bilateralmente diminuídos, Babinski positivo, Chvostek e Trousseau ausentes. TC crânio da admissão: calcificações simétricas em região capsular nuclear, em putâmen, cabeça do núcleo caudado e tálamo bilateralmente. Laboratório: cálcio 4,5 mg/dL, PTH 4,5 pg/ ml, TSH e T4 livre normais. Realizada hipótese de HP secundário ao pós-operatório tardio e iniciada reposição de cálcio e vitamina D com reversão do quadro confusional. Discussão: HP pós-cirúrgico permanente com calcificações em núcleos da base e manifestações neurológicas e raro na literatura. Pode ser assintomático por anos, com início tardio de demência, estado confusional agudo ou parkinsonismo. Conclusão: Relatamos o caso de uma paciente com confusão aguda e hipocalcemia grave cujo antecedente era tireoidectomia parcial há 22 anos. A clínica neurológica geralmente reverte com reposição de cálcio e vitamina D, como o ocorrido com nossa paciente. S282 231 HIPOPARATIREOIDISMO EM PACIENTE IDOSO Gonçalves, N. C.¹; Fonseca, E. C. R.¹; Borges, M. F.¹; Lara, B. H. J.¹; Ribeiro, F. A.¹; Sousa, G. R. V.¹; Josahkian, J. A.¹ ¹ Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: Apresentar um caso raro de hipoparatireoidismo diagnosticado em paciente idosa. Métodos: Revisão de prontuário e levantamento bibliográfico. Resultados: Mulher, 76 anos, deu entrada no Pronto-Socorro da UFTM no dia 31/1/2011 com queixa de astenia há aproximadamente 1 mês, com dois episódios de síncope. Paciente portadora de HAS, hipotireoidismo e catarata. Ao exame físico de entrada, apresentava-se prostrada, desidratada, com ritmo cardíaco regular, FC: 52 bpm, ausculta pulmonar normal, presença de bexigoma, tempo de enchimento capilar maior que 5 segundos e ausência de cicatriz cirúrgica em região cervical. Aventada hipótese de insuficiência cardíaca perfil C. Os exames complementares da paciente mostraram ureia: 275,8; creatinina: 5,62; Ca total: 2,92 (V.R.: 8,8 a 10,2); P: 20,78; hormônios tireoidianos normais; anti-TPO e anti-TG negativos; raio X de tórax com cardiomegalia grau IV e ECG com ritmo sinusal e intervalo QT aumentado. Colhido PTH com resultado de 3 pg/ml (V.R.: 10 a 60 pg/ml), repetido o exame e obtido o mesmo resultado. Feito diagnóstico de hipoparatireoidismo, iniciado gluconato de cálcio EV e após, carbonato de cálcio e calcitriol. A paciente evoluiu com melhora dos sintomas, aumento dos níveis de cálcio, diminuição dos níveis de fósforo, níveis de escórias nitrogenadas normais e silhueta cardíaca normal ao raio X de tórax. Foram descartados, durante internação e acompanhamento ambulatorial, hipoparatireoidismo póscirúrgico, hemocromatose, doença de Wilson, neoplasias e depleção ou excesso de magnésio. Discussão: Em revisão da literatura, Hurley et al. já descreveram, em 2002, o caso de um paciente de 73 anos que chegou ao departamento de emergência com insuficiência cardíaca induzida por hipocalcemia secundária a hipoparatireoidismo primário idiopático, semelhante ao caso em questão. Johnston et al. também descreveram, em 2008, um caso de hipoparatireoidismo diagnosticado na idade adulta (mulher, 29 anos). Apesar de a paciente deste estudo ter sido assintomática até os 29 anos, o estudo FISH desta revelou uma deleção no cromossomo 22q11.2, revelando, então, o diagnóstico de síndrome Di George. Conclusão: Diante da exclusão das outras causas, a nossa paciente ficou com as seguintes hipóteses diagnósticas: hipoparatireoidismo idiopático ou hipoparatireoidismo secundário a síndrome Di George ou síndrome poliglandular autoimune (APS) tipo IV (associação de duas ou mais doenças autoimunes, com padrão diferente da APS-1, 2 ou 3). 232 HIPOPARATIREOIDISMO EM PACIENTES BARIÁTRICOS: RELATO DE CASO Bergamim, A. A. C.¹; Panazzolo, D. G.¹; Pires, B. P.¹; Braga, T. G.¹; Almeida, H. G.¹; Maranhão, P.¹ A.¹; Aguiar, L. G. K.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia Policlínica Piquet Carneiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Alertar sobre os riscos da tireoidectomia total em sujeitos submetidos à cirurgia bariátrica. Métodos: Utilizada como referencial teórico revisão bibliográfica sobre cirurgia bariátrica e sua associação com o metabolismo do cálcio e da vitamina D. Resultados: N.F.B.F., sexo feminino, 35 anos, obesa (IMC = 43,5 kg/m²) com síndrome metabólica e em tratamento para HAS e dislipidemia. Relatava tireoidectomia parcial por nódulo e tinha função tireoidiana normal. USG tireoidiana: ausência do LD e nódulo sólido, hipoecoico, de 29 x 17 x 16 mm com vascularização periférica (Chammas III) no LE. Após dois anos de terapia clínica sem sucesso para obesidade, foi submetida à bypass gástrico em Y de Roux, com perda progressiva do peso e melhora dos parâmetros metabólicos. Nove meses após a cirurgia, nova USG evidenciou aumento do nódulo (45 x 20 x 21 mm) e PAAF mostrou tumor de células foliculares, sendo então realizada lobectomia E (anatomopatológico: adenoma folicular). No pós-operatório imediato, apresentou sintomas de hipocalcemia, necessitando de gluconato de cálcio EV. Quinze dias após a alta, encontrava-se em uso de calcitriol 0,75 mcg/d e 4.000 mg/d de carbonato de cálcio, porém persistia com sinais e sintomas de hipocalcemia. Cálcio sérico total era 5,9 mg/dL (8,4-10), cálcio difusível 2,7 mg/dL (4,5-5,2) e 25OHvitD3 76,6 mcg/L (30-80). Apesar da troca e do aumento das doses das medicações, como citrato de cálcio 11.000 mg/d, colecalciferol 12.000U/d e calcitriol 2 mcg/d, a paciente mantinha cálcio difusível = 3,7 mg/dL, fósforo = 4,1 mg/dL (2,5-4,5) e sintomas de hipocalcemia. Optamos por orientar exposição solar em torno de 20 min/dia, prescrever pancreatina na tentativa de melhorar a absorção intestinal e óxido de magnésio, para minimizar os sintomas neuromusculares. Após essas medidas, a paciente tornou-se assintomática, com cálcio difusível = 4,4 mg/dL, fósforo = 4,8 mg/dL, calciúria = 62,6 mg/24h (50-250), fosfatúria = 405 mg/24h (340-1.300) e creatinúria = 1.095 mg/24h (800-1.800). Discussão: Tireoidectomia é um procedimento comumente realizado com baixo índice de complicações. Embora as estatísticas na literatura variem amplamente, 10% dos pacientes evoluem com hipocalcemia no pós-operatótio imediato e 1% desenvolve hipoparatireoidismo permanente. O caso ilustra as dificuldades na gestão de paciente submetida à cirurgia disabsortiva com concomitante hipoparatireoidismo. Conclusão: O hipoparatireoidismo pode ser de difícil controle em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. 233 INFLUÊNCIA DO STATUS DE VITAMINA D NA ABSORÇÃO INTESTINAL DE ESTRÔNCIO Vilaça, T.¹; Camargo, M.¹; Rocha, O. G. F.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Setor de Doenças Osteometabólicas, Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM), Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), São Paulo, SP, Brasil Introdução: O estrôncio (Sr) e o cálcio são metais alcalinos terrosos com múltiplas semelhanças. Estudos sugerem que ambos utilizam a mesma via de absorção intestinal. Extensa investigação já foi realizada sobre os fatores que regulam a absorção intestinal de cálcio, destacando-se o papel da vitamina D, entretanto pouco se sabe sobre a regulação da absorção de estrôncio. Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do status de vitamina D na absorção intestinal de estrôncio. Métodos: Vinte e cinco pacientes deficientes em vitamina D (níveis 30 ng/mL) foram submetidas a teste de sobrecarga oral de Sr. Após coleta de exames para avaliação inicial em jejum, cada paciente recebeu 1 g de ranelato de estrôncio dissolvido em 200 mL de água deionizada. A seguir, foram colhidas amostras para dosagem sérica de estrôncio após 30, 60, 120 e 240 minutos. As 25 pacientes deficientes em vitamina D foram tratadas e submetidas a novo teste após alcançarem níveis maiores que 30 ng/mL. A absorção intestinal de Sr foi avaliada por meio da fração absorvida (FA) em cada tempo e da área total sob a curva concentração de Sr x tempo (ASC). A fórmula: FA = {(Sr t- Sr0) x 15% peso} / Dose administrada de Sr foi utilizada para cálculo da FA. Resultados: Os valores de FA ou ASC não foram diferentes entre deficientes ou suficientes. Nas pacientes deficientes tratadas, também não houve diferença na absorção de Sr antes ou após tratamento. Discussão: A absorção intestinal de cálcio pode ocorrer por intermédio de dois mecanismos: um processo ativo, dependente de vitamina D que ocorre predominantemente no duodeno, e outro passivo, regulado pelo gradiente de concentração ao longo de todo o intestino delgado. A via ativa predomina em indivíduos jovens e naqueles com dieta pobre em cálcio. Vários autores já descreveram queda da absorção intestinal de cálcio a partir de 55-60 anos. Também já foi demonstrada diminuição da absorção ativa em pacientes com dieta rica em cálcio. Todas as pacientes avaliadas tinham idades acima de 55 anos e apresentavam aporte oral de cálcio adequado, via dieta ou suplementação, o que pode ter diminuído a importância do processo ativo dependente de vitamina D na absorção de cálcio e paralelamente de estrôncio, já que ambos utilizam as mesmas vias para absorção. Conclusão: O status de vitamina D não foi determinante na absorção intestinal de estrôncio. 234 INTRAOPERATIVE PTH CUTOFF DEFINITION TO PREDICT SUCCESSFUL PARATHYROIDECTOMY IN SECONDARY AND TERTIARY HYPERPARATHYROIDISM Ohe, M. N.¹; Kunii, S. I.¹; Abrahão, M.¹; Cervantes, O.¹; Neves, C. M.¹; Lazaretti-Castro, M.¹; Vieira, J. G. H.¹ ¹ Endocrinologia e Metabologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM), Cirurgia de Cabeça e Pescoço, São Paulo, SP, Brasil Objective: Several methods have been proposed in order to improve success rates in surgical treatment of secondary/tertiary hyperparathyroidism. We evaluated intraoperative PTH measurement (IO-PTH) as a tool to avoid missing glands. Methods: Eighty-six patients were submitted to total parathyroidectomy with intramuscular presternal autotransplantation from 4/2000 to 10/2009 and were followed for 26.5 months in average. Patients were divided in secondary (SHPT) and tertiary hyperparathyroidism (THPT). In the SHPT group, we included patients under dialysis treatment who presented severe hyperparathyroidism with normal or high serum calcium levels. Tertiary hyperparathyroidism group was composed by renal grafted patients with nonsuppressible parathyroid hyperplasia. IO-PTH (Elecsys-PTH-Immunoassay/Roche) was measured at anesthesia induction (IO-PTH 0’) and 20 minutes (IO-PTH 20’) after completion of parathyroidectomy. Results: Fifty-two were dialysis patients (29 female/23 male), aged 42.9 years on average (range: 14-64 years) and 34 were renal grafted patients (19 female/15 male), aged 43.5 on average (range: 24-63 years). IO-PTH 0’ was 1591.5 pg/mL on average (range: 3184659), and IO-PTH 20’ was 208.9 pg/mL on average (range: 29823) with 86% decrease on average (range: 67.8-93.5) among dialysis patients considered cured in the follow-up. Among the renal-grafted cured patients, IO-PTH 0’ was 540 pg/mL (range: 120-2515), and IO-PTH 20’ was 65 pg/mL (range: 13-329) with 87.3% decrease on average (range: 72.6-96.4). Discussion: Overall, 80.2% (69/86) presented 80% or more IO-PTH decrease 20 minutes after parathyroidectomy and all were cured. In 11 patients (12.7%), a marginal IO-PTH drop of 70-79% was observed, and 2 of them (18.1%) failed to cure. Six patients (6.9%) presented IO-PTH decrease less than 70%: 2 were considered cured; in 3 of the 6 patients, a supernumerary/ ectopic parathyroid was found and removed; and in 1 of the 6 patients, surgery finished after 4-gland excision and the patient failure to cure. Conclusion: The IO-PTH monitoring decrease of 80% or more from preoperative baseline predicts cure in all renal patients throughout follow-up. IO-PTH decay under 70% is in agreement with a missed or hyperfunctioning supernumerary gland and is predictive of surgical S283 Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos failure in 66.6%. The marginal IO-PTH drop of 70-79% leaves the decision whether or not the surgery should be continued up to the experienced surgeon. Metabolismo Ósseo 235 MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA E NO ESTADO NUTRICIONAL APÓS PARATIREOIDECTOMIA TOTAL EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA Silva, H. G. V.¹; Moreira, A. S. B.¹; Carmo, L. S.¹; Madeira, F. S.¹; Maya, M. C. A.¹ ¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivos: Avaliar e comparar o estado nutricional e a qualidade de vida antes e um ano após a cirurgia de paratireoidectomia total, em renais crônicos. Métodos: Estudo prospectivo envolvendo pacientes com hiperparatireoidismo secundário a IRC, em tratamento dialítico, avaliados antes e 1 ano após a PTx total seguida de autoimplante no antebraço portador da fístula arteriovenosa. A avaliação antropométrica: peso, altura, índice de massa corpórea (IMC = peso/altura²) e bioimpedância elétrica. Nesta, foi avaliado ângulo de fase (AF), como marcador de prognóstico da doença e a massa gorda. Todos tinham níveis de PTH elevados, antes da cirurgia. Avaliou-se a qualidade de vida por meio do questionário SF-36, numa escala que variou de 0 (zero), pior nota a 100 (cem). Análise estatística foi realizada utilizando o SPSS, teste de Mann-Whitney, Wilcoxon e Kruskal-Wallis. Resultados: Foram avaliados 24 pacientes, 16 mulheres (66,6%) e 8 homens (33,4%), com idade média de 44,22 ± 7,23 anos. Todos apresentavam dor óssea intratável e tinham níveis de PTH ≥ 1.000 mg/dl, justificando a PTx. Comparando os índices pré e pós-operatórios, observou-se aumento do peso (60,2 x 66,2 kg, p < 0,001) e do IMC (23,41 x 25,73 kg/m², p < 0,001), bem como do ângulo de fase 5,4 x 6,5 ° (p = 0,03) e da massa gorda (kg) 14,9 x 19,9 (p = 0,007), indicando melhora do estado nutricional. A redução do PTH (2.215,83 ng/mL x 64,78 ng/mL, p < 0,0001) e do cálcio sérico (9,78 x 8,19 mg/dL) aponta para uma redução do turnover ósseo. Houve também melhora significativa em todos os domínios do questionário SF-36, sendo mais significativa a mudança no domínio aspecto emocional (18,52 x 74,06, p < 0,001). Discussão: A diálise e o transplante renal mudaram a evolução e a qualidade de vida na insuficiência renal crônica (IRC), contudo, ainda que possibilitem maior sobrevida, persistem distúrbios do metabolismo ósseo, piora na qualidade de vida e no estado nutricional. Entretanto, a cirurgia pode minimizar esses efeitos, sendo indicada na doença avançada. Conclusão: A cirurgia de paratireoidectomia total seguida de autoimplante mostra-se uma opção vantajosa no tratamento dos pacientes com hiperparatireoidismo secundário à insuficiência renal crônica, favorecendo o ganho de peso, aumento no ângulo de fase e da massa gorda após a cirurgia. O procedimento também reduz o metabolismo ósseo, reduzindo o risco de fraturas patológicas, bem como melhora a qualidade de vida. 236 NEFROCALCINOSE ASSOCIADA A NORMOCALCEMIA E PTH ELEVADO: HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO OU HIPERPARATIREOIDISMO NORMOCALCÊMICO? Maia, J. M. C.¹; Amaral, L. M. B.¹; Almeida, C. B. S.¹; Lucena, C. S.¹; Bandeira, F.¹ ¹ Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas, Hospital Agamenon Magalhães (MS/SES/UPE), Recife, PE, Brasil Objetivo: O hiperparatireoidismo primário normocalcêmico (HPTPN) é caracterizado pela presença de níveis elevados de PTH sérico S284 associados à normocalcemia na ausência de outras causas de elevação do paratormônio. O diagnóstico é feito após exclusão de causas secundárias de elevação do PTH, como uso de lítio, tiazídicos, bisfosfonatos, deficiência de 25OH vitamina D e insuficiência renal. Não é consenso excluir HPTPN na presença de hipercalciúria, uma vez que a elevação da excreção urinária de cálcio de origem renal normalmente não resulta em elevação do PTH. Estudos recentes têm demonstrado que o HPTPN tem uma apresentação fenotípica variada, não sendo uma condição indolente, uma vez que pode cursar com osteoporose principalmente em osso cortical (15,2%) e nefrolitíase renal (18,2%) com frequência semelhante à forma hipercalcêmica, conforme comprovado em nossa casuística. A paratireoidectomia está indicada nos casos de hiperparatireoidismo hipercalcêmico, porém nos indivíduos com níveis normais de cálcio a exploração cirúrgica das paratireoides permanece controversa. Métodos: Caso clínico. Resultados: Paciente do sexo feminino, 67 anos, em acompanhamento no ambulatório de endocrinologia devido a diabetes e osteoporose. Durante exames de rotina de avaliação de osteoporose, foi evidenciado PTH: 95,6 pg/ mL, cálcio corrigido: 9,8 mg/dL, CTX: 0,359 ng/ml, calciúria de 24h: 392 mg/dia e 25 (OH) vitamina D: 24,7 ng/mL. Não fazia uso de lítio ou tiazídicos. DXA: L1-L4 = 0,705 g/cm² T-score = -4,0 DP; colo do fêmur = 0,762 g/cm² T-score = -2,0 DP; radio 33% = 0,788 g/cm² T-score = -1,1 DP. Ultrassonografia (USG) de região cervical não encontrou nódulos e cintilografia de paratireoide com sestamibi não evidenciou adenoma ou hiperplasia de paratireoide. USG de rins e vias urinárias e tomografia (TAC) confirmaram o diagnóstico de nefrocalcinose (TAC com rins tópicos de dimensões, forma e contornos preservados, notando-se densificações cálcicas na transição córticomedular bilateralmente). Conclusão: Este caso ilustra as dificuldades no diagnóstico de hiperparatireoidismo. 237 NÍVEIS SÉRICOS DE 25OHD3 E PTH SE CORRELACIONAM COM COMPONENTES TRADICIONAIS DA SÍNDROME METABÓLICA EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA Peters, B. S. E.¹; Martini, L. A.¹; Hayashi, L. F.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Ambulatório de Doenças Osteometabólicas, Disciplina de Endocrinologia, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Avaliar possíveis associações entre os níveis séricos de 25OHD3 e de PTH com componentes tradicionais da síndrome metabólica (SM) em pacientes com osteogênese imperfeita (OI). Métodos: Trinta (30) pacientes, 17 homens e 13 mulheres, 16 com OI tipo I e 14 com OI tipo III, com média de idade de 26,2 (10,8) anos de idade, foram selecionados de um ambulatório de fragilidades ósseas, entre 2010-2011. Foram avaliados peso, altura, índice de massa corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal do corpo total (%GC) por DEXA, pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), e exames bioquímicos (25OHD3, PTH, glicose de jejum, colesterol total, HDL-colesterol, triglicérides e insulina plasmática). Resultados: Da amostra, 3,3% apresentaram baixo peso, 40,0%, eutrofia, 30,0%, sobrepeso e 26,7%, obesidade. A pressão arterial estava elevada em 18,2% dos pacientes. Foi observado excesso de %GC em 66,7% dos indivíduos. Apenas 6,7% dos pacientes com OI apresentaram níveis elevados de colesterol total e 6,7%, de triglicérides. Todos os pacientes apresentaram níveis normais de glicemia de jejum (86,4 ± 8,8 mg/ dL) e de insulina plasmática (7,4 ± 4,9 μUI/mL). A média dos níveis séricos de 25OHD3 foi de 26,6 ± 7,6 ng/mL e de PTH foi de 43,1 ± 19,6 pg/mL. Considerando o valor de 30,0 ng/mL como ponto de corte para 25OHD3, 76,7% dos indivíduos apresentavam insuficiência de vitamina D. Apenas 10,0% dos pacientes apresentaram níveis de PTH sérico elevado. Não houve diferença estatística significativa nos parâmetros bioquímicos entre os pacientes com OI tipo I e tipo III. Houve correlação negativa significante entre a 25OHD3 e glicemia de jejum (r = -0,652; P = 0,03) na amostra total. Em pacientes OI tipo III, foi observada correlação negativa entre a 25OHD3 e a %GC (r = -0,566; p = 0,04) e correlação positiva entre o PTH sérico e a PAS (r = 1,0; p = 0,01). Conclusão: O presente estudo mostrou que tanto o excesso de peso e de gordura corporal quanto a insuficiência de vitamina D são prevalentes em pacientes com OI. As correlações realizadas neste estudo mostraram associação entre vitamina D e os níveis séricos de PTH com os componentes da SM, como a PA e a glicemia de jejum. 238 OSTEODISTROFIA DE ALBRIGHT OU PSEUDOHIPOPARATIREOIDISMO TIPO 1A Machado, S. C. M. P.¹; Faria, G. B.¹; Lameirinhas, T. S.¹; Rocha, E. T.¹; Campos, C. M.¹; Jurno, M. E.¹; Chevtchouk, L.¹ ¹ Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Associação dos Portadores de Diabetes de Barbacena (Assodibar), Barbacena, MG, Brasil Objetivo: Relatar um caso de pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1. Métodos: Relato de caso de paciente encaminhado ao ambulatório de endocrinologia pediátrica em decorrência de obesidade e diagnosticado com osteodistrofia de Albright. Resultados: Em 17/20/2002, D.C.D., 5a 8m, sexo masculino, foi encaminhado devido à obesidade. HPP: RN a termo, eutrófico. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Suspeita de miocardite viral há um ano e ICC (ECO com FE: 48%, VE aumentado), dispneia aos esforços e crises convulsivas frequentes. Em uso: aldactone, captopril, carbamazepina, ácido valproico. Exame físico: E: 118 cm; P: 30 kg; FC: 100 bpm; PA: 90 x 60 mmHg; BNF 3T sopro sistólico mitral. Crepitações grosseiras em ambos HT. Quarto metacarpo curto bilateral; edema MMII leve. Exames: glicemia: 108/TSH: 15,7/T4 livre: 0,70. Iniciadas levotiroxina (1,5 mcg\ kg\dia) e prednisona (5 mg/dia). Suspensos aldactone e captopril. Retorno em quatro meses com melhora do edema e da dispneia, mantendo-se irritada, crises convulsivas generalizadas, cãibras e parestesia em mãos e face. Cálcio: 5,6/P: 8,2/PTH: 377/TSH: 13/Ac Anti-TPO: < 10/Antitireoglobulina. Discussão: Osteodistrofia de Albright é um distúrbio genético no qual não há resposta dos tecidos-alvo ao PTH. Caracteriza-se clinicamente por baixa estatura, obesidade, calcificações cutâneas e braquidactilia. É causado pela perda de um alelo funcional do GNAS, gene que codifica a subunidade Gs alfa da proteína G. Pode levar à resistência a hormônios como TSH, FSH e LH. O diagnóstico se dá por hipocalcemia com elevação do fósforo e do PTH séricos e hipotiroidismo. Conclusão: Algumas manifestações do PHP podem ser transitórias durante épocas da vida e retroceder. O paciente apresentou altura final de 1,80 m e não teve resistência aos hormônios gonadotróficos. Os familiares estão em aconselhamento genético. 239 OSTEOMALACIA SECUNDÁRIA À SÍNDROME DE FANCONI INDUZIDA PELO USO DE TENOFOVIR (TDF) Conceição, F. L.¹; Blotta, F.¹; Laudier, A. A.¹; Teixeira, P. F.¹; Conceição, F. L.¹ ¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Apresentar um caso de osteomalacia secundária à síndrome de Fanconi induzida pelo uso de Tenofovir (TDF). Métodos: Relato de caso. Resultados: Sexo feminino, 42 anos, HIV + (Tenofovir +3TC + Lopinavir/ritonavir), apresentando dor e fraqueza muscular generalizada e amenorreia secundária há 3 anos, associados à deformidade de caixa torácica, fratura em galho verde e baixa massa óssea para idade (Z score -3.3 lombar e -4,2 fêmur). Ao exame: Pectus carinatum, acamada com membros espásticos e fletidos, cifoescoliose e redução de força muscular associada à hipertonia espástica. Exames: glicose 88, cálcio 8.5, P 1.2, K 4.0, Na 134, Mg 1,2, PTH 119, HCO3 17.1, fosfatase alcalina 1705, ácido úrico 1,0. EAS: pH 8.0; proteína +, glicosúria++. Urina 24H: proteína 1.444 mg/24h, B2 microglobulina urina 26, Nau 142, Ku 49, Pu 982, glicose u 2984. Conduta: troca TDF por abacavir, reposição de calcitriol, bicarbonato de sódio, citrato K e solução Jolie. Após seis meses, a paciente evoluiu com melhora importante da força muscular e do distúrbio hidroeletrolítico (P 2.7, HCO3 21, Mg 3.5, Ca 8.4). Discussão: A hipofosfatemia pode ser causada por baixa ingesta, redução da absorção intestinal, perda renal ou translocação para o intracelular. Os sinais e sintomas são inespecíficos e a maioria é assintomática, porém, quando grave, pode causar fraqueza muscular, disfunção miocárdica e rabdomiólise. A fração de excreção do fosfato > 15% confirma o diagnóstico de hiperfosfatúria e pode estar relacionada ao hiperparatireoidismo primário ou secundário, perda renal primária, uso de diurético, osteomalacia oncogênica, raquitismo hipofosfatêmico, displasia fibrosa e SF. Entre as causas adquiridas dessa síndrome, está o uso de medicação, em que há defeito generalizado na função túbulo proximal levando a perda renal de aminoácido, glicose, fosfato, bicarbonato, ácido úrico, magnésio e vitamina D. SF relacionada ao TDF é considerada uma doença rara e a taxa de nefrotoxicidade é de 0,3%-2%. Rastreio deve incluir fosfato sérico e relação proteinúria/creatinúria (amostra). A nossa paciente, além de ter SF, parece apresentar deficiência de vitamina D tanto relacionada à baixa exposição solar quanto à perda de 25OH vitamina D no túbulo proximal/redução de 1α hidroxilase pela disfunção tubular. Conclusão: TDF é uma medicação altamente efetiva no tratamento do HIV e a SF é rara com o uso dessa medicação, porém devemos estar atentos quando associada à hipofosfatemia. 240 PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE UMA SÉRIE DE CASOS DE CARCINOMA DE PARATIREOIDE Aum, P. M. P.¹; Scalissi, N. M.¹; Maeda, S. S.¹; Magno, G. M.¹; Souza Júnior, J. A.¹; Guardia, V. C.¹; Mendes, R. E. S.¹; Freire, A. C. T. B.¹ ¹ Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, Irmandade da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever cinco casos de pacientes com diagnóstico de carcinoma de paratireoide acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Métodos: Avaliamos quadro clínico inicial, exames laboratoriais, densitometria óssea, ultrassonografia de aparelho urinário e métodos localizatórios da glândula hiperfuncionante (ultrassonografia cervical e cintilografia de paratireoide). Resultados: Em nossa casuística, três pacientes eram do sexo feminino e 2, do sexo masculino, apenas uma com idade inferior a 40 anos. Com relação ao quadro clínico, nenhum paciente era assintomático. Todos apresentavam osteoporose ao diagnóstico, sendo que três tinham fraturas. Três apresentavam concomitância da doença óssea e renal. Todos tinham concentrações bastante elevadas de paratormônio, excedendo 1.000 pg/mL. A calcemia variou entre 10,6-14,7 mg/ dL. A ultrassonografia e a cintilografia localizaram a glândula hiperfuncionante em cem por cento dos casos, em todos com concordância entre os dois exames. Todos foram submetidos a tratamento cirúrgico. O anatomopatológico confirmou o diagnóstico de carcinoma de paratireoide, com tamanho tumoral variando de 2,3-4 cm. Apenas uma pa- S285 Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos ciente apresentou persistência/recorrência da doença com necessidade de radioterapia e novas abordagens cirúrgicas. Discussão: Carcinoma de paratireoide é uma malignidade rara, representando menos de 1% dos casos de hiperparatireoidismo primário. A forma assintomática é bastante infrequente devido à gravidade do hiperparatireoidismo, como encontrado em nossos pacientes. Os métodos de imagem são úteis em localizar a doença, porém não confirmam a malignidade. O tratamento recomendado é a ressecção completa tumoral, que oferece as melhores chances de cura. Conclusão: O prognóstico do carcinoma de paratireoide é bastante variável, e nenhuma característica permite predizer como será a evolução da doença. O diagnóstico precoce e a completa ressecção do tumor com margem de segurança na ocasião da cirurgia inicial implicam melhor prognóstico. 241 PERFIL OSTEOMETABÓLICO DE UMA AMOSTRA DE INDIVÍDUOS LONGEVOS DA COMUNIDADE: RESULTADOS PRELIMINARES Foroni, M. Z.¹; Cendoroglo, M. S.¹; Peters, B. S. E.¹; Moreira, P. F. P.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever o nível de 25-hidroxivitamina D (25OHD) e densidade mineral óssea (DMO) de indivíduos longevos da comunidade. Métodos: Setenta e cinco indivíduos longevos (idade média 88,1 ± 5,1 anos, 65% mulheres) foram selecionados a partir de uma amostra de residentes na comunidade. A DMO foi medida com absorciometria por dupla emissão de raios X (Hologic). Os níveis séricos de 25OHD foram medidos por ensaio de quimioluminescência (Diasorin). Resultados: O peso médio foi de 62,1 ± 12,3 kg, altura média de 154,3 ± 8,9 cm e a média de índice de massa corporal (IMC) foi de 26,0 ± 4,1. Baixo peso foi observado em 18,7% dos indivíduos e 41,3% apresentavam sobrepeso e obesidade. A média da DMO da coluna lombar foi 0,938 ± 0,232 g/cm² (T escore -1,1 ± 2,0), com 32% classificados como osteopenia e 26,7%, como a osteoporose. A DMO média do colo de fêmur foi de 0,660 ± 0,135 g/cm² (escore T -1,8 ± 1,0), com 52% classificados como osteopenia e 29,3%, como osteoporose. A DMO média do fêmur total foi de 0,754 ± 0,140 g/cm² (escore T -1,6 ± 1,0), com 54,7% classificados como osteopenia e 18,7% como a osteoporose. O nível sérico médio de 25OHD foi 19,2 ± 10,7 ng/ml. Apenas 13,3% dos indivíduos apresentaram níveis ideais de 25OHD (≥ 30 ng/ml), 73,4% apresentaram insuficiência de 25OHD (10-30 ng/ml) e 13,3% apresentaram deficiência de 25OHD. Discussão: A amostra teve uma alta prevalência de obesidade e sobrepeso e insuficiência e deficiência de 25OHD. A maioria teve DMO da coluna lombar normal e osteopenia em colo de fêmur e fêmur total. Apenas 39% apresentaram osteoporose em pelo menos um sítio. Como descrito na literatura, idade e peso foram determinantes da DMO. Conclusão: Indivíduos longevos residentes em comunidade participantes da amostra deste estudo são predominantemente mulheres, com sobrepeso ou obesidade e osteopenia em pelo menos um sítio. 242 RADIOFREQUENCY ABLATION OF PULMONARY METASTASES IN PARATHYROID CARCINOMA: AN ALTERNATIVE THERAPY FOR SEVERE REFRACTORY HYPERCALCEMIA Lourenço Junior, D. M.¹; Hoff, A. O.¹; Alcantara, A. E. E.¹; Teixeira, C. H.¹; Martin, R. M.¹; Pedro Corrêa, H. S.¹; Menezes, M.¹ ¹ Division of Endocrinology (LIM 25 and 42), Hospital das Clínicas, Cancer Institute of São Paulo State, Division of Oncology, Radiology and Endocrinology, University of São Paulo School of Medicine (USP), São Paulo, SP, Brazil S286 Objective: Parathyroid carcinoma (PCA) is a rare disease accounting for 0.005% of all malignances and less than 2% of primary hyperparathyroidism (HPT) cases. HRPT2 gene mutations play a central role in the pathogenesis of parathyroid carcinoma and are observed not only in sporadic but also in familial cases. Parathyroid carcinoma is an aggressive disease associated with significant morbidity and mortality. Patients present with severe hypercalcemia, renal insufficiency and debilitating bone manifestations including fractures and brown tumors. Surgery is the main treatment but unfortunately recurrent disease is extremely common. With the goal of disease control and improvement of hypercalcemia, the treatment of metastatic PCA includes surgery of metastatic lesions, bisphosphonates, radiotherapy, chemotherapy and calcimimetics. Despite a multidisciplinary approach, death from uncontrolled hypercalcemia is common. Recently, radiofrequency ablation of metastatic PCA has been proposed as an alternative approach to control disease. Methods: In this report, we describe 3 patients with metastatic parathyroid carcinoma that failed conventional therapy and underwent radiofrequency ablation of pulmonary lesions. All patients had severe hypercalcemia resistant to hydration, calcitonin and zoledronic acid. One patient was treated with cinacalcet but failed to tolerate it. All patients had multiple bilateral pulmonary metastases not amenable for surgery. Severe bone disease (fractures, brown tumors) was observed in two cases and the last presented recurrent pancreatitis. Results: Pre-procedure serum calcium ranged from 14.8 mg/dL to 19.3 mg/dL and serum PTH ranged from 1,519 pg/mL to 6,118 pg/mL. Radiofrequency ablation was performed in at least two steps to treat lesions from both lungs. Normalization of serum calcium and significant reduction of PTH was observed in all 3 patients. Information on long-term control is available in 1 patient who remained stable for 7 months when a repeat ablation was performed and resulted in calcium normalization and disease control for another 8 months. The other 2 patients were recently treated. Conclusion: Radiofrequency ablation of metastatic parathyroid carcinoma to lungs is an alternative approach to control refractory hypercalcemia. 243 CARCINOMA DE PARATIREOIDE E FOME ÓSSEA: RELATO DE CASO Martins, C. M.¹; Orlandi, D. M.¹; Valle, L. A.¹; Ohe, M.¹; Santos, R.¹; Lazaretti-Castro, M.¹; Vieira, J. G.¹; Janovsky, C.¹ ¹ Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O presente artigo descreve o relato de dois pacientes com carcinoma de paratireoide que evoluíram com hipocalcemia grave após ressecção cirúrgica e revisa aspectos clínicos da fome óssea (FO). Métodos: Os pacientes em questão apresentavam valores intensamente elevados de cálcio iônico sérico (1,9 e 2,1 mmol/L; referência 1,2 a 1,4 mmol/L) e de PTH (2.800 e 1.394 pg/ml, respectivamente; referência 10 a 65 pg/mL) associado à doença óssea e à presença de nódulo cervical palpável ao diagnóstico. Ambos foram submetidos à paratiroidectomia, sendo que um evoluiu com metástases pulmonares. Resultados: Hipocalcemia importante foi observada após a paratiroidectomia em um paciente e somente após remoção cirúrgica das metástases pulmonares em outro. Ambos necessitaram de reposição endovenosa de cálcio, revelando, assim, o estado de fome óssea (FO). Discussão: O carcinoma de paratireoide é a neoplasia maligna mais rara da endocrinologia (0,005% de todos os cânceres), de alta reorrência e difícil controle. Manifesta-se por hiperparatireoidismo primário, e o tratamento é exclusivamente cirúrgico. A presença da FO usualmente reflete rápida mineralização óssea após correção do hiperparatiroidismo; assim, quanto mais severa a doença óssea prévia à cirurgia, maior será a FO observada no pós-operatório desses pacientes, necessitando de reposição endovenosa de cálcio e altas doses de vitamina D via oral. Conclusão: Embora inicialmente considerada um evento indesejável, a FO representa a bem-sucedida remoção cirúrgica do tecido paratiroideano hipersecretor. Fome óssea deve ser esperada no pós-operatório do tratamento cirúrgico bem-sucedido do carcinoma de paratireoide. 244 HIPERCORTISOLISMO CRÔNICO COMO FATOR DESENCADEANTE DE OSTEOPOROSE EM MULHER JOVEM: RELATO DE CASO Magalhaes, P. L. D.¹; Garcia, M. C.¹; Rezende, T. F. R.¹; Lima, L. R. M.¹; Vieira, J. E. M. L.¹; Noronha, M. V. J.¹ ¹ Hospital Regional do Paranoá (HRPa), Brasília, DF, Brasil Objetivo: Relatar o caso clínico de uma paciente jovem com osteoporose secundária ao uso crônico de corticoides. Métodos: Relato de caso de uma paciente procedente do Hospital Regional do Paranoá. Resultados: T.P.J., 46 anos, sexo feminino, negra, procedente do Paranoá-DF, iniciou acompanhamento no Centro de Saúde do Paranoá em abril/2007 com quadro de hanseníase associada à reação hansênica tipo 1 e tipo 2. Iniciado uso de prednisona para tratamento e controle da reação hansênica. Após esquema adequado para o tratamento da hanseníase durante 12 meses e cura da doença, a paciente permaneceu em uso de altas doses de prednisona devido à persistência da reação hansênica. Em 2011, evoluiu com quadro de dor lombar de padrão mecânico. TC de coluna lombossacra evidenciou osteopenia difusa, redução da altura de múltiplos corpos vertebrais, sobretudo de T12, L1, L2 e L4, com colapso do corpo vertebral e redução do diâmetro ântero-posterior do canal em L1/L2. Após o diagnóstico de osteoporose secundária, foi iniciado o tratamento com alendronato e carbonato de cálcio. Discussão: O hipercortisolismo crônico é a causa mais frequente de osteoporose secundária. Os glicorticoides provocam alterações na remodelação óssea, levando à redução principalmente da massa mineral trabecular e ao aumento de fraturas. Ainda não se sabe o mecanismo causador da osteoporose nessas situações. O tratamento de pacientes com reação hansênica é feito com o uso de glicocorticoides em altas doses e por tempo prolongado. Isso pode desencadear efeitos sistêmicos no organismo do paciente. Entre eles está a osteoporose secundária. Faz-se necessária, quando há a previsão do uso crônico do medicamento, a prevenção dessa enfermidade por meio da reposição de cálcio. Conclusão: O uso de crônico de glicocorticoides pode atuar como fator desencadeante de osteoporose. Sendo assim, são necessários o uso racional desses medicamentos e a prevenção de osteoporose secundária em situações que exijam o uso prolongado dos corticoides. 245 REPERCUSSÕES DA SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NA FUNÇÃO PULMONAR DE MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS SUBMETIDAS A EXERCÍCIOS AQUÁTICOS Santos, R. N.¹; Pfrimer, L. D. F. M.¹; Bocalini, D. S.¹; Fronza, F. C. A. O.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Departamento de Medicina, Disciplina de Endocrinologia e Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM); Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (EEFE-USP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A vitamina D está associada a diversos processos biológicos, incluindo a função pulmonar. No entanto, não estão claros na literatura quais os efeitos da suplementação com vitamina D sobre a função pulmonar de mulheres após a menopausa. Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da suplementação de vitamina D e exercícios aquáticos (EA) sobre os parâmetros da função pulmonar (FP) em mulheres pós-menopausadas. Métodos: Noventa e sete mulheres (59,44 ± 6,57 anos) foram randomizados em três grupos: Controle (C, n = 10): sem a suplementação de vitamina D e exercícios físicos; destreinado e vitamina D (D, n = 33): suplementação (1.000 UI de vitamina D3/dia) por seis meses e sem exercícios físicos. Treinado e vitamina D (T, n = 54): suplementação (1.000 UI de vitamina D3/dia), mais exercícios aquáticos (50 min, três vezes por semana). Foram analisados antes e depois de seis meses do estudo: o conteúdo sérico de 25-hidroxivitamina D (25OHD) por radioimunoensaio (Diasorin®), o pico de fluxo expiratório (PFE), a capacidade vital forçada (CVF) e o volume expiratório forçado no 1o segundo (VEF1) por meio da espirometria portátil (one flow). A cirtometria (CT) foi utilizada para verificar a expansibilidade do tórax. Os resultados expressos em média ± erro-padrão foram analisados pelo teste t de Student e ANOVA One-way com post-hoc de Tukey quando apropriado. Resultados: Não foram identificadas diferenças (p > 0,05) em todos os parâmetros antes do início do protocolo. Contudo, após seis meses, aumentos significativos nas concentrações de 25OHD foram encontrados nos grupos D (Antes: 52,6 ± 3, Depois: 67,5 ± 2,5; nmol/L) e T (Antes: 52,8 ± 3, Depois: 69,8 ± 4; nmol/L). Os valores de % de mudança dos parâmetros PFE e CVF da FP, nos grupos D (7 ± 2%; 7 ± 2%) e T (11 ± 2%; 10 ± 2%) não diferiram entre si, contudo, foram superiores (p < 0,001) ao C (-3 ± 2%; -5 ± 3%). Entretanto, os valores do VEF1 dos grupos C (-3 ± 1%), D (3 ± 2%) e T (2 ± 1%) não diferiram (p > 0,05) entre si. Os valores da CT do grupo T (43 ± 3%) foram significativamente (p0,05) entre si. Discussão: Estudos têm apontado a ação da vitamina D sobre o tecido pulmonar, contribuindo para sua remodelação e propriedades elásticas. Conclusão: Nossos dados sugerem que a suplementação de vitamina D melhora os parâmetros da função pulmonar em mulheres na pós-menopausa, mesmo sem a prática de atividade física regular. Adicionalmente, os exercícios aquáticos propiciaram aumento na expansibilidade torácica no grupo treinado. 246 SARCOPENIA: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA NO SUL DO BRASIL Beck, M. O.¹; Santos, K. R.¹; Cerezer, L. G.¹; Tierno, S. A.¹; Muradás, R. R.¹; Lampert, M. A.¹; Premaor, M. O.¹ ¹ Hospital Universitário de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM), Santa Maria, RS, Brasil Introdução: A diminuição da massa muscular faz parte do envelhecimento normal. Todavia, a diminuição excessiva dessa massa, sarcopenia, está associada a síndrome de fragilidade do idoso e grande morbidade. O objetivo de nosso estudo foi avaliar a prevalência de sarcopenia em uma cidade do sul do Brasil. Métodos: Um estudo de transversal foi realizado em mulheres jovens (idade entre 20 a 40 anos) pertencentes à comunidade do bairro Camobi, Santa Maria (RS), e suas familiares idosas (idade ≥ 60 anos). A medida da composição corporal foi realizada por densitometria (Lunar Progity Pro, GE Healthcare). Sarcopenia foi definida conforme os critérios de Baumgardner [média (- 2DP) da massa magra/altura*altura] e Newman [critério de Baumgardner utilizando o percentil 20 e percentil 20 dos resíduos de uma regressão linear incluindo massa magra, altura e massa gorda]. O estudo foi aprovado pelo CEP-UFSM e todas voluntárias preencheram TCLE. Resultados: No total foram incluídas no estudo 39 mulheres S287 Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos Metabolismo Ósseo Trabalhos Científicos jovens e 65 mulheres idosas. A prevalência de sarcopenia utilizando-se o ponto de corte definido por Baumgardner (limite inferior = 5,45 kg) para mulheres no Novo México foi 12,6%. Entretanto, quando calculamos o nosso limite inferior da normalidade utilizando nossa amostra de mulheres jovens (média 6,153; DP 0,918), esse foi igual a 4,32 kg e a prevalência de sarcopenia foi 1,0%. Interessantemente, o percentil 20 para sarcopenia em nossa população de mulheres jovens foi 5,54 kg, e a prevalência de sarcopenia segundo esse critério foi 14,6%. Para a nossa população, a equação proposta por Newman foi ASM (kg) = -20,82 + 20,80*altura (em metros) + 0,14*massa gorda (em kg) e o ponto de corte dos resíduos foi -1,42. Como esperado, 20,3% das mulheres incluídas no estudo apresentavam sarcopenia por esse ponto de corte. Discussão: O ponto de corte de 4,32 kg encontrado em nosso estudo se deve provavelmente ao n pequeno que aumenta o DP. Por esse motivo, parece-nos mais apropriado considerarmos o percentil 20. Segundo esse critério, a prevalência de sarcopenia em nosso estudo foi 14,6%. Como esperado, essa prevalência aumentou quando corrigida para a gordura corporal. Mais estudos se fazem necessários para avaliar os critérios diagnósticos com sua correlação prognóstica na sarcopenia. Conclusão: Em nosso estudo, a prevalência de sacopenia foi 14,6% aplicando-se o critério de Baumgardner modificado por Newman para o nosso meio. 247 SEGURANÇA DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS AQUÁTICOS DE ALTA INTENSIDADE PARA OS PARÂMETROS VERTEBRAIS DE MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS COM E SEM FR Fronza, F. C. A. O.¹; Moreira-Pfrimer, L.¹; Santos, R. N.¹; Teixeira, L. R.¹; Silva, D. A. S.¹; Petroski, E. L.¹ ¹ Faculdade de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP; Disciplina de Endocrinologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM), São Paulo, SP; Centro de Desportos e Saúde da Universidade de Santa Catarina (UFSC), Santa Catarina, SC, Brasil Introdução: Devido à queda na produção de estrógenos, as mulheres pós-menopausadas são grupo de risco para osteoporose, doença que fragiliza o osso e cuja principal consequência são as fraturas, principalmente em punho, fêmur e vértebras. Os exercícios físicos têm sido indicados como prevenção e parte do tratamento da doença, mas não se sabe ao certo se a sobrecarga mecânica imposta sobre as vértebras fragilizadas poderia aumentar a incidência de fraturas nesse sítio. Objetivo: O objetivo do estudo foi investigar se a sobrecarga imposta por um programa de hidroginástica de alta intensidade pode aumentar a incidência de fraturas vertebrais em mulheres pós-menopausadas com e sem fraturas vertebrais prévias. Métodos: Nesse estudo prospectivo e controlado, foram analisadas 108 mulheres sedentárias na pós-menopausa, randomizadas em grupo intervenção (GI = 64) e grupo controle (GC = 44). Todas as participantes receberam suplementação oral com 500 mg de cálcio e 1.000 UI de vitamina D3 e foram submetidas a uma avaliação inicial e após 24 semanas de treinamento com um programa de hidroginástica de alta intensidade fisiológica. A incidência de fraturas vertebrais foi avaliada pelo exame de densitometria óssea (HOLOGIC, DISCOVERY A) seguido de análise da morfometria vertebral para identificação de fraturas. Foram considerados significativos os resultados quando p < 0,05. Resultados: No momento basal, a prevalência de fraturas vertebrais foi de 14% no GI e 19% no GC (GIxGC p = 0,288) e, no momento final, foi de 25% no GI e 31% no GC (GIxGC p = 0,643). O comparativo intragrupos sugere também a segurança do protocolo, no qual no momento basal tem-se um p = 0,126 e, no final, p = 0,192, não se S288 observando diferenças estatísticas entre eles. Quanto à localização da ocorrência de fraturas, a predominância foi na região anterior da vértebra, sendo a coluna torácica a mais acometida. Discussão: Os resultados apontam para a segurança do programa em relação à incidência de fraturas vertebrais nas praticantes, pois estas não mostraram diferenças significativas após o protocolo. A predominância de fraturas prévias localizou-se na coluna torácica e porção anterior da vértebra. Conclusão: O estresse provocado pelo protocolo de exercícios aquáticos de alta intensidade fisiológica foi seguro para a morfologia vertebral de mulheres na pós-menopausa. 248 SEGURANÇA RENAL APÓS INFUSÃO ENDOVENOSA RÁPIDA DE PAMIDRONATO (PAM) EM CRIANÇAS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA (OI) NAS FORMAS MODERADAS E GRAVE Oliveira, T. P.¹; Andrade, M. C.¹; Peters, B. S. E.¹; Reis, F. A.¹; Carvalhaes, J. T. A.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Setor de Doenças Osteometabólicas da Disciplina de Endocrinologia, Nefropediatria e Radiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Introdução: O tratamento endovenoso com PAM modificou a história natural da OI. Os esquemas propostos na literatura definiram arbitrariamente que a infusão EV de PAM na dose de 2 mg/kg peso fosse dividida em dois ou três dias e feita ao longo de 4 horas, para evitar potenciais danos renais, o que dificulta muito a prescrição em crianças frágeis, além de ocupar periodicamente, por longo período, os leitos hospitalares. Objetivo: Baseando-nos em estudos realizados em outras situações clínicas, propusemos avaliar a segurança renal dessas doses em infusões EV realizadas em apenas um dia e ao longo de duas horas, em um estudo prospectivo de 12 meses. Métodos: Apresentaremos dados preliminares obtidos ao final de dois ciclos. Todos os pacientes estavam plenamente hidratados no dia do procedimento e medicações potencialmente nefrotóxicas foram evitadas. Diversos parâmetros de função renal [pressão arterial, microalbuminúria, creatinina plasmática (Cr), diurese, ritmo de filtração glomerular (RFG em ml/min/1,73 m²), Na e K e sedimento urinário] foram monitorados nos tempos 0, 2, 8, 24 horas e 7 dias da infusão com PAM. Resultados: Dezoito crianças e adolescentes (idade: 8,89 ± 4,12 anos; 55,6% meninas e 44,4% meninos) com OI tipo I, III e IV finalizaram a primeira infusão e 13 finalizaram a segunda, após quatro meses. Durante esse tempo de acompanhamento, não houve evidência de deterioração renal. Na primeira infusão, um aumento transitório da Cr foi observado nas 8 horas, em relação ao basal (0,38 ± 0,12 e 0,43 ± 0,12 mg/dL, respectivamente; p = 0,014), entretanto, após 7 dias, esses valores haviam retornado ao basal (0,37 ± 0,11 mg/dL). O mesmo fenômeno foi observado após a segunda infusão (13 pacientes). Essa oscilação foi confirmada no RFG entre o basal e 8 horas (167,82 ± 31 vs. 147,67 ± 28; p = 0,02) e retornando ao basal sete dias após a primeira infusão (170,44 ± 34; p = 0,004). Um único paciente teve variação clinicamente relevante de 75% da creatinina plasmática 8 horas após a primeira infusão, que retornou ao basal após 24 horas. Nenhum outro parâmetro avaliado sofreu variação significativa em qualquer momento. Discussão: Nossos resultados preliminares sugerem que a infusão EV de PAM na dose de 2 mg/kg de peso ao longo de 2 horas não induziu deterioração da função renal em pacientes com OI previamente hidratados. Conclusão: Caso essa segurança renal se mantenha ao final dos 12 meses se seguimento, poderemos propor esse novo esquema terapêutico, muito mais confortável para o paciente e seus familiares, além de menos honeroso para o sistema de saúde. 249 SEGURANÇA RENAL DO PAMIDRONATO ENDOVENOSO EM UM TEMPO DE INFUSÃO DE 2 HORAS PARA O TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA Oliveira, T. P.¹; Andrade, M. C.¹; Peters, B. S. E.¹; Reis, F. A.¹; Carvalhaes, J. T. A.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Setor de Doenças Osteometabólicas da Disciplina de Endocrinologia e Radiologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença genética rara com fragilidade óssea aumentada e baixa massa óssea. O esquema de tratamento mais utilizado é o pamidronato (PAM) na dose de 1 mg/kg por três dias em um tempo de infusão de 4 horas. Objetivo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que a infusão de PAM em 1 dia e em 2 horas é segura. Métodos: Estudo prospectivo, centro único, para avaliar a segurança renal do PAM em um tempo de infusão de 2 horas. Uma dose de 2 mg/kg a cada 4 meses foi realizada (total de 2 doses). A função renal foi monitorada nos tempos 0, 2, 8, 24 horas e 7 dias após a infusão do PAM. Dezoito crianças e adolescentes com OI tipo I, III e IV foram incluídos. A média de idade foi 8,89 ± 4,12 anos, sendo 55,6% do sexo feminino e 44,4%, masculino. Resultados: Durante o tempo de acompanhamento, não houve deterioração renal nesses pacientes. Na primeira infusão (18 pacientes), a média de creatinina sérica basal foi de 0,38 ± 0,12 e 0,37 ± 0,11 7 dias depois (p = 0,53). Houve aumento transitório leve da creatinina entre o basal e 8 horas após (0,38 ± 0,12 vs. 0,43 ± 0,12, p = 0,014). Entretanto, os valores de creatinina foram recuperados de 8 horas para 7 dias após (0,43 ± 0,12 vs. 0,37 ± 0,11, p = 0,001). Na segunda infusão (13 pacientes), não houve alterações significativas na creatinina sérica entre o basal e o sétimo dia (0,38 ± 0,14 vs. 0,40 ± 0,14, p = 0,56). Também foram encontrados menores níveis de creatinina basal em todos os pacientes com OI. O GFR seguiu o mesmo padrão, houve uma leve diminuição inicial que foi recuperada 7 dias após. A média dos valores de GFR entre o basal, 8 horas e 7 dias após foi de 167,82 ± 31 vs. 147,67 ± 28 vs. 170,44 ± 34 ml/min/1,73 m², p = 0,02 e p = 0,004. A maior variação individual da creatinina sérica foi um aumento de 75% em 8 horas após a infusão seguida por uma redução de 61,9% de 8 para 24 horas. Não houve diferenças significativas na microalbuminúria, ureia, sódio e potássio. A média de 25OHD foi 23,06 ± 7,2 ng/ml. Discussão: Esses resultados sugerem que a infusão mais curta do PAM foi bem tolerada, não houve deterioração renal em um tempo de infusão de 2 horas e a incidência de efeitos adversos clínicos ou laboratoriais foi semelhante à infusão de 4 horas descrita na literatura. A creatinina basal mais baixa deve estar relacionada com a baixa massa magra que é encontrada nesses pacientes com OI. Conclusão: Novos e maiores estudos são necessários para demonstrar a segurança renal do PAM em um menor tempo de infusão. 250 SÍNDROME METABÓLICA E OBESIDADE ESTÃO ASSOCIADAS À DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D: UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA NO SUL DO BRASIL Mussio, A. V.¹; Zottele, L. V.¹; Muradás, R. R.¹; Tierno, S. A.¹; Costa, K. K.¹; Beck, M. O.¹; Premaor, M. O.¹ ¹ Hospital Universitário de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM), Santa Maria, RS Brasil Introdução: A associação entre síndrome metabólica, obesidade é hipovitaminose D vem sendo descrita por vários estudos. Todavia, esse é um assunto pouco estudado em nosso meio. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre síndrome metabólica, obe- sidade e deficiência de vitamina D. Métodos: Um estudo de transversal foi realizado em mulheres jovens (idade entre 20 e 40 anos) pertencentes à comunidade do bairro Camobi, Santa Maria (RS), e suas familiares idosas (idade ≥ 60 anos). A 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] foi coletada em março de 2012, pela manhã, em jejum, e dosada por quimiluminescência (DPC, Los Angeles, CA). Síndrome metabólica e obesidade foram diagnosticadas conforme os critérios da Organização Mundial de Saúde. O estudo foi aprovado pelo CEP-UFSM e todas voluntárias preencheram TCLE. Resultados: No total, foram incluídas, no estudo, 39 mulheres jovens e 65 mulheres idosas. Síndrome metabólica esteve presente em 10,3% das mulheres jovens e 58,5 das mulheres idosas. Entre elas, 20,5% das jovens e 29,2% das idosas eram obesas (IMC ≥ 30). A prevalência de deficiência de vitamina D [25(OH)D ≤ 20 ng/mL] foi 10,3% nas mulheres jovens e 20% nas mulheres idosas. E a prevalência de insuficiência de vitamina D [25(OH)D > 20 ng/mL e ≤ 30 ng/mL] foi 35,9% nas mulheres jovens e 60% nas mulheres idosas. A deficiência de vitamina D associou-se à obesidade (OR 3,59; IC 95% 1,07 - 12,02; p = 0,038) e à síndrome metabólica (OR 4,19; IC 95% 1,33 - 13,18; p = 0,014), mesmo após a correção para a faixa etária. Discussão: As prevalências de síndrome metabólica, obesidade, deficiência de vitamina D e insuficiência de vitamina D foram bastante altas em nosso estudo. Mesmo no verão, 80% das mulheres idosas e 46,2% das mulheres jovens apresentavam níveis séricos de 25(OH)D inferiores a 30 ng/mL. Além disso, no nosso conhecimento esse é um dos poucos estudos a descrever a associação entre deficiência de vitamina D e síndrome metabólica no Brasil. Conclusão: A síndrome metabólica e a obesidade associaram-se à deficiência de vitamina D em nosso estudo. NEUROENDÓCRINO 251 ACROMEGALIA – CASUÍSTICA E ANÁLISE CRÍTICA EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA – HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Santos, R. A.¹; Campos, R. G.¹; Luz, N. M.¹; Pallone, C. R. S.¹; Tavares, M. C. S.¹; Abílio, R. S.¹; Pires, A. C.¹ ¹ Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital de Base (Famerp), São José do Rio Preto, SP, Brasil Introdução: A acromegalia é uma patologia sistêmica relacionada à produção elevada de hormônio de crescimento e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I. Se não controlada adequadamente, a doença gera graves complicações cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e neoplásicas. Objetivo: Neste trabalho, relatamos a casuística de nosso serviço (Hospital de Base – São José do Rio Preto) para diversos parâmetros relacionados à acromegalia. Métodos: Os dados foram coletados por meio do prontuário eletrônico, incluindo exames de imagem e laboratoriais, evoluções de internação e consultas ambulatoriais. Resultados: O Octreotide foi utilizado por 17 pacientes (85%) e a combinação com cabergolina ocorreu em 5 pacientes (25%). Do total, 14 (70%) possuíam macroadenoma ao diagnóstico, 5 (25%) possuíam microadenoma, não sendo localizada imagem em RM de hipófise em um. Quatro possuíam tumores cossecretores de GH e prolactina (20%). Doze (60%) foram submetidos à cirurgia e, destes, 6 foram curados (50%), com 1 recidiva pós-cura (16,6%). Seis foram submetidos à radioterapia. Sintomas compressivos ao diagnóstico ocorreram em 9 pacientes (45%) e aumento de partes moles, em 16 (80%) casos. Diabetes mellitus estava presente em 4 (20%) pacientes ao diagnóstico. De um total de 13, evidenciamos 6 colonoscopias S289 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Neuroendócrino Trabalhos Científicos normais (46,1%) e 4 casos de pólipo hiperplásico (30,7%). Ultrassom de abdome normal foi encontrado em 11 casos de um total de 14 (78,5%), 2 achados de colelitíase (14,2%). Todos os pacientes apresentavam GH /IGF1 acima do valor de referência e, após cirurgia e/ou tratamento medicamentoso, 15 evidenciaram normalização dos valores de GH e/ou IGF-1. Discussão: Avaliamos 20 acromegálicos, 45% com sintomas compressivos e 85% com aumento de partes moles ao diagnóstico. Do total, apenas 60% foram submetidos à cirurgia devido à dificuldade de realização em nosso serviço. A taxa de recidiva foi de 25%. O Octreotide foi utilizado por 85% dos pacientes. Macroadenoma foi observado em 70% dos casos. Conclusão: Nossa casuística quanto à literatura mostrou-se compatível em relação a prevalência de macroadenoma, sintomas compressivos e aumento de partes moles ao diagnóstico, a cura pós-cirúrgica e a cura após uso de análogos da somatostatina. Mostrou correlação com a presença de diabetes mellitus, pólipos colônicos e litíase renal concomitante com o quadro de acromegalia. 252 ACROMEGALIA ASSOCIADA À DOENÇA DE GRAVES Sá, M. A.¹; Madruga, I. D.¹; Honório, A. V. M.¹; Barreto, V. E. C.¹; Beltrão, F. E. L.¹; Farias, M. B.¹ ¹ Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB, Brasil Objetivo: Descrever um caso raro de acromegalia associada à doença de Graves. Métodos: L.S.A., 46 anos, feminino, há 5 meses com quadro de astenia, anorexia, perda de peso (16 kg em 3 meses), sudorese, alopecia, tontura, cefaleia, rouquidão, palpitações, insônia e edema de membros inferiores. Iniciou tratamento para doença tireoideana com Tapazol. Inicialmente houve melhora dos sintomas, mas, após três meses, iniciou tratamento com Puran. Há 15 dias houve piora do quadro com astenia generalizada, tremores, insônia e prurido. RNM de crânio evidenciava macroadenoma hipofisário. Ao exame: bulhas cardíacas hiperfonéticas, FC = 110 bpm, bócio tireoideano difuso, tremor de extremidades, quirodáctilos grandes e largos, proeminência frontal, alargamento do nariz. Exames: T4 livre = 5,04 ng/dL; TSH = 0,01 uUI/mL; Anti-TPO = 570 UI/Ml; TRAB: > 40 UI/L; IGF-1 = 624 ng/Ml (VR: 94 -262); HGH-CURVA: basal = 8,69; 30 min = 9,51; 60 min = 7,99; 120 min = 6,98; 180 min = 6,0; cortisol = 3,7 ng/dL; USG de tireoide: bócio difuso (tireoidite) – tireoide bastante aumentada de volume, com morfologia globosa e textura difusamente heterogênea, com intensa vascularização em toda a glândula. Sem lesão focal ao Doppler. Dimensões da tireoide: lobo direito – 7,2 x 2,9 x 3,6 cm (volume: 39,6 cm³); lobo esquerdo – 8,8 x 2,7 x 3,4 cm (volume: 43,2 cm³). RNM de hipófise: macroadenoma hipofisário (1,9 x 1,4 x 1,4 cm), sem compressão do quiasma óptico. Resultados: Foi diagnosticada acromegalia associada à doença de Graves (DG). Suspenso Puran, tratada com Tapazol e prednisona. Encaminhada para cirurgia transesfenoidal (adenomectomia). Discussão: Acromegalia é uma desordem causada por excesso circulante do hormônio do crescimento (GH), resultando em deformidades, incapacidade e redução da expectativa de vida devido à doença multissistêmica. Estudos relatam a ocorrência de bócio tireoideano difuso ou multinodular em pacientes acromegálicos, possivelmente devido ao excesso de IGF-1, principal promotor do crescimento da tireoide nesses casos. Entretanto, são raros os casos de acromegalia associada à DG. Na literatura, são descritos apenas 15 casos até o ano de 2006, predominantemente no sexo feminino. Conclusão: A importância deste caso se deve à raridade de coocorrência de acromegalia e DG. Dessa forma, o hipertiroidismo deve ser pesquisado em pacientes com acromegalia e perda de peso. S290 253 ACROMEGALIA E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO Guimarães, R. V.¹; Camata Junior, O. L.¹; Heleno, P. T.¹; Marques, J. V.¹; Medeiros, L. S.¹; Silva, P. P.¹; Graça, M. P.¹; Casini, A. F.¹ ¹ Universidade de Vila Velha (UVV); ² Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV); ³ Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), Vitória, ES, Brasil Objetivo: Relatar o caso de uma gestante acromegálica e sua evolução clínica. Métodos: Relato de caso: V.V.B., 35 anos, GI PI A0, há dois anos referindo aumento de extremidades, artralgias e cefaleia. Resultados: Após confirmação laboratorial e de imagem (macroadenoma hipofisário-1,7 cm) da acromegalia, foi submetida à cirurgia transesfenoidal, evoluindo com insuficiência adrenal secundária. Iniciado tratamento clínico adjuvante com octreotide LAR 20 mg em 11/11 [GH: 55,6 ng/mL, IGF-I: 1.300 ng/mL (307), RM sela túrcica: macroadenoma 2,1 cm, quiasma óptico livre]. Em 3/12 relatou atraso menstrual confirmado por β-hCG (+), a despeito das recomendações quanto a gestação e atividade da doença. Suspenso octreotide LAR e solicitado US que evidenciou idade gestacional (IG) 25 semanas, GH: 22 ng/mL, IGF-I: 685 ng/mL (297). Evoluiu com DM gestacional (TOTG: basal 80, 1 H 77, 2 H 204 mg/dL) controlado com dieta, bons níveis pressóricos e assintomática do ponto de vista de efeito de massa. US de 06/12: IG 36,5 semanas, crescimento fetal adequado. Em 17/7/2012, foi submetida à cesariana sem intercorrências, recém-nascido de peso ideal, em aleitamento materno exclusivo. Solicitada avaliação hormonal um mês pós-parto, assim como RM de sela túrcica. Discussão: A descontinuação da medicação tem sido indicada, principalmente dos análogos da somatostatina, por implicarem em diminuição do crescimento fetal. De fato, o tratamento da paciente foi descontinuado, não tendo sido demonstrada alteração no desenvolvimento fetal. Por outro lado, atividade de doença correlaciona-se com maior chance de DM, assim como de pré-eclâmpsia. Conclusão: A gestação apresenta influência sobre a acromegalia, e vice-versa. Desse modo, é de crucial importância o acompanhamento pré-natal. 254 ACROMEGALIA: MELHORA CLÍNICA COM ANÁLOGO DE SOMATOSTATINA APÓS INSUCESSO CIRÚRGICO: RELATO DE CASO Braga, P. M. C.¹; Araújo, J. G. B.¹; Carvalho, I. A. F.¹; Castro, I. M.¹; Léda, T. A. M.¹; Melo, L. P. P.¹; Santos, P. B.¹ ¹ Faculdade Integral Diferencial (Facid), Teresina, PI, Brasil Objetivo: Relatar o sucesso terapêutico do octreotídeo LAR em paciente acromegálica após o insucesso de cirurgia transcraniana para terapia curativa. Métodos: As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário e exames, entrevista com o paciente e revisão literária. Resultados: No seguimento da terapia medicamentosa, paciente apresentou melhora de sintomas, redução tumoral para 2,3 x 2,6 x 2,7 cm e IGF-1 de 800 ng/ml (val. de ref. 36 a 40 anos: 109 a 284 ng/ml) e GH de 3,36 ng/ml (val. de ref. para mulher: < 3,61 ng/ml). Discussão: A acromegalia é uma síndrome decorrente do excesso do hormônio de crescimento (GH). Noventa por cento dos casos ocorrem de forma esporádica, causados por macroadenomas hipofisários, geralmente benignos. No Brasil, aproximadamente 700 novos casos são diagnosticados por ano. O quadro clínico inclui sintomas neurológicos, hipertensão arterial, ganho de peso e aumento das extremidades. A suspeita de acromegalia deve ser confirmada laboratorialmente com a demonstração de níveis séricos elevados de GH e de IGF-1 para sexo e idade. A principal opção terapêutica na acromegalia é a cirurgia transesfenoidal, e a terapia medicamentosa representa a segunda opção. Relata-se uma paciente de 39 anos, procedente de Teresina-PI, com queixa de aumento de extremidades, diminuição da acuidade visual, cefaleia e amenorreia há 9 meses. Ao exame físico, paciente apresentava alterações fisionômicas, aumento do diâmetro dos dedos das mãos, macroglossia, PA = 140/90 mmHg. Os exames laboratoriais mostraram IGF-1 de 1.108 ng/ml, GH de 71 ng/ml. Realizou ressonância nuclear magnética (RNM) de crânio, que evidenciou macroadenoma hipofisário com extensão suprasselar 3,1 x 2,3 x 2,5 cm. Após diagnóstico de acromegalia, realizou-se cirurgia transcraniana que resultou em importante melhora clínica da paciente, porém os valores do IGF-1 permaneceram elevados. No seguimento 4 meses pós-cirurgia, a redução máxima dos valores de IGF-1 foi de 25% do valor inicial e o RNM de controle não mostrou redução tumoral. Optou-se pelo uso de octreotídeo LAR 20 mg injetável a cada 28 dias. Após 3 meses da terapia medicamentosa, a paciente evoluiu com melhora dos sintomas residuais, redução da massa tumoral para 2,3 x 2,6 x 2,7 cm e IGf-1 de 800 ng/ml e GH de 3,36 ng/ml. Conclusão: A acromegalia é uma condição rara e debilitante, sendo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, imprescindíveis para evitar complicações graves aos pacientes. A terapia medicamentosa é opção após a ressecção cirúrgica do tumor para controle dos valores de IGF-1 e GH. 255 ADENOMA HIPOFISÁRIO ECTÓPICO PRODUTOR DE GH: DESCRIÇÃO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA Marino, E. C.¹; Santos, R. A.¹; Campos, R. G.¹; Luz, N. M.¹; Tavares, M. C. S.¹; Pires, A. C.¹ ¹ Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Hospital de Base, São José do Rio Preto, SP, Brasil Objetivo: A acromegalia é caracterizada pela hipersecreção de GH, levando ao aumento de IGF-1 e clinicamente caracterizado pelos efeitos deste último. Massas selares são responsáveis por 98% dos casos e os outros 2% são extrasselares. A seguir, descreveremos um caso raro de adenoma ectópico em clívus. Métodos: Os dados do paciente foram coletados por meio do prontuário eletrônico, incluindo exames de imagem e laboratoriais, evoluções de internação e consultas ambulatoriais. Resultados: Paciente de 30 anos, sexo feminino, notou edema de mãos e face, com aumento progressivo de número de calçados há 5 anos, e há 3 anos passou a apresentar aumento de massa muscular, masculinização da face e aumento de pilificação em tronco, membros e face. Há 1 ano notou aumento do volume do clitóris, procurando atendimento com ginecologista e cirurgião plástico, sendo encaminhada pelo cirurgião. Exame físico: Escore de Ferriman: 8; facies masculinizada e clitoromegalia; glicemia de jejum: 121 mg/dL / 2h pós-dextrosol: 63 GH: 218 ng/mL basal (Pós 75 g de glicose: 60 ng/mL min: 156 ng/mL/120 min 165 ng/mL) IGF-1 > 500 ng/mL RM de crânio (17/6/2008): lesão expansiva em clívus e osso esfenoide, realçada pelo contraste, 1,8 x 1,8 x 1,6 cm, com compressão de hipófise com deslocamento cranial. Hipófise sem alterações. Após os exames, a paciente foi encaminhada para neurocirurgia e iniciado octreotide LAR 30 mg a cada 28 dias. Após 11a e 16a dose de octreotide LAR, os exames hormonais estavam normais e os de imagem apresentavam redução progressiva do tamanho da lesão associado à sela parcialmente vazia. Após 28 doses, novo exame mostrou ausência da lesão em clívus e sela parcialmente vazia, ainda aguardando na fila para neurocirurgia. No momento, a paciente apresenta-se sem uso de medicação desde maio/2012, pois notou amenorreia, sendo realizada dosagem de B-HCG que estava positiva, iniciando acompanhamento com obstetra. No dia 6/7/2012, a paciente nos trouxe uma ultrassonografia com gestação gemelar de 14 semanas e 2 dias. Discussão: O caso apresentado representa uma entidade rara, os adenomas hipofisários ectópicos no clívus. Encontramos descritos apenas 4 casos com secreção de GH. Nosso caso é particular por ter regredido totalmente com o uso de octreotide LAR, sem cirurgia e evoluindo com gestação gemelar após 4 anos do diagnóstico. Conclusão: A acromegalia é uma doença rara com alta morbidade e, embora a causa mais comum seja a presença de tumores hipofisários, em cerca de 2% dos casos a patologia é extrasselar. 256 ADENOMA HIPOFISÁRIO SECRETOR DE TSH: RELATO DE CASO Lima Junior, J. V.¹; Aum, P. M. P.¹; Scalissi, N. M.¹ ¹ Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O adenoma hipofisário secretor de TSH (TSHoma) é uma rara causa de hipertireoidismo. Tem sido estimado que menos de 2% de todos os tumores hipofisários são TSHomas, com uma incidência de 1 caso por milhão. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de TSHoma. Métodos: Foi revisado prontuário de paciente com diagnóstico de TSHoma seguido pelo ambulatório de Endocrinologia. Resultados: V.D.O., 61 anos, masculino, história de cefaleia há 11 anos. Em 2005, após TC de crânio, realizou RM de sela turca com formação expansiva suprasselar de 1,1 x 1,0 x 1,0 cm, com discreta compressão sobre o quiasma óptico (QO); TSH 3,73 UI/mL (Valor de Referência - VR - : 0,4-4); T4L: 1,7 ng/dL (VR: 0,9-1,8); prolactina: 5,6 ng/mL (VR: 3,7-23,2). Com o diagnóstico, à época, de adenoma hipofisário clinicamente não funcionante comprimindo o QO, fora encaminhado para ressecção transesfenoidal, no entanto, evoluiu com parada cardiorrespiratória na indução anestésica em dezembro de 2006. Em 2009, RM de sela turca demonstrava a formação expansiva de tamanho inalterado; campimetria sem alteração; TSH: 2,26 uU/mL (VR: 0,4-4); T4L: 2,2 ng/dL (VR: 0,9-1,8); Anti-Tg e Anti-TPO negativos; ultrassonografia de tireoide com nódulo hiperecogênico de 0,4 cm e ecotextura homogênea; cintilografia de tireoide dentro da normalidade; cortisol: 18,1 mcg/dL (VR: 5-25); pesquisa para feocromocitoma negativa. Em 2011, teste de estímulo com TRH (200 mcg) sem hiperresposta, descartando a SRHT; subunidade alfa de hormônio glicoproteico hipofisário: 1.880 ng/mL (VR: 790), confirmando a hipótese diagnóstica de TSHoma. Iniciado octreotide LAR 20 mg de 30 em 30 dias para posterior programação cirúrgica. Discussão: TSHoma é caracterizado por aumento dos níveis circulantes de hormônios tireoideanos, na presença de TSH mensurável (normal ou alto). O diagnóstico baseia-se em testes dinâmicos, como o teste com TRH, e na medida da subunidade alfa de hormônios glicoproteicos hipofisários que ajudam a diferenciá-lo da síndrome de resistência ao hormônio tireoideano (SRHT). Conclusão: O diagnóstico precoce e o correto tratamento dos TSHomas podem prevenir complicações neurológicas e endocrinológicas como cefaleia, defeitos no campo visual e hipopituitarismo, assim como aumentar suas taxas de cura. 257 ADENOMA HIPOFISÁRIO SECRETOR DE TSH: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA Simionatto, C. A.¹; Carvalho, N. G.¹; Betônico, C. C. R.¹; Filho, F. R. P.¹; Marin, F. F.¹ ¹ Hospital Regional de Presidente Prudente, Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), Presidente Prudente, SP, Brasil Objetivo: Relatar um caso raro de um paciente portador de tumor hipofisário secretor de TSH e revisar a literatura visando ao diagnóstico e S291 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Neuroendócrino Trabalhos Científicos ao manejo dessa patologia. Métodos: Realizamos relato de caso com paciente do sexo masculino, 57 anos, com diagnóstico clínico de tumor hipofisário secretor de TSH, em maio de 2012, que permitiu o relato por meio de consentimento informado. Revisão da literatura utilizando o PubMed com as seguintes palavras-chave: TSH, tumor hipofisário, tireotropinoma. Resultados: Paciente encaminhado ao ambulatório de endocrinologia do Hospital Regional de Presidente Prudente, com queixa de astenia e sintomas de tireotoxicose, há dois anos em tratamento em outro serviço com levotiroxina por alteração de TSH. Referiu aumento progressivo da dose de levotiroxina até 200 mcg, mantendo em todos os exames prévios valores de TSH e T4 livre sempre elevados com piora progressiva da sintomatologia. Durante investigação inicial, apresentou TSH: 10,20 uUI/ml e T4 livre: 3,01 ng/dl. Realizado RNM de hipófise apresentando glândula com aumento volumétrico, com cerca de 20 x 19 x 18 mm, e lesão expansiva na região selar, compatível com macroadenoma hipofisário, e dosagem da subunidade alfa livre dos hormônios glicoproteicos de 3.130 ng/l confirmando o diagnóstico de adenoma hipofisário secretor de TSH. Discussão: Os tireotropinomas são tumores raros, compreendendo em torno de 2,8% dos adenomas hipofisários. Como no acaso descrito acima, os pacientes relatam história de disfunção tireoidiana de longa duração com evolução progressiva e quadros variáveis desde franca tireotoxicose até ausência de sintomas, associados a elevadas concentrações de hormônios tireoidianos. Frequentemente são confundidos com afecções primárias da tireoide e, portanto, muitos pacientes recebem terapia tireoidiana indevida previamente. A base laboratorial para o diagnóstico consiste em concentrações elevadas dos hormônios tireoidianos diante de concentrações de TSH inapropriadamente normais ou elevadas. Em 66% dos tireotropinomas, independentemente do tratamento tireoidiano prévio, observa-se a cossecreção elevada da subunidade alfa. Conclusão: Na presença de hormônios tireoidianos elevados e TSH inapropriadamente normal ou elevado, é importante aventar a possibilidade do adenoma hipofisário produtor de TSH, evitando, assim, terapêutica inapropriada com levotiroxina e atraso no diagnóstico e tratamento do tumor. 258 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE GENES CODIFICADORES DE PROTEÍNAS RIBOSSOMAIS E MUTAÇÕES GNAS NA PATOGÊNESE E DESFECHOS CLÍNICOS DE SOMATOTROFINOMAS Martins, C. S.¹; Lima, D. S.¹; Paixao, B. M. C.¹; Quidute, A. R.¹; Coeli, F. B.¹; Moreira, A. C.¹; Castro, M.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FAMERP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil Objetivo: A patogênese de somatotrofinomas não está totalmente elucidada. As mutações mais frequentes (30%-40% dos tumores esporádicos) são mutações somáticas ativadoras de GNAS. Estudos em nosso laboratório utilizando SAGE (análise seriada da expressão gênica) mostraram hipoexpressão de genes codificadores de proteínas ribossomais (genes RP) em biblioteca de somatotrofinomas, confirmada por PCR real time (RT-PCR). O objetivo deste estudo é avaliar associação entre expressão dos genes RPS3, RPS7, RPS14, RPS29 e RPSA e mutação somática do GNAS, e associação entre expressão dos genes RP e presença de mutação do GNAS com tamanho tumoral, remissão após cirurgia e controle com tratamento medicamentoso. Métodos: Utilizadas 15 amostras de somatotrofinoma e 8 hipófises controle. DNA e RNA extraídos por Trizol. Expressão de RPS3, RPS7, RPS14, RPS29 e RPSA em tumores e controles avaliada por RT-PCR. Mutações de GNAS (códons 201 e 227) pesquisadas por PCR e sequenciamento. Coletados dados clínicos e laboratoriais dos pacientes. Análise estatís- S292 tica: Teste não paramétrico de Mann-Whitney para variáveis quantitativas e Teste Exato de Fisher para variáveis qualitativas. Resultados: Os genes RP estavam hipoexpressos nos tumores, exceto RPS7. Fold change: RPS3 -1,8 (p = 0,01) RPS7 -1,6 (p = 0,14) RPS14 -1,9 (p = 0,02) RPS29 -2,5 (p = 0,006) e RPSA -1,7 (p = 0,02). Mutação do GNAS foi encontrada em seis (40%) tumores. A presença de mutação associou-se à maior expressão de RPS7 (p = 0,046), mas não à hipoexpressão dos demais genes RP. Não houve associação entre hipoexpressão dos genes RP ou presença de mutação GNAS e tamanho tumoral, remissão após cirurgia ou controle medicamentoso. Discussão: Dados recentes indicam envolvimento de proteínas ribossomais em tumorigênese, contribuindo com outros genes para modificar ciclo celular, reparo de DNA e apoptose. GNAS é um oncogene e suas mutações levam à ativação de vias transdutoras de sinal. Não se sabe se proteínas ribossomais poderiam desempenhar papel modulador sobre essas vias. Há discussão na literatura sobre a relação entre a presença de mutações GNAS e sensibilidade a tratamento medicamentoso. Conclusão: Nossos dados indicam hipoexpressão de genes RP em somatotrofinomas, indicando um possível papel desses genes na patogênese desses tumores, que parece ser independente de GNAS. Nossos dados indicam não haver relação entre mutações GNAS e resposta terapêutica. 259 ANÁLISE DESCRITIVA DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES ACROMEGÁLICOS E SUAS COMORBIDADES ASSOCIADAS Nobrega, L. H. C.¹; Lima, J. G. L.¹; Feijo, B. M. X. C. R. R.¹; Amorim, A. D. P. S.¹; Mendonça, R. P.¹; Fernandes, K. M.¹; Viana, L. S. A. A.¹ ¹ Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, Brasil Introdução: O excesso de GH, usualmente causado por um adenoma hipofisário na acromegalia, atua sobre uma vasta gama de vias bioquímicas, modula o metabolismo intermediário e crescimento de células e está associado a um número significante de comorbidades. Objetivo: O objetivo deste estudo é descrever as características demográficas, hormonais e comorbidades em pacientes acromegálicos acompanhados em nosso serviço de endocrinologia. Métodos: Foram avaliados, retrospectivamente, pacientes com o diagnóstico de acromegalia e acompanhados em nosso serviço. Foram avaliadas as variáveis idade, sexo, tempo de doença, níveis de GH e IGF-1, e níveis de TSH e T4 livre antes e após tratamento. Para análises das estatísticas, foi utilizado o programa SPSS versão 16.0. Resultados: Acompanhamos 21 pacientes, com idade média de 44,8 ± 11,3 anos, sendo 9 (42,8%) do sexo masculino. O tempo médio de doença foi de 7,3 ± 4,9 anos. Quanto às comorbidades, 8 pacientes (38,1%) apresentaram hipertensão arterial, 5 (23,8%) tinham diabetes mellitus, 7 (33,3%), dislipidemia, e 2 (9,5%), câncer de tireoide. O tratamento inicial foi a cirurgia transesfenoidal em todos os pacientes; 2 (9,5%) precisaram fazer radioterapia pós-operatória e 13 (61,9%) utilizam tratamento clínico com octreotide (dose média 26,1 ± 4,97 mg/mês). Um paciente utiliza pegvisomant associado ao octreotide. Discussão: Sendo o GH um hormônio com efeitos metabólicos sistêmicos importantes, espera-se que outras doenças desencadeadas pelo excesso de GH aconteçam. Os tratamentos disponíveis atualmente se complementam, sendo a cirurgia transesfenoidal o tratamento inicial. Observamos isso na nossa casuística. Conclusão: Diabetes e hipertensão arterial foram as comorbidades mais frequentes, sendo importante lembrar-se da maior prevalência de câncer de tireoide nessa população. O tratamento cirúrgico é o tratamento inicial, mas quase sempre precisa de opções terapêuticas complementares posteriores. 260 ANÁLISE DO PADRÃO DE EXPRESSÃO DO MARCADOR DE CÉLULA-TRONCO SOX2 EM HIPÓFISE DE MODELOS EXPERIMENTAIS DE CAMUNDONGOS COM HIPOPITUITARISMO Carvalho, L. R. S.¹; Araujo, R. V.¹; Cerqueira, C. S.¹; Soares, I. C.¹; Camper, S. A.¹; Carvalho L. R. S.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia e Patologia, São Paulo, Brasil; University of Michigan (UM), Human Genetics Department, Ann Arbor, USA Introdução: As células-tronco tecido-específicas caracterizam-se por sua capacidade de proliferação, autorrenovação, potencial de diferenciação e habilidade de regeneração tecidual após perda celular. Embora tenham sido relatadas células-tronco envolvidas na renovação celular e regulação homeostática hipofisária, pouco se sabe sobre seu padrão de expressão no hipopituitarismo. Estudos prévios em camundongos mutantes espontâneos com hipopituitarismo como Ames (com mutação no Prop1) e Snell ( com mutação no Pou1f1) apresentam dismorfologia hipofisária com aspecto hipoplásico ao nascimento e aspecto normal da hipófise, respectivamente, evoluindo ambas as proles com hipoplasia plena no sétimo dia pós-natal. O camundongo nocaute do gene Cga, responsável pela produção da subunidade alfa dos hormônios glicoproteicos, apresenta hipopituitarismo associado à hiperplasia hipofisária. Objetivo: Analisar o padrão de expressão do SOX2 (marcador de células tronco) em modelos animais com hipopituitarismo. Métodos: Foram coletadas hipófise de camundongos Ames (Prop1), Snell (Pou1f1) e com nocaute do gene Cga nos períodos P0 (dia nascimento), P7 (7 dias pos natal), 4 e 8 semanas (S) de vida. Para a análise do padrão de expressão do SOX2 por Rt-PCR pelo método Taqman, as hipófises foram coletadas em 4 e 8S e foram submetidas à extração de RNA e síntese de cDNA. Para a análise da proteína por imuno-histoquímica (IHQ), foram usadas hipófises P0, P7, 4S e 8S. Resultados: O camundongo nocaute do gene Cga de 4 e 8S não apresentou alterações na expressão do SOX2 por PCR em tempo real. Os mutantes Snell (Pit1) de 4 e 8S apresentaram aumento na expressão de Sox2 de 2,8 e 2,5 vezes, respectivamente. Nos mutantes Ames (Prop1) comparados com os normais de 8S, observou-se aumento de 3,5 vezes na expressão de SOX2. Observou-se, ainda, diminuição de 3,8 vezes nos normais de 4S comparados aos de 8S, porém sem diferença na expressão do mutante de 4S comparado ao de 8S. Evidenciou-se, por IHQ, no mutante Ames, aumento na expressão SOX2 nos tempos P0 e P7. Conclusão: O aumento da expressão do SOX2 apenas nas hipófises dos animais com mutação nos genes Prop1 e Pou1f1, fatores responsáveis pela diferenciação terminal das linhagens celulares hipofisárias, sugere um possível papel do SOX2 na indiferenciação das células-tronco hipofisárias no hipopituitarismo. 261 ANÁLOGOS DE SOMATOSTATINA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NO TSHOMA – RELATO DE CASO Pirozzi, F. F.¹; dos Santos, R. A.¹; Marino, E. C.¹; Pallone, C. R. S.¹; Tavares, M. C. S.¹; Luz, N. M.¹; Pires, A. C.¹ ¹ Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), Hospital de Base, São José do Rio Preto, SP, Brasil Objetivo: O TSHoma é causa rara de hipertireoidismo e representa cerca de 1% de todos os adenomas hipofisários, sendo na maioria macroadenomas. Descrevemos um caso desse tumor secretor de TSH em um paciente em acompanhamento no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, vinculado à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Métodos: Os dados do paciente foram coletados por meio do prontuário eletrônico, incluindo exames de imagem e laboratoriais, evoluções de internação e consultas ambulatoriais. Resultados: Paciente masculino, 63 anos, portador de hipertensão arterial e fibrilação atrial crônica, em investigação de angina. Foi encaminhado ao nosso serviço após incidentaloma de hipófise (macroadenoma de 1,5 cm) em ressonância magnética, realizada devido à queixa de cefaleia recorrente. A avaliação hormonal mostrou T4 livre aumentado com TSH anormalmente normal, sem outras alterações hormonais no eixo pituitário. Discussão: Pela indisponibilidade da dosagem da subunidade-α para fazer o diagnóstico diferencial de tireotropinoma (TSHoma) com resistência hipofisária aos hormônios tiroidianos (RHHT), história familiar negativa para a mesma patologia e presença de adenoma na hipófise, optamos pela introdução de octreotide LAR 30 mg a cada 28 dias para melhor elucidação diagnóstica do caso. Após três meses usando a medicação, paciente apresentou melhora da cefaleia, normalização dos níveis séricos de T4 livre e redução da massa hipofisária. Conclusão: Os tireotropinomas podem ocorrer em qualquer idade e expressam, na sua superfície, receptores de somatostatina. Respondem bem ao tratamento com os análogos de somatostatina e sua eficácia também serve como parâmetro na diferenciação entre tireotropinomas e RHHT. 262 ARREST OF ATHEROSCLEROSIS PROGRESSION AFTER INTERRUPTION OF GH REPLACEMENT IN ADULTS WITH CONGENITAL GROWTH HORMONE DEFICIENCY Oliveira, C. R. P.¹; Araújo, V. P.¹; Salvatori, R.¹,2; Oliveira, J. L. M.¹; Barreto-Filho, J. A. S.¹; Meneguz-Moreno, R. A.¹; Ximenes, R.¹; AguiarOliveira, M. H.¹ ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju, Brazil; 2 John Hopkins University School of Medicine, Division of Endocrinology, Baltimore, MD, United States Objective: GH replacement therapy (GHRT) in adult-onset GH deficiency (AOGHD) reduces cholesterol and carotid intima media thickness (IMT) and increases myocardial mass, with improvement of both systolic and diastolic function. These observations have reinforced the use of GHRT in AOGHD. Conversely, we have reported that in 20 adults with congenital and untreated isolated GH deficiency (IGHD) due to a homozygous GHRHR mutation, a 6-month treatment with bimonthly depot GH (despite positive effect on cholesterol and body composition) increased carotid IMT and caused the development of atherosclerotic plaques. In addition, GHRT increased left ventricular mass index (LVMI), posterior wall and septal thickness, and ejection fraction (1). Such effects persisted 12 months after treatment discontinuation (12 months washout, 12 mo). The aims of this study was to monitor the status of carotid artery walls, cardiac form and function at 60 mo of washout (60 mo). Methods: Anthropometric measures, blood pressure, total cholesterol, triglycerides, glucose, carotid IMT and echocardiography were assessed at 60 mo in 19 of these IGHD subjects (one had died for pneumonia) (10 men; age 46 ± 14.5 yrs; height 122.1 ± 7.7 cm ) and compared to 12 mo by using linear regression model. Results: Weight, glucose, total cholesterol, triglycerides, and IGF-1 did not change from 12to-60 month washout. In contrast, IMT reduced from 12 to 60 mo, returning to the baseline levels. Systolic blood pressure reduced from 12 to 60 mo, but diastolic blood pressure did not change. Among S293 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Neuroendócrino Trabalhos Científicos the parameter of cardiac mass, no significant difference in LV mass index, relative posterior wall thickness, end diastolic diameter, and septum thickness was observed at 12 to 60 mo, but absolute posterior wall increased from 12 to 60 mo. Systolic function was reduced at 60 mo in comparison with 12 mo and were not different from baseline. Diastolic function (E/A wave ratio) was decreased in 60 mo in comparison with 12 mo, and it was lower than that in baseline value. Discussion: The number of individuals with plaques was not different at 60 mo (13/19) vs. at 12mo (14/20), as in one individual the plaque disappeared and the individual who died had a plaque. Conclusion: In adults with congenital, lifetime IGHD, long-term observation after withdrawal of a 6-month GHRT shows arrest of progression of atherosclerosis and reversal of carotid IMT increase. Similarly, heart function benefits are reversible. Conversely, changes in heart anatomy are not reversible. 263 AVALIAÇÃO DA REMISSÃO DA DOENÇA DE CUSHING BASEADA NA DINÂMICA DO CORTISOL SÉRICO NO PÓSOPERATÓRIO PRECOCE Costenaro, F.¹; Rodrigues, T. C.¹; Rollin, G. A. F.¹; Ferreira, N. P.¹; Czepielewski, M. A.¹ ¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Hospital São José, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA), Porto Alegre, RS, Brasil Objetivo: Avaliar a acurácia dos diferentes valores de cortisol sérico no pós-operatório precoce da cirurgia transesfenoidal (CTE) em determinar a remissão cirúrgica e recorrência da doença de Cushing (DC) em uma coorte de pacientes que fizeram uso de glicocorticoide como rotina (Protocolo I) ou não (Protocolo II) no transoperatório. Métodos: Cento e três pacientes com DC de um serviço terciário foram prospectivamente analisados durante 6 ± 4,8 anos de seguimento. Vinte pacientes com DC (20 cirurgias) receberam glicocorticoide transoperatório como rotina e o cortisol sérico foi aferido 10 a 12 dias após CTE (Protocolo I). Oitenta e seis pacientes com DC (91 cirurgias) tiveram o cortisol aferido 6, 12, 18, 24h, 48h e 10 a 12 dias após CTE e receberam glicocorticoide apenas em vigência de insuficiência adrenal (Protocolo II). Remissão foi definida como a ausência de hipercortisolismo clínico e cortisol. Resultados: A taxa de remissão após a primeira CTE foi 80%, e 8% tiveram recorrência da DC. O nadir do cortisol ≤ 3,5 μg/dL nas 48 h após CTE apresentou especificidade de 100% e sensibilidade de 73% em definir remissão cirúrgica da DC. O nadir do cortisol sérico ≤ 5,7 μg/dL até 10 a 12 dias após TSS apresentou especificidade de 100% e sensibilidade de 92% para remissão cirúrgica da DC. Discussão: Há poucas publicações analisando o cortisol no pós-operatório da CTE como determinante de remissão e recidiva da DC sem a interferência do uso de glicocorticoide exógeno como rotina no transoperatório. Trata-se da maior casuística publicada até o momento sobre esse tema em uma coorte de pacientes com DC sem interferência do glicocorticoide exógeno (80 pacientes). A possibilidade de definição da remissão cirúrgica da DC já no momento da alta hospitalar de alguns pacientes facilita o manejo clínico, mesmo que como grupo muitas vezes seja necessário aguardar até 10-12 dias para definir o quadro. Conclusão: No momento da alta hospitalar, foi possível determinar a remissão cirúrgica de alguns pacientes desta coorte utilizando-se o nadir do cortisol sérico durante as primeiras 48h após CTE. Entretanto, a avaliação do nadir do cortisol sérico coletado durante os primeiros 10 a 12 dias foi capaz de determinar a remissão cirúrgica em toda a coorte. S294 264 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A TAXA DE CURA CIRÚRGICA EM PACIENTES ACROMEGÁLICOS SUBMETIDOS À CIRURGIA TRANSESFENOIDAL Marques, A. R. C.¹; Martins, M. R.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Diabetes, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil Objetivo: No presente estudo, pretendemos determinar os fatores que influenciaram a cura cirúrgica dos acromegálicos submetidos à CTE. Métodos: O diagnóstico foi baseado na mensuração de níveis de IGF1 elevados para a idade e/ou não supressão do GH após TOTG 75 g. Para avaliação estatística, consideramos: níveis de GH e IGF-1 pré e pós-operatórios, valor da relação entre o IGF-1 do paciente e o valor de referência para a idade e o uso de Sandostatin (OCT) antes da cirurgia. Para determinar remissão utilizamos: GH < 1,0 µg/l associado a níveis de IGF-1 normais para a idade ou nadir de GH menor que 0,4 µg/l no TOTG 75 g. Avaliou-se o tamanho pré-operatório do adenoma por meio de RNM ou TC de hipófise. Resultados: De 91 acromegálicos acompanhados, foram selecionados retrospectivamente todos os 56 submetidos à CTE. Nenhum dos selecionados havia realizado CTE e/ou RT anteriormente. Quatorze pacientes utilizaram OCT por, no mínimo, 3 meses antes da CTE. Com base nos achados da RNM ou TC de hipófise, 6 tinham microadenoma e 28, macroadenoma (22 pacientes não tinham relato de imagem). Três dos 6 pacientes com microadenomas alcançaram remissão após CTE. Nenhum havia feito OCT antes da CTE. Das operações de macroadenomas, 35,71% resultaram em remissão clínica e bioquímica. Desses pacientes (n = 6) que curaram, 60% tinham feito tratamento com OCT antes da cirurgia. Quatorze dos acromegálicos operados (24,56%) fizeram uso de OCT no pré-operatório. A cura cirúrgica foi alcançada em 6 dos 14 pacientes pré-tratados (42,85%). Foi obtida cura em 9 dos 42 pacientes (21,42%) encaminhados diretamente para CTE. O uso de OCT no pré-operatório não aumentou a chance de remissão após abordagem cirúrgica (p: 0,1056). Discussão: Dados na literatura citam que o sucesso terapêutico depende em parte das características do tumor, dos níveis prévios elevados de GH e da experiência do cirurgião. No nosso trabalho, a taxa geral de cura foi de 26,78%. De acordo com o tamanho tumoral, aqueles com microadenomas, quando comparados aos com macroadenomas, apresentaram taxa de remissão maior (50% versus 35,71%, respectivamente). De acordo com a literatura, a chance de cura em acromegálicos recém-diagnosticados encaminhados diretamente para a CTE foi menor (23%) quando comparada à taxa daqueles submetidos a tratamento prévio com OCT 6 meses antes da CTE (45%). Conclusão: Na nossa avaliação, encontramos resultados semelhantes (21,42% vs. 42,85%, respectivamente). Nosso trabalho mostrou que o uso de OCT no pré-operatório não aumentou a taxa de sucesso da cirurgia. 265 Características clínicas, epidemiológicas e manejo dos pacientes com diagnóstico de acromegalia atendidos na Santa Casa de São Paulo Freire, A. C. T. B.¹; Alli, M. P.¹; Guardia, V. C.¹; Oliveira, F. M.¹; Santos, A. R. L.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Junior, J. V.¹ ¹ Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Santa Casa de São Paulo, Disciplina de Neurocirurgia da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: Acromegalia é uma doença rara, de acometimento multissistêmico e caráter insidioso, o que torna o diagnóstico tardio, im- plicando alta morbimortalidade. Objetivo: Nosso objetivo é avaliar as características clínicas e laboratoriais ao diagnóstico, tipo de tratamento instituído, taxa de remissão e necessidade de terapias adjuvantes dos acromegálicos atendidos no Ambulatório de Neuroendocrinologia da Santa Casa de São Paulo de 1997 a 2012. Métodos: Seleção dos pacientes por meio da análise retrospectiva de prontuários (excluídos os pacientes sem dados iniciais do diagnóstico, óbitos precoces e perda de seguimento). Os dados foram analisados sob a forma de média, desvio-padrão e porcentagem. Resultados: Dos 20 pacientes analisados, 65% era do sexo feminino, com média de idade de 44,3 anos (DP = 11 anos). O tempo médio do início dos sintomas foi de 5,9 anos (DP = 4,3 anos) e as manifestações clínicas mais prevalentes foram aumento de extremidades (95%), alterações craniofaciais (95%), HAS (50%) e alteração do metabolismo da glicose (80%). A média do GH basal foi de 37,2 ng/mL (DP = 34) e do IGF-1, 816 ng/mL (DP = 269). A maioria apresentava macroadenoma hipofisário (90%), com extensão extrasselar (70%), compressão de quiasma óptico (50%) e 45% tinham invasão para seios cavernosos, porém a maioria tinha função hipofisária preservada (55%). Cerca de 85% dos pacientes foram submetidos à ressecção transesfenoidal endoscópica, sendo que 40% fizeram uso de análogo de somatostatina (AS) e 20%, cabergolina (CBG) no pré -operatório. Remissão (IGF-1 normal para a idade e nadir de GH no TOTG < 0,4) foi alcançada em 35,3% após a cirurgia. Entre aqueles que mantinham atividade de doença no pós-operatório, 100% fizeram tratamento adjuvante com AS e/ou CBG, 25% necessitaram de reabordagem cirúrgica e 25% foram submetidos à radioterapia. Cerca de 75% dos pacientes operados estão em remissão da doença. Discussão: Assim como relatado na literatura, nossos pacientes estavam entre a 3ª e a 5ª décadas de vida, com longo período de sintomas até o diagnóstico. A maioria apresentava macroadenoma e a cirurgia foi a principal modalidade terapêutica, que, associada a outras terapias adjuvantes, conseguiu controle da doença na maioria dos casos. Conclusão: O diagnóstico precoce e o tratamento efetivo são fundamentais para evitar o surgimento ou a progressão de complicações cardiovasculares, respiratórias e neoplásicas, principais responsáveis pelo aumento de mortalidade nesses pacientes. 266 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM PROLACTINOMAS (PRLOMAS) ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA SANTA CASA DE JUIZ DE FORA (SCJF), MG Nassau, D. C.¹; Moreira, R. O.¹; Machado, C. V.¹; Almeida, A. A. L.¹ ¹ Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (SCMJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Descrever as características clínicas, epidemiológicas, laboratoriais e resposta terapêutica dos pacientes com PRLomas atendidos na SCJF. Métodos: Avaliação retrospectiva de prontuários de pacientes com PRLomas do Ambulatório de Endocrinologia da SCMJF. Resultados: Vinte e um pacientes com PRLomas (5 homens e 16 mulheres) com diagnóstico entre 17 e 64 anos. Sintomas e sinais mais frequentes: oligo/amenorreia em 13 mulheres; cefaleia 13 pacientes; galatorreia 8; infertilidade 4; redução de libido 3; alterações visuais 7. dos 21 pacientes, 12 possuem macroPRLomas (5 homens e 7 mulheres) e 9 microPRLomas. A PRL variou de 51,2 a 4.612 ng/dl (macroPRLomas: 114-4.612 e microPRLomas 51,2258 ng/dl). Dezoito pacientes receberam inicialmente agonistas dopaminérgicos (ad)- 9 microPRLomas e 9 macroPRLomas. Bromocriptina (BRC) foi a droga inicial em 13. Cirurgia foi o tratamento inicial em 3 pacientes com macroPRLomas. Nenhum paciente realizou radioterapia. Nove pacientes necessitaram de outra modalidade terapêutica após o tratamento inicial (8 com ad). Dezesseis pacientes têm exame de imagem de controle pós-tratamento. Redução tumoral: 2 pacientes com microPRLomas e 9 pacientes com macroPRLomas (5 com ad e 4 em cirurgia como tratamento primário ou complementar). Desaparecimento dos sintomas: 7 pacientes tratados com ad. A PRL normalizou em todos os pacientes tratados com ad e apenas em 1 paciente com a cirurgia. Dos 13 pacientes que usaram BRC, 8 tiveram efeitos colaterais (EC), sendo mais comuns náuseas e vômitos, e, destes, 5 abandonaram o tratamento por esse motivo. Dois pacientes apresentaram resistência à BRC. Dos 8 pacientes que usaram a cabergolina (cab), 2 apresentaram EC, sendo a principal queixa tontura, sem abandono de tratamento. As complicações do tratamento foram: 1 paciente com apoplexia no uso de ad e 3 pacientes com pan-hipopituitarismo após-cirurgia. Discussão: A prolactina (PRL) é o hormônio mais comumente secretado em excesso pelos adenomas hipofisários. PRLomas atingem igualmente ambos os sexos (microadenomas mais comuns em mulheres e macroPRLomas em homens). Excesso de PRL causa galactorreia, disfunção gonadal, além de sintomas compressivos pelo tumor. A dosagem de PRL na avaliação desses pacientes permitiu, muitas vezes, o reconhecimento do adenoma antes do desenvolvimento do aumento de sela, hipopituitarismo ou comprometimento visual com a introdução mais precoce do tratamento. Conclusão: Encontramos resultados similares aos descritos na literatura. A análise dos resultados do tratamento mostra pequena discrepância com a literatura, talvez pela diferença no tempo de tratamento e limitação de dados de alguns prontuários. 267 CATETERISMO DE SEIOS PETROSOS INFERIORES NO DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE CUSHING: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA DA SANTA CASA, SP Guardia, V. C.¹; Oliveira, M. C.¹; Aguiar, G. B.¹; Conti, M. L. M.¹; Santos, A. R. L.¹; Scalissi, N. M.¹; Lima Junior, J. V.¹ ¹ Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Santa Casa de São Paulo, Disciplina de Neurocirurgia da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: A maior dificuldade do diagnóstico da síndrome de Cushing (SC) resulta na diferenciação dos quadros de doença de Cushing (DC) e produção ectópica de ACTH. O cateterismo dos seios petrosos inferiores (CSPI) é o exame com maior sensibilidade e especificidade se comparado ao teste de supressão com altas doses de dexametasona e ao cortisol (F) sérico após estímulo com corticorrelina (CRH) ou desmopressina (DDAVP). Embora seja passível de risco, é de suma importância para definição terapêutica, controle e cura da doença. Objetivo: Nosso objetivo é relatar a experiência do Serviço de Endocrinologia da Santa Casa de São Paulo com o CSPI no diagnóstico diferencial da SC ACTH dependente. Métodos: Foi realizada revisão de prontuário de 10 pacientes submetidos ao CSPI desse serviço entre 2009-2011. Todos tinham diagnóstico de hipercortisolismo por meio de testes de supressão com baixas doses de dexametasona e F livre urinário de 24 horas, bem como apresentavam níveis detectáveis de ACTH sem fonte produtora definida. O CSPI foi realizado por meio de angiografia cerebral com coleta central bilateral e periférica de ACTH e prolactina após administração de DDAVP ou CRH ovino. Resultados: Dos pacientes analisados, 2 deles tiveram diagnóstico de produção ectópica de ACTH, sem confirmação da fonte produtora até o momento. Os 8 restantes foram diagnosticados com DC, confirmada pelo anatomopatológico após cirurgia transesfenoidal. Entre estes, foram obtidos os seguintes dados: 3 apresentaram ressonância magnética de hipófise com imagens de até 0,7 cm sugestivas de adenoma; 2 pacientes foram submetidos a teste de supressão com altas doses de dexametasona por 48h, com supressão do F plasmático; e 3 deles realizaram teste de estímulo (2 com CRH e 1 com DDAVP) e coleta de F sérico, sendo que todos confirmaram produção hipofisária de ACTH. Quanto à determinação S295 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Neuroendócrino Trabalhos Científicos da lateralização, esta foi possível em 5 pacientes, orientando a realização da hemi-hipofisectomia. Em 3 pacientes, um dos catéteres não estava bem locado, sendo em 2 deles o esquerdo. Nenhum paciente apresentou complicações relacionadas ao exame. Discussão: Nossa experiência corrobora com dados atuais da literatura indicando que CSPI apresenta alta acurácia e segurança para diagnóstico diferencial das formas de SC ACTH dependentes. Conclusão: Pelo grande impacto na decisão terapêutica dessa doença, o CSPI tem sido considerado um importante exame na avaliação dos pacientes com SC. 268 DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM HOMENS COM PROLACTINOMA ATENDIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Sato, M. M. M.¹; Camelo, F. S. A.¹; Bastos, F. A.¹; Sousa, L. S.¹; Marques, N. N.¹; Donza, F. C. S.¹; Oikawa, T.¹; Fernandes-Caldato, M. C.¹ ¹ Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, PA, Brasil Objetivo: Analisar a densidade mineral óssea (DMO) dos homens portadores de prolactinoma atendidos em hospital universitário referência em Endocrinologia. Métodos: O estudo foi realizado por meio de busca ativa e análise de prontuários de homens com prolactinoma no período de outubro de 2010 a março de 2011. Os dados foram coletados em protocolos próprios e analisados estatisticamente. Resultados: A amostra total foi de 21 pacientes e, destes, 19 aceitaram participar da pesquisa. A maioria dos pacientes (78,94%) possuía macroprolactinoma, com mediana do tamanho em 1,8 cm (variando de 1,4 a 5,1) e realizou tratamento clínico com agonistas dopaminérgicos. Os níveis médios hormonais iniciais de prolactina e testosterona foram 431 ng/ml e 168,8 ng/dl, respectivamente. Houve significância estatística na redução do nível de prolactina e também na redução tumoral dos pacientes após a instituição do tratamento. Os sintomas mais referidos foram redução da libido (94,7%), cefaleia (78,9%) e alteração visual (63,2%). Entre os 18 pacientes que fizeram a densitometria óssea, 61,1% apresentaram alguma alteração, sendo 38,9% osteopenia e 22,2%, osteoporose. Todos os pacientes com osteoporose eram portadores de macroadenomas. Não houve significância estatística entre os T-scores encontrados com os níveis de prolactina ou de testosterona. Discussão: Neste estudo, encontrou-se uma predominância de macroprolactinoma (78,94%) coincidindo com as pesquisas de Casanueva et al. (2006) e Frey et al. (2009), que relataram uma preponderância desse tipo de tumor dentro do universo masculino. Quanto à perda de massa óssea, Naliato et al., em 2005, relataram que a metade dos indivíduos de ambos os sexos com hiperprolactinemia apresentou diminuição de DMO, com perda óssea de 10% a 30% na coluna e 15,5% em colo do fêmur, similarmente ao que se encontrou neste estudo. Conclusão: O diagnóstico de prolactinoma, em especial, macroprolactinomas, deve alertar para a incidência aumentada de alterações da massa óssea neste grupo em relação à população geral. 269 DIABETES INSIPIDUS CENTRAL EM PACIENTE COM HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS E TUBERCULOSE: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO Tonet, C.¹; Zorzo, P. T.¹; Rosa, L. C. G. F.¹; Costa, G. R. G.¹; Farias, J. P. F.¹; Blumenberg, S.¹; Braucks, G. R.¹ ¹ Hospital Federal dos Servidores do Estado (HSE-RJ), Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar caso de diabetes insipidus central (DIC) em paciente com diagnóstico prévio de histiocitose de células de Lan- S296 gerhans (HCL) e recente de tuberculose (TB). Métodos: Relato de caso e revisão de literatura sobre a implicação da HCL e da TB como causas de DIC. Resultados: Homem, 42 anos, com queixa de poliúria/polidpsia há 2 meses, e episódios isolados de dispneia. Ao exame físico: desidratado ++/IV, sinais vitais dentro da normalidade, aparelhos cardiorrespiratório e neurológico sem alterações. Na história pregressa, relatava hemicolectomia há 6 anos, devido à obstrução causada por massa dolorosa. A imuno-histoquímica foi positiva para CD1a, dando o diagnóstico de HCL. Exames da admissão: Na = 150 mEq/L, osmolalidade do plasma (Posm) = 307,6 mEq/L, densidade urinária (DU) = 1.000, glicemia = 77 mg/dL. Devido à hipernatremia, não foi realizado o teste de restrição hídrica e procedido à prova terapêutica com DDAVP. Após o início deste, houve resolução da poliúria/polidpsia; Na = 141 mEq/L; Posm = 291,5 mEq/L e DU = 1020 – confirmando o diagnóstico de DIC. A RM de crânio mostrou espessamento da haste hipofisária, sem outras anormalidades; e a TC de tórax, nódulos e cistos – compatíveis com HCL pulmonar – e caverna em lobo superior direito. A TB pulmonar foi confirmada com lavado broncoalveolar. Iniciado RIPE em seguida. Discussão: DIC, com espessamento da haste hipofisária, pode ser causado por muitas doenças infiltrativas, como HCL e TB. A HCL, causada pelo acúmulo de células de Langerhans, pode acometer qualquer órgão. O eixo hipotálamo-hipófise é o terceiro mais comum e manifesta-se como DIC – geralmente irreversível, necessitando de tratamento ad eternum com DDAVP. O diagnóstico definitivo de HCL só é possível por meio da imuno-histoquímica e seu tratamento é feito com quimioterápicos e corticoide. A TB raramente é causa de DIC, sendo a incidência de tuberculoma intrasselar apenas de 1% dos casos, mas deve ser considerada no diagnóstico diferencial em pacientes imunossuprimidos ou em locais de alta prevalência, como o Brasil. Os achados à RM são os mesmos encontrados na HCL, mas diferente desta, o DIC é reversível com o tratamento da TB. Conclusão: O diagnóstico etiológico do DIC pode ser um verdadeiro desafio, muitas vezes só possível com a biópsia de hipófise, um procedimento invasivo e de riscos. Na coexistência de HCL e TB, o diagnóstico diferencial pode ser dado pela reversibilidade do DIC com o tratamento da TB, o que não ocorre com o da HCL. 270 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA SÍNDROME DE CUSHING ACTH DEPENDENTE: RELATO DE CASO Silva, M. C.¹; Bomfim, O. C.¹; Malveira, L.¹; Puglia, P.¹; Machado, M. C.¹; Fragoso, M. C. B. V.¹; Bronstein, M. D.¹ ¹ Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Descrever a avaliação diagnóstica de uma paciente com suspeita de síndrome de Cushing (SC). Métodos: Relato de caso. Resultados: Paciente, sexo feminino, 23 anos, com quadro de hipertensão arterial, aumento de 10 kg e estrias violáceas há 6 meses. Negava uso de corticoides. Exame físico: moon face, acne, PA: 130 x 90 mmHg, IMC: 29 kg/m², obesidade central, estrias violáceas e giba. Exames: cortisol (F) salivar; F sérico as 24h, F urinário de 24h e ACTHs elevados em mais de uma medida. F pós-dexametasona (1 mg VO) às 24h com ausência de supressão. Diagnóstico diferencial da SC ACTH-dependente: no teste do DDAVP, houve resposta, incremento de 128% (resposta > 20%) e 318% (resposta > 35%) do F e do ACTH, respectivamente. No teste do CRH humano, ausência de resposta, incremento de 4,5% (resposta > 14%) e de 24,3% (resposta > 105%) do F e do ACTH, respectivamente. Imagens: RM de hipófise: imagem com 0,4 cm em região paramediana direita. TC de tórax: nódulo 0,8 cm em lobo médio. TC de abdome sem alterações. Marcadores tumorais normais. Diante dos resultados incongruentes dos testes dinâmicos (DDAVP e hCRH) somados aos exames de imagem Trabalhos Científicos 271 DIAGNÓSTICO TARDIO DE PAN-HIPOPITUITARISMO CONGÊNITO EM UM PACIENTE COM MICROPÊNIS Barbosa, J. L. S.¹; Camelo, M. G. G.¹; Silva, B. L.¹; Souza, P. M. M. S.¹; Silva, N. M.¹; Cruz, J. A. S.¹ ¹ Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, AL, Brasil Objetivo: Relatar um caso de pan-hipopituitarismo congênito de diagnóstico tardio em um jovem com micropênis e repercussões psicológicas. Métodos: Paciente, sexo masculino, 30 anos, procurou ambulatório para avaliar micropênis e redução importante da libido que vinham comprometendo sua qualidade de vida. Relata indisposição, apatia, anorexia, tonturas, fraqueza muscular, hipotrofia muscular, voz fina, ausência de pelos em região de barba, axila, tórax e genitália, nega anosmia. Ao exame físico, hipodesenvolvimento da genitália, ginecomastia bilateral, desenvolvimento puberal: G1P1; volume testicular: 2 ml, peso: 50 kg, altura: 1,56m, envergadura : 1,55 m. Resultados: Exames: FSH: 0,56 U/L; LH: 4,9 U/L; Testosterona: 0,01 ng/dl ( 1,75 - 7,8); T4L: 0,32; TSH: 2,33 mUi/ ml; Prolactina: 12,5 ng/ml; IGF-1 = 25; cortisol: 1,7 mcg/dl. Perfil lipídico normal. RNM do encéfalo: neuro-hipófise ectópica localizada ao longo do tuber cinéreo, com consequente ausência da haste hipofisária. Diante dos achados clínicos e laboratoriais, foi instituída terapia com durateston 250 mg/mês; levotiroxina 100 mcg/d; carbonato de cálcio 1.200 mg/d; prednisona 5 mg/d; vitamina D 800 UI/dia. O paciente evoluiu com melhora do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, além de importante melhora clínica, o que contribuiu para uma melhor qualidade de vida e das repercussões psicológicas. Discussão: A deficiência na produção ou ação de qualquer um dos hormônios da adeno-hipófise é denominada hipopituitarismo. O pan-hipopituitarismo é o déficit de mais de um desses hormônios. A clínica é variável de acordo com os setores celulares acometidos, intensidade da deficiência hormonal, duração da afecção e da idade do paciente. A história e exames clínicos detalhados, com avaliação laboratorial e de imagem direcionadas, levam ao diagnóstico e à provável etiologia. O tratamento clínico precoce é importante, devido a maior mortalidade, principalmente sem reposição hormonal adequada. Essa terapêutica é essencial, pois a melhora clínica resulta numa qualidade de vida adequada aliada a um quadro psicológico satisfatório como no caso relatado. Conclusão: Este caso ilustra a importância do diagnóstico e tratamento do pan-hipopituitarismo na melhoria dos aspectos clínicos, da qualidade de vida e das repercussões psicológicas do paciente. 272 ESCASSEZ DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS EM UMA PACIENTE COM MACROADENOMA HIPOFISÁRIO AGRESSIVO POR DOENÇA DE CUSHING Amaral, L. M. B.¹; Mesquita, P. N.¹; Rêgo, D.; Griz, L.¹; Bandeira, C.¹; Bandeira, F. B.¹; ¹ Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas, Hospital Agamenon Magalhães MS, SES, UPE, Recife, PE, Brasil Introdução: Doença de Cushing (DC) é responsável por 65%-70% das causas de síndrome de Cushing, principalmente representada pelo microadenoma hipofisário benigno; apenas cerca de 5% dos casos são macroadenomas. Tumores hipofisários agressivos são difíceis de conduzir, mas a ressecção transesfenoidal do microadenoma na DC é o tratamento de escolha e tem uma taxa de cura inicial de 80%90% quando realizada por um neurocirurgião experiente, diferentemente para os macroadenomas que têm uma taxa de cura de menos de 60%. Os carcinomas são tumores agressivos raros com frequência entre 0,1% e 0,2% de todos os tumores hipofisários. A maioria são adenomas corticotróficos ou prolactinomas e não respondem bem a radioterapia e quimioterapia. Macroadenomas invasivos na DC geralmente têm baixa expressão da enzima O-6-metilguanina-DNA metiltransferase (MGMT) e estão associados com morbidade e mortalidade aumentada. Discussão: Paciente de 61 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e história de ganho de peso de cerca de 10 kg em 1 ano, cefaleia e alteração visual. Ao exame físico, apresentava face de lua cheia, miopoatia proximal, peso de 80 kg, altura de 1,56 m e IMC de 32,87 kg/m², não havia estrias violáceas, fragilidade capilar ou pletora facial. Exames laboratoriais evidenciavam cortisol sérico após 1 mg de dexametasona de 32 mcg/dL; cortisol sérico da meia-noite (dormindo) de 26 mcg/ dL; cortisol livre urinário de 24h de 26 mcg/dl; ACTH de 122 pg/mL; TSH de 1,8 ulU/mL; T4L de 0,58 ng/dL e prolactina de 58 ng/mL. Exame de campimetria fora dos limites da normalidade. Ressonância nuclear magnética de hipófise evidenciou volumosa lesão de 4,2 x 4,0 x 4,6 cm, comprometendo região selar e suprasselar, haste hipofisária, quiasma óptico e hipotálamo; extensão para o seio esfenoidal esquerdo e seios cavernosos e sinais de encarceramento dos segmentos carotídeos internos. Foi submetida à cirurgia transesfenoidal com ressecção parcial do tumor e evoluiu no pós-operatório com hematoma transesfenoidal, necessitando de drenagem do hematoma e infecção do trato respiratório e sepse grave, chegando ao óbito. Imuno-histoquímica do tumor hipofisário evidenciou positividade para ki67 e grânulos de ACTH. Conclusão: Este caso ilustra uma apresentação incomum da doença de Cushing. 273 HAMARTOMA HIPOTALÂMICO ASSOCIADO À PUBERDADE PRECOCE Mendonca, A.M.¹; Jatene, E. M.¹; De Paula, S. L. F. M.¹; Andrade, L. M.¹; Sousa, A. C.¹; Gomes, M. C. S.¹; Reis, M. A. L.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, GO, Brasil Introdução: O hamartoma hipotalâmico (HH) é uma malformação congênita pouco frequente com prevalência estimada 1-2 casos/100.000 habitantes. Anatomicamente, o HH é uma massa heterotópica de tecido nervoso localizado geralmente na linha média abaixo do tuber cinerium ou no piso do terceiro ventrículo com tamanho entre 0,5 e 4 cm. As manifestações do HH são crises S297 Neuroendócrino inconclusivos para o diagnóstico de doença de Cushing (DC) ou de síndrome de ACTH ectópico (SAE), foi realizado cateterismo de seios petrosos inferiores (CSPI) sob estímulo do DDAVP, não sendo evidenciado gradiente centro:periferia (C:P) do ACTH. Firmamos o diagnóstico de SAE. Paciente aguarda octreoscan em uso de cetoconazol com boa resposta clínica. Discussão: O diagnóstico da SC permanece um desafio na prática, fazendo necessária a realização de testes dinâmicos complementares. Relatamos um caso com alto valor preditivo positivo de DC em relação ao gênero e idade. O teste do DDAVP não apresenta boa acurácia para o diagnóstico diferencial da SC ACTH dependente em que os pacientes com SAE podem responder ao teste, devido à presença de receptores tipo V3 nesses tumores. O teste do hCRH tem mostrado maior acurácia para o diagnóstico diferencial da SC ACTH dependente, entretanto, a baixa disponibilidade e o alto custo limitam seu uso. Em nossa experiência com mais de 30 casos de SAE, cerca de 50% dos pacientes responderam ao DDAVP, ao passo que, dos que realizaram o hCRH, nenhum deles respondeu ao teste. No CSPI, ambos os secretagogos de ACTH têm mostrado a mesma acurácia para amplificação do gradiente C:P. Conclusão: No diagnóstico diferencial de SC ACTH dependente, o CRHh apresenta maior acurácia que o DDAVP, entretanto consideramos ambos os secretagogos de ACTH úteis no CSPI, que é considerado o padrão-ouro. Neuroendócrino Trabalhos Científicos convulsivas gelásticas, de ausência ou generalizadas, retardo mental, alterações de comportamento e puberdade precoce central (PPC). Precocidade sexual é geralmente evidente antes dos 5 anos de idade, devido à ativação precoce do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal. Entre os mecanismos fisiopatológicos, postula-se que os neurônios do HH atuem como gerador do pulso de GnRH ectópico. Objetivo: Descrever características clínicas de uma série de 4 casos de HH associadas a PPC. Métodos: Estudo de casos. Resultados: Não houve predomínio de sexo, sendo 2 do sexo masculino e 2, feminino. O início de idade dos sintomas variou de 1 a 6 meses e teve como primeira manifestação clínica a puberdade precoce. O primeiro sinal de desenvolvimento puberal foi telarca nas meninas. Os meninos iniciaram com aumento do volume testicular associado à pubarca. Todos os pacientes apresentaram pico de LH e FSH após estímulo com LHRH. Os quatro pacientes apresentaram aumento da velocidade de crescimento e aceleração na maturação óssea. Foi iniciado bloqueio da puberdade com análogo do GnRH com evolução clínica satisfatória. Dois pacientes apresentaram crises convulsivas, sendo um caso de epilepsia gelástica e outro caso de crise generalizada de difícil controle com necessidade de cirurgia e radioterapia. Esses dois pacientes também possuíam déficit cognitivo e alteração comportamental. O tamanho do hamartoma variou de 15 a 20 mm e eram todos sésseis. Uma das meninas apresentava cisto de bolsa de Rathke associado, sem sintomas. Discussão: HH associa-se a PPC, que habitualmente surge em pacientes muito jovens. PP idiopática é classicamente mais frequente em meninas, porém na PPC orgânica os estudos mostraram predomínio discreto em meninas ou igual distribuição entre os sexos. A epilepsia é uma manifestação comum dos HH, sendo na maioria dos casos farmacorresistentes, necessitando, em algumas condições, de cirurgia para controle e pode ser associada a comorbidades psiquiátricas e a alterações cognitivas. Conclusão: O desenvolvimento de PPC antes dos 5 anos deve conduzir à investigação de formas orgânicas de PP. 274 HEMOCROMATOSE SECUNDÁRIA E PAN-HIPOPITUITARISMO da Rosa, L. C. G. F.¹; Tonet, C.¹; Costa, G. R. G.¹; Moutinho, A.¹; Lisboa, P.¹; Mansur, V. A. R.¹; Correa, M. V.¹ ¹ Hospital Federal dos Servidores do Estado (HSE), Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Descrever hemocromatose secundária (HS) como causa de pan-hipopituitarismo. Métodos: Relato de caso e revisão de literatura sobre relação causal entre esses. Resultados: Homem, 25 anos, com aplasia congênita de medula e hemocromatose secundária às hemotransfusões, internou com cãibras e contraturas musculares. Ao exame físico: lúcido, sinais de Chvostek e Trousseau presentes, pele acinzentada, sem déficits visuais; anasarca e hepatoesplenomegalia; baixa estatura, classificação de Tanner II e relação púbis-pé abaixo do esperado. Laboratório: glicemia de jejum: 407 mg/dL, cálcio total: 3,7 g/dl, magnésio: 0,9 mg/dl, hemoglobina 5,0 g/ dL, plaquetas: 58.000, PTH: 2,1 pg/ml, FSH 0,384 UI/L, LH 0,126 UI/L, testos 0,24 ng/dl, SDHEA 17,9 mg/dl, prolactina 13,9 ug/L, cortisol 21,3 mg/dl, TSH 11,4 mIU/L, T4L 1,02 ng/ dL e anti-TPO e Anti-Tg negativos. USG tireoide: glândula heterogênea, sem lesões focais. RM abdome: fígado, baço, pâncreas e adrenais com redução da intensidade de sinal do parênquima em todas as sequências, podendo corresponder à sobrecarga de ferro. RM pescoço: glândulas parótidas com sobrecarga de ferro. RM sela túrcica: sela vazia; densitometria óssea: T-score L1-L4: 2,6; avaliação de idade óssea ( Grelich-Pyle): 18 anos. Realizou tratamento para insuficiência cardíaca, reposições de cálcio e magnésio, calcitriol, transfusões sanguíneas, levotiroxina e insulina. Discussão: hipopituitarismo é uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição na secreção de um ou mais hormônios, podendo ser adquirida ou congênita. Entre S298 as causas adquiridas, os tumores hipofisários representam 76%, ao passo que, doenças inflamatórias/infiltrativas 1%, sendo a HS uma delas. Nesse paciente, devido às consequências da hemocromatose em outros tecidos, não houve dúvida sobre a etiologia da doença hipofisária, corroborada pela RM sela túrcica. As dosagens basais dos hormônios na avaliação inicial apresentaram resposta satisfatória, dispensando testes dinâmicos. O paciente apresenta hipotireoidismo central com TSH inapropriadamente alto, hipogonadismo hipogonadotrófico, deficiência de GH, sem deficiência corticotrófica, além de diabetes e hipoparatireoidismo. Conclusão: Diante de doenças infiltrativas, como HS, deve-se atentar para a investigação de pan-hipopituitarismo, cujo diagnóstico pode ser tardio (clínica só se evidencia quando há comprometimento de mais de 75% da glândula). 275 HETEROZYGOSIS TO A NULL MUTATION IN THE GHRHR GENE REDUCES HEIGHT IN SENESCENCE Oliveira, M. H. A.¹; Pereira, R. M. C.¹; Souza, A. H. O.¹; Valença, E. H. O.¹; Farias, M. I. T.¹; Góis Júnior, M. B.¹; Salvatori, R.2 ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju, SE, Brazil; 2 John Hopkins University School of Medicine, Division of Endocrinology, Baltimore, MD, United States Objective: We have previously shown that adults who are heterozygous for the c.57+1G > A mutation in GHRH-R (MUT/N) present similar height, IGF-I and percent fat mass, but reduced weight, body mass index and fat free mass when compared to sex- and agematched homozygous controls (N/N) (1). However, only 10% of the studied individuals were older than 60 years. As a mild reduction in the activity of the GH-IGF-I axis may have a larger impact in the aging period, when the activity of GH-IGF-I naturally declines, we decided to study if heterozygosity for the mutation would translate in a particular phenotype in old individuals. Methods: A cross sectional study compared the prevalence of the MUT/N phenotype in two groups (young, age 20-40 yr, and old, age 60-80 yr) of 844 normal appearing individuals from Itabaianinha, Brazil, on the day of October 2008 election. Height, weight, systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP mmHg) were measured and BMI was calculated. Results: No difference was observed in the prevalence of MUT/N genotype between the two groups: young: 40/500 (8.0%); old: 25/344 (7.0%). The stature of the young MUT/N subjects was 2.35 cm shorter than N/N (NS). The stature difference between MUT/N and N/N was significant in the old group (4.16 cm, p = 0.02), even when analyzed by height standard deviation score (SDS), suggesting a height loss in old MUT/N subjects. Discussion: We also confirmed the previous data of a reduction in weight and BMI in young MUT/N subjects (1), suggesting an effect of heterozygosity across ages. Conclusion: Heterozygosity for the c.57+1G>A GHRH-R mutation is associated with reduction in stature in older individuals. The reduction of fat free mass present already at young age and possibly worsened by aging and postural associated defects, can contribute to this stature reduction. Therefore, the phenotypic expression of this congenital defect may manifest more obviously in later stages of life. 276 HIPERPLASIA HIPOFISÁRIA: RELATO DE DOIS CASOS Spada, F.¹; Zanini, E. P. L.¹; von Linsingen, C.¹; Junqueira, F.¹; Vieira Neto, L.¹ ¹ Hospital Federal da Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar dois casos de hiperplasia hipofisária. Métodos: Relato de caso de duas pacientes do sexo feminino. Resultados: Paciente 1: 25 anos, submetida a exame de tomografia computadorizada para investigação de cefaleia, que evidenciou lesão selar. Encaminhada para o endocrinologista com diagnóstico de adenoma hipofisário. Clinicamente, não havia sinais ou sintomas de excesso ou deficiência hormonais e as características da cefaleia sugeriam enxaqueca. Função adeno-hipofisária normal e campimetria por Goldmann preservada. Ressonância magnética (RM) de sela túrcica evidenciou glândula hipofisária globalmente aumentada, com extensão suprasselar, captação homogênea do contraste, sem lesões focais. Paciente 2: 50 anos, submetida à RM de crânio para investigação de neurite óptica, encaminhada à endocrinologia com diagnóstico de lesão selar. À RM, aumento global da hipófise, com extensão suprasselar, sem evidência de lesões focais e impregnação homogênea pelo contraste, compatível com hiperplasia hipofisária. Clinicamente não se observavam sinais ou sintomas compatíveis com hipersecreção hormonal. Menopausa aos 48 anos. Laboratorialmente, LH: 88,5 mUI/mL; FSH: 143,5 mUI/mL. Restante da função hipofisária normal. Essa paciente procurou um serviço de neurocirurgia de outra instituição e foi submetida à cirurgia transesfenoidal, cujo exame histopatológico revelou tecido hipofisário normal hiperplásico. Ambas as pacientes encontram-se em acompanhamento clínico e radiológico. Os exames de RM realizados um ano após não revelaram mudança do tamanho da hipófise e a função adeno-hipofisária mantém-se inalterada. Discussão: Além da ausência de alterações clínico-laboratoriais, a avaliação radiológica cuidadosa por meio da RM pôde diferenciar a hiperplasia hipofisária de tumores e lesões infiltrativas. As prováveis etiologias seriam uma hiperplasia hipofisária residual persistente decorrente da puberdade (paciente 1) e menopausa (paciente 2). Conclusão: O diagnóstico diferencial das massas selares pode ser difícil devido às semelhanças radiológicas e clínicas, o que requer, muitas vezes, uma abordagem multidisciplinar envolvendo endocrinologistas e radiologistas. Um correto diagnóstico etiológico é fundamental, já que as condutas terapêuticas diferem entre as causas. A correta identificação da hiperplasia hipofisária, quando afastadas suas causas patológicas, evita tratamentos desnecessários, muitas vezes custosos e associados a morbidades. 277 HIPERTENSÃO INTRACRANIANA NO PROLACTINOMA GIGANTE: RELATO DE CASO Chuva, F. C.¹; Dytz, M. G.¹; Giorgetta, J. M.¹; Moraes, A. B.¹; Vieira Neto, L.¹; Gadelha, M. R.¹ ¹ Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relato de caso de prolactinoma (PRLoma) gigante com hipertensão intracraniana (HIC) e queda significativa da prolactina (PRL) após cirurgia transcraniana (CTC) e cabergolina (CAB). Métodos: PRLoma gigante foi definido como lesão ≥ 4 cm e prolactina (PRL) > 200 ng/dL. Função adeno-hipofisária e imagens sela/crânio foram realizadas antes e após o tratamento. Resultados: Masculino, 42 anos, iniciou galactorreia bilateral e redução de libido com piora progressiva da acuidade visual (amaurose no olho direito) em 10 anos. Em seis meses, evoluiu com cefaleia holocraniana de forte intensidade, diplopia, estrabismo divergente, e hemianopsia temporal esquerda. PRL ao diagnóstico > 15.000 ng/mL (2.5-15.2) com pan-hipopituirarismo e tomografia computadorizada de sela turca com volumosa lesão expansiva lobulada de 6,2 x 5,8 x 6,2 cm com áreas de degeneração cístico-necrótica, efeito compressivo superiormente sobre quiasma óptico, 3o ventrículo, ventrículo lateral direito e mesencéfalo deslocando linha média para a esquerda. Inferiormente, a lesão estende-se ao seio esfenoidal e à fossa nasal direita e, lateralmente, para o seio cavernoso direito, artéria carótida e região temporal/hipocampo ipsilateral comprimindo parênquima cerebral. Foi ao nosso ambulatório apresentando sinais de HIC e em uso de dexametasona, levotiroxina e CAB (0,5 mg/dia) há dois meses. Realizada ressecção tumoral parcial por via transcraniana. A análise patológica revelou Ki-6,7 de 3% e p53 < 1%. Sintomas neuro-oftalmológicos melhoraram, porém o paciente manteve galactorreia, amaurose à direita e pan-hipopituitarismo. CAB foi reiniciada até 3,5 mg/semana, com o nadir da PRL em 117 ng/mL cinco meses após cirurgia. RM de sela turca mostrou redução do componente suprasselar da lesão para 5,5 x 3,6 x 2,4 cm com diminuição do efeito compressivo sobre o parênquima cerebral, sistema ventricular e mesencéfalo. Manteve extensão para o seio cavernoso, carótida, fossa temporal e nasal à direita e seio esfenoidal que foi a óbito por meningoencefalite. Discussão: O caso relatado descreve uma situação clínica incomum de um PRLoma gigante que evoluiu a óbito por meningoencefalite após controle significativo da PRL e volume tumoral. Pela gravidade da doença, cirurgia transcraniana foi a melhor opção. Conclusão: O atraso ao diagnóstico do PRLoma parece ter contribuído para as manifestações neuro-oftalmológicas irreversíveis e aumento da mortalidade apesar da significativa resposta com a abordagem multidisciplinar. 278 HIPOGLICEMIA SECUNDÁRIA À PRODUÇÃO DE IGF 2 POR ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: RELATO DE CASO Rodrigues, M. M. N.¹; Andrade, C. R. M.¹; Calsolari, M. R.¹; Líbero, T. C.¹; Moura, L. G.¹; Muniz, A. L. R.¹; Noviello, T. B.¹; Rosário, P. W. S.¹ ¹ Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Descrição de raro caso de hipoglicemia grave: síndrome paraneoplásica com produção de IGF2 por adenocarcinoma gástrico metastático. Métodos: Relato de caso feito a partir de exames laboratoriais e anatomopatológico. Resultados: Homem, 69 anos, sem comorbidades prévias, apresentava perda de 20 kg em 6 meses. Admitido com hipoglicemia grave (glicemia sérica-30 mg/dL), persistia com hipoglicemias recorrentes, necessitando de aporte glicêmico parenteral elevado. Evoluiu com hematêmese volumosa, tendo endoscopia digestiva alta, tomografia de abdômen e tórax e, posteriormente, anatomopatológico, apontado adenocarcinoma gástrico com metástases hepáticas e pulmonar. Determinada a incurabilidade oncológica, persistia com graves crises hipoglicêmicas, sendo feito teste de jejum para determinação etiológica destas. Definida origem não hiperinsulinêmica: glicemia - 33 mg/dl, insulina - 0,4 µIU/mL (VR: 2-13 µIU/mL), peptídeo C - 0,2 ng/mL (VR: 0,9-7,1 ng/mL), a associação entre baixos níveis de IGF1 - 25,0 ng/mL (VR: 75 - 212 ng/mL). Discussão: O relato acima ilustra raro exemplo de hipoglicemia tumoral induzida por células não pancreáticas, sendo o adenocarcinoma gástrico responsável por apenas 8% desses casos. A hipoglicemia se dá pela produção de forma parcialmente processada de IGF2, “big IGF2”, que possui atividade insulina “símile” capaz de ativar receptores de insulina perifericamente. Baixos níveis séricos de insulina, peptídeo C, GH e IGF1 associados à elevação da relação IGF2/IGF1 plasmática (> 10) ou dos níveis de “big IGF2” confirmam o diagnóstico. O tratamento definitivo é o da doença de base, podendo ser usado como paliação: glicocorticoides, GH e análogos de somatostatina, com melhores resultados para o primeiro. Conclusão: A possibilidade de doença neoplásica deve ser aventada diante da hipoglicemia de causa incerta, sendo tal diagnóstico importante pela oportunidade de identificação de neoplasia e pela possível boa resposta, embora efêmera, à corticoterapia. S299 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 279 HIPONATREMIA EUVOLÊMICA (HE) SINTOMÁTICA RECORRENTE SECUNDÁRIA A HIPOTIREOIDISMO CENTRAL (HC) Alves Júnior, A. M.¹; Ribeiro, M. S.¹; Lima, W. F.¹; Silva, M. S. G.¹; Mascarenhas, M. O.¹; Brandão, D. S.¹; Feliciano, R. O.¹ Neuroendócrino ¹ Universidade Federal do Tocantins (UFT), Hospital Geral de Palmas (HGP), Palmas, TO, Brasil Introdução: A hiponatremia é uma situação comum em pacientes internados, mas sua etiologia é de difícil confirmação. O hipotireoidismo é uma causa infrequente de hiponatremia, mas deve ser sempre aventada. Objetivo: Este caso clínico tem como objetivo ilustrar o hipotireoidismo central como causa de HE sintomática. Métodos: Apresentação de caso e investigação diagnóstica conforme literatura. Resultados: M.V.C., 78 anos, com rebaixamento do nível de consciência. Relato de 4 internações prévias nos últimos 3 meses, por episódios semelhantes com melhora após hidratação. Antecedente de HAS em uso de diurético tiazídico. Relatou hipofisectomia há 12 anos com subsequente radioterapia, mas não sabia informar etiologia. Na admissão, função hematológica, renal e hepática, glicemias normais. Sódio sérico (NS) de 120 mEq/dl (VR135 a 148 mEq/dl) e demais eletrólitos normais. Dosagem de sódio urinário 147 meq/24h (VR: 40 a 220 mEq/24h). Perfil hormonal basal com dosagem de ACTH, aldosterona, cortisol, HGH, prolactina e IGF-1 normais. Apresentava FT4 0,6 mEq/Dl (VR: 0,87 a 1,56 ng/100 ml) e TSH 2,37 mEq/ dl. Não realizada dosagem de ADH por motivos técnicos. Radiografia pulmonar normal. Iniciado levotiroxina 25 mcg/d com ajuste progressivo, mantendo níveis NS normais e FT4 após 6s de tratamento de 0,98 mEq/dL. RNM de sela túrcica evidenciou lesão expansiva, compatível com recidiva ou remanescente tumoral. Alta hospitalar com melhora clínica e laboratorial. Discussão: As HE ocorrem quando há reabsorção excessiva de água devido à incapacidade renal de diluir a urina. Geralmente devido a uma produção excessiva ou potencialização da ação do hormônio antidiurético (HAD) em decorrência de alterações renais, metabólicas, endócrinas, farmacogênicas, doenças crônicas ou iatrogênicas. A HE é um distúrbio comum em idosos e está associada a delírios, quedas e mortalidade intra-hospitalar. Frequentemente a hiponatremia é ignorada ou subdiagnosticada, sendo o tratamento da causa subjacente essencial. Neste caso, temos uma paciente idosa com uma HE hipo-osmolar causada por hipotireoidismo central e potencializada pelo uso de diurético tiazídico. Conclusão: Hiponatremia deve ser considerada não apenas como um distúrbio hidroeletrolítico isolado, mas também como um sinal de uma doença. Nesse caso em específico, uma abordagem adequada em internações anteriores poderia ter evitado recidivas, melhorando a sobrevida e diminuindo os custos ao serviço de saúde. 280 HIPONATREMIA SEVERA ASSOCIADA A HIPOGLICEMIA EM UMA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO TARDIO DE SÍNDROME DE SHEEHAN Silva, J. A.¹; Brito, D.¹; Gonçalves, L.¹; Ramalho, M.¹; Rodrigo, S.¹ ¹ Residência de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas (Famed/UFAL), Maceió, AL, Brasil Objetivo: Relatar a importância do diagnóstico diferencial da associação de hiponatremia severa e hipoglicemia em pacientes com síndrome de Sheehan. Métodos: Paciente do sexo feminino, caucasiana, 37 anos, deu entrada na enfermaria apresentando-se em regular estado geral, emagrecida, aspecto envelhecido, hipocorada, pele espessada e seca, diminuição dos pelos de ambas as sobrancelhas em terço distal, ausência de pilificação em axila e região pubiana, lentificação do pensamento e da fala, discurso incoerente, apatia im- S300 portante e quadros de agitação psicomotora; PA: 90 x 60 mmHg e frequência cardíaca de 58 bpm. Durante coleta da anamnese, a paciente informa que apresentou parto complicado com intensa hemorragia há 14 anos com necessidade de histerectomia e transfusão de hemoderivados. Resultados: Foram solicitados exames para investigação: sódio: 110 mEq/L, glicemia: 46 mg/dl; potássio: 3,9 mEq/L, ureia: 17 mg/dl, creatinina 0,63 mg/dl, cortisol 1,2 ucg/ dl; TSH de 6,0 µUI/mL e T4 livre 0,40 mg/mL, FSH 4,4 mUI/ ml, LH 0,82 mUI/mL, prolactina 2,3 ng/mL, estradiol < 10 pg/ mL; hemoglobina 10,3 g/dL, hematócrito 30%, VCM 83,1 UI% e HCM 28 uug, triglicerídeos 416 mg/dL, colesterol total 219 mg/ dL. Pela história clínica, exame físico e dados laboratoriais, foi dado o diagnóstico de hiponatremia e hipoglicemia secundárias a pan-hipopituitarismo devido à síndrome de Sheehan, sendo implementada terapia de reposição hormonal com glicocorticoides seguida de levotiroxina, normalização dos níveis de sódio e da glicemia e estabilização clínica. Paciente teve alta hospitalar com importante melhora clínica. Discussão: A síndrome de Sheehan foi primeiramente descrita por H. L. Sheehan em 1937. Trata-se de hipopituitarismo pós-parto secundário à necrose hipofisária decorrente de hipotensão por causa de hemorragia maciça durante ou logo após o parto. Há relatos de pacientes que evoluíram com hiponatremia aguda e hipoglicemia sintomática após décadas do nascimento do último filho, conforme descrito no caso. Em virtude de sua raridade, a síndrome de Sheehan recebe pouca atenção. Sendo assim, o caso descrito chama a atenção para a valorização da história clínica e exame físico, que foram fundamentais para justificar a hiponatremia severa e a hipoglicemia apresentadas pela paciente. Conclusão: Este caso ilustra a possibilidade da associação de hiponatremia severa e hipoglicemia sintomática em uma paciente portadora de síndrome de Sheehan. 281 INSULIN SENSITIVITY, BETA CELL FUNCTION AND PREVALENCE OF DIABETES IN INDIVIDUALS HOMOZYGOUS AND HETEROZYGOUS FOR THE C.57+1G > A GHRHR MUTATI Oliveira, M. H. A.¹; Rocha, I. E. S.¹; Vicente, T. R.¹; Salvatori, R.2; Pereira, R. M. C.¹; Santos, E. G.¹; Valença, E. H. O.¹ ¹ Federal University of Sergipe, Division of Endocrinology, Aracaju, Brazil; 2 Johns Hopkins University School of Medicine, Division of Endocrinology, Baltimore, MD, United States Objective: GH has an important role in regulating insulin sensitivity (IS) and beta cell function (βCF). We have shown that subjects with isolated GH deficiency due to a homozygous GHRHR mutation (MUT/MUT) have increased IS, impaired βCF, and higher prevalence of impaired glucose tolerance (IGT) when compared with homozygous normal controls (N/N). IS and βCF in heterozygous individuals for the mutation (MUT/N) are unknown. Our purposes were a) to compare IS, βCF, prevalence of IGT and DM in the 3 groups and b) to verify the prevalence of IGT and DM in all living MUT/ MUT. Methods: a) OGTT was performed in 24 MUT/MUT, 25 MUT/N and 25 N/N with glucose and insulin measurements at 0, 30, 60, 90, 120, and 180 min. IS was assessed by HOMAir, quantitative IS check index (QUICK), oral glucose IS index in 2 h (OGIS2) and 3 h (OGIS3). βCF was assayed by HOMAbeta, insulinogenic index, and area under the curve of insulin-glucose ratio (AUC I/G (µU/ml)/(mg/dl). b) We have identified 55 living MUT/MUT individuals. Two have previously diagnosed DM. We measured fasting glucose in 16, and performed OGTT with glucose measurements at 0 and 120 minutes in additional 12 individuals, while 24 were studied in the previous protocol, for a total of 54. Results: MUT/N and N/N were similar in IS and βCF, IGT and DM prevalence in OGTT study. BMI had a trend toward to be lower in MUT/MUT than N/N (p = 0.054) and was similar between MUT/MUT and MUT/N. As BMI could influence the comparison between MUT/ MUT and MUT/N, we will focus in the comparison between MUT/MUT and MUT/N. HOMAir was lower, QUICK and OGIS 2 were higher in MUT/MUT than MUT/N (p = 0.004, p = 0.004 and p = 0.054, respectively) while OGIS 3 was similar. HOMAbeta, IGI and AUC I/G were lower in MUT/MUT than MUT/N (p = 0.005, p = 0.001 and p = 0.002 respectively). The prevalence of IGT was higher in MUT/MUT than MT/N and N/N. Discussion: We confirm previously identified consequences of congenital IGHD on βCF and IS. These effects seem not to be mediated by BMI. We also confirmed a higher prevalence of IGT in the MUT/MUT than both MUT/N and N/N. Conclusion: MUT/MUT have higher IS but reduced βCF compared to the other groups. They also have a higher prevalence of IGT than N/N and N/MUT individuals. They are therefore not immune from developing DM. 282 INSULINOMA: RELATO DE CASO E EXAMES INDICADOS PARA SUA INVESTIGAÇÃO Coutinho, E. A. F.¹; Silva, N. C.¹; Xavier, T. A.¹; Brandão, D. A.¹; Netto, I. G.¹; Ramos, G. R.¹; Schrank, Y.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia, Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relatar caso de insulinoma responsável por manifestações neurológicas e descrever os exames empregados na sua localização. Métodos: J.P.F.S., 42 anos, sexo feminino, parda, obesa e solteira. Em setembro de 2008 apresentou quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada, sendo realizada TC de crânio (sem alterações) e prescrita fenitoína para uso contínuo. Interrompeu tratamento por conta própria em dezembro de 2012 quando apresentou novo episódio de crise convulsiva, durante a qual foi realizada glicemia capilar (26 mg/dl). Na internação, evidenciada a tríade de Whipple e solicitados exames que confirmaram o hiperinsulinismo com predomínio da secreção de pró-insulina - glicose 32 mg/dl, insulina 2,61 µU/ ml (> 3), pró-insulina 20,1 pmol/ml (> 5), peptídeo C 3,8 ng/ml (> 0,6). TC de abdome com ênfase na fase arterial evidenciou três lesões nodulares no pâncreas (colo 1,2 cm, corpo 1,9 cm e cauda 2,1 cm) sugestivas de tumor neuroendócrino. RNM também demonstrou lesões na cabeça, corpo e cauda. USG endoscópica evidenciou lesão hipoecoica próxima ao processo uncinado e na cauda pancreática, sendo esta última biopsiada. Resultado do citopatológico com imuno-histoquímica compatível com insulinoma. Cateterismo pancreático com lesão captante de contraste apenas em cauda e com aumento da secreção de insulina nessa região após estímulo com cálcio. Realizada pancreatectomia corpo caudal videolaparoscópica com ressecção das lesões tumorais. Após o procedimento, houve melhora completa dos episódios de hipoglicemia. Discussão: Trata-se de um caso de insulinoma, cuja primeira manifestação foram alterações neurológicas (crises convulsivas). Diante dos sinais e sintomas de hipoglicemia, é fundamental a investigação diagnóstica, sendo o insulinoma uma das causas possíveis. Em 40% dos casos, esse tumor está associado à obesidade. Sua localização necessita comumente da associação de exames de imagem, em razão do seu frequente pequeno tamanho. Conclusão: Apesar de ser um tumor neuroendócrino raro, o tratamento preconizado é a ressecção cirúrgica, com cura em 70% a 97% dos casos. 283 MACROADENOMA HIPOFISÁRIO PRODUTOR DE LH: RELATO DE CASO Faria, G. B.¹; Pinel, S. C. M.¹; Rocha, E. T.¹; Lameirinhas, T. S.¹; Gontijo, G.¹; Chevtchouk, L.¹; Jurno, M. E.¹ ¹ Associação do Diabéticos de Barbacena, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Assodibar/FHEMIG), Barbacena, MG, Brasil Objetivo: Relato de caso de um paciente com macroadenoma hipofisário produtor de LH e sua evolução com tratamento. Métodos: Mulher, 54 anos, queixa de amenorreia há seis meses, cefaleia hemicraniana pulsátil em regiões supraorbitária e temporal esquerdas, diplopia e hemianopsia homônima bitemporal. Não apresentava galactorreia, hirsutismo, acne, ganho de peso e mantinha níveis pressóricos normais. Tomografia computadorizada de crânio (TCC) e ressonânica nuclear magnética (RNM) de encéfalo de abril de 2011 revelando lesão expansiva em sela túrcica com compressão de quiasma óptico. A dosagem hormonal (cortisol basal, prolactina, calcitonina, GH, TSH, FSH, LH, ACTH ), glicemias e TTOG apresentavam-se dentro dos limites da normalidade, sugerindo tratar-se de um adenoma hipofisário não secretante. Por opção da paciente, foi mantida conduta conservadora com o uso de bromocriptina por dois meses, com melhora parcial dos sintomas visuais, confirmada pela campimetria. Entretanto, a RNM de hipófise de janeiro de 2012 revelava formação expansiva sólida, com área de hipersinal em T2, medindo 2 x 3 x 2,3 cm em íntimo contato com seio cavernoso, insinuação além dos limites de carótida interna direita e compressão do quiasma óptico. Sendo assim, a paciente foi encaminhada à neurocirurgia, com ressecção transefenoidal endoscópica da lesão. Anatomopatológico revelou adenoma hipofisário com células produtoras de hormônio luteinizante (LH) e imuno-histoquímica detectando presença de antígeno de proliferação celular Ki67/LH. Em cinco meses, eram notadas redução importante dos sintomas, melhora à campimetria e RNM revelando sela túrcica aumentada com hipófise de dimensões normais. Discussão: O grande grupo de adenomas não funcionantes clinicamente tem predomínio dos adenomas gonadotróficos que sintetizam FSH e\ou LH, as alfa ou beta subunidades desses heterodímeros. São usualmente detectados incidentalmente ou por sintomas neurológicos compressivos ou ainda raramente como hipogonadismo secundário. Conclusão: Os gonadotropinomas são ineficientes como secretores e raramente são reconhecidos clínica e laboratorialmente pela hipersecreção de LH, sendo esta cíclica. 284 MACROPROLACTINOMA FAMILIAR Kairala, H. E.¹; Rodrigues, P.¹; Azevedo, E.¹; Rangel, A. L.¹; Cargnin, K. R. N.¹; Waymberg, S.¹; Pessoa, C. H. C. N.¹ ¹ Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (IESC), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Apresentar relato de casos de macroprolactinoma familiar. Métodos: Foram avaliados dois pacientes do sexo masculino, irmãos consanguíneos, ambos com diagnóstico de macroprolactinoma. Resultados: O paciente A. teve o diagnóstico aos 26 anos, a prolactina inicial era maior que 200 ng/ml, sendo submetido à cirurgia em 2004 por apresentar adenoma hipofisário de 5,2 x 3,0 x 2,8 cm deslocando o quiasma óptico, mantendo acompanhamento em outro estado. O paciente J. teve o diagnóstico aos 27 anos, recebeu carbegolina como modalidade inicial de tratamento devido a prolactina sérica de 4.828 ng/ml e lesão hipofisária de 2,4 x 2,2 x 2,2 cm, permanecendo atualmente em acompanhamento clínico nesta instituição, evoluindo com controle hormonal e redução da lesão. Discussão: Os tumores hipofisários podem estar presentes em mais de um membro da mesma família, sem ser um evento esporádico, mas sim relacionado com a síndrome FIPA, a qual pode correlacionar-se com uma mutação no gene AIP em até 25% dos casos. Alguns autores referem também que a vivência de situações traumáticas durante a infância poderá interferir nos processos de inativação de genes supressores de tumores que promovem a gênese dos adenomas hipofisários e aumentar a S301 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Neuroendócrino Trabalhos Científicos incidência dessas neoplasias nesses pacientes. Os adenomas hipofisários familiares também estão presentes em outras neoplasias endócrinas múltiplas familiais. Conclusão: Considerando a existência da forma familiar dos adenomas hipofisários, o diagnóstico em 2 irmãos nos chamou a atenção para essa possibilidade. Pacientes portadores de AIPmut têm maior predisposição a apresentar doenças mais agressivas em idades mais jovens e suas características clínicas podem causar um impacto negativo no tratamento, por isso a importância do rastreio clínico e genético em membros de famílias com 2 ou mais casos. Além disso, é necessário, nesse perfil de pacientes, pesquisar também a presença dos genes NEM-1 e PRKAR-1A, pois o adenoma hipofisário pode ser uma manifestação inicial isolada. 285 MACROPROLACTINOMA GIGANTE ASSOCIADO A IMPORTANTE COMPONENTE CÍSTICO E RESPOSTA PARCIAL AO USO DE ALTAS DOSES DE CABERGOLINA: RELATO DE CASO Camelo, M. G. G.¹; Silva, B. L.¹; Souza, P. M. M. S.¹; Silva, N. M.¹; Barbosa, J. L. S.¹; Cruz, J. A. S.¹ ¹ Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, AL, Brasil Objetivo: Relatar a resposta parcial a altas doses de cabergolina em um paciente com macroprolactinoma gigante e importante componente cístico. Métodos: Paciente, sexo masculino, 30 anos, procurou ambulatório de endocrinologia com história de ganho de peso, indisposição, redução da libido e cefaleia frontoparietal, associada a comprometimento visual. Ao exame físico: 90 kg, cintura abdominal de 109 cm, ginecomastia bilateral sem galactorreia. Os aparelhos respiratório e cardiovascular não mostravam alterações. Resultados: O perfil hormonal evidenciou hipogonadismo hipogonadotrófico, hipotireoidismo e hipocortisolismo secundários; deficiência de GH, função hepática e renal normais e níveis de prolactina de 855 ng/ml (VR: 0-15 ng/ml). A RNM do crânio revelou: volumosa lesão expansiva de contorno lobulado e limites parcialmente definidos, heterogênea, com captação irregular de contraste, ocupando a sela túrcica, seios esfenoidais e região suprasselar, com importante efeito compressivo sobre o quiasma óptico, tocando o hipotálamo, apresentando áreas císticas. Foi iniciado o tratamento com cabergolina e aumento gradativo da dose até um total de 6 mg por semana, com redução dos níveis de prolactina, mas com aumento do componente cístico que persistia comprimindo o quiasma óptico e comprometendo a visão. Realizou-se um ecoDopplercardiograma sem alterações e uma campimetria que demonstrou escotoma denso em todo campo visual com discretas ilhas de visão. Após 3 meses de tratamento clínico, foi realizada uma nova RNM que demonstrou permanência do efeito compressivo sobre o quiasma óptico e o hipotálamo, sendo o paciente encaminhado à neurocirurgia. Discussão: Prolactinomas são os tumores hipofisários funcionantes mais frequentes. A apresentação clínica característica é a de hipogonadismo associado ou não a sintomas compressivos. O tratamento clínico é atualmente considerado a primeira opção na abordagem de todas as causas de hiperprolactinemia. Em pacientes que tenham tumores com grandes áreas císticas, apesar do grande volume do adenoma, há um menor número de células lactotróficas, o que pode comprometer a ação do agonista dopaminérgico levando a uma dissociação da resposta terapêutica, como no caso apresentado. Conclusão: Este caso ilustra que a presença do componente cístico em macroprolactinoma gigante comprometeu a resposta completa à cabergolina, sendo indicado o tratamento cirúrgico para descompressão neuro-oftalmológica. S302 286 MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (CGMS®) EM PACIENTES COM ACROMEGALIA Sousa, L. S.¹; Bastos, F. A.¹; Machado, A. S.¹; Camelo, F. S. A.¹; Sato, M. M. M.¹; Maciel, M. L.¹; Miranda, R. V.¹; Fernandes-Caldato, M. C.¹ ¹ Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, PA, Brasil Objetivo: Avaliar o metabolismo glicídico por meio do CGMS® (Sistema de Monitorização Contínua da Glicose) em pacientes acromegálicos, bem como a relevância da variabilidade glicêmica. Métodos: Realizado um estudo quantitativo, analítico e transversal com 16 pacientes acromegálicos, que foram submetidos a CGMS® por 72 horas. Foram analisados fatores de risco cardiovasculares, médias de glicose intersticial aferidas pelo sensor, tempo de hipo, normo e hiperglicemia, valores de glicemia pré e pós-prandial das principais refeições detectadas pelo sensor CGMS®. Resultados: Entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares, o mais comum foi a alteração no metabolismo da glicose (62,5%), seguida de hipertensão arterial sistêmica (56,25%) e dislipidemia (31,25%). O índice de massa corpórea médio foi de 28,25 kg/m², sendo que 50% apresentavam-se com sobrepeso, 25%, obesos. A variabilidade glicêmica diária da população em estudo obteve média de 112,6 mg/dl, sendo que 5 pacientes apresentaram percentual de duração de glicemia fora da normalidade, estando abaixo de 95% do tempo em normoglicemia. Desses, 60% não eram considerados diabéticos previamente e a média de variabilidade glicêmica encontrada foi de 180 mg/dl. Discussão: Diabetes mellitus e tolerância diminuída à glicose são frequentemente associados a acromegalia, com consequente aumento na morbimortalidade cardiovascular. A CGMS® permite aferições da concentração da glicose intersticial e apresenta boa correlação com a glicemia plasmática. Neste estudo, foi observada uma alta eficácia do sensor CGMS®, em relação à glicemia capilar, principalmente na identificação de excursões glicêmicas. Em relação à variabilidade glicêmica diária desses pacientes, foi extremamente alta. Isso pode ocorrer devido ao excesso de GH que leva à resistência insulínica, além de que o próprio tratamento com análogo de somatostatina pode causar aumento da glicemia. Conclusão: Observou-se a presença de alterações importantes no metabolismo glicídico, principalmente nos 5 pacientes descompensados, nos quais a variabilidade glicêmica superou os índices da média glicêmica total. Com o auxílio do CGMS®, pacientes considerados normoglicêmicos foram diagnosticados com DM2, podendo ser iniciado precocemente tratamento adequado, contribuindo na diminuição da morbidade apresentada por estes. Esse método parece ser importante principalmente para detecção precoce das alterações no metabolismo da glicose, antes mesmo dos métodos considerados convencionais para esse diagnóstico. 287 PAN-HIPOPITUITARISMO CONGÊNITO NUNCA DIAGNOSTICADO OU TRATADO EM ENGENHEIRO DE 28 ANOS Silva, M. C.¹; Ronsoni, M. F.¹; Colombo, B. S.¹; Oliveira, C. S.¹; Canalli, M. H. B. S.¹; Coral, M. H. C.¹; Hohl, A.¹ ¹ Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC, Brasil Objetivo: A apresentação clínica do hipopituitarismo congênito (HC) é variável e depende da idade do diagnóstico, do tipo e da severidade das deficiências. Este relato mostra a história natural de um adulto com HC nunca diagnosticado ou tratado e sua evolução após 1 ano de reposição hormonal. Métodos: Masculino, 28 anos, engenheiro, mestrando, procedente de Moçambique, 135 cm de altura, peso 41 kg, ausência de sinais de virilização, Turner P1G1, pênis 3 Trabalhos Científicos 288 PENETRANCE AND CLINICAL IMPACT OF MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 1 – RELATED TUMORS DIAGNOSED IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE Gonçalves, T. D.¹; Toledo, R. A.¹; Sekiya, T.¹; Coutinho, F. L.¹; Montenegro, F. L.¹; Toledo, S. P.¹; Lourenco Júnior, D. M.¹ ¹ Endocrine Genetics Unit (LIM-25), Division of Endocrinology, Hospital das Clínicas, University of São Paulo School of Medicine (HC-FMUSP), São Paulo, SP, Brazil Introduction: In order to reach an early diagnosis, the Consensus on MEN1 (2001/2012) established periodic hormonal/radiological exams in carriers of MEN1 germline mutation with beginning to each tumor type based on younger case age reported. This recommendation is resultant of absence of consistent data reported on penetrance, prevalence, phenotype and clinical impact of the MEN1-related tumors in adolescents. Objective: To recognize the penetrance/prevalence of MEN1 tumors during 2nd decade reaching a more appropriate screening. Methods: One hundred and fifteen MEN1 cases harboring germline MEN1 mutations were studied. Two subgroups were selected: group 1, 27 cases approached during 2nd decade; group 2: 24 cases diagnosed with MEN1 after 21 years but presenting suggestive clinical history of MEN1 during 2nd decade. Results: The penetrance and prevalence of HPT, PET and PIT in 27 cases of the group 1 were respectively 55.6%, 44.4%, 44% and 71.4%, 57.1%, 55%. Indeed, the penetrance of prolactinoma, NF-PIT, NF-PET and insulinoma were 34.6%, 8%, 44.4% and 7.4%, The overall penetrance during 2nd decade of HPT, insulinoma, gastrinoma, non-functioning PET, PIT, prolactinoma and nonfunctioning PIT in 114 MEN1 cases were respectively 26.9, 2.6, 0, 44.4, 16.5, 15 and 8%. Half of young cases diagnosed were asymptomatic and predominant symptoms were related to prolactinoma (82%), insulinoma (18.2%) and HPT (9%). During follow-up, 26.4% of young cases with asymptomatic HPT presented urolithiasis before 21 years. Prolactinoma was the more prevalent pituitary tumor (78%) and 44.5% were macroadenoma. Non-functioning PITs are less frequent (22%) presenting as incipient microadenomas. Nonfunctioning PETs are frequent into 2nd decade (57%) and relevant clinically (55%, surgical indication). Clinical/surgical treatment was conducted to one or more MEN1-related tumors in 44.4% (12/27) of the adolescents. Conclusion: Based in our data approaching 27 patients during 2nd decade, we proposed an intensive periodic clinical/hormonal screening to early diagnosis of prolactinomas, insulinomas, HPT and NF-PETs once they reveal as significant clinically tumors in adolescents. Concerning NF-PETs, we indicate basal radiological screening between 10-15 y-old and valid the suggestion of the Consensus on MEN1 (2012) to begin this screening at 10 y-old based in weak evidences, the case report of two adolescents presenting this tumoral type. 289 PERFIL DOS PACIENTES COM ACROMEGALIA DO SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA, MG Alves, D. L.¹; Amaral, F. F.¹; Carvalho, B. R. P.¹; Dantas, C. A. F.¹; Moreira, R. O.¹; Nassau, D. C.¹; Larcher de Almeida, A. A.¹ ¹ Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (SCMJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivos: Analisar dados epidemiológicos, clínicos, laboratoriais, radiológicos e etiológicos dos acromegálicos do Ambulatório de Neuroendocrinologia da SCMJF, descrever as principais complicações clínicas associadas ao excesso do GH e/ou IGF-1 e analisar a resposta ao tratamento instituído: cura, ausência de resposta e recidiva. Métodos: Análise retrospectiva dos prontuários dos acromegálicos do Ambulatório de Neuroendocrinologia da SCMJF que foram consultados entre 1996 e 2012. Resultados: Identificados 16 pacientes, 6 mulheres e 10 homens. Idade média ao diagnóstico: 46,9 anos. Tempo médio decorrido entre clínica e diagnóstico: 3,4 anos. Manifestações clínicas: mudança de fisionomia (68,75%), cefaleia e alteração visual (37,5%), doença cardíaca e alterações no metabolismo da glicose (37,5%), artropatia (31,25%), visceromegalias (25%), fadiga (18,75%) e alterações de pele (12,5%). Um paciente apresentou GH < 0,4 e todos tinham IGF-I acima do limite superior da normalidade. Somatropinoma foi a causa mais frequente de acromegalia (100% dos pacientes), 3 micro e 10 macroadenomas, 3 casos sem descrição de tamanho. Um dos adenomas foi cossecretor de GH e prolactina. Alterações metabólicas e cardiovasculares foram principais preditores de morbimortalidade. Como tratamento primário, a CTE foi realizada em 4 pacientes, cirurgia transcraniana em 2 e medicamentoso em 7. Treze pacientes necessitaram de terapia secundária (medicamentoso e/ou radioterapia). A cura foi obtida em 2 acromegálicos e houve um óbito. Discussão: Acromegalia é uma doença sistêmica crônica, insidiosa, decorrente da produção excessiva do GH e IGF-1. Em 98% dos casos, é causada por um adenoma hipofisário secretor de GH. Mais comum entre 30 e 50 anos de idade e não há predileção por gênero. Quando não controlada, leva a complicações cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e neoplásicas. Requer abordagem multidisciplinar e envolve tratamento cirúrgico, medicamentoso e/ou radioterápico, sendo a cirurgia transesfenoidal (CTE) o tratamento primário de escolha. O tratamento é considerado efetivo quando preenche os critérios de cura/controle estabelecidos pelo consenso realizado em Paris em 2009. Conclusão: Os dados epidemiológicos, clínicos, laboratoriais, radiológicos e etiológicos dos nossos acromegálicos foram coerentes com a literatura, com exceção do tempo decorrido entre as primeiras manifestações clínicas e o diagnóstico. Fato que julgamos ser secundário ao n reduzido. 290 PERSISTÊNCIA DE NORMOPROLACTINEMIA APÓS RETIRADA DOS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS EM PACIENTES PORTADORES DE PROLACTINOMA Soto, C. L.¹; Carvalho, D. B.¹; Corrêa, P. C.¹; Tanigawa, L.¹; RamosDias, J. C.¹; Zampieri, M.¹; Senger, M. H.¹ ¹ Área de Endocrinologia, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (PUC/ SP), Sorocaba, SP, Brasil Introdução: Prolactinomas são responsáveis por 40%-60% dos casos de adenoma hipofisário, manifestando-se geralmente entre 20 e 40 anos. Microadenomas são mais frequentes, com maior prevalência no sexo feminino (20:1). Atualmente o uso de agonistas dopaminérgicos é considerado tratamento de escolha, com melhora clínica e neurológica em 70%-80% dos pacientes. A normalização nos níveis séricos de prolactina (PRL) e/ou diminuição do tumor S303 Neuroendócrino cm de comprimento, testículos 3 cm³. Sempre foi pequeno para a idade, referia libido e ereções desde os 12 anos, mas nunca teve relação sexual (sua principal queixa). Negava dificuldades de aprendizagem, trauma craniano, radioterapia ou história familiar semelhante. Fazia uso de sinvastatina 20 mg ao dia há 3 meses e negava outras comorbidades. Idade óssea compatível com 15 anos. TSH 2,5 mcIU/ mL (0,4-4,0), T4L 0,64 ng/dL (0,89-1,76), LH 0,16 mIU/mL (0,8-7,6), FSH 0,65 mIU/mL (0,7-11,1), prolactina 25,2 ng/mL (2.5-17), GH < 1), IGF1 40), LDL 197 mg/dL. Conclusão: É interessante que o paciente não apresentava déficits cognitivos apesar do hipotireoidismo marcado, o que nos leva a pensar que se trata de um hipotireoidismo de início recente. A resposta clínica após 1 ano de tratamento, com crescimento estatural, peniano e melhora do perfil lipídico, é animadora em termos de benefícios físicos e psicossociais. Neuroendócrino Trabalhos Científicos ocorrem em cerca de 80% dos casos. A desvantagem do tratamento medicamentoso é a necessidade de uso prolongado. O momento ideal para sua suspensão ainda é controverso e deve ser considerado em pacientes com normoprolactinemia por, no mínimo, 6 meses. Objetivo: Avaliar a persistência de normoprolactinemia após retirada dos agonistas dopaminérgicos em pacientes portadores de prolactinoma. Métodos: Estudo observacional, analítico e retrospectivo, com análise de prontuários de 37 pacientes com prolactinoma seguidos em ambulatório terciário para: gênero, tamanho de tumor, tempo médio de uso do agonista dopaminérgico, níveis de PRL antes e após o tratamento e tempo médio de seguimento após suspensão do agonista. Resultados: Dos 37 pacientes, 19 (51,3%) são portadores de macro e 18 (48,6%), de microprolactinoma. Destes, em 11 (29,7%; 2H:9M) foi retirado o agonista dopaminérgico após redução gradual. Sete (1H:6M) eram portadores de micro (63,6%) e 4 (36,3%), de macroprolactinoma. Os níveis médios de PRL pré-tratamento eram de 109,4 ± 76,4 ng/ml (média ± DP). A mediana de uso da medicação foi de 117 meses e, no momento da suspensão, os níveis de PRL eram de 13,3 ± 5,5 ng/dl com achados de imagem que favoreciam a retirada. A mediana do tempo de seguimento sem o agonista foi de 22 meses (variação: 6 a 63 meses). Oito dos 37 pacientes (21,6%) persistiram sem medicação; 7 com normoprolactinemia 18,4 ± 7,7 ng/ml e 1 com valor discretamente elevado à custa de macroPRL. Em 3/37 pacientes (8,1%), houve a necessidade de reintrodução do agonista (após 22, 26 e 63 meses). Discussão: Nossos dados corroboram achados da literatura, com 21,6% (8/37) dos pacientes mantendo-se livres da medicação em longo prazo. Em 8,1% houve a necessidade de reintrodução do agonista, por aumento dos níveis de PRL (2 macro e 1 microprolactinoma). Conclusão: Deve-se considerar a retirada do agonista dopaminérgico nos pacientes com prolactinoma que mantêm normoprolactinemia após redução gradual da droga e controle da imagem tumoral. 291 PROLACTINOMA AGRESSIVO: SÉRIE DE CASOS Cyrulnik, F. M. B.¹; Almeida, M. F. O.¹; Mendes, R. E.¹; Maxta, I. A.¹; Scalissi, N. M.¹; Santos, A. R. L.¹; Lima Junior, J. V.¹ ¹ Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (FCMSCSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: O objetivo do estudo desta série de casos foi de acessar o desfecho dos pacientes que receberam diagnóstico de prolactinoma agressivo em nosso serviço. Métodos: Realizada análise dos prontuários de pacientes com diagnóstico de prolactinoma agressivo no período de 2002 a 2012. A agressividade foi avaliada pelos níveis de prolactina, presença de cossecreção hormonal, tamanho e grau de invasão local, presença de marcadores de proliferação celular e taxa de recorrência após cirurgia. Resultados: Foram selecionados 9 pacientes com média de idade ao diagnóstico de 31,1 anos, sendo a maioria do sexo masculino (M/H 1:3,5). Com relação ao quadro clínico, cefaleia foi o sintoma mais comumente relatado (77%). Seis pacientes apresentavam prolactina > 1.000 ng/mL. O tamanho médio dos tumores foi de 4,21 cm, sendo todos com características de agressividade pela imagem. Na campimetria pré-operatória 3 pacientes apresentavam hemianopsia bitemporal. Os pacientes receberam cabergolina como primeira linha de tratamento medicamentoso, sendo 5 anos o tempo médio de uso e 3,5 mg/semana a dose média utilizada. Em relação ao tratamento cirúrgico, 5 pacientes foram submetidos à cirurgia com média de 1 reabordagem. A via de acesso preferencial foi transfenoidal, porém 2 pacientes foram reabordados por via transcraniana. A radioterapia estereotáxica foi optada como tratamento coadjuvante em 2 pacientes que haviam sido submetidos a pelo menos duas abordagens cirúrgicas. À análise imuno-histoquímica, 2 pacientes apresentaram positivida- S304 de para LH/FSH e apenas outros 2 pacientes apresentaram Ki67 > 20%. Dos paciente analisados, 8 apresentaram normalização da prolactina com tratamento proposto. Discussão: O prolactinoma corresponde a 60% de todos os tumores funcionantes, sendo mais prevalente em mulheres. Porém, esses tumores costumam ser mais agressivos em homens e mulheres na pós-menopausa. O prolactinoma pode ser considerado agressivo pelas suas características clínicas, radiológicas e histológicas. Quanto maior o valor da prolactina, presença de cossecreção hormonal, grau de invasão local e positividade de marcadores de proliferação celular como o Ki67, maior será a agressividade e pior a resposta desse tumor à terapia-padrão. Conclusão: Nesta análise, após brevemente revisarmos dados de bioquímica, neurodiológicos e história clínica, verificamos que nossos pacientes se enquadram dentro de estatísticas da literatura mundial e que o tratamento desses tumores ainda permanece um grande desafio. 292 PROLACTINOMA GIGANTE: EXPERIÊNCIA DO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO (UFRJ) Chuva, F. C.¹; Moraes, A. B.¹; Vieira Neto, L.¹; Gadelha, M. R.¹ ¹ Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) , Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Introdução: Os prolactinomas (PRLomas) gigantes geralmente apresentam comportamento agressivo e invasão extrasselar, necessitando de abordagem multidisciplinar. Métodos: Análise descritiva de 11 pacientes com prolactinoma (PRLoma) gigante acompanhados no HUCFF-UFRJ. PRLoma gigante foi definido como: lesão ≥ 4 cm e prolactina (PRL) > 200 ng/dL. Função adeno-hipofisária e ressonância magnética de sela foram realizadas antes e após o tratamento. Resultados: PRLoma gigante representa 8% dos PRLomas do ambulatório. A mediana de idade dos pacientes é de 41 anos (19-50) e a maioria é do sexo masculino (9:2). A mediana de tempo do início do primeiro sintoma até o diagnóstico foi de 31 meses (5-131). À apresentação clínica, todos os pacientes tiveram hipogonadismo, 10 com alteração no campo visual, 8 com cefaleia e 2 com galactorreia. Hipertensão intracraniana (HIC) e convulsão ocorreram em um paciente e hemiplegia direita com diminuição do nível de consciência em outro. Ao diagnóstico, a mediana da PRL foi 8.283 ng/dL (20021.238) e a do maior diâmetro do tumor 5,8 cm (4,0-8,5). Todos os pacientes usaram cabergolina (CAB) e, apesar de a queda da PRL superior a 85% ocorrer em todos os casos, quatro mantiveram PRL alta. A mediana do maior diâmetro do tumor reduziu para 3,5 cm (0-5,5) e em quatro pacientes foi superior a 50%. Sete iniciaram CAB primariamente e, destes, 3 permanecem apenas com CAB, mantendo PRL e função hipofisária normais. Oito pacientes foram submetidos à cirurgia, metade por via transesfenoidal. Quatro operaram antes de iniciar CAB por amaurose (um caso com HIC associada), em que apenas um permaneceu com função hipofisária normal. Nos 4 casos operados após uso da CAB, os motivos foram PRL elevada e tumor tocando o quiasma óptico. A mediana da dose de CAB foi de 3,5 mg/semana (0,25-4,0) e a do tempo de seguimento foi de 60 meses (8-161). Recentemente, um paciente realizou radioterapia. Discussão: Nossa casuística mostrou que diagnóstico ainda é tardio pela subnotificação do hipogonadismo. Os sintomas neuro-oftalmológicos foram o motivo de o paciente procurar o médico. A maioria dos pacientes apresentou controle laboratorial com ressecção completa do tumor em alguns casos e 45% mantiveram controle da doença com dose inferior a 3 mg/semana. Conclusão: O tratamento dos PRLomas gigantes deve ser individualizado. O agonista dopaminérgico será, preferencialmente, a primeira opção, mantendo controle clínico e laboratorial mais frequente. 293 PROP1 OVEREXPRESSION IN CORTICOTROPHINOMAS: AN ADDITIONAL EVIDENCE OF ITS ROLE ON MAINTENANCE OF PITUITARY CELL LINEAGE COMMITTED WITH CORTI Carvalho, L. R. S.¹; Araujo, R. V.¹; Chang, C. V.¹; Fragoso, M. C. B. V.¹; Bronstein, M. D.¹; Cescato, V. A. S.¹; Arnhold, I. J. P.¹; Mendonca, B. B.¹ ¹ Laboratório de Hormônios e Genética Molecular, Divisão de Endocrinologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Divisão de Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da USP, São Paulo, SP, Brasil Introduction: The expression of transcription factors involved in early pituitary development, such as PROP1 and POU1F1, has been detected in pituitary adenoma tissues. Objective: The objective in this study, was to characterize the PROP1 and POU1F1 transcriptional profile in functioning and nonfunctioning pituitary adenomas, in an attempt to identify their role in tumorigenesis and hormone hypersecretion. Methods: RT-qPCR analyses were performed to assess transcriptional pattern of PROP1, POU1F1, TPIT and hormone-producing genes using tumoral samples from corticotrophinomas (n = 10), somatotrophinomas (n = 8), and nonfunctioning adenomas (n = 6). Results: POU1F1 exhibited high expression only in somatotrophinomas (3-fold increase on average) when comparing with normal pituitary tissue. PROP1 expression was, on average, 18-fold increase in corticotrophinomas, 10-fold increase in somatotrophinomas, and 3-fold increased in nonfunctioning adenomas. TPIT transcriptional levels were, on average, 27-fold increased in corticotrophinomas. TPIT mRNA levels were positively correlated with POMC expression levels (r = 0.49, p = 0.014). Discussion: Earlier studies showed that several patients with PROP1 loss-offunction mutations developed ACTH deficiency or progressive decline of corticotrope function. Conclusion: Our data demonstrate that PROP1 is overexpressed in pituitary adenomas, mainly in corticotrophinomas, supporting a role for PROP1 in the maintenance of cell lineage committed with corticotroph differentiation. 294 REATIVAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-GONADAL PELO USO DE TESTOSTERONA EM PACIENTE COM HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO IATROGÊNICO Gonçalves, M. W. T.¹; Pfeilsticker, A. C. V.¹; Valadares, L. P.¹; Zakir, J. C. O.¹ ¹ Departamento de Endocrinologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB/ UnB), Brasília, DF, Brasil Objetivo: O presente relato de caso visa descrever o uso de testosterona em doses intermitentes como tentativa de reativação de eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (HHG) em paciente com hipogonadismo hipogonadotrófico iatrogênico. Métodos: Relato de caso: SRA, 69 anos, masculino com diagnósticos prévios de hipotireoidismo compensado e carcinoma de próstata (Gleason 7) submetido a prostatectomia total, radioterapia (40 sessões) e hormonioterapia (acetato de leuprolide – 22,5 mg/mês por 4 meses) há 1,5 ano. Após tratamento, evoluiu com sinais e sintomas de hipogonadismo franco. Exames laboratoriais evidenciavam hipogonadismo hipogonadotrófico. Iniciado cipionato de testosterona (CP) 200 mg via intramuscular em ciclos de 45 dias com finalidade de intercalar normogonadismo com hipogonadismo na intenção de reativar o eixo HHG. Nível de PSA sérico foi avaliado, estipulando-se como meta de segurança PSA total. Resultados: Realizados exames laboratoriais seriados: basal, no 14o dia após cada aplicação e 60, 90 e 120 dias após a última dose, cujos resultados respectivos para cada exame mostraram: testosterona total (ng/dL): 39,9/244/216/411/201/161/168; testosterona livre (nmol/L) 0,02/0,142/0,108/0,272/0,103/0,078/0,090. LH (mUI/mL) e FSH (mUI/mL) basais, pré-3a dose e após 120 dias da última dose respectivamente: 2,2/7,9/15,4 e 11,3/22/26,4. PSA total manteve-se durante todo período em 0,04 ng/mL. O paciente evoluiu com importante melhora sintomática após curso do tratamento e manteve esse quadro clínico mesmo após interrupção do uso de testosterona, demonstrando reativação do eixo HHG. Discussão: A reativação do eixo HHG, com recuperação da função gonadal, por meio do uso de clomifeno, tem sido descrita com sucesso em homens com hipogonadismo persistente em casos selecionados. Porém, o uso intermitente de testosterona com essa finalidade ainda não foi relatado na literatura. Acreditamos que a forma proposta de administração da medicação promova uma oscilação maior dos níveis plasmáticos de testosterona, com consequente aumento da expressão do complexo de sinalização kisspeptina-GPR54, amplificando a liberação de GnRH, estimulando a liberação de gonadotrofinas e consequente reativação do eixo HHG. Conclusão: O caso descrito propõe um novo método de reativação do eixo HHG em pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido. 295 METÁSTASE HIPOFISÁRIA DE ADENOCARCINOMA DE PULMÃO: RELATO DE CASO Balthazar, A. P. S.¹; Marcante, F. P.¹; Maurique, J. G. S.¹ ¹ Hospital Governador Celso Ramos, Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), Florianópolis, SC, Brasil Objetivo: Descrever um caso clínico. Métodos: Relato de caso com anamnese, exame físico e exames complementares. Resultados: J.F.R., masculino, branco, 49 anos, agricultor, iniciou com sintomas de polidipsia e poliúria em outubro de 2009. Quarenta dias antes da hospitalização, surgiram outros sintomas: náuseas, vômitos, anorexia, fadiga intensa, dor no ombro direito, piora da visão, tonturas, emagrecimento e perda da libido. Hospitalizado em janeiro de 2010, o paciente mantinha as queixas anteriores. Negava fumo, álcool ou uso de medicações. Estava descorado, com hipotensão postural e emagrecido. Ausculta cardiopulmonar normal. No exame neurológico: hemianopsia bitemporal. Exames: hematócrito 30%, Hb 10,2g/dL, leucócitos 6.000 com diferencial normal, Na 120 mEq/l, K 3,8 mEq/l, creatinina 1,0 mg/dL, densidade urinária 1004, TSH 0,34 mU/ml, T4 livre 0,4 ng/dl, prolactina 42,4 ng/ ml. IGF-1 66 ng/ml, cortisol plasmático 1,2 mcg/dL. RMN de crânio: lesão expansiva sólida ocupando a sela túrcica, a cisterna suprasselar e interpeduncular. Foi submetido à ressecção neurocirúrgica por via transesfenoidal. Anatomopatológico: lesão compatível com adenocarcinoma metastático. Imuno-histoquímica: painel positivo para TTF-1 e CK-7. No pós-operatório, a TC de tórax evidenciou presença de vários linfonodos mediastinais, lesão irregular no segmento apical posterior, lesões líticas em manúbrio e escápula direita. O paciente foi encaminhado para tratamento no serviço de oncologia, sendo incluído em protocolo de quimioterapia e radioterapia de julho a setembro de 2010. Apresentou recidiva de doença em sistema nervoso central em dezembro de 2010, sendo submetido à radioterapia do SNC. Faleceu em março de 2011. Discussão: Lesões hipofisárias metastáticas são relativamente incomuns e representam 1% do total das neoplasias hipofisárias. Essas lesões acontecem mais comumente no câncer de mama e no câncer de pulmão. Achados clínicos e radiológicos pouco diferenciam tumores metastáticos de lesões benignas. A sobrevida média numa série publicada em 1998, com 36 pacientes, foi de seis meses. Nessa mesma publicação, em 56% dos casos a metástase hipofisária foi a manifestação inicial da doença neoplásica e os sintomas mais frequentes foram diabetes insipidus, hipopituitarismo e dor retro-orbital. Conclusão: A apresentação inicial de diabetes insipidus com piora rápida e progressiva do deficit visual, embora não sejam sintomas específicos de neoplasias metastáticas, poderia ter servido como sinais de alerta para o diagnóstico de doença maligna. S305 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos 296 SÍNDROME DE CUSHING ACTH DEPENDENTE CAUSADA POR TUMOR CARCINOIDE: RELATO DE CASO Silva, C. Q.¹; Rodrigues, P.¹; Rangel, A. L.¹; Azevedo, E. R.¹; Cargnin, K. R.¹; Carvalho Filho, A. B.¹; Hosannah, C.¹ Neuroendócrino ¹ Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro (IESC), Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Apresentação de um caso clínico de síndrome de Cushing ACTH dependente causada por tumor carcinoide. Métodos: Relato de caso de paciente do sexo feminino, 55 anos, com sinais e sintomas clássicos de hipercortisolismo com evolução rápida e agressiva. Resultados: O hipercortisolismo foi confirmado logo nos primeiros exames: CLU de 4526,4 mcg/24h (VR = 10-250), cortisol basal de 43,36 mcg/dl (VR = 5,5-30) e cortisol pós 1 mg de dexametasona de 49,41 mcg/dl. Os resultados de ACTH sérico de 56,8 pg/ml (VR = até 46) e cortisol pós 8 mg de dexametasona de 45,2 mcg/ dl sugeriram secreção ectópica de ACTH. A RNM de hipófise foi inconclusiva, evidenciando uma sela parcialmente vazia. A TC de tórax e abdome identificou uma imagem expansiva de 5,0 x 3,0 cm em língula. A paciente foi submetida a segmentectomia pulmonar, apresentando insuficiência adrenal no pós-operatório imediato. O exame histopatológico confirmou o diagnóstico de tumor carcinoide produtor de ACTH. Discussão: Devido à evolução clínica muito rápida e agressiva da paciente associada a alterações laboratoriais tão significantes, pensamos em síndrome de Cushing por produção ectópica e não doença de Cushing. Pela melhora clínica rápida e significativa da paciente após ressecção do tumor, deduzimos que o hipercortisolismo não teria origem hipofisária, o que foi confirmado pelo resultado do exame histopatológico. Conclusão: Apesar de o adenoma de hipófise ser a causa mais comum da síndrome de Cushing ACTH-dependente, naqueles pacientes com quadro de hipercortisolismo com evolução rápida e agressiva também deve ser investigada a presença de síndrome de Cushing por produção ectópica de ACTH. 297 SEVERA HIPONATREMIA COMO APRESENTAÇÃO CLÍNICA INICIAL DA INSUFICIÊNCIA ADRENAL SECUNDÁRIA Itaborahy, L. M.¹; Guimarães, R. V.¹; Araujo, M. B.¹; Marques, J. V.¹; Silva, P. P.¹; Freire, R.¹; Casini, A. F.¹ ¹ Universidade de Vila Velha (UVV), Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), Clínica de Tireoide, Vila Velha, ES, Brasil Objetivo: Relatar o caso de paciente portador de IA secundária e severa hiponatremia. Métodos: C.A.G., 64 anos, previamente hígido, apresentando adinamia associada à forte cefaleia, há 20 dias da consulta. Resultados: Feito diagnóstico de depressão, iniciado citalopram 20 mg/dia e alprazolam 2 mg/dia. Evoluiu com piora da adinamia e vômitos. Internado para investigação, apresentou sódio 110 mEq/l (VR: 135 a 145), potássio 5,1 mEq/l (VR: 3,5 a 5,0), cálcio total 7,9 mg/dL (VR: 8,4 a 10,2). Creatinina, fósforo, magnésio e glicemia normais. Endoscopia digestiva: monilíase esofagiana distal, gastrite enantematosa leve; Doppler de carótidas: espessamento íntima-média; tomografia (TC) de tórax e crânio: sem alterações; TC de abdome: cisto renal simples e cálculos em ambos os rins, aumento prostático. Submetido à reposição intravenosa de sódio e alta após melhora. Em investigação ambulatorial, ausência de estigmas endócrinos ou alteração no exame físico. Entretanto identificamos cortisol basal 0,4 mcg/dL (VR: 5 a 25), confirmado - 0,3 mcg/dL, TSH 0,6 uUI/mL (VR: 0,3 a 5,5), T4L 0,6 ng/dL (VR: 0,7 a 1,8). Exames adicionais hipofisários: FSH 2,97mUI/mL (VR: 1,5 a 14), S306 LH 0,97mUI/mL (VR: 1,4 a 7,7), testosterona total 19,9 ng/dL (VR: 200 a 1.100), PRL 3,3 ng/mL (VR: 2,1 a 17,7), ACTH 15 pg/mL (VR: 10 a 50). Não realizada avaliação de GH/IGF-I por ausência de estigmas para acromegalia. RM de sela turca: formação cística à esquerda da hipófise de 1,5 cm, intrasselar e componente suprasselar – macroadenoma com degeneração cística, provável apoplexia, desvio da haste hipofisária, quiasma óptico normal. Iniciada reposição de glicocorticoide com melhora clínica, levotiroxina e testosterona. Atualmente paciente encontra-se compensado. Discussão: Trata-se de um caso de IA secundária crônica possivelmente agudizada por apoplexia, de evolução atípica, uma vez que alterações hidroeletrolíticas seriam incomuns, por preservação do setor mineralocorticoide. Conclusão: É de extrema importância a avaliação da função adrenal em hiponatremias, além do reconhecimento dessa doença e sua intervenção precoce. 298 SÍNDROME DE HIPERINFECÇÃO POR STRONGYLOIDES STERCORALIS EM ADENOMA HIPOFISÁRIO ACTHDEPENDENTE: RELATO DE CASO Polesel, M. G.¹; Manfredinho, F. J.¹; Boguszewski, C. L.¹; Rodrigues, A. M.¹; Teixeira, L. M.¹; Valadão, L. S.¹ ¹ Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), Curitiba, PR, Brasil Objetivo: Relatar caso de síndrome de hiperinfecção por Strongyloides stercoralis associada à síndrome de Cushing de causa endógena. Métodos: Os dados foram obtidos por meio de revisão de prontuário. Resultados: Paciente feminina, 34 anos, apresentou quadro clínico de Síndrome de Cushing – astenia, HAS, obesidade central, fáscies cushingoide, hirsutismo, irregularidade menstrual, giba, fragilidade vascular, estrias e sintomas depressivos – confirmado como doença de Cushing. Na avaliação inicial, apresentou parasitológico de fezes (PF) positivo para Strongyloides stercoralis e recebeu tratamento com tiabendazol. Paciente optou por tratamento clínico de doença de Cushing, mas, após quatro anos, ocorreu recidiva da doença, a qual foi associada a edema importante de membros inferiores, refratário ao uso de diuréticos, dispneia aos médios esforços, anemia discreta e diarreia escurecida intermitente. Em investigação complementar, constataram-se atelectasia laminar pulmonar, esofagite erosiva distal leve e lesões hiperêmicas em todo cólon, ovaladas e lineares, algumas confluentes, com erosão central (biópsia cólon: estrongiloidíase colônica). Foi realizado tratamento com tiabendazol, o que, porém, não resultou em melhora do quadro de diarreia, por isso foi indicado novo tratamento com Ivermectina, com sucesso terapêutico. Na ocasião, foi realizada ressecção do microadenoma hipofisário ACTH-dependente, com cura pós-operatória. Discussão: A hiperinfecção representa um aceleramento no ciclo de vida do Strongyloides stercoralis, levando a sua multiplicação excessiva, mas permanecendo na sua rota natural de reprodução (pele, intestino e pulmões), não se disseminando para outros órgãos. Deve-se ter alta suspeição dessa síndrome em pacientes imunodeprimidos que apresentem náusea, vômito, diarreia, perda de peso, dor abdominal, hemorragia GI, tosse, febre e dispneia. Há poucos relatos na literatura de tal infecção em Cushing endógeno. A confirmação do diagnóstico dá-se por PF e endoscopia digestiva com biópsia duodenal e de outras partes do intestino. Para seu tratamento, a ivermectina é a droga de primeira escolha, porém pode-se usar tiabendazol e albendazol, normalmente sendo necessário mais de um curso de tratamento para sua erradicação. Conclusão: Salienta-se a importância da suspeição clínica no diagnóstico da hiperinfecção por Strongyloides stercoralis em pacientes com síndrome de Cushing de causa endógena, e do pronto tratamento para evitar complicações, como disseminação do parasita. 299 TAMANHO TUMORAL NAS DOENÇAS HIPOFISÁRIAS Santos, O. C.¹; Simão, Y. C. S.¹; Dytz, M. G.¹; Cantarela, D. S.¹; Silva, N. A. O.¹ ¹ Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Relacionar o tamanho de tumores hipofisários de pacientes acompanhados na Santa Casa com as síndromes clínicas hipofisárias causadas por acromegalia, prolactinoma, doença de Cushing e ACNF. Métodos: Revisados 20 prontuários de pacientes com tumores hipofisários de diferentes etiologias, sendo 14 mulheres e 6 homens de 18 a 74 anos (média de 40,95 anos ±16). O tamanho tumoral foi avaliado por meio de RM e TC de sela túrcica. Foram 5 pacientes com acromegalia, 4 ACNF, 8 prolactinomas, 1 doença de Cushing, 1 com diabetes insipidus central e 1 tumor misto produtor de GH e PRL. Foram levantados o tamanho tumoral e, posteriormente, correlacionados à doença descrita. Resultados: Relatamos os diâmetros tumorais de 19 pacientes, sendo 1 excluído por não haver relato de medidas tumorais. Dos exames, 68,4% eram RM de sela túrcica. Avaliados 7 pacientes com prolactinomas, sendo 1 micro (8 mm) e 6 macro (11 a 38 mm) com mediana de 23 mm. Foram 5 pacientes com acromegalia, sendo 1 micro (3 mm) e 4 macro (12 a 28 mm) e mediana de 15 mm. Estimamos 4 pacientes com ACNF, todos macro (20 a 30 mm) e mediana de 24,5 mm. O tumor misto produtor de GH e PRL media 26 mm. O tumor da doença de Cushing media 18 mm. No diabetes insipidus, o tumor localizava-se na adeno-hipófise, media 7 mm, mas não existia correlação entre a doença e o tumor. Discussão: Na acromegalia, foi observada uma prevalência maior de macroadenomas. Cook DM et al., em 2011, descrevem que, ao diagnóstico, cerca de 80% dos somatotropinomas são macroadenomas. Um estudo que avaliou 3.550 TC evidenciou que a prevalência de macroadenomas entre os incidentalomas foi de apenas 0,2%. No nosso estudo, eles também foram microadenomas. Nos prolactinomas, cerca de 95% são microadenomas, porém neste estudo eles caracterizaram-se por uma mediana de 23 mm. Essa prevalência de macroadenomas pode representar os 5% da população que apresentam macroprolactinomas. Os ACNF são macroadenomas, tanto que seus sinais e sintomas são devidos à compressão do parênquima cerebral e hipofisário, confirmada neste estudo. Embora a maioria dos adenomas produtores de ACTH esteja descrita na literatura como microadenomas, neste estudo o único caso registrado foi um macrodenoma. Conclusão: Foi observada uma maior prevalência de macroadenomas em relação aos microadenomas. Os prolactinomas se apresentaram como macroadenomas, assim como os tumores adrenocorticotróficos, somatotróficos, ACNF e o tumor misto produtor de GH e PRL. O tumor associado ao diabetes insipidus se apresentou como microadenoma. 300 TESTE DE RESTRIÇÃO HÍDRICA EM REGIME AMBULATORIAL: APRESENTAÇÃO DE CASOS E DISCUSSÃO DE PROTOCOLO Drummond, J. B.¹; Pedrosa, W.¹; Andrade, H. F. A.¹ ¹ Laboratório Hermes Pardini, Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Apresentação de casos submetidos ao teste de restrição hídrica em regime ambulatorial. Métodos: Estudo realizado na unidade de provas funcionais do laboratório Hermes Pardini. A dosagem da vasopressina foi realizada por radioimunoensaio e as dosagens de osmolalidade (plasmática e urinária) e de sódio plasmático foram realizadas por crioscopia. Consulta clínica foi realizada previamente à marcação do teste de restrição hídrica para avaliar se o paciente estava apto à sua realização. Os exames basais (vasopressina, sódio plasmático, osmolalidades plasmática e urinária) foram coletados no primeiro dia do teste. A restrição hídrica foi iniciada em domicílio. O tempo de restrição hídrica foi calculado a partir da perda de peso estimada, considerando-se o limite de 3% a 5% e o volume urinário do indivíduo em 24h. Para esse cálculo, consideramos 1L de urina = 1 kg de peso corporal. No segundo dia do teste, peso, sinais vitais e osmolalidade urinária foram avaliados de hora em hora. Perda de peso superior a 3% ou estabilização da osmolalidade urinária foram critérios para interrupção do teste. Após a coleta de sangue para dosagem de vasopressina, sódio e osmolalidade, administrou-se DDAVP solução nasal 20 mcg. A osmolalidade e o volume urinários foram medidos a cada 30 minutos por 1 hora. Resultados: Realizamos 43 testes de restrição hídrica no laboratório Hermes Pardini nos últimos sete anos, sendo 21 indivíduos do sexo feminino e 22 do sexo masculino, com idade média de 37 anos, variando entre 4 e 69 anos. O diagnóstico mais prevalente foi de diabetes insipidus central (44%), seguido de polidipsia primária (30%) e diabetes insipidus nefrogênico (12%), sendo o restante dos testes considerados inconclusivos. O percentual de incremento da osmolalidade urinária após a restrição hídrica e após a administração de DDAVP foi o parâmetro com melhor poder discriminatório durante o teste. Discussão: O teste de restrição hídrica está indicado na avaliação dos estados de poliúria e polidipsia. Ele permite, na maior parte dos casos, a diferenciação diagnóstica entre os quadros de polidipsia primária, diabetes insipidus central e diabetes insipidus nefrogênico. A realização do teste em âmbito ambulatorial, com supervisão médica, aumenta a acessibilidade ao exame e reduz custos. Conclusão: O protocolo empregado em nosso serviço se mostrou eficaz e seguro na avaliação diagnóstica de pacientes com estados de poliúria e polidipsia. Uma avaliação clínica criteriosa é necessária antes da prescrição da restrição hídrica domiciliar. 301 TUMOR DE SNC COMO CAUSA DE BAIXA ESTATURA Santos, J. C. S.¹; Araújo, L. M. M.¹; de Sá, L. B. P. C.¹; Jorge, A. R.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Serviço de Endocrinologia, Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Belo Horizonte, MG, Brasil Introdução: Baixa estatura (BE) é definida por três situações na criança: se abaixo do percentil 3 ou com estatura abaixo do potencial familiar ou aquelas com velocidade de crescimento baixa independentemente do percentil. Crianças com BE podem apresentar deficiência de hormônio de crescimento (GH) de origem idiopática ou presença de tumores, sendo o craniofaringioma uma das causas mais comuns. Objetivo: Relatar um caso de baixa estatura decorrente da presença de um tumor de SNC, sugestivo de craniofaringioma. Métodos: LFF, 17 anos, sexo masculino. Veio à consulta em decorrência da baixa estatura. Sempre foi o mais baixo da turma e tem relato de crescimento lento. A mãe procurou nosso serviço para saber a possibilidade de seu filho aumentar a estatura. Nascido de parto cesáreo, a termo, peso de 3.080 gramas ao nascer, 42 centímetros, apresentou hidrocefalia e realizou derivação ventrículo-peritoneal aos nove dias. Bom DNPM. À primeira consulta apresentava-se em bom estado geral, face atípica, altura de 158 centímetros (< Percentil 3th), peso de 62,2 quilos. Pai: 169 centímetros; mãe: 159 centímetros. Estatura-alvo: 170,5 ± 8,5 centímetros. À campimetria de confrontação apresentou diminuição dos campos visuais. Genitália externa masculina, testículos na bolsa; testículos: 4,3 centímetros Tanner P4G4. Resultados: Exames normais, com destaque para: 25OHVITD: 25 (> 30 ng/ml), IGF-1: 259 (193-731 ng/ ml), prolactina: 11,05 (2,3-11,5 ng/m), LH: 3,92 (1,2-8,62 mUI/ ml), testosterona total: 620 (300-900 ng/dl). SHBG: 22 (13-71 NMOL/L), ACTH: 24. Discussão: Em relação ao crescimento, após retirada do tumor, a perspectiva de atingir a altura-alvo fica comprometida pelo retardo do diagnóstico e pelo fechamento das S307 Neuroendócrino Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos epífises ósseas. Conclusão: Em crianças, o distúrbio endócrino mais frequente decorrente das massas selares é a baixa estatura, relacionada à deficiência do GH e presente em cerca de 90% dos casos. 302 Nutrição USO DO HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (GH) NA SÍNDROME DE TURNER (ST): COMPARAÇÃO DA ESTATURA FINAL ENTRE GRUPOS TRATADO E CONTROLE Dias, J. C. R.¹; Martins, D. D. P.¹; Pazello, J. R.¹; Alegre, K. C.¹; Zampieri, M.¹; Nigri, A. A.¹; Ramos- Dias, J. C.¹ ¹ Área de Endocrinologia, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (PUCSP), Sorocaba, SP, Brasil Introdução: A baixa estatura é o achado físico mais prevalente na ST e, desde meados da década de 1990, o GH está autorizado como tratamento. Objetivo: Avaliar a estatura final de pacientes com ST tratadas com GH e comparar com um grupo não tratado. Métodos: Estudo retrospectivo, analítico, observacional, com análise de prontuários de 38 pacientes com ST. O grupo tratado (GT), n = 28, recebeu GH até estatura final e o grupo controle (GC), n = 10, não preencheu critérios para uso do hormônio. Os dados coletados no GT foram: idade cronológica (IC) ao diagnóstico da ST, no início e no final do tratamento; idade óssea (IO) no início e término do tratamento; intervalo entre o diagnóstico e o início do uso do GH; altura e Z escore da estatura inicial e final; tempo de tratamento; altura-alvo e diferença entre altura-alvo e altura final. No GC avaliou-se a IC ao diagnóstico e a estatura final. Para avaliação estatística entre os grupos foi usado o t-Teste e foi considerado significativo p < 0,05. Resultados: A IC ao diagnóstico foi 11,4 ± 3,3 no GT e 16,9 ± 6,1 anos no GC (mediana ± DP). A mediana do tempo entre o diagnóstico e o início do GH foi 0,8 ± 3,2 anos (variação: 0,2 a 11,1 anos). No início do GH, a IC era 13,2 ± 2,3 anos; IO: 11,0 ± 1,6 ano; altura: 133,2 ± 8,3 cm; e Z escore da estatura, -3,2 ± 1,0. O tempo de tratamento foi 2,8 ± 1,7 anos. No final do tratamento verificou-se IC: 17 ± 2 anos; IO: 13,5 ± 0,7 anos; altura: 148,5 ± 7,0 cm; e Z escore: -1,8 ± 1,1. Houve diferença significativa na altura final do GC (143,6 ± 6,7 cm) versus GT (148,5 ± 7,0 cm; p = 0,0384). Quando subdividimos o GT de acordo com a IO inicial, houve diferença na estatura final versus GC naquelas com IO < 10 anos (149,2 ± 5,5 cm; p = 0,012). O mesmo não foi observado naquelas com IO > 10 anos ao início do GH (148,0 ± 7,8 cm; p = NS). A altura-alvo no GT era 156,5 ± 6,0 cm e a diferença entre as alturas final e alvo foi -7,0 ± 7,8 cm. Discussão: Os dados demonstram eficácia do tratamento com GH na ST quanto ao ganho de estatura comparado com o GC, principalmente quando se considera a IO de início menor que 10 anos. Entretanto, o diagnóstico permanece tardio (IC > 10 anos) e o intervalo para o início do GH, ainda prolongado. Conclusão: Maior atenção deve ser dada às características clínicas de meninas com baixa estatura visando ao diagnóstico precoce da ST, o que possibilita encaminhamento mais ágil aos serviços terciários. Tal reconhecimento poderia minimizar o déficit estatural, reduzindo esse importante estigma que acompanha a ST. NUTRIÇÃO 303 A FARINHA DE BANANA VERDE NO CONTROLE GLICÊMICO DE DIABÉTICOS Coelho, L. M.¹; Cruz, A. C. N.¹; Rosa, T. R. O.¹ ¹ Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC), Joinville, SC, Brasil, Universidade Federal do Paraná (UFPR), PR, Brasil Objetivo: Avaliar o controle glicêmico de pacientes diabéticos tipo 1 de Tubarão (SC) após suplementação com farinha de banana ver- S308 de. Métodos: Estudo do tipo clínico randomizado, realizado com pacientes diabéticos tipo 1, frequentadores de uma associação de diabéticos em Tubarão (SC). Foram selecionados aleatoriamente todos os pacientes que concordaram em participar da pesquisa, ambos os sexos, diagnosticados previamente com diabetes mellitus tipo 1 e frequentadores de uma associação de diabéticos de Tubarão (SC), num total de 15 pacientes. Foi realizada avaliação nutricional em cada fase da pesquisa, por meio de ficha de acompanhamento individual com dados de peso, altura, IMC e avaliação bioquímica. A intervenção dietética ocorreu a partir da segunda consulta individual, na qual os participantes receberam 30 amostras individuais de farinha de banana verde, cada uma contendo 30 gramas do insumo. Foram orientados a consumir 30 gramas de farinha por dia, durante 30 dias, que pôde ser fracionada ou não, na adição de iogurtes, preparações salgadas, pudins, mingaus, vitamina de frutas, conforme sugestões de receitas. Após 30 dias de suplementação, os pacientes foram submetidos a nova avaliação nutricional e bioquímica. Para analisar a evolução dos parâmetros entre os grupos e tempos de coleta foi utilizada a Análise de Variância para medidas repetidas e, para comparação entre os grupos, o teste de Tukey. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. Resultados: Pode-se perceber que, no grupo experimental antes da utilização da farinha de banana verde, os níveis de hemoglobina glicada estiveram aumentados em 88% dos pacientes, mas, posteriormente ao uso, estes se reduziram novamente, classificando 75% dos pacientes com HbA1c acima do valor recomendado. Houve redução de HbA1c em 50% dos pacientes. As médias de HbA1c foram 8,2, 9 e 9,1, com DP de 0,9, 2,0 e 1,7, respectivamente. Conforme resultados expressados após a suplementação, 25% dos pacientes apresentaram glicemia de jejum dentro dos parâmetros adequados. As médias de GJ foram de 142,57 mg/dL e 149,26 mg/dL antes e após a suplementação, respectivamente, com desvio padrão de 29,88 e 38,41. Conclusão: Foi constatada neste estudo a melhora no perfil glicêmico de 75% dos pacientes, com redução da glicemia pós-prandial e HbA1c na maior parte da amostra, resultados que corroboram com outros estudos de suplementação com fibras solúveis. 304 INGESTÃO ADEQUADA DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DO PESO CORPORAL Adamo, C. E.¹; Said, C.¹; Gebrim, R.¹; Leão, C. I.¹ ¹ Departamento de Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: O presente estudo permite conhecer os danos fisiológicos do corpo humano diante de diferentes níveis de desidratação destacando os hormônios inerentes. Tem também como objetivo entender como a água pode contribuir para o tratamento da obesidade. Métodos: O trabalho que se segue utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica. Foram utilizadas palavras-chaves como: “desidratação em atletas”, “ADH e aldosterona, retenção de água”, “fisiologia da saciedade e redução de peso”, e “técnicas de reposição hídrica”, em sites como PubMed, Scielo, Adolec e Medline. Dezesseis artigos foram utilizados. Discussão: Durante o exercício físico, a redução do peso corporal, em grande parte, decorre da perda de água (desidratação). Deve-se, então buscar a recuperação desse peso por meio de uma reposição hídrica adequada. Caso não ocorra, efeitos colaterais são observados como: diminuição da capacidade física, sentimento de opressão, baixa de apetite, aumento da concentração urinária; em percentuais maiores de perda hídrica são observados diminuição na temperatura corporal em exercício, aumento da taxa respiratória, formigamento e surgimento de colapso. Nos casos de perda hídrica, é secretada uma série de hormônios como renina, angiotensina II, aldoesterona e ADH. Os estudos subsequentes nesta revisão explicam que a ingestão adequada de água pode contribuir para a redução de peso. Um deles foi realizado com mulheres não menopausadas que foram divididas em dois grupos. Ambos os grupos adotaram uma dieta hi- pocalórica, mas apenas um grupo aumentou a ingestão de água. Este perdeu mais peso do que o grupo que ingeriu menos água. A ingestão de água antes das refeições em indivíduos normais pode contribuir para redução de peso por meio da diminuição da gordura corporal. Tal constatação se deve ao fato de que, ingerindo água, o estômago e a primeira porção do duodeno se distendem, aumentando de volume. Essa expansão libera leptina e promove saciedade. Conclusão: Em decorrência da frequência de casos de desidratação, propostas mais eficientes para hidratação do que a própria ingestão de água pura têm sido estudadas. Tais estudos são de importância. Afinal, a redução de água no corpo altera diversas funções fisiológicas. Por outro lado, a ingestão adequada de água antes das refeições pode ser uma estratégia interessante para promover saciedade e diminuir a ingestão calórica, contribuindo, assim, para perda de peso. 305 INGESTÃO DE CÁLCIO E VITAMINA D E SUA RELAÇÃO COM OS NÍVEIS SÉRICOS DE 25OHD3 EM PACIENTES COM OSTEOGÊNESE IMPERFEITA Peter, B. S. E.¹; Martini, L. A.¹; Folchetti, L. D.¹; Lazaretti-Castro, M.¹ ¹ Ambulatório de Doenças Osteometabólicas, Disciplina de Endocrinologia, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública (FSP), Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Avaliar a ingestão de cálcio e vitamina D e sua relação com os níveis séricos de 25OHD3 em pacientes com osteogênese imperfeita (OI). Métodos: Foram selecionados de um ambulatório de fragilidades ósseas, entre 2010-2011, 30 pacientes com OI, 16 do tipo I e 14 do tipo III, sendo 17 do gênero masculino e 13 do gênero feminino, com média de idade de 26,2 (10,8) anos. Foram avaliadas a densidade mineral óssea (Dual energy X-ray absorptiometry - DXA), os níveis séricos de 25OHD3 (quimioluminescência) e as ingestões de cálcio e vitamina D (registro alimentar de três dias, sendo os nutrientes calculados no software Nutrition Data System). Para análise estatística foi utilizado o software SPSS, versão 19.0. Foram considerados significantes valores de p < 0,05. Resultados: A ingestão média de vitamina D foi de 23,9 ± 13,2 μg/dia (alimento + suplemento), e a de cálcio foi de 1092,8 ± 436,1 mg/dia (alimento + suplemento). Não alcançaram a recomendação diária para ingestão de vitamina D 26,7% dos pacientes, e 55,2% para a ingestão de cálcio. O nível sérico médio de 25OHD3 foi de 26,6 ± 7,6 ng/ mL, considerando o valor de 30,0 ng/mL como ponto de corte para 25OHD3, 76,7% dos indivíduos apresentavam insuficiência de vitamina D. A ingestão de cálcio dos alimentos se correlacionou positivamente com a ingestão de vitamina D dos alimentos (r = 0,755). Conclusão: Nos pacientes OI tipo III, a ingestão tanto de cálcio quanto de vitamina D provinda dos alimentos contribui para níveis séricos mais altos de 25OHD3. Apesar de a grande maioria dos pacientes com OI apresentar ingestão adequada de vitamina D, houve alta prevalência de insuficiência de vitamina D nessa população, mostrando a necessidade de reaver qual a quantidade de suplementação necessária para garantir níveis suficientes de vitamina D. 306 PERFIL GLICÊMICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 DE JOINVILLE (SC) SUBMETIDOS AO MÉTODO DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS Coelho, L. M.¹; Truppel, C.¹ ¹ Associação Educacional Luterana Bom Jesus (IELUSC) Joinville, SC, Brasil, Universidade Federal do Paraná (UFPR), PR, Brasil Objetivo: Avaliar a eficácia da intervenção da contagem de carboidratos no tratamento de pacientes com diabetes tipo 1 em Joinville (SC). Métodos: A amostra foi de conveniência, com 12 crianças e adolescentes com DM 1, de ambos os sexos, com idade entre 7 e 16 anos, submetidos a uma avaliação antropométrica e à aplicação de contagem de carboidratos, por meio de um plano alimentar e aulas de educação nutricional. Foi utilizado o método da lista de substituição, pelo qual os alimentos são divididos em grupos, e em cada grupo é determinada a quantidade média de carboidratos, o que possibilita a troca entre eles. Utilizou-se o teste t de Student para comparar as glicemias e HbA1c antes e após a intervenção. O nível de significância adotado para os testes estatísticos será de 5%. Resultados: Das crianças e adolescentes avaliados, nove (67%) eram do sexo masculino e três (33%) do sexo feminino, a média de idade era 11,9 (± 3,0), sendo que a maioria (92%) encontrou-se eutrófica e apenas uma (8%) apresentava sobrepeso. Observando os resultados da média da glicemia capilar antes e após a intervenção, verificou-se que houve redução da média da glicemia capilar em jejum, antes do almoço e antes do jantar, porém, com significância estatística apenas antes do almoço. Discussão: A redução observada pode justificar-se pela mudança de hábito alimentar e a adesão ao método da contagem de carboidratos, que, segundo Costa e Franco (2005), foi uma das quatro estratégias alimentares no estudo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), em que pacientes e profissionais de saúde concluíram que esse sistema permite maior flexibilidade nas escolhas dos alimentos e ajuda a alcançar os objetivos glicêmicos, por meio do controle da glicemia pós-prandial. Segundo Hissa et al. (2004), a contagem de carboidratos talvez seja o planejamento alimentar mais precioso e flexível, especialmente no portadores de diabetes mellitus (DM) tipo1, visto que, com o resultado dessa pesquisa, o mesmo obteve maior adesão quando comparado aos demais métodos de tratamento nutricional, concordando com o estudo apresentado. Conclusão: Pode-se perceber que houve melhora do controle glicêmico, com boa aceitação, esclarecimento, adesão e mudança de hábito alimentar de grande parte das crianças e adolescentes, verificados a partir do recordatório 24 horas e interesse de todos em dar continuidade com o tratamento com a contagem de carboidratos. 307 PODE UMA PEQUENA ALTERAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO HABITUAL MELHORAR A RESISTÊNCIA À INSULINA? O AMARANTO COMO ALTERNATIVA PARA O CONSUMO Rocha, L. M.¹; Vasques, A. C. J.¹; Geloneze Neto, B¹; Amaya-Farfan, J.¹ ¹ Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil Introdução: O amaranto, pseudocereal de origem andina cuja comercialização no Brasil tem aumentado, apresenta um perfil nutricional naturalmente balanceado. Diversos trabalhos demonstram que o grão nas suas variadas formas pode reduzir os níveis das lipoproteínas plasmáticas, triglicérides e glicemia, por razões ainda não esclarecidas. Objetivo: Nosso objetivo foi avaliar o efeito do consumo de biscoitos tipo cookie de amaranto comparado ao consumo de biscoitos de aveia, sem alterações na alimentação habitual, nos parâmetros da síndrome metabólica (SM) e na resistência à insulina. Métodos: 18 voluntários adultos, de ambos os gêneros e diagnosticados com SM foram divididos em dois grupos: Amaranto (Am n = 9) e Aveia (Av n = 9). Por 30 dias os voluntários consumiram uma porção diária de 55 g de biscoito. No início e no final da intervenção foram realizadas avaliação nutricional e coleta de sangue em jejum para análise bioquímica. A alimentação habitual foi avaliada por meio de registros alimentares de três dias que foram preenchidos semanalmente durante o estudo. Os dados foram analisados no programa SPSS (v16,0). Utilizou-se o teste de Wilcoxon e Mann Whitney, com significância estatística definida em p < 0,05. Resultados: Os grupos não se diferiram em relação à média de idade (Am 47,2 ± 5,9; Av 46,6 ± 7,5 anos), média de IMC (Am 31,8 ± 4,0; Av S309 Nutrição Trabalhos Científicos Obesidade Trabalhos Científicos 33,1 ± 5,9 kg/m²), e na alimentação, em resumo na porcentagem de proteínas, carboidratos e lipídeos (Am 18,9 ± 2,6; 52,3 ± 6,6; 28,9 ± 5,7; Av 18,0 ± 2,1; 53,7 ± 6,4; 28,3 ± 5,2%). Nenhuma diferença significativa foi observada para os parâmetros da SM (circunferência da cintura, HDL-C, glicemia, triglicérides e pressão arterial) entre os grupos que consumiram amaranto e aveia. No entanto, o consumo de amaranto reduziu significativamente a resistência à insulina, de acordo com o índice HOMA1-IR, no grupo Am houve redução de 0,87, enquanto no grupo Av houve aumento de 0,16 (p = 0,034). Discussão: Os biscoitos de amaranto apresentaram maior teor de fibra insolúvel, porém, tinham considerável teor de gordura saturada e de ácido palmítico, ainda assim demonstrou-se melhor. Conclusão: Uma modificação mínima na dieta habitual com a introdução de cookies de amaranto apresentou vantagem quando comparado à aveia em relação à resistência à insulina, evidenciando que a composição em nutrientes clássicos não explica os benefícios à saúde atribuídos ao grão, sugerindo, portanto, a participação de substâncias bioativas. 308 RELAÇÃO CINTURA ESTATURA COMO PREDITOR DE RISCO CARDIOMETABÓLICO EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS) Rodrigues, A. M. B.¹; Sitta, B. D.¹; Rugolo, V. C.¹; Silva, C. C.¹; Cassani, R. S. L.¹; Vasques, A. C. J.¹; Zambon, M. P.¹; Geloneze Neto, B.¹ ¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Avaliar a associação da relação cintura-estatura (RCE) com fatores de risco cardiometabólicos tradicionais e nãotradicionais em adolescentes com diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Foram avaliados 116 adolescentes (68 meninas) de 10 a 18 anos. Foram avaliados: peso, estatura, RCE, circunferência da cintura (ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca), escore Z de IMC, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), colesterol total e frações, triglicérídes, glicemia e insulinemia de jejum, HOMA-IR, gamaglutamil transferase (GGT), aspartato-aminotransferase (AST) e alanina-aminotransferase (ALT). Utilizaram-se o teste de Mann-Whitney e o teste de correlação de Spearman. Considerou-se como significantes valores de p < 0,05. Resultados: As médias de idade (13,4 ± 2, anos) e escore Z de IMC (0,41 ± 1,07) na amostra estudada não diferiram entre os gêneros. Glicemia (77,0 ± 8,0 versus 81,0 ± 9,0 mg/dl), insulina (13,2 ± 8,9 versus 10,5 ± 7,4 uU/l) enzimas hepáticas: GGT (14,0 ± 7,0 versus 19,0 ± 11,0 mg/dl), ALT (21,0 ± 9,0 versus 24,0 ± 7,0 mg/dl) e AST (14,0 ± 17,0 versus 19,0 ± 21,0 mg/dl) diferiram entre meninas e meninos, respectivamente. A RCE apresentou correlação linear significativa com a PAS em meninas (r = 0,38; p < 0,01) e PAD em meninos (r = 0,34; p < 0,05). Parâmetros cardiometabólicos apresentaram correlação significativa (p < 0,01) para meninas e meninos, respectivamente: HDL-colesterol (r = -0,47 e -0,39), triglicérides (r = 0,47 e 0,44), insulinemia (r = 0,36 e 0,60), HOMA-IR (r = 0,35 e 0,58) e ALT (r = 0,34 e 0,41). A enzima GGT (r = 0,56) apresentou correlação com a RCE apenas para os meninos. Discussão: A RCE é um bom preditor de fatores de risco cardiometabólicos em adolescentes brasileiros, o que corresponde àqueles encontrados em outros estudos. A RCE apresenta vantagem em relação à circunferência da cintura isolada, pois seu ajuste pela estatura permite estabelecer um ponto de corte único, aplicável à população geral, independentemente do sexo, da idade e da etnia. Conclusão: A RCE é uma ferramenta útil para a detecção de alteração nos indicadores cardiometabólicos em adolescentes. O desempenho da RCE como preditor de risco CV, aliado à facilidade de aplicação e ao baixo custo, possibilita sua utilização na saúde pública, auxiliando no estabelecimento de medidas preventivas e no manejo das possíveis intervenções terapêuticas precoces. S310 OBESIDADE 309 A CONTRIBUIÇÃO DA HIPERATIVIDADE VAGAL PARA A INSTALAÇÃO DA OBESIDADE É DEPENDENTE DO MODELO EXPERIMENTAL Coelho, M. L.¹; de Oliveira, J. C.¹; Bonfim, A. P.¹; Barella, L. F.¹; Grassiolli, S.¹; Camargo, R. L.¹; Mathias, P. C. F.¹ ¹ Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR, Brasil; Université de Lille 1, Lille, França; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Fisiologia Humana Objetivo: Comparar os efeitos da vagotomia subdiafragmática realizada aos 60 dias de vida na secreção de insulina e atividade neural vagal em dois modelos de obesidade. Métodos: A obesidade hipotalâmica foi induzida pela administração neonatal de glutamato monossódico (MSG-4 g/kg). A marcação metabólica foi feita por hipernutrição durante o período lactacional, reduzindo o tamanho da prole para três filhotes (Ninhadas Reduzidas – NR). Os grupos controles (CON) e MSG apresentavam nove filhotes/ninhada. A vagotomia subdiafragmática (VAG) foi feita aos 60 dias e aos 120 dias a resistência à insulina foi avaliada pela taxa de desaparecimento da glicose (Kitt) após sobrecarga de insulina (1 U/kg). Ilhotas pancreáticas foram isoladas pela técnica da colagenase e incubadas com glicose (5,6; 11,1 e 20 mM). Após 12 horas de jejum os animais foram submetidos à dissecção do ramo superior vagal, com registro da atividade neural (spikes/5 s). Análise estatística Anova, p < 0,05. Resultados: Ratos MSG e RN desenvolveram obesidade e elevados níveis de insulina no jejum, 112% e 172%, respectivamente, em relação ao CON. Ratos MSG apresentaram redução de 55% do Kitt, indicando resistência à insulina em relação aos ratos CON. A resistência à insulina foi normalizada pela VAG em ratos MSG. Todavia, a sensibilidade à insulina foi normal em ratos obesos RN, um efeito que não foi alterado pela VAG. O registro da atividade vagal foi 97% maior em ratos MSG em relação aos CON. A hiperatividade vagal foi normalizada em ratos MSG-VAG. A VAG não afetou a atividade neural em ratos RN e CON. Ilhotas pancreáticas de ratos MSG apresentaram aumento de 38% na secreção de insulina estimulada por glicose 11,1 mM em relação a ilhotas de ratos CON. Todavia, ilhotas de ratos RN apresentaram redução de aproximadamente 50% do efeito estimulatório da glicose (20,0 mM) em relação aos CON. A VAG reduziu a ação estimulatória da glicose (11,1 e 20,0 mM) em ilhotas pancreáticas de ratos MSG e CON. Porém, a VAG não afetou a responsividade à glicose em ilhotas de ratos RN. Discussão: A inervação vagal parassimpática modula a proliferação e a secreção de insulina pelo pâncreas endócrino, estando envolvida na hipersecreção de insulina característica da obesidade. Conclusão: A hiperatividade vagal está diretamente relacionada à resistência à insulina e às alterações na secreção de insulina em ilhotas pancreáticas de ratos MSG. Todavia, a hiperatividade vagal não é o evento central na obesidade em ratos RN. 310 A PRÁTICA MÍNIMA DE 150 MINUTOS SEMANAIS DE ATIVIDADE FÍSICA E SEUS BENEFÍCIOS EM PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS – ESTUDO BRAMS Rocha, L. M.¹; Comucci, E. B.¹; Vasques, A. C. J.¹; Tambascia, M. A.¹; Geloneze Neto, B.¹ ¹ Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Introdução: A atividade física (AF) regular é um importante fator para a promoção e a manutenção da saúde. A recomendação da prática de AF por 30 minutos na maioria dos dias da semana ou de 150 minutos por semana está presente nas últimas recomendações gerais de AF da OMS. Objetivo: Objetivou-se investigar os efeitos da prática semanal de 150 minutos de AF em parâmetros bioquímicos e antropométricos na população brasileira. Métodos: Foram avaliados 341 indivíduos, ambos os gêneros, que participaram do Estudo Brasileiro de Síndrome Metabólica. Na avaliação da prática de AF foi considerada a frequência e a duração dos exercícios físicos praticados (intensidade moderada ou intensa). Os indivíduos foram distribuídos em três categorias: sedentários (SED), quem não pratica AF; pouco ativos (PA), quem pratica AF < 150 minutos; e ativos (ATIV), quem pratica AF ≥ 150 minutos. Determinou-se: IMC, circunferência da cintura (CC), diâmetro abdominal sagital (DAS) e percentual de gordura corporal (%GC) pelo teste bioimpedância. Foram avaliados os componentes tradicionais da síndrome metabólica (SM) e não tradicionais como proteína C reativa (PCR) e adiponectina. Também foram dosados colesterol total, LDL-C, insulina e hemoglobina glicada (HbA1c). Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e o teste post hoc de Bonferroni. Resultados: Os grupos diferiram em relação à idade (SED 41 ± 12, PA 44 ± 13 e ATI 38 ± 13 anos). Em relação à antropometria, houve diferença significativa na CC (SED 96,8 ± 15,9; PA 97,4 ± 15,2; ATIV 92,7 ± 12,4 cm; p < 0,05); DAS (SED 22,0 ± 4,2; PA 22,0 ± 4,1; ATIV 20,7 ± 3,5 cm; p = 0,03) e % GC (SED 34,5 ± 7,7; PA 35,4 ± 7,2; ATIV 31,0 ± 6,6%; p = 0,001). Entre os componentes metabólicos houve diferença estatística para TG (SED 128 ± 105; PA 111 ± 67; ATIV 97 ± 43 mg/dL; p < 0,05), insulina (SED 11,5 ± 7,7; PA 11,3 ± 6,6; ATIV 8,6 ± 7,1 U/L; p = 0,004), HbA1c (SED 6,0 ± 1,2; PA 5,9 ± 0,6; ATIV 5,7 ± 0,6%; p = 0,0035) e PCR (SED 0,40 ± 0,57; PA 0,21 ± 0,36; ATIV 0,28 ± 0,50 mg/dL; p = 0,017). O grupo ATIV mostrou-se melhor que o grupo SED para insulina, DAS, % GC, TG e IMC, de acordo com o teste Post Hoc. Discussão: A grande diferença nos resultados está entre os ativos e os sedentários. Não houve diferença entre ativos e pouco ativos para nenhum parâmetro, exceto para % GC, e também não houve diferença entre pouco ativos e sedentários. Conclusão: Fica evidente que a prática regular de 150 minutos semanais de AF apresenta benefícios quando comparada com menor tempo de atividade e ao sedentarismo. 311 ALARMANTE INCIDÊNCIA DE EFEITOS ADVERSOS E HIPOGLICEMIA APÓS TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA Andrade, H. F. A.¹; Passos, V. M. A.¹; Lima, W. P.¹; Diniz, M. F. H. S.¹ ¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Investigar incidência e fatores associados à ocorrência de efeitos adversos ao teste oral de tolerância à glicose (TOTG) em pacientes previamente submetidos à derivação gástrica em Y de Roux. Métodos: Estudo de coorte com 128 pacientes atendidos de 01/2010 a 12/2011 em laboratório de Belo Horizonte. TOTG realizado conforme padronização, com glicemia aferida em jejum e aos 30, 60, 90 e 120 minutos e seguimento clínico até três horas. Preenchido protocolo com dados clínicos, antropométricos, pressóricos e de efeitos adversos. Feita análise descritiva e de regressão logística, variáveis dependentes definidas como a presença de efeitos adversos objetivos (tremor ou diarreia ou taquicardia) e hipoglicemia (glicemia). Resultados: Seguidos 128 pacientes, 117 (91,4%) mulheres, 79 (67,5%) gestantes, idade mediana de 39 anos, IMC entre 18,8 e 50,4 (mediana-30,45 kg/m²) e morbidade referida para depressão (n = 24, 18,8%), hipertensão (n = 2, 17,2%), hipotireoidismo (n = 17, 13,3%), dislipidemia (n = 10,7,8%) e diabetes (n = 3, 2,3%). O tempo mediano de pós-operatório foi de 53 meses. Foram observados efeitos adversos em 83 (64,8%) pacientes: náuseas (38,38%), tonteira (30,5%), fraqueza (25,8%), diarreia (23,4%), hipoglicemia (14,8%), taquicardia (14,1%), tremores (13,3%), sudorese (12,5%) e hipoglicemia grave (24 mg/dL) em um paciente. A presença de efeitos adversos obje- tivos foi associada à hipoglicemia (OR = 7,2, IC95% 2,5-20,5). Ser hipertenso significou maior risco para incidência (OR = 3,3, IC95% 1,2-9,5) e maior frequência (3+ efeitos, OR = 5,4%, IC95% 1,6-17,6) de efeitos adversos objetivos, mesmo após ajuste por sexo e idade. As gestantes também apresentaram alto risco de hipoglicemia (OR = 6,2, IC95% 1,3-30), após ajuste por idade. Discussão: Na literatura especializada, só há descrição de náuseas e vômitos como efeitos adversos do TOTG, enquanto nessa população observou-se altíssima incidência de outros efeitos, muitos, potencialmente graves, como a hipoglicemia. Ressalta-se maior incidência de efeitos adversos em gestantes e hipertensos. Conclusão: Se confirmados esses resultados por novos estudos, a indicação do TOTG deve ser revista para esses pacientes, principalmente em gestantes e hipertensos. 312 ASSOCIAÇÃO ENTRE MARCADORES DE OBESIDADE GERAL E CENTRAL E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS Medeiros, L. F.¹; Costa, I. B. B.¹; Silveira, F. F. F.¹; Meireles, R. S. R. V.¹; Sá, J. C. F.¹; Azevedo, G. D.¹; Costa, E. C.¹ ¹ Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, Brasil Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais prevalente nas mulheres em idade reprodutiva (5-10%). Nessa população, há marcante presença de sobrepeso e obesidade. Estudos prévios têm apontado que a obesidade pode estar associada a diversos distúrbios psicopatológicos, incluindo a depressão. Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar possíveis associações entre marcadores de obesidade geral e central com sintomatologia depressiva em mulheres com SOP. Métodos: Por meio de estudo transversal, 26 mulheres com diagnóstico clínico de SOP (critério de Rotterdam) entre 18-34 anos foram analisadas. As voluntárias responderam um questionário sobre sintomatologia depressiva (inventário de Beck). O IMC foi calculado pela equação: peso/altura². A circunferência da cintura (CC) foi medida no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para as análises de correlação entre o escore do inventário de Beck e o IMC e a CC. Um p < 0,05 foi adotado como significância estatística. Resultados: Houve correlação significativa entre o escore de Beck e o IMC (r = 0,389; p = 0,049) e a CC (r = 0,490; p = 0,011). Discussão: Diferentes estudos mostram uma forte associação positiva entre sintomatologia depressiva grave e insatisfação com a aparência física em mulheres com SOP, indicando, inclusive, que a prevalência dessa associação é maior em mulheres obesas do que em mulheres magras com SOP, pois a insatisfação corporal é mais evidente naquelas que apresentam elevação nos marcadores de obesidade geral. Além disso, outros estudos indicam que mulheres magras com SOP tendem a apresentar escores de depressão e ansiedade diminuídos, sugerindo que a redução da obesidade ajuda a reduzir também a ansiedade e a depressão. Nossos resultados são consistentes com os achados prévios. Conclusão: Os resultados do presente estudo evidenciaram correlação positiva e significativa entre marcadores de obesidade geral (IMC) e central (CC) e nível de depressão em mulheres com SOP. 313 ASSOCIAÇÃO ENTRE MEDIDAS DE ADIPOSIDADE E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS EM MULHERES OBESAS Silva Junior, W. S.¹; Funes, F. R.¹; Martins, P. R.¹; Moreira, R. O.¹; Coutinho, W. F.¹; Freitas, S. R.¹ ¹ Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Instituto Estadual de Diabetes Endocrinologia Luiz Capriglione (GOTA-IEDE), Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB-UFRJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil S311 Obesidade Trabalhos Científicos Obesidade Trabalhos Científicos Objetivo: Avaliar se o índice de massa corporal (IMC), a circunferência da cintura (CC), a relação cintura-quadril (RCQ) e o índice de adiposidade corporal (IAC) correlacionam-se com transtornos psiquiátricos (TP) em mulheres obesas. Métodos: Estudo transversal envolvendo dados secundários de 233 pacientes. Altura (m) e peso (kg) foram obtidos com estadiômetro de parede e balança digital. CC (cm) foi medida no nível médio entre o rebordo costal inferior e a crista ilíaca. Circunferência do quadril (CQ em cm) foi a maior envolvendo nádegas e grandes trocânteres. Fórmulas usadas para cálculo das medidas de adiposidade (MA): IMC = peso/(altura)²; RCQ = CC/CQ; IAC = [CQ/(altura x raiz quadrada da altura)]-18. Para diagnóstico dos TP, constituídos de transtornos do humor atuais (THA) e passados (THP), transtornos alimentares (TA) e de ansiedade (TAN), usou-se a Entrevista Clínica Estruturada (SCID). Nas análises estatísticas, adotou-se nível de significância de 5%. Test t foi usado para correlações entre MA e TP; análise de regressão logística binária (ARLB), para identificar qual das MA mais se associou aos TP. Resultados: A amostra foi predominantemente de mulheres brancas (54,5%). Médias de idade = 38,9 ± 11,9 anos (18-77) e de peso = 103,3 ± 20,6 kg (67-200). Valores médios das MA: IMC = 40,2 ± 7,1 (30-75,2); CC = 110,3 ± 13,8 (83-150); RCQ = 0,86 ± 0,08 (0,65-1,21); IAC = 45,5 ± 7,35 (32,5-66,9). Prevalências de TP e de seus constituintes: TP = 71,2%; THA = 26,6%; THP = 22,3%; TAN = 40,7%; TA = 38,6%. Houve associação de RCQ (p = 0,044) e IAC (p = 0,013) com TP, mas não de IMC (p = 0,06) e CC (p = 0,89). IAC foi a MA de maior tendência à associação com TP à ARLB (OR = 1,07; IC95% = 0,99-1,17; p = 0,079). Discussão: Embora existam evidências de que obesidade e sexo feminino estejam associados aos TP, estudos correlacionando MA com TP em mulheres obesas são escassos. Em um estudo comparando IMC, CC e RCQ em obesas, CC foi a MA de melhor correlação com gravidade de sintomas depressivos e, ao se distribuir essas mulheres em quartis de CC, verificou-se que a prevalência de THA foi maior no quartil superior em relação aos inferiores. Em outro estudo, não houve associação entre IMC e qualquer perfil psicopatológico em pacientes obesas. Não encontramos estudos correlacionando IAC com TP. Neste estudo, houve associação de RCQ e de IAC com TP, mas não houve diferenças entre as MA à ARLB. Conclusão: Houve correlação de TP com IAC e RCQ, mas não com IMC e CC. Quando comparadas entre si, IAC foi a MA de maior tendência à associação com TP. 314 ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E DEPRESSÃO EM UM GRUPO DE IDOSOS: RESULTADOS PARCIAIS Oliveira, I. F.¹; Ramos, M. A. B. P.¹; Rufato, G. S.¹; Alves, N. P.¹; Packer, V. B.¹; Leão, B. C.¹; Magalhães, F. O.¹ ¹ Universidade de Uberaba (UNIUBE), Uberaba, MG, Brasil Introdução: A associação entre depressão e doenças crônicas é frequente. Estudos mostram que há uma piora tanto na evolução do quadro psiquiátrico como da doença crônica, com menor aderência às orientações terapêuticas, morbidade e mortalidade maiores. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a associação entre depressão e obesidade em um grupo de idosos no município de Uberaba (MG). Métodos: O projeto é um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 0058.0.227.00011. A seleção de idosos foi por meio de amostragem aleatória, de indivíduos que frequentam a Unidade de Atenção ao Idoso (UAI), após assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Temos o resultado parcial de 102 idosos que preencheram os questionários: Escala de Rastreamento Populacional para Depressão (CES-D); formulário com dados de saúde e atividades realizadas. Após o agendamento, 52 idosos compareceram para realização dos exames de glicemia capilar, colesterol total e triglicérides capilares, medida de cintura abdominal, quadril, altura, peso e pressão arterial. S312 Foi feita análise estatística dos dados armazenados em um banco de dados do programa SPSS 14.0, utilizado o teste Qui-quadrado e o teste de correlação de Spearman. O nível de significância dos testes é de alfa = 0,05. Resultados: Houve prevalência de 26,9% (14/52) de obesidade e 51,9% (27/52) de sobrepeso. A depressão foi informada em 25,5% (26/102), sendo diagnosticada pelo CES-D em 55,9% (57/102) dos indivíduos. Houve associação entre presença de doenças crônicas e depressão (Qui2 = 4,505, p = 0,034); e correlação entre IMC e CES-D (R = 0,277, p = 0,047). Dos 21,9% dos idosos que apresentaram obesidade, 87,7% têm depressão. Discussão: A relação bidirecional entre obesidade e depressão é confirmada na pesquisa, isso mostra a importância do controle de peso para a manutenção do equilíbrio físico e psicológico do indivíduo, principalmente no que se refere à autoestima. Também podemos pensar na depressão motivando o ganho de peso, na situação em que a comida é usada como meio de escape. Conclusão: A depressão acompanha a maioria das patologias clínicas crônicas levando a pior prognóstico, menor aderência aos tratamentos propostos, pior qualidade de vida e maior morbimortalidade. Essa importante associação exige constante vigilância, é fundamental uma abordagem eficaz, pois a depressão e as patologias clínicas como a obesidade se retroalimentam, interagem para criar uma situação deteriorante. 315 ASSOCIATION OF GLP-2 SECRETION AND DECREASED INSULIN SENSITIVITY IN OBESITY Geloneze Neto, B.¹; Lima, M. M. O.¹; Tezoto, D.¹; Pareja, J. C.¹; Magro, D. O.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (Limed), Gastrocentro, Unicamp, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Campinas, SP, Brasil Objective: GLP-2 is a potent intestinotrophic hormone. An increased absorption of nutrients mediated by GLP-2 could hypothetically influence insulin sensitvity (IS) negatively. Our aim was to determine whether GLP-2 secretion relates to IS in obese subjects. Methods: Twenty four obese subjects (BMI 40.0 ± 3.0 kg/m²) were included, nine of which were male, age 43 ± 8 years old. Twelve subjects had type 2 diabetes, all treated with oral anti-diabetic agents only. Curves of glucose, insulin and GLP-2 were obtained from a meal tolerance test (MTT). IS was measured by HOMA-IR and MTT-derived OGIS. Spearman linear correlations and partial correlations were obtained. Results: The metabolic profile was as follows: glucose 155.5 ± 45.2 mg/dL, insulin 19.5 ± 12.2 mg/dL, HOMAIR 6.2 ± 5.5, GLP-2 AUC 1062.16 ± 204.12 ng/ml x min, GLP-2 AUCi GLP-2 183.2 ± 164 ng/ml x min, OGIS 300.5 ± 18.75. There was a negative relationship between the GLP-2 secretion and IS: HOMA-IR correlated with GLP-2 AUC (R = 0.504; p = 0.012) and OGIS correlated with GLP-2 incremental AUC (R = -0,54; p = 0.054). The correlations persisted controlling for BMI. Discussion: We report, for the first time, a negative association between GLP-2 secretion and IS in obese subjects. The first hypothesis to explain this finding is that an increased absorption of nutrients induced by GLP2, especially fatty acids, could influence IS negatively. Fatty acids are a key factor for decreased IS. GLP-2 has an intestinotrophic effect in the proximal and distal bowels and also has acute effects in intestinal fat absorption and lipoprotein production which result in increased postprandial circulating triglycerides and free fatty acids. The intestinal microbiota could have a contribution to this hypothesis. Food fermentation both increases energy harvesting in animal and human obesity and produces short-chain fatty acids linked to increased expression of pro-enteroglucagon (precursor of GLP-2) and to proximal and distal bowel hypertrophy. A second hypothesis relates to the fact of GLP-2 stimulates glucagon secretion and counteracts the glucogonostatic action of GLP-1. Glucagon is counter-regulatory to insulin action and has been linked to decreased IS in obese subjects with normal or impaired glucose tolerance. Conclusion: We found a negative association of GLP-2 secretion and IS. The comprehension of the underlying mechanisms may provide future directions in the pharmacological manipulation of incretins and in the treatment of obesity and related metabolic disorders. 316 AUMENTO NA MEDIDA DO PESCOÇO É MELHOR INDICADOR DO QUE MEDIDA DA CINTURA EM HOMENS COM SÍNDROME METABÓLICA Sampaio, K. S.¹; Silva, F. D.¹; Oliveira, P. P.¹; Santos, R. F.¹ ¹ Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Chapecó, SC, Brasil Introdução: A distribuição central de gordura tem sido amplamente associada à resistência insulínica. Assim, medidas regionais de obesidade são preditivas de distúrbios metabólicos, pois são capazes de estimar indiretamente a gordura visceral. A circunferência do pescoço é um método pouco explorado e que vem apresentando boas correlações com síndrome metabólica, e também está associado à síndrome da apneia-hiponeia obstrutiva do sono (SAHOS). Objetivo: O presente estudo visa analisar a circunferência do pescoço como parâmetro de deposição de gordura disfuncional no sexo masculino e correlacionar com as demais medidas antropométricas. Métodos: Trata-se de estudo transversal, com população de 107 homens com IMC ≥ 25 kg/m², idade 56,4 ± 6,9 anos. Dividiu-se a amostra em grupos controle (53 H) e síndrome metabólica (54 H), segundo critérios da Federação Internacional de Diabetes. Foram analisadas circunferências do pescoço, cintura, quadril e coxa. Foi utilizado software SPSS versão 19.0. Os resultados foram apresentados como média ± desvio-padrão. Utilizou-se o teste t de Student para comparação de duas médias e regressão logística para verificar a influência de uma variável sobre a outra. Resultados: A média da circunferência do pescoço no grupo SM foi de 41,7 ± 2,2 cm (p < 0,001), e no grupo controle, 40 ± 2,4 cm. A média da circunferência da cintura no grupo SM foi 106,3 ± 7,8 cm e nos controles 100,6 ± 10,1 cm (p = 0,002). Na comparação da circunferência do pescoço com a circunferência da cintura, verificou-se que a circunferência do pescoço apresentou melhor correlação com SM (p = 0,03). A relação pescoço/coxa não apresentou significância estatística entre os grupos (p = 0,13). Discussão: A circunferência do pescoço acima de 40 cm foi considerada o ponto de corte a partir do qual se demonstrou maior probabilidade de síndrome metabólica em homens. Tal parâmetro já foi citado previamente, e foi associado com obesidade central e SAHOS. Esse achado proporciona mais uma medida, de fácil obtenção e grande utilidade para avaliação de pacientes que estão sujeitos a um maior risco cardiovascular. Conclusão: Evidenciou-se que no sexo masculino a circunferência do pescoço foi a medida que apresentou melhor correlação com o diagnóstico de síndrome metabólica, mostrando-se superior à circunferência da cintura. 317 AVALIAÇÃO DE INFLAMAÇÃO SUBCLÍNICA ATRAVÉS DE PROTEINA C REATIVA DE ALTA SENSIBILIDADE EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO Cedro, R. M.¹; Ladeia, A. M.¹; Olivieri, L.¹; Góes, P.¹; Damasceno, H.¹; Ferraz, I.¹; Guimarães, A.¹ ¹ Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Faculdade de Ciência e Tecnologia (EBMSP-FCT), Salvador, BA, Brasil Introdução: O tecido adiposo é local de secreção de várias citocinas inflamatórias, estando a obesidade associada a um estado inflamató- rio crônico de baixo grau. Objetivo: Este estudo tem como objetivo determinar a prevalência de elevação da PCR-as em mulheres com excesso de peso e correlacionar os níveis desse marcador com fatores de risco cardiovascular. Métodos: Foram estudadas 73 mulheres com excesso de peso acompanhadas em ambulatório de obesidade. As pacientes foram submetidas à avaliação clínica completa, avaliação laboratorial do perfil glicêmico e lipídico, ultrassonografia de abdome superior, para detecção de doença hepática gordurosa. A dosagem de PCR-as foi feita pelo método de Nefelometria (VR: até 3,0 mg/L). Resultados: A média de idade encontrada foi de 47,3 + 11,1 anos. Houve uma predominância de mulheres negras ou pardas (89,3%), com escolaridade até o Ensino Médio (53,6%), obesas (70,2%), com circunferência abdominal elevada (98,1%) e com síndrome metabólica (87,7%). A PCR-as elevada foi detectada em 51,7% da população, sendo a média de PCR-as de 3,74 + 2,86 mg/L. Houve uma forte correlação entre níveis elevados de PCR-as e de IMC (r = 0,290, p = 0,03), tendo também sido encontrada associação positiva com a obesidade central (r = 0,269, p = 0,05).Pacientes com hiperglicemia tiveram PCRas mais elevada (4,6 ± 3,2 versus 3,12 ± 2,4, p = 0,04). Não foram encontradas associações positivas com demais variáveis. A obesidade foi a principal condição que influenciou o desfecho do aumento de PCR-as (RP = 4,0; IC = 1,31-12,20). Discussão: Indivíduos com excesso de gordura corporal tendem a ter maiores níveis de PCR-as, asssim como aqueles com hiperglicemia. Estudos indicam que o aumento do IMC isoladamente explicaria entre 7,7% e 29,7% da variação da PCR-as. Há evidências mostrando que a perda de peso contribui substancialmente para reduzir os níveis séricos de PCR. Os presentes dados apoiam a hipótese de que a inflamação crônica de baixo grau é um estado associado à obesidade. Parte do risco aumentado para eventos cardiovasculares em pessoas com excesso de peso pode ser justificada pela presença de níveis elevados de PCR-as, o que traduz um processo inflamatório crônico de baixo grau nesses pacientes, comum à aterosclerose e à obesidade. Conclusão: Há alta prevalência de PCR-as elevada em mulheres com excesso de peso. A obesidade é o principal fator que predispõe à inflamação subclínica, sendo essa condição um importante marcador de doença cardiovascular subsequente. 318 AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO E DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM AMOSTRA POPULACIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE SAÚDE EM MACEIÓ, AL Silva, B. L.¹; Silva, N. M.¹; Souza, P. M. M. S.¹; Barbosa, J. L. M.¹; Cruz, J. A. S.¹ ¹ Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió, AL, Brasil Objetivo: Avaliar a prevalência de obesidade e fatores de risco cardiovascular de uma amostra populacional participante de uma ação de saúde em Maceió (AL). Métodos: Trata-se de um estudo transversal e descritivo realizado em um evento sobre promoção em saúde no dia 17/11/2011, em uma comunidade de Maceió/AL. Foi aplicado um questionário e colhidos dados como idade, sexo,raça, glicemia capilar ao acaso, circunferência abdominal, peso, altura, IMC, presença de diabetes e/ou hipertensão. Os dados foram tabulados e analisados no programa Epi-Info (versão 3.5.3). Resultados: Foram aplicados 68 questionários. Destes, 75% eram de pessoas do sexo feminino. A média de idade foi de 50,39 ± 14,66 anos. Quanto à raça, 14,6% eram negros; 22%, brancos; e 63,4%, pardos. Dos entrevistados, 17,6% referiram ser diabéticos e 47%, hipertensos. A glicemia ao acaso média dos pacientes foi 118,28 ± 34,6 mg/dl. A medida da cintura abdominal (CA) variou de 69 a 117 cm, tendo uma média de 95,4 ± 10,41 cm no sexo feminino e 95,75 ± 11,63 cm no sexo masculino. De acordo com o IMC, 36,9% dos pacientes apresentavam sobrepeso e 29,2%, obesidade grau I. A média da pressão arterial (PA) sistólica foi de 131,79 ± 17,17 mmHg e da diastólica S313 Obesidade Trabalhos Científicos Obesidade Trabalhos Científicos foi de 84,5 ± 10,09 mmHg. Discussão: A avaliação antropométrica e a identificação do excesso de peso podem favorecer a identificação precoce do risco cardiovascular. Estudos destacam que a circunferência da cintura elevada pode contribuir para o aumento do risco coronariano. A prevalência de sobrepeso e de obesidade vêm se tornando um problema de saúde pública, sendo considerada como fator de risco para as dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial, as quais favorecem a ocorrência de doenças cardiovasculares. Conclusão: Este estudo reforça a importância de implementar medidas capazes de detectar precocemente fatores de risco cardiovascular e a adoção de intervenções específicas como a modificação do estilo de vida, incluindo hábitos alimentares e atividade física. 319 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS E DA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES OBESAS SUBMETIDAS A TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ANTIOBESIDADE Figueiredo, M. D.¹; Cunha, D. R.¹; Pinto, J. D.¹; Santos, C. M. C.¹; Boguszewski, C. L.¹; Suplicy, H. L.¹; Radominski, R. B.¹ ¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, PR, Brasil Objetivo: Os aspectos psicológicos e a qualidade de vida são pontos importantes na avaliação de eficácia e segurança do tratamento da obesidade. Assim, tivemos como objetivos caracterizar a população da amostra e avaliar os aspectos depressão, ansiedade, compulsão alimentar e qualidade de vida de mulheres obesas, antes e após seis meses de tratamento antiobesidade. Métodos: Estudo observacional e prospectivo em 180 mulheres selecionadas ao ensaio clínico para tratamento clínico da obesidade, com índice de massa corporal (IMC) entre 30 e 40 kg/m² e randomizadas em seis grupos de tratamento (placebo, anfepramona, sibutramina, femproporex, fluoxetina e mazindol ), no período de 2007 a 2009. Depressão e ansiedade foram avaliadas pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI) e Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). A compulsão alimentar, por meio da Binge Eating Scale (BES) e a qualidade de vida, pelos questionários SF-36 – 36 - Item Short Form Health Survey e IWQOL-LITE – Impact of Weight on Quality of Life. Resultados: Foi identificada idade média de 36,6 ± 7,2 anos e IMC de 34,4 ± 3,7 kg/m². No início do estudo, 38,9% das mulheres apresentavam depressão; 43,3%, ansiedade; e 38,3%, compulsão alimentar. A maioria (93,3%) tinha hábitos alimentares irregulares e 80,0% eram sedentárias. Cento e trinta e oito pacientes completaram seis meses de tratamento, 111 (80,4%) perderam ≥ 5% do seu peso inicial; 52 (37,7%) perderam ≥ 10% e 27 (19,6%) perderam menos de 5% do peso inicial. Houve melhora significativa da depressão (p < 5% ou ≥ 5%). Os escores da compulsão alimentar e a qualidade de vida melhoraram significativamente nas mulheres que perderam ≥ 5% do peso inicial. Discussão: Em obesos há aumento dos transtornos mentais e pior qualidade de vida, colocando a saúde em risco. A intervenção terapêutica multidisciplinar e a aderência ao tratamento trazem melhores resultados independentes da perda de peso. Conclusão: A melhora dos aspectos psicológicos e da qualidade de vida foi evidente em todos os grupos, após seis meses de tratamento. A compulsão alimentar e a qualidade de vida foram melhores nas participantes que perderam ≥ 5% do peso. Depressão e ansiedade melhoraram mesmo nas mulheres que não perderam peso. Os aspectos psicológicos devem ser considerados na estratégia terapêutica do tratamento da obesidade. 320 BAIXA INCIDÊNCIA DE DIABETES MELLITUS NO SEGUIMENTO DE LONGO PRAZO PÓS-DERIVAÇÃO GÁSTRICA Beleigoli, A. M. R.¹; Coelho, A. L. B.¹; Vieira, C. A.¹; Xavier, M. F.¹; Camelo, C. G.¹; Diniz, M. T. C.¹; Rocha, A. L. S.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Hospital das Clínicas, Belo Horizonte, MG, Brasil S314 Objetivo: Avaliar a incidência de diabetes (DM) e sua relação com características pré-operatórias e porcentagem de perda de excesso de IMC (PPIMC) numa coorte de pacientes submetidos à derivação gástrica em Y de Roux pelo Sistema Único de Saúde. Métodos: Estudo de coorte com 248 pacientes operados entre 1998 e 2011 com seguimento entre 1 e 14 anos. Diabetes incidente em cada seguimento anual foi definido como glicemia jejum ≥ 126 mg/dl ou uso de medicamentos antidiabéticos em pacientes sem diagnóstico na linha de base ou em seguimentos anteriores. Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo, idade à cirurgia, história familiar (HF) de DM, diabetes gestacional prévio (DMG), uso de estatina, IMC pré-operatório, presença de comorbidades, tabagismo no pré-operatório e PPIMC após um e dois anos. Análise estatística no SSPS 17.0 utilizando o teste exato de Fisher, teste de Mann-Whitney e teste t de Student não pareado. Projeto aprovado pelo COEP-UFMG, com assinatura de termo de consentimento. Resultados: A média de idade da coorte foi 39,8 ± 10,6 anos (17-64) e do IMC pré-operatório de 53,0 ± 8,9 kg/m² (35,1-78,4). Setenta e cinco por cento dos pacientes foram do sexo feminino. O tempo médio de seguimento foi de 5,1 ± 3,1 anos. Num total de 164 seguimentos completos (836,4 pessoas/ano), a incidência de DM foi de cinco casos (3%), todos no sexo feminino. O único fator relacionado à incidência de DM no pós-operatório foi idade à cirurgia (45 versus 37,6 anos, p = 0,04). Sexo, HF, DMG, uso de estatina, níveis de colesterol, triglicérides, pressão arterial, tabagismo e PPIMC não se relacionaram à incidência de DM. O IMC pré-operatório foi menor (47 versus 52,7 kg/m²) e a glicemia em jejum maior (91 ± 10 versus 88,6 ± 11 mg/dL) nos casos incidentes, embora sem significado estatístico. Discussão: Na literatura especializada, descreve-se baixa incidência de DM após cirurgia bariátrica, como nessa coorte. Da mesma forma, a idade está relacionada ao aparecimento de DM, como nessa série. O tamanho da amostra provavelmente é responsável pelos achados de relação não significativa entre incidência de DM e outros fatores de risco tradicionalmente relacionados à doença. Conclusão: Este estudo de coorte com seguimento em longo prazo de pacientes submetidos à derivação gástrica e com vários fatores de risco para DM mostrou baixa incidência da doença. Maior idade no pré-operatório foi o único fator significativamente associado à ocorrência de DM no pós-operatório. 321 BLOQUEIO DA ALDOSTERONA REDUZ A PRESSÃO ARTERIAL E MELHORA OS PARÂMETROS METABÓLICOS EM OBESOS HIPERTENSOS PORTADORES DE SÍNDROME METABÓLICA Ezequiel, D. G. A.¹; De Paula, R. B.¹; Lovisi, J. C. M.¹; Veloso, F. L. M.¹; Souza Filho, S. F.¹; Rezende, S. P. I.¹; Bicalho, T. C.¹; Costa, M. B.¹ ¹ Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa em Nefrologia (Niepen), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Objetivo: Avaliar os efeitos do bloqueio da ALDO na pressão arterial (PA) avaliada pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), na vasodilatação mediada pelo endotélio e em parâmetros metabólicos e renais de indivíduos hipertensos e não diabéticos com SM. Métodos: Estudo experimental prospectivo no qual foram avaliados 29 indivíduos com SM pré e pós uso de espironolactona (ESPIRO) na dose de 25 a 50 mg por um período de 16 semanas. Resultados: A média de idade dos pacientes foi 44,0 ± 11,01 anos, com índice de massa corpóreo (IMC) de 34,0 ± 3,63 kg/ m², sendo a maioria mulheres (89,7%). Após 16 semanas do uso de espironolactona, os pacientes permaneceram com índice de massa corpórea (IMC) e circunferência abdominal semelhantes ao período basal, todavia apresentaram redução de 10,24 mmHg na pressão arterial sistólica média e 5,9 mmHg na pressão arterial diastólica média em 24 horas. Além disso, após o uso de espironolactona, houve aumento do HDL colesterol, redução dos níveis de triglicérides e melhora significativa da vasodilatação fluxo mediada (VSDFM), en- quanto a glicemia, o HOMA-IR, o potássio (K) e os níveis de PCR ultrassensível não se alteraram de modo significante. O cálculo da filtração glomerular estimada de acordo com fórmula CPK-EPI permaneceu semelhante pré e pós o uso de espironolactona. A relação microalbumina/creatinina em amostra isolada foi expressa em logaritmo em razão de sua grande variabilidade e apresentou redução estatisticamenrte significativa pré e pós o uso de espironolactona. Discussão: Nos últimos anos, a aldosterona (ALDO) tem sido implicada na fisiopatologia da síndrome metabólica (SM), bem como da hipertensão arterial a ela associada, entretanto, o impacto do uso de antagonistas da aldosterona neste grupo de indivíduos foi pouco estudado. Conclusão: O bloqueio da ALDO reduziu a microalbuminúria e os parâmetros pressóricos registrados pela MAPA. Além disso, melhorou parâmetros metabólicos e a vasodilatação endotélio dependente em indivíduos com SM. 322 CAMPANHA DE DETECÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE A SÍNDROME METABÓLICA EM JOINVILLE, SANTA CATARINA Baggenstoss, R.¹; Kohara, S. K.¹; Rodrigues, G. S.¹; Souza, B. V.¹; Souza Filho, V. J.¹; Almeida, J. C.¹; Ramos, L. R.¹; Zemczak, N.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade da Região de Joinville (Univille), Instituto Catarinense de Endocrinologia e Diabetes (ICED), Joinville, SC, Brasil Objetivo: Observar a prevalência de obesidade e síndrome metabólica (SM) em uma amostra da população acima de 35 anos em Joinville/SC. Métodos: Foram realizadas medidas de circunferência abdominal (CA), pressão arterial, peso, altura, questionário com fatores de risco para SM, exames de glicemia capilar e colesterol total em 377 indivíduos (205F/ 172M) acima de 35 anos de idade, durante campanha realizada em um shopping da cidade. Definiu-se a SM de acordo com a presença dos seguintes fatores: CA ≥ 102 cm em homens e ≥ 88 cm em mulheres, glicemia ≥ 140 mg/dL (pois os indivíduos não estavam em jejum) e HAS (sistólica ≥ 130 mmHg, diastólica ≥ 85 mmHg, ou uso de anti-hipertensivos), com base nos critérios da NHANES 2003-2006. Não foi possível avaliar os níveis de triglicerídeos e HDL-colesterol. No Brasil, estima-se que a prevalência seja de 12,4% a 28,5% em homens e 10,7% a 40,5% em mulheres. Resultados: Nas mulheres avaliadas, foi observada presença de história prévia IAM ou AVC em 4,9%, tabagismo em 10,2%, etilismo em 0,5%. Nos homens, a prevalência desses achados foi de 5,2%, 11,6% e 5,8%. Obesidade foi observada em 21,7% das mulheres e 24,4% dos homens. Discussão: A prevalência de SM e obesidade em nossa população está de acordo com a literatura. Observamos maior prevalência de etilismo na população masculina, sem diferença na história previa de IAM/AVC e tabagismo entre os sexos. Porém, apesar da prevalência semelhante de obesidade em ambos os sexos, observamos um número maior de mulheres com aumento da circunferência abdominal. Conclusão: A SM está relacionada com a ocorrência de doença cardiovascular e aumento de mortalidade geral e cardiovascular. A mudança de hábitos de vida e o controle da glicemia e da HAS são determinantes na melhora do prognóstico. Sendo assim, programas de esclarecimento que promovam mudança no estilo de vida e um diagnóstico mais precoce devem ser incentivados, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população de risco. 323 CAMUNDONGOS OBESOS COM ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA APRESENTAM AUMENTO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA GLUT2 EM FÍGADO Silva, A. D.¹; Favaro, R.¹; Petroni, R. C.¹; Furuya, D. T.¹; Ebersbach, P. S.¹; Zorn, T. M. T.¹; Machado, U. F.¹ ¹ Instituto de Ciências Biomédicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Introdução: Acreditamos o GLUT2 (Glucose transporter 2) possa estar envolvido com o desenvolvimento da esteato-hepatite não alcoólica. Objetivo: Dessa forma, considerando a importância do conhecimento da regulação dos fluxos de glicose em fígado de animais obesos e com esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), temos como objetivo analisar a expressão da proteína GLUT2. Métodos: Foram estudados camundongos obesos (MSG) e não obesos (C). A obesidade foi induzida por tratamento neonatal com 2 mg/g de glutamato monossódico, durante cinco dias consecutivos; e, no sétimo dia, uma injeção de 4 mg/g peso. Após desmame, os animais controle e MSG foram alimentados com dieta normolipídica (DN) ou hiperlipídica (DH) 60%, durante 12 semamas. Obtemos quatro grupos: C-DN, C-DH, MSG-DN e MSH-DH. A obesidade nem sempre está associada com elevado peso corpóreo, por isso medidas de adiposidade, como o índice de Lee e peso do tecido adiposo periepididimal, devem ser utilizadas. Para a avaliação do conteúdo de proteína GLUT2, foi realizado ensaio de Western Blot. Resultados: Na análise dos resultados (ANOVA – Student Newman Keuls) foi verificado que os camundongos MSG-DH apresentaram maior peso ao final das 12 semanas de dieta em comparação aos animais C-DN. Discussão: Demonstramos um aspecto relevante e ainda não descrito na literatura: a administração de glutamato associado com dieta hiperlipídica leva à EHNA. Sabe-se que a EHNA está relacionada com resistência à insulina, em que observamos maior demanda de ácido graxo livre e aumento do fluxo de glicose para o fígado. Essa glicose pode ser convertida em triglicerídeo por meio da lipogênese de novo, contribuindo para o aumento da esteatose hepática. Dessa forma, o GLUT2 pode colaborar na progressão da EHNA por facilitar o influxo de glicose no hepatócito. Conclusão: Acreditamos que o aumento da expressão da proteína GLUT2 em camundongos obesos alimentados com dieta hiperlipídica colabora para o desenvolvimento do quadro de esteato-hepatite não alcoólica. 324 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA EM CAMUNDONGOS CD1 Silva, A. D.¹; Favaro, R.¹; Petroni, R. C.¹; Freitas, H. S.¹; Okamoto, M. M.¹; Barrence, F.¹; Zorn, T. M. T.¹; Machado, U. F.¹ ¹ Instituto de Ciências Biomédicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, SP, Brasil Objetivo: Com o intuito de avaliar o estabelecimento da esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) em camundongos CD1, induzimos obesidade por glutamato monossódico e dieta hiperlipídica. Métodos: Foram estudados camundongos CD1 obesos (MSG) e não obesos (C). A obesidade foi induzida por tratamento neonatal com 2 mg/g de glutamato monossódico, durante cinco dias consecutivos; e, no sétimo dia, uma injeção de 4 mg/g peso. Após desmame, os animais controles e MSG foram alimentados com dieta normolipídica (DN) ou hiperlipídica (DH) 60%, durante 4, 8 e 12 semamas. Obtemos quatro grupos: C-DN, C-DH, MSG-DN e MSH-DH. A obesidade nem sempre está associada com elevado peso corpóreo, por isso medidas de adiposidade, como o índice de Lee e peso do tecido adiposo periepididimal, devem ser utilizadas. Resultados: Na análise dos resultados (ANOVA – Student Newman Keuls), foi verificado que os camundongos MSG-DH apresentaram maior peso ao final do período de dieta (4 e 12 semanas) em comparação aos animais C-DH. Discussão: A administração de glutamato monossódico associado com dieta hiperlipídica durante 12 semanas leva à esteato-hepatite não alcoólica. Sabe-se que a EHNA está relacionada com resistência à insulina, onde há aumento da lipólise no tecido adiposo aumentando o fornecimento de ácido graxo livre para o fígado; como consequência, há infiltração e deposição de gordura no hepatócito, ocasionando a esteatose. Ainda, o desenvolvimento da esteatose pode estar envolvido com o excesso de glicose na dieta, ocasionando maior influxo de ácido graxo no hepatócito e aumento da lipogênese de S315 Obesidade Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos novo. Conclusão: Camundongos CD1 com obesidade induzida por glutamato monossódico e dieta hiperlipídica durante 12 semanas apresentam quadro de esteato-hepatite não alcoólica. 325 Obesidade CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA: PREVALÊNCIA E ASSOCIAÇÃO COM PERFIL DE RISCO CARDIOMETABÓLICO NO BRAMS – BRAZILIAN METABOLIC SYNDROME STUDY Vasques, A. C. J.¹; Comucci, E. B.¹; Rocha, L. M.¹; Vilela, B. S.¹; Cassani, R. S. L.¹; Forti, A. C.¹; Tambascia, M. A.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIMED-Unicamp), Campinas, SP; Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), Itu, SP; Centro Integrado de Hipertensão e Diabetes do Estado do Ceará (CIDH), Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brasil Introdução: A adiposidade abdominal possui características heterogêneas. Para uma dada circunferência da cintura (CC), diferentes quantidades de gordura subcutânea e visceral podem estar presentes. Objetivo: A avaliação do fenótipo cintura hipertrigliceridêmica (HW) – do inglês hypertriglyceridemic waist – foi proposta para um melhor screening de indivíduos em risco cardiometabólico. Investigaram-se a prevalência de HW e sua associação com parâmetros cardiometabólicos. Métodos: Foram avaliados 1.644 adultos normotolerantes à glicose. Foram determinados: CC, pressão arterial (PAS e PAD) e dosagens bioquímicas de jejum (glicemia, insulinemia, colesterol total e frações, triglicérices (TG), proteína C reativa ultrassensível (PCR) e ácido úrico). Calculou-se o índice HOMA1-IR. Classificou-se o fenótipo HW como: homens com CC > 90 cm e TG > 177 mg/dl (2 mmol/l) e mulheres com CC > 85 cm e TG > 133,0 mg/dl (1,5 mmol/l). Os testes de Mann-Whitney e Odds Ratio, com seu respectivo intervalo de confiança (IC) de 95%, foram utilizados. Resultados: A prevalência do fenótipo HW foi 18,4%. Indivíduos com HW apresentaram maiores níveis de PAS (125,0 ± 18,0 versus 119,0 ± 15,0 mmHg), PAD (81,0 ± 14,0 versus 78,0 ± 28,0 mmHg), colesterol total (218,0 ± 46,0 versus 180,0 ± 39,0 mg/dl) e LDL-col (132,0 ± 42,0 versus 110,0 ± 35,0 mg/dl), menor HDL-col (44,0 ± 10,0 versus 51,0 ± 14,0 mg/dl), e aumento nos níveis de ácido úrico (5,6 ± 1,7 versus 4,7 ± 1,7 mg/dl), PCR (1,4 ± 3,8 versus 0,85 ± 2,3 mg/ dl), glicemia (86,0 ± 9,0 versus 83,0 ± 9,0 mg/dl) e HOMA1-IR (3,7 ± 3,2 versus 2,1 ± 2,1) comparados àqueles sem este fenótipo; p < 0,001 para todos. A associação entre adequação da CC e TG versus HOMA1-IR revelou um gradiente crescente nos valores de Odds Ratio: CC e TG adequados (OR = 0,14; 0,10-0,20); CC adequada e TG elevado (OR = 0,35; 0,15-0,83); CC elevada e TG adequado (OR = 1,41; 1,14-1,76); CC e TG elevados (OR = 4,50; 3,46-5,85); p < 0,05 para todos. Discussão: O fenótipo HW foi proposto para monitorar indivíduos com a tríade metabólica aterogênica: hiperinsulinemia, níveis elevados de apolipoproteína e partículas pequenas e densas de LDL. No presente estudo, foram avaliados outros parâmetros, e o fenótipo HW esteve associado a um pior perfil em todos eles, os quais também constituem alterações metabólicas importantes relacionadas à obesidade. Conclusão: Os achados corroboram as evidências científicas favoráveis sobre a utilidade da HW em identificar, em nível populacional, indivíduos com pior perfil cardiometabólico, sugestivo da presença de obesidade visceral. 326 CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO COMO MARCADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES CARDIOMETABÓLICOS Stabe, C.¹; Vasques, A. C.¹; Lima, M. M.¹; Tambascia, M.¹; Pareja, J. C.¹; Yamanaka, A.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil S316 Objetivo: Investigar a relação da circunferência do pescoço com síndrome metabólica (SM) e resistência à insulina (RI) em uma amostra populacional brasileira, com ampla faixa de adiposidade e tolerância à glicose, e estabelecer pontos de corte para a circunferência do pesçoco para predizer o risco de SM e resistência à insulina. Métodos: Estudo transversal. Casuística de 1.053 indivíduos adultos (18-60 anos). Medidas: IMC 18,5-40,0 kg/m², com tolerância normal à glicose ou diabetes tipo 2 (DM2), medidas antropométricas:circunferência da cintura (CC), circunferência do pescoço (CP) e IMC. Gordura visceral medida por ultrassom. Sensibilidade à insulina medida pelo clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico (10% da amostra total) e cálculo do HOMA-IR. Análise de correlação para avaliar associações entre CP e RI e fatores de risco cardiometabólicos. Curvas ROC foram utilizadas para determinar pontos de corte específicos para gênero para predizer presença de RI e SM. Análise de regressão foi realizada para medir a chance de desenvolver RI e SM de acordo com o aumento da CP. Resultados: A amostra consistiu de 28,6% de homens, idade média 39,4 (12 anos). Trezentos e seis indivíduos com diagnóstico de DM2, dos quais 34% eram homens. CP correlacionou-se com CC e IMC em ambos os gêneros (p < 0,001). CP apresentou correlação positiva com triglicérides, glicemia de jejum, insulinemia de jejum e HOMA-IR, e associação negativa com HDL. A CP e a sensibilidade à insulina (clamp) apresentaram correlação moderada negativa. Entre CP e gordura visceral, houve uma correlação positiva significativa. Nas análise das curvas ROC, a CP apresentou o melhor desempenho em discriminar a apresença de RI em homens e mulheres,enquanto a CP apresentou AUC mais larga para SM em homens. Discussão: Nesta análise de dados representativos da população brasileira, a CP pode ser considerada um indicador de obesidade central, e apresentou associação com parâmetros bioquímicos relacionados com a resistência à insulina e a fatores cardiometabólicos. Além disso, pontos de corte específicos para cada gênero para CP foram estabelecidos para identificar o risco de RI e SM. Conclusão: A circunferência do pescoço é uma medida inovadora e alternativa para determinar a distribuição de gordura corporal. A CP está positivamente associada com fatores de risco da SM, RI e gordura visceral; e com pontos de corte estabelecidos para a predição de SM e RI. 327 CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO COMO MARCADOR DE RESISTÊNCIA À INSULINA E FATORES CARDIOMETABÓLICOS Stabe, C.¹; Vasques, A. C.¹; Lima, M. M.¹; Tambascia, M.¹; Pareja, J. C.¹; Yamanaka, A.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Investigar a relação da circunferência do pescoço com índrome etabólica (SM) e resistência à insulina (RI) em uma amostra populacional brasileira, com ampla faixa de adiposidade e tolerância à glicose, e estabelecer pontos de corte para a circunferência do pesçoco para predizer o risco de SM e resistência à insulina. Métodos: Estudo transversal. Casuística de 1.053 indivíduos adultos (18-60 anos). Medidas: IMC 18,5-40,0 kg/m², com tolerância normal à glicose ou diabetes tipo 2 (DM2), medidas antropométricas: circunferência da cintura (CC), circunferência do pescoço (CP) e IMC. Gordura visceral medida por ultrassom. Sensibilidade à insulina medida pelo clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico (10% da amostra total), e cálculo do HOMA-IR. Análise de correlação para avaliar associações entre CP e RI e fatores de risco cardiometabólicos. Curvas ROC foram utilizadas para determinar pontos de corte específicos para gênero para predizer presença de RI e SM. Análise de regressão foram realizadas para medir a chance de desenvolver RI e SM de acordo com o aumento da CP. Resultados: A amostra consistiu de 28,6% de homens, idade média 39,4 (12 anos). Trezentos e sieis indivíduos com diagnóstico de DM2, dos quais 34% eram homens. CP correlacionou-se com CC e IMC em ambos os gêneros (p < 0,001). CP apresentou correlação positiva com triglicérides, glicemia de jejum, insulinemia de jejum e HOMA-IR, e associação negativa com HDL. A CP e a sensibilidade à insulina (clamp) apresentaram correlação moderada negativa. Entre CP e gordura visceral, houve uma correlação positiva significativa. Nas análise das curvas ROC, a CP apresentou o melhor desempenho em discriminar a apresença de RI em homens e mulheres, enquanto a CP apresentou AUC mais larga para SM em homens. Discussão: Nesta análise de dados representativos da população brasileira, a CP pode ser considerada um indicador de obesidade central, e apresentou associação com parâmetros bioquímicos relacionados com a resistência à insulina e a fatores cardiometabólicos. Além disso, pontos de corte específicos para cada gênero para CP foram estabelecidos para identificar o risco de RI e SM. Conclusão: A circunferência do pescoço é uma medida inovadora e alternativa para determinar a distribuição de gordura corporal. A CP está positivamente associada com fatores de risco da SM, RI e gordura visceral; e com pontos de corte estabelecidos para a predição de SM e RI. 328 COMPORTAMENTO ALIMENTAR AUTORREFERIDO EM MULHERES OBESAS QUE BUSCAM TRATAMENTO CLÍNICO PARA OBESIDADE EM HOSPITAL PÚBLICO DE CURITIBA, PR Figueiredo, M. D.¹; Cunha, D. R.¹; Pinto, J. D.¹; Santos, C. M.C.¹; Boguszewski, C. L.¹; Suplicy, H. L.¹; Radominski, R. B.¹ ¹ Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), Curitiba, PR, Brasil Introdução: O comportamento alimentar em obesos é predominantemente irregular com episódios de descontrole e seguido de sentimentos de culpa e sofrimento psicológico. Objetivo: Tivemos como objetivo neste estudo avaliar o comportamento alimentar autorreferido, antes da intervenção medicamentosa em mulheres obesas. Métodos: Estudo observacional e transversal realizado em 180 mulheres obesas, selecionadas para ensaio clínico de tratamento medicamentoso antiobesidade, entre 2007 a 2009. Em entrevista clínica, as pacientes relataram o comportamento alimentar e os hábitos alimentares, nos últimos 6 meses. Resultados: Foi identificada idade média de 36,6 ± 7,2 anos e IMC inicial de 34,4 ± 3,7 Kg/ m². A maioria (93,3%) apresentou hábitos alimentares irregulares. Conflitos pessoais influenciaram no consumo alimentar em 94 casos (52,2%), com frequência semelhante em todos os grupos (p = 0,66). Os conflitos apontados foram angústia em 40 casos (42,5%), problemas familiares em 25 (26,7%), estresse no trabalho em 19 (20,2%), conflitos conjugais em 10 (10,6%). Observou-se perfil alimentar do tipo “comedor noturno” em 77 casos (42,8%), “beliscador” em 58 (32,2%), “comedor de final de semana” em 27 (15,0%) e “comedor diurno” em 17 (9,4%). Observou-se associação significativa entre humor e hábito alimentar (p = 0,04). A oscilação do humor foi associada ao aumento do apetite em 145 mulheres (80,5%), a redução em 11 (6,1%) e 24 (13,3%) não perceberam essa relação. Discussão: Em obesos, o comportamento alimentar inadequado pode levar ao sofrimento psicológico e ao ganho de peso, prejudicando a aderências às orientações. Conclusão: A maioria das mulheres relatou comportamento alimentar irregular, acompanhado de angústia e culpa. Identificamos que o ato alimentar está diretamente ligado ao estado emocional das pacientes. Para a eficácia do tratamento da obesidade, devem-se considerar os aspectos físicos e psicológicos. 329 DIMINUIÇÃO DE INGESTÃO ALIMENTAR COMO EFEITO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATHYMENIA RETICULATA EM RATOS DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS Magalhães, F. O.¹; Uber-Buceck, E.¹; Name, T. F.¹; Ceron, P. I. B.¹; Carlo, R. L.¹; Miziara, P. E. S. C.¹; Silva, J. S. P.¹ ¹ Universidade de Uberaba (Uniube), Uberaba, MG, Brasil Objetivo: O experimento visa avaliar o efeito do extrato aquoso a frio da planta Plathymenia reticulata sobre a ingestão alimentar e ganho de peso de animais diabéticos e não diabéticos. Métodos: O experimento foi realizado em 53 ratos machos adultos Wistar, com peso entre 180 g e 220 g, divididos em 8 grupos: controles tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (CAF25, CAF50 e CAF100) e diabético tratados com extrato aquoso a frio 25 mg/kg peso, 50 mg/kg peso e 100 mg/kg peso (DAF25, DAF50 e DAF100), diabéticos tratados com água (DC) e controles tratados com água (CC). A indução do diabetes foi realizada por meio da administração de estreptozotocina (65 mg/kg) via intraperitoneal. O tratamento com os respectivos extratos ou água foi realizado diariamente por gavagem durante 30 dias. A ingestão alimentar foi medida diariamente, enquanto o peso semanalmente. Calcularam-se a ingestão média diária e o ganho de peso total de cada animal. A análise dos dados foi feita por meio da ANOVA e do teste Tukey-Kramer com nível de significância de 5%. Os resultados são expressos em media ± EPM. Resultados: Houve redução significativa no ganho de peso durante as 4 semanas de tratamento nos ratos não diabéticos tratados com extrato nas dosagem 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg (CAF25: 30,56 ± 9,96 gr n = 6). Discussão: Foi observado que, nos ratos não diabéticos tratados com extrato aquoso a frio nas doses de 25 mg/kg, 50 mg/kg e 100 mg/kg, houve redução significativa do peso e da ingestão. Em relação aos ratos diabéticos, houve apenas diminuição significativa da ingestão no grupo DAF25. Conclusão: O extrato de Plathymenia reticulada mostrou nos animais não diabéticos ter capacidade para diminuir o consumo e o peso, podendo ser usada para tratamento da obesidade. 330 EIXO CORTICOTRÓFICO E VARIÁVEIS COMPORTAMENTAIS EM MULHERES COM OBESIDADE VISCERAL Bussade, I.¹; Coutinho, W.¹; Clapauch, R.¹; Bouskela, E.¹; Yuriko, R.¹; Saraiva, D.¹; Martins, P.¹ ¹ Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (Iede), Rio de Janeiro, RJ, Brasil Objetivo: Avaliar os níveis de cortisol e variáveis de impacto no eixo corticotrófico em mulheres com obesidade visceral. Métodos: Incluídas mulheres entre 18 e 50 anos, índice de massa corporal (IMC) entre 25 e 35 kg/m² e circunferência de cintura (CA) > 88 cm. Toda estavam na menacme.Critério de exclusão: menopausa, síndrome de ovários micropolicísticos (SOP), diabetes mellitus (DM), síndromes hipogonádicas, uso de psicotrópicos. Foram realizadas: anamnese, exame clinico e questionários autoaplicáveis, comoInventário de Ansiedade de Beck (BAI) e Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala de Compulsão alimentar periódica(BES) e Escala de sono de Pittsburg(PSQI). Dosagens cortisol urina 24 h e após supressão com 0,5 mg dexametasona às 23 h e dosagem matinal às 7 h. Resultados: Características clínicas: idade 35,3 ± 9,7; pressão arterial sistólica 123 mmHg ± 11,2; IMC 30,4 kg/m² ± 3,37; cintura 98,5 ± 8,57; relação cintura quadril0,89 ± 0,08. Características laboratoriais: insulina 11,4 ± 6,1 mmUi/ml; glicemia 90,8 ± 1-,7 mg/dl; HOMA-r 2,63 ± 1,44; HDL 55,4 ± 9,2; triglicerídeos 91,2 ± 39,1, cortisol livre urinário 165,5 mcg/24 h +/ 53,2 e cortisol pós 0,5 mg dexa 0,73 +/ 0,55. Pontuação nos questionários: BES 15,4 ± 8,4; PSQI 7,0 +/ 1,59; BDI 14,5 ± 6,34; BAI 13,08 ± 9,73. A comparação entre pacientes com HOMA no quartil inferior e superior mostrou maior pontuação no BES (p = 0,03). Pacientes com pontuação elevada no BDI apresentaram pontuação elevada no BAI (p = 0,03). Divididos pelo BES, pacientes com maior pontuação apresentaram maior RCQ (p = 0,02), assim como pacientes em classes distintas de padrão de sono (PSQI) apresentaram diferença quanto à pontuação no BAI (p = 0,01)e IMC (p = 0,02). Discussão: A obesidade visceral S317 Obesidade Trabalhos Científicos Obesidade Trabalhos Científicos presente em todas as pacientes da amostra produz um padrão de hipercortisolimo aferido pela excreção aumentada de cortisol na urina 24 h. Pacientes com resistencia insulínica e maior RCQ apresentaram maior pontuação na escala de compulsão alimentar assim como pacientes com menor número de horas de sono noturnas. A ativação do eixo corticotrófico nessas condições clínicas já havia sido descrita e corrobora a hipótese de alterações metabólicas e ponderais associadas a essa via. Pacientes com maior pontuação na escala de ansiedade apresentaram maior IMC. Conclusão: Os níveis de cortisol urinário estão elevados na obesidade visceral. Nesses pacientes, maior pontuação nas escalas que quantificam qualidade do sono, compulsão alimentar e transtorno de ansiedade se associam ao maior IMC e RCQ. 331 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SÍNDROME METABÓLICA (SM): ESTUDO DE COORTE COMBINADO EM ESTUDANTES DE UM CURSO DE MEDICINA Nascimento, M. R.¹; Ana Santos, A. C. S.¹; Oliveira, A. P. R.¹; RamosDias, J. C.¹; Senger, M. H.¹ ¹ Área de Endocrinologia, Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (PUCSP), Sorocaba, SP, Brasil Introdução: Tem se constatado maior incidência de fatores predisponentes para a SM em populações jovens, dado preocupante especialmente se encontrado em indivíduos ligados à área da saúde. Objetivo: Avaliar a incidência de fatores de risco escolhidos entre os que compõem a SM, além de hábitos de vida em estudantes de medicina ao longo dos seis anos do curso. Métodos: Estudamos 43 alunos em 2006 (1º ano), em 2008 (3º ano) e em 2011 (6º ano), correspondendo a cerca de 40% da classe. Foram analisados: pressão arterial (PA), peso, IMC, circunferência abdominal (CA), glicemia capilar e colesterol capilar. Avaliamos: tabagismo pelo Questionário de Tolerância de Fagerström, consumo de bebidas alcoólicas (questionário Cage) e frequência de atividade física (Questionário Internacional de Atividade Física). Comparamos os resultados pela análise de variância de medidas repetidas e pela estatística de Wilk’s Lambda. Foi considerado significante p < 0,05. Resultados: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local. Peso (p = 0,006) e IMC (p = 0,03) aumentaram seus valores de forma linear e apresentaram interação entre os sexos. Também houve interação entre sexos quanto à CA, com diminuição dos valores, de forma quadrática nas mulheres. Discussão: Embora tenhamos notado elevação da PA, IMC e colesterol e aumento de fumantes e bebedores de risco, houve diminuição do sedentarismo e da CA (nas mulheres). O percentual de fumantes foi superior ao encontrado na literatura em estudantes da área da saúde. Conclusão: Apesar de estarmos lidando com uma população saudável, que apresentou valores dentro da faixa de normalidade na maioria dos parâmetros analisados, observamos elevação significativa em fatores de risco considerados estratégicos para possível progressão para SM, incluindo tabagismo e etilismo. Tais fatos apontam a necessidade da realização de medidas de prevenção primária, principalmente por se tratar de futuros profissionais que cuidarão da saúde humana. 332 FERRAMENTAS DE PREVISÃO DE RISCO GENÉTICO PARA OBESIDADE Moraes, M. A. R.¹ ¹ Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí, SP, Brasil Objetivo: Este trabalho visa apresentar alguns loci inequivocamente associados à obesidade. Métodos: Genome-Wide estuda uma amostragem de indivíduos prevalentes para obesidade e indivíduos con- S318 troles não prevalentes, em que se sequencializa seus DNAs e se faz a correlação dos loci expressos com os indivíduos prevalentes. Esse tipo de pesquisa ainda não é viável no Brasil, então, usando resultados de vários países, montamos esta apresentação, na qual foi feita metanálise dos trabalhos publicados, tendo como resultado os genes que demonstram estar solidamente relacionados com a obesidade. Resultados: FTO – Fat mass and obesity associated gene – 16q12.2. Seu estudo iniciou-se em 2007, na Inglaterra, utilizando-se 2.938 indivíduos, sendo 1.924 obesos, e demonstrou a correlação entre o gene FTO e IMC confirmada por p = 5 x 10 – 8. Em metanálise de sete trabalhos, em que foram sequenciados os genomas de 117.325 indivíduos, ficou evidenciada uma sólida relação entre FTO e IMC, tendo demonstrando o valor de p sempre < 10-6. MC4R – Melanocortin 4 receptor – 18q21.32. Metanálise totalizou 51.742 indivíduos analisados, confirmando a associação de MC4R com a obesidade severa com pMax = 1.1 x 10-20. Discussão: Os loci estudados abordaram diversas populações em diferentes condições e apresentaram sólido relacionamento com as doenças apresentadas, demonstrando valores de p sempre menores que 10-6. Os fatores genéticos contabilizam de 40% a 70% de variação na predisposição para obesidade, e o restante é determinado pelos fatores de estilo de vida. Conclusão: Esses loci são ferramentas frágeis e não podem competir com as previsões baseadas nos fatores de risco tradicionais já estabelecidos, mas esses resultados demonstram novas ferramentas que abrem o olhar para uma nova forma de abordar a clínica e permite a previsão de doenças com influências genéticas; apresentando estimativas dos riscos individuais, que podem motivar pacientes a adotar comportamentos que lhes ofereçam redução de riscos e que vão levá-los a minimizar as chances da incidência, permitindo que se prepararem para ter uma melhor qualidade de vida. 333 HIGH-FAT PROGRAMMING INDUCES PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM HYPERACTIVITY IN WEANLING WISTAR RATS Barella, L. F.¹; de Oliveira, J. C.¹; Coelho, M. L.¹; Miranda, R.A.¹; Mathias, P. C. F.¹ ¹ Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR; Université de Lille 1, Lille, França, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Fisiologia Humana, Maringá, PR, Brasil Objective: The aim of this study was evaluate the body weight gain, fat pad weights, glucose and insulin levels and the electrical activity of the parasympathetic nerve in weaned rats (at 22-day-old), from dams fed, during all the lactation period, a standard (NF) or a highfat diet (HF). Methods: The HF diet (35% of fat) was offered to dams from the delivery day until the end of offspring nursing (day 21). At 22-day-old the overnight fasted pups were sacrificed and the fat pads removed and weighed. The blood was collected for determination of glucose and insulin levels. For recording of the parasympathetic activity, the animals were anesthetized and the cervical vagus nerve was isolated. The depolarization signals were registered with the aid of an electrode and a Bioamplificator. Results: HF pups gained more weight during the lactation period and they became heavier than the NF pups at 21-day-old (final body weight: NF 50.9 ± 0.9g versus HF 55.8 ± 0.6 g. Discussion: The high-fat diet offered to dams during the lactation period is enough to increase the body weight of its pups, and this could be due to this higher accumulation of adipose tissue. Regarding insulin and glucose levels results, we suppose that the milk composition might contains high levels of lipids, moreover, the literature has already showed a pattern called lipotoxicity, which circulating high levels of free fatty acids lead to beta-cells dysfunction. To contour this impairment, the HF rats might have increased its insulin sensitivity to maintain a normal glycemia. Although the increase of parasympathetic tonus did not reflect in insulin secretion potentiation of HF animals, a down regulation state might be ruling the muscarinic receptors due to this increase in the parasympathetic activity. Conclusion: We clearly show that animals in early stage of life, from high-fat diet fed dams, present higher body weight and accumulation of adipose tissue, as well as, impairment of fasting insulinemia and imbalance of the autonomic nervous system. 334 IMAGEM CORPORAL E AUTOPERCEPÇÃO EM MULHERES OBESAS GRAU I E II QUE BUSCAM TRATAMENTO PARA OBESIDADE EM HOSPITAL PÚBLICO DE CURITIBA, PR Figueiredo, M. D.¹; Cunha, D. R.¹; Pinto, J. D.¹; Santos, C. M. C.¹; Boguszewski, C. L.¹; Suplicy, H. L.¹; Radominski, R. B.¹ ¹ Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), Curitiba, PR, Brasil Introdução: A imagem corporal em obesos está associada a graves problemas emocionais, que podem prejudicar o processo de tratamento da obesidade. Objetivo: Avaliar a autopercepção corporal, autorreferida antes da intervenção medicamentosa em mulheres obesas. Métodos: Estudo observacional e transversal realizado em 180 mulheres obesas, selecionadas para ensaio clínico de tratamento medicamentoso antiobesidade, entre 2007 a 2009. Em entrevista clínica, as pacientes relataram sua percepção corpórea nos últimos seis meses. Resultados: Foi identificada idade média de 36,6 ± 7,2 anos, peso médio inicial de 89,3 ± 9,7 kg e IMC de 34,4 ± 3,7 kg/m². A maioria das participantes relatou insatisfação da imagem corporal (62,2%) e 137 (76,1%) consideravam-se feias. O rosto foi escolhido como parte do corpo de que mais gostavam (45,0%), seguida dos seios (17,0%), pernas e nádegas (15,0%). A parte do corpo menos apreciada foi a barriga (73,3%). O peso médio desejado foi 65,5 kg, aproximadamente 27% a menos do peso inicial e acima do alcançado após seis meses de tratamento medicamentoso. Os motivos não excludentes para participação do estudo foram preocupação com a saúde (80,0%), seguida da estética (51,1%) e baixa autoestima (51,1%). Cento e três mulheres (57,2%) relataram insatisfação na vida sexual e 113 (62,8%) apresentavam humor instável. Discussão: É consenso científico que, em mulheres obesas, é grande a insatisfação com a imagem corporal, acompanhada de sofrimento psicológico, baixa autoestima, insegurança, descontrole alimentar e isolamento social. Conclusão: Observamos, na maioria das participantes, grande insatisfação com o peso e com a imagem corporal, seguidas de forte expectativa para perda de peso no tratamento clínico da obesidade. Identificamos nessa amostra que a imagem corporal está diretamente ligada ao estado emocional e ao peso atual das pacientes. Em razão da complexidade da doença, o tratamento para obesidade deve considerar os aspectos físicos e psicológicos. 335 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS COMO PREDITORES DE RESISTÊNCIA À INSULINA EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS) Silva, C. C.¹; Vasques, A. C. J.¹; Zambon, M. P.¹; Rodrigues. A. M. B.¹; Camilo, D. F.¹; Antonio, M. A. R. G. M.¹; Cassani, R. S. L.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Avaliar a associação de indicadores antropométricos com resistência à insulina (RI) em adolescentes com diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Estudo transversal, com 310 adolescentes (165 meninas) de 10-19 anos. Avaliaram-se: glicemia, insulina, percentual de gordura corporal (%GC) por bioimpedância, diâmetro abdominal sagital (DAS) e circunferências da cintura (CC), do quadril (CQ), do pescoço (CP) e da coxa. Calcularam-se: escore Z de IMC, índice de conicidade (IC), índice sagital (IS) e relações cintura-estatura (RCE), cintura-quadril (RCQ) e cintura-coxa (RCCoxa). A RI foi avaliada pelo índice HOMA-IR. Correlação parcial com ajuste para o %GC, curvas ROC e calculadas as áreas abaixo das curvas (AUC). Considerou-se p < 0,05. Resultados: Nas meninas, todos os indicadores antropométricos correlacionaram-se com o HOMA-IR. A maior correlação foi para CC (r = 0,37), seguida da CP (r = 0,36), RCE (r = 0,34), DAS (r = 0,29), escore Z de IMC (r = 0,27), RCCoxa (r = 0,26), IC (r = 0,23), p < 0,05. Discussão: O índice HOMA-IR, validado em relação ao método padrão ouro (clamp) para o diagnóstico da RI, é uma das alternativas para a avaliação da RI na prática clínica por ser de fácil aplicação. Contudo, o cálculo do HOMA-IR requer dosagens de insulina, as quais possuem custo elevado, o que dificulta a utilização do índice em screenings populacionais. Nesse contexto, os indicadores antropométricos aqui estudados figuram como potenciais alternativas aplicáveis e de baixo custo para a avaliação da RI. Conclusão: Os resultados demonstraram que a CC e a CP para as meninas e o e escore Z de IMC e o DAS para os meninos foram os indicadores antropométricos com melhor desempenho enquanto ferramentas substitutivas para a identificação de adolescentes com RI. 336 ÍNDICE DE RESISTÊNCIA À INSULINA (TYG) E SUA RELAÇÃO COM INDICADORES METABÓLICOS E ANTROPOMÉTRICOS EM ADOLESCENTES: ESTUDO BRAMS Silva, C. C.¹; Vasques, A. C. J.¹; Zambon, M. P.¹; Rodrigues, A. M. B.¹; Camilo, D. F.¹; Cassani R. S. L.¹; Antonio, M. A. R. G. M.¹; Geloneze, B.¹ ¹ Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, SP, Brasil Objetivo: Avaliar a correlação entre o índice de resistência à insulina (RI) TyG, que relaciona os níveis de triglicerídeos e glicemia, com indicadores metabólicos e antropométricos em adolescentes com diferentes níveis de adiposidade. Métodos: Estudo transversal, com 294 adolescentes (159 meninas) de 10-19 anos. Avaliaram-se diâmetro abdominal sagital (DAS) e circunferência da cintura (CC), do quadril (CQ) e da coxa. Calcularam-se os índices de conicidade (IC), de massa corporal (IMC) e sagital (IS); e relações cintura-estatura (RCE), cintura-quadril (RCQ) e cintura-coxa (RCCoxa). Percentual de gordura corporal (%GC) por bioimpedância. Dosagens bioquímicas: glicemia de jejum (GJ), insulina, colesterol total (COLT), LDL, HDL e triglicérides (TG). A RI foi avaliada pelos índices TyG [log (TG (mg/dL) x GJ (mg/dL))/2)] e HOMA-IR. Correlação de Spearman, p < 0,05. Resultados: Nas meninas, o índice TyG correlacionou-se com CC e RCCoxa (r = 0,38), IC e RCE (r = 0,41), IMC (r = 0,32), DAS e %GC (r = 0,34), RCQ (r = 0,36), IS (r = 0,35), HOMA-IR e COLT (r = 0,39), LDL (r = 0,33), TG (r = 0,96), p < 0,001. Discussão: Os dados do presente estudo correspondem àqueles encontrados em publicação prévia do estudo BRAMS realizado com adultos, no qual o índice TyG esteve correlacionado com indicadores de adiposidade (IMC, espessura de gordura abdominal visceral, CC e DAS) e com marcadores metabólicos e de aterosclerose subclínica relacionados à RI. Embora a utilização do índice TyG na população pediátrica brasileira ainda precise de validação frente aos testes de clamp (método padrão-ouro para RI), os dados do presente trabalho abrem caminho para uma abordagem mais acessível para a avaliação da RI, uma vez que os níveis de triglicérides e glicemia são de baixo custo e rotineiramente dosados nos serviços de saúde. Conclusão: O índice TyG correlacionou-se significativamente com todos os indicadores metabólicos e antropométricos, indicando ser uma ferramenta alternativa, de baixo custo e grande aplicabilidade para identificação de indivíduos com RI e S319 Obesidade Trabalhos Científicos Trabalhos Científicos presença de distúrbios relacionados à síndrome metabólica nesssa população. 337 Obesidade MORTALIDADE TARDIA PÓS-DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): ELEVADA FREQUÊNCIA DE CIRROSE ALCOÓLICA E SUICÍDIOS Diniz, M. F. H. S.¹; Moura, L. D.¹; Coelho, A. L. B.¹; Kelles, S. M. B.¹; Diniz, M. T. C.¹ ¹ Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Hospital das Clínicas da (UFMG), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Avaliar a mortalidade tardia, discriminar as causas de óbito e sua relação com características pré-operatórias numa série de pacientes submetidos à derivação gástrica em “Y de Roux” pelo Sistema Único de Saúde. Métodos: Analisaram-se os dados de 248 pacientes com seguimento entre 1 e 12 anos. As informações sobre mortalidade foram obtidas por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus). Os óbitos foram categorizados segundo a CID-10. Foram avaliadas as seguintes variáveis: sexo,idade à cirurgia, IMC pré-operatório, presença de comorbidades e tabagismo. A análise estatística foi realizada pelo programa STATA/SETM 9.2, utilizando o teste Qui-quadrado para variáveis dicotômicas e o teste de Mann-Whitney para variáveis contínuas. Resultados: A média de idade foi 39,75 ± 10,6 anos (17-64) e do IMC pré-operatório 53,04 ± 8,9 kg/m² (35,1-78,4). Setenta e cinco por cento dos pacientes foram do sexo feminino.O tempo médio de seguimento foi 5,1 ± 3,1 anos. Ocorreram nove óbitos tardios, sendo cinco do sexo feminino, num tempo médio de pós-operatório de 5,6 ± 2,6 anos. As causas de óbito foram: cirrose alcoólica (n = 2), suicídios (n = 2), causas infecciosas (apendicite aguda com peritonite generalizada e endocardite bacteriana – um caso de cada), insuficiência respiratória (n = 1), agranulocitose (n = 1) e causa desconhecida (n = 1). Nenhum óbito teve causa diretamente relacionada à cirurgia. Seis óbitos ocorreram em hospital. A média de idade ao óbito foi de 48,3 ± 8,4anos. Não foram detectadas influência do sexo (p = 0,17), idade à cirurgia (p = 0,41), IMC pré-operatório (p = 0,37), comorbidades pré-operatórias (hipertensão arterial – p = 0,40; diabetes – p = 0,99; dislipidemia – p = 0,10) ou hábito de fumar (p = 0,35) na mortalidade tardia. Discussão: Os óbitos por alcoolismo e suicídio tiveram frequência significativa (44,4% do total). É importante destacar que o etilismo dos pacientes, cuja causa de mortalidade foi cirrose alcoólica, se intensificou após o procedimento, sendo hábito frequente no pós-operatório tardio, conforme demonstrado por alguns estudos. Da mesma forma, a expressiva mortalidade por suicídio reflete o maior risco dos portadores de doenças crônicas, entre os quais os obesos graves, o que vai de encontro à literatura mundial. Conclusão: Nessa série, não se detectou relação entre os óbitos e as comorbidades da obesidade. O seguimento clínico e psicológico pós-cirurgia é fundamental na tentativa de prevenir óbitos por alcoolismo e suicídio. 338 NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AS AN EMERGENT RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR DISEASE IN OBESE ADOLESCENTS: THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY T Sanches, P. L.¹; Piano, A.¹; Mello, M. T.¹; Elias, N.¹; Oyama, L. M.¹; Tufik, S.¹; Dâmaso, A. R.¹ ¹ Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil Introduction: Obesity is associated with cardiovascular risk factors, including nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and the atherogenic lipid profile, which can induce changes in the arteries as the S320 increase in the carotid intima-media thickness. Objective: The aim of this study was to compare the effects of interdisciplinary therapy on the atherogenic lipid profile, inflammatory markers and cIMT in obese adolescents with and without NAFLD. Methods: A total of 79 obese adolescents were divided into two groups: 33 with NAFLD and 46 without NAFLD. They were submitted to an interdisciplinary therapy over the course of 1 year. The cIMT and presence of NAFLD were determined ultrasonographically. Body composition, glucose, lipid profile, and adipokines were analysed before and after the therapy. Results: Student’s t test and Wilcoxon analyses showed that the interdisciplinary therapy effectively improved body fat, hepatic enzymes, PAI-1 concentration, cIMT, and the ratios of leptin/adiponectin in both groups. However, only the non-NAFLD group had a reduced LDL-c/HDL-c ratio. Furthermore, a multivariate logistic regression analysis identified the HOMA-IR as an independent predictor for NAFLD development. Pearson’s correlation showed that HOMA-IR was also positively correlated with cIMT, while changes in this index (∆HOMA-IR) were positively correlated with ∆TG and ∆TG/HDL-c only in the NAFLD group. Discussion: The literature has demonstrated that the clinical characteristics of NAFLD include the slight elevation of insulin resistance, which are in line with our findings in which the obese patients with NAFLD presented higher HOMA-IR values and insulin concentration. We also found a positive correlation between cIMT and HOMA-IR only in the obese patients with NAFLD, and this parameter has already been cited in the literature as a predictor of an increase in cIMT. For the first time, our study verified that there was no decrease in the LDL-c/HDL-c ratio in the NAFLD group. Studies have demonstrated that the LDL-c/HDL-c ratio is a better predictor of the progression of cIMT in adults than LDL-C or HDL-C alone. In addition, this ratio is often elevated in insulin-resistant obese children and can predict cardiovascular events later in life. Conclusion: The presence of NAFLD seems to impair the improvement of the atherogenic lipid profile in obese adolescents submitted to an interdisciplinary therapy. 339 O BLOQUEIO DA ATIVIDADE VAGAL SUBDIAFRAGMÁTICA ATENUA O DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE EM RATOS MSG, MAS NÃO ALTERA A OBESIDADE EM RATOS RN Coelho, R. L.¹; de Oliveira, J. C.¹; Bonfim, A. P.¹; Barella, L. F.¹; Grassiolli, S.¹; Torrezan, R.¹; Mathias, P. C. F.¹ ¹ Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR; Université de Lille 1, Lille, França; Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, PR, Brasil, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Fisiologia Humana Objetivo: Avaliar se a vagotomia subdiafragmática realizada aos 60 dias é capaz de alterar os efeitos da obesidade e os parâmetros glicêmicos nos modelos de obesidade induzido por glutamato monossódico (MSG) e pela marcação metabólica na ninhada reduzida (RN). Métodos: Ratos Wistar machos foram divididos em três grupos: MSG, RN e CON (controles). O grupo MSG recebeu injeções neonatais de MSG (4 g/Kg) e CON recebeu salina. Para induzir hipernutrição precoce, o tamanho da prole foi reduzido para três filhotes (RN) contra nove filhotes/ninhada no CON e MSG. A vagotomia subdiafragmática (VAG) foi feita aos 60 dias e, aos 120 dias, os animais receberam glicose (1 g/Kg) para realizar o teste de tolerância à glicose (ivGTT). A glicemia foi dosada pelo método da glicose-oxidase. Os depósitos de gordura perigonadal e retroperitoneal (g/100 g), evolução do peso corporal e consumo alimentar foram avaliados. A análise estatística foi realizada por one-way ANOVA seguido de pós-teste de Bonferroni, com p < 0,05. Resultados: A curva de peso corporal foi 24% maior no RN, e 16,7% menor no MSG, em relação ao CON. Quanto aos depósitos de gordura perigonadal, foram 21,5% e 105% maiores respectivamente no grupo RN e MSG versus CON. Os depósitos de gordura retroperitoneal fo- ram 97% superiores em MSG versus CON, mas não se alteraram entre RN versus CON. Não houve diferença significativa com relação ao consumo alimentar e quanto à glicemia de jejum entre os grupos. Ratos MSG mostraram intolerância à glicose, sendo 37,5% superior ao CON, mas ratos RN não demonstraram. A VAG não alterou o peso corporal em RN e MSG, mas reduziu em 24,6% os depósitos de gordura perigonadal em ratos MSG, não alterando estes no grupo RN e CON. A VAG não alterou os padrões de consumo alimentar, os depósitos de gordura retroperitoneal, a glicemia de jejum e a tolerância à glicose entre os grupos. Houve uma tendência à diminuição da intolerância à glicose, reduzindo em 19% em MSG-VAG versus MSG, apesar de a redução não ser significativa. Discussão: A VAG atenuou o desenvolvimento da obesidade MSG, demonstrando que a lesão do núcleo arqueado desregula o SNA e gera hiperatividade parassimpática, o que tem relação direta com a gênese desse modelo de obesidade. Já no modelo RN, o descontrole parassimpático tem menor relevância para o desenvolvimento da obesidade. Conclusão: A VAG demonstrou efeitos na redução da obesidade MSG, mas não demonstrou ter influência na obesidade RN. 340 O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL COMO PREDITOR DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL ANORMAL: ANÁLISE ROC Moreira, L. M. P.¹; Ramos, A. V.¹; Guerra, L. P.¹; Lauria, M. W.¹; Soares, M. M. S.¹; Freitas, P. C.¹; Sik, R. F.¹ ¹ Hospital Felício Rocho (HFR), Belo Horizonte, MG, Brasil Objetivo: Correlacionar o índice de massa corporal (IMC) e as medidas de circunferência abdominal (CA) em um grupo de adultos brasileiros em busca de valores mais precisos de IMC na previsão de CA anormal. Métodos: IMC e CA foram medidos em 1.184 voluntários (45,6 ± 17,3 anos; 69% mulheres) de acordo com procedimentos padrão. CA anormal foi definida como > 88 cm nas mulheres e > 102 cm nos homens. A análise estatística foi feita com base no coeficiente de correlação de Pearson e na curva receiver operating characteristic (ROC). Resultados: Medidas antropométricas: IMC mulheres = 27,1 ± 5,9 kg/m²; CA mulheres = 88,9 ± 15,1 cm; IMC homens = 25,4 ± 4,8 kg/m²; CA homens = 89,9 ± 14,4 cm. IMC apresentou forte correlação com CA (mulheres: r = 0,87). Discussão: O índice de massa corporal (IMC) é amplamente utilizado como uma estimativa antropométrica da adiposidade geral, porém, diferenças na composição corporal e distribuição de gordura corporal limitam a sua utilidade. Em reconhecimento de que o acúmulo de gordura visceral aumenta o risco de doença metabólica, a circunferência abdominal (CA) foi eleita como uma medida alternativa de substituição da obesidade. No entanto, a medida da CA está sujeita à variação interexaminador significativa. Assim o uso do IMC como preditor da medida de CA anormal é útil. A análise dos dados mostrou que há correlação entre IMC e CA anormal. Conclusão: Pacientes com IMC > 27 kg/m² têm geralmente CA anormal. Nesse grupo, a medida da CA pode razoavelmente ser dispensada. Para pacientes com IMC menor, a medida da CA ainda permanece informativa. 341 OBESIDADE MÓRBIDA: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO Santos, J. C. S.¹; Bizarro, V. R.¹; Bianchetti, G. B.²; Jorge, A. R.¹; Rocha, D. R. T. W.¹; Arbex, A. K.¹ ¹ Divisão de Nutrição e Metabolismo, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ; ² Serviço de Endocrinologia, Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed), Belo Horizonte, MG, Brasil Introdução: A obesidade é uma doença crônica, cuja prevalência vem aumentando em proporções epidêmicas nas últimas décadas. O termo obesidade mórbida é definido pelo IMC maior ou igual a 40 kg/m². A associação de doenças relacionadas com o aumento de peso, como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, é responsável pela elevada morbimortalidade desses casos. Objetivo: Destacar a importância do tratamento da obesidade mórbida para a redução das comorbidades. Métodos: ACFCIS, feminino, 24 anos, do lar. Procurou nosso ambulatório com relato de ganho de peso, desânimo, cansaço e constipação intestinal. Obesa desde os 14 anos. Sedentária, dieta irregular e etilista social. Primeira gestação aos 21 anos, com peso de 151 kg, e as seguintes intercorrências: pré-eclâmpsia (PE) e diabetes gestacional. Após 2 anos, engravidou novamente, com peso de 162 kg, e evoluiu com PE e prematuridade. Foi então que resolveu procurar ajuda para perder peso. Exame físico: Peso: 174 kg, Altura: 1.62 m, IMC: 66 kg/m², CA: 145 cm; PA: 150 x 100 mmHg, FC: 80 bpm. Extremidades: pulsos palpáveis, discreto edema. Foi orientada quanto à dieta de 1.800 kcal/dia e atividade física, caminhada de 30 minutos 3x/ semana, prescrito anfepramona 50 mg/dia e solicitado exames. Resultados: Após 30 dias, retornou com os seguintes exames: glicemia de jejum (GJ): 113 mg/dl (N: 70 a 99). Peso: 157 (menos 17 kg). Relatou estar seguindo a dieta corretamente e fazendo caminhada. Foi prescrito dieta de 1.500 kcal/dia e mantida medicação. Em 60 dias, a paciente retornou com glicemia pós-teste (GPP): 157 mg/dl. Discussão: Com o reconhecimento da obesidade como uma doença epidêmica que aflige globalmente a população, emerge a necessidade de melhorar a qualidade e eficácia dos tratamentos disponíveis contra esse problema. Os tratamentos com agentes farmacológicos são considerados como terapia auxiliar na perda de peso. Conclusão: Neste caso, a associação de dieta, atividade física e terapia farmacológica possibilitou um desfecho favorável no tratamento da obesidade mórbida e redução de suas comorbidades associadas. 342 OBESIDADE NA URGÊNCIA: AS DOENÇAS QUE LEVAM OS PACIENTES OBESOS AO PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA-HRG EM GAMA, DF Fonseca, F. B.¹; Andrade, G. G.¹; Faria, T. M.¹; Santos, B. C.¹; Uzuelli, F. H. P.¹ ¹ Hospital Regional do Gama (HRG), Gama, DF, Brasil Objetivo: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes obesos que procuram o serviço de urgência e emergência no Hospital Regional do Gama-HRG em Gama-DF. Métodos: Foram avaliados pacientes obesos adultos admitidos no Pronto-Socorro Adulto nas especialidades médicas do Hospital Regional do Gama, com IMC maior ou igual a 30, no período de janeiro a junho de 2012. Os dados foram coletados com base nas informações fornecidas pelos pacientes por meio de questionário formulado previamente com os seguintes dados: identificação, idade, sexo, peso, altura, IMC, circunferência abdominal, queixa principal, história patológica pregressa, história familiar, número de internações nos últimos 12 meses e prontuário médico: diagnóstico de internação, exames complementares realizados no hospital. Ao final da pesquisa, os dados foram computados e processados pelos próprios pesquisadores, usando o software Microsoft Excel. Resultados: Foram observados 36 pacientes, sendo 23 mulheres e 13 homens.Variação de idade dos paciente com intervalo de idade entre 17 anos e 94 anos,idade média 53 anos (± 17,7), peso médio 108, 11 (± 33,7), estatura média de 1,61 (± 0,1), circunferência abdominal média126,8 cm (± 27,7); IMC médio de 41,34 (± 11,85), HDL médio de 31,05% (± 7,03), LDL médio de 92,26% (± 31,42), triglicérides médio de 177,23 (± 103,85). A prevalência foi 44% diabéticos e 56% hipertensos e 19% não têm nenhuma das duas comorbidades. Foram encontrados 11% de pacientes chagásicos. A predominância de queixa de dispneia foi 41%, sendo desses 53,4% insuficiência cardíaca descompensada; 6,6% síndrome da apneia obstrutiva do sono; S321 Obesidade Trabalhos Científicos Obesidade Trabalhos Científicos 40% pneumonia.Foram 83,2% pacientes da clínica médica; 5,6% da ginecologia, 5,6% ortopedia e 5,6% cirurgia. Óbitos: 5%. Discussão: Observa-se grande incidência na procura do serviço de emergência com queixa e diagnóstico relacionados às comorbidades da obesidade, como diabetes e hipertensão.A prevalência de queixa inicial foi dispneia e o diagnóstico clínico principal foram doenças cardiopulmonares. Observa-se o impacto causal dessas patologias influenciando na sobrevida desses pacientes. Conclusão: A dificuldade que os pacientes obesos têm quando precisam procurar o serviço de emergência é notória. Observa-se a limitação quanto à estrutura logística que o hospital deveria fornecer a esses pacientes. Tomar medidas para suportar esses pacientes, como dispositivos adaptáveis, controle de peso e controle clínico adequado, é de extrema relevância e constitui apenas medidas primordiais para o correto manejo desses pacientes. 343 OBESIDADE: O TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ISOLADO NÃO É MAIS EFICAZ QUE A TERAPIA COMPORTAMENTAL Ferreira, L. V.¹; Dias, A. L. R.¹; Cruz, A. P. V.¹; Ezequiel, D. A. G.¹; Silva, E. A.¹; Freitas, M. M. S.¹; Veloso, F. L. M.¹; Costa, M. B.¹ ¹ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG, Brasil Introdução: O aumento na prevalência da obesidade levou essa doença à categoria de problema de Saúde Pública, de tal forma que a intervenção precoce nesse processo de adoecimento torna-se de extrema importância. Objetivo: Avaliar o desempenho de diferentes abordagens terapêuticas sobre a obesidade. Métodos: Em estudo observacional de coorte retrospectivo, foram avaliados prontuários de 64 indivíduos atendidos em Ambulatório de Atenção à obesidade, divididos em dois grupos: terapia comportamental (grupo 1) e tratamento farmacológico (grupo 2). Foram comparados dados demográficos, além de índice de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) e pressão arterial (PA) de ambos os grupos, por ocasião da admissão e após seis e 12 meses de acompanhamento. Resultados: No grupo 1, foram avaliados inicialmente 32 pacientes, com média de idade de 41,72 ± 9,72 anos. No grupo 2, a média de idade foi 41,22 ± 10,82 anos. Os dados referentes à avaliação clínica estão na tabela. Discussão: Com base nos resultados, podemos observar que, ao final de um ano, os pacientes do grupo I que aderiram à MEV obtiveram resultados semelhantes aos pacientes que fizeram o tratamento farmacológico, tanto em perda de peso quanto em relação à PA. Conclusão: Programas de intervenção que promovam mudanças no estilo de vida devem ser incentivados, no intuito de melhorar a qualidade de vida da população de risco. As indicações do tratamento farmacológico devem ser restritas a casos específicos, com a observância do grau de obesidade e complicações associadas. 344 PREVALÊNCIA DE PACIENTES OBESOS COM QUADRO CLÍNICO DE HIPERURICEMIA ANALISADOS NO LABORATÓRIO ESCOLA DA PUC DE GOIÁS Francescantonio, I. C. C. M.¹; Tavares, R. S.¹; Morais, C. O. B.¹; Costa, S. H. N.¹; Moura, A. L. D.¹; Pereira, V. B. M.¹ ¹ Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Goiânia, GO, Brasil Objetivo: Avaliar a associação entre obesidade e hiperuricemia em pacientes atendidos em um Laboratório Escola na cidade de Goiânia, no período de janeiro a maio de 2012. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, observando os níveis de ácido úrico de pacientes obesos com IMC > 30. Aplicou-se um questionário contendo informações sobre: medicamentação, fatores hereditários, dieta nutricional, uso abusivo de álcool e atividade física. Indivíduos que apresentaram fatores que influenciariam a hiperuricemia não parti- S322 ciparam da avaliação. Além do questionário, realizaram-se medidas antropométricas e coleta de amostra de jejum para a análise de ácido úrico. Resultados: Foram analisadas 120 pessoas, sendo 68 mulheres (56,6% da população averiguada), com idade variando de 20 a 60 anos e média de 53,12. Em relação às mulheres, nove tinham hiperuricemia, sendo classificadas portadoras dessa doença aquelas com níveis de ácido úrico acima de 6 mg/dl. Quanto aos homens, dos 52 avaliados, 11 apresentaram ácido úrico > 7 mg/dl, significando 21,1% com hiperuricemia. Discussão: Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a obesidade está entre os transtornos metabólicos mais comuns e vem sendo motivo de extrema preocupação em relação à saúde global, pois ela é responsável por desencadear diversas complicações no organismo, como a hiperuricemia. O presente estudo realizado numa amostra representativa de adultos obesos da cidade de Goiânia revelou prevalência total de hiperuricemia de 16,6%, sendo mais frequente nos homens (21,14% versus 13,23%). Esse resultado está de acordo com outros estudos realizados, em que o número de pacientes obesos que apresentaram hiperuricemia é significativo, sendo mais frequente na população masculina. Em um estudo realizado em Portugal (n = 1370), a prevalência total de hiperuricemia foi 12,8% com a frequência mais elevada nos homens (17,8% versus 9,9%). Nos Estados Unidos (n = 9689), a prevalência total de hiperuricemia foi 17% e, da mesma forma, frequência mais elevada nos homens (18,9% versus 4,7%). Conclusão: O número de pacientes obesos que apresentaram hiperuricemia foi alto, chegando a 16,6%. Tal fato denota que a obesidade está diretamente relacionada com o aumento da concentração de acido úrico no sangue e que, portanto, é fundamental fazer uma dieta saudável e gradual para corrigir a hiperuricemia e consequentemente evitar crises gotosas, doenças renais e cardiovasculares. 345 PROJETO “OBESIDADE INFANTIL” (GRUPO OI), EM FERNANDÓPOLIS, SP, REALIZADO POR UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR Franciscon, L. M. G. S.¹; Merli, B. L. A.¹; Polisel, E. E.¹; Rodrigues, C. M.¹; Marimoto, D. G.¹; Mendonça, B. J. R.¹; Palandri, M. F. T.¹; Schiavetto, M. C. P.¹ ¹ Universidade Camilo Castelo Branco (Unicastelo), Fernandópolis, SP, Brasil Introdução: A obesidade infantil é resultante da elevação do peso corporal, aumentando a incidência de doenças crônicas, tais como: diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial.Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a obesidade infantil atinge mais de 5 milhões de crianças brasileiras e, nos últimos 30 anos, aumentou de 4 para 18% em meninos, e de 7,5 para 15,5% em meninas. Mediante essa estatística, criamos o Grupo de Obesidade Infantil (OI) em Fernandópolis (SP), com uma Equipe Multidisciplinar, composta por endocrinologistas, acadêmicos de medicina, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e educadores físicos. Objetivo: Mostrar a eficácia do Grupo OI em comparação com o tratamento individualizado. Métodos: Com base nos resultados do grupo de 2009 a 2012, avaliados quinzenalmente, por meio de um questionário e exames clínicos, laboratoriais, nutricional e físico. Triamos 112 crianças em grupo e 87 crianças individualmente, de ambos os sexos, em idade escolar. Resultados: O Grupo atua na orientação de uma alimentação adequada com base na pirâmide alimentar, aliada à cooperação e conscientização de todos os familiares na luta contra a obesidade. Por meio de encontros familiares, palestras, brincadeiras lúdicas e conscientização das complicações dessa doença, melhora-se a qualidade de vida das crianças, evita-se o bullying e estimulam-se as atividades aeróbicas entre elas em grupo. Crianças trabalhadas nesse Projeto, acompanhadas periodicamente, tiveram resultados mais satisfatórios do que as que foram tratadas Trabalhos Científicos 346 REALIZADA AOS 21 DIAS, A VAGOTOMIA SUBDIAFRAGMÁTICA REDUZ A OBESIDADE EM RATOS MSG, NORMALIZANDO SUA HIPERATIVIDADE VAGAL Coelho, R. L.¹; de Oliveira, J. C.¹; Bonfim, A. P.¹; Barella, L. F.¹; Grassiolli, S.¹; Torrezan, R.¹; Mathias, P. C. F.¹ ¹ Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá, PR; Université de Lille 1, Lille, França, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Laboratório de Fisiologia Humana, Ponta Grossa, PR, Brasil Objetivo: Avaliar o efeito da vagotomia subdiafragmática realizada aos 21 dias sobre a obesidade, parâmetros glicêmicos, insulinemia e atividade vagal em ratos obesos por lesão hipotalâmica (MSG). Métodos: Ratos Wistar machos receberam injeções neonatais de glutamato monossódico (MSG) na dose de 4 g/Kg, controles (CON) receberam salina. A vagotomia subdiafragmática (VAG) foi feita aos 21 dias, logo após o desmame. Aos 90 dias de vida, os animais foram submetidos ao teste de tolerância à glicose (1 g/kg). A glicemia foi dosada pelo método da glicose-oxidase e a insulina basal por radioimunoensaio. Após 12 h de jejum, os animais foram submetidos à dissecção do ramo superior vagal, com registro da atividade neural (spikes/5s). Os depósitos de gordura perigonadal e retroperitoneal (g/100g) foram avaliados. Teste t de Student’s foi usado para comparar o efeito do tratamento (CON x MSG) e o efeito da vagotomia (CON x CON-VAG e MSG x MSG-VAG) em cada grupo, considerando a diferença estatística p < 0,05. Resultados: Aos 90 dias, ratos MSG apresentaram depósitos de gordura retroperitoneal e perigonadal foram 154 e 82% maiores respectivamente em relação aos CON, além de hiperatividade vagal, 77,6% superior aos ratos CON. Ratos MSG apresentaram normoglicemia, normoinsulinemia, mas desenvolveram intolerância à glicose em 26% em relação ao CON. A VAG reduziu 18,6 e 25,6% da gordura perigonadal nos grupos MSG e CON, respectivamente. Quanto aos depósitos de gordura retroperitoneal, houve redução de 24,7% no grupo MSG, mas não foi alterada no grupo CON. A VAG não alterou a tolerância à glicose nos grupos, mas reduziu em 38% a hiperatividade vagal no grupo MSG, sem alterar a atividade vagal no grupo CON. A VAG reduziu a insulinemia basal em 41% no grupo MSG, mas não sofreu alteração no grupo CON. Discussão: A lesão hipotalâmica sofrida pelo modelo MSG altera o controle do SNA, gerando uma hiperatividade vagal, a qual induz obesidade e intolerância à glicose. A VAG se mostrou eficaz em reduzir a obesidade quando realizada aos 30 dias de vida, e nesse trabalho mostrou que o efeito dela aos 21 dias, no final do período de lactação, também tem esse efeito. Conclusão: O desequilíbrio autonômico é de extrema importância no desenvolvimento da obesidade MSG. A VAG aos 21 dias é capaz de reduzir a hiperatividade vagal, reduzindo, as- sim, a obesidade animal, mas não de alterar a intolerância à glicose apresentada nesse modelo de obesidade. 347 RELAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E ANSIEDADE COM AS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E A COMPOSIÇÃO CORPORAL EM INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE PESO Guedes, E. P.¹; Madeira, E.¹; Madeira, M.¹; Matos-Godoy, A. F.¹; Mafort, T. T.¹; Lopes, A. J.¹; Moreira, R. O.¹; Farias, M. L. F.¹ ¹ Serviço de Metabologia do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE/PUC-RJ), Serviço de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidad
Download