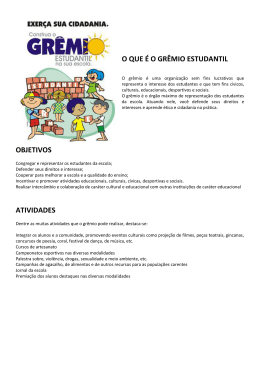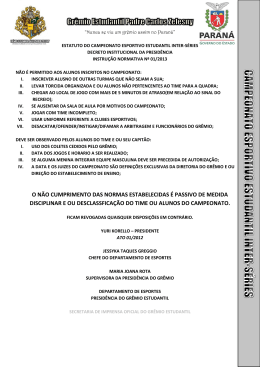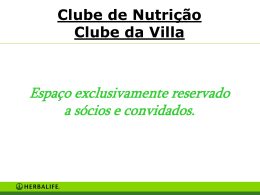Prefácio Em nome da Liga da Canela Preta Marcos Rolim* Houve um tempo, e não faz muito, em que se considerou o uso da minissaia, criada pela estilista inglesa Mary Quant, uma prática delituosa. Em meados dos anos 60, duas jovens porto-alegrenses foram às ruas desta pátria bagual usando as saias curtíssimas que estavam na moda em Londres. Foram então acossadas por dezenas de homens em plena Rua da Praia, ofendidas verbalmente e ameaçadas a ponto de a polícia ser obrigada a intervir, conduzindo as meninas à delegacia, onde se lavrou a competente ocorrência de “atentado à moral e aos bons costumes”. Na época, as moças foram vilipendiadas pela ousadia. Hoje, todos sabemos que elas nada fizeram de errado e que seus agressores é que mereceriam a vergonha pública. Na mesma época, era comum que mulheres fossem proibidas de trabalhar vestindo calças compridas, os jeans eram vistos como “roupa de transviados” e jovens do sexo masculino que usassem cabelos compridos eram, evidentemente, “maconheiros” ou “pederastas” (ou os dois). Como já se observou, o saber é sempre limitado, mas * Doutor e mestre em Sociologia, jornalista, pesquisador e professor do Centro Universitário Metodista IPA. Ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do RS e da Câmara dos Deputados. 7 a ignorância é infinita e, ainda hoje, se pode encontrar pessoas cuja visão de mundo é formada por um magma de preconceitos – racistas, misóginos, homofóbicos, a lista é longa – e por intolerância. O fato a destacar, entretanto, é que o mundo se move. A história é aquilo que alguém contou sobre ela e que, por boas ou más razões, é repetido pelos demais. Por isso, estamos sempre – ainda que disso não tenhamos consciência – “fazendo” história. Os processos e os acontecimentos que podem ser isolados para a análise não têm, em si mesmos, qualquer sentido. Somos nós que atribuímos a eles os sentidos que, uma vez compartilhados, passam a ser aceitos como verdades. Para que algo seja considerado verdadeiro é preciso que se estabeleça em torno dos enunciados um determinado consenso, já nos ensinou Habermas. Por isso, fatos e processos históricos costumam mudar de sentido na medida em que os consensos que os amparavam são quebrados por novas informações, por evidências científicas e por mudanças culturais e de sensibilidade. Este novo trabalho de Léo Gerchmann tem tudo para ser considerado histórico no sentido de ser o primeiro texto de pesquisa a respeito do alegado “racismo” que teria caracterizado o Grêmio em suas origens. Uma mácula tão antiga e tão naturalizada que foi aceita como verdadeira até mesmo por nós, gremistas, que não dispúnhamos de outra história. Sempre que “eles” nos acusavam, mudávamos de assunto ou procurávamos situar o constrangimento em um pretérito imperfeito que há muito havia deixado de ser. Somos o time mais popular do Rio Grande, dizíamos, o de maior e mais apaixonada torcida, e somos 100% pretos, brancos e azuis – e pronto. Mas, lá no fundo, ficava uma 8 ponta de desconforto. Não mais, gremistas de todas as querências; não mais. A investigação histórica de Léo Gerchmann nos libertou, em nome de Lupicínio, de Lumumba, de Aírton, de Ortunho, de Alcindo, de Everaldo e de centenas de atletas negros que já vestiram a camisa tricolor – e de milhões de torcedores negros tão apaixonados como o Léo, que é branco e judeu, e como eu, que não tenho religião e que virei gremista pelas mãos de outro Léo, meu avô materno, Léo Schneider. O vô, aliás, incapaz de dizer um palavrão mesmo quando o juiz nos aplicava e para quem o racismo era uma das mais graves ofensas diante de Deus, adoraria este livro. Meu amigo Marco Antônio Bandeira Scapini, que tanta falta faz, também. O mundo ao início do século XX era algo tão diferente que podemos pensá-lo como outro planeta. Quando o Grêmio foi fundado – quinze anos após o fim da escravidão –, mal se sabia o que era futebol no Brasil. O jogo, criado pelos ingleses, não era compreendido por aqui, e as pessoas sabiam menos a respeito de suas regras do que o brasileiro médio sabe hoje sobre o críquete. Aquela era uma época em que apenas uma minoria de senhores da sociedade se interessava pelo esporte. Um tempo em que respeitáveis cidadãos de polaina e relógios de algibeira assistiam ao match para aplaudir os goals de seu escrete. Léo Gerchmann desmonta o mito da segregação racial atribuída ao Grêmio, mostrando que era muito difícil para os negros jogarem nos clubes brasileiros por razões, sobretudo, socioeconômicas. Havia, sim, um processo de exclusão dos negros, mas ele nunca foi proposto pelo Grêmio, mas pela sociedade brasileira, profundamente hierárquica 9 e preconceituosa. Ainda assim, muitos negros e pardos jogaram no Grêmio – e antes de outros terem esta chance no “outro time”. Até a metade do século, pelo menos, ainda era muito forte entre pesquisadores e intelectuais, especialmente entre os médicos, as concepções eugênicas que propunham medidas para “melhorar as raças”. Ideias profundamente autoritárias a respeito da castração de pessoas com “má índole” ou com defeitos físicos e doenças eram aceitas como expressão do conhecimento científico. Quando se menciona a palavra “eugenia”, hoje, logo nos ocorre a experiência nazista e o genocídio praticado contra os judeus, além de outras minorias como os homossexuais, os ciganos e as crianças com deficiência ou doenças mentais. O problema é que as concepções pretensamente científicas dos nazistas eram compartilhadas por muita gente fora da Alemanha. Zygmunt Bauman, aliás, em Modernidade e ambivalência, alerta-nos para o fato de que a disposição nazista em eliminar os “indesejados” correspondia à mentalidade moderna da época. A primeira sociedade eugênica da América Latina surgiu em São Paulo, em 1918. Em meio ao movimento, transitavam também posições racistas influenciadas por cientistas europeus e norte-americanos críticos da “mestiçagem”, considerada por muitos como um caminho para a degeneração das raças. O Brasil teria de esperar ainda algumas décadas até que estas bobagens fossem desacreditadas entre a comunidade científica e que o país criasse, na outra margem, uma noção positiva a respeito da miscigenação. Para este resultado, deve-se reconhecer particularmente a contribuição de Gilberto Freyre – que, em Casa-Grande & Sen10 zala, lançado em 1933, sustenta uma visão francamente favorável ao processo de miscigenação, a ponto de fundi-lo com a noção de brasilidade. Bem, mas o livro de Léo Gerchmann não trata apenas de desmontar o mito do segregacionismo atribuído ao Grêmio. Ele é também um manifesto a favor da tolerância e do respeito às diferenças. Antes de ser gremista, Léo é um humanista que repudia as manifestações de racismo em qualquer lugar do mundo e em qualquer torcida, inclusive na nossa torcida. O livro, escrito de forma leve e simples, tem posições firmes, não faz média nem joga para a torcida. Lugar de racista é na cadeia, não nas cadeiras da Arena ou de qualquer outro estádio do mundo. É isso aí, Léo. Os gremistas agradecem muito o esforço e a contribuição e, entre nós, especialmente o grande grupo tricolor que sempre se sentiu mais herdeiro da “Liga da Canela Preta” do que da Casa Grande (lendo o livro, vocês saberão o que foi esta Liga e por que Lupicínio Rodrigues virou gremista por conta dela). 11 12 O Grêmio real Este livro não se propõe a mostrar o clube perfeito, a pureza vestida de azul, preto e branco. Tamanha pretensão seria uma visão totalitária da vida, própria de quem se considera especialmente puro em detrimento dos outros, os imperfeitos, defeituosos e impuros. Remeteria a algo que se quer aqui combater – o conceito tipicamente nazista de “raça pura”, que deve ser contestado e repelido de forma tenaz, por se tratar de perigosa leviandade. O que se pretende é apresentar matizes, contextualizar uma trajetória gloriosa e humanizar o debate para remover o mito – o chamado “mito que limita o infinito”, simplificador de complexidades ao pôr rótulo onde há uma mais que centenária vida pulsante, com momentos altamente edificantes e outros nem tanto. A propósito, este trabalho se inicia com uma autocrítica gremista, um questionamento ao clube que é a paixão do seu autor e a razão de ter sido escrito. Falo do Grêmio de Adão Lima, o primeiro atleta inquestionavelmente negro a jogar na dupla Gre-Nal; do Grêmio que tem seu hino composto pelo negro Lupicínio Rodrigues em fiel tradução de alma e imagem (“Até a pé nós iremos” e “imortal tricolor” são palavras que fazem uma ode à humildade, à perseverança e à superação amplamente reconhecidas); do Grêmio que tem o negro Everaldo representado pela estrela dourada na bandeira do clube. Pois, de peito estufado, refiro-me a esse Grêmio e pergunto aos dirigentes que atravessaram décadas no seu comando: por que deixaram que se consolidasse o injusto rótulo de elitista à agremia- 13 ção que, paradoxalmente, costuma ser eleita a de maior torcida no sul da pátria de chuteiras e uma das maiores e mais fiéis do mundo, mesmo em meio a eventuais crises e vendo o principal adversário local – aquele que absurdamente se jacta de ostentar a marca “do povo” como exclusiva – acumular seus mais expressivos títulos? Arrisco mais adiante, sobre essa questão, alguma teoria carregada de subjetividade. Antes de teorizar, prefiro contar que nós, a esmagadora maioria dos gremistas, nos incomodamos, sim, com a imagem distorcida que se criou. Rejeitamos energicamente essa etiqueta abjeta. Defendemos a diversidade de cores de pele, etnias, religiões e orientações sexuais – e sabemos que nosso clube tem fortemente entranhada a pluralidade que abriga essas saudáveis diferenças. Sentimos orgulho ao constatar que o Grêmio, claramente, é uma entidade de massas. Mas sabemos que, sendo de massas, abriga um que outro inevitável bandido ou até grupos de bandidos, gente homofóbica e racista – que está longe de nos representar. Pelo contrário! Uma dicotomia simplificadora impõe os rótulos citados acima. E qual é essa dualidade a que me refiro? É a rivalidade Gre-Nal. Muitos tentam ainda hoje fazer o contraste “elitismo x paraíso racial”. Perdão, amigos colorados: isso não existe. Não quero falar aqui do rival. O tema do livro é o Grêmio. Às vezes, porém, isso se impõe como forma de clarear contextos. O Grêmio tem uma história, seus orgulhos e seus pecados. E quem não os tem? Mas garanto: o saldo é extremamente favorável a um clube generoso na essência. A alma da 14 instituição é humilde, plural e solidária. Quem vive sua rotina sabe disso. Deslizes? São exceções que confirmam a regra, como se diz. Já faz muitas décadas que o tricolor gaúcho se consolidou como legítimo clube do povo, expressamente aberto em aspectos que incluem cor de pele, etnia e gênero. Sei que adversários se melindram com essa constatação. Claro, o marketing do “paraíso racial em contraposição ao elitismo” foi tão eficiente que há quem tema perder sua supostamente intocável convicção superficial, forjada à base de precária mitologia. Muita gente boa escolheu o clube do coração sob a influência de uma premissa perversa e sem fundamento. Tornou-se uma verdade, uma falsa verdade. Eventuais ofensas preconceituosas sempre ocorreram, tristemente, nos dois grandes clubes gaúchos. Mais: ocorrem em estádios de futebol, em centros comerciais, em escolas, em ambientes de trabalho, nas casas e nas ruas. O preconceito é fruto da ignorância e se apresenta de diversas formas, revestido em diferentes roupagens. Essas nossas grandes instituições são como cidades. Existe a pretensão de erradicar a bandidagem de Porto Alegre, ou do Rio, ou de São Paulo, ou de Caxias do Sul, ou de Pelotas, ou mesmo de municípios com porte mais acanhado? Claro que não, infelizmente. Mais difícil é fazer isso em instituições com uma multidão de aficionados, milhões e milhões de pessoas. Se de algum simpatizante dessas entidades populares partem ofensas raciais contra o goleiro do adversário na Arena, de outra, no Beira-Rio, surgem gritos no mesmo tom até contra a mãe de um za15 gueiro do próprio clube ou contra uma funcionária chamada de “negrinha” que deveria estar em outro lugar. É perda de tempo achar que essa escória racista será banida, pelo menos neste momento – o que se pode fazer, sempre, é isolá-la, para que fique bem claro o quanto é repugnante e minoritária. E torcer para que a evolução dos costumes a elimine. ... Sou autor, também, do livro Coligay – Tricolor e de todas as cores (192p., Libretos, 2014). Trata-se, a Coligay, do caso mais fantástico de pluralidade e aceitação das diferenças já registrado na história do futebol brasileiro, certamente um dos mais significativos em todo o mundo. Pois foi no Grêmio que pôde se criar, em meio à névoa da ditadura militar, essa torcida organizada de gays. Na época, a polícia tinha o chamado “departamento de costumes” para monitorar e punir comportamentos tidos como inadequados pelos rígidos padrões vigentes. As mulheres eram chamadas de “vadias” caso se arriscassem a ir aos estádios, e os homens que as acompanhavam eram os “cornos”. Pois o ambiente plural do clube permitiu que a Coligay até tivesse uma salinha própria no Estádio Olímpico para guardar bandeiras, faixas e demais adereços a serem usados durante os jogos. Enfim, o histórico acolhimento à Coligay foi oficial! Na introdução de Coligay – Tricolor e de todas as cores (também um livro sobre diversidade, que de certa forma inspira este trabalho), conto uma história que me diz muito. Meu pai, o ex-conselheiro do clube Henrique Gerch16 mann, o Hershel, era judeu (como eu, claro) e ensinava um menino negro que vivia perto do Estádio Olímpico, também ele gremista, a falar iídiche, aquela mistura de alemão com hebraico destinada a preservar uma cultura milenar, perenizar uma etnia historicamente perseguida e permitir a existência de uma fé diferente da dominante. Quando meu pai morreu, não precisamos pedir: esse clube, no qual cresci sem jamais sentir qualquer rastro de preconceito, fez um comovente minuto de silêncio. ... Ao conversar com o cineasta, músico e professor Carlos Gerbase quando eu ainda começava as pesquisas para este livro, ele me contou do seu pai, o José Gerbase, um nordestino que veio de Alagoas e encontrou acolhida no antigo Fortim da Baixada, o primeiro estádio do Grêmio. Lá, foi feliz e chegou a presidente, em 1946. Sim, nordestino! Sabemos que um dos eventuais e mais odiosos preconceitos sulistas se dá justamente em relação aos nordestinos, que vêm de uma região brasileira absolutamente menos europeizada que a nossa. Mais: o autor do hino do Grêmio, o negro Lupi, que ombreia com o também gremista Teixeirinha na condição de mais popular artista gaúcho (e a Elis Regina, referência gaúcha na MPB, também era tricolor fanática...), certamente teria lá suas indagações a respeito do mito de elitista criado acerca do seu amado clube. Em artigo no antigo jornal Última Hora, Lupi contou por que era gremista, tão gremista que fez aquele lindo hino. Principalmente por ser negro, revelou ele naquele texto mi17
Baixar