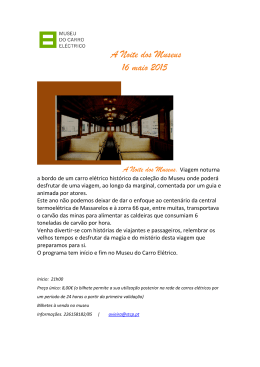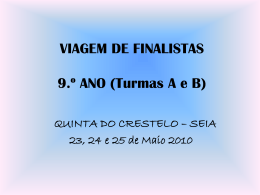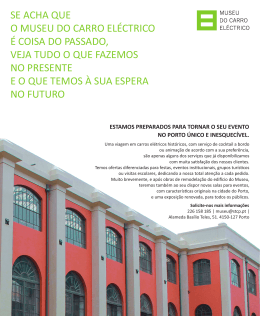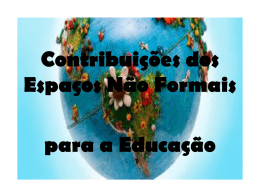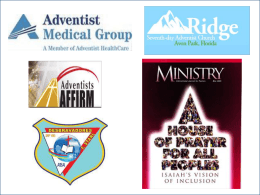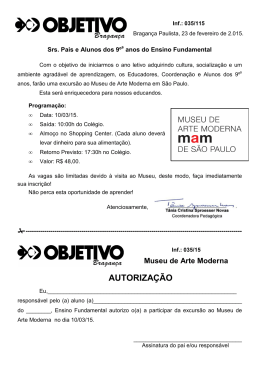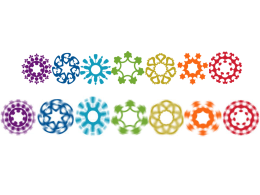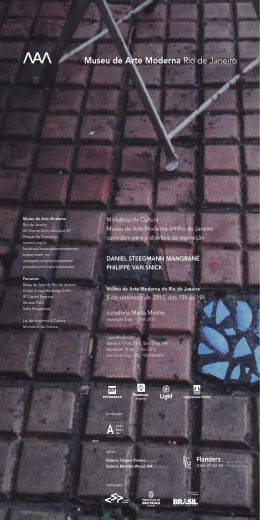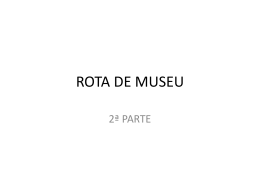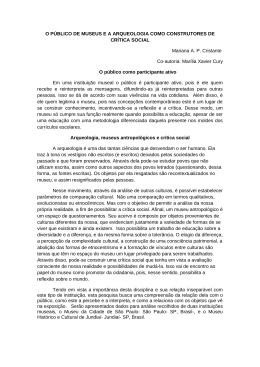FAVELA TEM PATRIMÔNIO! Camila Maria dos Santos Moraes Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) [email protected] Pavão, Pavãozinho e Cantagalo são três favelas localizadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre os bairros de Copacabana, Ipanema e Lagoa. No ano de 2008 tiveram início nestas favelas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um programa do governo federal brasileiro, lançado em 2007, que reuniu em conjunto de obras de infra-estrutura, e projetos para o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do país. Na cidade do Rio de Janeiro o PAC se concentrou nas favelas. Além das obras, o PAC tinha de 3% a 10% de seus recursos destinados para a chamada “obra social do PAC” ou o “PAC social”, ou seja, projetos sociais implementados em cada uma das favelas que recebeu o programa. No caso das favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, o PAC social teve como principal objetivo a criação do Museu de Favela e o desenvolvimento turístico das comunidades, e para atingir estas metas realizou uma série de cursos de curta duração do PAC como, por exemplo, cursos de línguas, inglês e espanhol, informática, formação de garçons e dois cursos voltados especificamente para o projeto do Museu e para o desenvolvimento turístico: “Nova Museologia” e “Turismologia”. Todo este processo tem como pano de fundo uma mudança das políticas públicas referentes às favelas do Rio de Janeiro, que já sofreram tantas ameaças de remoções em tempos anteriores, em especial aquelas localizadas nas encostas. Hoje passam a ser consideradas como atrações turísticas e algumas começam a fundar e estruturar os seus respectivos museus para apresentar “o patrimônio da favela” ou a favela como patrimônio para os turistas. Neste sentido cabe pensar sobre o conceito / ideia de museus comunitários, em especial quando estes se localizam em favelas. Para isso recorro aqui de início a FreireMedeiros em seu artigo “Favela como patrimônio da cidade? Reflexões e polêmicas acerca de dois museus”, publicado em 2006. A autora analisa os casos do Museu da Maré e do Museu a Céu Aberto da Providência, ambos em favelas no Rio de Janeiro, e destaca “uma dupla requalificação”, ou seja, a requalificação da favela e do patrimônio. (…) da favela, que busca ser vista como parte historicamente relevante da cidade, assumindo uma visibilidade distinta daquela que a associa à violência; e a da própria noção de patrimônio, que se distancia de suas definições mais cingidas, tem revistas suas instâncias de validação e passa a qualificativo de um território geográfico e simbólico ainda amplamente estigmatizado. (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 04) O Museu a Céu Aberto do Morro da Providência foi idealizado pela arquiteta e urbanista Lu Petersen, para o Projeto Favela-Bairro1 como parte da revitalização da área portuária que, além do museu, incluía a Cidade do Samba e a Vila Olímpica da Gamboa. Foram realizados investimentos “redes de água e esgoto, praças e creche, como acontece em outras favelas, mas também para viabilizar um 'roteiro turístico'”.(FREIRE-MEDEIROS, 2006, p.04) A visitação ao museu seria focada em seus aspectos históricos, como a escadaria construída pelos escravos, igrejas do início do século XX, e a casa de Dodô da Portela, porta-estandarte da escola de samba Vizinha Faladeira, fundada na Providência, que funcionaria como museu. Além de três mirantes com vista para Pão de Açúcar, Corcovado e Baía de Guanabara, unindo assim, o patrimônio ao turismo. (FREIREMEDEIROS, 2006). Já o Museu da Maré não foi uma iniciativa do poder público; sua origem está em uma iniciativa do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), uma organização não-governamental localizada no complexo de favelas que há 12 anos realiza ações de cultura e educação para os moradores. Para o CEASM o Museu da Maré é um convite à construção de “um novo tempo". (FREIREMEDEIROS, 2006, p.09) Assim a possibilidade de reafirmação da favela pela patrimonialização aparece e pode ser “uma chave de interpretação sobre as favelas, problematizando o argumento 1 O Favela-Bairro foi um programa criado pela prefeitura do Rio de Janeiro para promover a integração urbanística e social das favelas a partir de obras de urbanização, estavam previstas no projeto obras de infra-estrutura de saneamento, sistema viário, iluminação, equipamentos educacionais, sociais e culturais, de geração de trabalho e renda. Esta iniciativa tinha como objetivo transformar a “favela” em “bairro”. que as coloca como a 'anti-cidade', como o avesso perverso da lógica urbana”. (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p. 09 ) A autora coloca ainda em seu artigo que os museus são lugares de classificação, na medida em que “cabe aos museus selecionar determinados objetos, descrevê-los, nomeá-los, bem como criar e impor uma 'ordem racional' para sua exibição.” (FREIREMEDEIROS, 2006, p.12). Trabalho neste artigo com a mais recente definição de museu adotada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e acompanhada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM): “O museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou vinculada a outra instituição com personalidade jurídica, aberta ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.” (Departamento de Museus e Centros Culturais - IPHAN/MinC2) Mario Chagas, à época diretor do Departamento de Museus e Centros Culturais – IPHAN/MinC, foi um grande apoiador do Museu de Favela em 2008; e para a estruturação e organização deste Museu no Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, ofereceu um curso sobre a Nova Museologia pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Neste curso Chagas (2008) apresentou o conceito de Museus de Território, que podem ser de três tipos, a saber: Museus Comunitários ou Ecomuseus; Parques Naturais; e Cidades Monumentos. Os Museus Comunitários ou Ecomuseus são aqueles baseados na musealização de um território, “ênfase dada às relações culturais e sociais homem / território; valoriza processos naturais e culturais e não os objetos enquanto produtos da cultura; baseado no tempo social; pode conter exposições tradicionais, baseadas em objetos.” (CHAGAS, 2008) A partir desta definição foi proposta a criação do Museu de Favela como um museu territorial do tipo comunitário. Diante disso, é mister entendermos o que se propõe que sejam esses museus. Durante o PAC, o MUF se classificava em seus materiais de divulgação e em seus eventos como um Museu de Território; após o PAC, o MUF passou a se classificar 2 BRASIL. Definição de Museu. Instituto Brasileiro de Museus. Disponível em: http://www.ibram.gov.br/ Acessado em: 30/03/2011 como um Museu Comunitário. Em termos de definição conceitual, as duas classificações, como veremos aqui, não diferem muito; na verdade classificam, em períodos diferentes da história, museus com os mesmos objetivos. No entanto, o uso dos termos “território” e depois “comunitário” pela a diretoria do MUF teve um significado peculiar ao caso e que merece ser compreendido. Para entendermos melhor ambas as classificações busquei referências utilizadas por Mario Chagas no curso de Nova Museologia oferecido para aqueles que vieram a compor a primeira diretoria do Museu, na medida em que este estudo busca analisar o ponto de vista deste grupo formado por algumas das lideranças comunitárias do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Neste sentido, uma importante referência para Mario Chagas é Hugues Varine. Chagas (2009) explica, em entrevista ao Museu de Periferia em Curitiba, que Hugues Varine apresenta três categorias de museus: o Museu Coleção, o Museu Espetáculo, e o Museu Comunitário. O Museu Coleção é uma herança que vem do século XVIII, que valoriza o acervo, os objetos que compõem as exposições do museu; a linguagem universal, que se expressa na organização da exposição, ordem de exibição dos objetos e nas placas descritivas; as edificações, o próprio edifício que abriga o museu tradicional; e, por último a atenção ao público; estas são as principais características dos museus clássicos ou tradicionais. O Museu Espetáculo data do final do século XX, valoriza as grandes exposições, a comunicação, e é focado na conservação, sem proposição de transformação social. Neste mesmo período começam a se destacar os Museus Comunitários, que se consolidam com os Ecomuseus, que se caracterizam pela valorização das pessoas “que produzem acervos, que conservam acervos e que transformam também esses acervos”. (CHAGAS, 2009) As experiências de museus comunitários valorizam as pessoas, valorizam as comunidades, valorizam o desenvolvimento local sustentável. Têm um outro foco. Os acervos são importantes, mas eles são um pretexto para o desenvolvimento comunitário. Os espaços, os edifícios onde os museus se instalam podem ser importantes, mas, continuam sendo pretexto para o desenvolvimento comunitário. Todos esses elementos: as coleções, os acervos, o patrimônio, o local, tudo passa a ser uma estratégia a favor do desenvolvimento social daquela comunidade. (CHAGAS, 2009) Segundo Brulon (2008), foi George Henri Rivière o responsável por pensar o Museu Comunitário ou Ecomuseu como resultado de uma proposta de abertura dos museus e de popularização da cultura. Muito próximo de Marcel Mauss, Rivière foi motivado pelas suas ideias quanto à forma de pensar os museus. Sua atuação no ICOM (International Concil of Museums – Conselho Internacional de Museus) de 1948 a 1965 permite compreender mais claramente a concepção de uma “Museologia mais democrática e inclusiva”. (BRULON, 2008, p.04) Suas concepções acompanharam um momento propício na França, na década de 1970, quando se disseminava uma corrente ideológica que tentava englobar o museu nas ideias que provinham da Ecologia. “Inicialmente o termo 'ecomuseu' nasce da reflexão acerca dos parques naturais, que tentavam unir, numa só corrente de pensamento, a Museologia às questões ambientais.” (BRULON, 2008, p. 40) Mas vale destacar que a lógica de preservação do Ecomuseu é diferenciada; tratando-se em primeira instância da comunidade, as ocupações sucessivas do território, como suas várias partes, são abordadas sob o olhar da população local. O objeto dos museus comunitários é a relação entre os seres humanos e destes com sua memória. Se o Museu Comunitário introduz um pensamento ambiental, este meio ambiente é, antes de tudo, social. O meio ambiente é considerado como o patrimônio de uma comunidade sendo valorizada sua função identitária, diferente do parque, que visa uma conservação da natureza separada do homem. (BRULON, 2008) O Museu Comunitário ou Ecomuseu, por sua vez, “contribui para redefinir o patrimônio, mas este patrimônio permanece pensado enquanto patrimônio de uma comunidade, como fato e propriedade de um grupo social específico.” (BRULON, 2008: 81) Enquanto o parque abre um processo de patrimonialização da natureza, sendo um meio natural onde a paisagem é considerada menos por sua simples qualidade estética do que como envoltório de um ecossistema; o Ecomuseu amplia consideravelmente o que se denomina patrimônio, para integrar os bens intangíveis, e ainda a memória. O patrimônio ambiental como hoje o percebemos, não é o meio ambiente tal como o concebe exclusivamente o parque natural (um patrimônio natural) ou o Ecomuseu (um patrimônio social e simbólico). Graças à evolução dos conceitos de patrimônio e de meio ambiente possibilitada pelo entendimento dos novos modelos teóricos de museus, podemos entender o patrimônio em sua integralidade e o meio ambiente como o meio social, assim como é natural, em que o ser humano está inserido e com o qual se relaciona – o meio ambiente integral. (BRULON, 2008, p.81) Neste sentido, esses novos museus se voltam para três elementos primordiais: a identidade local, a perspectiva ecológica e a participação da população, “significando uma tentativa de aproximar a Museologia da Sociologia, criando o que alguns chamaram de uma sociologia dos museus.” (BRULON, 2008, p. 29) É importante explicar que, apesar de sua institucionalização ter acontecido apenas em 1984, os museus comunitários existem desde o século XIX, com casos expressivos no século XX, durante o pós-guerra. Muitos museus locais ou regionais foram criados a partir do reconhecimento de depósitos arqueológicos em determinadas províncias durante o pós-guerra e se tornaram fatores culturais ativos em pequenas comunidades, voltando-se para a história local e para o estímulo intelectual. (BRULON, 2008) A participação da comunidade é fundamental nestes museus comunitários. No entanto há outras características apresentadas por Hugues Varine, em seu artigo “O Museu Comunitário é herético?” (2005), em que o autor coloca diferenciações fundamentais entre os museus tradicionais e os museus comunitários. A primeira diferença é baseada no patrimônio, pois considera que museu é a “casa” do patrimônio. Em um museu tradicional o patrimônio é composto por objetos que fazem ou farão parte da coleção do museu, cuja importância científica, artística ou cultural justifica que sejam considerados no programa museológico ou cultural. Nestes casos, não importa se o objeto tem ou não um vínculo com a população do território onde se situa o museu. Na realidade, “o patrimônio desse museu é definido pelo museólogo de acordo com seu saber científico, seu gosto estético e seus interesses culturais, considerando-se naturalmente missões confiadas ao museu pelos parceiros exteriores (Estado, associação, mecenas etc.)” (VARINE, 2005, p. 02) No Museu Comunitário, Ecomuseu, ou museu territorial, o patrimônio é aquele reconhecido como tal pela comunidade. “É o capital cultural coletivo da comunidade, ele é vivo, evolutivo, em permanente criação.” (VARINE, 2005, p.02) Os responsáveis pelo museu utilizarão esse capital para atividades inscritas na dimensão cultural do desenvolvimento do território e da comunidade. A conservação é uma responsabilidade e uma tarefa coletiva da comunidade, os profissionais do museu sendo essencialmente apoio técnico e científico. (VARINE, 2005, p. 03) A segunda diferenciação é a partir das coleções, pois os Museus Comunitários, em princípio, não constituiriam coleções permanentes, pois o patrimônio do território e de seus habitantes constituiria o equivalente a uma coleção. E exemplifica seu anseio com o caso de John Kinard, que criou o Anacostia Neighborhood Museum, um Museu de Vizinhança, que “não foi organizado em torno de uma coleção, ao contrário, privilegiou as exposições temáticas ligadas às preocupações essenciais da comunidade afro-americana do bairro de Anacostia” (VARINE, 2005, p.02). A terceira diferenciação é feita a partir da relação território e comunidade, central no Museu Comunitário. No museu tradicional este só é responsável pela sua coleção e seu público. Mesmo se a coleção é mais ou menos representativa de um dado território, no caso de um museu de sítio, departamental ou de parque natural, o essencial da atividade museal está nas coleções; já o público, pode ou não ser do território, portanto, são apenas “consumidores e de forma alguma constituem uma população, um conjunto de atores, partes integrantes do museu sob todos seus aspectos.” (VARINE, 2005, p. 04) Já um Museu Comunitário para ser representativo, sem uma coleção, ele deve “emanar do território e de sua população”; assim, seu trabalho se dá no dia-a-dia, associado a cada instante a um habitante ou grupo de habitantes; é o chamado processo ecomuseal, que é essencialmente cooperativo. Por isso, a composição do público das exposições também não é importante, pois a atividade pública do museu corresponde ao seu processo. “Nestes museus pode haver públicos identificáveis como os turistas, por exemplo, mas eles serão apenas um produto derivado da atividade principal, pois tal museu não tem visitantes, mas habitantes. ” (VARINE, 2005, p.04) É importante ainda entendermos que o Museu Comunitário está voltado fundamentalmente para o local, para o presente e o futuro de um território, enquanto o museu tradicional é global, voltado para a preservação dos bens culturais, naturais selecionados por razões em geral científicas, ou seja, o formato do museu tradicional é similar em todo o mundo; já o Museu Comunitário assume as características da sua comunidade; por ser “vivo” é mutável, correspondendo a uma expressão local. (VARINE, 2005) A quarta diferenciação é feita analisando as exposições, um ponto crucial de distinção entre museus tradicionais e museus comunitários. As práticas contemporâneas dos museus tradicionais são cada vez mais sofisticadas, utilizam-se de efeitos audiovisuais e novas tecnologias, o que para Varine, afasta o visitante da realidade, apostando em uma maior interatividade tecnológica. Nos Museus comunitários, quando há exposições, estas são mais simples e lúdicas como no caso do Museu da Maré e sua casa de palafita com objetos dos moradores. (VARINE, 2005) Os museus comunitários não possuem o mesmo aparato e financiamento que os museus tradicionais; além disso, eles se dirigem às mesmas pessoas que os criaram, e que supervisionaram sua instalação. Assim, suas exposições se voltam à simplicidade. Sua interação se dá com as pessoas que fazem parte do museu, daquele território. No MUF, por exemplo, a interação é com os artistas, os guias locais, os músicos, dançarinos e moradores. (VARINE, 2005) E por último, Varine diferencia-os com base na organização. Isto porque o museu tradicional é uma instituição que nasce de uma decisão político-administrativa, sua maturação se faz com trabalhos científicos e técnicos, com projetos de campanhas de comunicação e estudos orçamentários. Já o Museu Comunitário, na sua forma mais inovadora, não segue um procedimento, mas sim, um processo. Seu objetivo não é a instituição nem uma inauguração, mas sim sua co-construção na comunidade e sobre seu território pelos membros da comunidade. Por isso, não existe modelo organizacional próprio do Museu Comunitário. (VARINE, 2005) Por terem um formato tão variado, estes museus comunitários podem se assemelhar a um Ecomuseu, rompendo com a ideia de um museu clássico. “Ao invés de edifício, ele trabalha com a ideia de território. Ao invés de coleção, trabalha com a ideia de patrimônio, e ao invés de público, trabalha com a ideia de comunidade ou de sociedade local. Esse é o modelo do Ecomuseu a favor do desenvolvimento local.” (CHAGAS, 2009). Chagas diferencia ainda os Ecomuseus dos Museus de Território, na medida em que os primeiros têm território delimitado, como por exemplo, o Ecomuseu da Ilha Grande (Angra dos Reis, RJ), que está na Vila Dois Rios em torno das ruínas do antigo presídio. Se fosse um Museu de Território “ocuparia” toda a Vila de Dois Rios ou toda a Ilha Grande. “São museus que se instalam nas comunidades sustentados pelas comunidades locais. Ao invés de ter um espaço definido eles ocupam um território, se espalham pelo território, criam percursos e caminhos.” (CHAGAS, 2009). É importante notar que os museus comunitários no Brasil se configuram de formas diversas, tão diversas quanto as comunidades pode-se dizer. O Museu Comunitário representa o desejo à memória e os projetos de um grupo da comunidade e, portanto, se o museu for pensado por outro grupo da mesma comunidade pode se configurar de uma forma completamente diferente, assim como um Museu Comunitário pode ser muito diferente de outro Museu Comunitário. Deste modo, o Museu de Favela, ao se propor um Museu Comunitário pretende refletir sua comunidade; exemplo disso é estrutura do MUF, uma estrutura de organização não-governamental. Minha hipótese é que esta estrutura tenha sido pensada como tal porque a estrutura de ONG é conhecida e reconhecida pelos moradores locais. (…) o primeiro Museu Comunitário territorial de favela do mundo, num desafio de construção política e estratégica que vem adquirindo crescente visibilidade. Nesse museu vivo a céu aberto o acervo são 20 mil moradores e seus modos de vida, narrativos de parte importante e desconhecida da própria história da Cidade do Rio. (MUSEU DE FAVELA, 2009 (b), p. 03) Entre os promotores do Museu de Favela este é sempre citado como uma referência de Museu Comunitário, que tem como estratégia o “enfrentamento da exclusão social e violência urbana, o desenvolvimento cultural com inserção turística e pela evidência de resultados de ações voluntárias e perseverantes de seus sóciosfundadores”. A expansão cultural na/da favela deve ser como um sopro de despertar. Deve ultrapassar os limites do território e alcançar a cidade à qual pertence, numa celebração itinerante que divulgue o acervo e os valores do MUSEU DE FAVELA, em outras favelas, em outras cidades, em outros países. Favela é Cidade. Cultura de Favela é parte da Cultura da Cidade. (MUSEU DE FAVELA, 2009 (b), p. 02) Em um dos projetos do museu consta que a ideia de organização de um Museu a Céu Aberto na favela partiu de duas lideranças locais: um “artista-grafitti”, Acme, e de uma “jornalista-memorialista”, Rita, que queriam contar a história, a “saga” e as memórias do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Segundo o jornal de apresentação do MUF (2009), o museu foi formado com a integração de moradores das comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo e trabalha pela realização de um “plano cívico comum”. Traz uma visão de futuro “transformadora das condições de vida na favela”, através da valorização da memória cultural coletiva e do desenvolvimento territorial e turístico. Assim, segundo informações encontradas no site e no jornal do MUF (2009), surgiu a visão de futuro que se tornou o macro-objetivo do MUF: Transformar o morro em um Monumento Turístico Carioca da História de Formação de Favelas, das Origens Culturais do Samba, da Cultura do Migrante Nordestino, da Cultura Negra, de Artes Visuais e de Danças – Um grande roteiro de visitação turística nacional e internacional da Cidade do Rio de Janeiro (MUSEU DE FAVELA, 2009 (a), p. 02). Foi em meio a tantas ideias que o MUF constituiu-se enquanto ONG com estatuto, diretoria, sócios fundadores e um Conselho Comunitário aberto para a participação de todos os projetos e trabalhos realizados na comunidade. No jornal de apresentação do Museu de Favela (2009) encontrei também o depoimento da diretora do MUF Rita de Cássia, que conta por que o MUF foi formado: O Rio de Janeiro oferece ao turista beleza natural e pontos turísticos reconhecidos internacionalmente, mas em meio a este cenário estão as favelas, consideradas por muitos como guetos, associados só a violência e a miséria. Contudo aos olhos de seus moradores, as favelas são locais com uma riqueza histórica e cultural a ser descoberta por aqueles que nunca se permitiram conhecê-la de perto. É pensando nisto que as comunidades do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho têm a meta de se tornar um dos principais destinos de visitação turística do Rio, aproveitando que estão entre os bairros de Ipanema e Copacabana, muito valorizados economicamente e onde se hospedam grande parte dos turistas que freqüentam o Rio de Janeiro (MUSEU DE FAVELA, 2009 (a), p.04). O Museu de Favela (MUF) à época de sua fundação foi apresentado pela sua diretoria como o primeiro “museu territorial integral do Brasil” (MUSEU DE FAVELA, 2009). Instalado no complexo de favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, o MUF pretende ao mesmo tempo voltar-se “para dentro” e “para fora”, ou seja, desenvolver um trabalho de mobilização da comunidade (para dentro) e ao mesmo tempo tornar-se uma atração turística (para fora). Como já vimos, em um primeiro momento, que foi durante as obras do PAC, a diretoria do MUF apresenta o museu como do tipo territorial, a partir da definição apresentada no material didático sobre a Nova Museologia elaborado e utilizado por Mario Chagas em curso oferecido pelo PAC na comunidade. Isto porque o MUF foi fundado e institucionalizado com apoio do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em fevereiro de 2008, integrando ainda o Projeto Pontos de Memória, que tem como objetivo “reconstruir a memória social e coletiva de comunidades, a partir do cidadão, de suas origens, suas histórias e seus valores. A meta, segundo Nascimento Júnior (DeMu/IPHAN), é implantar museus em regiões metropolitanas caracterizadas pelo alto índice de violência”. (SOTTILI, 2009) No ano de 2010, com a finalização do PAC, a diretoria do MUF começou a se programar para sua saída da Base de Inserção Social e Urbana do PAC, onde estava abrigada desde a sua fundação. Solicitaram espaço no CIEP e em diversos pontos da comunidade e receberam respostas negativas. Foi um momento difícil para a ONG, que, como vimos, passou por um processo diferenciado de fundação, ou melhor, não passou pelo processo, conforme definido por Varine (2005), que destaca para esse tipo de museu a não existência de um procedimento padrão, mas sim de um processo de construção na comunidade. No entanto, como o MUF foi criado com amplo apoio do Estado e teve inclusive uma inauguração, reside aqui uma diferença em relação aos museus comunitários com a qual o MUF teve que lidar. Neste momento a diretoria percebeu que estava sendo muito atrelada ao PAC, e os moradores perguntavam por que eles estavam pedindo um espaço na comunidade se eles “eram do governo”. O adensamento da favela também apareceu como outro grande problema, em termos de espaço, comum às favelas em encostas da Zona Sul do Rio de Janeiro. No caso do Pavão e Pavãozinho ainda pior, pois já chegaram às partes mais altas do morro, e no alto as condições são precárias. Uma das localidades no alto do Pavãozinho é denominada Vietnã, e eles explicam que o nome foi dado porque as pessoas de lá andam com roupas rasgadas, parece que “vieram da guerra”. O Vietnã é uma das áreas mais pobres e precárias a favela; em entrevista com a já referida diretora do MUF, a Rita, ela relata que até conhecer o Vietnã ela não sabia que existia miséria na comunidade dela, que “existia gente passado fome lá em cima”. Ao que parece, nestas favelas, quanto mais para o alto mais pobre. Diante desta situação e da necessidade de mobilização na comunidade para reconhecimento do MUF, foi realizado o Festival das Lajes, uma proposta de valorização das lajes e de um uso diferente daquele do “piso do próximo andar”, como eles dizem. Neste festival, algumas lajes foram selecionadas e abertas ao público com atividades como exposições, apresentações de corais e grupos de dança parceiros do museu. O Festival apresentou ainda o potencial turístico das lajes, que são uma grande atração na visita dos turistas às favelas, pois da laje se tem uma vista melhor da paisagem da favela e seu entorno, uma vista mais livre, mostrando assim para os moradores o problema do adensamento e demonstrando um “novo” sentido econômico para as lajes. Como vimos, após este evento o MUF conseguiu um espaço provisório para sua sede no segundo andar onde havia uma creche comunitária desativada pela falta de recurso. O MUF então se comprometeu a realizar melhorias no espaço em troca de ocupação pelo museu durante dois anos. No entanto a ocupação do andar que era da creche pelo museu causou outro problema, pois alguns moradores acharam que a creche tinha parado de funcionar para dar lugar ao museu. Diante disso, somado à visão de que eram algo do PAC ou do governo, o MUF produziu placas com textos explicativos sobre o museu e colocou perto da Igrejinha e em outros locais considerados estratégicos pela diretoria. Nestas placas pela primeira vez li Museu Comunitário, ou simplesmente ONG Museu de Favela, não mais Museu Territorial Integral como aparecia em seus primeiros materiais de divulgação. Entendo que acionar o termo ONG também foi uma estratégia da diretoria, na medida em que, como já vimos, a instituição ONG é mais familiar para os moradores do que a instituição museu. Para os moradores as ONG’s fazem algum tipo de projeto social que reverte em benefícios para a comunidade, e no caso do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, as ONG’s são bem aceitas pelos moradores. Já o museu ainda é uma instituição estranha para os moradores em geral. Como se pode ver, estes novos museus, inclusive pela sua diversidade de manifestações, processos de fundação e sua diversidade de formatos. No caso do Museu de Favela – mesmo não tendo passado por um processo de criação independente, mas sim motivada pelo Estado, através do Departamento de Museus do IPHAN e da empresa que comandava as obras sociais do PAC, a Kal – o MUF, como Museu Comunitário e ONG, mantém sua sustentabilidade financeira através de projetos elaborados em resposta a editais públicos de instituições financiadoras públicas ou privadas. Deste modo, não funciona como os museus tradicionais, que contam com funcionários públicos e verbas regulares para manutenção. E, apesar de ter sido criado com forte amparo do Estado, esse amparo foi apenas na criação, institucionalização e maturação do processo. Hoje o museu encontra-se em funcionamento independente e de fato nos moldes de um Museu Comunitário, como se propõe a ser. Assim é que, percebemos um processo diferenciado da criação deste Museu Comunitário, o qual inicialmente aparecia mais como Museu de Território do que como Museu Comunitário, embora sua organização fosse similar à deste tipo de museu. A diretoria acabou optando por uma constituição como “ONG comunitária”, estrutura conhecida e familiar para a própria comunidade, reforçando por um lado, a ideia de ONG e por outro lado, a simbólica concepção do termo comunitário. E assim é que o MUF é uma ONG. Em Movimentos sociais: dilemas e desafios das ações patrimoniais, Ferraz (2008), explica que nos anos 90 e principalmente nos anos 2000, disseminam-se no país as ONG’s, cujas ações buscam, de maneira geral, atuar não apenas em brechas criadas pela negligência do Estado, mas também em parcerias com este, o que convencionou-se chamar de terceiro setor. Em vez do protesto característico dos movimentos sociais, as ações dessas ONG's se voltam para operacionalização de demandas focadas em ações estratégicas, com captação de recursos junto ao Estado ou a entidades internacionais. Ferraz destaca ainda que “embora as ONG’s possam ser distinguidas dos movimentos sociais, na prática as diferenças entre ambos nem sempre podem ser rigidamente estabelecidas” (FERRAZ, 2008, p.101) Enquanto as ONG’s sempre são parceiras do Estado e se voltam para a operacionalização de uma determinada causa, pontuando determinados aspectos da luta por maior igualdade, os movimentos sociais podem ser contrários ao governo e, na maioria das vezes, defendem uma causa em seus diversos aspectos. (FERRAZ, 2008, p.101) Neste sentido, podemos ver que o MUF como uma ONG que operacionaliza a causa da memória e patrimônio da favela, e que é parceira do Estado, apesar dos anseios de seus diretores de se afastar do Estado e se aproximar mais dos movimentos sociais, indo na direção da ideia de que as ONG’s estão atreladas “em suas matrizes e significados a lutas populares contra a dominação e a fixação de parâmetros de comportamento socialmente estabelecidos”.(FERRAZ, 2008, p.101) Varine (1987) vê na iniciativa comunitária o meio de sair da relação de dominação. Esta rapidamente passou a ser a ideologia adotada por quase todos os Museus Comunitários e Ecomuseus no mundo. Neste sentido a ONG como gestora do Museu Comunitário MUF foi pautada pela familiaridade e entendimento pela comunidade, mas também pela possibilidade de operacionalização de suas lutas. Varine (1987) destaca ainda que a Nova Museologia, inserida em um processo de “descolonização dos museus”, se deu a partir da disseminação de novos conceitos. Esta descolonização ocorre inspirada também pela descolonização africana e por uma “agitação intelectual” que leva ao surgimento de novas ideias. E lembra que até a década de 1960 somente pessoas de países desenvolvidos “falavam” dos países africanos. E a partir de então começou-se a reconhecer os intelectuais destes países. É nesta lógica que os museus comunitários estão se expandindo no Brasil e no caso do Rio de Janeiro, nas favelas; é desejo de seus moradores falarem deles mesmos. Isto foi muito bem expressado através do Museu da Maré, do trabalho do CEASM, do Museu de Favela e mais recentemente no filme “Cinco vezes favela: agora por nós mesmos”. O que significa este título? Nada mais do que a voz ativa dos moradores de favela em resposta a um filme da década de 1950, que não foi produzido por moradores de favelas como este em 2010. O que mudou? Neste período as ideias de descolonização se espalharam pelo mundo. Para Gonçalves (2009), a palavra patrimônio transformou-se em um “grito de guerra”, isto porque, hoje, praticamente para tudo pode ser reivindicado o status de patrimônio. Em geral, trata-se de reivindicações identitárias, fundadas na memória coletiva ou numa narrativa histórica, mas, evidentemente, envolvendo interesses de ordem simbólica, social e econômica. (GONÇALVES, 2009, p. 01) Para o antropólogo, o mesmo movimento chega aos museus que também começam a se multiplicar. A definição do que é patrimônio deixa de ser exclusividade do Estado e “organizações não governamentais, movimentos sociais, empresas, grupos sociais e indivíduos assumem iniciativas no sentido de reivindicar, estabelecer e mesmo contestar patrimônios culturais ou naturais” (GONÇALVES, 2009, p. 06). Como pudemos ver neste trabalho esta reivindicação pelo patrimônio feita por ONG's, foi o caso observado na ONG Museu de favela, nas favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Referências BRULON. B.S. Quando o museu abre as portas e janelas: o reencontro com o humano no museu contemporâneo. 2008. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. CHAGAS, M. S. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de Andrade. Chapecó: Arcos editora universitária, 2006. ______. Módulo I: museus, memória e cidadania”. In: Curso nova museologia. Projeto de trabalho social e reurbanização do complexo Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. PAC – RIO. 2008. FERRAZ, JDF. “Movimentos Sociais: Dilemas e Desafios das Ações Patrimoniais”. In: ABREU, Regina e DODEBEI, Vera. (Org.). E o Patrimônio? Rio de Janeiro: ContraCapa, 2008 FREIRE-MEDEIROS, B. “Favela como Patrimônio da Cidade?” Reflexões e polêmicas acerca de dois museus. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 38. 2006. MENEZES, P. Interseções entre novos sentidos de patrimônio, turismo e políticas públicas: um estudo de caso sobre o museu a céu aberto do Morro da Providência. 2008. Dissertação ( Mestrado em Ciências Humanas) – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. MUSEU DE FAVELA. primeiro jornal informativo do Museu de Favela. Rio de Janeiro, 2009. ______.” Sobre nós”. Disponível em: http://www.museudefavela.com.br .Acessado em: 30/01/2009 SOTTILI,T. “Pontos de Memória”. Disponível em:http://www.cultura.gov.br/site/2009/02/03/cultura/Acessado em: 30/03/2011 VARINE, H. O Tempo Social. Rio de Janeiro: Eça Editora, 1987 ______. “Decolonising Museology”. ICOM news, n.3, 2005. p.3. ______. “O museu comunitário é herético?” In: Coletânea de Artigos. ABREMC. 2005. Disponível em: http://www.abremc.com.br/artigos1.asp?id=9 Acessado em: 30/03/2011
Download