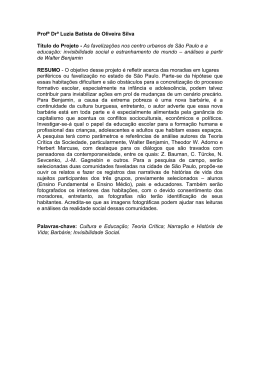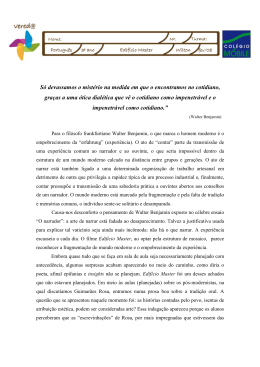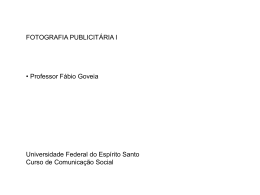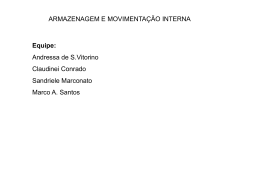WALTER BENJAMIN E OS ANJOS DE COPACABANA1 Luis Antonio Baptista* A beleza inexiste na própria matéria,ela é apenas um jogo de sombras e de claro-escuro surgido entre matérias. Da mesma maneira que uma gema fosforescente brilha no escuro mas perde o encanto quando exposta à luz solar, creio que a beleza inexiste sem a sombra. Junichiro Tanizaki. Em Louvor da Sombra Abrir portas e janelas do edifício carioca para a visita do filósofo berlinense estudioso dos sonhos da metrópole é o convite deste artigo. Walter Benjamin, o pensador das imagens urbanas como imagens do pensamento, do artesanato da narração, talvez tenha muito a nos dizer sobre esta visita. No Edifício Master (110 min), em Copacabana, dirigido pelo cineasta Eduardo Coutinho e lançado em 2002, atravessa um Rio de Janeiro peculiar, diverso do celebrado nos cartões-postais, ou do noticiado pela mídia. Na cidade cartãopostal nada acontece; a beleza ou a barbárie estampadas bloqueiam o suceder de algo além do previsto; são imagens da identificação, das quais nada aturde, é estranhado, apenas incitam um apaziguador reconhecimento. No Master residem histórias anônimas do cotidiano carioca capazes de descongelar imagens da cidade fixada na beleza natural da paisagem ou paralisada pelo medo que esvazia a urbe. O anonimato desses relatos, palavras e silêncios sujos do mundo dissolve o peso das confissões pessoais em que perdura a aura do eu. Coutinho oferece-nos, por meio das narrativas dos moradores, o encontro com existências comuns, precárias ou não; vidas díspares intensas que, misturadas ao urbano, apresentam-nos o Rio de Janeiro (ou qualquer outra cidade) ocupado por artes de fazer incansáveis, que têm o cotidiano como lugar de inconclusividade das lutas minúsculas e da criação. Nos relatos sobre os sonhos e as agruras do dia-a-dia do camelô, do síndico, da aposentada, do jovem artista, da garota de programa, entre outros entrevistados, encontramos a multiplicidade de experiências alertando-nos para o empobrecimento do * Professor Titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. pensar quando reduzido à camisa-de-força do discurso das identidades, que sabota do gesto, da palavra, ou do silêncio a potência do inacabamento. O documentário, sem sociologismos ou psicologismos, focaliza o anonimato de vidas-imagens atravessadas pela cidade, provocando estranhamento à previsibilidade entranhada no mundo esgotado do sempre igual, onde a singularidade de uma história perde a força do assombro. Vidas-imagens que recusam a violenta conclusividade das tipologias, do exotismo que nos conduz ao reconhecimento e à identificação do já visto. Na tecedura dos relatos, um mosaico díspar de experiências oferta-nos a radicalidade política da alteridade propiciando-nos a chance de recusarmos aquilo que somos , o que fomos, ou o que deveríamos ser. Que narrativasimagens encontraria Benjamin em sua visita por Copacabana? O que teria a nos dizer o filósofo que refletiu sobre o seu tempo utilizando o cinema e a literatura? A Implosão do Universo Carcerário A montagem cinematográfica, a fotografia e a literatura não seriam, segundo o filósofo berlinense, exclusivamente modalidades da arte; seriam também modos singulares de pensamento, artifícios fecundos para o escape de uma filosofia que dicotomiza forma e conteúdo, estética e política, pensamento e vida. Benjamin não só pensou sobre a literatura e o cinema, mas como cinema e como literatura. Em seu ensaio clássico, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, afirma que a invenção do cinema legou-nos a vulnerabilidade das verdades universais sobre a natureza e sobre o humano. A “explosão com dinamite do universo carcerário” incrustado nas ruas, escritórios, corpos, paisagens urbanas, nos modos de dar sentido à existência, foi para Benjamin2 (1996) uma das conquistas da modernidade propiciada pela sétima arte. A técnica cinematográfica detonaria, em sua explosão, a naturalização do real, assim como a compacidade do Sujeito que observa, como soberano hermeneuta, esta suposta realidade. O “universo carcerário” implodido ofereceria à modernidade a convocação de um mundo prenhe de paradoxos e de possibilidades de ação; por meio das técnicas de montagem dos fotogramas, o movimento das imagens incitaria um estranhamento desestabilizador àquilo que naturalmente percebíamos, dissolvendo o peso do “universo carcerário” que aprisionava o existir do humano, a política, a história e o próprio humano em uma única versão. Na tela, ao contrário do olhar encarcerado, pode um rosto deixar ver a cidade que não percebemos; o tempo de uma ação cotidiana recusar o fim e o começo; o horror banal do dia-a-dia ser estranhado; uma forma de amar pôr à prova a universalidade do amor; o gesto morto mover-se; um corpo desprender-se da essência que o aprisiona; o rosto humano não dizer e não deixar ver absolutamente nada; uma árvore movimentar-se sem o sopro do vento. Das reflexões benjaminianas sobre a politização da arte, que se difere da colagem ou aderência de uma determinada ideologia às formas artísticas desatentas à dissociação entre forma e conteúdo, o sujeito e a natureza são destituídos como protagonistas da cena, abrindo espaço para que o tirânico universo saturado de conclusões seja implodido. Dessa implosão, pedaços de histórias incompletas, fragmentos de narrativas seriam montados pelas urgências políticas do agora, atentas às que ficaram no passado na metade do caminho, inacabadas, interrompidas pela força da barbárie ou pelo esquecimento ávido de futuro. Benjamin3, no aforismo “Alemão Bebe Cerveja Alemã!”, prenuncia a barbárie do nazismo, indicando-nos o aniquilamento do humano não restrito ao uso da força, mas na construção da sólida aura do coletivo, da qual homem “nenhum vê mais adiante do que as costas do homem da frente, e cada qual se orgulha de ser, dessa forma, modelo para o seguinte”. O cinema de Adolfo Hitler utilizado na propaganda nazista não promoveria a destruição do “universo carcerário”, mas o fortalecimento do brilho da diferença da alma ariana. O rosto alemão projetado na tela celebrava, e pedagogicamente ressaltava, a potência da identidade nítida; através das imagens, preocupavam-se e achavam-se sem nenhuma ambigüidade. A aura do rosto ariano na sala escura inclinava o público a orgulharse de si e a desprezar o que ultrapassava o contorno desta identidade. Por meio dos filmes, sabiam o que eram, o que foram e para onde deveriam ir, mas lhes seria impossível escapar dessa comunidade que os encarcerava em um poderoso nós. O cinema nazista fez a diferença do povo brilhar por meio de imagens que não aturdiam a solidez de sua alma e de sua história. Aos alemães, o reconhecimento de si foi o único legado da sétima arte. No cinema aprendiam que “Alemão Bebe Cerveja Alemã”. No Edifício Master, o brilho da comunidade não reluz. Nenhum rosto concentra uma história compactamente totalizada. Trazer o cinema nazista à luz das reflexões benjaminianas para a visita ao prédio de Copacabana intenta retirar de uma época, ou de um tirano, a autoria dessa estética. Eduardo Coutinho está ciente desse risco: suas vidas- imagens impedem o previsível discurso de identidades essencializadas ou qualquer adjetivação moralista em seus relatos. Os moradores de Copacabana são destituídos da aura comunitária ou do brilho da personalidade-modelo que traz em si a arrogante vaidade de seus fracassos ou vitórias. No documentário, velhos, trabalhadores, jovens, garotas de programa, solitários, poetas, desempregados são implodidos na solidez daquilo que esperamos ver ou ouvir. Os sem comunidade do Edifício Master recusam o brilho da diferença; o que comove, e nos faz pensar, é a intensidade impessoal de suas histórias; a impessoalidade que descentra de uma vida em particular a origem e a propriedade de quem a contou. No Master, narrativas impessoais convidam-nos a usá-las, e a continuar contandoas artesanalmente. Nos apartamentos de Copacabana, rastros de eu ou do coletivo homogêneo são ofuscados pela passagem da cidade incansavelmente usada, porém não esgotada. As câmeras de vigilância no corredor escuro e a chegada da equipe para a filmagem é a primeira imagem do documentário. Nesta imagem inicial, o diretor sugere-nos que sua câmera irá interferir em alguma coisa, contar com os moradores o que acontece no Master, recusando ser o registro neutro da realidade tal qual ela é. A chegada da equipe na tela recusa a estética do cinema-verdade. As duas câmeras, ou as duas máquinas de fazer imagens, produzem histórias radicalmente diferenciadas. As câmeras de vigilância, estrategicamente posicionadas, segundo o depoimento do síndico no filme, seriam um dos instrumentos para a moralização do prédio. Ele afirma que o Master, no passado, foi um “antro de perdição”, repleto de situações envolvendo travestis, policiais, drogas, prostitutas; e o seu método para moralizá-lo foi inspirado em Piaget, mas, dependendo da situação, utilizava o de Pinochet. Piaget e Pinochet justificam, para o síndico, a meta de tornar o Master um “prédio familiar”; um outro discurso, porém, perpassa as paredes do edifício de Copacabana, retirando do síndico a autoria exclusiva do seu projeto. No corredor, a frase “Sorria, você está sendo filmado” sentencia o uso político da imagem e da privatização da existência no contemporâneo, em que o excesso de imagens é acompanhado de exposição e de isolamento. Vigia-se e exibe-se em bancos, elevadores, condomínios, supermercados, programas de TV; vigilância e exibição que ocupam os espaços impessoais da cidade de insaciáveis rastros de privacidades em constante desmanche. Nas entrevistas dos programas de TV, nos reality shows, os depoimentos pessoais, as emoções confessadas em público fazem do telespectador um consumidor voyeur precário, que tudo vê, assiste, testemunha; exploram a procura de algo que possa preencher o vazio do seu isolamento. A precariedade desse consumidor, quase um deus voyeur, forjado pelo capitalismo contemporâneo, estaria na sua onipotência, que não encontra limites para aquilo que deseje ver, observar, informar-se, e, paradoxalmente, no fracasso que o torna precário por não reter, não se saciar com as imagens que se esvaem, ou se desmaterializam, aceleradamente. Excesso e falta fazem desse quase-deus laico o consumidor de pontos de vista, de imagens e de emoções incorpóreas que não conseguem preenchê-lo nem aturdi-lo. No mundo que o produz, alimentado por decretos do fim da história, do fim de uma ética que ultrapasse os interesses individuais, só lhe resta a procura dos rastros de si, percorridos sozinho no consumo do ver e ser visto. Eduardo Coutinho recusa essa política de imagens, apresentando-nos narrativas feitas por palavras e silêncios onde uma telerrealidade não encontra lugar. Consuelo Lins4, assistente de direção do documentário, revela-nos a intervenção da equipe para “desprogramar” o conteúdo dos depoimentos, no intuito de não transformá-los em imagens-existências de uma telerrealidade: “Houve momentos nos quais foi preciso defender o entrevistado dele mesmo, em que a lógica do pior − central nos programas sensacionalistas e populares − impôs-se, e o que se ouviu foi a pior história, a maior desgraça, a grande humilhação. Porque o desejo dos moradores, em muitos casos, é o de escapar do isolamento, ganhar visibilidade a qualquer preço. O confronto com esse tipo de exibicionismo, indissociável do voyeurismo de espectador, é incontornável (...). Desprogramar o que estava previsto, produzir furo nos roteiros preestabelecidos, ocupar-se com o que ficou de fora dos espetáculos da telerrealidade, essa foi uma tarefa que se impôs como programa mínimo desse documentário de Coutinho”. Desprogramados: assim Edifício Master nos apresenta Ester, traumatizada por causa de um assalto, que só não se suicidou porque tinha contas a pagar e não queria morrer com o nome sujo; Suzi, a mulata cantora que já dançou no Japão; Francisco José, o ator de novelas, que perdeu a audição em cena e teve que parar de trabalhar; Oswaldo e Geicy, o casal que se conheceu através de um anúncio, no jornal, de uma agência de casamentos; Roberto, o camelô, que se emociona e insiste para que o diretor do documentário lhe arrume emprego; Daniela, a professora de inglês, que diz sofrer de neurose e sociofobia e detesta o vaivém de Copacabana; Henrique, o aposentado, que, dois sábados por mês, coloca a aparelhagem de som na janela para que todos ouçam com ele My Way; Maria Pia, a empregada doméstica espanhola, que afirma não existir pobreza no Brasil, onde não trabalha quem não quer; Bacon, o jovem da banda de rock, que permanece mudo, imóvel, durante o depoimento dos outros integrantes da banda; são algumas das trinta e sete entrevistas realizadas pela equipe. O corredor escuro do edifício em Copacabana, filmado vinte e quatro horas pelos monitores das câmeras de vigilância, é também desprogramado. Coutinho implode o “universo carcerário” das confissões pessoais dos moradores, assim como o do corredor aprisionado na função de espaço de onde nada escapa ao controle. Os depoimentos dos moradores são intercalados por imagens extraídas dos equipamentos de vigilância instalados pelo síndico que utiliza Piaget e Pinochet para “moralizar” o Master. Entre a fala dos entrevistados, vemos na tela o segurança do edifício subindo e descendo as escadas, e o corredor vazio, como se a qualquer momento pudesse ocorrer um crime. Neste filme dentro do filme é realizada a desmontagem do corredor como o cenário neutro de ocorrências, como se a câmera fosse um grande olho que tudo vê e isenta-se de ser interpelada na sua forma e no seu desejo de olhar. A câmera que filma a câmera nos indica, à luz das reflexões de Walter Benjamin, o teor artesanal da narrativa que nega à imagem o significado restrito de ser o vestígio de uma verdade conclusiva, ou a finalização de uma história que é impedida de ser recontada. A vigilância conta histórias, Coutinho conta histórias, duas formas artesanais de construção de políticas das imagens. O documentário desprograma o corredor quando transfigura o olhar policial do equipamento de vigilância traduzindo-o como o lugar do acaso, do qual, nenhum registro de controle poderá neutralizar a força cortante de um acontecimento. Nas ocorrências, o tempo segue linearmente com início, meio e fim; o acontecimento corta esta linearidade despedaçando a continuidade de uma história, transtornando sua origem e conclusão. Ocorrência e acontecimento contidos nas imagens legam-nos a tensão entre a previsibilidade do sempre igual e o imponderável do cotidiano, assim como duas formas de dar sentido ao tempo e ao espaço. Uma cena filmada pela câmera de vigilância ilustra esta tensão: Na tela o corredor vazio e silencioso. O garoto com a mochila abre a porta do seu apartamento e dirige-se ao elevador; enquanto espera, nenhum som e pouca luz confirmam o olhar estático da câmera de vigilância. Sem o garoto perceber, em frente à porta fechada de um dos apartamentos um gato parece desejar entrar, alguém deixou a porta aberta e o gato escapou. Apesar da ausência de som, intui-se que o garoto escuta o miado e desiste de entrar no elevador; toca a campainha da vizinha, entrega o gato e segue para o elevador, saindo de cena. O corredor silencioso retorna ao vazio. Nenhum vestígio de crime sucedeu. Ninguém foi acusado. Nada foi confessado. O lugar da suspeita agora é só passagem. Este episódio foi transcrito sem cortes; as imagens do equipamento de vigilância apropriadas pelo diretor registraram a cena inesperada para o registro de ocorrências; imagens desnecessárias para o encaixe na lógica dos fatos passíveis de serem desvendados e julgados. As portas que abrem e fecham, o garoto e o gato preencheram o corredor silencioso de acontecimento, algo que irrompe provocando surpresa à onipotência do olhar, ou ao pensamento, que presume controlar o incontrolável e a si mesmo; pensamento e olhar para os quais o estranhamento é um estorvo. Esta cena, se repetida, não será a mesma. No corredor desprogramado transcorrem cenas que subvertem o não-dizer do silêncio e a conclusividade do gesto; nele, a imagem que denuncia e a que nega esta denúncia, necessária a lógica do medo, sucumbem. O corredor ladeado por portas fechadas é perpassado por histórias por vir que enfrentam a asfixiante sentença de um mundo sem saída. Coutinho no Master desprogramando o corredor suscita imagens-acontecimentos oferecendo-nos sopros de ar. Ali, palavras sopradas por Guimarães Rosa5 advertem-nos que “quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo”, milagres laicos da arte, ou da vida, quando escapam de qualquer modalidade de aprisionamento. Das conversas com o diretor, nenhum “herói solitário” é apresentado na tela. Walter Benjamin6, no ensaio O Narrador, alerta-nos para o declínio da experiência coletiva (Erfahrung) no capitalismo, em detrimento da experiência vivida (Erlebnis), a psicológica encarnada no “herói solitário”, personagem central dos romances burgueses, no qual, desorientado, enfrenta as agruras da sua existência na busca de um desfecho feliz. Ao leitor desses romances é prometida a morte ou a vitória do herói, a conclusão da trama, para que a catarse das suas emoções, ou uma edificante mensagem, possa dar sentido a sua leitura. Porém, a experiência coletiva, para Benjamin, possui um significado particular. Como nos adverte Jean Marie Gagnebin7, “a palavra Erfahrung vem do radical fahr, usado no antigo alemão no seu sentido literal de percorrer, de atravessar uma região durante uma viagem”. No Master, o coletivo se faz conhecer na porosidade dos apartamentos. Nas residências dos entrevistados, à semelhança de Nápoles, a cidade italiana descrita por Benjamin8 como imagem do pensamento, “a arquitetura é porosa como essas rochas (...) em todos os lugares se preservam espaços capazes de se tornar cenário de novas e inéditas constelações de eventos. Evita-se cunhar o definitivo. Nenhuma situação aparece, como é, destinada para todo o sempre; nenhuma forma declara o seu desta maneira e não de outra (...) Pois nada está pronto, nada está concluído”. Na cidade do Mediterrâneo, para o filósofo que pensa como literatura, não encontraríamos a beleza retratada nos cartões postais, mas a proposta ou a realização de um modo de pensar por meio das suas imagens. Nos closes dos interiores dos apartamentos, como o da mesa com salgadinhos oferecidos para a equipe de filmagem pelo casal que anteriormente morava no subúrbio, ou no close dos móveis, das portas e janelas filmadas em silêncio das outras residências, inexiste a aura da intimidade ou os rastros denunciadores da sombra de quem as habita. Nenhuma vitrine antropológica ou psicológica do morar é exibida na tela. O que é visto nestes interiores, à semelhança de Nápoles, o lugar ou o estilo de existência onde “a rua peregrina quarto adentro”, são relatos de experiências dos objetos marcados por histórias à espera de “novas constelações de eventos”. Nos pequenos apartamentos de Copacabana, porosos como o pensar que se faz das interseções com o mundo, “evita-se cunhar o definitivo”, pois nada está pronto ou concluído por todo o sempre, porque a cidade com suas misturas e acontecimentos os atravessa mesmo com as portas e janelas fechadas. Em nenhum momento do filme a paisagem de Copacabana, a exuberância do Rio de Janeiro, aparece na tela. Os corredores, o interior dos apartamentos, as janelas, indicam-nos que, em cada sujeito que conta uma história, algo o perpassa e o constitui nesse percurso. O Sujeito atravessado e feito por narrações desprovidas de autoria torna-se singular na feitura, ou montagem, desta narrativa composta por díspares forças do mundo. Eduardo Coutinho, optando por implodir “universos carcerários”, aproxima-se de uma cidade descrita por Benjamin9, “onde cada ruela adota cores e cada palavra tem por eco um grito de batalha”. Um grito de batalha incansável, sem estridência ou alarde, que almeja a cada momento dos minúsculos embates cotidianos, onde exista dor ou indiferença, libertar a palavra e o silêncio do corpo sufocado por seus limites. No relato da jovem estudante que não imagina nada para o futuro, dos aposentados diferentes tanto na solidão quanto em suas formas de dissipá-la, da garota de programa que gasta o dinheiro do primeiro encontro comendo sanduíche na lanchonete, entre outros depoimentos, testemunhamos o escape do corpo asfixiado por fronteiras impermeáveis. As vidas-imagens, que nada têm em comum a não ser o ato de contar histórias, incitam-nos a esquecê-las como autores daquilo que narram, seduzindo-nos a desdobrar seus “gritos de batalha” para ganharmos o fôlego propiciado pelo manuseio de um leque. O filósofo berlinense afirma o seguinte: “a faculdade da fantasia é o dom do interpolar no infinitamente pequeno, descobrir para cada intensidade, como extensiva, sua nova plenitude comprimida, em suma, tomar cada imagem como se fosse a do leque fechado, que só no desdobramento toma fôlego” 10. Das narrativas dos moradores uma brisa é soprada convidando-nos a desdobrar recontando com fôlego as tramas de Copacabana. Com o balanço do leque a extensão deste recontar seria composta por intensidades que ultrapassariam na inconclusividade os limites do corpo que diz eu e o Rio de Janeiro comprimido por paisagens saturadas de significado. Entre portas fechadas o espaço é traçado por extensões de afetos impessoais; nesta geografia nenhum gesto ou corpo é esgotado pelos limites das suas bordas. Anjos Exterminadores No bairro do Master habitam anjos sem qualquer grandeza. Parecem com os do filósofo berlinense que pensa como literatura e como cinema. Em sua obra, esses seres inumanos participam como imagens das teses sobre a história, ou dos ensaios sobre a sua Infância em Berlim. São anjos desterrados da transcendência que subvertem uma pátria definitiva, pois não possuem o brilho da diferença estampada no pertencimento a uma comunidade; não nos prometem nada no além, e não nos preenchem vazios da existência. Nada possuem que possam confundi-los com mensageiros dos dogmas religiosos; ao contrário, sua presença disruptiva nega a eternidade tanto da dor quanto da alegria e dessa forma provoca transtorno. São fulgurantes, efêmeros, portadores de uma destruição necessária da qual não sabem o que advirá, porém acreditam que destruir certezas invioláveis vale a pena, pois caminhos impensados serão criados. Os anjos laicos de Walter Benjamin possuem um caráter essencialmente destrutivo: “o caráter destrutivo não vê nada de duradouro. Mas eis precisamente por que vê caminhos por toda parte. Onde outros esbarram em muros ou montanhas, também aí ele vê um caminho. Já que o vê por toda parte, tem de desobstruí-lo também por toda parte. Nem sempre com brutalidade, às vezes com refinamento. Já que vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. Nenhum momento é capaz de saber o que o próximo traz. O que existe ele converte em ruínas, não por causa das ruínas, mas por causa do caminho que passa através delas.” 11. Em Copacabana, esses seres inábeis anunciam a falácia das felicidades prometidas e a esterilidade das morosas dores presas a corpos blindados. Só aparecem uma vez, para nunca mais voltar. No Master, eles recusam benções, reencontros com irmãos, reconhecimentos e identificações. Eduardo Coutinho apresentou-nos histórias de anjos sem nome, exterminadores de mundos saturados de conclusões e de desencantamentos. Como nos lembra Jeanne Marie Gagnebim12: “Podemos mesmo ir mais longe na interpretação e dizer que a intervenção do anjo não se manifesta mais na sua eficácia soberana, mas sim neste apelo ao mesmo tempo imperceptível e lancinante, a interromper o escoamento moroso da infelicidade cotidiana e a instaurar o perigoso transtorno da felicidade”. Dona Ester, Suzi, Francisco José, Oswaldo e Geicy, Roberto, Daniela, Maria Pia, o garoto e o gato, entre outros, despossuindo seus nomes transformaram-se em anjos exterminadores anunciando-nos o transtorno da felicidade soprada pelo leque do filósofo alemão que nega à palavra “fim” o destino da narrativa e da história. NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 Esta é uma versão modificada do artigo publicado originalmente com o mesmo título na Revista Educação Especial: Biblioteca do Professor n° 7, 2008. 2 BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1996. 3 BENJAMIN, Walter. Rua de Mão Única. São Paulo, Brasiliense, 1987, pág. 30. 4 LINS, Consuelo. O Documentário de Eduardo Coutinho. Televisão, Cinema e Vídeo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, pág. 143. 5 ROSA, Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, pág. 65. 6 BENJAMIN, 1996. 7 GAGNEBIM, Jeanne Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo, Perspectiva, 1994, pág. 66. 8 BENJAMIN, 1987, pág. 148. 9 BENJAMIN, 1987, pág. 35. 10 BENJAMIN, 1987, pág. 41. 11 BENJAMIN, 1987, pág. 237. 12 GAGNEBIM, Jeanne Marie. Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e História. Rio de Janeiro: Imago, 1997, pág. 130.
Download