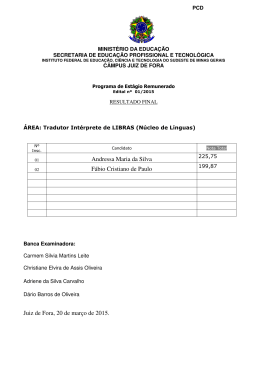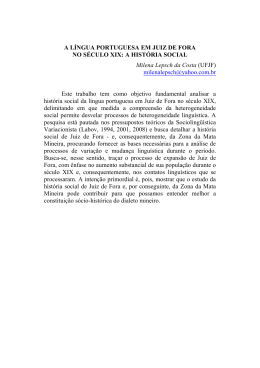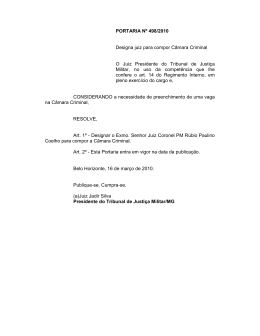A PROXIMIDADE ENTRE A JUSTIÇA E A SOCIEDADE O Caso Português O tema que nos convoca e estarmos aqui, em 27 de Abril de 2007, ou seja em plena , pós modernidade, nesta bela sala do Supremo Tribunal de Justiça, que remonta ao Estado Liberal e a D. Maria II e é, por isso, moderna, - como sabem - a mediação entre a Justiça e a sociedade. Compreende-se o que se pretende: que a Justiça e a sociedade se conheçam e respeitem melhor. Mas a mediação afigura-se-me inapta para que se alcance o que se pretende, pois o que a caracteriza é a actuação de um terceiro, por definição neutro, que ajude as partes a encontrarem por si próprias uma solução negociada ou amigável. Ora, esse mediador, tendo em atenção o que se passa nas sociedades mediáticas de hoje, em que o real só existe ou só é reconhecido se for mediatizado, teria que ser constituído pelos media, com relevo para a televisão, o media hegemónico, cuja actuação, a da televisão sobretudo, não se vem caracterizando pela neutralidade. É natural. “Ao contrário da lógica de funcionamento do tribunal, que está marcada por um acto, julgar, que implica contenção, distanciamento, imparcialidade e um processo demorado de actuação, a da Comunicação Social está marcada por um outro acto, comunicar, que implica espectáculo, dramatismo, imediatismo , prevalência do sentir sobre o pensar. (1) Invocando a opinião pública, de que se reclamam os intérpretes, os media electrónicos identificam-se com a vítima e não com o juiz, a menos que este lhes apareça como um justiceiro, ou seja, como um super-poder ou um contra-poder e, deixando-se levar pelo mito da transparência, ao disputarem à Justiça o lugar de visibilidade da democracia, olham com simpatia a nova virtude, o voyeurismo e com desconfiança todos os segredos, sobretudo os de Justiça, o que cria uma cultura de desconfiança, que afecta o poder em geral mas é especialmente prejudicial para a Justiça, que é de todos os poderes do Estado o que mais depende do simbólico. Mas serão os media e nomeadamente a televisão os únicos culpados da desconfiança com que em Portugal o cidadão olha para a Justiça? Parece-nos que não. A pós modernidade, esse novo modo de socialização e de individualização que faz da realização pessoal hedonista o valor dos valores e se alheia da res publica, desconfia das instituições. Essa desconfiança generalizou-se e, ao generalizar-se, permite que pessoas importantes, a fim de deslegitimarem ou pressionarem os Tribunais, como parece óbvio, se disponibilizem a serem julgadas primeiro pelo tribunal da opinião pública através da televisão. Aparecer na televisão é, de resto, o cúmulo da fascinação e o paradigma de topo da afirmação pessoal e da auto-estima nas sociedades do tele-ver e nada tem de gratuito: o opinion maker que não vai à televisão não chega ao seu público e o escritor que a não frequenta não vende o seu livro. Aliás, que culpa tem a televisão de ter sido transformada no único elo social suficientemente abrangente por uma sociedade que se fractura a cada dia que passa e se arrisca a ser, se o não é já, um mundo de dialectos ou, como escreve Maffesoli, de tribos”? Há porém, uma outra razão para a desconfiança com que o cidadão olha para a Justiça em Portugal: a crise real da Justiça. É uma crise derivada, ou seja, que depende mais de erradas opções legislativas - que da preparação do julgado. Mas é uma crise profunda e, por isso, bem pode o legislador, intensificar o processo de reforma contínua e parcelar do ordenamento jurídico que passará sempre ao lado do que é essencial. Abre-se uma excepção para uma reforma urgente do sistema de formação que evite a deriva corporativa, diferencie a formação do juiz da do magistrado do Ministério Público e dê às disciplinas de cultura, com relevo para a filosofia e a sociologia do direito, a relação com os media e a deontologia do julgador a mesma dignidade que é dada às disciplinas de natureza técnico-jurídica. A Justiça e a sociedade deveriam entreter uma relação de proximidade, marcada pelo conhecimento mútuo e pela confiança mas estão divididas por uma relação de afastamento, marcada pelo distanciamento da lei ou do seu aplicador e pela falta de confiança do cidadão. Urge, pois, refazer, porque ela já existiu, ou ir refazendo, porque o processo é gradual e lento, a relação de confiança que, em tempos, finda a Idade Média e recuperado o Direito, ligou a Justiça à sociedade. Consegui-lo-emos? Se tivermos a coragem de reconhecer o erro e ousarmos rectificá-lo, estou certo que sim. Chegados aqui, cumpre-nos convocar a História, embora para isso tenhamos de afrontar o preconceito pós moderno que reduz o tempo ao presente, desvalorizando o passado, que deixa de ter validade e anexando o futuro, que deixa de interessar, não obstante dele depender a vida dos nossos filhos. Afrontê-mo-lo, pois. Não é possível compreender a vida ignorando a pertença do indivíduo a uma sucessão de gerações. “Durante séculos, ao longo dos quais a legitimidade jurídica se foi substituindo à referência religiosa como fundamento da legitimidade do poder político, o juiz, mais do que mero aplicador da lei, foi um “perito da razoabilidade” e um “mediador do equilíbrio social”, que se esforçava por encontrar para a causa uma decisão materialmente justa, fazendo emergir esse jus - que compreendia leis, costumes, pareceres, doutrinas jurídicas, concepções do mundo - da realidade vivente e humana da história, interpretada à luz da razão e da equidade. Mas a irrupção do absolutismo, o regresso da legitimação religiosa da realeza em detrimento da jurídica, que avassalou a Europa continental, ao cercear a autoridade do julgador no afã de reforçar a autoridade do poder político, pôs fim a esta concepção do juiz, que prosseguiu incólume no direito da Common Law, convertido num outro mundo jurídico, a sua tarefa de participar na produção do Direito e, consequentemente, de limitar o Poder, que não intervém no processo de formação da Common Law. Iniciou-se, assim, com o advento do absolutismo, no domínio da grande família dos direitos romanogermâicos, a concepção do juiz como mero aplicador da lei, cuja actividade de dicere jus se converteu na de dicere legem. (2) Ao trocarem o sistema costumeiro-jurisprudencial pelo legal, os Estados da Europa continental viram-se obrigados a definir pressupostos do paradigma legal cuja observância garantisse a continuação da identificação entre o povo e o Direito que antes resultava do facto de o costume ser criado pela própria sociedade. Os principais desses pressupostos são - como escreve António Hespanha - no plano da legitimação, a transparência dos laços de participação e representação política, de modo a que a lei não constitua mais do que a formalização das aspirações do cidadão, no plano do impacto social, a acessibilidade da mensagem legislativa, tanto no sentido de ser conhecida como no do ser inteligível e, no plano da adequação, a possibilidade de as relações sociais serem reduzidas a matrizes genéricas, o que é difícil nas sociedades menos integradas dado que o aumento da complexidade do sistema faz diminuir a acessibilidade da mensagem. (3) A Revolução Francesa de 1789 veio reforçar a concepção do juiz como mero aplicador da lei. Mas quer os revolucionários quer Napoleão, tiveram perfeita consciência de que a acessibilidade da mensagem legislativa, com relevo para a sua inteligibilidade, era o principal pressuposto da legitimidade da lei. Daí a clareza de expressão dos Códigos Napoleónicos, com realce para o Código Civil, o Code Napoleon, que foi concebido para ser compreendido pelo cidadão médio/culto, não jurista. Stendhal, o autor de “O Vermelho e o Negro”, considerava-o o seu livro de cabeceira. “Portugal também teve o seu Code Napoleon. Foi, como é fácil de perceber, o Código de Seabra, igualmente marcado pela clareza de expressão e dirigido também à compreensibilidade do cidadão. Mas a França e Portugal seguiram caminhos diversos. Em França, o Code Napoleon, que é de 1804, mantém-se em vigor, com benefícios para a eficácia e a aceitabilidade da Justiça. Em Portugal, entendeu-se que o Código de Seabra, em vez de ser actualizado ou de servir de inspiração a um Código do mesmo tipo, devia ser substituído por um Código inspirado no direito alemão, o que seria o menos se não fosse, como é, redigido a partir de conceitos jurídicos abstractos elaborados pela ciência jurídica, insusceptíveis de serem entendidos pelo cidadão culto não jurista. A passagem do Código Civil e, posteriormente, do Código Penal, datados respectivamente de 1966 e de 1982 da sub - família do direito francês para a de um Direito germânico alheio a preocupação de inteligibilidade foi cumulativamente surpreendente e desastrosa. Surpreendente porque os laços de identificação que ligam o cidadão à sua tradição jurídica não podem cortar-se sob pena de se instalar entre o povo um clima de grande insegurança. Desastrosa porque se constituiu no ponto de partida de uma crise da justiça, que se foi agravando à custa de múltiplas pequenas reformas legislativas, feitas na convicção de que, para debelar a crise, era preciso mais e melhor direito e não melhor ligação entre o Direito e a sociedade. Como foi possível deitar fora, como trastes velhos, laços de identificação entre povo e a lei criados ao longo de um século? O primeiro dos pressupostos do paradigma legal, o da legitimação, colapsou depressa. A transparência dos laços de participação e de representação política, implica que o legislador, apoiado por especialistas em direito, sociologia, linguística, lógica e informática, fizesse as leis que traduziriam as aspirações do cidadão. Na prática, porém, as leis eram feitas por professores de Direito, a quem o poder governativo encomendava os Códigos . Não admira, por isso, que os autores do Código Civil de 1966, que eram notabilíssimos professores de Direito e o poder político Antunes Varela, que reviu, coordenou e uniformizou os vários projectos, era Ministro da Justiça vissem o Direito como coisa de juristas, alheio à relação cidadão/legislador. Para o poder político como para aqueles professores de Direito, o que estava em causa era o melhor Direito e não a melhor relação entre o Direito e o cidadão. Esqueciam-se de que o Direito é instrumental relativamente à realização colectiva e individual ou - como dizia Herculano - à felicidade do povo. Que fazer? Reconstruir a relação de proximidade entre o cidadão e a lei ou confiar no Direito/técnica até que a vida do paradigma legal se consuma e dê lugar aos meios alternativos de resolução de conflitos e, eventualmente, à máquina-juiz a que se refere Giovanni Papini em “O Livro Negro” ?, Não creio que um sistema de poder, político ou resolutivo de conflitos, possa funcionar com eficácia na ausência de quaisquer laços de identificação entre ele e o cidadão. Impõe-se, por isso, reconstruir a relação de proximidade que já ligou o cidadão e a Justiça. Aliás, a ordem social depende, por um lado, positivamente, da criação e do desenvolvimento de solidariedades comuns e, por outro, negativamente, da prevenção e da resolução de conflitos. Será demasiado tarde? Espero que não. Mas precisamos de agir depressa porque, a fazer fé no “Courier Internacional”, a manterem-se as actuais taxas de natalidade, em 2050, na Europa Ocidental, o número de estrangeiros superará o dos nacionais. E precisamos de agir adequadamente para refazer a antiga relação de proximidade, é preciso não confundir informatização com desumanização sob pena de vir a tornar-se real anedota que veio à estampa há anos no “L’ Express” que mostrava uma criança a dizer aos pais: “quando for grande, quero ser um computador“. É igualmente preciso recriar a comunidade, inviabilizada por uma sociedade excessivamente individualista, quase narcísica, pois só a comunidade pode dar-nos a segunda socialização, que completa a da família e refazer o “habitat com olhos” que desincentiva a criação de gangs onde crescem os criminosos juvenis a que os polícias em Portugal, chamam “pedras rolantes”. É outrossim preciso contrariar a lei do efémero, comandada pelo slogan “o que é novo é bom”, que converte o Direito em produto de consumo que pode ser usado e deitado fora como se fosse um lenço de papel. E é finalmente necessário reconstruir a confiança, não só a confiança do cidadão no juiz mas também a da pessoa no “outro”, refazendo o conjunto de valores partilhados, de natureza cooperativa, a que os autores norte-americanos chamam capital social. Esta reconstrução da confiança não implica a reconstrução do juiz que não deve ser a boca morta de que falava Montesquieu, a não ser na medida em que ele deve reconhecer que a avaliação de um sistema de justiça cabe mais aos seus utentes que aos seus servidores, o que obriga a que se dê conhecimento público das sentenças e dos despachos proferidos em qualquer processo que esteja a ser objecto de contestação nos media. Foi o que aconteceu no célebre caso “Esmeralda”, em que todos os despachos e sentenças foram divulgados na íntegra pela internet, o que permitiu que o vento da contestação amainasse. A reconstrução da relação de proximidade entre a Justiça e o cidadão depende, assim, em síntese, da reposição dos pressupostos do paradigma legal. No plano da legitimação, há que assegurar progressivamente a transparência dos laços de participação e de representação política entre o cidadão e o legislador, de modo a que a vontade deste não constitua mais do que a formalização das aspirações daquele. No plano do impacto social, há que assegurar que, progressivamente, a mensagem legislativa seja acessível à generalidade dos cidadãos, primeiro no sentido de ser conhecida e depois no de ser inteligível. No plano da adequação, há que multiplicar e intensificar as relações entre o centro e a periferia, desincentivar o aparecimento de novas minorias do tipo a que Maffesoli chama tribos e o fortalecimento das existentes, que devem ser ligadas ao centro de modo a que a aceitação da diferença ande a par com a sua integração. Uma sociedade de dialectos, que obrigue o Direito a multiplicar as espécies e sub-espécies a regular, aumentaria de tal modo a complexidade e a entropia do sistema que impediria o refazer da relação de proximidade entre a Justiça e o cidadão. O Estado liberal dos primórdios não foi o paradigma do Estado ideal. Mas tinha a autenticidade e a pureza de princípios do que é jovem. Necessitamos de pontos de referência, de ideais. Parafraseando Octávio Paz, o grande poeta e crítico mexicano, precisamos de regressar à origens da nossa modernidade para nelas recuperarmos os nossos poderes de renovação. O que se pretende não é regressar às origens para lá ficar mas recuperamos os nossos poderes de renovação para enfrentarmos os desafios do presente. (1) José Maria Rodrigues da Silva - A Justiça e a comunicação social. Do Direito Problemático à Comunicação Antropofágica. Fólio Edições, Porto, 2003. (2) José Maria Rodrigues da Silva - Democracia ou Telecracia? Uma Nova Ideologia, Chaves Ferreira Publicações , Lisboa, 2000, a pags. 99. (3) António Hespanha - Justiça e Litigiosidade - Fundação Gulbenkien, Lisboa, 1993, a pags. 19 e seguintes.
Download

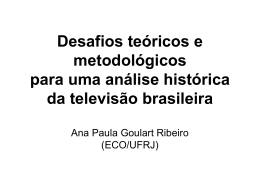

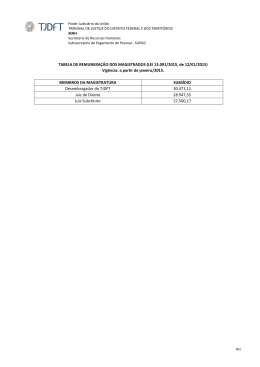
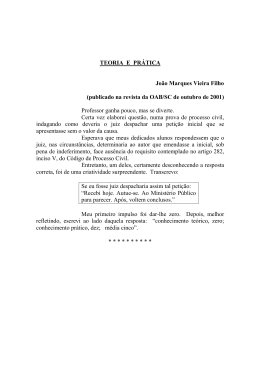
![CERTIFICADOS [Modo de Compatibilidade]](http://s1.livrozilla.com/store/data/000484584_1-69b4aba5693a96131ed43721bf6a6800-260x520.png)