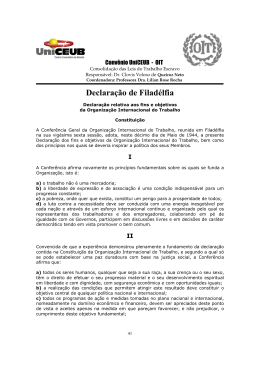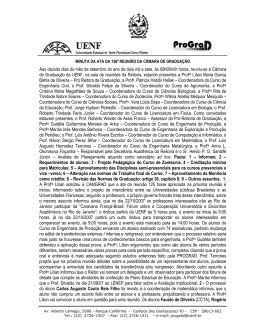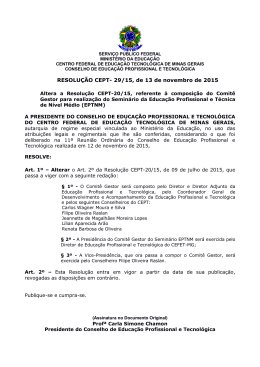UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS A VOZ EM CANTO: DE MILITANA A MARIA JOSÉ, UMA HISTÓRIA DE VIDA Lílian de Oliveira Rodrigues João Pessoa 2006 LÍLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES A VOZ EM CANTO: DE MILITANA A MARIA JOSÉ, UMA HISTÓRIA DE VIDA Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, área de concentração em Literatura e Cultura, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor. Orientadora: Profª. Drª. Maria Ignez Novais Ayala João Pessoa 2006 Catalogação na fonte Biblioteca Pública Câmara Cascudo R696v Rodrigues, Lílian de Oliveira A voz em canto: de Militana a Maria José, uma história de vida/ Lílian de Oliveira. − Natal (RN): Ed. do autor, 2006. 286p. ; il. (fot.) F Tese (doutorado) apresentada ao Programa de PósGraduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba. 1. Cultura popular – Rio Grande do Norte. 2. Literatura popular – Rio Grande do Norte. 3. História de vida. I. título. CDD 301.298132 2006/05 CDU 001(813.2) LÍLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES A VOZ EM CANTO: DE MILITANA A MARIA JOSÉ, UMA HISTÓRIA DE VIDA Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, área de concentração em Literatura e Cultura, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor. Tese aprovada com distinção em 08 de junho de 2006 BANCA EXAMINADORA ___________________________________________ Profª. Drª. Maria Ignez Novais Ayala Programa de Pós-Graduação em Letras/ UFPB (Orientadora) ___________________________________________ Profª. Drª. Ana Cristina Marinho Lúcio Programa de Pós-Graduação em Letras/UFPB (1º Examinador) ____________________________________________ Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza Departamento de Letras/ UERN (2º Examinador) ___________________________________________ Prof. Dr. Luiz Carvalho de Assunção Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/UFRN (3º Examinador) __________________________________________ Prof. Dr. Marcos Ayala Programa de Pós-Graduação em Sociologia/ UFPB (4º Examinador) ____________________________________________ Prof. Dr. Diógenes André Vieira Maciel Programa de Pós-Graduação em Letras/UFPB (Suplente) ___________________________________________ Profª. Drª. Rosilda Alves Bezerra Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade/UEPB (Suplente) A João Batista Rodrigues (in memoriam) Aquele que guardamos na memória transcende a condição mortal. Se a memória não traz de volta o tempo, tem a capacidade de eternizá-lo. Em toda a minha existência, sempre estarás no tempo presente. A Rosa, Simone, João Júnior e Solange O amor que nos une, mantém vivo o que com vocês aprendi. O respeito, a estima e o carinho que compartilhamos são os pilares que dão sustento a minha história de vida. A Weldson François Ancorei meu amor em teu porto seguro. E ele docemente protegeu-me das tempestades. Desfez as miragens presentes nos mares revoltos, com o sábio cuidado de resguardar os sonhos. É grande a felicidade de ter teus braços para ancorar minha ventania. A Diva Sueli O seu espírito livre ensinou-me uma nova maneira de sorrir. A sua voz suave e plena encheu minha imaginação e preencheu meu espírito com os encantos de São Gonçalo. A você devo a semente que gerou este trabalho. A D. Maria José A admiração que me motivou a procurá-la, transformou-se em afeição sincera. Esta senhora revelou-me, de forma lúdica e poética, a vida e a alma da gente simples do Brasil. AGRADECIMENTOS Na trajetória da construção deste trabalho enfrentei um grande obstáculo: o tempo. Ele me foi roubado. Arrebataram-no de mim com tamanha brutalidade que experimentei, em momentos de desespero, a fragilidade que me tirava as forças para continuar o percurso. No entanto, talvez o mais importante aprendizado que eu tenha construído nessa experiência tenha sido a capacidade de superação: percebi que esta aflora, principalmente quando se está cercado por pessoas que trazem em si a sensibilidade de poder voltar o seu olhar para o outro, quando isso se faz preciso. Se o meu tempo foi roubado, muitos amigos cederam-me, como dádiva, parte do seu, que já era escasso. Pude vivenciar o poder desse espírito altruísta, uma espécie de sentimento que se desenvolve em grupos que balizam suas relações pelo princípio da solidariedade. Aprendi isso com D. Maria José e também com todos os que contribuíram para a concretização deste trabalho. Por isso e por muito mais, tenho a agradecer, mais quero fazê-lo de maneira especial a algumas pessoas: À Professora Maria Ignez Novais Ayala, pela destreza com que me ajudou a ouvir a voz de D. Maria José, na caudalosa mistura de discursos guardada em sua fala. Com essa mestra aprendi que a acadêmica distância de um objeto de estudo é impossível quando se lida com seres humanos. Pesquisadora cuidadosa e criteriosa, a Professora Maria Ignez faz do respeito à voz dos colaboradores de suas pesquisas o ponto de partida de seus trabalhos. Ao conviver com ela, descobri que, mais do que uma característica da profissional, o respeito à voz do outro é inerente à sua personalidade. Agradeço-lhe o apoio, a orientação e a confiança em todas as fases deste trabalho. Aos Professores Marcos Ayala e Ana Cristina Marinho Lúcio agradeço a gentileza de aceitarem participar da banca de exame de qualificação deste trabalho em condições tão adversas. Mesmo com o tempo exíguo e a data imprópria, a seriedade e a competência com que examinaram o texto resultaram em proveitosas sugestões. A Weldson François, meu grande companheiro, que suportou meus momentos de angústia e ausência, cercando-me com seu amor e não medindo esforços para ajudar-me no que fosse necessário. A Diva Sueli, pela amizade e o companheirismo inabalável. Compartilhei com esta grande amiga as tardes inesquecíveis na companhia de D. Maria José. As conversas sobre a vida, a literatura, a arte, a cultura eram nossas companheiras no caminho de São Gonçalo. Estes foram momentos que ficarão guardados nos locais mais sagrados de minha memória. A todos os que fazem o Departamento de Letras do Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia”, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao qual tenho o orgulho de pertencer. Esta instituição é formada por indivíduos que aliam uma grande capacidade profissional a um espírito de coletividade, raro nos meios acadêmicos. A união deste grupo faz brotar o sentimento solidário, que o caracteriza e que se revela nos gestos das pessoas. Gostaria de agradecer de maneira muito especial aos professores Gilton Sampaio, Charles Ponte, Fátima Carvalho, Deny Gandour, Aparecida Ferreira, Edileuza Costa, Eliete Queiroz, Jailson da Silva e Marcos Luz, que, mesmo assoberbados pelas tantas tarefas, multiplicaram o seu escasso tempo e dividiram-no comigo, quando assumiram minhas atividades acadêmicas. O presente que me deram foi o tempo de que eu necessitava para escrever este texto. Ao amigo Gilton Sampaio, este Sísifo incansável, que não mede esforços para ajudar a quem quer que seja. Seu entusiasmo e motivação foram o esteio necessário para que este trabalho se realizasse, quando eu nem mais acreditava. Agradeço as “repreensões”, o apoio, o carinho, a preocupação e, sobretudo, a amizade. Ao amigo Charles Ponte. Sua contribuição neste trabalho vai muito além das promissoras discussões teóricas que tivemos, da leitura criteriosa de partes do texto e da cuidadosa elaboração do abstract. Esse amigo foi responsável por eu resgatar o ânimo perdido em meio às dificuldades para a retomada da pesquisa e às tarefas diárias do Departamento. Sua amizade sincera foi um bálsamo para minhas angústias. O misto de ironia e doçura que compõe sua personalidade me fez, mesmo à sua revelia, acreditar mais e mais na espécie humana. A Alessandre Tavares, grande amigo com quem partilhei as primeiras reflexões sobre este trabalho. Agradeço a sempre disponibilidade de dialogar, mesmo estando comprometido com tantas atividades. O rigor e a erudição desse pesquisador aliaram-se ao carinho, quando se propôs ler e discutir comigo este texto. A Nilza Barbosa, companheira que foi meu porto seguro enquanto fui aluna do doutorado, ajudando-me com os detalhes burocráticos do curso. Compartilhamos angústias e comemoramos sucessos. Ainda posso ouvir a sua voz suave dizer com jeito meigo: “Vai dar tudo certo!”. À amiga Sanzia Pinheiro, pelo carinho e apoio durante todo o percurso desta pesquisa. Tive o prazer de tê-la como interlocutora. Seu amor pela arte proporcionou a leitura cuidadosa e apaixonada deste texto. A Rosilda Alves, amiga, quase irmã, com quem sempre compartilhei alegrias e angústias vividas ao longo destes quatro anos. A ela agradeço a preocupação constante com meu bem-estar e os frutíferos debates sobre poesia, arte e literatura. A Carlos Negreiro, amigo com quem, por muitas vezes, tive oportunidade de discutir pontos importantes para o direcionamento desta pesquisa. Agradeço o carinho e o desprendimento em compartilhar comigo sua vasta biblioteca. A Lúcia Pessoa Sampaio, amiga que, durante o percurso deste trabalho, sempre me incentivou com seu exemplo. Seu apoio traduziu-se para mim em palavras positivas e gestos solidários. A Alex Xavier, pelas indicações de leitura que me nortearam, pelos caminhos, para mim desconhecidos, da Sociologia e da História. Agradeço por ter podido compartilhar seus livros, seu conhecimento e sua amizade. A Crígina Cibelle e a Cezinaldo Rocha, jovens amigos que trilham promissores caminhos pelas “letras”. Agradeço o incentivo, o carinho e o apoio demonstrado em seus gestos amáveis. A meus alunos e orientandos da UERN. O apoio que recebi de todos eles, compreendendo minhas ausências e torcendo pelo meu sucesso, foi fundamental para que eu tivesse a tranqüilidade necessária para escrever esse texto. A Maria Teresa de Oliveira, ex-Secretária de Educação do Município de São Gonçalo do Amarante, agradeço o material sobre D. Militana, o que muito contribuiu para a realização desse trabalho. A minha prima Bianca, que assumiu de maneira carinhosa e competente o cotidiano de minha casa, cuidando de mim e deixando-me o tempo livre necessário para construir este trabalho. A Edileusa Gonçalves, esta eterna mestra. Agradeço o olhar perspicaz e competente com que realizou a revisão final deste texto. A Zulmira Nóbrega, que me acolheu em sua casa, na cidade de João Pessoa, sempre com sua maneira gentil e seu sorriso constante. A Dona Albaniza e Seu Pedro Rodrigues. É impossível esquecer as tardes, em Santo Antônio, em que me recebiam carinhosamente em sua casa após as visitas a São Gonçalo. Ainda guardo com carinho o sabor do café sempre fresco, da tapioca, do pão quente e das agradáveis e divertidas conversas sobre as histórias da cidade. A Ana Cláudia Mafra, que compartilhou comigo suas experiências, nas muitas viagens entre Natal e João Pessoa. Agradeço o material teórico referente aos estudos sobre cultura popular e a leitura cuidadosa do projeto de tese. A Wellington Medeiros, por compartilhar o gosto pela literatura e pela arte, que deu o tom das nossas conversas, nas viagens entre Natal e João Pessoa, no tempo em que cursávamos disciplinas juntos. A Professora Drª. Elisalva Madruga, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras, agradeço a compreensão e o esforço empreendido para que as questões burocráticas se resolvessem da melhor forma possível. Às secretárias do Programa de Pós-Graduação em Letras, Socorro e Roseane, que me atenderam prontamente, com grande cordialidade e gentileza em todos os momentos em que necessitei. Finalmente, ao CNPq pela concessão da bolsa de estudos, que possibilitou o apoio financeiro a parte desta pesquisa. Na era de vinte e cinco, A dezenove de março, Às doze horas do dia, Foi aí meu nascimento. A lua tava de minguante, A maré tava de vazante, A lua cortou minha sina, A maré levou minha sorte E agora eu digo: Sou a mais sofredora do Rio Grande do Norte D. Maria José RODRIGUES, L. de. O. A voz em canto: de Militana a Maria José, uma história de vida. Tese (Doutorado em Letras) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. RESUMO Este trabalho visa discutir algumas questões sobre a relação entre a cultura popular e as experiências pessoais dos indivíduos que participam dessas práticas culturais, pretendendo mostrar como literatura e a história de vida se entrelaçam em discursos que marcam uma identidade cultural. O estudo se detém na análise do relato pessoal de Militana Salustino do Nascimento − nome de registro pelo qual essa senhora, cantadora de romances de São Gonçalo do Amarante-RN, é conhecida no cenário cultural do país − ou simplesmente de D. Maria José − nome pelo qual a artista é conhecida em seu espaço comunitário. Tem-se, nessa “duplicidade de nomes”, que configuram os espaços público e privado desse sujeito, os dois modos de conceber a cultura popular: o primeiro se preocupa com os “objetos culturais” e percebe essas manifestações como frutos de uma herança distante, valorizando-as por isso; e um outro que considera os contextos de produção nos quais essas práticas culturais existem, evidenciando a voz dos sujeitos que nelas se inserem. Através da metodologia da história de vida, utilizando-se a técnica da entrevista foi possível conhecer D. Maria José. Na narrativa construída pode-se identificar os mecanismos pelos quais ela reinventa literariamente a sua experiência pessoal. A aproximação do universo particular da artista e a discussão dos conceitos de memória, narrativa e oralidade permitiram perceber a relação existente entre os versos que ela canta e o relato pessoal de sua história. Pode-se pensar o canto da artista como uma poesia que transborda dos poemas para a sua vida e que se refaz no cotidiano, na relação com sua terra, sua religiosidade, seus familiares e vizinhos. A análise realizada possibilitou compreender o universo de D. Maria José a partir dos múltiplos discursos inerentes às práticas populares e às relações socioculturais implícitas entre eles e a comunidade. Palavras-chaves: Literatura popular. Cultura popular. História de vida. Memória. RODRIGUES, L. de. O. A voz em canto: de Militana a Maria José, uma história de vida. Tese (Doutorado em Letras) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. ABSTRACT This work aims at discussing some issues concerning the relationship between popular culture and the personal experience of an individual who partake in such cultural practices, intending to show how culture and life history intermingle into discourses that mark cultural identity. The study lingers upon the analysis of the personal account of Militana Salustino do Nascimento − record name by which this lady, a romance singer from São Gonçalo do Amarante-RN, is known in the national cultural scenario − or simply D. Maria José − name by which the artist is known in her community. There is, in this “nominal duplicity”, which portray the public and private spheres of the individual, the two ways of conceiving popular culture: the first deals with “cultural objects”, perceiving these manifestations as fruits of a distant heritage, and, for that reason, values them; and the second considers the production contexts in which these cultural practices exist, highlighting the individuals’ voices inserted in them. Though life history methodology, using interviewing techniques, it was possible to know D. Maria José. In the constructed narrative, the mechanisms by which she literarily reinvents her personal experience could be identified. The approximation of the private universe of the artist, as well as the discussion of the concepts of memory, narrative and orality have permitted to perceive the existing relationship between the lines she sings and the personal account of her history. Thus, the song of the artist can be thought of as poetry that overflows from the poems into her life and that is remade in everyday life, in the relationship with her land, her religiousness, her family and neighbors. The analysis conducted made possible to understand the universe of D. Maria José, starting from the multiple discourses inherent to the popular practices and to the sociocultural relations implicit between them and the community. Key-words: Popular literature. Popular culture. Life history. Memory. SUMÁRIO 12 INTRODUÇÃO......................................................................................... 15 1. DE MILITANA A MARIA JOSÉ: A CONSTRUÇÃO DE UM PERCURSO..... 15 1.1. Considerações sobre o estudo da cultura popular................................. 32 1.2. D. Militana: a romanceira do Oiteiro.................................................... 56 1.3. Militana ou Maria José: o nome............................................................ 62 2. A PESQUISA DE CAMPO: DEFININDO OS CAMINHOS........................... 62 2.1. O encontro de dois mundos: o pesquisador e o universo da pesquisa... 69 2.2. Pra começo de conversa... as entrevistas............................................. 78 2.3. A voz no papel: a transcrição................................................................ 3. D. MARIA JOSÉ: A VOZ EM CANTO..................................................... 85 85 3.1. Ouvindo os silêncios: a escolha do repertório........................................ 91 3.2. Eu que narro, quem sou? .................................................................... 91 3.2.1. Primeiros Encontros .................................................................. 92 3.2.2. Transcrição 1 ............................................................................ 104 3.2.3. Transcrição 2 ............................................................................ 124 3.2.4. Transcrição 3 ............................................................................ 147 3.2.5. Novos Encontros ....................................................................... 148 3.2.6. Transcrição 4 ............................................................................ 170 3.2.7. Transcrição 5 ............................................................................ 196 3.2.8. Transcrição 6 ............................................................................ 211 3.2.9. Transcrição 7 ............................................................................ 231 4. UM MUNDO NA CABEÇA: MEMÓRIA, POESIA E COTIDIANO................ 231 4.1. A voz-memória: narrativa e identidade................................................. 240 4.2. A narrativa do cotidiano....................................................................... 255 4.3. “Minha vida é um romance”: o universo poético de D. Maria José......... CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................... REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... FOTOS ................................................................................................... ANEXOS ................................................................................................ 265 269 278 286 INTRODUÇÃO O senhor... Me dê um silêncio. Eu vou contar. Grande sertão: veredas João Guimarães Rosa Uma voz que se conta, enquanto canta. É dessa maneira que esse trabalho se propõe a ouvir a voz de D. Maria José, uma simpática senhora que traz em si a síntese das práticas culturais populares. Benzedeira, artesã, cantadora de cocos, benditos, excelências, romances, aboios, D. Maria José é uma personalidade de grande destaque na comunidade em que sempre viveu − o Sítio Oiteiro, na cidade de São Gonçalo do Amarante−RN. Contando a história da sua vida, pretendo, neste estudo, lançar um olhar sobre uma pequena parte do universo da cultura popular. Meu olhar tenta abarcar, em um só plano, contexto e sujeitos de produção assim como seus bens culturais, aqui representados pela palavra: ora pelo canto, ora pelos versos, ora pelos relatos. No entanto, apesar do “toque particular” da história de D. Maria José, posso dizer que a sua vida se aproxima da de uma personagem saída de um drama, um drama da vida real, não diferente de outras histórias de outras “Marias Josés” que povoam as camadas populares deste país. E, talvez por isso mesmo, nunca foi contada, ou, sobretudo ouvida. Isso porque contar a sua história envolve pensar sobre o emaranhado de relações que a constitui. Talvez por isso, grande parte dos norte-rio-grandenses a conheçam por D. Militana, a cantadora de romances de São Gonçalo do Amarante, considerada por estudiosos da cultura popular do estado, “a guardiã das memórias ibéricas” que tem na memória textos que são a nossa mais nobre herança européia, conservada pela tradição. Durante o percurso para “ouvir” o que D. Maria José tinha a dizer, a história de vida, como técnica de pesquisa, permitiu-me aproximar-me desse universo. A experiência vivida nas tardes de conversa em companhia de D. Maria José possibilitou-me a aproximação de dois mundos diversos, o do pesquisador e o do colaborador. Segundo Benjamin (1993a), o narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos que o escutam. Partilhar da experiência de D. Maria José possibilitou-me conhecer a sua cultura. Seu relato me deu a dimensão de como os textos que ela canta estão inter-relacionados com as práticas cotidianas de sua vida. Através das lembranças desfiadas do tecido de sua memória, pude perceber que a palavra, no verso e no cotidiano, mune-se de significados para contar, afirmar, reconhecer, negar, contestar, alegrar, resistir. As palavras mais importantes deste trabalho pertencem a D. Maria José. São elas que fazem deste estudo, mais do que um estudo sobre cultura popular, um estudo sobre a memória e a vida dos produtores dessa cultura. Para apresentá-las, este trabalho está dividido em quatro partes. No capítulo 1, De Militana a Maria José: a construção de um percurso, ofereço ao leitor um panorama dos estudos sobre cultura popular, com a intenção de discutir as diferenças teóricas e metodológicas que distanciam os estudos folclóricos da linha de estudos que considera a contextualização das práticas culturais, adotada por este trabalho. Essa distinção se faz importante na medida em que possibilita discutir e entender a construção da figura pública da artista D. Militana. Por meio da divulgação de seu nome através de textos da imprensa local e nacional, o trabalho articula o que é dito sobre D. Militana à perspectiva sobre cultura popular adotada, constatando, na existência dos dois nomes − Militana e Maria José −, que distinguem os espaços público e privado desse sujeito, duas maneiras de conceber o popular e suas práticas. O capítulo 2, A pesquisa de campo: definindo os caminhos, descreve o percurso que realizei na intenção de ouvir, no entremeio de discursos, o que a voz de D. Maria José queria me dizer. Nesse espaço são discutidas questões referentes ao trabalho de campo, como a relação entre o pesquisador e o colaborador, as questões e os problemas postos na elaboração e na realização das entrevistas, e as posições adotadas para definir as escolhas que vão balizar a transposição do relato oral para o escrito, constituindo o trabalho de transcrição. No capítulo 3, D. Maria José: a voz em canto, apresento as transcrições das entrevistas que constituem o corpus da pesquisa. Elas estão expostas na íntegra, para que o leitor tenha a possibilidade de visualizar os silêncios e as pausas que permeiam o conteúdo das conversas e o próprio fluxo da narrativa. Incorporar a voz do sujeito ao texto foi a maneira encontrada para ressaltar aquilo que o sujeito pesquisado quer dizer de si, dando a sua voz a dimensão que ela ocupa neste trabalho. No Capítulo 4, Um mundo na cabeça: memória, poesia e cotidiano, procedo à análise do corpus a partir das categorias memória, cotidiano e identidade, articulando-as com o universo poético desse sujeito, na perspectiva de compreender como a história de vida contada por D. Maria José constitui um tecido narrativo, no qual a memória dá a forma, e o cotidiano, o contorno. A poesia, então, surge nesse contexto como o elemento que esse sujeito apreende do cotidiano e transforma, dando-lhe cor através da memória. Os versos que D. Maria José canta constituem, a partir de sua memória, uma reelaboração que permeia o seu cotidiano e sua vida. Essa discussão envolve a postura teórica adotada na pesquisa, que considera as manifestações da cultura popular no caso de D. Maria José, os seus cantos como práticas indissociáveis da vida cotidiana de seus praticantes. Benjamin (1993a) nos diz que a narração não visa transmitir o “em si” do acontecido; ela o tece até atingir uma forma boa. Assim, convido o leitor a tecermos juntos a história de D. Maria José. Estou certa de que, ao fazê-lo, estaremos dando prioridade à voz do outro, ao discurso das comunidades populares, ou, como preferem alguns, das gentes simples do Brasil. I DE MILITANA A MARIA JOSÉ: A CONSTRUÇÃO DE UM PERCURSO 1.1. Considerações sobre o estudo da cultura popular1 A cultura popular é um terreno que oferece fronteiras móveis: seus termos são sempre esquivos, dados a muitas definições e repletos de ambigüidades. Defini-la não é tarefa simples, pois envolve, no dizer de Ecléa Bosi (2000, p. 63), “escolha de um ponto de vista, e em geral, implica tomada de posição”. Assim, procurei neste tópico cercar-me dos cuidados necessários para me mover nesse espaço e tentar circunscrever, de maneira breve, os caminhos em torno da expressão “cultura popular", com o intuito de marcar a posição que estabelece os caminhos teóricos e metodológicos da pesquisa. A opção, então, foi investigar essas relações a partir de um breve panorama voltado para as discussões sobre o estabelecimento da cultura popular, articulando-o com os movimentos de interação entre culturas e com os aspectos econômicos e simbólicos dos produtos populares, incluindo o 1 Como se propõe breve, este tópico, fatalmente, terá a ausência de algumas discussões e de alguns autores que encenaram o debate proposto. Entretanto isso se justifica, já que o objetivo é apenas tentar “pintar o cenário” que define os rumos dessa reflexão. Para tanto, a perspectiva de discussão escolhida não se orienta por uma ordenação cronológica, mas busca estabelecer diálogos entre os autores abordados, circunscritos nas mais variadas áreas do saber Antropologia, História, Sociologia que envolvem o tema. contato destes com os meios midiáticos e a difusão por esses meios, uma vez que García Canclini (1983, p. 12) afirma que é necessário redefinir o que é hoje cultura popular e que esse novo olhar precisa de uma “estratégia de investigação capaz de abranger tanto a produção, quanto a circulação e o consumo”. Ao proceder a uma investigação preliminar do termo “cultura popular”, baseada no senso comum, nós, pesquisadores, somos remetidos instantaneamente para a idéia de “povo”, uma determinada parte do conjunto total dos participantes de uma sociedade, ou àquela que exclui os dirigentes e a elite econômica. Percebe-se, nessa perspectiva, a conceituação do popular por oposição ou, ainda, pela negativa. Aliando esse conceito ao de “cultura”, tem-se a cultura popular como sendo um conjunto de práticas culturais exercidas pelas camadas menos favorecidas da sociedade. No entanto, com um olhar mais atento, vê-se que a cultura popular está envolvida em relações muito mais complexas, que se moldam a diferentes conjunturas e servem, às vezes, a interesses opostos. García Canclini (2006, p. 1) percebe isso quando afirma: Hay éxitos tristes. Por ejemplo el de palabras como popular, que casi no se usaba, luego fue adquiriendo la mayúscula y acaba escribiéndose entre comillas. Cuando sólo era utilizada por los folcloristas parecía fácil entender a qué se referían: los costumbres eran populares por su tradicionalidad, la literatura porque era oral, las artesanías porque se hacían manualmente. Tradicional, oral y manual: lo popular era el otro nombre de lo primitivo, el que se empleaba en las sociedades modernas. Con el desarrollo de la modernidad, con las migraciones, la urbanización y la industrialización (incluso de la cultura), todo se volvió más complejo. Una zamba bailada en televisión ¿es popular? ¿Y las artesanías convertidas en objetos decorativos de departamentos? ¿Y una telenovela vista por quince millones de espectadores? Hay una vasta bibliografía que habla de cultura popular en espacios muy diversos: el indígena y el obrero, el campesino y el urbano, las artesanías y la comunicación masiva. ¿Puede la misma fórmula ser usada en tantos territorios? Assim, para operar a reflexão do significado do popular atualmente, dentro daquilo que pretendia neste trabalho, foi-me necessário percorrer a construção desse conceito, para depois refletir sobre a problemática colocada por García Canclini. Burke (1989) observa que é principalmente na Alemanha, no final do século XVIII e início do XIX, que essa visão da cultura popular tornou-se bastante aceita e rapidamente os setores cultos da sociedade passaram a se interessar por coleções de poesia popular, contos populares e música popular. É na obra de Herder e dos irmãos Grimm que melhor se definem as concepções e valorizações das produções populares. Não se trata apenas de uma valoração estética, mas de se encontrar nelas um tipo de expressão que estava em vias de desaparecimento. "A descoberta do povo" foi a denominação do historiador inglês para esse movimento e ele classificava as razões para que isso estivesse acontecendo naquele momento histórico. Eram elas: razões estéticas, que se referiam a uma insubordinação contra o artificial na arte culta e conseqüente valorização das formas simples; razões intelectuais, que tinham a ver com uma postura hostil para com o iluminismo, enquanto pensamento valorizador da razão, em detrimento do sentimento e das emoções; e, por fim, razões políticas, que estavam ligadas às hostilidades contra a França, e seu iluminismo, alimentadas por países como a Alemanha e a Espanha. Assim, a busca das identidades nacionais passava obrigatoriamente pelo "resgate" das tradições populares. Isso não quer dizer que os pesquisadores envolvidos tivessem que estar vinculados à questão nacionalista, pelo menos no que diz respeito ao aspecto político desta. Burke (1989) lembra, no entanto, que algumas edições de coleções populares de canções, foram largamente utilizadas com o intuito de produzir sentimentos nacionalistas. A descoberta da cultura popular foi, em larga medida, uma série de movimentos “nativistas”, no sentido de tentativas organizadas de sociedades sob o domínio estrangeiro para reviver a sua cultura tradicional (BURKE, 1989, p. 40). A visão romântica estabelecia uma antinomia entre a imaginação, a espontaneidade, a vida comunitária e a simplicidade, como atributos do povo, e o racionalismo e o utilitarismo, representados pela ilustração. Na mistura entre fascínio e nostalgia em relação a um mundo inacessível, a busca dos românticos para encontrar essa pureza e essa vida orgânica do povo, que faria frente aos artificialismos da vida burguesa preconizada pelos iluministas, deveria dar-se pelo estudo da poesia popular. Essa produção encarnava todo o espírito popular, no seu mais alto grau de singeleza e pureza, representando, no dizer de Burke, o verdadeiro "tesouro da vida", nessa empreitada de arqueologia romântica. Mas, se há uma visão positiva da cultura popular no movimento romântico, qual a idéia de “povo” que ela encerra? Os autores românticos viam na poesia popular um tipo de produção coletiva, desindividualizada, expressão dos anseios e desejos de toda uma coletividade. Ela ganha a atribuição de “poesia da natureza”, sublinhando, especialmente na obra dos irmãos Grimm, a eliminação do caráter de autoria das obras. Ortiz (s/d, p. 23) observa: Há neste ponto uma nítida contradição entre o movimento romântico nacionalista e popular, e os ideais do Romantismo. A visão egocêntrica do artista cede lugar ao anonimato da criação. Desvaloriza-se no indivíduo a capacidade de imaginação artística, ao mesmo tempo que a sensibilidade é deslocada para o pólo do ser popular. Neste sentido, a poesia de cultura é obrigatoriamente inferior à poesia da natureza. Pode-se perceber, pela característica de anonimato atribuída às produções populares, que o “ser popular” mencionado é uma condição idealizada não por seu caráter socioeconômico, sua função social ou seu modo de vida concreto, mas sim por ser guardião de uma memória esquecida, que corresponde ao que há de mais isolado e, portanto, mais conservado na cultura. Ortiz (s/d, p. 26-27) ainda esclarece: Esta concepção terá grande influência no pensamento posterior; ela estabelece a base de identificação entre os intelectuais e seu objeto de estudo. Tudo se passa como se o campo da cultura popular fosse análogo ao de uma formação geológica. Na superfície encontraríamos o pensamento letrado, com suas veleidades racionais e reflexivas. Descendo pelas camadas sociais, penetraríamos no segredo das jazidas escondidas. Por isso os pobres e os trabalhadores são personagens secundários da curiosidade romântica; [...] O intelectual, como um geólogo, caminharia pelas camadas intermediárias, para finalmente recuperar os restos arqueológicos cobertos pela poeira da história. A influência destacada pode ser percebida quando essa cultura tradicional se transforma em folclore e a imagem do geólogo define o procedimento a ser utilizado pelo estudo. Na realidade, as elites intelectuais redescobrem a cultura popular em meados do século XIX, a partir dessa perspectiva. Como os românticos, os folcloristas cultivam as tradições. Para eles, “o entendimento da cultura popular só é possível quando referido a uma ‘substância de cultura’ pertencente ao passado” (ORTIZ, s/d, p. 27). Para conhecê-la, era necessário recuperá-la em meio ao que havia sobrado de sua existência. Esse procedimento, no entanto, tem um propósito muito definido. Certeau, Julia e Revel (2003, p. 55) destacam, em sua análise, o caráter periculoso da cultura popular quando afirmam que esta “supõe uma ação não confessada. Foi preciso que fosse censurada, para ser estudada. Tornou-se, então, um objeto de interesse porque seu perigo foi eliminado”. O perigo a que se referem os autores foi a disseminação dos livros da literatura de colportage2 e o temor pelo modo como essas produções eram apreendidas e manipuladas pelas classes populares. Chartier (1995, p. 187) exemplifica esse comportamento, em relação aos textos da literatura picaresca: brincando com as convenções e com as referências carnavalescas, parodísticas e burlescas, foram, possivelmente, compreendidos como uma descrição verdadeira da realidade inquietante e estranha dos falsos mendigos e verdadeiros vagabundos. O receio se justificava na medida em que “essa cultura é tanto mais ‘curiosa’ quanto menos temíveis são os seus sujeitos” (CERTEAU; JULIA e REVEL, 2003, p. 57). Portanto julgar a cultura popular em vias de 2 Literatura divulgada, nos séculos XVII e XVIII, por meio de ambulantes e lida especialmente pelo povo. extinção, dedicando-se a preservar-lhe as ruínas constitui “o gesto que a retira do povo e a reserva aos letrados e amadores” (2003, p. 56). Quando foi criada pela Folklore Society, na Inglaterra, em 1878, a palavra “folclore” designava uma inovação que redefinia o estudo das tradições populares. O folclore vai acompanhando aos poucos a modificação da velha prática de antiquário para revelar contornos de uma disciplina científica que consagrava um determinado tipo de análise da cultura popular realizada sob o alcance do positivismo. Os folcloristas se reconhecem como grupos que levam o esclarecimento científico ao domínio popular e, para se caracterizarem como pesquisadores, buscam um novo paradigma que diferencie seus trabalhos dos estudos românticos. Iniciam pela crítica quanto ao excesso imaginativo que adulterou as tradições folclóricas, diluídas pelo lirismo do romantismo. Ao criticar a falta de método, os estudos folclóricos passaram a cumprir a função de conhecimento dos hábitos primitivos e de sua sobrevivência no mundo industrial. Assim, lançam-se os contornos da nova disciplina e o folclore encarrega-se das lendas, costumes e crenças do povo, ou seja, dos costumes das classes que foram menos alteradas pela educação e que, portanto, não participam do “progresso”. Não se trata mais de colecionar objetos, ao modo do espírito de antiquário, agora o povo é considerado como um relicário: é o “arquivo da tradição”, e seu saber deve ser preservado. “Os antiquários tinham lutado contra o que se perdia colecionando objetos; os folcloristas criaram os museus de tradições populares” (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 210) e, por isso, deve-se lutar contra o tempo, pois o grande esforço é para recuperar os traços de uma sobrevivência passada, no presente, através da descoberta das reminiscências. “Resgatar antes que acabe” passa a ser o lema para os estudos folclóricos. Esse procedimento revela limitações que desenham uma postura frente às classes que se pretende preservar. Ao situar a tradição apenas como algo circunscrito a um tempo passado, o folclorista focaliza os objetos culturais que pretende descrever com o olhar exótico e distante. Com isso, a visão de “arqueólogo” por ele incorporada lhe permite perceber os costumes populares como restos de uma estrutura social que se apaga e, por conseqüência, ele desconsidera o contexto e as tensões que permitiram a existência desses costumes. García Canclini (2003, p. 210) assim justifica: Se o modo de produção e as relações sociais que geraram essas “sobrevivências” desapareceram, para que preocupar-se em encontrar seu sentido sócio-econômico?[...] Ao decidir que a especificidade da cultura popular reside em sua fidelidade ao passado rural, tornam-se cegos às mudanças que a redefiniam nas sociedades industriais e urbanas. Ao atribuirlhe uma autonomia imaginada, suprimem a possibilidade de explicar o popular pelas interações que têm com a nova cultura hegemônica. O povo é “resgatado”, mas não conhecido. A trajetória européia dos estudos folclóricos encontra ressonâncias no Brasil. O país, na segunda metade do século XIX, está preocupado com a afirmação de uma identidade nacional, e a poesia popular aparece como um interessante material que, por estar menos sujeito a mudanças, estaria mais próximo de características genuinamente brasileiras. No entanto Ayala e Ayala (1995) ressaltam que essa procura do típico terá diferentes implicações, oscilando entre posições que percebiam as mudanças ocorridas como deturpações ou, no caso de um país novo como o Brasil, associadas à noção de progresso. Os estudos do folclore no país vão articular essas posturas e gerar diferentes soluções. Assim, enquanto Celso de Magalhães acredita que a poesia popular, nessa época, está passando por um processo de degeneração de sua origem portuguesa, José de Alencar e Sílvio Romero a percebem com uma transformação que revelaria traços próprios da cultura brasileira e que, portanto, teria o poder de assegurá-la como uma cultura independente. Mas, apesar de as produções populares figurarem como as mais legítimas representantes de nossa nacionalidade, as “fontes originais” estão associadas à noção de rude, rústico e ingênuo, e o popular é concebido como anacronismo, ou em oposição àquilo que entendemos por civilização. A construção desse antagonismo articula-se com a crença do desaparecimento das produções populares, uma vez que elas, por sua condição dita primitiva, seriam consumidas pelos avanços tecnológicos da modernidade. Assim, o cordel seria extinto pelos jornais e as danças e festas populares pelo contato com novas dinâmicas sociais. Dessa forma de articular o problema, os folcloristas definiram o seu método de trabalho. Como, para eles, o folclore é o elemento que modera o processo cultural com seus instrumentos próprios e necessários para a manutenção da ordem cultural nacional, é importante o esforço permanente no sentido de preservar as tradições nacionais e, por isso, justifica-se documentar o maior número possível de fragmentos de práticas culturais e costumes desaparecidos ou em vias de extinção. Cascudo (1984a, p. 24-25) afirma: A literatura folclórica é totalmente popular mas nem toda produção popular é folclórica. Afasta-a do folclore a contemporaneidade.3 Falta-lhe tempo. [...] o folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e contínua. Deverá ser sempre o popular mais uma sobrevivência. O popular moderno, canção de carnaval, anedota de papagaio com intenção satírica, novo passo numa dança conhecida, tornar-se-ão folclóricos quando perderem as tonalidades da época de sua criação. Das palavras de Cascudo pode-se perceber claramente a importância do fator tempo na definição do folclore. Para determinar um fato como folclórico, era necessário que este tivesse atravessado o tempo e se mantivesse persistente. Ser uma sobrevivência do passado no presente. Esse entendimento justificava estudarem-se os textos populares buscando-se estabelecer suas origens, captando-se marcas étnicas e comparando-se versões que se distanciavam geográfica e temporalmente, na busca de se encontrar a matriz do texto. Esse procedimento de coletar e catalogar o material recolhido reflete uma fluidez metodológica observada nas pesquisas folclóricas que leva ao impasse observado por Ortiz (s/d, p. 53). Para ele, o primeiro obstáculo que se impõe à nova disciplina é que: Seu nome designa simultaneamente o objeto a ser estudado e a própria ciência. Usa-se o termo “folclore” como sinônimo de uma área científica e das tradições populares. É interessante notar que os teóricos não se preocupam nunca com tal 3 Grifos meus. indeterminação; mas podemos nos indagar se, por trás desta equivalência semântica, não reside uma contradição estrutural: a incapacidade de distinguir entre a perspectiva teórica e o objeto apreendido. É fato que os folcloristas, seguindo a trilha dos românticos, contribuíram para a “descoberta do povo” nos estudos antropológicos, não sendo demais afirmar que o exercício de catalogação e mapeamento empenhado por esses pesquisadores oportunizou construir-se o cenário onde desfilam danças, costumes, crenças e, com a evolução de seus trabalhos, deu rostos aos participantes dessas práticas. Entretanto é preciso reconhecer que escapam à sua investigação os processos sociais nos quais a tradição se insere. Ao eliminar toda referência às práticas cotidianas que os compõem e para os quais foram feitas, essa maneira de conceber a cultura popular como a expressão de um povo pressupõe que uma determinada personalidade exista a priori, e não como um produto das relações sociais. Percebendo essa ausência nas pesquisas sobre o folclore e a implicação e complexidade que essas questões levantavam, novos paradigmas foram construídos para os estudos da cultura popular. Essas novas reflexões procuravam estabelecer relações entre as manifestações e outros elementos sociais e culturais que, direta ou indiretamente, participavam de um processo em constante transformação. No Brasil, essa perspectiva crítica de análise surge motivada por uma ruptura de concepções teóricas e metodológicas com relação aos estudos folclóricos e, conforme Ayala e Ayala (1995), vai se configurando principalmente a partir dos trabalhos realizados por Amaral (1976) e Andrade (1999), na década de 20 e, mais tarde, por outros pesquisadores, como Bastide (1959), Fernandes (1989) e Xidieh (1993). Todos eles têm em comum a preocupação de situar a análise das manifestações culturais populares no contexto sociocultural mais amplo em que elas ocorrem. Vinculando-as ao seu contexto de produção, percebem-nas dentro dos conflitos existentes entre os vários grupos que compõem uma sociedade marcada pelas diferenças de classes. Exemplifica essa nova postura o exame das narrativas populares colhidas por Xidieh (1993). Em sua pesquisa, esse professor constrói um estudo das narrativas de santos as quais circulam entre grupos rústicos inseridos na área rural e em áreas urbanizadas do estado de São Paulo. Seu trabalho teve como objetivo especificar a posição desses textos na cultura popular, verificando suas funções na sociedade rústica pesquisada. Das histórias recolhidas, o pesquisador extrai um sistema de informações que permite penetrar no universo do homem rústico, registrando seus princípios morais, suas práticas mágico-religiosas, que, no convívio social, apresentam padrões de referência para comportamentos definidos ao longo da vida dessas comunidades. Ao estudar a religião desses grupos, o autor pensa, portanto, o folclore4 como indissociável da vida dos indivíduos que dele compartilham. E, dessa observação, paulatinamente constrói uma metodologia que discute os obstáculos presentes na coleta e no registro do material, não pela recusa dos entrevistados a fornecê-lo, mas pela dificuldade dos colaboradores de racionalizar algo que é presente e vivo de existência em seu universo. Assim, o autor considera a paciência um dos melhores instrumentos para o pesquisador, pois não se trata apenas de recolher, mas sim de esperar que aconteça o que deve acontecer para que os relatos sejam naturalmente expostos. Essa metodologia aponta para uma postura de análise que leva em conta as transformações e mudanças culturais, considerando-as face à interação entre as culturas e suas relações sociais, uma vez que essas práticas são afetadas pelas condições de vida e de trabalho das próprias populações. Assim, para Xidieh (1976, p. 2), Numa mesma sociedade pode instaurar-se a dicotomia sociedade global e sociedades incluídas, aquela que homogeiniza e estas que subsistem apesar dos esquemas formais propostos e impostos pelo sistema dominante e onde podem concorrer com a cultura institucionalizada outras formas culturais pertinentes aos grupos diferenciados estruturalmente. [...] Cultura Popular é um fenômeno que se marca historicamente, mas cuja data de instauração só pode ser estabelecida sociológica e antropologicamente, mediante a constatação de situações em que novos e velhos modelos de vida sócio-culturais entram em conflito [...] o que pretendemos sublinhar é que a cultura popular, não sendo mais a cultura primitiva, perpetua, no entanto, por herança 4 Concluí que o autor considera uma sinonímia entre os termos “cultura popular” e “folclore”, a partir da acepção que faz deles no trabalho. ou por descoberta, inúmeros de seus traços e padrões: a tradição e analogia, a consideração dos fatos da natureza, a disposição mágica perante o mundo, o sentido da repetição. Mas um ditado popular expressa também sua dinâmica ”de hora em hora, Deus melhora” e está a indicar a possibilidade de renovação e de reelaboração. A idéia da possibilidade de reelaboração e de renovação de que trata Xidieh faz pensar que a cultura popular não morre, nem se desgasta pela aproximação e incorporação de elementos de outras culturas, porque o povo a constrói no seu cotidiano, nas condições em que a pode fazer, portanto não faz sentido tentar absolutizar os seus objetos ou manifestações à maneira do folclore. Então não parece útil, para explicar os processos culturais, considerar apenas a identificação e a representação das manifestações culturais. Necessita-se operar um deslocamento de focalização para os diferentes contextos, abrangendo as formas específicas de representação, reprodução e reelaboração simbólica das relações sociais que o povo produz no trabalho e na vida. Pensar nessa problemática me faz considerar as observações de Chartier (1995). Ao fazer suas próprias teorizações acerca do tema “cultura popular”, considera-a uma categorização erudita. Ao mesmo tempo que a afirmação é óbvia, ela explicita o que, muitas vezes, se encontra em estado latente, como possibilidade, mas não devidamente claro. Para além de enunciar as clivagens sociais, ela também explicita o poder de determinados agentes ou grupos de nomear e definir outros grupos. O autor lembra que os realizadores das práticas nomeadas como populares não costumam definirse como tal, e aqui posso acrescentar que isso só ocorre de maneira reflexa, como resultado da incorporação, por parte dos setores subalternos, de valores e conceitos oriundos dos setores hegemônicos da sociedade. A título esquemático, o historiador francês reduz, ressaltando o risco de simplificação, as diversas definições de cultura popular a dois modelos de abordagem e interpretação, a saber: o primeiro, que pensa a cultura popular como autônoma, com lógica própria e completamente irredutível à cultura letrada; e o segundo, que, focalizando as hierarquias existentes no mundo social, percebe a cultura popular em suas "dependências e carências em relação à cultura dos dominantes" (Chartier, 1995, p. 179). Ressalta, ainda, o historiador que esses dois modos de apreensão não são, muitas vezes, excludentes, ocorrendo até mesmo o uso das duas formas por um mesmo autor, ou numa mesma obra. Chartier (1995) também problematiza as datações que tentam dar conta da iminente descaracterização, ou mesmo do desmantelamento da cultura popular. Acrescento aqui mais um fator da suposta ruína: a constituição, já no século XX, de um sistema de comunicação e entretenimento conhecido como “indústria cultural”, ou de comunicação de massa. Assim, Chartier opera um deslocamento de focalização para enunciar que o problema da cultura popular não está em datar-se o momento de sua ruína, mas sim em identificar-se como se dá o relacionamento entre as formas impostas e aculturantes, de um lado, e as táticas operadas pelos setores subalternos, de outro. Há, para ele, um espaço entre as injunções constrangedoras e a recepção rebelde e matreira. Essa linha de raciocínio vai levá-lo a pensar nos usos ou, ainda melhor, nos modos de usar objetos, discursos etc., por parte do "popular", de modo que, nesses usos, como práticas sociais, é que se possa encontrar o "popular". Dessa forma, ele afirma que é Inútil querer identificar a cultura popular a partir da distribuição supostamente específica de certos objetos ou modelos culturais. O que importa, de fato, tanto quanto sua repartição, sempre mais complexa do que parece, é sua apropriação pelos grupos ou indivíduos. Não se pode mais aceitar acriticamente uma sociologia da distribuição que supõe implicitamente que à hierarquia das classes ou grupos corresponde uma hierarquia paralela das produções e dos hábitos culturais. (CHARTIER, 1995, p. 184). A questão dos usos diz respeito diretamente ao conceito de “apropriação”. É através da apropriação que se dá a operação de "produção de sentido" por parte dos setores não-hegemônicos. É por meio dela que a recepção se torna "matreira" e "rebelde", “pois não se manifesta através de produtos próprios e sim através de modos de usar os produtos impostos pela ordem econômica dominante” (CHARTIER, 1995, p. 185). Com essa operação, Chartier tenta superar as abordagens que qualificavam a cultura popular como universo simbólico autônomo ou dependente. A preocupação com a questão do uso, em detrimento de um recorte que privilegie o objeto, também está presente, de forma contundente, nas análises de García Canclini (2003), quando ele faz a crítica dos estudos folclóricos latino-americanos, tomando-os estes como tributários de toda uma linha de pensamento folclórico que remonta, como já visto, ao final do século XVIII na Europa. A despeito de todo o esforço para situar as produções populares dentro da cultura nacional de seus países, essas iniciativas esbarravam em, pelo menos, duas dificuldades teóricas e epistemológicas. O primeiro problema diz respeito à identificação do folk com determinados grupos isolados "cujas técnicas simples e a pouca diferenciação social os preservariam de ameaças modernas" (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 211). Nessa linha de raciocínio García Canclini afirma que os folcloristas se empenharam muito em recortar o objeto, com sua materialidade, do processo social que o gera. O segundo problema diz respeito aos vínculos dos antropólogos e folcloristas latino-americanos com os movimentos nacionalistas de seus países. Essa convergência concorreu para transformar muitos desses pesquisadores em legitimadores de uma ordem que se configura a partir da construção de uma identidade nacional. O problema se agrava ainda mais quando determinados princípios, como "deixemos de teoria; o importante é colecionar" (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 212), de inspiração finlandesa, passam a fazer parte do modus operandi dos folcloristas mexicanos. Como desdobramento dessa linha de ação, vai surgir "um empirismo raso", com grande ênfase nos materiais e pouca atenção às relações sociais que informam a produção desses bens. Percebe-se aqui um duplo contato entre as formulações de García Canclini (2003) e Chartier (1995): o historiador francês também afirma que não é possível aceitar a idéia de que haja um paralelismo entre uma hierarquia dos grupos sociais, de um lado, e uma hierarquia das produções e hábitos culturais, do outro; o outro item de convergência se dá na constatação de que o "popular" não está nos objetos, mas nas práticas sociais que o conformam. García Canclini (2003) parece estar mais interessado em captar a cultura popular em seu devir, em situá-la dentro das novas relações de produção e consumo, que se instauram em novos cenários nos quais a cultura popular se situa. A sua crítica tenta, então, evidenciar os aspectos ideológicos das operações conservacionistas, ou de "resgate das tradições supostamente inalteradas" (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 218). Trata-se, por essa linha de raciocínio, de indagar como as culturas populares estão se transformando, em face das novas interações com a modernidade. As constatações vão desde a inexistência de produtos culturais que estabeleçam relações com grupos fixos até concluir-se que o popular se constitui por processos híbridos que se engendram de forma complexa. Uma mesma pessoa pode participar de diversos grupos folclóricos, é capaz de integrar-se sincrônica e diacronicamente a vários sistemas de práticas simbólicas: rurais e urbanas, suburbanas e industriais, microssociais e do mass media (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 220). Sarlo (2004, p. 100) lembra aos leitores que “já se disse que o interesse pelas culturas populares é contemporâneo ao momento de seu desaparecimento”. A autora considera essa afirmação, porque as culturas populares, em seu sentido “puro”, não existem mais, já que não há culturas que estejam isentas do contato com o capitalismo e, com ele, da influência determinante dos meios de comunicação de massas. Hibridização, mestiçagem, reciclagem e mescla são alguns nomes para definir o fenômeno. A autora credita à comunicação de massa, em especial à televisão, a responsabilidade por uma “nova cartografia cultural”, na medida em que constrói um racha nas tradições. Definindo novos padrões para a autoridade, essa comunicação reconfigura o tempo e espaço e lhes dá novas dimensões. Para Sarlo (2004, p. 104), A cultura da mídia converte a todos em membros de uma sociedade eletrônica, que se apresenta imaginariamente como uma sociedade de iguais. Aparentemente, não há nada mais democrático do que a cultura eletrônica, cuja necessidade de audiência a obriga a digerir sem interrupções, fragmentos culturais de origens as mais diversas. No entanto a participação da mídia na ressignificação dos modos como os setores populares se relacionam com a sua própria experiência não consiste numa absorção e incorporação pacífica das práticas dos setores hegemônicos. Isso porque, se as classes populares realizam esses processos compartilhando com a “alta cultura” as condições de produção, circulação e consumo do sistema em que vivem, o fazem mediante práticas e formas de pensamento próprias. Esse expediente permite resguardar-se o espaço próprio da recepção, do uso e da interpretação que as classes subalternas constroem em relação ao que absorvem. O olhar para essa questão tem, então, que perceber, como questiona Certeau (2003a, p. 40), Que procedimentos populares [...] jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, que “maneiras de fazer” formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou dominados?), dos processos mudos que organizam a ordenação sóciopolítica. Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas quais os usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural. Assim, Certeau propõe o interesse não pelos produtos culturais oferecidos no mercado dos bens, mas pelas operações construídas pelos usuários desses produtos. Na perspectiva de marcar socialmente o desvio dos dispositivos discursivos e institucionais que visam disciplinar as práticas desses indivíduos, essa “criação anônima” insere-se nas práticas do cotidiano. Então, pode-se dizer que, se toda produção cultural dos setores subalternos surge a partir das condições materiais de vida e nelas está arraigada, as canções, crenças e festas são invariavelmente ligadas ao cotidiano modos de trabalho, de convivência, formas de pensar das comunidades que as praticam e trazem dentro de si usos e significações que justificam comunitariamente sua existência. Ayala (2002, p. 1) exemplifica essa posição quando percebe que aprender a dançar, cantar e tocar instrumentos bem cedo, da mesma forma que auxiliar nos serviços, são necessidades para moldar o corpo e a resistência para o tempo do trabalho e para seu oposto, o tempo das festas, também necessário à vida. No entanto, tal condição se permite alterações, uma vez que essas comunidades não participam isoladamente das imposições e representações do mercado. Ayala (2002) destaca o uso e o sentido do tempo histórico, que comporta a coexistência paralela de um tempo comunitário, regido pelas festas e experiências que constituem o universo da comunidade, e um tempo industrial, comandado pelo relógio e no qual se impõe a disciplina do trabalho. Em cada um deles, tem-se um modo de realização das manifestações culturais em diferentes contextos, que vão da participação dos sujeitos nas festas e danças, como brincantes ou devotos, o que acontece nas casas dos amigos e no próprio povoado, até contextos em que são regidos pela lógica do espetáculo, nos quais fazem apresentações em eventos turísticos e culturais e são tratados como artistas. Esse processo pode gerar conflito ou acomodar-se aos interesses dominantes. O oscilar de tempos e contextos em que pode desenvolver-se a cultura popular depende do acionar de experiências culturais e sociais de seus participantes e, portanto, distancia-se do sentido do tempo − que já foi discutido − em Cascudo. Não se pode pensar em sobrevivência de um tempo passado no tempo presente se, de alguma forma, eles se comunicam e se atualizam, num constante processo de hibridização. Assim, a reelaboração das práticas populares se constitui num processo natural que enriquece as representações dessas práticas. Como observa Ayala (1997, p. 168-169), O processo de hibridização da cultura popular, a meu ver, constitui sua maior riqueza. É a mistura que permite a recomposição de danças populares, através dos remanescentes de diferentes grupos, que, por algum motivo tenham parado de dançar por perda dos mestres, mudança de cidade ou de região, entre outras. A necessidade de manter as práticas culturais encontra na mistura o procedimento fundamental para impulsionar os artistas populares a recompor suas atividades com as ruínas da experiência individual (mas de base coletiva) que sobraram na memória de cada um. Dessa forma, o caminho para se perceber o complexo de relações que envolve as práticas populares requer puxar os fios que enovelam a caudalosa mistura daquilo que o povo produz no trabalho e na vida como forma específica de representação do mundo. Pensar na preservação das tradições populares é muito mais do que “guardar” objetos, cantos, danças, textos e festas, como podem supor aqueles que insistem em que, ao fazê-lo, proporcionam aos setores populares uma fonte de renda complementar, ou aos turistas uma atração exótica. É preciso perguntar-se o que é hoje a cultura popular, quais os problemas que se apresentam na sua produção e execução e quais as relações que se estabelecem quando diversas culturas se defrontam. Para obter respostas para tais perguntas, é necessário voltar o olhar para aqueles que se representam por intermédio dessa cultura. É nesse território que se constituem os contrastes e as relações que mantêm essa cultura viva e presente. No trajeto da pesquisa desta tese foi construída a posição que define a cultura popular como conjunto de significados vivos que estão em contínuo processo de modificação, existindo como um elemento indissociável da vida das pessoas que dela compartilham. As práticas culturais por elas exercidas não se reduzem a objetos culturais a serem colecionados, mas são produtos significantes de sua atividade social e desse modo é que essas práticas articulam-se na esfera do social e do político. Por essa ótica, acredito ser impossível estudar essas relações sem considerar a voz desse indivíduo que participa da produção de bens culturais, considerando que ele é um sujeito agente na comunidade à qual pertence, reproduzindo nela sua visão própria de mundo, seu estilo e suas impressões, mesmo lidando com atividades que carregam o peso de uma tradição distante de sua realidade. Nessa perspectiva, tentei ver a figura de D. Militana, personagem desta pesquisa. Conhecê-la requer ouvir sua própria voz. Para reverenciar sua memória e admirar os versos que canta, precisei pôr em primeiro plano seus modos de vida e o sentido que os poemas narrativos têm para esse sujeito, pois o verso cantado, como produto cultural, é o resultado das relações que ele mantém com a sociedade em que se insere. Dessa forma, pude perceber o seu canto, como este se institui nos dois espaços que ocupa − o público e o privado − e como esses diferentes espaços se articulam na definição de uma prática cultural. A minha responsabilidade como pesquisadora, diante deles é, portanto, aprofundar os sentidos para captar o teor da voz que se impõe acima da artista consagrada D. Militana, e deixar que surja nesse cenário a cadeia de elementos que permitem que seus versos se afirmem onde realmente existem: no cotidiano. 1.2. D. Militana: a romanceira do Oiteiro Após ter tomado posição em relação ao estudo da cultura popular, propus lançar a atenção para a protagonista desta história. Escolhi um olhar em perspectiva, por acreditar que ele permite a visão dos diferentes planos sem, de fato, evidenciar em demasia nenhum deles e, assim, considera os diversos detalhes que compõem o cenário analisado. Diante da experiência com a colaboradora desta pesquisa, acredito que esse pode ser um interessante caminho para procurar ouvir a sua voz em todas as dimensões em que ela pode ecoar. Conheci D. Militana no espaço público, já que pude apreciar algumas apresentações da artista. Após analisar seu desempenho no palco, constatei uma maneira de portar-se em público que foi sendo gradativamente modificada. Assisti, pela primeira vez, a um show dessa artista na CIENTEC5. Na ocasião, ela cantou apenas quatro cantos, talvez por seu nome fazer parte de uma programação muito extensa de grupos populares a serem apresentados. Embora em uma apresentação rápida, e com o nervosismo que ela deixava transparecer, posso dizer que sua atitude no palco foi marcante. Ela foi anunciada como o destaque entre as apresentações culturais populares e fez jus à homenagem recebida com uma postura dotada de uma altivez e seriedade. Ao entrar no palco, após um breve momento de concentração, em que esperava o silêncio do público, a artista iniciou o seu canto. Sentada numa cadeira, com postura firme e o polegar apoiando o queixo, dando uma expressão instrospecta ao rosto, cantou dois romances (A Bela Infanta e O romance da Nau Catarineta) de forma solene, deixando fluir a voz gutural. Instantes depois, D. Militana terminou a apresentação, de forma rápida, cantando o coco da lagatixa e sua tradicional despedida. Após isso, levantou-se também rapidamente, apoiou sua bolsa nos ombros e foi embora sem esperar os cumprimentos da platéia, deixando claro o seu desconforto pela situação. Em outra apresentação, realizada no Festival MADA6, no ano de 2003, sua figura parecia mais acostumada com o palco e mais desenvolta para lidar com o público. Mesmo diante de jovens, uma vez que estes eram o público-alvo do festival, não se intimidou: cantou e brincou com a platéia, cantando pequenos versos para divertir e lançando adivinhas. Como a apresentação descrita anteriormente, esta também foi rápida, mas, dessa vez, a artista interagiu com o público, sendo mais receptiva ao assédio das pessoas. No entanto ainda conservou o ímpeto de terminar o show quando lhe convinha, pois o fez de forma abrupta. Talvez a consciência de sua fama e importância tenha sido o elemento principal para a desenvoltura de D. Militana junto ao público. Ela tem motivos para pensar assim, pois, ao se perguntar a qualquer potiguar que se interesse pela cultura popular do estado quais os personagens que nela figuram de forma ilustre, o nome de D. Militana estará certamente 5 CIENTEC é a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No ano de 2000, D. Militana participou do evento como um dos grandes destaques da programação cultural. 6 O Festival MADA - Música Alimento da Alma - é um evento que tem uma proposta alternativa à música difundida no grande circuito musical nacional, buscando pôr em evidência grupos e bandas de todos os estilos musicais. participando desse panteão. E não é para menos, porque Militana Salustino do Nascimento é considerada a mais famosa e conhecida romanceira do estado do Rio Grande do Norte. Nascida no município de São Gonçalo do Amarante, no povoado de Barreiros, ela viveu, até pouco tempo, no sítio de sua propriedade, herança de sua família, o Sítio Oiteiro. Por essa razão é também conhecida como “a romanceira do Oiteiro”. Hoje, por problemas de saúde e pela idade já avançada, vive com uma filha, no Loteamento Alto de Canaã, em São Gonçalo do Amarante. Recentemente, em novembro de 2005, D. Militana foi uma das 34 personalidades agraciadas pelo Ministério da Cultura com a Ordem do Mérito Cultural, comenda inédita para uma personalidade do estado do Rio Grande do Norte. Na cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, recebeu a comenda do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A solenidade contou com a presença de vários Ministros de Estado, entre eles o Ministro da Cultura, Gilberto Gil. No meio cultural norte-rio-grandense é unânime reconhecer que os responsáveis por essa evidência do nome de D. Militana nos cenários potiguar e nacional são o folclorista e pesquisador Deífilo Gurgel e o Projeto Nação Potiguar, que tem a coordenação do pesquisador Dácio Galvão e da fotógrafa Candinha Bezerra e cujo objetivo é mapear a cultura sonora do estado do Rio Grande do Norte. De fato, pode-se dizer que o professor Gurgel foi o “descobridor” de D. Militana, entre muitos outros nomes catalogados nos dez anos de trabalho do Projeto Romanceiro Potiguar (GURGEL, D., 1992) realizado quando ele foi professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ao Nação Potiguar credita-se a revelação do nome da artista ao público nacional, através da divulgação midiática de seus cantos, bem como a apresentação da romanceira no espetáculo Lunário Perpétuo, do consagrado artista nacional Antônio Nóbrega7. A notoriedade de D. Militana é bastante justificada. Ela foi proclamada pela pesquisadora Leide Câmara (2001) “a maior romanceira do 7 D. Militana já havia participado, no ano de 1999, do show do mesmo artista, com o patrocínio da Fundação José Augusto. Brasil”. A artista já se apresentou nos grandes centros do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, acompanhando artistas nacionais, e em outros estados, como Sergipe, onde participou como figura central da 4ª Jornada de Estudos Medievais. Além disso, gravou um CD/livro próprio8; participou de outros três discos9; foi tema do ensaio fotográfico Gestos e Romances, realizado pela fotógrafa Candinha Bezerra; tem seus cantos e sua história tematizados em dois vídeos produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 10; fez uma participação no Projeto Música do Brasil, coordenado pelo antropólogo Hermano Viana e apresentado pelas redes de televisão MTV e Cultura; participou do espetáculo Auto de Natal 11, em 2003, como uma das únicas representantes dos artistas populares do estado; além de marcar presença em outros tantos eventos musicais e acadêmicos, como os já mencionados Festival MADA e CIENTEC. A descoberta e a divulgação do nome de D. Militana têm o mérito de apresentar ao público a figura enigmática dessa senhora que conhece e canta, com voz firme e gestos imponentes, os mais diversos gêneros da literatura oral, e essa é uma maneira legítima de prestigiá-la. Registrar os cantos que permeiam o universo poético da artista ajuda a divulgar o repertório sonoro popular do Rio Grande do Norte e, de forma justa, consagra o nome daqueles que participam efetivamente dessa cultura. No entanto, ao analisar mais detidamente a construção da trajetória artística de D. Militana, me parece inegável que esse percurso está significativamente contagiado pela perspectiva da preservação e resgate das tradições populares, que, como já foi visto, limita as práticas culturais a uma coleção de objetos e nega o olhar atento para a cultura popular e seus 8 O triplo CD/ livro chama-se Cantares e foi lançado pelo Projeto Nação Potiguar, em 2002, e produzido em uma parceria entre a Fundação Hélio Galvão e o Scriptorin Candinha Bezerra. Com 54 cantos, nele estão reunidos romances, xácaras, modinhas, cocos, romarias, aboios, enfim uma grande variedade de gêneros relativos à literatura oral. 9 Os três CDs que têm a participação de D. Militana são: Violeiros & Cantadores, gravado em janeiro de 1997, em Aracaju; Romances e Cantos de Excelências, (Fundação José Augusto-RN) e Songa Também dá Coco, (Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, 1999). 10 Os vídeos mencionados dizem respeito aos trabalhos da Professora Ivanilda Pinheiro da Costa, A Romanceira do Oiteiro, e do Prof. Cláudio Cavalcante, A Romanceira, ambos produzidos pela Oficina de Tecnologia Educacional da UFRN. 11 O Auto de Natal é o mais importante espetáculo do ciclo natalino na cidade de Natal. No ano de 2003, teve a direção de Moacyr de Góes e a participação dos artistas nacionais Elba Ramalho e Lázaro Ramos. Em sua sexta edição, o espetáculo apresentou uma versão sobre o auto poético Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. contextos. Essa constatação remete à idéia de que o olhar lançado para prestigiar D. Militana não alcança o sujeito, portanto não permite visualizá-lo a partir de seus referentes. Para melhor aprofundar essas constatações, escolhi percorrer as diversas publicações nas quais se destaca o nome de D. Militana. Entre livros, encartes culturais, apresentações de trabalhos artísticos e artigos na imprensa, revelou-se para mim o retrato da “romanceira do Oiteiro”, sobre o qual quero refletir. Começo, então, pela própria denominação do gênero poético-musical que ela domina e que motiva a denominação de “romanceira” a ela atribuída. O questionamento justifica-se, já que o repertório da artista não se limita aos romances cantados, abrangendo, como já foi dito, diversos gêneros da literatura oral. Então, pode-se creditar essa denominação ao momento de sua descoberta, que se deu em meio à pesquisa já referida sobre o romanceiro potiguar. O estudo do romanceiro no Rio Grande do Norte tem uma significativa referência ao passado histórico desses cantos. O romance, para a poesia popular, é um gênero que se caracteriza, como descreve Nascimento (Apud CIACCHI, 1988, p. 12), como um poema narrativo dialogado, de transmissão oral, com temática variada, predominantemente destinado ao lazer ou ao trabalho, que se reelabora tradicionalmente em versões, segundo os contextos culturais, mediante processos de comutação, em nível de estrutura superficial, que reproduz estruturas profundas textuais relativamente estáveis. Oriundas da Península Ibérica e transplantadas para o Brasil durante o período da colonização, supõem os estudiosos que essas narrativas populares cantadas em forma de verso são fragmentos das longas epopéias medievais que cantam os grandes temas universais. Distribuídas da forma oral ou escrita, a estrutura narrativa herdada da Europa, em paralelo com a versão fixada no códice manuscrito e no livro ou folheto impresso, adaptaram-se tão perfeitamente aos temas e vozes nordestinos, que estes os assimilaram e modificaram, acrescentando, suprimindo, e até interpolando, umas vezes consciente, outras inconscientemente. Com os estudos dos folcloristas, os romances foram aqui descobertos. Os primeiros estudos devem-se à figura de Câmara Cascudo. A ele, credita-se o pioneirismo em mapear com tantas cores e formas a geografia da cultura do povo, não apenas deste estado, mas, por que não dizer, do Nordeste brasileiro. Seu estudo mais específico sobre o romance foi o livro Flor de romances trágicos (CASCUDO, 1982). A sua trajetória deixou herdeiros, entre eles o estudioso Hélio Galvão, que coletou, na praia de Tibau do Sul, 21 romances reunidos e publicados no livro Romanceiro pesquisa e estudo (GALVÃO, 1993), e o pesquisador Deífilo Gurgel, com o projeto já referido. O método, o objetivo e o alcance de seu projeto, o professor Gurgel descreve assim: Somente a partir de 1985, iniciou-se no Rio Grande do Norte uma pesquisa sistemática sobre o Romanceiro, patrocinada pela UFRN e que levou o nome de “Projeto Romanceiro Potiguar”. Tal pesquisa, que abrangeu todo o território do Estado e durou até 1995, levantou um total de 416 versões de romances [...]. Dessas versões, algumas são verdadeiras preciosidades, como as onze do “Paulina e D. João”, de Hélio Galvão, recolhidas nas mais diversas regiões do Estado; uma única versão do romance religioso “Jesus Cristo e o lavrador” ou “O Milagre do Trigo”, ausente nas coletas de outros Estados e a única versão potiguar da “Xácara dos namorados” ou “Florioso”, além de várias versões de romances religiosos portugueses, ainda não coletados no Brasil. (GURGEL, D., 1999b, p. 3) Quanto aos nomes daqueles que trazem consigo o romanceiro, Deífilo Gurgel (1999b, p. 2) lembra o poeta Fabião das Queimadas, enumera alguns informantes e faz um alerta aos pesquisadores: Tá na hora dos pesquisadores do Estado ganharem o bredo, no rumo do Potengi, porque há informações de outros poetas do romanceiro, na região. Quem sabe não surgirá por lá uma novo Fabião das Queimadas ou vários deles?[...] Há muita gente perdida nessas vilas e arruados, nesses pés-de-serra sertanejos, esperando por nossa boa vontade de pesquisador. Pode-se perceber, na apresentação do folclorista, o tom apaixonado no qual ele relata a coleção de textos que conseguiu reunir com seu trabalho de coleta. Um esforço justificado para quem acredita ser necessário reunir o maior número de fragmentos que indicam a sobrevivência de um passado no presente e que, portanto, precisam ser coligidos em um acervo que possa salvaguardá-los da extinção. Para esse pesquisador, alguns textos são “preciosidades”. A descrição remete imediatamente à imagem das formações geológicas já descritas por Ortiz (s/d). Pela importância da distância temporal e geográfica que esses textos têm para a pesquisa, pode-se entender que a abordagem que é feita do romance, como manifestação cultural, segue a preocupação de estabelecer as origens, captar marcas étnicas, segmentos temáticos e determinar variações na estrutura verbal do poema que revelam o grau de fidelidade em relação à matriz do texto. A empolgação do pesquisador deixa entrever o papel secundário dos sujeitos que relatam para ele os romances. Aliás, a própria denominação de “informante” que confere aos sujeitos que colaboram com a sua pesquisa os exclui da participação efetiva na atribuição dos sentidos dos textos. O alerta que faz Gurgel aos pesquisadores promove uma inversão dos valores: os artistas estão lá, mas precisam ser descobertos. Isso indica que necessitam de que alguém os legitime como tal, ou seja, o lugar da atribuição de sentido é de quem pesquisa, e não dos agentes que produzem esses cantos. Pode-se imaginar o trabalho do pesquisador na cena descrita por Burke (1989, p. 31) em relação à “descoberta do povo”: Os artesãos e camponeses decerto ficaram surpresos ao ver suas casas invadidas por homens e mulheres com pronúncias de classe média, que insistiam para que cantassem canções tradicionais ou contassem velhas estórias. Apesar de citar os nomes, a referência aos “informantes” inviabiliza um olhar mais atento para as personagens que cantam essas histórias. O significado dos versos para suas vidas não desperta o interesse da pesquisa e faz de suas vozes somente cantos de um espetáculo feito sob medida para os que sempre se põem de fora daquelas “inocentes brincadeiras”, como se nada daquilo fizesse parte de um mundo real, com pessoas reais, que têm no seu modo peculiar de vida a explicação para seus dons. O nome de D. Militana, ou Maria José12, nome pelo qual ela gosta de ser chamada, está entre os destaques das descobertas do professor Deífilob. Assim ele a define: Se Fabião das Queimadas é a figura maior do romanceiro potiguar, como autor de algumas peças do maior significado para a literatura oral brasileira, Maria José, (na pia batismal Militana Salustina do Nascimento) é, por sua vez, nossa informante mais famosa como conhecedora de algumas dezenas de peças raras dos romanceiros ibérico e brasileiro. Maria José nasceu a 500 metros da cidade de São Gonçalo do Amarante, num sítio chamado Oiteiro e tem tudo a ver com a cultura lusitana, a partir do próprio nome da cidade (...) até terminar por ela própria, Maria José, cujo nome de Militana evoca hagiológios medievais (GURGEL, D., 1999b, p. 2). O fato de “conhecer peças raras dos romanceiros ibérico e medieval” eleva a cantadora à categoria de mais importante informante do romanceiro. Ao apresentar para nós leitores, essa personalidade tão importante, o professor constrói um elo com a cultura lusitana, que vai desde o nome da cidade até o da romanceira. Pela lógica do folclore, os romances, e, conseqüentemente, seus informantes adquirem status de valor por serem a herança cultural de povos antigos. Por serem percebidos cristalizados no tempo e vinculados a uma cultura hegemônica (européia), esses textos se tornam reconhecidos. O romanceiro medieval redescoberto nos sertões nordestinos nos vincula a um passado grandioso que reconstrói para nós uma tradição imaginária, ou, como afirma Ortiz (s/d, p. 27), referindo-se ao pensamento romântico sobre a cultura popular: Em nosso caso, deveríamos talvez falar da invenção do conceito de “tradição”. O entendimento da cultura popular só é possível quando referido a uma “substância de cultura” pertencente ao passado. 12 A questão do nome Militana ou Maria José tem várias implicações nas discussões propostas por este trabalho. Assim, aprofundarei esse debate no próximo item deste capítulo. A aura criada em torno da figura de D. Militana segue a mesma linha nas diversas referências ao nome da artista no material de divulgação de seu nome pela imprensa. Se seu destaque está nos textos que canta, muito mais louvável é saber que esses cantos estão armazenados na memória e ali chegaram pelo processo de transmissão oral, uma vez que a romanceira não sabe ler nem escrever. No entanto chama a atenção as referências feitas à memória de D. Militana, que a aproximam de um arquivo vivo, já que guarda para si um número fabuloso de romances. A matéria de divulgação do CD/livro escrita pelo jornalista Mauro Dias para o jornal O Estado de São Paulo reflete essa percepção, a partir de sua manchete: A memória de 700 anos de D. Militana. O jornalista ainda completa: Dona Militana canta romances, histórias centenárias, sobre reis, e princesas, duques e plebéias, com cenário em Roma, Milão (ou Milhão, como ela pronuncia), Bruxelas, monarcas turcos e suas filhas – histórias terríveis, romances de amor e de morte, de ciúmes e vinganças mantidas, por algum motivo, a ser descoberto, num formato muito próximo ao da origem, os cantadores medievais da península ibérica. [...] Dona Militana não precisou recriar nada. Ela sabe, de memória, como as coisas eram há 500, 600, 700 anos (DIAS, 2002, p. 1). É, para mim, difícil imaginar como se constitui uma memória de 700 anos. Busquei auxílio na literatura e lembrei-me de um conto de Borges (2001), Funes, o memorioso, que narra a história de um certo Ireneo Funes, homem dotado de uma impressionante memória, capaz de reunir um volume incomensurável de dados. Metáfora da memória infinita, a memória plena do personagem é recheada de informações, que se acumulam e se prestam a empreendimentos de classificação, tecendo para Funes um mundo alheio às generalizações, mundo de detalhes, incapaz de síntese. Prisioneiro de sua memória implacável, ele torna inútil a própria memória, que cultua. Incapaz de escolher e, sobretudo, de esquecer, vive condenado eternamente à repetição invariante. Os registros passados simplesmente se acumulam em sua memória e ele, de forma resoluta, apenas os reproduz. Essa invariável condição o leva à morte. A história de Funes pode ser vista como uma alegoria daquilo que se percebe nas palavras do jornalista como a memória de D. Militana. A memória é uma categoria importante para se pensar a cultura popular, porque esta é o centro vivo da tradição. Mas, afirmar que a artista “sabe de memória como as coisas eram há 500, 600, 700 anos” significa considerá-la apenas um repositório dessa tradição, anulando a sua vivência e experiência com o mundo. É situá-la antes de seu tempo, desconsiderando sua existência. Para o jornalista, como a memória de Funes, a de D. Militana não recria, apenas reproduz; portanto torna-se inútil, anula-se. A síntese é o que ressignifica a existência; sem ela, o acumular de informações destrói os tempos idos, com suas persistências e esquecimentos. Relembrar não é recuperar o passado na sua inteireza, na sua pureza e totalidade, como pensava Bergson (BOSI, E., 2001, p.54), mas é refazer, com base em idéias e valores de hoje, parte desse passado, pois a memória é seletiva: nem tudo fica gravado ou registrado. Fica o que significa, o que representa, e não do mesmo modo, mas levando em consideração as experiências adquiridas pelas pessoas. Por essa ótica, D. Militana não é somente admirável por sua memória, como repositório, uma vez que ela é ativa. Os textos que canta não são somente dignos de atenção e registro por serem frutos de uma herança distante, pois se reelaboram e se reconstroem a partir das vivências desse sujeito. Enfim, são expressões de como esse indivíduo significa e reelabora suas práticas culturais. A relação incontestável entre a memória e a tradição me leva a pensar o papel desta última em relação às culturas populares. Bornhein (1997) ressalta que “tradição”, etimologicamente, vem do latim traditio, designando o ato de passar algo de uma geração a outra, e relaciona esse ato ao conhecimento escrito e oral. Ou seja, a tradição pode ser elaborada como algo que é dito e entregue de geração a geração. Dessa forma, Estamos, pois, instalados numa tradição, como que inseridos nela, a ponto de revelar-se muito difícil desembaraçar-se de suas peias. Assim, através do elemento dito ou escrito algo é entregue, passa de geração em geração, e isso constitui a tradição – e nos constitui (BORNHEIN, 1997, p. 18). Se a tradição constitui o homem enquanto ser social, então é difícil perceber D. Militana como percebe o crítico Tarik de Sousa. Em matéria para o Jornal do Brasil, ele a considera o elo perdido com uma Europa das cruzadas, de romances e princesas, da Nau Catarineta e incontáveis histórias e causos que enovelam fatos e lendas, algumas com mais de 500 anos. [...] como Fabião (que não chegou a ser registrado em disco e de quem há apenas uma imagem) Dona Militana integra a linhagem de guardiões orais do romanceiro medievo [...] Dona Militana conecta o Brasil das Elites desmemoriadas com a parte mais nobre de sua ascendência (SOUZA, 2006, p.1). Para melhor esclarecer como funciona o pensamento que norteia a referência como “elo perdido” feita à artista, é necessário reportar-se ao popular, olhando pelo prisma do folclore. Já foi discutido que, para ele, o povo aparece como detentor de um saber denominado tradicional, que guardaria as especificidades nacionais, os elementos que compõem a identidade nacional e, por essa razão, se justificaria a preservação de seu saber, em face dos avanços das mudanças exteriores da modernidade. García Canclini afirma que hoje existe, em amplas camadas hegemônicas, uma propensão para o tradicionalismo, o qual pode combinarse com o moderno, desde que a exaltação da tradição se limite à cultura e que a modernização se perpetue nos âmbitos social e econômico. Nesse sentido, interessam mais os bens culturais - objetos, lendas, músicas - que os agentes que os geram e consomem: Essa fascinação pelos produtos, o descaso pelos processos e agentes sociais que os geram, pelos usos que os modificam, leva a valorizar nos objetos mais sua repetição que sua transformação (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 211). Dessa forma, valorizar esse conjunto de bens e práticas que identificam o indivíduo com uma nação é apreciar a própria dimensão do passado, carregando-o de um prestígio simbólico inquestionável: já que “o patrimônio cultural se apresenta alheio aos debates sobre a modernidade ele constitui o recurso menos suspeito para garantir a cumplicidade social” (GARCÍA CANCLINI, 2003, p. 160). Assim, a evidência de que, se compartilha um passado descaracteriza o modo como ele age sobre o presente, levando os indivíduos para além das divisões de classes, etnias e grupos que existem na sociedade. Dessa forma, a “guardiã do romanceiro medievo” funda entre as elites e as classes populares um passado glorioso comum que apaga as diferenças e isenta os indivíduos, enquanto sociedade, de pensar nas contradições sociais nas quais o conjunto de bens culturais que deve ser preservado foi formulado. Esse movimento descompromete o ser social de refletir sobre a necessidade de manter as condições materiais e “espirituais” de existência do próprio povo, produtor do que se denomina tradicional. No entanto, esse é um debate extremamente importante. Ao refletir-se sobre as condições de sobrevivência dos grupos, dos brincantes e dos artistas das classes populares, é necessário que se levem em conta as lutas em torno da cultura, das tradições e formas de vida dessas classes. Segundo Hall (2003, p. 248), A “transformação cultural” é um eufemismo para o processo pelo qual algumas formas e práticas culturais são expulsas do centro da vida popular e ativamente marginalizadas. Em vez de simplesmente “caírem em desuso” através da longa marcha para a modernização, as coisas foram ativamente descartadas, para que outras pudessem tomar seu lugar. [...] Contudo as “transformações” situam-se no centro do estudo da cultura popular. Quero dizer com isso, o trabalho ativo sobre as tradições e atividades existentes e sua reconfiguração, para que estas possam sair diferentes. [...] A cultura popular não é, num sentido “puro”, nem as tradições populares de resistência a esses processos, nem as formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as transformações são operadas. Dessa forma, pisar no “terreno” indicado por Hall é perceber as culturas populares através da sua conexão com os conflitos de classe e com as condições de exploração sob as quais esses setores produzem e consomem. Porém, apesar de grande parte dos que revelam interesse na existência e divulgação das manifestações populares no estado do Rio Grande do Norte demonstrar justa preocupação com as condições materiais de vida dos brincantes e dos grupos em que eles atuam, percebo que as reflexões sobre os contextos sociais que circundam essas condições passam ao largo do debate instalado. A renovação recente dessa discussão foi motivada pela morte de Manoel Marinheiro13, o mais importante mestre de boi de reis da cidade. Segundo relato da imprensa, a falta de condições materiais do artista deixou, por horas, seu corpo, morto abandonado no corredor do hospital público Monsenhor Walfredo Gurgel, sem que sua família tivesse condições de enterrá-lo. Esse fato chocou os natalenses e deixou exposta a questão do trato com os artistas das classes populares, tão reverenciados pela elite intelectual do estado. Muitas vozes levantaram-se para o debate, e o nome de D. Militana foi lembrado por todas elas como uma das artistas que vive essa situação de precariedade e abandono preocupante. A indignação de todos foi expressa de forma contundente na matéria Artistas vivem na miséria (ARTISTAS, 2004) do jornal Tribuna do Norte. Nela, responsabiliza-se por essa situação o despreparo e o descaso das instituições públicas em relação aos artistas. As soluções apontadas para o problema vão desde proposições assistencialistas, garantindo “ao menos uma pensão digna a quem tanto fez pelo Estado” até a criação de uma espécie de “abrigo” para a moradia e o trabalho dos artistas. A proposta é apresentada nesta passagem do texto: O folclorista e escritor Deífilo Gurgel tem uma proposta para garantir uma vida mais digna aos artistas populares do Rio Grande do Norte. É a criação da Vila Chico Santeiro, uma 13 Mestre Manoel Marinheiro comandava o boi de reis de Felipe Camarão, no bairro do mesmo nome, na periferia de Natal. espécie de condomínio onde os brincantes morariam e desenvolveriam sua arte, realizando apresentações para visitantes. Durante o período em que não tivesse apresentações, os artistas desenvolveriam atividades para o sustento de suas famílias – como criação de peixes e animais, produção de artesanato, entre outros. A proposta não é nova, mas Deífilo Gurgel ainda não conseguiu apoio de nenhum órgão oficial. O folclorista também lamenta o desinteresse do Rio Grande do Norte pelas coisas de sua cultura. “Tem uma coisa: sei que ninguém daqui iria visitar o local, mas todo mundo que viesse do exterior iria visitar”, diz (ARTISTAS, 2004, p. 2-3). É notória a precariedade da vida material em que vivem os artistas populares e, por esse motivo, é também justa e oportuna a discussão sobre formas de garantir-lhes subsistência e sobrevivência. Porém acredito que, mesmo que difícil, é preciso pensar-se a questão dentro da amplitude devida, para que as soluções não se limitem à busca de culpados ou venham criar situações estranhas para aqueles que se quer ajudar. É dentro dessa perspectiva que analiso a proposta da criação da Vila Chico Santeiro. Sem duvidar da sinceridade de sua intenção, a inusitada proposta do professor Deífilo merece uma reflexão mais atenta sobre as implicações que traria para a vida dos artistas que se propõe preservar. A primeira delas está ligada à questão do desenraizamento. A construção de um condomínio que reunisse os brincantes pressupõe a retirada desses indivíduos de seus lugares de origem. Algumas questões vêm imediatamente à tona. Por exemplo: como ficaria a relação com a comunidade em que vivem e com a terra onde moram, que, muitas vezes, é passada de geração a geração? Ao pensar nesse fato, relembro as palavras de Weil (apud BOSI, E., 1999, p. 16) quando reflete sobre as raízes que fazem um indivíduo pertencer a um grupo: O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana e uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Transferir esses artistas para um outro lugar significa apartá-los, mais do que de um espaço físico, do espaço simbólico no qual esses indivíduos se percebem como sujeitos no seu tempo e no seu espaço, inseridos em determinadas dinâmicas sociais. Ou seja, afastá-los de sua paisagem natal − sua terra, seus vizinhos, sua comunidade, suas festas, seus familiares, a roça que cultivam, as árvores que lhes serviram de brinquedo − é partir suas múltiplas raízes e, mesmo no caso de serem nativos e compartilharem a mesma cidade e as mesmas tradições, tornar-seiam estrangeiros em um mundo artificial construído para eles. Sendo migrantes, pode-se pensar essa modificação em termos de desenraizamento. Talvez sem atentar para essas questões, o cantor e compositor Galvão Filho apoiou a proposta de criação da vila: “Não tem como dar errado, pois todos na vila falariam a mesma língua. O artista popular não quer ser estrela; ele quer fazer sua arte” (ARTISTAS, 2004, p. 2). A visão romantizada que o cantor tem dos artistas das classes populares não lhe possibilita perceber que, mais do que artistas, ali estão pessoas com existências diferentes, que não podem ser observadas apenas pelo recorte demasiadamente estreito de sua atividade cultural. A esperada harmonia baseia-se na crença de que o compartilhar de cantos, danças e festas promova elos que transformem aquele grupo em uma nova coletividade. O equívoco, no entanto, está em se acreditar na aparente simplicidade da cultura popular. Ao pôr o valor das relações nos objetos culturais que esses indivíduos compartilham, Galvão Filho desconsidera que o homem do povo que participa da produção de bens culturais é um sujeito agente na comunidade à qual pertence, nela desempenha um papel: imprime, de maneira não de todo consciente, suas particularidades, seu estilo, sua própria visão de mundo nas atividades que realiza, as quais carregam o peso de uma tradição. Por isso ele parece ser imutável. As manifestações populares são “um fazer dentro da vida”, no dizer de Ayala (1989), e não podem ter existência sem os sujeitos e suas relações com o mundo que os circunda. Portanto, como ressalta Ecléa Bosi (1999, p. 23), “o enraizamento não se alimenta de imagens de um passado idealizado nem de um futuro utópico”. Uma outra implicação que eu gostaria de pôr em questão são as propostas para a sobrevivência do grupo de artistas moradores da vila, que se dividiriam de acordo com os períodos de “baixa” e “alta” estação turística. No primeiro, os artistas proveriam seu sustento a partir de atividades de subsistência, como criação de animais e produção de artesanato, algo que já faz parte do cotidiano desses sujeitos. No período de alta estação, a vila transformar-se-ia em atração turística, com a realização de espetáculos que poderiam expor para o visitante, mediante pagamento, o resíduo das tradições mais características do povo norte-rio-grandense. Pelo plano, a renda seria revertida para a subsistência desses artistas. Muitas questões que poderão ser postas sobre a realização desse empreendimento. Por exemplo: a quem caberia a gerência administrativa e financeira da hipotética vila? quais os reais interesses dos parceiros que investiriam no empreendimento? Apesar de estas serem questões importantes, prefiro deter-me em um aspecto que acredito abranger muitos outros e que ajudaria a refletir sobre a proposta deste trabalho: o tratamento das manifestações culturais como produtos culturais. Para García Canclini, essa relação de consumo com a cultura popular, que ocorre principalmente no âmbito do turismo, agrega em si um discurso profundamente ideologizado. Afirma o autor: O que vê o turista: enfeite para comprar e decorar seu apartamento, cerimônias "selvagens", evidências de que sua sociedade é superior, símbolos de viagens exóticas a lugares remotos, portanto, do seu poder aquisitivo. A cultura é tratada de modo semelhante à natureza: um espetáculo. As praias ensolaradas e as danças indígenas são vistas de maneira igual. O passado se mistura com o presente, as pessoas significam o mesmo que as pedras: uma cerimônia do dia dos mortos e uma pirâmide maia são cenários a serem fotografados (GARCÍA CANCLINI, 1983, p. 11). Ao enxergarem-se as produções da cultura popular como produtos, essas produções são reificadas. Tratadas como objetos de museu, adquirem simbolicamente o valor de patrimônio. Em outra reportagem que trata da mesma proposta da vila (MARIA JOSÉ, 2000), a noção de patrimônio é mais explícita quando se diz que “o folclore potiguar poderá ser resguardado num abrigo de preservação da memória popular”. Na mesma proporção em que essas práticas culturais são enaltecidas como “peças” a serem preservadas e apreciadas, opera-se o mecanismo de esquecimento dos sujeitos que as consagram, e até mesmo os contextos nos quais se insere a produção. Analisando-se essa proposta, em relação aos conflitos instalados na sociedade, pode-se considerar, em última instância, aquilo que García Canclini (2003, p. 162) chama de “teatralização do poder”. Observa o autor: O patrimônio existe como força política na medida em que é teatralizado: em comemorações, monumentos e museus. [...] a teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos atuar hoje. Como se pode perceber, essa discussão que envolve a subsistência dos artistas populares é muito mais abrangente do que propõem (ou deveriam propor) as políticas relativas à cultura pensadas pelos intelectuais do estado, que oscilam entre o mercado e o museu. Mas, se elas estão equivocadas, que pressupostos poderiam nortear os caminhos a serem seguidos? Inicialmente pode-se observar o que afirma García Canclini (1983, p. 135): O popular não deve ser apontado como um conjunto de objetos (peças de artesanato ou danças indígenas) mas sim como uma posição e uma prática. Ele não pode ser fixado num tipo particular de produtos e mensagens, porque o sentido de ambos é constantemente alterado pelos conflitos sociais. Nenhum objeto tem o seu caráter popular garantido para sempre porque foi produzido pelo povo ou porque este o consome com avidez; o sentido e o valor do popular vão sendo conquistados nas relações sociais. É o uso e não a origem, a posição e a capacidade de suscitar práticas e representações populares, que confere essa identidade. Assim, não será suficiente uma política que pense a organização da produção cultural popular a partir da conservação das tradições. As classes populares têm o seu modo de vida ligado a uma situação de precariedade promovida pelo desigual acesso aos bens materiais e culturais na sociedade atual. Preservá-los na situação social em que vivem é manter a estagnação econômica à qual essa classe sempre foi submetida. García Canclini (1983, p. 141), ao se referir às políticas culturais de preservação do artesanato do México, afirma: O que deve ser resolvido em primeiro lugar não é saber se é conveniente preservar as formas tradicionais, mesmo que isso os mantenha na miséria, sofisticar os procedimentos e melhorar as suas qualidades para competir com a indústria [...] A decisão fundamental é permitir uma participação democrática e crítica aos próprios artesãos, criar condições para que estes a exerçam. Uma política cultural que pretenda servir às classes populares deve partir de uma resposta insuspeita a esta pergunta: o que é que se deve defender: o artesanato ou os artesãos? Portanto para pensar a questão da sobrevivência dos artistas é preciso perguntar-se na verdade o que e quem se quer preservar, ou melhor reformulando, para quem se preserva e qual o sentido dessa preservação. Preserva-se para não se enfrentar a impotência perante as desordens sociais? Para se garantir uma tradição “autêntica” que serve como estandarte e que se pode vender como produto cultural ao turista? Ou para os pesquisadores que assumem a posição de arqueólogos descreverem seu objeto em nome de um projeto que se define como cultural, e que tem o real mérito de promover sua carreira acadêmica? O silêncio sobre essas questões dilui o importante debate sobre as relações que se articulam na divulgação da cultura popular. Quando essas manifestações se transformam em espetáculos, tem-se os participantes atuando na condição de artistas, regidos por contratos, acordos e organização de uma produção artística. Ayala e Ayala (1995, p. 61) alertam: É necessário vincular estas questões à estrutura social mais ampla, buscando entender como atuam, neste contexto específico, as relações de dominação, exploração, a ideologia dominante, bem como as concepções e formas de comportamento que se opõem, explícita, ou implicitamente à reprodução das tendências dominantes na sociedade de classes. Assim, é preciso pensar o suporte material, organizacional e financeiro que possibilita a apresentação de grupos e a divulgação das manifestações culturais através dos meios midiáticos, como a gravação de CDs e vídeos. É necessário analisar esses procedimentos atentando para o tipo e grau de controle que têm os produtores e os consumidores habituais (ou tradicionais) sobre sua realização [...] Controle significa capacidade de decisão, principalmente no que se refere à seleção dos componentes estéticos do evento [...] não só no momento da apresentação, mas no decorrer das demais atividades necessárias à ocorrência da manifestação cultural – compra ou produção de materiais necessários (AYALA e AYALA, 1995, p. 63). É nesses termos que pretendo debater as questões sobre a divulgação da imagem de D. Militana através de apresentações públicas da artista e da produção de CDs e vídeos. A falta de clareza em relação à maneira como se desenvolvem os projetos e propostas que definem esse tipo de política cultural gera especulações sobre as relações constituídas entre produtores e artistas. É o que se pode perceber nos debates instaurados na imprensa sobre a situação de precariedade financeira, abandono e exploração à qual está submetida D. Militana. A reportagem do jornalista Alexandro Gurgel publicada no Jornal de Hoje e intitulada Dona Militana, do estrelato ao abandono inaugura publicamente esse debate. Após definir a importância da artista para a cultura norte-rio-grandense, o texto denuncia a situação de abandono em que vive e a exploração daqueles que atuam como “produtores” da cantadora. Escreve o jornalista: Apesar de guardar uma grande consideração pela fotógrafa Candinha Bezerra, Dona Militana sente-se esquecida pela mesma. “Ela mandou arrancar todos os meus dentes e prometeu colocar uma prótese. Já se passaram cinco meses e nunca ninguém mais apareceu por aqui”, desabafou. Dona Militana também não recebe nenhum centavo dos royalties ou direitos autorais com a venda do CD Cantares, desenvolvido pela Fundação Hélio Galvão, dentro do Projeto Nação Potiguar. A romanceira diz que recebeu apenas R$ 2 mil. Não há nenhum CD em casa que ela possa vender ou mostrar aos seus visitantes. Durante o Auto de Natal, ao lado da cantora Elba Ramalho e do ator global Lázaro Ramos, Dona Militana fez uma apresentação especial e até hoje não recebeu o cachê prometido pela Fundação José Augusto, órgão responsável pelo evento. Enquanto isso o Governo do Estado pagou uma fortuna aos “artistas” nacionais pela participação na peça. “Já cansei de ligar para a Fundação e ninguém diz quando minha mãe vai receber o dinheiro” disse Benedita Nogueira, filha de D. Militana (GURGEL, A., 2004, p.1). Nos dias seguintes à publicação da matéria, os envolvidos nas denúncias defenderam-se das acusações que lhes foram feitas. O presidente da FUNCART 14, a entidade realmente responsável pelo evento, encaminhou cópia ao jornal do recibo que comprova o pagamento do cachê de um mil reais à artista pela apresentação no Auto de Natal. Segundo o jornal, no documento está registrada a impressão digital da beneficiada. Em nota (FUNCARTE, 2004), o jornal publica a correção da informação divulgada. Também se apressam em esclarecer as informações os produtores culturais Dácio Galvão e Candinha Bezerra, coordenadores do Projeto Nação Potiguar. Em matéria para o Jornal de Hoje intitulada Dona Militana, defendem-se da “suposta quebra de contrato, falta de assistência e abandono a um dos maiores ícones da cultura popular do RN”. A matéria explica: O primeiro contato entre as duas partes ocorreu no final dos anos 90, quando o pesquisador e produtor cultural Dácio Galvão realizava encontros de cultura popular pelo Estado, através da Fundação José Augusto. O encontro proporcionou a D. Militana a oportunidade de participar do CD Romances e 14 A Fundação Capitania das Artes − FUNCART − é uma instituição da administração direta do município de Natal e substitui a Secretaria de Cultura do Município. Cantos de Excelências editado pela FJA, com Direção artística de Dácio. O CD foi lançado em todo o Brasil, com uma exposição fotográfica feita pela fotógrafa Candinha Bezerra. Foi quando o Brasil passou a conhecer e admirar o trabalho de D. Militana. A partir desse primeiro contato outros dois CDs foram gravados, dessa vez editados pelo Projeto Nação Potiguar, coordenado por Candinha e Dácio. Após a gravação dos dois discos, o vínculo profissional foi cessado, restando a amizade. “O projeto Nação Potiguar não tem função de assistência social. Não somos produtores de artistas populares e não temos condições de nos responsabilizar por todos que registramos” explica Candinha Bezerra. “Nosso trabalho é mapear a cultura sonora potiguar e trabalhamos com vários artistas. Pelo trabalho que desenvolveu, Dona Militana recebeu dois mil reais pela gravação, além do dinheiro referente à venda dos discos durante a noite de lançamento. Dona Militana também recebeu sempre que foi chamada para cantar, eu pagava pelos contratantes e negociava diretamente com ela”, complementa Dácio. O Projeto Nação Potiguar deu a notoriedade e a importância para a história da cultura popular que D. Militana tem hoje. [...] O trabalho realizado pelos produtores é referência nos estudos da literatura oral em todo o mundo. O Nação Potiguar já ganhou prêmios, além de ser uma das únicas iniciativas de preservação da memória artística da cidade (D.MILITANA, 2004). Seria leviano de minha parte, uma vez que estou distante da veracidade dos fatos, debater as querelas em relação ao pagamento de cachê ou à situação direta de abandono e exploração denunciada pela reportagem. Ou melhor, este não é o propósito deste trabalho. Na verdade, a intenção desta pesquisa é perceber as questões colocadas à luz das reflexões teóricas adotadas, pois, pelo que já foi aqui discutido, salta à vista que o debate instaurado deixa de fora elementos importantes para sua compreensão, que eu gostaria de evidenciar. Acredito que a raiz da desconfiança que a sociedade tem dos que cumprem o papel de produtores culturais de grupos populares está na forma como se dá a relação entre os produtores e os artistas. Pelas explicações dos primeiros, fica clara a relação estabelecida entre as partes na gravação dos CDs de D. Militana e nas apresentações: o trabalho feito foi remunerado. No entanto outras questões evidenciam-se como importantes para se ir além da relação comercial. Na reportagem, os produtores deixam claro que a proposta que norteia o Projeto Nação Potiguar é “mapear a cultura sonora potiguar.” E ressaltam, ainda, que ele não tem função de assistência social. Dizem eles: “Não somos produtores de artistas populares e não temos condições de nos responsabilizar por todos que registramos”. Concordo com a postura não-assistencialista que assumem os produtores; afinal grande parte dos artistas por eles divulgados 15 faz parte do universo da cultura popular e são pessoas de grande importância para a cultura do estado, portanto não são dignos do papel de submissão a uma assistência que só dê conta de suas necessidades básicas. Não que eles não precisem, pois, sejam verdadeiras ou não as denúncias, não se pode negar o fato de que a citada artista, D. Militana, vive submetida a uma situação de precariedade material e ausência de serviços básicos a que tem direito, aí não só por sua condição de artista, mas pela de cidadã. Pelo exposto, volta-se à discussão sobre o valor da preservação, e aqui se pode questionar: qual a função de se “mapear a cultura sonora do estado” e de “ser a única iniciativa de preservação da memória artística da cidade” (inclusive sendo-se premiado por isso) se se desconsideram, no bojo da concepção do projeto, as condições sociais e culturais dos sujeitos envolvidos, como se elas não tivessem influência na manutenção daquilo que se quer preservar? Nesse sentido, qual a significação da “notoriedade e [...] importância para a história da cultura popular que D. Militana tem hoje” para uma senhora que depende da boa vontade daqueles com quem construiu um vínculo de amizade (entre tantos, os próprios produtores Candinha e Dácio) para ter atendimento em seus problemas de saúde e condições básicas de sobrevivência? Nessa relação de méritos, quem tem o ganho maior? Penso que essas reflexões denunciam as contradições que dizem respeito ao lugar da cultura popular nas disputas simbólicas da atualidade. Quero deixar claro que não tenho a pretensão de aqui definir os rumos de uma política cultural. No entanto, ao pensar nas questões postas, reforça-se em mim a idéia de que qualquer projeto cultural tem que considerar os 15 Segundo a mesma reportagem, “O Nação Potiguar lançou 15 discos, com as mais variadas manifestações populares do Estado. Na lista estão Coco de Zambê de Tibau do Sul, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte e inúmeros repentistas e violeiros". contextos de produção desses bens simbólicos e os sujeitos que os produzem e, portanto, para se pensar em preservação de uma atividade cultural é necessário criarem-se condições para que ela possa ser exercida. Como membros da sociedade, o nosso papel, é ainda maior. García Canclini (1983, p. 141-143) alerta: Para que exista uma cultura popular não é suficiente desbloquear os canais de participação coletiva, como se existissem massas não contaminadas às quais só bastassem que fossem retiradas grades, externas a elas, para que se manifestassem livremente.[...] Não haverá políticas culturais realmente populares enquanto os produtores não tiverem um papel de protagonista, e este papel não se realizará senão como conseqüência de uma democratização radical da sociedade civil. Ao meu ver a relação proposta pelo autor pode ser invertida: a democratização da sociedade pode ser construída, ou pelo menos iniciada, quando os discursos construídos sobre a cultura popular incluírem a voz daqueles que a constituem. É minha crença nisso que justifica as escolhas teóricas e metodológicas deste trabalho. Penso que, para a interpretação da realidade em foco, é necessário, sobretudo, pensar-se a cultura popular “como cultura presente em diálogo ou em confronto com outras produções culturais também presentes” (AYALA, 2003b, p. 85). Essa perspectiva desloca a noção de preservação dos objetos tão constante, como foi visto nos enfoques dos estudos sobre o popular no estado do Rio Grande do Norte para os sujeitos e suas dimensões socioculturais. O olhar proposto pelas teorias que compreendem as tradições pela via da contextualização social, a partir de seu próprio aparato teórico e analítico, promove a abertura necessária para deixar ecoarem as vozes e gestos que identificam a presença dos sujeitos não só através das transcrições dos textos orais e de registros fotográficos, mas, como propõe Ayala (2003b, p. 84), de textos que, ao serem lidos, produzam a sensação de que sem aqueles textos e sem as falas dos que fazem a cultura popular e encontram nela um sentido para suas vidas, não avançamos no entendimento do que vem a ser essa cultura ou essas culturas populares, tal a diversidade encontrada nas maneiras de viver essas práticas culturais, de entendê-las, de nomeá-las, de atribuir-lhes valor e sentido e, por que não, de comprazer-se com elas. Parto desse ponto para definir a relação pesquisador-sujeito pesquisado. É fato que eu não conhecia o universo da cultura popular e a experiência de convivência com minha colaboradora promoveu a interrelação de universos distintos. O vínculo criado entre nós possibilitou que eu percebesse o caminho que ela indicava, aquilo que queria que fosse apresentado sobre si e sobre os cantos que conhecia. Foi ouvindo atentamente a história de D. Maria José que se revelou para mim a coexistência de dois universos. E, a partir daí, pude constatar que se trata apenas de um sujeito, mas que agrega duas representações: Militana e Maria José 16 . “Militana” apesar de ser o seu nome de registro, não é o nome a partir do qual esse sujeito se reconhece, nem em relação a si mesmo nem como membro de uma coletividade. Militana tornou-se o seu nome público, cunhado quase à sua revelia. É o nome da artista que encanta platéias, o nome inscrito na capa de seu CD, que representa o “poço de memórias ibéricas” (SILVA, 2005, p. 1) e serve de elo para a tradição. Ela já foi aqui apresentada ao leitor por aqueles que querem “preservá-la”. “Maria José” é seu nome familiar, comunitário, pelo qual ela se identifica na comunidade em que vive e pelo qual é identificada pelas pessoas mais próximas a ela, cotidianamente. Por tudo que eu tenho discutido, não é a persona de Militana que interessa a este trabalho, mas sim a senhora conhecida como D. Maria José, nome que comporta o espaço particular, permeado de cantos, lugares, experiências e histórias que se inserem dentro da vida dessa mulher. É essa que pretendo revelar com a atual pesquisa. Portanto perceber a trajetória de Militana a Maria José me permite olhar a cultura popular a partir da ótica de quem se representa por meio dela. Acredito ter deixado claro ser impossível determinar a importância da artista para o estado do Rio Grande do Norte sem entender as relações sociais presentes na vida e na comunidade onde ela está inserida. 16 O porquê será discutido no próximos item. Não percebo a necessidade de “resgatar antes que acabe” os cantos de D. Maria José, mas sim de entendê-los nas dinâmicas sociais presentes nessa sua atividade. Dessa forma, este trabalho pretende construir a narrativa de vida dessa mulher pela dimensão de sua voz. Agora, cabe a mim, enquanto pesquisadora, a competência para apresentá-la. 1.3. Militana ou Maria José: o nome Como já disse, pude observar D. Militana pela primeira vez na CIENTEC − Feira de Ciência e Tecnologia − realizada na UFRN, no ano de 2000. Muito já tinha ouvido falar da romanceira que cantava romances ibéricos e encantava platéias em todo o país. A sua participação num evento científico fazia parte de uma preocupação de “valorização” e “resgate” das manifestações populares do estado, a partir da exposição dos artistas para o conhecimento da população mais jovem. Naquela oportunidade, causou-me certo desconforto a maneira como aquelas “apresentações folclóricas” desfilavam aos olhos do público de maneira acelerada. Entre elas, a figura de D. Militana pareceu-me magnética, dotada de altivez e seriedade, que propunha certa distância a quem desejasse aproximar-se (talvez, pelo ambiente não-propício). Meu segundo encontro com a romanceira se deu no mês de dezembro de 2000. Na ocasião, fui à cidade de São Gonçalo do Amarante, em busca do sítio onde ela reside. Perguntei a várias pessoas onde morava D. Militana e, para minha surpresa, constatei que esse nome não era conhecido na cidade. Por mais que procurasse, ninguém identificava quem era a artista popular conhecida por cantar romances ibéricos e estrelar em espetáculos no estado e fora dele. Após muito procurar, descobri que estava em busca de uma desconhecida. Quem os moradores de São Gonçalo conheciam era D. Maria José, a matriarca de uma família numerosa. Conhecida benzedeira, ela é uma mulher respeitada por sua personalidade forte, que impõe respeito a todos por sua bravura. É dona de uma história comum a muitas bravas mulheres que acrescentaram ao papel de mãe, irmã e filha o de provedora do sustento da família. Compartilhando esse mundo com os moradores de São Gonçalo, D. Maria José, ela própria, também chama a si mesma Maria José. A questão merece esclarecimento e darei voz a ela para que o faça 17: D. MARIA JOSÉ – Agora, porque no tempo que foram me batizar minha mãe mandou botar o nome de Maria José e minha madrinha botou o nome de mamãe, o sobrenome de mamãe, ela botou meu nome, agora ninguém sabia que meu nome era Militana, depois que eu comecei a andar no meio do mundo, com os documentos. Pronto! Quando eu chego na cidade. “Oh! D. Militana, D. Militana”, eu fico putinha de raiva. Lílian – Quando foi que a senhora começou a andar no meio do mundo? D.MARIA JOSÉ – Primeiro eu fui pra Mossoró com o professor Gurgel. [...] O que é que eu tava dizendo? Lílian – Estava dizendo que foi pra Mossoró com o professor Gurgel. [...] Lílian – Como foi que ele lhe descobriu? O Professor Gurgel, como foi que ele descobriu a senhora? D.MARIA JOSÉ – Porque papai... ele andava muito, de oito em oito dia vinha visitar papai. Lílian – Ah! Era?! D.MARIA JOSÉ – Era. Lílian – Ele já conhecia seu pai. D.MARIA JOSÉ – Era. Lílian – Então seu pai ainda era vivo quando ele lhe conheceu. D.MARIA JOSÉ – Tava. Ele vinha, ficava conversando um dia! 17 Os trechos aqui utilizados são fragmentos das entrevistas realizadas com D. Maria José e fazem parte do terceiro capítulo deste trabalho. Lílian – Faz quanto tempo que seu pai morreu? D.MARIA JOSÉ – Vinte e cinco. Lílian – Vinte e cinco anos? D.MARIA JOSÉ – Vai fazer no dia 2 de setembro, vinte e cinco anos. Lílian – Então faz tempo que ele conhece vocês, né? [...] Lílian – O professor Gurgel sabia que a senhora cantava, quando ele ia visitar seu pai? D.MARIA JOSÉ – Porque ele ia visitar papai de oito em oito dias, de quinze em quinze dias. Quando se dava fé, ele chegava. Aí ele disse/... aí um dia papai cantou um verso pra ele, porque ele só ia atrás de verso e ele andou fazendo umas fita lá. Lílian – Hum!... D.MARIA JOSÉ – No dia que papai morreu ele veio aí [?] Aí ele disse: “E agora”?Aí eu disse: agora fica por isso mesmo, mas aí ele disse: “Mas a senhora, sabe”? Eu digo: eu sei, mais não estou querendo ser cantora. Aí ele inventou de me levar pra lá, eu fui. Agora eu tô evitando, porque a pessoa sendo velha, sem dente... ((risos)) (Transcrição 6 - 10/05/2005) ..................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Eu nasci em Barreiro, porque a sogra de mamãe, que era a minha avó, era quando eu nasci no dia 19 de março, dia de São José, por isso que eu digo ((recitando)): a maré tava de vazante e a lua tava de minguante. A lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte e eu sou a mais sofredora do Rio Grande do Norte. [...] (Transcrição 4 - 03/05/2005) ....................................................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Mamãe dizia: “vai buscar água Maria José”. E eu ia. Ela já tava velhinha, num é? Aí eu botava água pra ela, eu enchia a casa d’água, e depois ia botar água pra ela, barria o terreiro dela. E quando ela não pôde mais, arriou. Aí eu botava o caixão, vivia permanente dentro do quarto. Eu botava ela no caixão, quando acabar, dava um banho nela, enxugava, penteava os cabelos dela, prendia e botava ela na rede. Aí ela dizia: “Quem paga o que tais fazendo comigo é Deus.” Ela uma vez disse: “compadre Atanásio, a parte da terra que toca pra mim é de Maria José, porque a filha que eu tenho é Maria José”. Que eu ainda não tinha andado pelo meio do mundo, então ninguém sabia do meu nome. Era Maria José. Lílian - Seu nome de artista, né? (risos) D. MARIA JOSÉ - Depois dos diacho dos meus documentos, o povo chega: D. Militana, D. Militana. Eu espio pra parede ta lá D. Militana ((refere-se a uma das placas que foram feitas pela prefeitura de São Gonçalo em sua homenagem e que está exposta na parede de sua casa)), eu fico putinha de raiva. Aí Dácio sabe que eu tenho raiva, aí qualquer coisinha ele diz: ”D. Militana, D. Militana.... ((risos)). (Transcrição 5 - 05/05/2005) No contato que estabeleci com a minha colaboradora, a questão dos dois nomes que a identificam e a distinção entre os espaços que cada um deles constitui foi uma constante. Observei que, nos três fragmentos destacados, existe a explicação do fato de D. Maria José não gostar do nome Militana − ter sido uma escolha de sua madrinha, para fazer uma homenagem à mãe da afilhada −; como chegou ao conhecimento público esse nome, que ela não reconhece como seu e que a identifica num espaço diferente da comunidade da qual faz parte, incomodando-a talvez pelo que ele representa; e do real motivo pelo qual ela se reconheceu como Maria José: a homenagem a São José, seu santo de devoção, aquele que inspira os versos que criou e com os quais constrói o inventário de sua própria vida. Assim, acredito que a história dessa “duplicidade” de nomes é bastante significativa para representar a percepção desse sujeito, construída por diferentes espaços sociais por onde ele circula, uma vez que a concepção da identidade como uma construção social é marcada por polissemias que devem ser entendidas e circunscritas ao contexto que confere sentido a essa identidade. Isso aponta para um caminho que distingue esse sujeito enquanto indivíduo inserido em duas distintas coletividades. Assim, pode-se dizer que a identidade do sujeito é uma montagem humana dentro de um sistema. Essa reflexão é muito próxima do que Lacan (apud DOR, 1990) afirma a respeito da identificação: que, na verdade, a identificação é como um traço inscrito e que todas as imagens que o indivíduo constrói em torno dele, aquelas que vão ser o seu eu, como as imagens e identificações que ele tem de si mesmo, são colocadas de acréscimo no único registro essencial da identificação, que é o nome que o constitui. Ou seja, o que se pode dizer de um sujeito é apenas o seu próprio nome; para todo o resto, a linguagem o deixa em desamparo. Então, se o que nos distingue é o nosso nome, como se poderia pensar a história dessa mulher que se identifica por meio de dois? Em termos de identidade, pode-se dizer que, apesar de estar associada à idéia de totalidade, uma de suas características é a multiplicidade. Os papéis sociais são impostos ao indivíduo, desde o seu nascimento, e assumidos por este na medida em que se comporta de acordo com a expectativa da sociedade. Dessa forma, na relação com outros homens, o indivíduo não comparece apenas como portador de um único papel, pois diversas combinações configuram uma identidade como totalidade. Uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto una. O indivíduo, ao se apresentar frente a outro, comporta-se de uma dada maneira. Neste momento as “outras identidades” pressupostas estão ocultadas. É assim que penso as “identidades” de D. Militana, ou D. Maria José, e as tomo como alegoria para representar uma determinada postura frente à concepção do popular. Existe, no espaço público, uma imagem construída. Porque está inserida em determinada concepção que pensa a cultura popular como sobrevivência do passado, desconsiderando os sujeitos envolvidos nessas práticas, como já foi aqui discutido. Esse sujeito se representa como Militana, mesmo sendo este um nome no qual não se reconhece, aquele que não diz de si. ‘Maria José” é o nome para ela escolhido pelos seus pais, pela sua comunidade e por si mesma. No início da divulgação de sua imagem, ainda se manteve, mas foi modificado posteriormente. Seria porque é um nome muito comum e não parecia adequado à imagem que estava sendo erguida, ou porque o nome Militana tem um impacto maior e “evoca hagiológios medievais e tem tudo a ver com a cultura lusitana”, como afirmou Deífilo Gurgel, vinculando-o à noção de tradição que comporta o folclore? Não tenho possibilidade de afirmar o real motivo, mas entendo que o fato de D. Maria José não poder representar-se pelo nome que a constitui como sujeito é revelador da participação que esse indivíduo tem nas decisões sobre o “produto cultural” que é divulgado por intermédio do seu nome. Já que pretendo mostrar, neste trabalho, como a literatura e a história de vida se entrelaçam em discursos que marcam uma identidade cultural, na qual os cantos e a vida de D. Maria José formam um tecido narrativo em que se podem identificar as representações que essa mulher constrói do mundo e como se formam as relações do grupo social no qual ela está inserida, optei, então, por construir o caminho de volta de D. Militana a Maria José. D. Militana é, para mim, uma imagem − real, mas retirada do universo onde se constituiu como sujeito − e, portanto, não interessa a esta pesquisa. Proponho, então, voltar o olhar para Maria José, uma voz que se conta enquanto canta. No entanto devo deixar claro que esse caminho não foi traçado a priori. Uma longa trajetória se deu até eu chegar a Maria José, e toda ela foi conduzida por essa personagem. Foi “ouvindo” os seus silêncios e suas recusas àquilo que eu oferecia que percebi o que esse sujeito queria dizer de si. A metodologia adotada ajudou: permitiu-me pensar o canto da artista como uma poesia que transborda dos poemas para a sua vida e que se refaz no cotidiano, na relação com sua terra, sua religiosidade, seus familiares e vizinhos. Suas palavras confundem-se com seus versos. Como revelou Xidieh (1993), se está no universo da cultura popular quando se capta sua maneira própria de “dizer” o mundo. Mas, para isso, é preciso aproximar universos distintos, reconstruir significados e “despir” os sentidos de uma gama de conceitos e preconceitos. A tarefa não é fácil. Apresentarei, então, o percurso. II A PESQUISA DE CAMPO: DEFININDO OS CAMINHOS Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembrava existir: a surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. As cidades invisíveis Ítalo Calvino 2.1. O encontro de dois mundos: o pesquisador e o universo da pesquisa Após construir o percurso teórico que baseia a proposição de que existem duas imagens compondo o sujeito pesquisado e que estas se revelam a partir da duplicidade dos nomes da artista estudada, concluí o primeiro capítulo definindo a posição teórica adotada, o que significa, no caso deste trabalho, optar pela imagem de D. Maria José, que representa esse sujeito no seu espaço particular. Agora, para conhecê-la, faz-se necessário apresentar a postura metodológica escolhida. Como essa postura tem implicação direta na perspectiva de abordagem do objeto, principalmente em se tratando de um estudo sobre memória e cultura popular, passo a descrever o itinerário da pesquisa de campo, cujos resultados estão intrinsecamente ligados com os procedimentos metodológicos utilizados durante essa etapa. Segundo Ayala (2003b), uma abordagem crítica do popular requer a adoção de procedimentos metodológicos e teóricos que diminuam a distância entre sujeito e objeto, afastando-se da racionalidade de cunho positivista, sem, no entanto, supervalorizar a subjetividade, tão presente na concepção do romantismo, na busca da “alma do povo”. Refletindo sobre a observação da autora e considerando a problemática sobre o estudo da cultura popular discutida no capítulo anterior, comecei a pensar a pesquisa de campo. Para iniciar as reflexões sobre o trabalho, tinha diante de mim um sujeito a quem me propunha conhecer e um questionamento sobre a abordagem de estudo que desconsiderava os sujeitos nas pesquisas sobre as manifestações populares. As experiências do Laboratório de Estudos da Oralidade – LEO – da Universidade Federal da Paraíba, que pude conhecer, e outras que tive oportunidade de acompanhar18 foram de grande importância para definir os caminhos que deveria tomar. Os procedimentos realizados pelo grupo do LEO não só recorriam aos suportes metodológicos habituais da área de Letras como buscavam apoio em outros métodos das Ciências Humanas relativos à pesquisa empírica que possibilitavam colherem-se os dados da pesquisa de campo mantendo-se sempre o cuidado de não se distanciarem dos seus interlocutores e adotando-se, em relação a eles, uma postura de profundo respeito pelo conhecimento que traziam para o trabalho. A história oral foi um dos suportes metodológicos que pude conhecer nessa experiência. O seu caráter dialógico exige do pesquisador uma disponibilidade para lidar com a diversidade. Nesse sentido, era considerado requisito imprescindível para a realização do trabalho a disposição de ouvir e o interesse e o respeito pelos pontos de vista daqueles que se propõem partilhar suas experiências com um grupo que extrapola seu meio social e familiar. Tão importante se faz essa postura que Portelli a considera um dos procedimentos fundamentais entre os que dizem respeito à ética na história oral: 18 Durante o doutorado, tive a oportunidade de conhecer alguns pesquisadores que participaram do trabalho desenvolvido em Barra de Camaratuba − PB, sob a orientação do professor Andréa Ciacchi, e de acompanhar algumas visitas na fase inicial do projeto Embarcando na Nau Catarineta, desenvolvido no Centro Social Urbano de Mandacaru, em João Pessoa, e coordenado pelos professores Marcos Ayala, Maria Ignez Ayala e Diógenes André Maciel. Além disso, tive acesso a trabalhos de teses e dissertações, defendidas por pesquisadores que fazem parte do grupo. O respeito pelo valor e pela importância de cada indivíduo é, portanto, uma das primeiras lições de ética sobre a experiência com o trabalho de campo na História Oral. [...] Nossa arte de ouvir baseia-se na consciência de que praticamente todas as pessoas com quem conversamos enriquecem nossa experiência. Cada um dos meus entrevistados [...] representou uma surpresa e uma experiência de aprendizado (PORTELLI, 1997c, p. 17). Assim, a característica dialógica do método me possibilitaria conhecer a colaboradora19 da pesquisa por meio do relato individual de sua história. Ouvindo a experiência de D. Maria José, pelo relato específico da história oral chamado de história de vida, essa “ciência do indivíduo” me possibilitaria manter a perspectiva crítica almejada pelo trabalho, conservando o propósito de privilegiar a fala da colaboradora, para juntar as peças que compõem o grande mosaico de sua memória, revelando como as práticas culturais desse sujeito se vinculam à sua vida. Afinal, como esclarece Portelli (1997c, p. 15), a história oral, mantendo o foco no indivíduo, permite, através de seu discurso, a análise das estruturas sociais e culturais e dos processos históricos. A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito – assim como a sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos, visa aprofundá-los, em essência, por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a memória individuais e ainda por meio do impacto que estas tiveram na vida de cada uma. Isso se aproxima do que afirma Queiroz (1991), ao conceituar a história de vida. Para a autora, esse é um tipo específico de relato no qual o narrador conta a sua existência através do tempo, reconstruindo acontecimentos já vivenciados e transmitindo as experiências adquiridas, a partir de uma narrativa individual dos acontecimentos que considera 19 Quero esclarecer que, apesar de alguns estudiosos da história oral se referirem aos participantes de suas pesquisas como “informantes”, não adoto essa denominação neste trabalho, para evitar as implicações sobre o uso do termo feito pelos folcloristas, discutidas no capítulo anterior. Em seu lugar, utilizo “colaborador”, termo sugerido por Bom Meihy (2000) que julgo mais adequado aos propósitos desta pesquisa. significativos. Naquilo que é dito se podem observar as relações que esse sujeito delineia com os membros do seu grupo, de sua profissão, de sua camada social e de sua sociedade global. Esse amálgama de relações que se enovelam constitui o tecido narrativo, que cabe ao pesquisador desvendar. Para construir esse tecido, empenhei meus esforços na intenção de definir o caminho a ser percorrido e organizar o percurso, formulando o trabalho a ser realizado. Segundo os manuais de história oral (THOMPSON, P., 1998), (ALBERTI, 2004), (BOM MEIHY, 2000), para realizar a coleta de dados através desse método, a técnica mais difundida é a da entrevista, que pode ser caracterizada como uma conversação entre o colaborador e o pesquisador mediada por um tema, que é proposto com base nos objetivos da pesquisa. Para a condução da entrevista, as orientações variam entre diferentes práticas, que polarizam a discussão sobre se cabe ao pesquisador ou ao colaborador o papel de conduzir a conversa. Queiroz (1991), no entanto, utiliza esse critério para diferenciar a técnica da história de vida da do depoimento. Segundo a autora, a forma específica de agir do pesquisador, ao conduzir o diálogo com o informante a partir de um roteiro predefinido e desconsiderando qualquer informação que não esteja relacionada com o interesse da pesquisa, caracteriza o depoimento. Assim, este busca obter do narrador o essencial, descartando o que lhe parece desnecessário. Na história de vida, embora haja uma condução sub-reptícia do pesquisador, é o colaborador quem decide o que vai ser narrado, portanto nada de seu relato pode ser considerado supérfluo. Sendo assim, a história de vida vê aquilo que é narrado em todas as perspectivas possíveis. As recusas, os silêncios, as retomadas, as reiterações e os gestos adquirem sentido próprio a partir dos elementos contextuais que aparecem (ou estão implícitos) na cena enunciativa e, portanto, devem ser levados em conta pelo pesquisador. Para Paul Thompson (1998), a melhor maneira de se elaborar uma entrevista é colher idéias e informações mapeando-se o campo e atualizandose por meio de leituras. Seguindo as orientações do autor, delineei as justificativas e os objetivos da pesquisa, apoiada pelo material bibliográfico que a subsidiava, delimitando o que seriam as áreas de interesse e traçando um esboço daquilo que tinha o propósito de investigar. Entretanto possibilitaram-me alguns refletir aspectos acerca de de minha pontos prática importantes em campo quanto à metodologia de pesquisa. Isso porque, mesmo cercando-me de todo cuidado, iniciei a pesquisa de campo com menos certezas do que desejava. Não que desconsiderasse o valor das recomendações do historiador em relação ao planejamento do trabalho, mas sim porque sabia que estava diante de um universo completamente desconhecido, por isso enigmático, para mim, uma vez que a minha convivência com a cultura popular se dera principalmente através de estudos e da participação como espectadora nas muitas apresentações do gênero a que havia assistido. Entendi, então, que estava diante do risco de recorrer a um método de pesquisa preestabelecido e, mesmo procurando entender o universo a pesquisar, esse entendimento podia não captar a vivência real das situações. Assim sendo, tirei das experiências de Xidieh (1993) e Portelli (2002, 1997a, 1997b, 1997c) o entendimento de que é durante a pesquisa de campo, tomando contato com o universo a ser estudado, que o pesquisador deve estabelecer seus caminhos metodológicos e, até mesmo, se necessário, criar ele próprio uma metodologia que se aplique aos fins da pesquisa, se os métodos existentes se mostrarem falhos para os seus objetivos. Com base nisso, minha investigação partiu principalmente da suposição inicial de que em campo iria deparar-me com um universo singular e a ele teria que adaptar os meios de pesquisa para contornar as situações adversas que por ventura ocorressem. E elas aconteceram. Como toda pesquisa de campo, esta esteve sujeita a inúmeros imprevistos, que foram desde panes no material de gravação até interrupções por problemas de saúde da colaboradora. O saldo desse trabalho foi a gravação de 15 horas de entrevistas. Durante o desenvolvimento da pesquisa, circunstâncias de ordem particular levaramme a residir no município de Pau dos Ferros−RN, cidade distante cerca de 400 km da capital. Com todo o material de pesquisa de campo já providenciado, o andamento do trabalho estava garantido, pois, na fase em que se encontrava, já estava concluída a parte referente à gravação de entrevistas e transposição para a forma escrita do material coletado. Eu estava, portanto, iniciando a fase de transcrição propriamente dita (correção do material e construção da chave de transcrição) e análise do corpus. No entanto um fato ocorrido em novembro de 2004 prejudicou o desenvolvimento do projeto, uma vez que a quase totalidade dos documentos orais coletados (das 15 fitas gravadas, consegui recuperar 3) foi furtada e inutilizada. Em decorrência do sinistro, enfrentei muitos obstáculos para a continuidade do projeto, pois teria que refazer todo o material, com a dificuldade de estar residindo a cerca de 400 km de onde mora a colaboradora do trabalho. Mesmo assim, passado o impacto inicial da perda de quase três anos de trabalho, adotei providências para refazer o material, reorganizando o cronograma da pesquisa. Coletei, então, novos registros orais, entre os meses de maio e junho. Dessa forma, o período de coleta encerrrou-se em julho de 2005 20. Todo esse fato, apesar de trágico, possibilitou um novo olhar para o trabalho que estava sendo construído. O tempo exíguo de que eu dispunha para reconstruir a coleta de dados exigia de mim maior pressa para a gravação dos novos relatos e esse fato refletiu no direcionamento das novas entrevistas realizadas. Ao analisá-las, mais tarde, percebi a interferência de minha voz e da de Diva − minha companheira nas visitas a São Gonçalo do Amarante21 − na fala da colaboradora, principalmente nas duas primeiras entrevistas. Por ser mais insistente nas questões colocadas, principalmente, no que se referia à relação que D. Maria José estabelece com os versos que canta, fui percebendo os silêncios, que se instauravam de forma mais contundente no discurso. Quanto mais D. Maria José era questionada de forma direta sobre os cantos que a tornaram conhecida, mais se esquivava de responder e oferecia em troca as histórias cotidianas da convivência na 20 Embora as entrevistas apresentadas no corpus deste trabalho sejam datadas de maio de 2005, os encontros com a colaboradora estenderam-se até julho, quando realizei os procedimentos finais do trabalho de campo, como conferência de informações e esclarecimento de dúvidas surgidas na transcrição do material gravado. 21 Este trabalho teve a colaboração de uma amiga que é natural do município de São Gonçalo do Amarante. O porquê de sua presença e as implicações para a pesquisa serão discutidas ainda neste capítulo. comunidade, das aventuras de infância, das situações de dificuldade que passou. Ao comparar as entrevistas realizadas nessa fase com as realizadas anteriormente nas quais as conversas fluíam mais naturalmente, encontrei as mesmas recusas e histórias, contadas, às vezes, com a modificação de um ou outro detalhe, mas conservando sempre o mesmo recorte narrativo. A insistência na reiteiração da sua narrativa deixa claro que esse sujeito elegeu um repertório para nós, minha companheira e eu, que revela exatamente o que ele quer dizer de si. Diferente do que aconteceu em relação a outras pessoas que visitavam D. Maria José, ela escolheu a mim e a minha companheira para contar sua vida. A ênfase na narrativa do cotidiano tornou-se a tônica das conversas. Acredito que essa escolha teve como causa um conjunto de fatores que serão discutidos mais adiante. Por ora, creio que a condução do trabalho reafirmava a perspectiva de que as práticas culturais se relacionam a um presente, e são um “fazer dentro da vida”, no dizer de Ayala (1989). Essa experiência deixou ainda mais clara para mim a importância do contexto sociocultural na investigação que me propunha realizar e me fez refletir sobre os elementos que compunham o cenário da pesquisa. Percebi que é na pesquisa de campo que o pesquisador sente as dimensões do tempo e sua importância no interior das práticas sociais. Para ele, é necessário, antes de tudo, saber lidar e, principalmente, respeitar as diferenças, sejam as diferenças temporais que separam o trabalho científico do trabalho das comunidades22, sejam as diferenças que marcam os espaços sociais a que pertencem os sujeitos, entre elas a linguagem. Portelli (1997a) ajuda a pensar essa relação entre diferença e igualdade, nos domínios da pesquisa de campo. Ao definir a pesquisa oral como um experimento em igualdade, ele ressalta o valor da diferença. O autor lembra que “somente a igualdade nos prepara para aceitar a diferença em outros termos que hierarquia e subordinação” (PORTELLI, 1997a, p. 23). É importante ressaltar que igualdade, para ele, é a condição em que ambos, 22 A respeito disso, ver o artigo de Ayala (2002), que discute as diferentes temporalidades que coexistem na cultura popular. colaborador e pesquisador, se reconhecem como sujeitos e tentam, partindo cada um de sua própria vivência (por isso considerando suas diferenças) construir um referencial comum que lhes permita trabalharem juntos. Ao que parece, pode-se concluir que colaborador e pesquisador, ao viverem essa experiência comum, têm nesse campo de trabalho um ambiente significativo, porque lhes possibilita, ainda que temporariamente, erguer um espaço social que pode ser compartilhado por sujeitos diferentes. Nesta pesquisa de campo, isso se evidenciou de maneira interessante. Para discutir esse aspecto, passo a descrever o encontro desses “dois mundos”, a partir das entrevistas. 2.2. Pra começo de conversa... as entrevistas Já mencionei a incerteza que senti diante do universo singular com que iria deparar-me, quando iniciei a pesquisa. De certo, tinha apenas uma pergunta a nortear meu caminho: quais as relações que se estabelecem entre os versos que D. Maria José canta e a vida cotidiana dessa mulher? E foi a partir dessa pergunta que decidi começar a investigação, traçando o roteiro da entrevista baseada na busca de informações a partir de perguntas que indicassem as práticas cotidianas que circundavam esses cantos. À procura de resposta para minha questão, já tinha feito, nos anos de 2000 e 2001, algumas visitas de aproximação, que me deram material para que formulasse o esboço do meu projeto. Após assistir pela primeira vez a uma apresentação de D. Militana, fui à sua casa com o propósito de conhecê-la. Nesse momento, foram levantadas as primeiras reflexões, pois foi aí que me dei conta, mesmo que de maneira intuitiva, das diferenças existentes entre a mulher que havia conhecido nos espetáculos e aquela senhora que me recebia em sua casa com grande cordialidade. A partir desse momento, constatei a duplicidade de nomes e, conseqüentemente, o espaço público e o privado, que já foram descritos anteriormente. Iniciei as visitas à colaboradora desse trabalho em janeiro de 2003, dessa vez começando formalmente a pesquisa. Esses encontros, que compreenderam a primeira fase da coleta, estenderam-se até agosto de 2004. A segunda fase foi realizada no período de maio a julho de 2005 e aconteceu por causa da perda do material coletado anteriormente, como já foi por mim explicitado. Em ambas as fases, mantive uma relativa periodicidade semanal. Na minha primeira visita formal, voltei à casa de D. Maria José, no Sítio Oiteiro, acompanhada de uma amiga que tem familiares em São Gonçalo do Amarante. Fui visitar a colaboradora com o pretexto de comprar o CD Cantares, que havia sido lançado no ano anterior. Naquela ocasião, D. Maria José não me reconheceu. Apresentei-me, expliquei-lhe as intenções de minha pesquisa e pedi-lhe permissão para gravar em áudio nossas conversas. Ela consentiu, mas era nítida em seu comportamento uma desconfiança de minhas intenções, apesar de eu ter procurado certificar-me, várias vezes, de que ela compreendia o que eu tinha exposto sobre o trabalho. Essa desconfiança refletia-se de forma mais evidente, nas entrevistas, nos momentos de constantes recusas a assuntos relacionados aos versos que ela cantava e pelos quais era conhecida. Sempre que o assunto era sugerido, D. Maria José era taxativa em desconsiderá-lo. Por várias vezes, foi indelicada, advertindo a mim e a minha acompanhante de que não cantaria “de graça” ou repreendendo-nos por querermos “aprender os versos”. Todo esse comportamento foi logo por nós compreendido e tinha uma razão de ser facilmente estabelecida, já que, na época em que passei a visitá-la, D. Militana já era uma figura que gozava de muito prestígio. Sua notoriedade fazia com que um número considerável de pessoas a visitasse constantemente. Curiosos, estudantes, professores, pesquisadores e pessoas que representavam instituições públicas e privadas freqüentavam a sua casa para saber mais sobre “a maior representante da cultura popular do Rio Grande do Norte”, apreciar seus cantos, convidá-la para participar de espetáculos e apresentar-lhe propostas de trabalho. A partir dos relatos de D. Maria José sobre o assunto, ficou evidente que grande parte dessas pessoas não dispensava à artista um tratamento respeitoso, como aquele que se deve a alguém a quem se visita. Provavelmente movidas por uma concepção de cultura popular que desconsidera o sujeito responsável pelas práticas populares, essas pessoas invadiam sua casa, tiravam-lhe fotos e exigiam que cantasse determinado romance, coco ou bendito, irritando-a, por muitas vezes. No entanto nenhuma delas havia se proposto escutar o que ela tinha a dizer. Daí a desconfiança que marcava as atitudes de D. Maria José e que talvez a levasse a questionar intimamente o que eu queria dela e o porquê de minha atitude ser diferente da das outras pessoas. O que suponho ser o questionamento de D. Maria José abre um espaço para se refletir sobre uma constatação acerca do trabalho com a pesquisa de campo, que diz respeito aos papéis do observador e do observado – os quais, à primeira vista, se caracterizariam como pesquisador e colaborador. Pode-se dizer que essas relações são mais fluidas do que se imagina, pondo em xeque as visões que recomendam a objetividade e a imparcialidade no trabalho com os entrevistados. Como lembra Portelli (1997b, p. 36), Os entrevistados estão sempre, embora talvez discretamente, estudando os entrevistadores que os “estudam”. Os historiadores podem reconhecer esse fato e tirar dele vantagens, em vez de experimentar eliminá-lo em razão de uma neutralidade impossível (e talvez indesejável). Pude constatar melhor esse fato nas entrevistas que realizei com D. Maria José. Isso porque, por mais que a conversa evoluísse de maneira natural, os próprios elementos que compõem o cenário de uma pesquisa atestam que aquela não é uma conversação comum. O gravador é um elemento do campo de pesquisa que, apesar de estar aparentemente esquecido, funciona como símbolo de que aquele não é um encontro que faz parte do cotidiano daqueles sujeitos, reafirmando as diferenças existentes entre o pesquisador e o colaborador. Assim, quando elegem esse espaço de diálogo que nega a imparcialidade, tanto o pesquisador como o colaborador são afetados pela experiência da pesquisa. Ambos são sujeitos que experimentam, nesse campo, uma relação de troca. O pesquisador, portanto, deve ter por objetivo construir uma relação baseada na igualdade, como já foi discutido. No entanto é preciso lembrar que essa igualdade não pode ser forçada, uma vez que está subordinada às condições sociais e, portanto, só é possível construí-la tendo-se a clareza de que ela implica o reconhecimento e a constatação da diversidade. Só assim, a comunicação poderá ser estabelecida, conforme afirma Portelli (1997a, p.9): Uma entrevista é uma troca entre dois sujeitos: literalmente uma visão mútua. Uma parte não pode realmente ver a outra a menos que a outra possa vê-lo ou vê-la em troca. Os dois sujeitos, interatuando, não podem agir juntos a menos que alguma espécie de mutualidade seja estabelecida. O pesquisador de campo, entretanto, tem um objetivo amparado em igualdade, como condição para uma comunicação menos distorcida e um conjunto de informações menos tendenciosas. Assim, nas entrevistas, pude observar que a colaboradora avaliava meu comportamento e o de minha acompanhante por meio das fissuras que percebi na nossa comunicação. Nos fragmentos de entrevista destacados abaixo, é notório como ela expressa sua desconfiança, mesmo em momentos nos quais a conversa flui de maneira natural. Lílian – Tá! Quem é o Santo Antônio aqui, desses que a senhora tem? Aquele que a senhora cantou da vez passada é o bendito de Santo Antonio, não é isso? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – É esse? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – Como é a história dele, Dona Maria? A senhora sabe? D. MARIA JOSÉ – Só pra eu dizer de novo! Lílian – E o que é que tem? Eu quero saber da história do santo. D. MARIA JOSÉ – Agora as meninas trouxeram. Benidita foi pra Juazeiro e trouxeram um pra mim. Aí chegou: “taí mamãe, eu trouxe pra senhora.” Eu digo: eu sinto muito, mas esse aqui não é São Benedito, não. É Santo Antonio. Lílian – Ah é?! São Benedito é que é preto, não é? (Transcrição 2 - 10/04/2003) ...................................................................................................................... Lílian – A senhora me disse uma vez que tinha uma tia que lia. D.MARIA JOSÉ – Era tia Petronila, a mais velha irmã de papai; era só quem sabia ler. Ela lia toda qualidade de folheto. Um dia, mandaram me chamar em Natal, só pra mode eu cantar o verso de Antonino, óia? Perguntaram: A senhora sabe o verso de Antonino? Eu digo: vocês sabem ler? Então pega um folheto, pra ler no folheto. E eu que venha cantar verso pra vocês? Lílian – Mas no folheto não tem o canto. D.MARIA JOSÉ – Tem assim a pessoa queira. Lílian – E é? Como assim? D.MARIA JOSÉ – Porque é, tem que cantar no folheto, também. Onde é que os cantor aprende? Num é nos folheto, não?! Lílian – Mas, como vai saber o ritmo, a melodia? D.MARIA JOSÉ – Eles botam. Lílian – Como? D.MARIA JOSÉ – Eles botam o ritmo. Lílian – Então, é a senhora que bota nos seus? D.MARIA JOSÉ – Óia, o que eu ia dizendo. Lílian – Ia dizendo o quê? D.MARIA JOSÉ – Você não disse que eu era quem botava ritmo nos meus? Lílian – Eu estou perguntando; não estou afirmando, não. D.MARIA JOSÉ – O verso mais comprido, que tem de aprender, é o de Marina e eu canto ele todinho. Lílian – É bonito. Por que é difícil de aprender? D.MARIA JOSÉ – O verso de Marina? Porque Marina era. Ela foi muito safada, era criminosa de não sei quantas mortes. Lílian – Marina era criminosa? Por quê? D.MARIA JOSÉ – Era, porque era. (SILÊNCIO) Lílian – Qual a história do verso de Marina? D.MARIA JOSÉ – Hum?! Lílian – Conta a história de quê? D.MARIA JOSÉ – Vexada pro mode aprender, né? Lílian – Eu só tô perguntando a história do verso de Marina. E por que eu não posso aprender? D.MARIA JOSÉ – Porque eu estou com dor de cabeça, aí não quero cantar não. Lílian – Não, mas não cante, eu quero só que a senhora conte a história, fala de quê? D.MARIA JOSÉ – Tem o verso de Marina, tem o verso, de... como é meu Deus? Eu sei lá mais! ... O verso cantando eu ainda me alembro. Que Marina era filha de um barão ou era de um rei, agora o rei não queria que ela casasse com Alonso. Marina era uma princesa muito rica e educada, porém amava Alonso, que não possuía [...] (Transcrição 7 - 12/05/2005) As entrevistas mostram que, mesmo em momentos diferentes da pesquisa, a desconfiança, ainda que sutil, é uma atitude que se repete. No primeiro trecho, que compreende a primeira etapa das entrevistas, D. Maria José se revela reticente quando identifica que a pergunta está ligada ao tema evitado por ela: os cantos. Mesmo que eu não pedisse para que ela cantasse, a desconfiança sobre por que eu levantava o tema revela-se no comentário feito por ela: “só pra eu dizer de novo!”. No entanto, quando questionada sobre qual seria o problema de contar a história para mim, a saída que apresenta é voltar para o tópico principal da conversa: as imagens dos santos. No último trecho, que corresponde à segunda fase da pesquisa, vêse um comportamento semelhante, mas que apresenta uma nuance diferente. Nesse momento da entrevista, a conversa fluía com muita naturalidade, mas, a certa altura, D. Maria José parece ter percebido que, a partir de uma pergunta feita por mim, havia feito uma revelação comprometedora a respeito da maneira como imprime o ritmo aos seus cantos. Ao ser confrontada, retoma a situação apresentando o verso de Marina, mas recusando-se a cantá-lo. Após dar algumas desculpas, deixa transparecer o real motivo de sua negação: a mesma desconfiança de que minha real intenção fosse aprender os cantos. É interessante interpretar a reação de D. Maria José à luz da distinção entre o espaço público e o privado, que já foi discutida anteriormente neste trabalho. D. Maria José, no contato com o público e com os desconhecidos que a visitavam, tinha aprendido que seus cantos continham um determinado valor para essas pessoas e que essa troca era mediada pelo dinheiro. Portanto aprender os cantos significava tirar dela aquilo que era seu saber e pelo qual ela era conhecida e valorizada. No entanto era minha convicção que aquela prática cultural tinha um valor diferente daquele que havia se estabelecido nesse outro espaço, na comunidade e na vida dessa senhora. Ciente disso, minha reação às atitudes negativas da colaboradora foi a de manter-me firme no propósito que tinha de continuar o nosso diálogo sem estabelecermos, necessariamente, uma relação de troca, pelo menos nos termos de valor aos quais ela estava habituada. Esse posicionamento surtiu efeitos positivos, uma vez que, no próprio exemplo citado, após o trecho em que se recusa a cantar, D. Maria José não só recita e canta os versos como oferece um dos momentos mais belos dos nossos encontros, relacionando o Romance de Marina às histórias da sua vida e revelando para nós o real e absoluto valor daquele canto, permeado de afetividade e de ensinamentos (como acontece com toda expressão da literatura oral popular) para essa mulher e para sua comunidade. Atentei, no entanto, para o cuidado na forma de indicar a posição que eu havia adotado. Aos poucos e de maneira delicada, fui assegurando para D. Maria José (ou talvez ela tenha afirmado isso para mim) que eu estava ali para ouvir e tudo que iria ser dito seria conduzido pela sua escolha, mediada, apenas, pela ação de sua memória. Essa postura foi responsável pelo desenho que a pesquisa foi assumindo. Algum tempo decorreu até que se pudesse estabelecer uma relação de amizade que foi se firmando gradativamente e, junto a ela, foi nascendo uma relação de confiança que foi se consolidando aos poucos, confiança essa, como nos alerta Queiroz (1991, p. 76), tão necessária para a realização da técnica da história de vida. A autora afirma: A segunda exigência para o bom rendimento da técnica de história de vida e depoimentos gravados diz respeito às relações que se estabelecem entre o informante e o pesquisador. Que não exista entre ambos, determinado grau de confiança, e as respostas irão se limitando somente ao que o entrevistado considera suficiente, não permitindo que o pesquisador penetre muito a fundo em sua vivência. Um relacionamento impregnado de simpatia e amizade constitui condição importante para uma boa colheita de dados. Porém acredito que outro fator teve influência para consolidar essa confiança. Como não me era familiar o universo de São Gonçalo do Amarante, cidade em que reside D. Maria José e que tem um histórico de personagens e grupos de cultura popular, convidei Diva Sueli, a amiga, pesquisadora da área de Educação, a quem me referi anteriormente, que nasceu e se criou entre as brincadeiras de pastoril, os grupos de fandango, os contadores de histórias e todo o universo de mitos, lendas e histórias que constitui a cidade de São Gonçalo. A escolha da amiga, que me acompanharia nas entrevistas, tinha o propósito de auxiliar-me nos primeiros encontros, até que eu pudesse me familiarizar com aquele mundo tão distinto do meu. No entanto a presença de Diva, que, de início, destinava-se a me “ciceronear” no universo que circunda as pessoas de São Gonçalo, tornou-se imprescindível no decorrer da pesquisa, uma vez que, todas as vezes em que eu ia sozinha à casa de D. Maria José, ela me perguntava: “E cadê a ‘outra’?”, voltando sempre a esse tópico durante a conversa. Entendi, portanto, que esse era um elemento importante a ser refletido por esta pesquisa, pois pude constatar que a rápida relação de amizade e de proximidade que fui desenvolvendo com a colaboradora tinha uma correlação com o fato de essa relação ser intermediada por alguém que vivera a infância na zona rural de São Gonçalo, sujeita a todas as dificuldades e usufruindo das belezas que aquele mundo representava. Diva compartilhava com D. Maria José esse universo e, mesmo que não fizesse mais parte dele, havia um referencial comum, ao qual poderiam reportar-se. Pode-se aproximar esse fato da experiência descrita por Portelli (1997a) realizada com a classe operária de Terni. O fato de ter crescido na cidade mudou o relacionamento do pesquisador com os entrevistados, que não aceitavam com bons olhos a relação com intelectuais. No entanto o oscilar entre a semelhança e a dissemelhança não garantia uma confiança absoluta: “descobrir que havíamos nos encontrado, meninos, em um campo de futebol, algumas vezes, produzia uma troca mais espontânea. Outras vezes, o fato de ser um nativo somente sublinhava a diferença de classe” (1997a, p. 19) O hesitar entre a identificação e o estranhamento também pode ser observado no comportamento da colaboradora da pesquisa. Em sua fala, D. Maria José, muitas vezes, dirige-se a Diva para que confirme referências a lugares, pessoas e acontecimentos da cidade, o que indica um alto grau de familiaridade; mas, em outros momentos, desconfia das intenções da interlocutora, principalmente quando esta faz referência aos versos que D. Maria José canta. Nestas ocasiões, ela não faz, entre mim e Diva, nenhuma distinção. Mesmo alternando essa relação de confiança, acredito que o fato de D. Maria José estar com alguém do mundo em que vive, partilhando referências temporais e afetivas, alguém que também se dispunha a ouvi-la, despertava-lhe a “desconfiança” de que aquelas pessoas, apesar de desconhecidas, desejavam estabelecer com ela uma relação de proximidade que se diferenciava daquela que havia experimentado com os outros estranhos que tinha conhecido. Entendo que a presença de Diva no trabalho de campo (pelo menos para estabelecer e firmar a relação com a colaboradora) foi suficiente para me credenciar como indivíduo, se não pertencente, pelo menos agregado ao universo de D. Maria José; portanto apto a conhecê-lo. É certo que todos esses elementos analisados foram constituindose e desfazendo-se nas diversas “idas e voltas” vividas durante o processo de pesquisa de campo. No entanto, para o êxito desse processo existiam barreiras iniciais que necessitavam ser desfeitas. Lentamente, por sobre elas consegui estabelecer laços que me permitiram fiar o discurso no qual se entremearam as vozes diversas que compõem o corpus da pesquisa. Agora, o outro desafio que neste momento se apresentava era a passagem do universo sonoro das entrevistas − tão vivo, cheio de cores e sensações − para o mundo branco e preto da escrita. Esse processo, convido agora o leitor a conhecer. 2.3. A voz no papel: a transcrição Depois da fase do trabalho de campo, outra etapa da pesquisa começou a desenvolver-se: a transcrição. Ela compreende o ato de reproduzir a entrevista oral num texto escrito, comportando todas as nuances que permitam ao leitor do texto reportar-se ao momento em que a entrevista foi realizada. Para grande parte dos pesquisadores, essa é uma tarefa complexa e delicada, uma vez que é a responsável pela expressão do resultado do esforço realizado no campo, constituindo o corpus da pesquisa. A grande dificuldade apontada para a realização desse procedimento vai além do debate técnico, pondo em discussão questões importantes para as pesquisas que trabalham com o relato oral. Segundo Queiroz (1991), desde o aparecimento da história oral como técnica de pesquisa, entre as discussões que se estabeleceram estava o debate sobre os avanços tecnológicos que possibilitaram ao pesquisador novos meios para captar o real. O gravador, ou qualquer recurso que se assemelhasse a ele, era apontado como instrumento capaz de anular o possível desvio trazido pela intermediação do pesquisador. Ele permitia apreender o momento da narrativa, conservando as peculiaridades do instante de sua enunciação, as pausas, os silêncios, as entonações e as rupturas. Porém logo se percebeu a impossibilidade de uso, pois o material gravado, apesar de existir como um arquivo a ser consultado, era de manuseio complicado, o que facilitava a preferência pela apresentação da pesquisa na forma escrita. Dessa forma, o potencial de uso do gravador foi reduzido a fornecer ao pesquisador um registro próximo ao real, capaz de ser manuseado em diferentes momentos, permitindo uma análise mais apurada do material coletado. Assim, devolve-se ao pesquisador a responsabilidade de ser fiel ao que lhe é narrado, pois o relato oral necessitará de sua intermediação para realizar a correspondência entre os códigos oral e escrito da língua tentando abranger a cena enunciativa que o uso deles pode ter. É nesse instante que começam as dificuldades. Entre os estudiosos da história oral, não existe uma postura única para a realização do procedimento da transcrição. Isso se explica, em parte, pelas variadas leituras do inventário de diferenças que separam o código oral do escrito. Paul Thompson (1998) definiu a visão mais comum, da transcrição integral, afirmando que ela deve, preferencialmente, incluir tudo que está gravado, excetuando-se alguns tipos de digressões e o gaguejar à procura de palavras. Para ele, deve-se, entre outras recomendações, conservar a gramática e a ordem das palavras como foram faladas, indicando-se no texto quando não se conseguir compreender uma palavra ou uma frase. No entanto, se, para Thompson (1998), a transcrição pode perfeitamente encerrar-se em tal estágio, Bom Meihy (1991, 2000) defende a necessidade de uma longa e elaborada edição, que compreende duas outras etapas − a textualização e a transcriação − cada uma comportando um conjunto de práticas, inclusive literárias. Para o autor, Trabalhar uma entrevista equivale a tirar os andaimes de uma construção quando ela fica pronta. Com isso, a primeira tradição quebrada é a do mito de que a transcrição de palavra por palavra corresponderia à realidade da narrativa. Porque uma gravação não abriga lágrimas, pausas significativas, gestos, o contexto do ambiente, é impossível pensar que a mera transcrição traduza tudo o que se passou na situação do encontro. A experiência desta pesquisa apresentou-me essa dimensão. Nesse tipo de trabalho, não é rara a possibilidade de o pesquisador deparar com situações impossíveis de serem transcritas para a linguagem acadêmica. Portanto o trabalho árduo de grafar a fala do outro pressupõe escolhas que devem ser guiadas por parâmetros definidos a partir do contato que o pesquisador travou com o universo pesquisado, buscando transpor para a linguagem escrita a gama de sensações, gestos, cheiros, cores, humores, afetos e movimentos que circundam o espaço no qual aconteceu o colóquio e que, portanto, são muito significativos para a interpretação daquilo que é efetivamente dito e que não pode ser somente expresso pela linguagem verbal. Nesse sentido, pode-se destacar a importância do olhar atento do pesquisador para essas situações, no momento da coleta e também no momento posterior, de escuta das gravações, procurando compreender se elas são elementos importantes para a análise dos dados. Na técnica por mim adotada, imediatamente após os encontros eu ouvia os registros orais coletados e apenas transpunha para a escrita a fala dos participantes da conversa tal qual constava no registro das fitas cassete. Paralelo a isso, também após as visitas, eu construía numa caderneta o registro escrito daquilo que não podia ser captado pelo gravador, organizando um diário de campo. No entanto esse procedimento era apenas o passo inicial do processo da transcrição23, pois a edição do texto, fase que visa textualizar o relato oral, de modo a permitir que seja possível recriar, dentro do código da escrita, a atmosfera da entrevista, comporta a criação de um sistema de codificação próprio que identifique os elementos nãolingüísticos, tornando-os legíveis e permitindo o entendimento do significado do discurso. Ao transpor o registro oral para a forma escrita, a primeira dificuldade que enfrentei foi a adaptação ao ritmo da fala de minha interlocutora. As diferenças culturais que nos separavam tornavam, por vezes, enigmáticas certas expressões e entonações próprias da variante lingüística de D. Maria José. No entanto o contato e a relação de intimidade que fui desenvolvendo com minha colaboradora me possibilitaram perceber que, além de repetição de palavras, frases inacabadas, períodos confusos, omissão de termos, característicos da língua oral, na fala de D. Maria José 23 Vale ressaltar que nem todas as conversas foram registradas, assim como nem todas as transcrições realizadas constam no corpus do trabalho, no capítulo 3, pelas razões já explicitadas anteriormente. existiam peculiaridades impressas na sua “maneira de dizer” as coisas, que revelavam uma marca própria. A voz de D. Maria José foi se revelando para mim contaminada por uma musicalidade própria da literatura que parecia transbordar dos versos que ela canta para sua forma de falar cotidiana. Por muitas vezes, ao tratar de um assunto, ela terminava com um canto, como se esse fosse o caminho natural de sua fala. Em outros momentos, nos quais se reportava a situações da sua vida de sofrimentos, modificava repentinamente o tom da conversa, fechando o assunto com um comentário ou um canto de natureza jocosa. As longas pausas e os efeitos provocados no discurso pelas repetições e pelas “fórmulas” utilizadas foram, aos poucos, ganhando lógica e construindo um sentido mais amplo. Porém, para eu entender esse movimento e dar-lhe, posteriormente, uma forma gráfica, foi-me necessário, como indica Ana Cristina Marinho Lúcio (2001), aprender a fala desse outro, acostumar-me com sua voz, aprender a lidar com as diferenças que separam a linguagem científica da cotidiana, esta última marcada por uma série de códigos nem sempre expressos nas palavras. Identificar essas diferenças ajudou-me a me posicionar como um interlocutor que conseguia perceber os diferentes tempos e espaços que constituem a forma de expressão de minha interlocutora e transitar entre eles. Embora a fala de D. Maria José seja o elemento central deste trabalho, não pensei em retirar a minha fala e a de minha acompanhante do texto, conservando-lhes a coloquialidade e as expressões próprias do código oral, como, por exemplo, os marcadores interacionais. Como acredito que o corpus construído é o produto do relacionamento mútuo entre pesquisador e colaborador, também a fala de D. Maria José não foi alterada, conservando a sua variedade lingüística. Esse procedimento teve o propósito de marcar a identidade social de D. Maria José, na intenção de valorizá-la, atentando para expressões e modos de pronúncia que personificam o discurso narrativo. No entanto tomei o cuidado de não fazer dela um estereótipo, lembrando, a partir das observações de Lúcio (2001), que o exagero nesse recurso pode revelar a intenção de marcar as diferenças sociais, além de transformar a narrativa num texto difícil de ser lido. Achei por bem conservar as hesitações, repetições, pausas e marcar os longos silêncios que se instauravam no discurso de minha interlocutora, por acreditar que eles continham elementos muito significativos para a compreensão da narrativa. Esse recurso me deu, por exemplo, a oportunidade de visualizar, nos textos, os grandes espaços que revelam as recusas de D. Maria José de falar sobre os cantos. Nesses momentos, uma grande sucessão de marcadores interacionais dá lugar às respostas, evidenciando claramente que ela não quer falar. Também optei por conservar a fala e registrar a presença dos que freqüentaram o ambiente onde aconteceram as entrevistas. Suas vozes eram complementos que ajudavam a perceber as relações que se construíam entre D. Maria José e seus familiares e amigos. Quanto à apresentação gráfica do texto, achei por bem acrescentar informações que indicam gestos, expressões, movimentos, comportamentos e contextos situacionais que ajudam a apresentar a cena na qual a conversa se passa. Esse recurso, no entanto, foi utilizado de modo a complementar o texto, uma vez que, como bem lembrou Lúcio (2001, p. 30), “a ênfase deve estar nas palavras, nas pausas, nos recursos sonoros. Caso seja necessária uma descrição dos gestos que ela aconteça no contexto narrativo”. Com essas soluções, estava finalizado o formato de apresentação da entrevista. Procurei sintetizá-lo na chave de transcrição apresentada no final deste capítulo. O problema agora era: como reunir, em um bloco de textos que tivesse uma unidade de significado, as diversas entrevistas, que marcavam momentos diferentes do trabalho? Como transformá-las num texto que fosse a expressão, na forma escrita, da “voz” da personagem desta pesquisa? A intenção primeira que eu tinha para a apresentação do corpo de entrevistas era acompanhar a seqüência temporal dos encontros, para permitir ao leitor perceber a gradativa modificação de meu comportamento e do de minha interlocutora durante o processo de pesquisa. No entanto a perda do material impossibilitou a realização desse intento, pois, dos relatos orais colhidos na primeira fase, grande parte foi inutilizada, e o que pôde ser recuperado não apresentava a significativa mudança à qual me referi, já que era de datas muito próximas entre si. Descartada a possibilidade de construir uma seqüência cronológica, pensei em organizar o material pelo conteúdo temático das histórias. Porém essa solução apresentava o inconveniente de cortar as falas e as seqüências, e acabei concluindo que esse formato desestruturaria o texto, alterando o caminho construído pela memória de D. Maria José no trabalho de erguer a trama narrativa que revelava sua vida. O processo de ouvir diversas vezes os relatos foi muito importante para que eu encontrasse a solução. Observei, ao colher os novos relatos, que as histórias contadas eram as mesmas já relatadas anteriormente e com tanta proximidade que, por vezes, D. Maria José se reportava, em fala, a acontecimentos e fatos que tinham um referencial no que tinha sido dito meses antes daquele encontro. Percebi então que a tão insistente reiteração dos mesmos fatos compreendia um recorte próprio de um repertório eleito com um fim determinado. Para caracterizar a importância dessas repetições, optei por organizar as entrevistas em dois blocos, que separam os primeiros e os novos encontros, distinguindo as duas fases. Em cada um deles, a entrevista é identificada pela data e, em seguida, como o momento da gravação nem sempre corresponde ao momento em que eu e minha acompanhante chegamos à casa da colaboradora, acrescentei uma espécie de descrição da ocasião que antecede a gravação, com o propósito de situar o leitor no contexto em que a narrativa acontece. Por fim, o que pretendi fazer, nesse processo de transcrição, foi construir para o leitor um texto que desse destaque àquilo que é o essencial deste trabalho: a voz de D. Maria José. Permitir que se “ouça” essa mulher é comprometer-se com aqueles que pertencem ao universo da oralidade, tentando aproximar-se, o quanto possível, do seu mundo. Esse é o percurso que fiz para atingir o propósito descrito. É chegada a hora de conhecer D. Maria José, ouvir o que ela tem a dizer. Agucemos nossos sentidos, pois começaremos pelo silêncio. CONVENÇÕES UTILIZADAS PARA A TRANSCRIÇÃO: ((anotações entre parênteses duplos)) Anotações da entrevistadora que indicam gestos, comportamentos, referências e contextos situacionais para uma melhor compreensão do diálogo. ... Pausas breves ... ... Cortes na seqüência da narrativa [?] Trechos incompreensíveis puderam ser transcritos. (SILÊNCIO) que não Grandes pausas, que indicam reflexão e momentos de hesitação. Texto em itálico Marcações para, declamações e rezas. /... Indicadores de corte na narrativa ♫ e texto em itálico Marcações dos momentos em que D. Maria José canta. Algumas informações necessárias: 1. As falas de outras pessoas no discurso de D. Maria José são representadas entre aspas, mesmo quando antecedidas de verbo de elocução. Esse recurso foi utilizado para diferenciar essas falas da fala de nossa colaboradora em situações de discurso reportado. 2. Na narrativa, foram mantidas as seqüências conforme a variedade lingüística que D. Maria José usa. 3. As marcas regionais foram conservadas por acreditarmos que personificam o discurso narrativo. 4. O uso de pontos de interrogação e de exclamação juntos identifica trechos no qual a pergunta é enfática ou retórica. III MARIA JOSÉ: A VOZ EM CANTO Conto para mim, conto para o senhor. Ao quando bem não me entender, me espere. Grande sertão: veredas João Guimarães Rosa 3.1. Ouvindo os silêncios: a escolha do repertório Ao escolher “ouvir” o que diz um relato oral, deve-se considerar os múltiplos discursos presentes nas vozes que nele aparecem. Os enfoques dados a este ou aquele aspecto do discurso hão sempre de recair sobre a voz que fala, a que cala, a que nega, a que repete. Elas desempenham, cada uma a seu modo, um papel importante na montagem do grande tecido narrativo que revela o que os sujeitos envolvidos dizem de si, e do tema em debate. Queiroz (1991) chama de discurso do “indizível” o que guarda consigo aquilo que as palavras não conseguem captar e que, por isso, só pode ser ouvido por um outro tipo de escuta, que considera os códigos contidos nas pausas, nos gestos, nos olhares, e até mesmo no silêncio. É sobre esse último que pretendo refletir neste espaço, pois, no relato da vida de D. Maria José, a voz que cala constrói em seu silêncio uma gama de significados que revelam as particularidades desse sujeito, apresentando, nesse vazio de som, um aviso silencioso que me possibilitou encontrar a direção para conseguir ouvir, além dos sons e das palavras, o que essa voz quer apresentar de si. Pode-se dizer que desdobrar a questão da relação entre pesquisador e colaborador foi decisivo para eu encontrar o caminho deste estudo, uma vez que pensar os papéis desempenhados pelos participantes dessa experiência me levaria a refletir sobre as imagens que se formam entre esses sujeitos que interagem na situação específica da pesquisa. Para o entrevistado, o pesquisador é o estranho ser que vem de longe 24, que possui outros costumes e outra cultura e que está na posição de quem pergunta, daquele que quer saber, e o seu ar inquisidor aparece até mesmo quando se cala. Já foi esclarecido aqui que a imagem que D. Maria José construiu de mim e de minha acompanhante, no momento inicial da pesquisa, tinha, provavelmente, como referência os outros desconhecidos que a visitavam, além da imagem pública dela mesma, em plena divulgação local e nacional. Por não ser uma pessoa anônima, ela tinha claro para si o que motivava as pessoas a procurarem-na. No espaço público, mostrava-se engraçada e comunicativa, mantendo a postura conforme o papel que lhe fora destinado. Em casa, apesar de receber as pessoas e encantá-las com o seu repertório, mantinha-se reservada, desconfiando sempre das intenções dos estranhos. Isso porque os cantos que canta em seu espetáculo e mesmo aqueles com os quais encanta os visitantes que a procuram são elaborações a partir de condições diferentes, que correspondem a uma imagem pública já construída e divulgada. Assim, no momento em que D. Maria José está com o público, um conjunto de estratégias entram em cena, na sua postura, para conservar e perpetuar a imagem de D. Militana. Ao se transformarem em produtos, seus cantos merecem um tratamento comercial e é nessa base de troca que lhe foi apresentada que ela estabelece a relação com os estranhos. Lembrarei a seguir um momento da pesquisa que reforça essa postura. Como já foi comentado no capítulo anterior, minha primeira visita à casa de D. Maria José teve a motivação de comprar o seu CD. Nossa conversa teve início a partir dos cantos por ela gravados. Ao perguntar-lhe sobre O romance do lavrador, ela respondeu de forma desconfiada: “Você quer que eu cante? Então pague. Quem canta de graça é galo!” Na ocasião, 24 Essa discussão tem referência nos trabalhos de Martins (1993b) e Lúcio (2001). lhe respondi que o pagamento já havia sido feito, uma vez que tinha comprado o seu CD. Em seguida, comecei a cantarolar o romance assim: ♫ tava um pobre lavradOr de suor afadigAdo Chegô casaca de couro ÊÊÊ... Pois-se na cerca assentAdo. ♫ D. Maria José sorriu, e mudou de assunto. Muito tempo depois, ao fim da visita, mais acostumada com a minha presença e a da amiga que me acompanhava, ofereceu-nos um café. Chamou-me, então, para ir à cozinha e, reservadamente, disse-me que minha forma de cantar estava errada, porque “você não sabe dá o tom certo”. Ela se referia a um erro na cadência rítmica das palavras finais, que eu havia cometido ao cantar. Nesse momento, para mostrar a forma correta, cantou o “verso” todo, demonstrando que tem, mesmo que intuitivamente, consciência dos elementos musicais que compõem o seu canto: ♫ tava um pobre lavradOoor de suor afadigAado Chegô casaca de couro ÊÊÊê... Pois-se na cerca assentAaado. ♫ Posso dizer que nesse dia presenciei dois momentos de D. Maria José: o primeiro, aquele que faz parte da uma estratégia que a artista utiliza para lidar com a imagem construída, intermediada pelo valor de troca estabelecido, e o segundo, no qual ela revela seu canto como um presente, uma maneira de demonstrar que gostou de mim, (suponho que porque não insisti para que ela cantasse). No entanto, como eu ainda era desconhecida, essa tímida demonstração de simpatia foi feita de maneira sutil e precisou estar longe dos olhos dos outros para se revelar. A cena descrita acima revela a imagem que a colaboradora da pesquisa havia construído sobre mim. No entanto é preciso que eu volte à problemática das relações que se desenrolam entre colaborador e pesquisador, olhando pelo sentido oposto, o do pesquisador, pois esse ângulo é fundamental para eu continuar essa reflexão. Focalizar a questão implica uma auto-reflexão, de mim, enquanto pesquisadora, que se inicia com as perguntas: Qual a imagem que eu tinha de D. Maria José no momento em que fui visitá-la com minha acompanhante? O que ela tinha a dizer correspondia àquilo que, em meu papel de pesquisadora, eu queria exatamente ouvir? Para responder a essas perguntas, preciso refletir sobre o percurso que me levou a procurá-la. Já comentei que, no início da pesquisa, ao programar as entrevistas, eu tinha memorizado um roteiro organizado a partir de questões que envolviam os cantos e a vida de D. Maria José. O esboço continha perguntas sobre sua vida familiar, as situações em que cantava, a relação das brincadeiras e dos cantos que as acompanhavam, o trabalho, entre outras questões. No entanto minha interlocutora impôs um desvio no caminho que eu tinha previamente traçado. Quando era questionada quanto à relação que estabelece com os versos que canta, ela respondia com silêncios que se instauravam de forma mais contundente no discurso ou se esquivava de responder e oferecia a narrativa do seu dia-a-dia. Incomodoume aquela situação, pois supunha que o que poderia estar oculto nas entrelinhas do discurso forneceria a chave para poder “ouvir” o que ela queria dizer. Decifrar esse código passou a ser uma inquietação. Apoiei-me, então, no que afirma Martins: No campo, o pesquisador se defronta com uma linguagem de silêncio. Com o tempo, aprende a conviver com essa população e descobre o que significa o seu silêncio. É uma forma de linguagem e um meio de luta. É preciso uma paciência enorme para ouvir esse silêncio. É ele que fala mais do que outra coisa. Às vezes, numa situação de entrevista, o entrevistado é capaz de ficar longo tempo calado. As poucas palavras, intercaladas por pausas e acompanhadas por muitos gestos, colocam o pesquisador diante da ampla riqueza dessa fala dupla, que oculta e revela e, com isso, situa quem fala e, também, quem ouve. (1993b, p.33) Assim, tive certeza de que, se quisesse conhecer a história de D. Maria José pela dimensão de sua própria voz, teria que me comportar com ela como ninguém havia feito antes: teria que garantir-lhe uma escuta para aquilo que ela desejava dizer de si. A metodologia adotada permitia essa abertura, uma vez que ela tem na voz dos indivíduos que nunca foram ouvidos a sua área de atuação. Os silêncios, as recusas e a insistência de D. Maria José levaram-me à percepção de que, quando formulava as questões que seriam referência para a entrevista, pensava nas relações dos cantos com o cotidiano. Esse enfoque, apesar de buscar a relação com a vida de minha interlocutora, tinha como ponto principal os cantos. D. Maria José me fez “ouvir” em suas palavras e, principalmente, em seus silêncios o que enfatiza Xidieh (1993): que na cultura popular há um momento social para que as práticas culturais aconteçam, um momento em que elas se justificam e funcionam: As narrações registradas segundo a velha receita podem ser as narrações mesmas, porém todas as coisas que as solicitam e que nelas se entrosam de maneira a equacionar toda uma situação não se registram não (XIDIEH, 1993, p.24). Dessa forma também acontece com os cantos de D. Maria José. Diferentemente do que eu pensava, para perceber as relações entre os cantos e sua vida era preciso lançar um olhar para o seu cotidiano. Minha colaboradora parecia indicar que era preciso contar o dia-a-dia, pois é nele que essa relação é construída e consolidada. Como estávamos em “mundos” e “tempos” que separavam culturas diferentes, foi D. Maria José a responsável por indicar a melhor maneira de conhecer sua cultura. Por isso ofereceu como narração as histórias próprias do cotidiano − da imagem de mulher forte, que, mesmo na condição subalterna (pobre, negra e mulher), consegue impor-se no setor hegemônico, marcado pelo discurso masculino e das elites dominantes. Desse modo, apesar da insistência minha e de minha acompanhante em perguntar sobre os cantos, D. Maria José conduz a conversa para a rede de operações na qual estão envolvidas as práticas culturais que eu queria ouvir e descobrir. O real sentido delas só pode aparecer nas práticas cotidianas que as ambientaram e constituíram, pois, como esclarece García Canclini (1983, p.43), A especificidade das culturas populares [...] deriva também do fato de que o povo produz no trabalho e na vida formas específicas de representação, reprodução e reelaboração simbólica das suas relações sociais. D. Maria José sabe disso. Os cantos, na sua função original, estabelecem relações fortes com as condições materiais de vida da artista. Essas condições desenham para ela um cotidiano de privações e necessidade. Falar desses cantos, para Maria José, é falar dessas relações. Impossível apresentar seus cantos sem construir a imagem da vida que lhes deu sentido. Assim, percebi que contextualizar qualquer manifestação cultural é dizer o “onde”, o “porquê” e o “quando” de sua presença. Identificála na vida de alguém é percebê-la no entremeio da linguagem como uma experiência comum do trabalho e da família. Ciente disso, compreendi que, à medida que me distanciava dos aspectos externos à cultura popular, abria-se a possibilidade de posicionarme diante do sujeito pesquisado. Foi D. Maria José quem me mostrou que se podia voltar a atenção para suas outras atividades, e que sua vida era quase uma síntese do universo popular. Sua atividade de benzedeira, o papel importante que desempenha na comunidade, sua função de cuidar dos moribundos e de encomendar os mortos são faces dessa mulher tão conhecida só partilhadas pela sua comunidade. Em vez dos cantos, que eram contaminados com uma representação simbólica do dinheiro, nossa relação possibilitou a D. Maria José oferecer outras histórias, outros cantos, muito mais: a narrativa da sua vida era uma dádiva. Apresento a narrativa resultante dessa experiência compartilhada, no próximo item, através das transcrições completas das entrevistas, o que constitui o corpus da pesquisa. Uma vez que se trata da história de vida dessa mulher, optei por apresentá-las evidenciando D. Maria José como sujeito, conservando os questionamentos das interlocutoras e as eventuais opiniões de familiares e pessoas da comunidade que estavam presentes na hora das entrevistas. O objetivo é trazer o leitor para perto da conversa para que possa, de algum modo, participar das entrevistas e compartilhar esses momentos de reflexão de D. Maria José sobre o que constitui seu mundo, sua vida. A seguir, a construção da imagem que D. Maria José quer apresentar será feita pela dimensão de sua própria voz. 3.2. Eu que narro, quem sou? 3.2.1. Os Primeiros Encontros O bloco de entrevistas que compõe esta parte das transcrições é parte das gravações realizadas entre janeiro de 2003 e agosto de 2004 recuperadas entre o material da pesquisa que foi danificado. Consegui recuperar a quase totalidade de três gravações realizadas nos dias 03 e 10 de março e 15 de julho de 2003. Nesse momento, D. Maria José morava no Sítio Oiteiro e estava no auge da divulgação pública de seu nome. Nos primeiros encontros que tive com a artista, expliquei o porquê do meu interesse em ouvir sua história de vida, o que foi recebido por D. Maria José com um misto de alegria, por ter com quem conversar, e desconfiança do real interesse que me movia. Aos poucos ela foi se convencendo de que meu propósito era ouvir suas histórias, uma vez que eu deixava a memória de D. Maria José estender-se livremente por todas as histórias que incluíam desde brigas de família, aventuras de infância, agruras da vida de privações até a sua performance como romanceira. Nas conversas expostas a seguir, eu já tinha conseguido construir com D. Maria José uma relação bem mais descontraída, do que quando iniciara as idas ao Sítio Oiteiro. D. Maria José demonstrava-se feliz com a possibilidade de conversar sobre a sua vida: por muitas vezes, pude perceber a sua ansiedade em confirmar a visita seguinte. Quanto a mim, crescia cada vez mais o envolvimento afetivo e a admiração por ela. Vejam-se, a seguir, três flagrantes dessa realidade que marcaram esse momento da pesquisa. 3.2.2. Transcrição 1 Entrevista realizada em 03 de abril de 2003, no Sítio Oiteiro, São Gonçalo do Amarante. Chegamos, eu e Diva, ao Sítio Oiteiro, por volta das 14 horas. Esse era o terceiro encontro com D. Maria José. Como de costume, a cumprimentamos e ela recebeu–nos queixando-se de sua saúde. Para animá-la, mostrei-lhe a máquina fotográfica que havíamos prometido trazer para fotografá-la. Iniciei nossa conversa pedindo que ela falasse sobre sua vida. D. Maria disse então o verso que criou para apresentar-se: Minha vida é um romance, faz vergonha eu lhe dizer/ no dia em que nasci/ não achei o que comer, Depois do verso, começa a contar sobre os seus filhos. Enquanto preparo o equipamento de gravação, ela inicia sua narrativa... D. MARIA JOSÉ – Quando me casei/... Sebastiana aquela que vem aqui, mas essa que saiu não, a outra, a dona dessa casa aqui/... quando me casei ela estava com oito meses. Já tinha enterrado Raimunda, a primeira, Joaquim o segundo. Já tinha Francisca e Sebastiana com oito meses. Lílian – Quer dizer que os primeiros filhos da senhora morreram, né? D. MARIA JOSÉ – Morreram onze. Diva – Onze? D. MARIA JOSÉ – Eu só criei sete. Os outros onze Deus criou. Agora uma teve quinze, outra teve dezesseis, outra teve quatorze, uma turma entre netos e bisnetos. Riqueza na minha vida, só família! Lílian – É uma grande riqueza! D. MARIA JOSÉ – Nos dias de domingo se junta aí na porta, faz até medo esse bando de bisneto. Mas eu já sofri demais. Como eu disse, quando eu nasci não achei com o que me enrolar e nem comer pra comer. Papai nunca comprou um dedal de leite pra mim e quem ajudou a criar a família foi eu. Lílian – Hum rum! D. MARIA JOSÉ – Porque a mãe dele não queria que ele comprasse nada pra mim, ela não queria que papai casasse com minha mãe, queria que papai casasse com a prima dele. Até estalar o olho da moléstia, ela estalou e ela queria que ele casasse com ela pra ele amparar ela. Aí ele disse: “Tá vendo que eu não vou deixar de casar com uma moça, pra mode casar com uma mulher usada, ainda mais doente?” Aí ela ficou com raiva. Aí um dia morreu uma gata dela, ela já tinha raiva de mim/... Lílian – Hum. D. MARIA JOSÉ – Aí a gata amanheceu o dia morta entre as trempe. Aí ela disse: “Atanásio?” e ele: “Senhora?” ela: “Mande Maria José mais Maria Bune botar a gata no mato.” Que lá tinha uma estrada e tinha uma pitombeira na beira da estrada. Aí eu peguei numa perna, Maria Pena pegou na outra e comadre Bune pegou na frente, mais Zorinha, aí eu disse: vamo cantar? “O que tu vai cantar Maria José?” Vamo cantar pra aperriar Nanina, a gente chamava ela de Nanina, que o nome dela era Firmina. Aí a gente saiu. ♫ Bichana morreu de velha, Bichana da minha Nanina, Bichana morreu de fome, Bichana de minha Nanina, vamo enterrar Bichana. ♫ Aí ela: “Tu visse se a gata morreu de fome?” Eu digo porque ela é seca. Lílian – ((rindo muito da história)) Ai, Dona Maria! D. MARIA JOSÉ – Aí mamãe: “Maria José não vai mais levar comida de sua mãe, porque ele leva a vasilha com a feira dela, e ela fica esculhambando ela.” Eu era safada!/... Lílian – A senhora não era peça boa não, né Dona Maria José? Tem a história de um boi que a senhora matou também, né? A senhora me contou uma vez uma história de um boi. D. MARIA JOSÉ – Eu matei uma vaca. Lílian – Ah, era uma vaca! D. MARIA JOSÉ – Cheguemos no roçado eu e papai, nesse tempo era o plantio do feijão. Cheguemo no roçado logo cedo, o sol tinha saído, a vaca por acolá, tava tudo distruído, o milho e o feijão chega tava assim rebentado. Lílian – Sei. D. MARIA JOSÉ – Aí o que é que eu havera de fazer? Tirei as cercas do roçado, não era assim antigamente? Lílian – Ham. D. MARIA JOSÉ – Eu fui, tirei um pau, tirei um pra mim e outro pra Bune. Eu disse: Bune! Ela disse: “essa vaca dá.” Eu digo: não deixe a vaca dá em mim, que eu não deixo a vaca dá em tu. Aí quando eu cheguei, que falei, a vaca se levantou, se espriguiçou, se espriguiçou e fez assim pra comadre Maria Bune. ((faz gesto com a cabeça)) Sentei-lhe a vara, o pau bateu, a chiringada de mijo avuou. Aí quando ela alevantou-se, eu disse: pegue o cassete, vamo matar ela, lá do outro lado. E outra vez, eu tava fazendo a cerca ali, quem fazia essa cerca era eu mais Tia Cantu/... porque pra enfincar as estacas, Tia Cantu ia mais na frente cavando, aí disse: “morresse Maria José”, era o boi, eu tava de coca quando ela disse, “morresse Maria José.” Eu meti dos pés, o bicho já vinha mesmo assim, quando ele freou eu enterrei dos pés, me alevantei, mas ô cipoada bonita! O pau bateu, ele caiu. [?], assim encostando o espinhaço no chão, bateu, ele caiu. Aí João Moita disse: “matasse a vaca”. Aí eu fui, chegou no aceiro do roçado, na cerca. “Eita Maria José e agora? Matasse a vaca do homem.” Eu que mim importa! Mas, ela não come mais em roçado de ninguém. Lílian - A senhora matou porque ela tava comendo lá dentro do roçado? D. MARIA JOSÉ – Tava comendo, tinha furado a cerca, passou a noite comendo dentro do roçado. Lílian – E o dono da vaca o que foi que fez? D. MARIA JOSÉ – Hum?! Lílian – E o dono da vaca? D. MARIA JOSÉ – Pere aí... Aí João Moita disse: “vamos botar a bicha pra fora”, aí na brecha que ela tinha saído, tinha uma vareda e lá tinha um pé de moita. Lílian – Sei. D. MARIA JOSÉ – João tirou a tampa da cerca embaixo. Aí eu disse: vamo ver se tu tem força mais eu, aí ele enfiou um pau assim, eu enfiei outro e bolamos ela pra o pé da cerca. Quando ela encostou, nós passamos pro lado de fora, aí ele pegou nos dois pés e eu peguei nas duas mãos e arrastemo ela e botemo debaixo dum pé de moita trubá. Aí João chegou e varreu por onde ela passou, aí nós nem comecemo a apanhar o feijão que vem chuva. Aí João disse: “olhe Maria José como Deus te valeu.” Isso foi na sexta-feira, quando foi no domingo eu ia pro roçado mais papai e encontremo o dono da vaca. “Atanásio?” Papai disse: “Senhor?!” “Tu não visse a minha vaca por aí, não, aquela vaca cinzenta de chifre grande?” Papai disse: “Vi não, porque eu só venho pro roçado de oito em oito dias, quem vem pro roçado é as menina.” Ele disse: “tu não visse, não, Maria José?” Eu digo: vi não. Aí ele disse: “faz três dias que a vaca não vai pro curral, a bezerra tá só berrando e ela não vai.” Aí papai disse: “ela ainda pode aparecer.” Eu digo: ela vai muito aparecer! ((risos)) Lílian – Mas Dona Maria, a senhora matou a vaca! D. MARIA JOSÉ – Aí ele arrodeou e viu a vaca morta e disse: “Atanásio, tu bem que dissesse que ela morreu engasgada com moita trubá, tá lá debaixo do pé de moita trubá, não presta mais nem pra tirar o couro.” Eu digo: Nunca mais ela vai comer em roçado de ninguém. Diva – Foi tudo planejado. Lílian – E seu pai nunca soube que foi a senhora? D. MARIA JOSÉ – Morreu e nunca soube. Lílian – Ah, meu Deus! a senhora era muito danada, viu? D. MARIA JOSÉ – Uma vez eu tava com dezoito anos, Didi tava noiva com um cara que ele era meio baixo e forte. Fomos só nós três, eu, ele e comadre Maria, irmã minha. Quando cheguemo lá em cima, tem uma vereda grande que saí lá de trás do cemitério, quando cheguemo lá em cima, Didi na minha frente, eu atrás de Didi e comadre Bune atrás de mim. Aí, comadre Bune disse: “mim solta Chico, mim deixa Chico”, quando que eu me virei para trás, ele tava agarrado com ela. O que é que eu ia fazer? Ele botou ela no braço e ia dando a volta pra entrar na vereda. Eu digo: não é de ser assim.... A gente andava cada uma com duas facas que era pro mode as cobras de viado, e eu sortei o facão aqui junto a minha perna, peguei o cabra nos músculo, as unhas, essa, essa e essa, quatro unhas, eram grandes, aí foi, eu peguei ele aqui nos músculo e segurei, aí ele soltou ela, quando ela mergulhou por debaixo, dei três arrasto pra cá, três empurrão pra lá e joguei ele, quando joguei, ele caiu lá dentro dos garranchos, ficou só com a sola dos pés de fora. Aí quando ele se endireitou, saiu, aí arrastou a peixeira, “vou botar-lhe o fato abaixo.” Eu digo: bota fio de rapariga, eu nunca vi um fio de rapariga botar o fato abaixo de uma filha de um homem, quero ver agora, bota! E eu com o olho na munheca dele, se ele manejar a mão ou o pé, eu empurro o facão e toro a munheca dele e com a faca dele, eu mato ele. Aí ele levou um corte assim, que rasgou o peito, ficou encarnado de sangue, o desgraçado. Aí, Didi disse: “vai-te embora Chico, vai-te embora, vai-te embora, deixe de ser frouxo.” Agora eu tô pagando! Lílian – Por que Dona Maria que a senhora diz que está pagando? D. MARIA JOSÉ – Pois num é assim? O povo diz quem faz aqui, paga aqui, né? Lílian – É. D. MARIA JOSÉ – Tem uma amarelinha acolá do rabo grosso, que disse que ainda tira minha goga. Todo dia eu me sento aqui no batente, ela só quer ser falante, só fala em valentia ((Chega Benidita, a filha de D. Maria, e senta-se para conversar conosco)) D. MARIA JOSÉ – ((falando com a filha)) Veio de tarde, por que filhinha? Benidita - Porque não deu tempo vir de manhã. D. MARIA JOSÉ – Entra, senta, ainda tem cadeira ali, lá dentro ainda tem.... Sim! Aí ele chega em casa encarnado de sangue, aí a mãe dele disse: “o que foi isso, Francisco?” “Foi a filha de seu Atanásio, e eu vou dá parte dela.” Aí ela disse: “tu vai dá parte da menina, ela é quem sabe porque fez isso, ela é chamada, diz o que passou-se, tu é quem fica preso e ela vem pra casa.” Aí era um corte desse tamanho nas costas, em cima da pá, “foi ela com o facão.” Eu digo: não, foi ele nos garranchos. “Tu já visse as pessoas cair emborcado e se cortar nas costas?” ela falou com ele. Aí ele disse: “pois eu vou mimbora pra nunca mais ver aquela égua.” Aí foi-se embora pra Goianinha. Aí não passou um mês, a carta chegou, que ele tinha morrido, tinha criado inflamação por dentro e tinha morrido. Lílian – Eita, Dona Maria! Diva – Não foi a senhora que matou, foi a infecção. DONA MARIA JOSÉ – ele morreu porque quis. Não tratou-se porque não quis. Diva – É, não foi ao médico porque não quis. ((risos)) DONA MARIA JOSÉ – também levar ela pra dentro do mato, ele não levou, e se ele quisesse ter levado, tinha morrido no mesmo canto. Lílian – Foi se fazer de engraçado, né Dona Maria? DONA MARIA JOSÉ – Agora não, agora eu tô velha! Lílian – Tranqüila, mais ainda usa o facão! DONA MARIA JOSÉ – o facão tá lá dentro. Diva – vamos pegar pra gente tirar um retrato aqui na calçada, pra senhora ficar do jeito que a senhora fica aqui na calçada, a senhora não diz que fica/... Benidita - A senhora ainda usa o facão, mãe? DONA MARIA JOSÉ – Eu vou dormir sozinha, sem o facão de uma banda? Diva – Ela diz que senta aqui na calçada, com o facão dela, de noite! D. MARIA JOSÉ – De noite eu me sento aqui e o facão tá aqui. Você não diz que vai tirar minha foto? Diva – vou. DONA MARIA JOSÉ – Aqui morreu um. Lílian – é mesmo? Nessa casa? DONA MARIA JOSÉ – É eu nasci em Barreira, a minha era do outro lado. Quando eu me casei, eu fiz minha casa, a meu punho, fui nos mato, tirei madeira, mandei armar a casa, envarei, enchaminei, mandei [?], aí cavei barro e tapei. Lílian – Essa outra casa? DONA MARIA JOSÉ – Essa outra aqui foi feita pela prefeitura. Benidita – Essa aqui foi a prefeitura que fez. Diva – Enchamiar que a senhora diz são os amarros? DONA MARIA JOSÉ – Emaderei. Diva – E não enchamiou? DONA MARIA JOSÉ – Enchamiei ela todinha. Enchamiar é... Benidita – Enchamiar é encher de barro. Diva – Enchamiar é colocar os amarros ou encher de barro? DONA MARIA JOSÉ – Enchamiar, botar os inchame e fincar os inchame, é envarar a vara de apoio, depois é que a gente vai tapar. Lílian – Aí tapa com o barro. DONA MARIA JOSÉ – É. Agora o que firma é botar a madeira pra cima. Lílian – Essa casa onde a senhora morou, ainda existe? D. MARIA JOSÉ – Existe só o lugar. Benidita – Só o lugar e era aqui mesmo no sítio Oiteiro, mas era lá pra cima. Diva – Não era aqui do lado?! D. MARIA JOSÉ – Era aqui do lado, ainda tem o alicerço do cimento e o cimento fui eu que fiz. Diva – Então a senhora mora aqui desde que nasceu? Lílian – Não a senhora nasceu em Barreiro, não era Barreiro? D. MARIA JOSÉ – Era. Nasci em Barreiro, mas vim pra cá com três mese. Lílian – Barreiro, onde? D. MARIA JOSÉ – Lá na Vila Guamaré. Nasci lá perto do Amarante. Um dia eu fui cantar numa gravadora, Aí Dácio disse: “se despeça do povo! Não vai se despedir de ninguém, não?” Pra quê homem? Ele pensava que eu não sabia o sobrenome dele. Aí eu fui/... eu digo: vou me despedir do povo. Ele disse: “homem, se despeça de mim primeiro.” Aí eu digo: agora deu o diabo, aí eu cantei assim, ele queria que eu cantasse de outro jeito. Aí eu cantei: ♫ lá em Barreiro, aonde eu nasci, em São Gonçalo, aonde eu me criei, eu vou mimbora pra meu Sítio Oiteiro, adeus terra Natal, adeus. Aí ele disse: “e não vai se despedir de mim não?” Aí eu disse: vou desperdir-me de todos porque é minha obrigação, ♫ Adeus Candinha Bezerra, Adeus ♫ Aí ele disse: “eu não tô dizendo que essa mulher é o diabo.” Eu disse: se eu fosse o diabo tinha rabo e eu não tenho rabo. Você vai tirar o retrato ali? ((referindo-se a Diva que está com a câmera fotográfica na mão)) Diva – Vamos lá! D. MARIA JOSÉ – E eu? Parece que tô fedendo! Lílian – Deixe de coisa! Diva – Esqueceu que/... D. MARIA JOSÉ – Olhe, coidado, ((referindo-se a Diva, quamdo tentava posicionar-se para tirar a foto)) Não vá cair e quebrar o pau. O pau que eu digo é o espinhaço. ((interrupção da fita porque acabou um lado de gravação. Após alguns instantes, enquanto eu mudo o lado da fita, D Maria José começa a contar uma história de uma briga que aconteceu com seus tios.)) D. MARIA JOSÉ – Eles dois irmãos, quando terminaram de brigar, os cassetes podia torcer assim que se abria, quando soltava os cassetes se fechavam e as apragatas de sangue nos pés. Lílian – Dois irmãos. D. MARIA JOSÉ – A rua do buchocho ficou fechada. Lílian – Foi mesmo? Diva – Povo brabo! D. MARIA JOSÉ – Tanto proquê, sabiam que eles eram brabo, sabia por o pé no chão. Lílian – E seu pai? Seu pai também era brabo? D. MARIA JOSÉ – Papai morreu com 80 anos, ia fazer oitenta e dois no mês de Santana, dia dois de Santana, nunca brigou com ninguém, chegava um lá em casa importunando ele por briga, eu mais mamãe era quem tomava a frente. Um dia chegou Chico Tene, não sei que hora da noite, sobrinho de papai, “saí pra fora seu beleco, você não é homem, seu nada, seu esse, seu aquele outro.” Aí mamãe/... era uma hora da madrugada e papai ia lá pra beira da Lagoa das Urnas pra tirar taboca. Papai disse: “quer saber, eu vou dá um ensino a Chico.” Aí mamãe disse: “deixa, ninguém suja as mãos com o próximo, não se dá bem, deixa que a gente toma conta.” Mamãe saiu com a tesoura, eu peguei a faca, de tirar cipó, que era de dois gumo, eu fazia dois gumo na faca... ... porque se alguém fosse pegar eu puxava, tinha que tirar os dedos fora. Papai disse: “essa minha filha, não presta não”. Aí era só, arre égua, vuco, vuco na pedra pra desmanchar. Aí no outro dia, eu deixava a faca com os mesmos gumo. Sim! Aí chegaram esculhambando papai, e era sobrinho dele. Tia Antonia era irmã de papai. Tinha Antonia, Helena, Anedina e Chico Tene, os quatro: três filhos e a velha, bateram na porta: “saía pra fora Atanásio que a gente quer lhe mostrar uma coisa”/... D. MARIA JOSÉ – Aí eu saí, mais mamãe. Mamãe: “Maria José tu não abre a porta.” Vou abrir e mandar eles entrar de um em um. Tudo de uma vez, não, mas de um em um. Aí fui abrir a porta, mamãe abriu a janela e eu abri a porta. Nessa casa, quem pensar que vai me dar uma tapa e ficar por isso, tá enganado, e quem pensar que eu vou presa, também se engana, pode ir pro inferno três dias a dentro, correndo que eu não me importo não. Presa eu não vou não, o soldado me prende aqui, mais eu me sorto. É isso. Diva – É braba do jeito que é, qual é o soldado que vai querer prender a senhora? O soldado chega aqui/... D. MARIA JOSÉ – Não é o soldado ser brabo, é porque assim que eu seguir pra rua, o telefone vai pra Candinha. Lílian – A senhora confia nela, né! Diva – ((posicionando-se para tirar a foto)) Hum é mesmo! Lílian é com esse cachimbo que eu quero tirar. Lílian deixa ela sentar perto de você, que eu acho que é a posição que eu não tô conseguindo tirar a fotografia, aqui desse outro lado, senta aqui desse outro lado, ela com esse cachimbo na boca é que é uma maravilha. Deixa ver se eu consigo agora. Lílian – Esse vento aqui é muito gostoso! D. MARIA JOSÉ – Chegou um vaqueiro e foi levar os animais pra tomar água, por que tava muito calor. Ele tava debaixo do sol e tinha o vento e a lua. Aí o sol vai e pergunta: deles três qual era o mais bonito? Aí ele olhou pra lua, olhou pro sol, olhou pro vento, aí disse: “o mais bonito é o vento.” Aí o sol disse: “deixa estar desgraçado, quando eu te pegar no alto sertão, eu te mato encriquiado.” O vento disse: “não há sol quente sem o ar do vento frio.” A lua disse: “quando eu te pegar, eu te mato de frio, te mato gelado.” Aí o vento disse: “não há lua fria sem o ar do vento quente.” Aí escapou. E é mesmo! O sol pode estar quente de estalar tudo, aí faz um vento frio, acalma. Lílian – Aí serena tudo. Às vezes tá frio, uma brisa suave! Lílian – Dona Maria a senhora me disse uma vez que sua tia lia folheto com a senhora aí na mangueira, não era? D. MARIA JOSÉ – Como é? Lílian – Que a sua tia lia folhetos aí na mangueira. Como era isso? D. MARIA JOSÉ – Ela lia e papai aprendia a cantar. Lílian – Ah! quer dizer que ela lia? Seu pai também aprendeu com ela? D. MARIA JOSÉ – Todo sábado e todo domingo ela ia pra debaixo da mangueira, porque ela era sozinha. O marido dela morreu, ela ficou só, teve uma filha que morreu com sete anos, morreu a sogra, morreu marido, morreu tudo e ela ficou sozinha. Aí, ela se via lá sozinha, fechava a porta e ia lá pra casa. Lílian – Aí lia os folhetos. D. MARIA JOSÉ – Um dia desses eu tava aqui, aí chegou mais um cara de Manaus, o homem, o pescoço era dessa grossura, desse cumprimento, com uma cara cumprida, aí chegou e disse: “eu vim aqui pra senhora cantar o verso de Marina.” Eu digo: só tá ruim que eu não vou cantar, uma que eu tô adoentada da minha cabeça e não vou cantar. “Cante só o verso de Marina.” Eu digo: meu senhor, eu não vou cantar, não, sabe por quê? Porque galo pra cantar se bota milho. Lílian – Tá certo. D. MARIA JOSÉ – Aí as meninas espiaram pra mim e começaram a rir. Aí ele disse: “Apois se então, vamos pra Manaus comigo que a senhora ganha dinheiro.” Eu digo: tá pensando que eu toco concertina ou rebeca? São cinqüenta e três versos/... que eu cantei lá pra gravadora. Agora ficou um que eu não cantei. Lílian – E foi, por quê? Por que a senhora não cantou esse? D. MARIA JOSÉ – (SILÊNCIO) Sei não. Porque não, porque eu esqueci. Lílian – Esse é especial, né? D. MARIA JOSÉ – É foi o coco da fome. Ele diz assim: ♫ no ano de oitenta e um eu vou lhe contar o pior/ brigava a mãe com os filhos/ e os netos com os avós/ pro mode um mandacaru e batata de um potó [?] velha vamos embora, senão nós morre de fome. ♫ Aí eu não cantei não! (SILÊNCIO) Lílian – Ele era muito triste, não era? D. MARIA JOSÉ – Hein? Lílian – Ele era muito triste? D. MARIA JOSÉ – Ele era valente, aí ele pegou um pano, foi na casa de não sei de quem e aí ela botou quatro litros de farinha, quatro rapaduras e quatro pares de bolachinhas. Aí o marido dela era safado, pegue cachaça pra ele num levar o que ela deu. Aí diz assim: ♫ Seu Joca eu vou embora, “não Roberto, espera aí, para melhorar da bola, beba um quarteirão de Ani.” ♫ A pessoa beber um quarteirão de cachaça, hein!? Aí ele disse que quando tomou a aguardente, não sentou mais o pé no chão, aí quando bebeu a aguardente deu logo pra valentão, aí pegue cassete em gente. Lílian – É cachaça tem isso, né? D. MARIA JOSÉ – Aí pegue cassete em gente, ficou por detrás da porta, quem entrava ele derrubava. Aí ele disse que viu quando o inimigo dele, corre Janjão que é Roberto! Aí quando o diabo do Janjão foi passando, ele meteu-lhe o reio e ele caiu do lado de fora. Aí mandaram eu cantar, mas eu não cantei não. Lílian – Quer dizer que nesse CD, não tem essa que a senhora cantou, agora. D. MARIA JOSÉ – Tem um que tem a despedida. Lílian – Esse que a senhora disse agora a pouco da gravadora, né? A senhora inventou/... D. MARIA JOSÉ – Não sei como inventei isso, o culpado disso foi o professor Gurgel. Lílian – Por quê? D. MARIA JOSÉ – Eu tava em casa, as meninas estavam embaixo da mangueira, que ele era amigo de papai, aí ele chegou procurou por papai, aí as meninas disseram que papai tinha morrido, aí ele mandou elas cantarem o quê? O bendito de Santo Antonio, aí elas disseram: “não, eu não sei não.” Aí ele disse: “e quem sabe o verso de Antonino?” “Só se souber comadre Maria, que era quem andava mais papai, no roçado, nesse meio de mundo.” Aí me chamaram. Mas, se eu soubesse que elas iam ficar ranhenta comigo por causa disso, eu não tinha ido. Lílian – Ah! E foi Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Aí eu fui, quando cheguei, elas disseram: “Seu Gurgel tá perguntando se você sabe cantar o bendito de Santo Antonio.” Aí eu disse: e vocês não sabem, não? Aí eu cantei. Aí eu cantei o outro, aí ele inventou de me levar pra Mossoró... parece que foi pra Mossoró. Aí quando chegou lá tavam vasculhando a igreja e Santo Antonio tava em pé, mesmo em frente à porta. Aí eu fiquei olhando. Aí ele disse: “vamos se sentar ali Dona Maria.” Aí eu disse: deixa eu salvar o santo. Aí ele se pôs em pé assim e disse: “cabá eu mandei a senhora cantar e a senhora cantou diferente, né?” Porque são dois bendito de Santo Antonio, um se canta em enterro e o outro se canta em missa. Lílian – É de louvor o canto, né? D. MARIA JOSÉ – ♫ Antonio que estás na Itália/ deixa o sermão para sempre/e vem livrar teu pai da morte/ que vai morrer inocente/ o inimigo é a justiça/ minha a justiça real/ [?],/ eu quero sentenciar/ alevantar o homem morto/ pelo Deus que nos criou /[?],/ pelo Deus se alevantou /[?]/ este homem que matou. Só que o pai dele não conheceu ele, aí se levantou e disse: esse homem, não me matou,/ antes me aconselhou/ como o pai que me criou. /O homem que me matou/ Aí na [?]. /Oh! Meu padre reverendo,/ diga onde é tua morada,/ que eu quero lhe visitar pra que não se cumpra mais./♫ Aí Santo Antonio disse: “/de ti eu não quero nada,/ se não a sua benção,/ agora eu vou pra itália/ acabar meu sermão,/ as mulheres de joelho,/ fazendo uma romaria /[?]/ cantando as Ave-Maria”. Eu me chamava Fernando /antes da [?] /mudei meu nome pra Antonio./ Foi aí que ele conheceu que era [?].♫ ((D. Maria nos conta a história de Santo Antônio. Que ele viveu na Itália grande parte de sua vida. Ali ele soube que seu pai estava preso, porque era acusado de ter matado um jovem . Então foi defender o pai, mas os juizes não quiseram acreditar nele. Disse Santo Antônio: se vocês não acreditarem em mim, farei o morto falar. Foram ter com o morto e o morto falou não ser o pai de Santo Antônio o assassino. Termina seu relato concluindo: “Essa é a história do Bendito”)) Diva – Oh! Que lindo Dona Maria. ((NESSE MOMENTO HOUVE UMA INTERRUPÇÃO NA FITA)) 3.2.3 Transcrição 2 Entrevista realizada em 10 de abril de 2003, no Sítio Oiteiro, São Gonçalo do Amarante. Quando cheguei com Diva, às 14 horas, D. Maria José estava nos esperando. Esta era nossa quarta visita. Nós a cumprimentamos dizendo que estávamos com saudades das nossas conversas. D. Maria José nos convidou para entrar informando que acabara de botar a água do café no fogo. Entrego-lhe então o pão que trouxemos para acompanhar o café e, enquanto ela o deixa na cozinha, acomodamo-nos na sala. Ela volta ansiosa para conversar, pois mostra-se aborrecida com alguns acontecimentos ocorridos no dia anterior. Perguntei o que tinha acontecido. Ela nos respondeu: D. MARIA JOSÉ – Umas crentes tiveram aqui. Lílian – Umas crentes? D. MARIA JOSÉ – Hum. D. MARIA JOSÉ – Aí, ela chegou, aí tava sentada lá acolá ... Aí disseram: “mulher venha aqui!” Eu digo: não precisa chamar criatura, que é só eu me levantar e ir, não precisa ninguém chamar. Eu sou nojenta! Lílian – Rum. D. MARIA JOSÉ – Aí eu vinha de lá pra cá, quando chego aqui, elas viraram a frente pracolá e deram as costas pra dentro de casa. Eu digo: e eu sou o cão pra vocês me darem as costas? “Não, porque eu não gosto dessas calungas.” Eu digo: diga de novo que num gosta! “Ah! Mulher eu vim aqui”/... era bem quatro/... “pra mode a senhora receber Jesus, se entregar a Jesus, pra ir pra festa da gente, pular, dançar, ofertar a Jesus.” Aí eu disse: Agora, em qual lugar a senhora viu Jesus dançando, pulando? “Mas, ele fica contente, fica satisfeito da gente pular, pra quê que a senhora não tira essas calungas?” Eu digo: ora, a estrada é larga, o mundo é grande e a porta também é larga, pode se despedir da porta, pode ir embora. “Não manda nem gente se sentar.” Na minha casa não se senta crente pra vir desfazer dos meus santos, não! Pode ir embora, aqui anda todo mundo, mas pra vir desfazer dos meus santos, não. Pode ir embora. Como é que eu chego na sua casa, eu me importo com sua a lei, né? Lílian – É verdade! D. MARIA JOSÉ – Eu não vou chegar na sua casa mandar você botar os santos que tem na parede, botar no mato. Lílian – É muita falta de respeito, né? D. MARIA JOSÉ – É a gente deve prestar atenção aonde pisa. Aí ela disse: “se a gente soubesse não tinha vindo.” Aí eu disse: veio porque quis, pois não lhe chamei, a senhora sabe que a casa é minha, a vontade é minha, o coração é meu, a terra também é minha. Aí foram embora. Aí chegaram acolá em cima e disseram: “aquela mulher dacolá é bruta!” Lílian – Vem lhe ofender e depois a senhora que é bruta, né Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Ainda vem dizer que sou bruta! Lílian – Dona Maria qual é o Santo Antonio? ((aponta para a banca de santos no quarto de D. Maria, que é visível da sala.)) D. MARIA JOSÉ – Ei! Sente daquele lado que eu vou acender o cachimbo. Lílian – Tá! Quem é o Santo Antonio aqui? Desses que a senhora tem? Aquele que a senhora cantou da vez passada é o bendito de Santo Antonio, não é isso? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – É esse? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – Como é a história dele Dona Maria, a senhora sabe? D. MARIA JOSÉ – Só pra eu dizer de novo! Lílian – E o que é que tem? Eu quero saber da história do santo. D. MARIA JOSÉ – Agora as meninas trouxeram. Benidita foi pra Juazeiro e trouxeram um pra mim. Aí chegou: “taí mamãe, eu trouxe pra senhora.” Eu digo: eu sinto muito, mas esse aqui não é São Benedito, não. É Santo Antonio. Lílian – Ah é! São Benedito é que é preto, não é? D. MARIA JOSÉ – Mas, Santo Antonio é moreno. Lílian – Ah é? Mas, ele não tá moreno ali não. D. MARIA JOSÉ – Às vezes eles fazem um Santo Antonio muito moreno, espia ele ali na banca, no quarto. Lílian – Só um instantinho. ((começo a olhar os santos que estão na banca do quarto de D. Maria. Ela vai para lá)). D. MARIA JOSÉ – Tá vendo? Lílian – Ah, tô vendo aqui, mas não é moreno não Dona Maria. D. MARIA JOSÉ – Esse aí é moreno. Lílian – Não, é esse que está no cantinho aqui, perto de Nossa Senhora? Esse aqui, o que está com um menininho no braço? D. MARIA JOSÉ – É o menino Jesus, esse aqui é Santo Antonio. Lílian – Esse aqui é qual? D. MARIA JOSÉ – Esse aqui é São José, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, São Raimundo, Nossa Senhora da Conceição, meu padrinho Frei Damião, São Lázaro, Nossa Senhora do Monte Serrado, Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião. Lílian – Nossa Senhora do Monte Serrado? Não é Nossa Senhora Aparecida, não? D. MARIA JOSÉ – Ô! É Nossa Senhora Aparecida mesmo. Lílian – É Nossa Senhora de Aparecida! D. MARIA JOSÉ – É Nossa Senhora das Pragas e Padre Cícero. Lílian – É ele ali tá moreno. D. MARIA JOSÉ – Qual? Lílian – Santo Antonio! Diva – É. Ele ali tá bem moreno. Lílian – Por isso que ela ((Benidita)) falou D. MARIA JOSÉ – É, ela tá bem moreno. Lílian – É por isso que ela pensou que era São Benedito. Diva – Deixa eu perguntar uma coisa Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Mas, visse? Vê se eu impato ela perguntar? Diva – A senhora disse que trabalhava na maré? D. MARIA JOSÉ – Minha vida todo sábado era ir pra maré. Diva – Sim. Mas, era pra pescar pra casa, né? D. MARIA JOSÉ – Pra casa. Diva – Mas, trabalhar a senhora não trabalhava não, né? D. MARIA JOSÉ – E isso não é trabalho, não? Diva – Eu digo assim, trabalhar pra ganhar dinheiro. D. MARIA JOSÉ – Eu lutei tanto na minha vida, que hoje em dia tô sem coragem, sem força nas pernas. Com idade de sete anos a companhia de papai era eu. Ele ia pro roçado e me levava, fazia um fogo, botava uma panela no fogo lá no rancho, lá perto de Maçaranduba, lá na baixa de Maçaranduba. Aí fui crescendo e andando mais ele pro roçado, pra todo canto me levava, pra arrancar toco, pra arrancar moita, era pra limpar, pra fazer cerca, só eu. Nós era nove, mas só quem acompanhava ele era eu. Quando eu fui “encaxando” aí foi que ficou pior pra mim trabalhar. Ia trabalhar em Santa Fé. Sabe onde é Santa Fé? Lílian – Não. Diva - Santa Rita. D. MARIA JOSÉ - fui trabalhar em Santa Rita. Eu ia trabalhar e quando chegava de tarde, ia botar água pra encher uma jarra grande, que tinha na cozinha, um pote no pé da jarra, um pote no corredor, na sala do meio tinha um pé de pote dessa altura. Enchia tudo d’água e uma jarra grande no jardim. Que o jardim de mamãe pegava de uma biqueira a outra. Ela fez uma faxina, uma faxina baixa, e a jarra era no canto da faxina. E tinha que deixar água pra ela aguar o jardim de manhã, que no meu tempo mamãe nunca botou água, só quando eu era pequena, nem água e nem lenha. Enchia tudo d’água pra nós poder jantar. Enchia tudo. Olhe o café tá cherando! Diva – Quer que eu faça o café? D. MARIA JOSÉ – Mas ói. Tu faz? Vamo que eu vou botar café pra nós. ((vamos todas para a cozinha)). Diva – Faço. Onde estão as coisas? D. MARIA JOSÉ – A minha foi.... Se eu me sentar num canto pra contar minha vida, vocês dizem que é mentira, trabalhava a semana todinha, na sexta-feira recebia dinheiro: pegue papai. Que um pai de família sustentava onze boca com cinco mil reis? Sustentava não. Lílian – De jeito nenhum Dona Maria. D. MARIA JOSÉ – Ele ia pra feira e eu ia pra onde? Ia pra maré no sábado. Quando era dia de domingo eu ia pra missa, quando chegava da missa, ia pescar na levada. Minha vida era essa. Diva – Qual era a levada que a senhora pescava? D. MARIA JOSÉ – A levada grande ali. Diva – Aqui do São Gonçalo? Do alagadiço? D. MARIA JOSÉ – Era. Diva – ((pergunta para Lílian)) Sabe o que é faxina? Lílian – Não, é uma limpeza? Diva – Não. Faxina é uma cerquinha baixa, faxina alta, uma cerca alta, aquelas varinhas unidas umas às outras, nunca viu? Lílian – Ah, sim! Aquilo que é faxina? Diva – “Os fofoqueiros estão tudo na faxina”, ou seja, as mulheres não têm o que fazer, né? Porque não tinha muro, aí ficavam na faxina, sem ter o que fazer. Lílian – Fica tudo na faxina! Que coisa interessante! Diva – Fica tudo na faxina, falando mal da vida alheia. ((D. Maria nos convida para ir até o quarto para explicar sobre os santos)) D. MARIA JOSÉ – Não é todo mundo que eu chamo aqui, não! Diva – Ainda bem que a senhora gosta da gente! D. MARIA JOSÉ – Não, a pessoa não vive me fazendo raiva, eu gosto de todo mundo. Diva – Quem é São Lázaro? Lílian – Não é o que tem as chagas no corpo? As feridas no corpo? Diva – É. D. MARIA JOSÉ – É o mesmo. Aquele/... esse santo ainda é vivo. Só morre quando se acabar o mundo. Diva – É? D. MARIA JOSÉ – Porque ele não tem pai, ele era todo feridento, aí vivia pedindo esmola pra dar de comer as duas moças que tinha em casa, duas irmãs. Aí quando foi um dia, saiu mais o cachorro pedindo esmola, aí saiu e não voltou, aí elas passaram a noite e quando passou dois dias elas saíram atrás dele, saíram chorando. Aí encontraram Nosso Senhor e ele perguntou: “Por que vão chorando?” Aí elas foi disseram. Aí ele saiu mais elas quando foi, viu ele caído em cima de uma pedra, já tava varejado e o cachorro deitado lambendo a perna dele, aí foi ele pegou na mão dele e disse: “levanta Lázaro e vai pedir tuas esmolas e andar até o mundo se findar, quando o mundo terminar, tu terminarás tua vida.” Lílian – Então ele vive pelo mundo, ainda? D. MARIA JOSÉ – Deve viver pelo mundo, mais não é mais chagado e aquele santo ali é do oco de pau. Diva – Santo do pau oco? D. MARIA JOSÉ – O pau dele é oco mesmo que ele mija. ((Todas riem muito)). Diva – Tem razão, nem tinha pensado sobre esse aspecto. Lílian – Quem é o santo do pai oco, hein Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Esse aí. Lílian – É São Francisco. D. MARIA JOSÉ – Esse São Francisco aí era lenheiro, aí todo dia ele ia pro mato tirar lenha. Aí tirava aquela lenha e vendia pra dá de comida aos filhos. Aí quando foi um dia, ele foi pra lenha e não veio mais. E todo dia de manhã amanhecia o dinheiro debaixo da porta e a mulher começou a se aperriar. E haja o mundo se derribar de chover. Aí tinha esse pau seco, que não tinha mais folha, agora era ocado de certa altura até embaixo. Aí ele se viu no meio da chuva e entrou no oco do pau e aí foi santo. E haja o povo procurar. Aí a polícia disse que aquele pau era seco, não tinha nem uma galha e está cheia de galha e todo florado e cheio de andorinhas. Aí, no meio das andorinhas tinha três pombinho branco, repare, meu quadro é pequeno, mas dá pra ver as andorinhas. Lílian – É tem quatro. D. MARIA JOSÉ – Aí quando chegaram ele tava, aí o delegado disse: “vê se tira ele, sem botar o pau abaixo, aí abriram mais pra cima e tiraram ele.” Diva – Por isso chama santo do oco do pau. Lílian – E esse quem é Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Qual? Lílian – Esse que tá com o leão aqui. D. MARIA JOSÉ – É São Amâncio. Lílian – São Amâncio? D. MARIA JOSÉ – São Amâncio, o anjo da guarda. ((Neste momento há um corte na fita)) Diva – A senhora não tem nem um irmão, não? D. MARIA JOSÉ – Tenho, mas, ele foi criado com tanta preguiça que ele não arrancava nem um mato no pé da parede e papai fazia os gosto e mamãe dizia: “Maria José tu acha que pode sair uma hora, duas horas da madrugada que chova que não chova e Gaspar é só aí dentro de casa fazendo raiva.” A vida era com uma baladeira no meio do mundo, mas eu não, às vezes papai dizia: “assim eu vou arrancar essas cargas de mandioca, eu faço só mais Maria José.” E fazia! Lílian – Seu irmão nunca ajudou? D. MARIA JOSÉ – Eu tô dizendo que ela nunca plantou um pé de capim pra mode não trabalhar. Diva – Tá vivo seu irmão? D. MARIA JOSÉ – Parece que vai fazer três anos que ele morreu. Casou, abandonou a família pra não dá de comer, preguiça que só ele. Enquanto eu... esse meu filho que tava aqui, ((refere-se a Zé Luiz, seu filho)) quando esse menino/... o pai foi embora pra Poço de Pedra me deixou sozinha. Ele pegou a trabalhar com quatorze anos de idade, daqui pra milharada, todo dia ele ia logo cedo, na hora de pegar pra trabalhar ele tava lá, ainda hoje trabalha, mas ele não! Abandonou a mulher com quatro filhos não dava a ela uma palha podre. Mamãe reclamava, aí ele ia pra dentro de casa. Quando mamãe morreu, ele ainda tava na casa dele, depois que mamãe morreu, ele deixou a mulher e veio pra dentro de casa. Aí papai adoeceu e passou quatro meses arriado. Passou um ano doente e quatro meses de arriação. Aí a gente dizia: Gaspar, por que tu não compra uns vidros de remédio para papai e pergunta se papai tá doente. “É, se eu tivesse recebido dinheiro era bom. Só vai receber quarta-feira”, que era do dinheiro da [?]. Calçava e comia do meu bolso. A sorte era eu e comadre Severina. Comadre Severina ia trabalhar eu ficava. Também, papai trabalhou até não poder mais ir pros matos. Ele foi pros matos, quando demo fé, mei dia em ponto chegou o carroceiro com ele na carroça, acharam ele lá na encruza, lá pras lagoa das urnas, deitado no chão. Eles apanharam, botaram na carroça e vieram deixar em casa. E assim/... aí comadre Severina disse: “não vai mais trabalhar não, eu dou de conta.” E ficou trabalhando pra alimentação dele, a sorte dela foi que ele tinha um sobrinho que era compadre dele, que era amigo dele, aí ele chegava: “pegue Severina pra comprar as coisas pro compadre Atanásio.” Mas Gaspar, também, só deu pra ele, deixou a mulher e não morreu abandonado por aí. Porque morreu fazendo tudo feito na roupa, na rede, por dentro de casa, por todo canto e a mosca não tomou de conta porque a mulher veio buscar na casa dele, aí levou ele pra casa. Lílian – Depois de tudo, né? D. MARIA JOSÉ – Depois de toda ingratidão que ele fez com ela, ela fez o que pode por ele, morreu, não deu seis meses, ele veio buscar ela, não deu seis meses ela morreu. Sim, aí como eu ia dizendo, aí eu ia pra casa de farinha mais papai. Chegava lá papai dizia: [?] ele se largava e ia pros matos quando chegava em casa ia fazer fumo, quando chegava na casa de farinha a mandioca já tava fria. Aí eu dizia: vambora papai moer? Aí ele pegava nos dois garrotes ele pegava de um lado e eu do outro e ia moer. Tia Cantu dizia: “tu tem uma filha moça, ou tem um cabra macho?” Papai dizia: “ainda bem que ela tem coragem de trabalhar.” Lílian – Era uma mulher forte, que ele tinha com ele. D. MARIA JOSÉ – Ainda mais eu dizia: papai abóie, aí ele dizia puxa na frente, aí eu começava aboiar pra mode ele levar pra frente. Um dia Dácio mangou de mim porque ele disse: “e o que era que a senhora aboiava?” Aí eu disse: eu puxava assim ♫ o veio da roda é meu e a mandioca é de seu dono, sevadeira de minha alma, deixa-me dormir um sono, eia, oou. ♫” Aí o velho tomava de conta. Aí Dácio disse: “a senhora não era gente não, a senhora era um cão de rabo”. Aí eu digo: então se arrancaram o rabo. ((risos)). Lílian – Aí, a senhora começava e ele continuava e ia seguindo? D. MARIA JOSÉ – Eu começava aí ele levava o aboio pra frente. E um dia, ele arrancou oito cargas de mandioca e de madrugada eu fui mais ele, era bem duas horas da madrugada nós fumo. Aí eu disse: vambora Bune, fazer companhia a gente? Era minha irmã. Comadre Bune, Vije Nossa Senhora! Era escorona, não ia nem pra beira do fogo fazer um café e papai, Vije Maria! Não queria tomar um café, feito por ela, nem a pau. Lílian – Era ruim, era D. Maria? D. MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – Era muito ruim? D. MARIA JOSÉ – Era porque ela ia fazer o café com desaforo, quando não fazia só aquela água tingida, fazia forte demais. Diva – Só pra não mandar fazer. D. MARIA JOSÉ – Só pra não mandar ela fazer. Diva – Tenho uma irmã assim. D. MARIA JOSÉ – Aí, papai dizia: “olhe quando for butar comer pra mim”.... Porque ele trabalhava nos matos tirando madeira e a gente não deixava comer choco pra ele, cozinhava comida pra gente e depois botava comer no fogo pra ele e tinha que ser eu, quando ele ia comer, dizia: “esse comer não foi Maria José que cozinhou.” Lílian – Só confiava na senhora. D. MARIA JOSÉ – Porque tudo dele era comigo. Ele trabalhava de noite quando ele tava fazendo cerca, ele chegava: “Maria José?” Inhô! “Venha lavar meus pés.” Só se deitava depois que eu lavava os pés dele. Agora eu queria bem a meu pai. Diva – A senhora sente saudades dele? D. MARIA JOSÉ – Eu? Quando eu me sento aí no canto da casa sozinha, lembro de papai mais mamãe! Se ele fosse vivo, já tava muito velhinho, morreu com oitenta e dois, e faz vinte e cinco, fez vinte e cinco esse mês. Diva – Morreu com oitenta e dois então teria cento e sete anos. D. MARIA JOSÉ – Mamãe tava com noventa, parece que era noventa e oito, ela morreu com sessenta e três e faz trinta e três, trinta e seis que ela morreu. Ela era mais nova do que ele vinte anos. Aí inventei de me casar só pra ser besta, pensei que me casando fosse melhor. Diva – Fosse melhor, por quê? D. MARIA JOSÉ – Foi muito pior porque fui trabalhar pra criar família e o homem... comer e beber. Não teve jeito. Diva – Ele não trabalhava, não? D. MARIA JOSÉ – Ele trabalhava, mas ia pra feira, todo mundo vinha da feira cedo, e ele só vinha depois de mei dia, bêbado. Um dia ele chegou tão bêbado que na passagem da porta, a bosta caiu mesmo em frente à porta. Eu digo vá apanhar a bosta, que eu não sou empregada de bosta não, a calça deixe lá no banheiro que amanhã você vai lavar, aí ele foi e entendeu de me bater só que ele tomou o ponto errado. Lílian – Não sabia com quem tava mexendo, né? D. MARIA JOSÉ – Eu de gente só tinha os óio de cachorro, agora tô muito boa, tô velha, acabada, doente. Mas, tem uma cabrocha aí que disse: “eu só vejo falar na goga daquela velha, mas eu ainda tiro a goga dela.“ E eu todo dia mim sento ali no batente. Um dia, ela na carreira que vinha pulou dentro da casa de Sebastiana, Ednete tava raspando coco sentada na raspadeira. Ela na carreira que vinha pulou dentro da casa dela, agarrou-lhe pelos cabelos e deu-lhe um tapa, quebrou a porta, sacudiu a tábua da porta no meio do terreiro, aí eu me levantei daqui ia saindo pra lá espiei pra ela. Que eu não sou bem gente, não!. Ele agora tão cedo não saí daí. Tá passando o CD. ((refere-se a Zé Luiz, seu filho, que está ouvindo o CD “Cantares” na sala)) Lílian – Ele gosta de ouvir? D. MARIA JOSÉ – Gosta, foi eu que dei a ele, agora os meninos de lá arranharam, aí ele trouxe pra cá e vem passar. Lílian – Hoje ele vem ouvir aqui? D. MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – A senhora cantava pra ele essas coisas? D. MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – A senhora cantava pra eles essas coisas? Pra eles quando eram pequenos? D. MARIA JOSÉ – Não. Não cantava pra eles não, mas eu só trabalhava cantando. Lílian – Ah!.. D. MARIA JOSÉ – Só se eu tivesse com raiva. Lílian – Ah, a senhora cantava quando tava com raiva, era? D. MARIA JOSÉ – Pra não ouvir ninguém falar comigo. Lílian – Minha sogra também é assim, quando tá com raiva, tá cantando. D. MARIA JOSÉ – Eu trabalhava. Quando tava em casa trabalhava que só bicho. Mamãe dizia: “eu tô vendo a hora Maria José afracar.” Ela tinha cuidado comigo eu trabalhava desde menina, direto. Não tinha esse negócio que tá doente, não vai trabalhar, tá doente não vai pra maré, eu não dizia nem a ela, ia trabalhar. Era tirando unha de véio, era pegando siri, não dizia nada. Quando ela sabia, aí fazia uma garrafada pra mim. Lílian – Como é uma garrafada, D. Maria? D. MARIA JOSÉ – A gente pisa cumim e alfazema, quando acabar butava meia garrafa de cana. É pra ir tomando de colher em colher, não é pra ir tomando pro mode se acostumar não. ((risos)) Zé Luiz – Vou levar. ((refere-se ao CD)) D. MARIA JOSÉ – Tá certo, mas tem um que gagueja. Zé Luiz – Mas foi arranhado depois que chegou aqui. D. MARIA JOSÉ – Não senhor, ele veio arranhado que quando eu botei ele, que ele pegou a tocar, no fim tava arranhado. Zé Luiz – Não. D. MARIA JOSÉ – Ora, se tu trouxesse pra cá por que tava arranhado, agora queres botar os arranhões nas minhas costas. Foi você que disse: “arranhou meu CD. Eu trouxe pra cá.” Zé Luiz – Que conversa é essa,mãe? Já vou. D. MARIA JOSÉ – Tá cedo. Não tomasse café, não? Zé Luiz – Não. D. MARIA JOSÉ – Pro quê? Diva – Com medo da chuva, café com chuva faz mal. Lílian – A senhora ainda tem CD? D. MARIA JOSÉ – Não esse aí é o último. Diva – Não, Benidita disse que ainda tem um. D. MARIA JOSÉ – Ah, Benidita tem um mesmo. Lílian – Quinta-feira é quinta-feira santa, tem algum problema se eu vier D. Maria? A senhora faz jejum, alguma coisa assim? D. MARIA JOSÉ – Se tem algum problema? Lílian – Sim. Posso vir lhe visitar? D. MARIA JOSÉ – Pode, qualquer dia que vier, não tendo nojo da casa. Lílian – De jeito nenhum. D. MARIA JOSÉ – E eu nem tava me lembrando, José disse: “mamãe aquelas meninas disseram que vinham hoje aqui.” Eu digo que conversa é essa? “Elas disseram.” Diva – Vai se acostumando com a gente vindo toda semana, vai se acostumando. É bom né, conversar? D. MARIA JOSÉ – É bom conversar? Às vezes mim ponho aqui sozinha, aí eu digo: meu Deus, por que eu sofro tanto, só vivo toda engembrada! Eu digo: quem mata vive em boa vida, agora eu, sou quem sofro tudo. Lílian – Fez tanta coisa boa né, D. Maria? D. MARIA JOSÉ – É certo que eu apanhava tanto. Diva – Devia ser muito danada também, não? D. MARIA JOSÉ – Porque eu era ruim. Papai/... Diva – Olhe aí, tá vendo. D. MARIA JOSÉ – Papai não contava história, podia tá enfadado, cansado do jeito que tivesse. Ele recebeu uma queixa... ... olhe se eu mesmo não era safada! Papai dizia assim: “ô Maria José?” Inhô. “Vá ali na rua, vá lá em Zé Bento, que fica mais perto. Compre isso, isso e isso e compre um cruzado de fumo. Olhe tô sem fumo e cuspo no chão, se você chegar o cuspe tiver seco você apanha.” Eu desbandeirava no meio do mundo mais comadre Bune, podia ser em tempo de inverno, porque em tempo de inverno lá da volta da cerca pra cá era um lago só, lá na entrada da rua tinha outro. Na carreira que a gente vinha, vinha um menino ou dois... na carreira que vinha eu prantava a mão no pé do ouvido, o menino caía dentro d’água e eu saía de carreira no meio do mundo. Quando eu chegava papai já sabia, os meninos vinham fazer enredo, aí papai dizia: “entre pra dentro, bote as coisas lá dentro pra mode ter um ajuste de contas que eu mandei você ir pra rua, não mandei você dar nos outros não.” Metia-me o reio, eu dizia: quando eu pegar eles, eles mim pagam. Aí um dia mamãe disse. De quinze em quinze dias a gente ia lá pro fim das barreiras, lá pra dentro da maré, pra casa de mãe Joana, a mãe de mamãe. Ela fazia aquelas compras, botava numa cesta e a gente ia deixar. Aí, quando foi um belo dia, eu e Maria de comadre Adélia, nós duas tinha os cabelos pixaim. Agora Maria de comadre Adélia só fazia amarrar o cabelo, eu penteava o meu, era muito, aí amarrava assim no meio e fazia um totó. Aí comadre Maria Bune, tinha o cabelo por aqui, tanto ela como comadre Maria Torre, aí ela abria assim e ficava toda coberta. Aí, lá perto de Santo Antonio tinha uma mangueira de frente o beco que vai pra rua do butoco? Lílian – Sim. D. MARIA JOSÉ – Aí, a gente fumo pela ladeira, aí eu na frente mais Maria de Comadre Adélia, eu com a cesta, levava massa, levava goma, levava uma tapioca feita debaixo do forno desse tamanho, levava carne pra mãe Joana, levava café, açúcar e comadre Bune levava três cuias de farinha, ia pegada na boca do saco e comadre Maria Torre pegada no fundo do saco. E o tenente tava na porta e eu não dei fé do tenente, né? Ele tava na janela, debruçado na janela de manhã logo cedo. Fumo passando debaixo da mangueira, aí comadre Maria Bune disse: “óia Maria não deu certo? As duas da cabeça de currupio na frente, nóis mais branca”/... comadre Maria Bune era da sua cor, a mais preta era eu, Dores, compadre Gaspar e comadre Severina, porque puxemo o povo de papai e os outros puxaram o povo de mamãe e a cor de mamãe./... “A gente branca do cabelo bom atrás, elas deviam vir atrás.” Aí, eu mim pus em pé mesmo embaixo da mangueira, butei a cesta no chão, aí. O que é que estaís dizendo, Bune? “Sim! As duas de cabelo de cunhão de cavalo.” Prantei-lhe a mão no pé do ouvido, a mão bateu ela caiu, ela ia até com um vestido de seda verde, que ela só trabalhava pra ela, só caprichava pra andar na pinta, aí ela levantou-se caqueando debaixo da mangueira. Ah, e você quer outra? Prantei a munheca ela caiu quando ela caiu/... Lílian – Era sua irmã, não era? D. MARIA JOSÉ – Era minha irmã, irmã de pai e mãe, aí o tenente olhou pra mim e fez assim com a cabeça. Quando ela veio, peguei ela pelo cabelo e dei-lhe só duas tapas. Você mais nunca fique fazendo pouco de mim no meio da rua. Chegou em casa, ela disse a mamãe e mamãe: “é, quem foi que mandou tu e o que foi que fizesse com ela?” Eu disse foi por isso, isso e isso. “É pro que tu não tens vergonha, tu não sabes que sóis irmã dela. A mãe que é mãe tua, é mãe dela e o pai que é pai teu é pai dela também.” “É, quando papai chegar eu vou dizer.” Quando papai entrou do serviço ela disse a papai. Aí papai arrastou as cordas, aí mamãe disse: “tá, a surra que tens que dá em Maria José, dê em mim.” Eu digo: e se eu apanhar, quando eu for prum canto mais ela eu corto a ponta da orelha dela que é pra ela não fazer mais pouco de mim. Papai disse: “é o quê, Maria José?” Eu corto a ponta da orelha dela. Quando ela chegar, chega cabana. Papai disse: “tá bom, tá bom.” Um dia... Agora eu só fazia as coisas na minha razão, agora eu tinha braço e tinha corpo... Um dia, foi na barreira, eu, Maria Tena e comadre Bune, agora o povo tinha cortado aquele mato dos pés da cerca, cada vergote de pinhão, eles tinham cortado, agora mesmo de frente, por trás do engenho de matoso, tem a ladeira, no pé da ladeira assim, aonde finda. Aí tinha um poço, o poço era fundo como daqui lá no tronco daquela Jaqueira, o poço era fundo, aí a gente vinha conversando. Aí, ”ei! Venha tomar banho mais eu”, tomando banho no poço, Zé Jacaré, eu digo o quê? “Eu tô dizendo que venha uma, tomar banho mais eu.” Eu digo vai chamar tua mãe pra tomar banho mais tu, cabra sem vergonha. Aí, ele disse: “apois você não vem, eu vou buscar.” Aí ele veio nuzinho como nasceu. Diva – É aquele Jacaré que mora ali em Jacaraú? D. MARIA JOSÉ – É Zé Jacaré mesmo. Diva – Mas vejam, só. Que atrevido! D. MARIA JOSÉ – Aí, lá vem ele nuzinho. Aí, quando ele chegou pegou no braço de Maria Tene. Quando ele pegou no braço de Maria Tene, as coxas dela, eram dessa grussura assim, o vestidinho por aqui assim, uma negona dessa grussura! Quer dizer que eu também era forte, mas ela era mais alta do que eu e mais forte, eu trabalhava e ela não trabalhava, porque quem trabalha no meio do mundo, passa fome. Aí, quando ele pegou no braço dela, comadre Bune sacudiu um punhado de areia no fussim dele. Quando ela sacudiu o punhado de areia, eu digo: agora aqui é no pinhão, taquei-lhe a vergota de pinhão, quando ele se envergou pra frente, eu dei-lhe nas caixas do peito, aí foi pau. Ele corria pra riba de uma, arde, e eu metia-lhe o reio. Aí, Maria Bune foi o jeito entrar no rolo também. Demo uma surra em Zé Jacaré. Ele não agüentou mais, saiu de dentro d’água, foi simbora. Quando foi de noite papai ia fazer um pagamento a Tota Pereira, aí quando papai chegou, ele morava mesmo em frente a Tota Pereira... aí ele chegou lá, nu da cintura pra cima e disse: “seu Atanásio?” Papai disse: “oi?” “Repare aqui minhas costas.” Aí papai reparou as costas dele, um cabra novo, geme por onde pau pegava! Aí, papai disse: “que diabo foi isso Zé?” “Foi a sua filha.” “A minha filha? Por que ela fez isso com tu?” “Porque eu tirei uma brincadeira com ela, aí elas não me mataram porque eu corri pra dentro d’água.” Aí papai disse: “é, eu vou pra casa, daqui pras oito horas eu tô chegando lá, venho dá uma surra nela na sua frente.” Aí, Tota Pereira disse: “não, você não pode dizer assim que vai dar uma surra na moça na porta dele, que você não sabe que alguma coisa ele fez. Uma mulher só faz um serviço desse com um homem ele dando pé, se ele não desse motivo, ela não tinha dado, por isso aí, você não dá, por isso aí se você der na menina, nós não somos colegas mais nunca.” Aí, papai chegou em casa e disse: “Maria?” Mamãe disse: “oi” “Se tu visse as costas de Zé Jacaré, o que foi que Maria José fez! É cada nó dessa grossura assim de fora a fora. Os peito dele, a barriga, só queria que tu visse.” “Mas Maria José ficou doida?” Eu digo: e eu ia deixar comadre Bune e Maria Tene pra mode tomar banho na lagoa nu mais ele. Aí papai disse: “deixe eu pegar aquele cabra safado.” ((risos)) Diva – Tá vendo como mudou a história? D. MARIA JOSÉ – Quando ele via papai era rua no mundo, pra papai não pegar ele. Ele era safado. Lílian – A senhora era danada, mas não era sem justificativa, não era Dona Maria? D. MARIA – É, um dia, eu tava aí, repare minha idade. O cara ia fazer dezessete anos, com dois meses, ia servir o exército, e olhe pra minha idade, eu tava com doze anos. Eu ia buscar leite lá no Breu pra compadre Gaspar. Agora o rio tava com água, atravessava e vinha na canoa pra despachar o leite pro povo aqui da rua. Aí, nós fumo ver água ou o leite, aí Raimundo de seu Vicente foi na frente, papai disse “vocês não vão pela levada não, que a levada tá muito cheia”, a lama por aqui cheia, chega tava por fora. “Vocês vão pela rua que é melhor pra vocês”, aí nos fumo pela rua. Ele de lá da casa dele, que ficava de detrás da igreja, de lá ele via nós. Aí, tem um pé de tamarineira e um pé de ariticum, agora tinham tirado os galho da tamarineira pros carros passar, que os carros tavam carregando cana lá do outro, lá do Capitão Moraes. Aí, nós saimo. Quando fumo chegando, ele tava nu da cintura pra cima, aí ele alevantou-se, quando alevantouse pegou no braço de comadre Bune, quando ele pegou no braço de comadre Bune, eu sentei-lhe a garrafa na cabeça, aí ele soltou comadre Bune e quis me pegar, aí foi tarde, aí peguei cipó de tamarino. Aí, era eu e comadre Bune entrou na dança, meteu-lhe o reio nele também. Aí, seu Luiz Duquinha ia pro Breu e vinha no cavalo, vinha observando tudo. Aí, comadre Bune foi, parece que eu sortei o cipó e peguei ele, aí quando peguei ele, peguei nos braços dele assim e dei-lhe dois arrasto, sacudi assim, dei-lhe um solabanco. Quando eu sacudi ele e voltei, aí ele disse “agora eu vou matá-la.” Aí, seu Luiz Duquinha foi chegando e disse: “que diabo é isso, você tão velho, mais tão velho, mais do que as meninas, espera as meninas no caminho pra mode arengar com as meninas?” “É, quando seu Atanásio vier na rua, eu vou mostrar o que foi que ela fez.” As costas o bicho era bem claro, as costas chega tava incarnada de cipó de tamarino. Aí Luiz Duquinha foi mais a gente, peguemo o leite, aí ele disse: “vão por dentro que é mior.” Mas papai disse que nós não fosse por dentro que a levada tava muito cheia, aí Luiz Duquinha veio mais a gente até aí a curva. Quando foi de noite, papai foi lá pra Zé Bento, seu Vicente viu papai, aí foi buscar ele e mostrou as costas dele a papai. Aí papai disse: “eu tenho que dá uma pisa em Maria José, Maria José só falta mim pôr doido, e eu vou dá-lhe uma surra aqui no meio da rua, vou levar ela pra lá pra casa de seu Vicente, pra dá uma pisa nela.” Lílian – Seu pai teve trabalho com a senhora, né? Tem muita gente por aí que apanhou da senhora aqui? D. MARIA JOSÉ – ((risos)) Aí, quando Luiz Duquinha foi chegando, papai tava dizendo que ele já tinha feito a queixa a papai. Papai tava dizendo que ia em casa deixar as coisas e trazer eu. Seu Luiz Duquinha disse: “compadre Atanásio, desde solteiro que nós somo amigo e hoje em dia somo compadre, mas se você der em Maria José porque deu uma surra em Raimundo, que se eu não tivesse chegado ele tinha agarrado nos cabelos dela, eu era quem tinha dado, porque eu vi, já vi no fim, mas eu ia descendo e ela não perde pra ninguém. Eu achei pouco a surra que ela deu nele e o senhor pra mode vir fazer queixa a compadre Atanásio, devia levar seu fio lá pra mode ele dizer tudinho o que foi que fez também. Porque ela quebrou a garrafa nele!” A cabeça ficou assim da garrafa, danei-lhe o litro na cabeça! Papai disse: “eu vou deixar de mandar Maria José pros canto, pro mode não mim dá trabalho, eu não sei a quem Maria José puxou desse jeito.” Porque papai nunca brigou com ninguém. A pessoa ia lá em casa com zuada com ele, como a irmã foi, a gente era quem enfrentava. Eu era quem enfrentava mais mamãe. Lílian – Ele era calmo e sua mãe, era assim também? D. MARIA JOSÉ – Mamãe, mamãe não gostava de briga, não. Lílian – Puxou a quem assim briguenta? D. MARIA JOSÉ – Puxei ao pai de papai e ao pai de mamãe. Lílian – Eles eram assim? D. MARIA JOSÉ – O pai de papai mais dois irmãos brigaram duas horas de relógio em Santo Antonio. Lílian – Ave Maria! D. MARIA JOSÉ – O sangue fazia chinelo nos pés deles na rua de Santo Antônio. O povo era tudo de porta fechada pro mode eles. E papai morreu e nunca brigou com ninguém. Só uma vez que ele saiu de noite foi pra um o filho da puta safado, que ele já morreu. Que ele tinha um cachorro, a cancela ficava como essa mangueira e a casa dele ficava como aquela derradeira mangueira. E o cachorro ficava na porta pro povo passar precisava gritar antes de chegar perto. E ele não brigava com o cachorro não, as meninas mais a mulher eram quem saíam pra brigar com o cachorro e o cachorro era grande. Aí papai ia lá pro Breu e o cachorro avuou pra cima de papai como uma fera. Aí papai andava com um pauzinho na mão, ele já sabia, quando ele chegou perto de papai, papai sentou-lhe o reio, ele caiu. Quando ele caiu, ele disse: “se você dé outra, você se arrepende Atanásio.” Aí papai disse: “eu não tenho minha perna pra cachorro morder.” O cachorro ciscou os gritos, levantou e foi em cima de papai e papai arrastou a faca. Aí ele, “se você furar meu cachorro, Atanásio...” Papai sentou o reio no cachorro, o cachorro caiu. Aí deu três cipoadas no cachorro, aí parece que o cachorro morreu, que ninguém viu mais o cachorro. Lílian – E ele fez o que com seu pai? D. MARIA JOSÉ – E o que era que ele haveria de fazer? Papai disse: “se você vier, o que eu fiz com o cachorro, faço com você também.” Aí, a mulher começou a falar que ele queria trocar a vida dele com a vida do cachorro! Ou queria matar um homem por causa do cachorro! Ele disse: “você não tava na porta, não viu quando o cachorro partiu, pro quê você não brigou com o cachorro?” Lílian – É verdade! E as brincadeiras? A senhora gostava de brincar de quê? D. Maria? D. MARIA JOSÉ – Eu gostava, quando não estava trabalhando, quando era noite de lua, a gente brincava congo, a gente brincava boi, era de tudo. Um dia eu tive a idéia de brincar de bicho. Vamos brincar de bicho, vamos brincar, eu sou o bicho, aí tinha um saco de estopa grande, aí entrei no saco de estopa e as meninas amarraram a boca do saco, aí desci de cabeça abaixo atrás das meninas, desci bolando de cabeça abaixo, tum, tum, cheguei lá em baixo, na porta de Tia Cantu, eu tive aquele medo de mim mesma e meti o grito dentro do saco. Papai disse: “tais com medo é de uma surra!” Aí Tia Cantu disse: “visse a astuça dessa menina: entrar dentro de um saco pra fazer medo.” No tempo que eu era gente! Lílian – Era bom, não era? As brincadeiras em noite de lua? D. MARIA JOSÉ – Era. Lílian – E os meninos, não brincavam, não, na época da lua? D. MARIA JOSÉ – É... a gente era bem besta pra brincar mais menino macho. Lílian – Por quê? D. MARIA JOSÉ – Porque papai não queria não. D. MARIA JOSÉ – Um dia Luiz Moita, meu primo que ainda tá vivo/... Faz três anos e dois meses que ele tá doente. Dão banho nele, dão comida na boca dele, trazem ele pra sala pra ele tomar vento. Aí, a mulher dessa grossura. Ela é minha prima e minha comadre, é a madrinha de Benidita. Você não viu falar em Belinha? Diva – Eu já ouvi falar. D. MARIA JOSÉ – Morreu. Já vai fazer um ano e ele ficou, a filha casada é quem faz tudo só, tem duas filhas ou é três. Mais uma mora na cidade, não sei aonde e essa mora aí, é quem faz tudo pra ele. Quem tem a vida comprida puxa por ela. Lílian – É verdade. D. MARIA JOSÉ – Aí, um dia quando ele era solteiro, eu era solteira, no final da descida, era a casa de Tia Cantu, daquele lado. A gente varria daqui pra lá, e ela varria de lá pra cá, era tudo limpinho. Nesse tempo o Oiteiro era Oiteiro. Só foi Oiteiro enquanto papai foi vivo e eu era gente. Agora não posso mais limpar. Se eu pegasse em dinheiro, ia mandar limpar ele todinho. Agora tem que botar essa mangueira no chão e essa outra da folha escura e uma que tem lá do outro lado. Lílian – Por que, D. Maria, tem que botar no chão? D. MARIA JOSÉ – Porque eu vou botar ela no chão? Porque faz raiva quando ela tá carregada, quem vai e quem vem mete rebolo, mete rebolo, é manga verde, é folha, é uma danação por manga, tanto faz a gente falar como não. Sem ser os daqui mesmo, são os de fora. Eu vou mandar butar ela no chão e outra que tá arriscado ela butar essa casa aí no chão. E outra por um capricho. Eu conversando mais Raimundo, eu digo: quando eu pegar em dinheiro vou mandar butar essa mangueira no chão. Compadre Daniel, o dono da casa, ia passando, vortou pra trás, “o que é que a senhora tá dizendo?” Eu tô dizendo que vou mandar butar a mangueira no chão. Ele disse: “aqui quem manda sou eu.” Eu digo o que mamãe deixou plantado, enraizado, ninguém manda. Quem pode mandar sou eu, eu vou mostrar a você como um dia mando botar ela abaixo. Eu peguei em dinheiro que dá pra butar elas todas três no chão e alimpar o quintal. Nas viagens que andei por esse mei de mundo, arranjei dois mil real, dava muito bem, mais fui comprar minha geladeira, fui comprar as cadeiras, fui comprar um filtro. Agora quem quiser que se vire. Mais eu pego, eu tenho fé em Deus que ainda pego em dinheiro. A primeira coisa que eu faço é mandar butar elas abaixo. Eu mostro a ele que boto elas abaixo, essa mangueira ficava detrás da casa de mamãe. Lílian – A casa de sua mãe era aqui? Faz quantos anos que ela existe, essa mangueira? D. MARIA JOSÉ – Quantos anos? Ela já tá velha, porque ela quem plantou, e quando mamãe morreu, ela já tava butando. E já faz trinta e seis anos que mamãe morrreu. Aí já vai muitos anos, né? E aquela primeira, daquelas ali, aquela primeira é mais velha do que eu cinco anos. Lílian – Ah, é? Essa daqui do canto? D. MARIA JOSÉ – Não, aquela outra, lá do outro lado, a primeira. Diva – É preciso a gente vir um ano todinho pra vir conversar com D. Maria e ouvir suas histórias. ((Fim da fita)) 3.2.4. Transcrição 3 Transcrição da entrevista realizada em 15 de julho de 2003, no Sítio Oiteiro, São Gonçalo do Amarante. Como de costume, eu de Diva escolhemos o horário da tarde para visitar D. Maria José. Encontramo-la no batente de sua casa, fumando seu cachimbo. Essa era a sexta entrevista realizada com ela. Seu humor estava bom, mas ela apressou-se em contar um acontecimento da semana anterior, quando um desconhecido tentara entrar em sua casa. D. Maria José começa a relembrar a história enquanto tiro o gravador.... D. MARIA JOSÉ – Aí esse cara que pediu a esmola e foi simbora. Quando foi de noite, eu mim deitei, fechei a porta, o menino logo pegou no sono e eu fiquei acordada, que de noite custo a pegar no sono, só pensando o que não presta. Aí quando dei fé, fizeram mesmo assim na porta, o chinelo que eu calço de noite pra andar dentro de casa é aquela de plástico que pisa e ninguém sente. Lílian – Sei. D. MARIA JOSÉ – É. Aí, saí do quarto pra fora com o facão na mão, aí cheguei no mei da casa, olhei e não vi ninguém, aí eu fui devagarinho, quando eu girei aqui o trinco deu sinal, aí ele pulou lá no canto da casa, eu digo: devia ter aberto a porta e butado a mão, agora a porta tá aberta, quer vir entrar, pode entrar, agora o bagaço fica aí na porta. De manhã o delegado vem buscar. Ele foi simbora. Quando foi depois, empurraram a porta, salabancaram, eu digo: agora eu vou. Deixei essa luz apagada e a da outra sala acesa. Aí eu vim, cheguei, quando eu brechei, parece que viram a réstia, por que essa pareia aqui clareia lá. Aí pularam aqui nesse canto, eu abri a porta todinha, todinha e digo não quer voltar não, a porta tá aberta? Aí mim encostei pra esse lado e pensei: se ele entrar eu dano o facão com toda força. O facão é pesado, o facão não é maneiro não. Quer ver o facão? ((Vai buscar o facão no quarto para nos mostrar)). Lílian – Deixa eu ver. Ô mulher braba! D. MARIA JOSÉ - Será que tem um diabo que agüente uma facãozada dessa? ((empunhando a arma)). Lílian – Nossa, D. Maria! Diva – Mas, é afiado? Lílian – Não queira saber não. Diva – Não, quero não, quero não. Lílian – É melhor não querer saber. ((risos)). D. MARIA JOSÉ – Não querem experimentar, não é? Raimundo disse, “mamãe a senhora é maluca?” Não sou maluca não, eu tô na minha. É a ordem que eu tenho de juiz, de delegado, de Candinha... de todo mundo: passou daculá pra cá com cabimento, já sabe o que é que vai comer! Eu nasci de nove meses no meio do tempo. Caí no meio da vida. Mim criei no tabuleiro trabalhando, trabalhando... Com sete anos peguei a andar no meio do mundo mais papai, mim criei trabalhando. Um cara lá: “a senhora conta o começo da sua vida,” pra quê? O senhor vai me dar uma loja? “Não,é pro que eu quero saber.” Ele queria fazer jornal. Eu digo: não senhor, a minha vida quem vai saber é Deus e mais ninguém. Ô Rafael. ((chama o neto para comprar fumo)) Rafael – Senhora? D. MARIA JOSÉ – Repare aí se ainda, se tem fumo em cima desse catatau. Traga! Lílian – Qual era o verso que ele queria que a senhora cantasse? D. MARIA JOSÉ – De Marina. D. MARIA JOSÉ – Eu digo: o verso de Marina é cumprido e eu não vou cantar o verso de Marina, sabe por quê? Porque estou doente da minha cabeça e não posso cantar agora. Ele disse: “vamos pra Manaus, lá a gente trata da senhora bem, lá a senhora vai ganhar dinheiro.” Eu digo: irá ou não. “Porque a senhora diz isso?” Porque quando a gente vê muita farofa é sinal de pouca bosta. Eu não vou, não quero morrer no mei do mundo, quero morrer no mei dos meus filho. “Não, a senhora só passa duas semanas mais a gente.” Não, vou não. Lílian – Duas semanas é muito tempo, né? D. MARIA JOSÉ – Eu vou passar duas semanas fora do meu povo?! Não. Lílian – É muito tempo! D. MARIA JOSÉ – O verso de Marina diz assim: ♫“Marina era uma princesa muito rica e educada, porém amava Alonso que não possuía nada. Alonso foi injeitado, criado por um ferreiro trapio, morto de fome, sabe quem, assim, muitos dias não come,” ♫ e por aí segue. Lílian – Que bonito! A senhora gravou esse em disco? D. MARIA JOSÉ – Eu penso que gravei. Agora, tem um CD aí, mais ele tem uma parte que tá arranhado. José levou pra lá e quando veio, veio arranhado. Tem o verso de “Marina”, tem o de “Alzira”, tem o “Côco da Lagartixa”. Lílian – Qual é aquele que faz “dão, darão, darão”. ♫Por que choras minha filha, dão darão, darão”. ♫ Não é assim? D. MARIA JOSÉ – É. ♫ que eu te ouço soluçar dão, darão, darão. Que eu te ouço soluçar, dão, darão, darão. Entre dentro dessa roda, dão, darão, darão. É você a mais formosa, dão, darão, darão. Na camarinha ficar, dão, darão, darão. Na camarinha ficar, dão, darão, darão. ♫ Diva – Agora você sabe o que é camarinha, Lílian? D. MARIA JOSÉ – Antigamente era camarinha, agora é quarto. Aí, ele o pai disse: ♫ “escolha o que tu quiser”, “o que eu quero é casado e tem família, o que eu quero é casado, dão, darão, darão, é casado e tem família, dão, darão, darão.”♫ Aí ele o pai diz: ♫ “ô diabo, ô diabo, dão, darão, darão, eu quero o conde aqui, dão, darão, darão, eu quero o conde aqui.” ♫ Aí, o conde chega, aí ele diz: ♫ “quero que mate a condessa, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão, pra casar com minha filha, dão, darão, darão. Quero que traga a cabeça, dão, darão, darão, nesta adorada bacia, dão, darão, darão, nesta adorada bacia, dão, darão, darão.”♫ Aí ele chega em casa chorando, aí a esposa pergunta: ♫ “por que chora meu marido, por que te ouço soluçar?” ♫ Aí, ele vai e diz: que é o rei que quer que mate ela pra ele casar com a filha dele. Aí ela vai e diz: ♫ “bote a mesa criada, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão, pra comer por despedida, dão, darão, darão. Se sentaram-se na mesa, dão, darão, darão, nem um, nem outro comia, dão, darão, darão, nem um, nem outro comia, dão, darão, darão. As lágrimas eram tantas, dão, darão, darão, que pelos pratos corriam. ♫ Que povo besta pra chorar, né?! Lílian – É. D. MARIA JOSÉ – ♫ “Forra a cama criada pra dormir por despedida, dão, darão, darão, pra dormir por despedida, dão, darão, darão.” Aí ela diz: “ô criada, ô criada, dão, darão, darão, mim dá cá esse menino pra mamar por despedida, dão, darão, darão.” ♫ Lílian – É muito triste esse verso. D. MARIA JOSÉ – Aí diz: ♫ “mama, mama, meu filhinho, dão, darão, darão, esse leite de amargura, dão, darão, darão, esse leite de amargura, dão, darão, darão, que amanhã por essa hora, dão, darão, darão, tarei eu na sepultura, dão, darão, darão.” ♫ Diva – Meu Deus do céu! D. MARIA JOSÉ – ♫ “Tarei eu na sepultura, dão, darão, darão, o sino na Sé tocando, dão, darão, darão, meu bom Deus quem morreria, dão, darão, darão, pra mim fazer companhia, dão, darão, darão.” Foi aquela bela infante, dão, darão, darão, que vos casaram bem casado, dão, darão, darão, coisa que Deus não queria, dão, darão, darão, coisa que Deus não queria, dão, darão, darão. ♫ Ela/... Tá vendo, ela que quer tomar o marido da outra. Ela não podia fazer o que fez. Lílian – A senhora cantava aonde assim? D. MARIA JOSÉ – Papai cantava, pedia a mim os folhetos, papai gravava, cantava nos roçados e eu aprendia. Diva – No roçado ele também cantava? D. MARIA JOSÉ – Papai só trabalhava cantando. Lílian – Por que a senhora acha que ele só trabalhava cantando? D. MARIA JOSÉ – Porque era divertido. Papai era homem divertido. Papai ensaiava boi, papai ensaiava congo, papai ensaiava fandango, papai ensaiava quadrilha, mais era quadrilha, não era essas porquera de hoje. Lílian – Pode chamar de porquera, porque eu também chamo, parece um carnaval. D. MARIA JOSÉ – Isso é uma porquera, só pra darem peido no meio do povo. Diva – Quadrilha era naquela época da gente. Lílian – E a senhora sabe as Jornadas também? D. MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – A senhora cantava com ele as “Jornadas do Fandango”? D. MARIA JOSÉ – No CD tem, tem a... cumo é?... Esqueci. Lílian – Quando a senhora tá triste, a senhora também canta? D. MARIA JOSÉ – Quando eu tô triste? Canto não. Lílian – Canta não? D. MARIA JOSÉ – Eu tô sentada lá dentro maginando, tô sentada lá na cozinha. Lílian – Sozinha! Pensando! D. MARIA JOSÉ – Pensando na vida. Quando eu morrer, eu não sei o que será da minha vida. ♫Eu só não quero dizer: quando eu morrer meu caixão vai fumaçando e o povo fica dizendo essa defunta vai fumando. ♫ ((risos)) Lílian – A senhora sempre tem uma musiquinha, né, Dona Maria, pra acompanhar? D. MARIA JOSÉ – É, ficar calada não presta não. Lílian – É verdade. D. MARIA JOSÉ – Tá, aí outro dia José entrou, ouvi bater na porta, saí ligeiro. Porque a porta tando fechada, eu encosto a janela abrindo a porta, a janela vem, aí eu mim alevanto. Aí ele abriu a porta e entrou, quando ele chegou aqui eu digo: ♫ ouvi bater na porta, pensei que era Joana, Valha-me Nossa Senhora, que até o vento mim engana, ♫ ele disse: “pronto.” Mais eu não canto mais, que a derradeira coisa que tem na minha boca, era essa presa aqui. Aí eu botei o cachimbo no queixo e fui passar por debaixo da rede, o diabo do cachimbo enganchou na rede e levou assim de vez, a presa caiu no meio da casa, abriu minha gengiva aqui. Lílian – Aí meu Deus! ((risos)) D. MARIA JOSÉ – Rasgou a gengiva daqui até aqui, agora se peita pra doer/.... Diva – Tem que tirar. D. MARIA JOSÉ – Ficou só o farelinho, mesmo aqui. Lílian – Tem dentista em São Gonçalo? D. MARIA JOSÉ – Eu digo quando eu pegar em dinheiro vou lá em cima tirar ao menos esses cacos aqui. Lílian – Tire, porque dói. D. MARIA JOSÉ – É ruim demais. D. MARIA JOSÉ – Aí, eu só fumo segurando o cachimbo. Lílian – Não tem mais dente pra segurar. ((risos)) D. MARIA JOSÉ – De dente inteiro só tem esses três, mas não serve nem pra segurar o cachimbo! ((risos)) Lílian – D. Maria, a senhora gosta dessa vida de ficar cantando no meio do mundo assim? O povo te leva pra lá, leva pra cá. D. MARIA JOSÉ – Correndo dinheiro, eu gosto. Lílian – É claro! Mas o que eu quero dizer é se acabou com seu sossego, esse negócio? D. MARIA JOSÉ – Agora só não vou mais Gurgel. Pra ele não canto mais, não. Lílian – Por quê?! D. MARIA JOSÉ – Ele chegou, mim levou pra Mossoró/... Lílian – E foi ele quem começou com isso, não foi? D. MARIA JOSÉ – Foi, aí ele, Benidita deu um tranca nele porque ele disse: “quem fez essa casa foi Candinha? A senhora deu em andar mais Candinha pelo mundo, quem fez essa casa foi ela? Repare se ela fez sua casa, quem fez sua casa foi o prefeito.” Aí Benedita disse: “claro, quem fez a casa foi o prefeito porque ele compreendeu que ela merece. Se ele não compreendesse que ela merecia, ele não tinha feito, repare se ela saía daqui mais Candinha se ela ficava abandonada. Subia era de elevador pra dormir lá em cima nos hotel, ia de avião, não ia pagar com o dinheiro dela, que isso ele não tem nem para pagar um carro, ia e vortava. E o motorista vinha deixar ela em casa e vinha buscar. Ela não ia pedir a seu ninguém. E ela, Candinha, não vinha com um CD na mão pra entregar a ela, um CD, como o senhor veio. Quando Candinha fez apresentação do CD eu sei que pra mim ela trouxe cinquenta CD.” Lílian – Que bom! Deu um dinheirinho bom. D. MARIA JOSÉ – Também ele pegou o carro e saiu, as meninas só faltaram morrer de rir. Porque quando cheguemos lá na Paraíba ele disse: “eu vou na peixada mais minha rainha.” Lílian – Minha rainha, quem é? É a mulher dele? D. MARIA JOSÉ – Sim! ... Que tem assim, não sei se vocês sabem aonde é? Lílian – Rum! D. MARIA JOSÉ – Que tem um pau todo cortado redondo, uma ruma de madeira e um barraquinho que vende as coisas na frente. Aí ele disse: “a senhora fique aí, que eu vou pra peixada.” E foi simbora pra peixada. Lílian – A senhora fique aí, aonde? D. MARIA JOSÉ – Debaixo do pau. Nem deu ordem pra mode dá um café, nem tomar café, nem nada e foi-se embora. Lílian – Nem perguntou se queria ir pra peixada também, né? D. MARIA JOSÉ – Seu Severino disse: “mais tá bom, como é que seu Gurgel traz a senhora.” Porque ele só mim chama Maria José. Eu cresci como Maria José, Militana agora pro mode os documento. Lílian – Gurgel lhe chama de Maria José ou de Militana? D. MARIA JOSÉ – Só chama de Maria José. Ele disse, num é melhor o nome dos documento, não? Mas aí eu digo: não, mais já estou acostumada com Maria José. Lílian – Ah, sim! D. MARAIA JOSÉ – Aí, ele foi-se embora mais ela, e eu fiquei, Seu Severino ficou mais eu. Seu Severino: “mais como pode, o sol se pôs e ele nem chega.” Aí Seu Severino mandou butar um café, aí veio macaxeira com [?] aí eu disse, seu Severino tire esse negócio de cima da macaxeira, aí ele disse: “a senhora não come, não?” Não senhor. Aí ele foi, mandou arretirar e eu tomei o café, mas eu não era besta não, na minha bolsa tinha três recheado, ((pacotes de biscoitos recheados)) aí eu tomei café. Ele disse vamos olhar ali, aí fumo espiando as coisas pra aqui, pra acolá e quando chegou a hora, e ele sem chegar, e quando chegou a hora de cantar, eu subi no palanque, tava cantando, aí cantei, quando ele chegou, eu já tava cantando. Aí tinha ido um filho dele atrás da gente. Quando chegou, encostou o carro, perguntou a Seu Severino por ele e Seu Severino disse: “ele saiu.” Aí ele disse: “como é que papai traz a mulher pra cá, e sai sem dirigir nada?” Aí deu um batido nele quando ele chegou. Eu digo: eu não ando mais, mais ele, aí veio mim dá cem reais e tirou vinte pra dar aos homens que foi dizer poesia. Eu não saio mais mais ele. Agora ele quer que eu vá pra Mossoró e eu não vou. Lílian – Tá certa, pra ser mal tratada, não tem graça. D. MARIA JOSÉ – Candinha disse... ... por certo ele falou pra Candinha, que ela mandou dizer pelo repórter, que eu não fosse. Agora se ela for pra Campinas, eu vou. A professora disse aqui, a professora é de lá, de Natal. Lílian – Quando é Dona Maria, Campinas, quando é? D. MARIA JOSÉ – Parece que do mês de agosto pra o começo de setembro, ela vai pra Campinas. Lílian – Com Candinha a senhora vai, né? D. MARIA JOSÉ – É, mais com ele eu não vou mais não. Vou nada! Quando foi pra dormir, ele mim deixou no meio da rua mais seu Severino e a filha de Benidita, Lídia e disse “eu vou aqui na casa da minha irmã.” Foi pra casa da irmã, por lá jantou mais a mulher e não perguntou nem pra onde eu ia, se não fosse Seu Severino! Aí seu Severino foi, tinha uma coisa assim, Seu Severino foi falou, aí disse: “eu tomei conta, dou conta.” Aí desse lado assim tinha duas camas pra gente, e do outro lado tinha cama pra um só. Ele disse: “qualquer coisa encarque nesse botão vermelho ali que eu escuto.” Tá certo. Aí Seu Severino ficou na de lá e dormimos eu e Lídia na outra, mas a faca tava aqui comigo. Lílian – A faca a senhora não larga! D. MARIA JOSÉ - Eu fui pra São Paulo aí quando chegou no aeroporto, Antônio Nobre mandou me buscar só com o motorista. Aí, entremo no carro, tava eu e Marina. Quando demo fé o motorista subia e descia ladeira, subia e descia a ladeira, porque São Paulo não é todo assim? Haja subir ladeira e descer ladeira, entrava em avenida e saía em avenida. Aí eu levei uma garrafa de álcool, tirei da bolsa, butei assim, puxei a tampa de vidro de álcool, deixei ele em ponto. Aí Marina olhou e disse: “mamãe pra que a senhora fez isso?” Eu digo eu não sou besta não, vai que eu fique perdida aqui dentro de São Paulo. Mas eu hei de achar a delegacia e pedir socorro pra mode ir mim deixar em Natal. Mais se ele tentar arguma coisa, ele se vê comigo. Aí ele saiu, o pobre tava era ariado. Lílian – Coitado! Que sufoco! O pobre correndo perigo com D. Maria dentro do carro e nem sabia. ((risos)) D. MARIA JOSÉ – Aí, já não sei por onde passemo /... não tem rio prum lado, rio pra outro e o aterro no meio? Já foram lá? Diva – Eu só tive umas duas vezes em São Paulo, Lílian é que conhece. D. MARIA JOSÉ – Nós passemo lá e ele desconfiou e olhando pros lado, e já aperriado, de vez em quando passava as mãos na cabeça, Aí eu pensei: se ele entrar em casa diferente, tô morta. Diva – O que a senhora chama de casa diferente? D. MARIA JOSÉ – Você não sabe o que é uma casa diferente não?! Diva – Não. D. MARIA JOSÉ – Hum?! Diva – É aquelas casas de luz vermelha? D. MARIA JOSÉ - É casa de mulher da vida! Diva – Ah, sim! D. MARIA JOSÉ – Aí, tinha um moreninho e ele perguntou ao moreninho onde ficava o canto pra onde a gente ia. Aí ele disse: “deixaste muito atrás. Você segue, adepois de descer a ladeira lá embaixo, segue as esquerdas e quando chegar no final, entra pra direita e repara que o letreiro tá em cima.” Ele virou o carro e nós fumo bater lá. Lílian – Dona Maria, o motorista tava perdido! ((risos)) D. MARIA JOSÉ – É. Perdido no mundo. Lílian – E Dona Maria fazendo mau juízo dele, com medo de ir pra casa diferente! ((risos)) D. MARIA JOSÉ – Sim, aí quando foi tantas horas, Candinha aqui mandou Rossana pra ficar com a gente e Rossana foi. Lílian – Rossana é aquela que estava com a senhora naquele dia que eu lhe encontrei? Naquele dia que a senhora foi cantar, lá na Ribeira? D. MARIA JOSÉ – É. Ela é cheia de farofa. Lílian – Ela é a secretária de Candinha, né? D. MARIA JOSÉ – É. Aí ela foi, chegou foi caçar onde a gente jantar e essas coisas, um lugar pra dormir, aí quando foi de manhã, aí ela trouxe o pão, trouxe um pedaço de picanha, e era aquela carne cinzenta. Eu olhei pra carne, aí eu disse: tire à parte, que eu num quero, não! Aí ela perguntou: “Dona Militana a senhora anda com uma faca no corpete?” eu digo, eu tô em terra alheia, se na minha terra, eu não mim desaparto dela, imagine na terra dos outros. Aí, olhei assim e disse: tu vai dá tua carne de cobra pro diabo, pra mim mesmo não. Aí, ela disse: “como é que a senhora sabe que é de cobra?” Aí eu digo, esse diabo é carne de cobra, quero não. Aí ele pegou a rir, aí vortou pra trás e perguntou “a senhora quer ovo?” Eu digo: traz, mais traga ovo sem ser de jacaré. Quando foi a mei dia, lá vem ela com carne. Eu digo: óia eu não quero sua carne. Ela disse: “porque a senhora tá cismada?” Eu digo: pro que na televisão eu vi os cabra matando cobra: mataram uma sucuri, mediram da cabeça três palmos, mediram do rabo três palmos, quando acabar cortaram, tiraram o fato, tiraram o couro, foram lá pro riacho, lavaram, cortaram e botaram no saco plástico pra mode trazer pra cá. Mataram duas, pra trazer pra São Paulo, lá na mata de São Paulo. Aí, ela disse: “tá ruim pra senhora passar.” Aí quando a gente viemo, chegamo com Candinha o motorista foi buscar a gente no aeroporto, quando a gente cheguemo, agora, eu tive vergonha porque tinha dois policiais na frente, cheguemo assim, o carro encostou, que ela desceu do carro, eu desci primeiro, aí ele disse: “Mas Dona Candinha, Dona Militana não levou a faca!” Aí ela disse: “o que Rossana?” “Dona Militana não levou a faca!” Aí eu disse: Dona Candinha, não mande mais gente da boca larga viajar comigo, que eu não gosto de gente da boca larga, gente falador, gente da língua pesada. Só gosto de andar com gente que o que vê, deixa. O soldado ria, só faltava morrer de rir, aí veio Seu Rivaldo, “Dona Militana levou a faca, ela tá certa. Em terra estranha ninguém anda com as mãos abanando e mulher é muito pior.” Aí eu disse que não viajava mais com ela. Lílian – É mulher tem que se proteger, Aliás, vida pra mulher é muito difícil, não Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – É sim! Lílian – Vida pra mulher antigamente era mais difícil ainda, não era? D. MARIA JOSÉ – Era, aí em Uruaçú e Jacaraú, aí tinha uma moça que não era certa do juízo. Aí foi um dia butar água, que era ela quem butava água em casa. Na casa dela tinha duas que era empregada, tinha outra casada, tinha dois irmãos mais não botava, aí ela foi pra cacimba. Aí quando chegou na cacimba, encheu o pote, botou na cabeça, aí chegou um home e chamou ela pra ir pros mato. Aí ela disse: “deixe eu vou deixar a água em casa, deixe eu voltar.” Aí ele disse: “tá certo.” Ficou esperando sentado na beira da cacimba. Aí ela chegou em casa, pegou a faca de mesa afiada, botou dentro do seio e chegou foi encher o pote, ele disse: “deixe o pote, depois você enche.” Ela disse: “não primeiro vou deixar cheio.” Aí ela encheu o pote, ele chamou ela pra fazer safadeza, aí ele mandou ela se deitar, quando ele quis se aproximar ela passou a faca na nojenta, tirou com saco e tudo. Quando acabou empurrou ele com os pés que ele caiu. Lílian – Quem foi essa? Como é o nome dela? D. MARIA JOSÉ – Maria Doida. Aí quando chegou em casa com os olhos acatitados, com o pote d’água, o pai viu a roupa dela suja de sangue, disse: “o que foi isso Maria?” “Foi nada não! Foi nada não! Foi eu que mandei Mané pro inferno, ele foi fazer uma viagem.” O pai disse: “o quê menina?” “Foi Mané que foi fazer uma viagem, é porque ele veio com conversa comigo e eu meti a faca nele.” Aí o pai disse: “tô reado!” Aí lá foram ver, chegaram e tava Mané morto. Aí ela foi arrumar a roupa pro mode ir simbora, aí ele disse: “não, nós toma conta.” Quando a polícia chegou, foi buscar ela, aí ela disse: “vou, eu vou mais levo minha faca.” Aí ele disse: “leve, pode levar que é pra mode mostrar ao delegado.” Aí veio o pai dela e os dois irmãos, quando chegou, aí o véio, o Moura, era quem era o mandão. Aí o delegado disse que ela ia ficar presa, aí o véio Moura disse: “Não, quem merecia ir preso era ele. Mas, como a menina prendeu ele pra sempre, a menina vai voltar pra casa dela. Agora o senhor venda sua casa, procure outro canto pra morar, pode os irmãos dele procurar vingança.” O velho butou ela na casa do irmão dele na cidade, eu até visitei a casa dele. Vendeu a casa dele e foi embora pra Natal, até hoje vive por lá, foi Maria Doida! Lílian – Coitada, ela tava se defendendo! D. MARIA JOSÉ – Ela era amulecada, mais sei lá, mais quem é que não tem medo quando vê aquela arrumação. Ela atracou a bicha véia e passou-lhe a faca. Lílian – Ela planejou, porque primeiro ela veio em casa buscar a faca, não foi não? D. MARIA JOSÉ – Foi. Ela disse: “eu vou em casa, deixa eu voltar, a calha tá seca, deixe eu ir deixar logo esse pote d’água, quando eu voltar aí nois resolve.” Lílian – E resolveu, né? D. MARIA JOSÉ – Aí deixou a água, chegou cá, encheu o pote, ao invés dele capar ela, ela capou ele. Lílian – Mas tem que ser assim, né dona Maria, pra se defender. D. MARIA JOSÉ – Mulher forte era Marina. Marina, o pai dela foi prendeu, mandou butar Alonso na cadeia por que ele pediu a mão dela e disse pra não levar comida pra ele. Aí chamou ela, “você deu confiança a um bandido que agora mim envergonhou?” Ela disse: “quem mandou pedir, fui eu, se matarem Alonso e atirarem ele no mar, me lançarei num abismo, com ele irei pra lá.” Aí ele disse: “pois eu já mandei prender. E garanto que mais de três dias ele não tem de aturação.” Ela diz: “eu lhe mostrarei!” Aí mandou chamar o guarda, o guarda chegou, ela tava no jardim, “pra que me chamaste?” Ela disse: “mande soltar Alonso que tá preso, que te faço um agrado.” Aí ela disse que dava dez mil conto a ele, ele ia pro Japão mais Alonso, lá ele fazia a combinação. Ele coçou a cabeça, foi e soltou Alonso. Alonso chegou, ela tava no jardim, ela foi buscar, deu cem a Alonso e deu dez a ele. Aí ela disse: “quando escreveres para mim, pra não ser descoberto serei Januária Mendes, filha de Herculano Terto, a que escrever pra ti, Marcos, filho de Terto.” Aí quando foi com três dias, o cara, o primo dela apareceu. Aí o rei disse que deu ela ao moço, aí ele pediu Marina em casamento pra casar no outro dia. Aí ela disse: “eu não caso, como Alonso para mim não tem outro nesse mundo.” Aí ele foi disse que ela esquecesse de um bandido que envergonhava o barão. Aí ela ficou com mais raiva, aí quando foi no ato do casamento, ela disse a criada: “mande que dobrem o sinal.” Aí dobraram o sinal e no lugar de tocarem a chamada de missa, tocou o sinal. Aí foram vestir ela, ela colocou o punhal no seio. Quando chegou na hora que o noivo deu a mão pra ela, ela cravou o punhal e ele caiu. Quando ele caiu, ela deu uma punhalada em cima do coração. Aí o irmão dele correu em cima, ela plantou-lhe o punhal. Aí ela virou-se pro pai dela: “Tais satisfeito Barão?/ Viu como uma mulher faz?/ Cumpri minha jura, ou não” Aí ele mandou butar ela na prisão e ordenou que não deixasse levar água nem pão, aí ela antes de ir, fez uma carta e mandou pro Japão. Mandou contar a Alonso, na carta dizia o seguinte: “Alonso, quiseram mim casar a força,/ que não me casava jurei/ lá nos pés do padre/ meu noivo matei,/ matei mais o irmão dele/ que veio se intrever na questão.” Aí Alonso veio botar, aí de doze horas da noite, procurando uma pessoa que desse notícia, aí encontrou um velho, ele vinha com uma enxada, perguntou se ele era carcereiro, ele disse: “sou carcereiro.” Ele perguntou: “o senhor tem a chave da prisão onde vive a filha do barão?” Ele disse: “é com essa daqui que eu abro a porta, eu penso que amanhã ela amanhece morta.” Aí ele disse: “senhor dou-lhe vinte contos de reis pro senhor abrir a porta. Ele disse: “você faz minha desgraça.” Ele disse: “você vai comigo pro Japão.” Aí o velho foi abriu a porta, Marina tava desmaiada. Aí ele levava leite, esquentou o leite e começou a butar na boca dela, desmaiada de fome, aí foi, ela abriu os olhos e disse: “eu tava sonhando com Alonso, ele tava aqui a meu lado.” Gritou, chamou por ele, ergue o olho abençoado. Aí de doze horas da noite ele tirou ela da prisão. Aí vinha ele, ele e o velho, aí invadiram cinco oficial, cinco soldados. Aí Mariana matou dois, Alonso matou dois, ou Marina matou três e Alonso matou dois, era seis e ficou um que correu e foi levar notícias ao rei. Alonso chegou na beira do cais, falou pro capitão do navio, aí ele disse: “mais o barco tá vazio.” Aí ele disse, o velho disse: “eu vou lhe conservar, eu sei aonde tem uma alcova, onde nós vamos ficar.” Alcova se chama um subterrâneo, eles ficaram dentro. O Barão chegou, corregeu o navio todo, não encontrou ninguém, voltou pra trás. Aí doze hora do dia Alonso saiu fora, aí ele disse: “embarque, conduza a moça comigo até o Japão conte, pode sair do meu barco se me fizerem de mim ponte.” Aí tomaram o barco e seguiram. Quando chegou em certa altura... o Barão, ela ia em cima do convés e conheceu o mastro do navio do Barão, aí o capitão preparou-se, mas foi quem primeiro morreu. Aí na luta, bala vai, bala vem, aí caiu uma tauba e eles caíram dentro d’água, eles dois e o Barão tava morrendo afogado, Marina pegou ele pelos cabelos, tirou e jogou dentro do navio e saiu se desviando mais Alonso no braço. Aí ela diz: “Alonso eu fui pedida na terra e o casamento é no mar, os peixes são o sacerdote e ele é de vir nos casar.” Aí uma voz disse: “tem paciência Marina que o pouco chega.” Aí chega uma tauba, a tauba que caiu, mais deixa, que a tauba era a mãe dela. Aí ela reclamando, aí aquela voz diz: “deixa de reclamação que a pouco chega uma onda que salvará sua vida.” Ela diz: “Oxente! Quem és tu que tais falando?” “Marina, eu sou tua mãe que venho te acompanhando daqui em diante ando por ti zelando” com pouco tempo ele encostou na praia. Quando encostou na praia, aí vinha um pescador e viu eles no chão, aí soltou um grito “serás alma do outro mundo ou será sarteador?” Aí Alonso disse: “nem somo alma do outro mundo, e nem somo sarteador, nós somos dois naufragados, lutemos o dia inteiro, e estamos congelados." Aí ele foi em casa, trouxe uma capa pra Alonso vestir e trouxe uma roupa da mulher dele pra Marina. Aí diz Alonso, vestiu Marina que já tinha esmorecido e saiu. Aí ele foi perguntou se não tinha quem vendesse, quem tivesse um navio, essas coisas não sabe? Ele disse que conhecia Manasés, aí ele disse: “Manesés e Maciel esses são meus amigos, só tem que nunca vi.” Aí mandou o recado, ele mandou o navio e eles pegaram o navio, seguiram no meio do mundo, foram simbora pro Japão. Adepois deles casados, foi dois irmãos e mataram Alonso. Mataram Alonso na porta da igreja, quando eles tavam saindo, eles atiraram nele. Na hora que eles atiraram ela mandou a polícia prender, a políca prendeu, ela mandou fazer um forno, prenderam assim, com não sei o quê e botou dentro d’água. De dia quando a maré tava cheia, quando a maré tava seca, a água ficava por cima dos pés, e quando a maré tava cheia a água pelo pescoço. E de noite, ela mandou butar noutro canto. E nesse dia ela mandou butar fogo no forno e mandou butar eles dentro, o forno pegou fogo e assou todinhos. Ele morreu assado. O cara que matou Alonso, morreu assado em cima do forno. Lílian – Marina era parecida com a senhora, num era? D. MARIA JOSÉ – Hein? Lílian – Marina era parecida com a senhora. D. MARIA JOSÉ – Era nada. Eu não tinha essa coragem de matar ninguém queimado não. Lílian – Uma lutadora. Todas essas suas histórias. Já prestou atenção, que são de mulheres fortes? D. MARIA JOSÉ – Como é? Lílian – Todas essas suas histórias são de mulheres fortes. D. MARIA JOSÉ – Porque a gente não deve ser morta dentro da saia, não. Muito embora que às vezes se cague de medo. ((risos)) O que se faz já tá feito, não tem mais jeito. (SILÊNCIO) Lílian – É, esse de Marina que a senhora contou a história agora, é aquele que o homem de Manaus queria que a senhora cantasse, esse verso? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – Ele é grande, é uma história grande, né? D. MARIA JOSÉ – É uma história cumprida. Lílian – Mas é bonita, muito bonita! Diva – Muito bonita ela. Lílian – E essa mulher matou quem o pai queria que ela casasse e matou o assassino do marido. D. MARIA JOSÉ – Marina é que nem eu, ninguém me engana com um olho, não! Sou besta não! Lílian – Tá certa, D. Maria! (SILÊNCIO). São histórias de mulheres corajosas, né? D. MARIA JOSÉ – O cara que mim procurou pra mode mim botar na gravadora aqui de São Gonçalo/... Lílian – Hum! D. MARIA JOSÉ – Aí eu tava sentada aqui com as costas pra cima e a frente pra baixo. Aí ele veio aqui pra cima e entrou aí na casa de baixo. Eu não vi. Eu tava cantando ♫“Ô ingrato se tu tinhas outra amante,/ por que e para que tais mim enganando,/ se algum dia tu voltares a minha porta,/ não te quero, nem que tu venhas chorando./ Ainda te vejo, tu em minha porta pedindo esmola,/ medingando pão,/ te dou a esmola porque tu sois pobre,/ mais nunca, nunca eu te darei o teu perdão.”♫ Aí, ele chegou aí: “isso é que é um peito!...” Eu tava cantando mesmo em cheio. “Quando for amanhã de quatro horas, eu venho pra cá pra senhora gravar umas modas e uns versos pra mode eu butar na gravadora.” Eu digo: tudo bem, agora precisa tutu. Aí ele disse: “tá certo.” Aí foi-se embora. Aí eu digo: Valdo, se Zé Aviador chega aqui e mandá eu cantar, a primeira que eu vou cantar... que ele não é corno?... a primeira que eu vou cantar é essa ♫ “Quando eu vim da minha terra que o meu senhor mim comprou/ eu vinha com mal sentido na mulher de meu senhor./ [?] e meu senhor [?] eu com preto não [?] quanto mais preto melhor./ Quando é no dia de santo, que meu senhor vai, vai pra feira, fico minha senhora numa espriguiçadeira. /Quando é no dia de domingo que meu senhor vai pra missa,/ minha senhora, mim chama nego, pego vem fazer preguiça ♫. Aí Valdo disse: “mamãe não cante.” Eu digo se ele vier mim mandar cantar eu canto isso, que é pra ele não vir mais mandar eu cantar, ele bota na gravadora e os outro vão acanalhar ele. Ele não quer que eu cante alguma coisa pra mode butar na gravadora? ((SILÊNCIO)) D. MARIA JOSÉ – É. Eu vou mandar arrancar essas raízes aqui, ((referindo-se aos dentes, que foram retirados)) que aqui não tem nem um, nem um, tá limpinha, chega tá fina! Tanto a inferior, como a superior. Aí eu vou mandar tirar essas raízes, aqui tem um dente, aqui, tem um queixal aqui, eu vou mandar arrancar, quando acabar eu mando butar só aquelas chapa de pino só pra agüentar o cachimbo, que fica feio que só, a pessoa vai cantar a boca fica incuída pra dentro que nem um maracujá. ((todas riem muito)) Lílian – Essa mulher não existe não! ((rindo muito)) D. MARIA JOSÉ – É de tá chorando, por certo?! Lílian – Tá certo. E hoje, a senhora canta quando? D. MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – Quando é que a senhora canta, aqui quando quer rir da gente assim, né? D. MARIA JOSÉ – Como é? Lílian – Quando quer rir dos outros, é? D. MARIA JOSÉ – Quando eu quero mangar dos outros, eu mango mesmo. Lílian – Aí manga cantando, não é isso? D. MARIA JOSÉ – ((risos)). Quer que eu diga, né pra você gravar. Eu sei que já mangam de mim por aí. Magina se não mangam duma véia sem os dentes, cantando! Lílian – Que é isso, D. Maria! D. MARIA JOSÉ – Ora se não! Diva – A senhora sempre morou aqui? Ou morou em outro lugar, Uruaçu? D. MARIA JOSÉ – Eu mim criei aqui, é porque no CD diz assim: ♫ Lá em Barreiras aonde eu nasci, em São Gonçalo aonde mim criei, eu vou embora pra meu sítio Oiteiro, adeus terra natal, adeus! ♫ Lílian – Então a senhora veio para cá pequenininha? D. MARIA JOSÉ – Eu vim pra cá com vinte e dois dias e daqui só saio pro cemitério. Diva – Só fez nascer mesmo nos Barreiras! D. MARIA JOSÉ – Porque mamãe era de Barreiros e papai era daqui, isso daqui era de papai. Lílian – A senhora é mais velha de seus irmãos? D. MARIA JOSÉ – A mais velha de toda irmandade sou eu e a mais safada. Diva – Tem que ser a mais forte, a mais velha assim tinha que ser. A senhora se casou lá? Lílian – Eu queria tirar uma foto da senhora com esse cachimbo. D. MARIA JOSÉ – Pra quê? Tem uma aqui, ó. Lílian – Mais, essa aqui a senhora ainda tinha dente. ((risos)). D. MARIA JOSÉ – É, eu não tô segurando? Diva – Quando a senhora se casou morou aqui também? D. MARIA JOSÉ – Foi. Porque o homem que eu mim casei não era daqui, era de “Passagem do Meio”. Lílian – Teve um tempo que a senhora me contou que foi morar em outro lugar, acho que foi quando seu marido morreu. D. MARIA JOSÉ – Agora quando ele morreu, eu digo, vou passar uns dias fora daqui, fui pra Santo Antonio, passei dois meses em Santo Antonio. Aí mim aperriaram pra mode eu ir morar no Gostoso, eu fui lá que é em Santo Antonio mesmo. Diva – Eu sei onde é o Gostoso. D. MARIA JOSÉ – Aí compadre Raimundo, meu primo, saia dali, aquele não é lugar pra senhora morar não. Diva – Realmente ali é a parte pesada de Santo Antonio. D. MARIA JOSÉ – É porque fica mesmo na encruzilhada. Aí eu vim morar ali, mas lá do outro lado, daquele bambuzeiro pra cá uma entrada que tem, tem quatro casas, eu morava numa. Eu digo: quer saber, eu vou mimbora pra minha casa. Aí vim embora pra casa, só com um quarto. Era tudo aberto, a sala, a cozinha era tudo aberto. Lílian – Por que tavam fazendo sua casa, não era isso? D. MARIA JOSÉ – Não, fizeram depois que eu tava aqui. Lílian – Sim! D. MARIA JOSÉ – Tá com uns quatro anos, não tá Zé? ((pergunta a seu filho que chegou a pouco e senta-se na sala para conversar conosco.)) Zé Luiz – Essa casa aqui? D. MARIA JOSÉ – Hum! Zé Luiz – Tá com mais. Lílian – Tá recente. Diva – Quando a senhora morou em Santo Antonio, seus filhos moravam todos com a senhora? D. MARIA JOSÉ – Só tava comigo Raimundo. Diva – Todos os outros eram casados. Todos eles moram aqui por perto da senhora? D. MARIA JOSÉ – O que mora mais distante de mim é esse aí, que mora lá em cima, mas todo dia ele vem tomar a benção a mim. Diva – Todos os dias ele vem dá uma olhadinha na senhora. D. MARIA JOSÉ – Se ele não vier de manhã, que ele trabalha, mais quando é nessa hora vem direitinho. Diva – Muito bem, é sinal que a senhora foi uma boa mãe. D. MARIA JOSÉ – Não tem quem tenha mais amor a ele do que eu. O pai morreu ele ficou com quatorze anos. Não, quando o pai mim deixou foi simbora, ele tinha quatorze anos. O pai mim deixou foi pra Poço de Pedra, passou quatorze anos, dois meses e dezoito dias. Ele começou a trabalhar com quatorze anos pra mim ajudar. Lílian – Ele é o mais velho? D. MARIA JOSÉ – É, dos homens é. Lílian – Quem é a mais velha mesmo? D. MARIA JOSÉ – É Francisca, mora lá no canal. Já ta com a cabeça ficando branca, ainda quer arrumar homem. Lílian – Ela tá certa. Sua cunhada não queria com cento e vinte anos? ((risos)). D. MARIA JOSÉ – Agora ela casou. Lílian – Foi?! D. MARIA JOSÉ – Num morreu. Lílian – E por que a senhora acha que ela casou? D. MARIA JOSÉ – Ela vivia dizendo “esse moreno não servia nem pra barrer canfunelo.” Aí Dácio disse: “que diabo é cafunelo?” Eu digo: você não sabe o que é canfunelo? Ele disse, “eu não.” Diva – Igual a mim, não sei o que é uma casa diferente. ((todas riem muito)) D. MARIA JOSÉ – Vocês não sabem o que é canfunelo, não? Diva – É o cemitério. D. MARIA JOSÉ – É o cemitério. Lílian – Eu também não sabia não, Dona Maria. D. MARIA JOSÉ – E ele: “Vije! É um cemitério?” Eu digo: é. Diva – Só não sabia dessa sua casa diferente, eu conhecia outros nomes, agora casa diferente! D. MARIA JOSÉ – A casa diferente é a casa de rapariga. Aí ao invés deu entrar lá, ele é quem ia entrar. Lílian – Ia mandar ele pro canfunelo, né? D. MARIA JOSÉ – Era. Aí dentro do carro ele bateu assim, assim acidentou-se. Lílian – Ainda tinha o álibe! Essa mulher! Tá esperando a mãe, ele é? ((referindose ao filho de Benidita)) D. MARIA JOSÉ – É que ela tá com a menina no hospital. Diva – A menininha dela? D. MARIA JOSÉ – Ela tá com febre. Tem um feijão verde que ela disse que eu botasse no fogo e eu nem tava mim lembrando, conversando, mim lembrei agora. Diva – Nós não vamos atrapalhar sua luta, vamos lá Lílian pra não atrapalhar, vamos lá pra Dona Maria fazer a comida dela. D. MARIA JOSÉ – E empata? É só eu ir lá butar no fogão, o fogão fica cozinhando e eu venho cá mim sentar. Lílian – Pode ir cozinhar seu feijão senão sua filha vai lhe dar um carão. ((todas se dirigem para a cozinha e lá continuamos a conversa)) Lílian – Tá melhor a perna daquele cinzento? D. MARIA JOSÉ – Daquele cinza? Lílian – É. D. MARIA JOSÉ – Meti-lhe limão pra cima, visse? Lílian – E foi Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Meti-lhe limão pra cima, passando limão nas pernas e passo um negócio que tem aí, aí elas tão alimpando. Lílian – Vou trazer um hidratante para senhora. D. MARIA JOSÉ – Se não mim chamam: é a nega cinzenta! Presta não. Lílian – O garotinho ficou aqui com a senhora? ((referindo-me ao neto que passou a tarde conosco)) D. MARIA JOSÉ – Ficou. Lílian – Mas ele é até obediente, né D. Maria? D. MARIA JOSÉ – É, quem não é, é o outro. Entre pra dentro de casa, chegue Rafael? Rafael? Diva – Ele tá brincando aqui na frente. Lílian – Rafael é o nome do anjo. Ah não, o anjo é Gabriel. D. MARIA JOSÉ – Tem São Gabriel e São Rafael. Lílian – Ah! Tem São Rafael também, né? D. MARIA JOSÉ – São Rafael! São Miguel é o pesador das almas. Lílian – Quem? D. MARIA JOSÉ – São Miguel é o pesador das almas. Lílian – Como assim, Dona Maria, o pesador? D. MARIA JOSÉ – Aquele que tiver muito pecado não entra no céu não. Lílian – Quer dizer que é ele quem decide, né? D. MARIA JOSÉ – ♫ Existia no mundo um pecador obstinado/ matou o padre e padrinho e o pai por quem foi gerado. Tinha o crime por amigo/e Deus por seu intrigado. Matou o pai que o gerou /e a mãe que concebeu/de nada teve remorso/ tal foi o destino seu. ♫ Aí ele caiu doente. Aí o anjo da guarda, ele veio e disse a ele:” ninguém pode viver sem dar conta dos seus pecados.” Aí ele veio e disse a ele que não pensasse no que fizesse, deixasse que ele defendia. Aí ele deu uma vertigem e o demônio/... ((para um pouco para lembrar e continua cantando)) ♫ Ele deu uma vertigem/ o home expirou./O demônio tava perto/ativo se conservou/ o anjo da guarda veio/ e o diabo se amassou. O diabo pergunto: “ó anjo,/ o amigo vem a negócio,/ essa alma não mim pertence, /nela eu não quero sócio,/ eu trabalho e para mim e o resultado é o pior♫ Lílian – O diabo ficou perto o tempo todo? D. MARIA JOSÉ – Até ir pro cemitério. Aí o anjo da guarda disse: ♫”cale-se infeliz maldito,”/ lhe disse o anjo da guarda:/ “essa alma só pode ser sua /depois da sentença dada,/ ele não foi a juiz/ para ser sepultada.” ♫ Aí a alma seguiu, o anjo da guarda acompanhou, aí quando chegou lá, nos pés do altíssimo, Nosso Senhor disse: “antes que te confesse/ publica, por tua boca/ que benefício fizesse.”/ ♫Ela faz censura/contasse certos passado,/ porque, o meu próprio pai/ também foi assassinado./ Tinha o crime por amigo/ e Deus por meu intrigado.”♫ Aí Nosso Senhor disse: “por minha justa sentença,/tu tais condenado.”♫ A alma soltou um grito/ no receber da sentença,/ o demônio tragou ela,/ levando no ar suspensa,/ dizendo consigo mesmo,/ que felicidade imensa./ A alma se vendo aflita/ no terror das agonias/ caiu nas mãos de Maria/ ainda com esperança/ de pela Virgem ser socorrida. “Virgem, ó Virgem Maria,/ filha do Espírito Santo,/ mim cubra com o vosso divino manto,/ vinde mim socorrei, de vossos pés não mim levanto.” ♫ Aí Nossa Senhora diz: ♫ “Ó alma tu fique aí/ que vou falar à Jesus/ Digo que te prometi/ e sei que Ele mim atende sabendo que eu sou por ti” O demônio quando viu/ a Virgem Pura partir/, disse ao outro companheiro:/ “lá vai a compadecida, /mulher que com tudo se importa/ e quer ganhar questão vencida.” ♫ Lílian – Ah, esse verso eu acho que conheço! D. MARIA JOSÉ – Aí o anjo a acompanhou. Aí Nossa Senhora falou pro Nosso Senhor, e o Nosso Senhor disse: “Ainda não faz meia hora que ela aqui confessou, eu já dei a sentença dela e não posso mais com nada.” Aí Nossa Senhora disse: ♫ “infinito Jesus que mostra vosso poder,/ se ela tiver castigo por ela hei de sofrer.”/ “Se minha mãe mim pede eu sou um juiz fiel,/ pra ver que jeito dar, mandei chamar São Miguel.” /São Miguel chegou sorrindo/ e disse: “pronto Senhor.”/ Ele disse: “Miguel você vá defender um pecador/ pra ver se pode aterrar a razão de um traidor.” / O demônio quando viu /a alma salva, dum lado/ lançava fumo e fogo/ grunia desesperado./Danava o dente no couro/ como um cão que ta danado. ♫ Quando a alma viu, saiu cantando: ♫ “louvada seja Maria amparo dos desgraçados, seja nossa sempre guia.”♫ Lílian – Como é o nome Dona Maria, o nome desse verso? D. MARIA JOSÉ – Não é o verso da “Alma do desobediente”, é o verso “desobediente”. Ele matou pai, matou a mãe e São Miguel livrou ele dos pecados. Isso prova que Nossa Senhora é misericordiosa, a gente quando tá desesperado, pode se pegar com ela. A alma só foi solta, porque Nossa Senhora pediu. Lílian – Ah, sim. Só porque Maria pediu. D. MARIA JOSÉ – E tem um bendito que diz: ♫ “ô Maria, ô Maria,/ você veja quem te chama/ atende aquela triste alma/ que tá perdida, que te chama.”♫ Aí Nossa Senhora vai diz: ♫ “vai Miguel, vai Miguel, pegue aquele jumentinho, pega aquela alma [?]”♫. Quando São Miguel chegou o inferno estremecia, as almas tiveram [?] de alegria. Aí diz: ♫ “não seja tolo Miguel que essa alma não vai lá [?] que essa alma não vai lá, essa faz três dias [?], não seja tolo Miguel que essa alma não vai lá.” Aí ele vai e diz: “não seja tolo [?] que essa alma vai é já, a virgem da Conceição foi quem a mandou buscar.”♫ Aí o cão empurrou a alma, saí alma por que aqui não quero te ver. [?] a [?] pode valer. Aí São Miguel [?]. É rara a noite que eu não rezo o rosário de Nossa Senhora da Conceição. Lílian – É mesmo? Quer dizer então que ela tem o poder de interceder mesmo não é? Nossa Senhora pode mudar o destino da gente? D. MARIA JOSÉ – Toda noite eu rezo o rosário de Nossa Senhora. Esse menino quando era pequeno disse: “vó, a senhora reza o rosário, como é que a senhora reza o rosário?” Eu disse: olhe a gente pega, reza o Pai Nosso, e diz assim: minha Virgem, Nossa Senhora da Conceição, vois sois [?] cercada de anjo, coroada de flores, vós fostes aquela que disseste que quem vos chamaste cento e cinqüenta vezes no dia, vois a valeria, valha minha Virgem da Conceição. Aí a gente pede o que quer, aí diz: valha minha Virgem da Conceição! valha minha Virgem da Conceição! Aí ele dizia: “valha minha Virgem da Conceição, valha minha Virgem da Conceição.” Aí o pai meteu o pau a rir e pegaram a mangar dele e o menino ficou chorando. Lílian – Que maldade, o bichinho rezando, pedindo a proteção. D. MARIA JOSÉ – Era valha minha Virgem da Conceição e findou chorando. ((ELA DIZ UMA ORAÇÃO QUE NÃO CONSIGO ENTENDER.)) Lílian – Essa é o quê, uma oração? D. MARIA JOSÉ – A oração de São João. Lílian – Oração de São João! D. MARIA JOSÉ – Eu rezo ela toda. D. MARIA JOSÉ – Se eu for contar minha vida. (SILÊNCIO) Minha vida é um romance, dizer eu sei que é duro,((reelabora)) faz vergonha eu lhe dizer que no dia em eu nasci, não achei o que comer, e assim vou levando a vida do jeito que eu puder. Lílian – É Dona Maria, que bonito, agora essa foi a senhora que criou? cante ele de novo, tão bonito! D. MARIA JOSÉ – ((Dona Maria reelabora)) Se eu contar a minha vida /faz vergonha eu lhe dizer,/ no dia que eu nasci/ não achei o que comer,/... eu não digo mais não, você quer aprender. Lílian – Estou admirando, achando bonito. E por que eu não posso aprender? D. MARIA JOSÉ – Quando eu nasci assim mamãe dizia chorando que não achou nem um paninho pra amarrar o imbigo, nunca comi uma colher de leite. Minha vida sempre foi muito sofrida. (SILÊNCIO) ((fim da fita)) 3.2.5. Novos Encontros As entrevistas que se seguem foram realizadas em maio de 2005. Após alguns meses sem visitar D. Maria José, voltei, juntamente com Diva, a procurá-la para estabelecermos novos contatos. Encontrei a colaboradora da pesquisa morando com sua filha Benidita. As freqüentes crises de pressão alta tinham inspirado o cuidado da filha, que a levara para morar consigo, em sua casa no Loteamento Alto de Canaã, próximo ao Sítio Oiteiro, em São Gonçalo do Amarante. Ao reencontrar D. Maria José, expliquei-lhe que estava morando em outra cidade e, por esse motivo, nunca mais tinha aparecido para conversar. Ela revelou que sentira falta de nossas conversas e reclamou da solidão e dos constantes problemas de saúde que a afligiam. Contei-lhe o que acontecera com o material coletado ainda no Sítio Oiteiro e perguntei-lhe se seria possível realizar novas gravações. D. Maria José lamentou o ocorrido e mostrou-se bastante disposta a retomar as tardes que tínhamos passado conversando. Visivelmente abalada pelas crises de pressão alta e um pouco decepcionada com as pessoas com quem contava para dar-lhe assistência, D. Maria José recebeu-nos outra vez, com grande cordialidade, e assim continuamos nossas conversas... 3.2.6. Transcrição 4 Transcrição da entrevista realizada em 03 de maio de 2005, na casa de Benidita, no Loteamento Alto de Canaã, São Gonçalo do Amarante. D. Maria José, dessa vez, aguarda que eu prepare o gravador para iniciar a conversa. Pergunto-lhe como ela gostaria de começar a contar novamente a sua vida. Ela reinicia sua narrativa: D. MARIA JOSÉ – Grave aí. Sempre fui assim. Do meu coração só quem sabe é de Deus, que foi ele que criou, mas eu nunca levei conversa pra casa. As minha conversa eu que resolvia. Um dia/... Dácio na gravadora, eu cantando e ele olhando. Aí quando eu terminei de cantar ele disse: “num vai se despedir não?” Eu digo: vou. “Cante aquela despedida bonita”. Eu fui e cantei diferente. “Aí ele disse: “quando essa beleza tem uma menina do olho comprida e outra redonda, num é de boa.” Eu disse: quem foi que lhe disse isso? “Eu num tava espiando pra seus olhos?!” Aí eu disse: eu num tava espiando pra olho de ninguém, pra ninguém vir espiar pra os meus. Aí ele disse: “quantos a senhora não matou, hein?!” ((risos)). Eu não matei ninguém não. O cara morreu foi porque quis. ((risos)). E se houver precisão, ainda faço de novo. Lílian – Ah, essa história! D.MARIA JOSÉ – Qual? Lílian – Essa, que a senhora matou alguém? D.MARIA JOSÉ – Porque saiu eu, minha irmã e uma prima minha, mais velha de que eu dez anos. A gente tinha uns dezoito anos, por aí assim. Aí nos fumo simbora pros mato. Ela ((a prima)) era dessas que passava a noite todinha na frente da casa mais o namorado. Aí quando a gente cheguemo, ela disse: “vambora”. A mãe disse: “num vai nem tomar café?” Ela disse: “eu vou comendo”. Aí botou uma besteira, saímo e fumo simbora. Quando cheguemo lá em cima, lá de trás do cemitério. O povo tinha ido tirar madeira. Lá tinha madeira bem boa: [?] e candeia, um pau que cai a folha e ele fica verde, assim de fora a fora. Aí, Didi na minha frente, eu atrás de Didi e Bune atrás de mim, comadre Maria Bune, uma irmã minha. Ela era mais alva de que eu. Lílian - Como era o nome dela? D.MARIA JOSÉ – Era Maria. Quando ela foi nascer mamãe ia botar o nome dela de Bruno, aí quando nasceu, ficou Maria. Mamãe chamava ela de Maria Bune. Lílian – Ah, sim! D.MARIA JOSÉ – Aí a gente saímo. Quando dei fé, comadre Bune diz: “Deixa Chico, me solta Chico.” Aí quando eu me virei pra trás/... Papai dizia que quando a gente fosse pros mato a gente levasse duas facas. Uma na mão e outra guardada. Eu só andava com o facão de papai e a minha faca com dois gume na cinta, que era pra mode as cobra de viado, num sabe? Porque quando ela sacode o bote, o que a pessoa leva na mão cai, e a pessoa tando com outra faca, até cum uma furada de agulha ela solta. Lílian - Sei. D.MARIA JOSÉ – E eu era sem vergonha, só andava prevenida. Aí quando dei fé, ela dizendo, me solta Chico, me solta Chico, que eu me virei, ele tava agarrado com ela, tinha botado no braço e ia dando a volta pra entrar nos mato. Quando ele ia dando a volta, eu tomei a frente dele, soltei o facão em cima da perna e agarrei nos dois músculos. Essas quatro unha era desse tamanho ((mostra a unha grande pontiaguda do polegar direito)). Agarrei nos dois músculo dele e apertei, quando eu arrochei ele soltou ele e no que ele soltou eu sacudi e ele caiu lá dentro do garrancho, ficou só com a sola dos pés de fora. Aí ficou me chamando pra eu tirar ele do garrancho. Eu disse: sai do garrancho sozinho, sem vergonha. Porque se ele saísse, eu já tava com o facão na mão. Aí ele levantou-se, arrastou a faca de doze polegadas e disse: “Agora eu vou botar o teu fato abaixo.” Aí eu disse: eu nunca vi um filho de uma puta botar o fato de uma filha de um homem abaixo. Ele disse: “então vai ver agora.” Veio pra cima e eu meti-lhe a faca. Levou um corte, ficou encarnado de sangue, foi tanto sangue! Aí ele levou um corte em cima do peito, chega abriu. Inda quis vir pra cima de mim, eu digo: vem. Veio e lascou-se. Diz que ele morreu lá pras banda de Goianinha, mas eu num tive nada com isso não. (SILÊNCIO) D. MARIA JOSÉ - Agora acabou-se a muié, às vezes eu digo: é isso mesmo, quem fui, quem sou, quem serei! Um dia eu vinha de Macaíba, ... ... já mãe de família, ... ... vinha de Macaíba, eu, Tereza, Nazaré e Antonio Pitoco. Antonio Pitoco correu, veio esperar por a gente, lá. De lá pra cá, Tereza não sabia que eu andava armada, aí eu vinha de lá pra cá, eu assim, por esse lado, ela pro Sul, Nazaré pro outro lado, conversando mais Antonio Pitoco, aí lá vem um cachorro preto, desse tamanho! ((mostra com a mão)) Aí Tereza disse: “dá caminho a esse cachorro, Maria José!” Eu digo: se ele não me der caminho eu mato! “Tu não tais vendo que sem uma arma, sem um pau, não mata esse cachorro, um cachorrão desse?” Mas eu ... a faca desse tamanho, ((indica um tamanho pequeno)) dessa largura, eu mandei fazer a preposto. Lílian – A mesma faca? D.MARIA JOSÉ – Era. Tinha dois gumo na faca, até que papai quando pegava a faca de bobeira, aí ele desmanchava os gumo em cima da pedra, quando ele saía, eu fazia os gumo novamente Aí quando cheguemo, na primeira bueira, lá vem o cachorro. Aí ela disse: “Dá caminho ao diabo desse cachorro, Maria José!” Não dou. Aí, quando cachorro foi chegando assim, perto da minha perna, eu aqui tirei a perna, puxei a faca, botei a faca no cachorro e levei o cachorro pra barreira. Aí disse: matei o cachorro ou não matei, Tereza? Aí eu digo: agora vou ver se ele morre, mesmo. A faca chega furou do outro lado da terra. Aí ela disse: “matasse o cachorro alheio! Mesmo assim, tu fazia com compadre Raimundo”? Eu digo: fazia com ele, o que faço com qualquer um, olhe pra pinta do meu olho, que uma é redonda e outra é comprida. Num nasci gente, não. Aí ela disse: “tu como sois safada!”. Aí digo: não diga de novo! Viemo simbora. Quando chegou das cajazeiras pra cá, eu achei um cabo de enxada descascado, peguei o cabo novo, vou botar nas costas, vou levar esse cabo pra botar na minha enxada, que é pra limpar os terreiros, aí ela disse: “e tu vai passar no meio da rua, com esse pau nas costas?” Eu digo: e o que é que tem? Só não quero passar com roubo. Aí Antonio Pitoco, conversando mais a gente, disse: “madrinha Tereza! Óia a vaca de Seu”... como é o nome do home?... ((tenta lembrar)) É um home que tem pra banda dacolá, que é rico que só, não sei o que ele... Aí ele: “vaca de Dr. Jales, a vaca, ela tanto dá como morde”, eu digo: De onde é que tu não apanha de uma vaca dessa? A vaca mesmo assim, e eu do lado da vaca, Pitoco pro Sul e ela pro Norte. Quando a gente cheguemo perto, a vaca soltou-se. Eu larguei o cabo da enxada em cima, o pau bateu e ela caiu se mijando. Quando Antonio Pitoco viu a vaca cair se mijando, fez carreira no meio do mundo, foi esperar por a gente do outro lado do rio. Ainda uma semana dessas, ele teve falando: “a senhora aprontou muita coisa!”. (SILÊNCIO) Mas agora? Agora até um passarinho mim bota no chão. Lílian – A senhora ainda usa, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Uso, eu botei ela lá dentro agora. ((chega Sebastiana filha de D. Maria)) Diva e Lílian – Oi Sebastiana, como vai? Sebastiana - Tô bem e vocês? Sebastiana – Bença mãe? Tá melhor? Lílian – Ela tava doente? Sebastiana- Essa noite foi até pro hospital! Lílian - Foi mesmo D. Maria? Sebastiana – Foi, ela quase que morria, chegamo tarde da noite. Inda viemo de pé, que num tinha carro e a ambulância num quis vir pra deixar? Lílian – Não, por quê? D.MARIA JOSÉ – Por que só tinha o direito de vir buscar, deixar não. Aí nós viemo bem devagarinho. Lílian – Por que a senhora não reclama isso? A senhora que tem acesso a esse povo, prefeito, secretário... tem que reclamar. D.MARIA JOSÉ – Esse povo liga nada. Lílian – Mas a senhora faz show, conhece eles. A senhora é importante D. Maria. D.MARIA JOSÉ – Importante! ((diz com ar de deboche)). (SILÊNCIO) Esse povo, só faz conta da gente pobre no tempo de política. Aí promete o céu com as estrela. Depois.... Só vem aqui quando é pra mode eu cantar. Aí me leva pra um lado, me leva pra outro. A pessoa num tenha fé em Deus não, pra ver! Agora o prefeito fez uma coisa de bom. Minha casa tava lá no oiteiro tava caindo e ele mandou levantar. ((Acaba o lado da fita. Enquanto mudo, D. Maria passa a falar de sua infância)) Diva – Dona Maria a senhora plantava pra vender? D.MARIA JOSÉ – Como é? Diva – Feijão, arroz... D.MARIA JOSÉ – Não. Diva – Ou era só pra comer? D.MARIA JOSÉ – Comer, papai não vendia, não. Ele vendia feijão, assim: a gente ia apanhar, ele trazia daqueles sacos de estopa, desse tamanho, vinha cheio com um cordão passado na boca. Diva – Sei. D.MARIA JOSÉ – Eu trazia na cabeça, no ombro, na cabeça, no ombro e a menina trazia no balaio, que era pra comer. Aí chegava em casa, ele amarrava os mói de feijão. Trazer da baixa de Massaranduba pra cá feijão pra vender, pra fazer dez mil réis, oito mil réis, doze. Lílian – Mas, a senhora ia vender ou as pessoas iam a sua casa comprar? D.MARIA JOSÉ – Eles iam comprar lá em casa. Aí mamãe... mamãe... que papai saía de duas horas da madrugada pra ir cortar madeira nos matos, ele cortava madeira. Lílian – Ele vendia também, madeira? D.MARIA JOSÉ – Não, ele tirava madeira, os outros pagavam pra ele tirar. Lílian – A senhora aprendeu a tirar madeira com ele, então? D.MARIA JOSÉ – Eu tirava madeira pra cerca. Lílian – Desde que idade, a senhora trabalhava com ele? D.MARIA JOSÉ – Eu andava mais papai desde, os sete anos de idade, eu trabalhei demais. Quando mim casei, fiquei no mesmo rojão, trabalhando. Lílian – Nunca deixou, Dona Maria, de trabalhar? D.MARIA JOSÉ – /... Eu podia ter ficado solteira até agora, num era mió? Lílian – A senhora acha? D. MARIA- (SILÊNCIO) Diva– E a sua mãe, como era o nome dela? D.MARIA JOSÉ – Mamãe chamava Maria. Lílian – Maria, de quê? D.MARIA JOSÉ – Maria Militana do Nascimento. Lílian – Maria Militana? D.MARIA JOSÉ – Não foi por isso, que minha madrinha botou meu nome de Militana? Lílian – Ah, sim! Lílian – Como era ela, lembra? D.MARIA JOSÉ – Mamãe? Mamãe era de sua cor. Meus irmãos... Quatro puxou o avô de mamãe e eu e os outros puxemo à família de papai. Lílian – Então, Maria Militana do Nascimento e a senhora é Miitana Salustino do Nascimento, só pegou o Salustino do seu pai? Não, seu pai era Nascimento também, não era? Como era o nome todo do seu pai. D.MARIA JOSÉ – Era Atanásio Salustino do Nascimento. Lílian – Não pegou o nome do marido, não, a senhora, então? D.MARIA JOSÉ – Não, eu era casada no padre, só no padre. Não era no civil não. (SILÊNCIO) Eu saí da casa de papai com dois vestidos, como eu já disse. Você perguntou de minha mãe, não foi? Lílian – Sim, o que ela fazia? D.MARIA JOSÉ – O trabalho dela era fazer renda. Lílian – Ah! Ela fazia renda? D.MARIA JOSÉ – Mamãe fazia renda, fazia bico, aí depois eu comecei a fazer cesta... Lílian – A senhora aprendeu a fazer cesta com ela? D.MARIA JOSÉ – Não, com papai! Lílian – Com seu pai? Ah, então, seu pai. Ele fazia cesta. D.MARIA JOSÉ – Papai trabalhava segunda e terça no roçado, quarta, quinta e sexta era nas cestas. Lílian – Aí, ele vendia na feira? D.MARIA JOSÉ – Aí, ele vendia em Natal. Lílian – A senhora gostava mais do seu pai ou da sua mãe? D.MARIA JOSÉ – Meu pai mais minha mãe, ainda hoje, tenho eles guardado no peito. Grave aí, ((aponta para o gravador)). D.MARIA JOSÉ – Em casa nós era nove, mais meu pai só, só chamava por mim. Lílian – Confiava na senhora! D.MARIA JOSÉ – Porque, só quem reconhecia o que era um pai e uma mãe, era eu. Quando ele adoeceu, passou um ano se queixando. Mamãe dizia assim: se Deus visse que era pra ela ficar viúva, tirasse primeiro ela e deixasse papai. Por que pra ela não agüentar borracheira de filho e nem carão de genro. Lílian – Sua mãe morreu primeiro? D.MARIA JOSÉ – Foi, morreu de repente. Lílian – Foi? D.MARIA JOSÉ – Não deu tempo nem se botar na rede, nem em cama, nem em nada. Ela sentou-se na rede, rezou ainda, rezou o credo. No dia que eu tomei banho frio de uma barriga de duas, que eu tive, uma morreu com sete dias e a outra morreu com .... foi com três meses. (SILÊNCIO)... D.MARIA JOSÉ – Aí ela acabou de tomar café, aí teve por ali conversando e eu fui pra casa. Que eu toda noite, eu ia tomar a bença, que, da minha porta da frente, eu via a porta de trás de lá, ficava pertinho. Não passaram lá não, no Oiteiro? Num tem aquela casa desse lado e aquela e aquela mangueira daquele lado? Lílian – Tem. D.MARIA JOSÉ – A casa dela era daquele lado, mas sendo mesmo naquele alto que tem. Lílian – Eu sei. D.MARIA JOSÉ – Aí eu disse: eu vou já na casa de minha mãe. Aí fui lá, cheguei, eu tava com quarenta dias de resguardo, aí quando cheguei, entrei. Quando eu saí na porta, no meu ver comadre Eva ia saindo com um pano amarrado na cabeça. Ôxente! Cumadre Eva com a cabeça amarrada? Aí eu cheguei, entrei, tomei a bença a ela, quando eu fui chegando que tomei a bença a ela, ela foi se levantando da rede pra ir botar o rosário no pescoço de Santa Terezinha, que ela tinha uma banca, como eu tenho aí. Lílian – Hum. D.MARIA JOSÉ – Aí quando ela foi botando o rosário, fastou de costa e disse: “ai, meu Deus, que dor eu tô na cabeça”, e caiu sentada, no que ela foi caindo, disse: “ai que dor”, que foi caindo, comadre Benidita, minha irmã foi chegando, pegou ela pela cintura, mas não agüentou o peso dela, que ela era dessa grossura, aí caiu sentada com ela. Não deu tempo de botar em canto nenhum. Aí papai chegou e disse: “É isso mesmo... tá se acabando, minha Maria”. Aí botou a vela na mão dela, só gastou o bico da vela, ia morrendo sem vela. Papai passou, passou, quando foi um ano.... ((para um pouco e tenta lembrar)) dois anos, com dois anos que ela morreu, ele morreu. Ele Caiu doente, aí eu ia pra lá, fazia as coisas pra ele, era ele só mais comadre Severina. Ela tem que trabalhar, ele doente, ela ia pros mato, trazia cipó, fazia as cestas, compadre Mané comprava. Aí no dia assim, que eu vi que ele tava pior, eu ia pra lá passava a noite todinha, No domingo eu fui pra lá, que eu ia todo dia, passava a noite, vinha pra casa fazia uma coisa e outra e ia pra lá. Quando foi no dia que ele morreu, aí eu tava sentada na cama dele, mesmo assim, eu botei a cadeira, mesmo assim encostada na cama e ele deitado, só de ciroula, as ciroula desse tempo era por aqui, se lembra? ((risos)) Ele só de ciroula, nu da cintura pra cima, deitado, aí eu digo: o senhor fique aí que eu vou trabaiar, mas volto. Comadre Severina dizia: “eu vou dormir um pedaço da noite”, e dormia a noite todinha. E eu passava a noite acordada. Aí ele disse: “isso é que é um calor minha filha!” Eu digo: o senhor quer tomar um banho? “Quem mim dera eu tomar um banho!” Tinha Gaspar, que era filho, que tinha deixado a mulher e tava dormindo lá e tinha o neto de Raimundo, Sérgio, e tinha o cunhado de papai e tinha Neto. Aí eu perguntei: o senhor quer tomar banho? “Quem mim dera eu tomar um banho!” Aí eu peguei uma bacia, desse tamanho, botei no meio da casa, na sala, amornei a água, quebrei bem a frieza da água, tirei ele, sentei numa banca e tirei a roupa dele sozinha, porque comadre Severina tinha ido pros mato. Aí tirei a roupa dele, dei banho nele, ensaboei a cabeça dele, aí ele ficou tão limpinho! Aí quando dei banho nele, enxuguei ele, e isso com as portas tudo fechada, aí enxuguei ele, vesti a roupa, botei ele na rede, ele ficou chorando. Eu digo: porque o senhor tá chorando, papai? “Porque tu sendo minha fia, eu com genro, com neto e tu sendo minha fia, tu é quem mim dá banho?” Aí eu disse: e eu não tinha marido. Não sei o que é que um home possui, não? Aí, deixei ele na rede, depois tirei ele da rede e botei na cama, que era uma caminha de sorteiro, porque ele passava um tempo na rede e ia pra cama, ver se estirava a coluna. (SILÊNCIO). Aí botei ele na cama e dasatei a rede e fui pra dentro, fazer um café. Quando eu tirei aqui, a chaleira do fogo, que olhei, ele tava assim, aí eu fiz carreira, deixei a vela e a caixa de fósforo no bolso, e cheguei onde ele tava: o que é papai? Ele disse: “tô indo embora minha fia, tome conta do terreno, não deixe gente de fora fazer casa, aí é pros fios e netos.” Eu digo: tudo bem, não tenha cuidado, não. Aí eu disse: Gaspar, ajeita aqui papai, que papai tá morrendo, ele disse: “vai buscar minhas chinelas no derradeiro quarto.” Que era dois quartos grandes, a sala e cozinha. Eu digo: tinha muita graça eu deixar papai nas últimas pra ir buscar teu chinelo, porque não trouxesse pra debaixo de tua rede? Fiquei sentada, aí botei a vela na mão dele. Eu disse: chegue, ajeite aqui papai! Ele disse: “ajeite.” Peguei aqui as pernas dele, torci os quartos pra ele ficar assim e ele estirou as pernas, peguei por aqui, trouxe ele, carreguei, aí ele disse: “cuidado pra não ir brigar com ninguém, pro mode não ir apanhar.” Eu digo: não tenha medo, não. “E outra coisa, cuidado que você é meia doida.” Eu digo: eu sei, mais no meio das doidices mim lembro do senhor. Ele até achou graça. Aí ali mesmo ele morreu. Ele morreu, eu disse: cumadre Severina, a hora é essa, aí ela no lugar de vir pra onde eu tava, fez carreira. Lílian – Severina, sua irmã? D.MARIA JOSÉ – Sim, fez carreira chamando as irmãs. Porque elas dizia: “eu não posso passar a noite, que José só dorme mais eu”, a outra dizia: “eu não posso passar a noite, que Mané só dorme se eu estiver em casa”, outra dizia a mesma coisa. Comadre Bune dizia: “eu não posso passar a noite mais tu, porque faço a bóia muito cedo da madrugada.” Eu digo: não precisa não, não precisa de nenhuma, garanto que morrer sem vela ele não morre. Aí peguei vesti a camisa dele puxei a camisa, subi a cueca, que tava lá embaixo, botei a vela na mão dele, ali mesmo, me deu conselho, me deu conselho e ali mesmo morreu, não fez careta, não fez nada. Eu vim chorar com três dias. Lílian – Foi mesmo, Dona Maria! D.MARIA JOSÉ – Com três dias, foi que eu sentada imaginando: é isso mesmo, papai tanto que lutou pra criar a gente e morreu sozinho na minha companhia, mas não tem nada não, aí comecei a imaginar, o que ele fazia, o que ele dizia e chorei. Mesmo assim foi mamãe. D.MARIA JOSÉ – No enterro de papai, faltou uma pessoa pra fazer 100 pessoas. Lílian – Foi mesmo? D.MARIA JOSÉ – Foi, mesmo assim foi o de mamãe, porque todo mundo gostava dele. Lílian – Seu pai era uma pessoa conhecida, não era Dona Maria, na cidade? D.MARIA JOSÉ – Era, agora/... (SILÊNCIO) Lílian – Como era o grupo que ele tinha? O grupo de fandango, ele tinha tempo pra isso tudinho, o que eu me admiro é isso, porque ele trabalhava muito, né? E aí ele brincava também. D.MARIA JOSÉ – Ele saía de casa duas horas da madrugada, três horas. Lílian – Era? Aí ia pra onde, pro roçado? D.MARIA JOSÉ – Ia tirar madeira, tirar madeira pra [?]. Agora, Minervino, no dia, com bem um ano pelo menos que papai morreu, aí foi no outro ano, porque papai morreu no mês de agosto. Já é quase no meio do ano, não é? Lílian – É. O mês de agosto é mais do que o meio do ano. D.MARIA JOSÉ – É, aí no outro ano Minervino foi ensaiar o fandango. Minervino ensaiou o fandango e no dia de apresentar, na véspera do Natal, ele saiu com a barca, aí cantou: ♫ a rua de São Gonçalo, nunca mais se alegrou, o velho mar e guerra Jesus Cristo já chamou. ♫ Quando ele disse assim, caiu, aí quando ele caiu, o povo trouxeram ele pra casa, aí ele melhorou e tudo. Lílian – Caiu por quê? Ele desmaiou, foi? Diva – De emoção. Se emocionou. D.MARIA JOSÉ – Foi. Aí, diz ele que quando tava cantando isso, que elevou a vista, papai tava lá no patamar da igreja. Ele era quem dizia, não sei, não. Aí Minervino morreu. Lílian – Qual era a função de seu pai no fandango? D. MARIA JOSÉ – Era mar e guerra. Lílian – Aí nunca mais a barca saiu? D. MARIA JOSÉ – Não, a barca seguiu, apanharam Minervino, troxeram pra dar remédio, e continuaram. Lílian – Saía todo ano, era no Natal, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Hum?! Lílian – Era no Natal que saíam? D. MARIA JOSÉ – Era. Ele passava seis meses ensaiando. Lílian – Começava no meio do ano? D. MARIA JOSÉ – Começava. Lílian – Eles ensaiavam onde, Dona Maria? A senhora ia ver? D. MARIA JOSÉ – Papai não deixava a gente sair daqui pra ali... Lílian – A senhora lembra quais eram os personagens? D. MARIA JOSÉ – É o mar e guerra, O piloto, o capitão, o mestre, o contramestre, o vassoura e o ração, o gajeiro, eee... o gajeiro...., agora não sei o nome do outro. D. MARIA- (SILÊNCIO) Lílian – A senhora sabe os cantos? D. MARIA JOSÉ – Hum!? Lílian – Os cantos da barca? São grandes os cantos da barca? D. MARIA JOSÉ – São grandes? Lílian – Os cantos? D. MARIA JOSÉ – Os cantos? Lílian – Os versos da barca? Diva – A senhora viu uma barca sair? D. MARIA JOSÉ – Vi. Diva – Era bonito, não era? D. MARIA JOSÉ – Era. Fazia a barca toda de pano, o piloto vai no leme. (SILÊNCIO...) Lílian – Qual era a hora do dia que ensaiava, seu pai? D. MARIA JOSÉ – Era nos sábado. Lílian – Ah! Nos sábados. D. MARIA JOSÉ – No sábado de noite ele ajuntava a turma e iam ensaiar o fandango. Lílian – Era gostoso, não era a brincadeira? D. MARIA JOSÉ – Eu não digo que era gostoso que eu não comi. ((risos)) Lílian – Era divertido, então, não era? D. MARIA JOSÉ – Era. (SILÊNCIO) Diva – A senhora não namorou, não, com aqueles marinheiro da barca? D. MARIA JOSÉ – Como era? Diva – Não namorou não, com aqueles marinheiros da barca? D. MARIA JOSÉ – Não. Lílian – Por quê? Seu pai não deixava, não? D. MARIA JOSÉ – Deixava nada, papai era, papai era osso! Lílian – A senhora teve a quem puxar, né? D. MARIA JOSÉ – Só que ele nunca brigou com ninguém. Lílian – E era? Diva – E essa fama de brigona da senhora, vem de onde? D. MARIA JOSÉ – Não sou briguenta, não. ((risos)) ((D. Maria Torna-se reticente e fica calada até que seu neto chega. Ela levantase, vai buscar algo para entregar-lhe, despede-se dele e volta para conversar conosco. Diva relembra o assunto da mãe de D. Maria)) Diva – Dona Maria e a sua mãe, ela fazia renda pra vender, ou ela só fazia costurar pros filhos? D. MARIA JOSÉ – Ela fazia pra vender. Aí depois começamo a fazer cesta pro INCRA, começamo a trabalhar pra cooperativa, aí a gente fazia balaio de caçote, fazia balaio, fazia cestinha, aí fazia depósito e fazia aquelas cobeias, fazia o fundo desse tamanho, arrematava botando assim, e arrematava as pernas pra sair pra dentro assim e daqui fazia o pé, quando tava nessa altura a gente botava pra cá, botava umas pernas, emendava as pernas, fazia a saia, ficava bonitinho. Era fruteira. Lílian – Mas, a senhora aprendeu a fazer renda, não? D. MARIA JOSÉ – Eu, no dia que mamãe foi me ensinar, aí começou a mim ensinar, aí eu [?]. Lílian – Ela tinha aquela, ela tinha aquela coisa: os bilros? D. MARIA JOSÉ – Era, a almofada. Diva – Aquela almofada, eu acho bonito, minha vó fazia. D. MARIA JOSÉ – Agora, um dia ela quis me açoitar, porque quando saiu aquele negócio: ♫ olé mulher rendeira, olé mulher renda, tu mim ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. ♫ Ela disse: “pêra aí sem vergonha!” Aí eu fiz carreira. Tanto negócio que o povo canta, agora que é véio. Lílian – Naquela época, né? D. MARIA JOSÉ – Hum. Agora você se sente ali, que eu vou fumar. Lílian – Tá certo, tá bom. ((houve uma interrupção na conversa pela chegada do genro de D. Maria, que ligou o som. Após alguns instantes, saímos da varanda e vamos para a frente da casa.)). Lílian – Dona Maria, conte aquela história do seu nome, como é que foi colocado o seu nome? D. MARIA JOSÉ – Colocado o meu nome? Lílian – Sim. D. MARIA JOSÉ – Aonde? ((risos)) Lílian – Que a senhora se chama Militana. D. MARIA JOSÉ – Militana ... ((por um instante D. Maria faz um silêncio. Depois suspira e muda o assunto)) Eu já tô véia, tenho dois filho, não quero eles em enrasque, tem meus genros não quero eles em enrasque. Lílian – Tem dois filhos, a senhora? D. MARIA JOSÉ – Hein?! Lílian – Tem dois filhos, a senhora disse? D. MARIA JOSÉ – Tem dois filho home, só é dois home, cinco mulher e dois filho home, morreu seis filho home e o resto foi tudo, mulher. Por Deus que morreu tudo. Foram dezoito filho. Sete eu criei, onze Deus criou. Só ficou essas cinco mulher e dois home, sete e eu nunca chorei por nem um. Quando via que tava morrendo, botava a vela na mão, vá meu filho morar com Deus. Quando morre um filho tem gente que fica reclamando, falando e agravando a Deus. Não sabe! Deus tira porque sabe que tá fazendo o bem. Lílian – Eles morreram pequenininhos, os seus filhos? D. MARIA JOSÉ – Foi. Um morreu com três meses, um quatro ou com seis meses, outro com um ano e assim morreu tudinho. ((UM GRANDE SILÊNCIO...)) Diva – A senhora nasceu onde, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Hein!? Diva – Onde a senhora nasceu? D. MARIA JOSÉ – Nasci em Barreiro. Quer bem que eu diga, pra você gravar aí. ((aponta para o gravador)) Diva – É, eu quero que a senhora diga, eu acho tão bonito! D. MARIA JOSÉ – O dia do meu aniversário? Diva – Sim, quando a senhora faz aquela despedida, aquele verso, eu acho tão bonito! D. MARIA JOSÉ – Nasci em Barreiro, aí quando eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu fui sair, aí eu disse: ♫ Lá Barreiro, aonde eu nasci, em São Gonçalo aonde eu me criei, eu vou embora pra meu Sítio Oiteiro, adeus Rio de Janeiro, adeus. ♫ Aí tornei a dizer e era tanto menino, que fazia medo, sentado no meio da estrada, aí eu cantei e esses menino era uma gritaiada, pulando, era aquela fofoca medonha, aí chegou uma mocinha franzina, com o cabelo que passava da bochecha da bunda, aí disse: “a senhora é que é Dona Militana?” Eu digo: é. Aí ela disse: “com vida [?] e saúde da senhora é a derradeira viagem que a senhora faz, é pro Rio de Janeiro, não é o povo de fora que vão fazer, se queixe do seu sonho.” E é a última viagem que eu fiz, seu sonho é quem vai fazer, com ciúme, com inveja/... Diva – No aeroporto do Rio de janeiro? D. MARIA JOSÉ – Foi. Diva – E a senhora conhece essa moça? D. MARIA JOSÉ – O quê? Diva – A senhora conhecia essa moça, que fez essa previsão? D. MARIA JOSÉ – Conhecia nada, conhecia não, ela tava era rodeando onde eu tava, ((chega Zé Luís, o filho mais velho de D. Maria)). Olhe aí, um dos meus filhos! Lílian – Seu filho? Ah! Lembro dele, ele sempre ia lá no Oiteiro não? Como vai? Zé Luís - Bem. Mamãe gosta de conversar, não é? Lílian - Eu gosto de conversar com ela também. D. MARIA JOSÉ – Ele e Marina puxaram a cor do pai e os outros puxaram a mim que sou morena. Lílian – O marido da senhora era mais claro, era? D. MARIA JOSÉ – Era. Ele era mais claro do que eu, agora tinha a fala atravessada. Ele falava assim, ((fala enrolando a língua)) e os óios da cor do fogo. ele era assim, viu [?] D. MARIA JOSÉ – Deus te abençoe! ((Dona Maria faz sinal abençoando seu neto)) Lílian – Tá falando! D. MARIA JOSÉ – É? Lílian – Como vai, vai bem? ((falando com o neto que chegou)) Zé Luis – Tá bom! D. MARIA JOSÉ – Esse quando o pai morreu, ficou com quatorze anos. Quatorze anos aí foi trabaiá em vacaria, pra mode ajudar a criar os outros. Lílian – Seu filho mais velho? D. MARIA JOSÉ – O mais velho. Diva – Dona Maria, a senhora nasceu em Barreiro e foi morar no Oiteiro, com quantos anos? D. MARIA JOSÉ – Eu nasci em barreiro, porque a sogra de mamãe, que era a minha avó, era quando eu nasci no dia 19 de março, dia de São José, por isso que eu digo ((recitando)): a maré tava de vazante e a lua tava de minguante. A lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte e eu sou a mais sofredora do Rio Grande do Norte. Aí disseram - foi lá no Rio de janeiro – eles disseram: “e porque a senhora diz que foi a mais sofredora?” Eu disse: porque quando eu nasci, não havia roupa pra vestir, não havia pano pra me enxugar, não havia, não havia comer pra comer, eu me criei com papa de farinha bruta, mamãe pisava a farinha, peneirava numa meia e fazia comer pra mim, não fui criada com leite, nem com carne, nunca comi... Nunca comprou um dedal de leite pra mim. Sempre fui sem sorte, quando inventei de me casar, saí de casa com dois vestidos e uma rede emendada e um lençol emendado, tá vendo? Agora, hoje em dia eu tenho com que dormir, tenho a roupa pra sair, tenho pra vestir em casa. Posso até emprestar uma roupa a um que não tiver/... Lílian – O Oiteiro era sítio de quem? D. MARIA JOSÉ – O Sítio Oiteiro? Lílian – Sim, era de sua avó? D. MARIA JOSÉ – Era de papai. Lílian – Do seu pai? Mas foi ele que comprou, ou ele recebeu herança do avô? D. MARIA JOSÉ – O pai de papai comprou aquele terreno Lílian – Sim. D. MARIA JOSÉ – Na época que ele comprou, comprou por sessenta mil reis, nesse tempo era “mi reis” e uma besta amojada. Lílian – O que é amojada, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Não sabe, não? Lílian – Sei não. D. MARIA JOSÉ – Não sabe também, não? Lílian – Ela sabe que ela é daqui. D. MARIA JOSÉ – Eu não sou daqui, nem vim pra ficar. E a minha vó, por parte de pai: “não é pra comprar nada, que menino quando nasce, enrola com mulambo véio.” E papai fazia os gosto a ela, que era só um fio que tinha, era ele. Porque ela... ... morreu o marido dela, morreu, às vezes os meninos diz: “tu só puxasse o avô da gente, tu tais vendo a [?], pra tu não tem medo, tem não." Lílian – Sua avó era dura, então né? D. MARIA JOSÉ – Minha avó? Lílian – Sim, essa que disse isso com a senhora, a mãe de seu pai? D. MARIA JOSÉ – É, porque ela criou mais raiva de mim porque depois de eu grande/... Lílian – A senhora conheceu ela? D. MARIA JOSÉ – Conheci. Papai, todo sábado, ele fazia a feira e mandava eu deixar o quinhão dela. Ele era quem dava de comer a ela. Aí, eu ia, chegava, Nanina, era Firmina o nome dela, e a gente chamava Nanina. Eu dizia: Nanina? “O quê?” Tá aqui, que papai mandou. Ela dizia: “deixe aí”, a gente deixava em cima do fogão e fincava pra casa. Quando foi um dia, morreu uma gata dela [?]. Aí papai: “Maria José?” eu disse: “inhô”. Ele disse: “vá levar aquela gata de mamãe e vá interrar lá em cima.” Eu digo: sim senhor. Aí cheguei, chamei Maria Neuma, que era fia de uma tia minha, era minha prima comadre Maria Bune [?], uma pegou numa perna a outra pegou noutra, uma pegou numa mão e outra pegou noutra, aí saímo cantando: ♫ Bichana morreu de véia, bichana de minha mina, bichana morreu de fome bichana de minha mina. ♫ A véia ficou com ódio de mim e fumo cantando, e a gata morreu de fome, a gata morreu de maga e fumo deixar a gata lá em cima. Aí, ela disse: “Atanásio?” “Senhora?” “Maria José foi enterrar a gata e ia cantando assim, assim, assim”. Aí papai: “Ô mamãe, e ofende?” Ela: “não, ia dizendo era porque ia botar a gente no mato. Era, mais era fazendo pouco de mim”. Aí pronto. Lílian – Como era o nome de seu avô? D. MARIA JOSÉ – Meu avô era Joaquim. Lílian – A senhora nunca falou dele. A senhora conheceu seu avô? D. MARIA JOSÉ – Não conhecia. Não cheguei a conhecer ele não. Lílian – E por parte de mãe? D. MARIA JOSÉ – Por parte de mãe, eu conhecia, era um velho encharruscado. Lílian – Como era o nome dele? D. MARIA JOSÉ – De quem? Do pai de mamãe? Lílian – Sim, era. D. MARIA JOSÉ – Era Alfredo. Lílian – E sua avó? D. MARIA JOSÉ – Minha avó era Joana. Lílian – A senhora gostava deles, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Eu gostava, ele era tão mal encarado, que quando a gente tava brincando debaixo da mangueira, que via, ele corria pra dentro de casa e deitava debaixo da cama, puxava o lençol da cama pra ficar arrastando no chão. Lílian – Morava todo mundo assim no Oiteiro, seus tios também, D. MARIA JOSÉ – Meu avô morava em Barreiro. Lílian – Ah! O seu avô é que morava lá! D. MARIA JOSÉ – Mamãe quando foi descansar de mim, foi lá pro Barreiro, pra casa dele. Lílian – Pra casa do pai dele, no caso? D. MARIA JOSÉ – Sim, na casa do vô Joaquim. Lílian – Aí depois, ela voltou [?], mas sua avó, essa que não gostava da senhora, e morava no Oiteiro? D. MARIA JOSÉ – Era, era, morava no Oiteiro. O Oiteiro não era dela? Lílian – Era isso. D. MARIA JOSÉ – Às vezes, eu fazia [?]. Um dia nós fumo buscar o leite de Gaspar, eu tava com doze anos. Aí papai disse/... Lílian – Quem é Gaspar? D. MARIA JOSÉ – É irmão meu, ele morreu, já vai fazer três anos. Lílian – Quantos irmãos a senhora tinha? D. MARIA JOSÉ – Nós era nove. Morreu uma que ia interar vinte anos, é agosto, setembro, outubro, né? Lílian – Hum! D. MARIA JOSÉ – Ela ia interar ano no mês de outubro e morreu no mês de agosto. Lílian – Ela morreu de quê? D. MARIA JOSÉ – Ela começou com uma dor nas pernas, uma dor de cabeça, um cansaço nas pernas, uma dor de cabeça e aí foi. Se tivesse levado ela pro hospital, ela não tinha morrido. Lílian – Pro hospital, sim! D. MARIA JOSÉ – Quando Gaspar nasceu, eu tava com doze anos. Lílian – Então é a senhora primeiro, aí depois vem quem? D. MARIA JOSÉ – Era eu e comadre Maria Bune e comadre Raimunda. Lílian – Ah, tá! Maria Bune, a senhora fala muito dela nas suas aventuras. D. MARIA JOSÉ – Ela puxou a cor de mamãe, era da cor dessa menina com o cabelo preto. Lílian – Então é a senhora, Maria Bune, e qual é a outra que a senhora disse? D. MARIA JOSÉ – É comadre Bune, Raimunda, Gonçala, Dores, Eva, Severina e Gaspar. Lílian – Ah! Então, Gaspar é o caçula. D. MARIA JOSÉ – É! Lílian – Só teve um homem! D. MARIA JOSÉ – Só teve um fio home. D. MARIA JOSÉ – Eu trabaiava no sol quente. Papai botava um roçado na baixa de Massaranduba e quem colhia esse roçado, era eu, plantava de tudo, do feijão.... Ele ia com a enxada e eu ia ajudar ele, ele levava comer pra botar no fogo, quando ele tirava uma carreira, eu já ia mais na frente. Lílian – A senhora trabalhava no roçado. O que é que vocês plantavam, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Plantava roça, milho, feijão, jerimum. Plantava de tudo. Lílian – E roça, é o quê? Diva – É macaxeira? Lílian – A macaxeira, e plantava pra quê? Pra vocês comerem mesmo, ou pra vender na feira? D. MARIA JOSÉ – Nunca vendeu mandioca, nunca vendeu mandioca! Lílian – Foi? Diva – E fazia o quê, com a mandioca que a senhora plantava? D. MARIA JOSÉ – Fazia farinha. Lílian – Fazia farinha? Ele tinha casa de farinha? D. MARIA JOSÉ – Não. Arrendava a casa de farinha, era sete cuia de farinha pra pagar. D. MARIA JOSÉ – Um dia, ele alugou seis carga de mandioca, ele disse: “eu faço, seis carga de mandioca eu faço, mais Maria José.” Aí, Ciço dizia: “compadre Atanásio quer acabar com Maria José, porque uma menina tão boa. Porque vai arrancar mandioca, leva ela pra ajuntar mandioca, é arrancando e ela ajuntando, quando é de tarde, leva pra casa de farinha.” Ele dizia: “quem não tem cachorro, caça com gato. Eu não tenho fio home pra me ajudar, quem pode me ajudar é ela.” Aí no dia que ia colher a mandioca, o moedor mandou dizer que tinha adoecido, comeu feijão preto com coco e deu uma dor no estômago dele e ele tava se vendo. Aí papai disse: “agora sim, eu não posso arrumar outro moedor.” Mandou atrás de Miguel Mulato, só que Miguel Mulato tinha ido pros mato. Ele ficou, aí eu disse: vambora moer papai. “Tu tais doida Maria José, tu não tais vendo que tu não mói, que tu não pode moer mandioca?” Eu digo: vamo moer a mandioca? Lílian – Por quê? É na mão, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Nesse tempo era, agora não é mais não. Lílian – Agora é na máquina, não é? D. MARIA JOSÉ – Ele disse: “apois vamo teimosa.” Ele botou o rodete na roda, eu digo: aboie papai, papai abóie, papai. Ele disse: “puxe na frente”, aí eu cantei: ♫ O veio da roda é meu e a mandioca é de seu dono, cevadeira de minha alma, deixa-me dormir um sono ♫. Aí ele começava: “essa menina não é gente, não.” Aí começou a aboiar. Aí eu disse: ♫ marcha, marcha meu cavalo, nessa marcha miudinha, que é pra ver se chegamos cedo, na casa da mulatinha ♫. Papai disse: “quem te ensinou este aboio, Maria José?” Aí eu disse: não mandasse eu aboiar? Um aboio mais outro aboio e assim foi as seis carga de mandioca. Quando foi de madrugada, ele mim chamou: “Maria José, vambora pra casa de farinha”, foi ele, eu e comadre Bune. Ele disse: “Maria José, vai peneirar a massa mais Maria Bune.” Ele tirou a prensa de massa, aí eu mais comadre Bune, comecemos a peneirar, ele botou na primeira gamela, que ele botou caiu no pé fogo aí eu ia deixar queimar? Meti a munheca pra cima. Lílian – Ele aboiava junto? D. MARIA JOSÉ – Papai? Lílian – Tipo assim, ele perguntava e a senhora respondia? Um cantava, outro cantava e respondia o aboio. Lílian – E a senhora aprendeu, aonde? D. MARIA JOSÉ – Han ?! Lílian – E a senhora, aprendeu aonde esse aboios? D. MARIA JOSÉ – Em canto nenhum. Lílian – Ah! Quer dizer que a senhora criou o aboio? D. MARIA JOSÉ – Eu não ia moer? Aí papai chegou e disse: “Essa Maria José não tem jeito, não!” D. MARIA JOSÉ – Assim quando era de noite, noite de lua a gente se soltava no terreiro, era eu e comadre Maria Bune, minha irmã, comadre Raimunda e Santina, Maria de comadre Adélia, comadre Eva. A gente brincava de boi, a gente brincava de tudo no mundo, mas quando foi um dia, eu disse pra comadre Bune: eu vou entrar. Eu entro pra dentro do saco e vocês amarram o saco. Aí, peguemo a brincar, fazendo o boi, o bicho correndo atrás das meninas, no fim os bichos empurraram o saco, o saco desceu bolando de cabeça abaixo e eu mim assombrei dentro. Foi tanto do grito que chegou no terreiro de Zé, e o irmão de papai e disse: “que diabo é isso?” Lílian – Saiu, a senhora de dentro do saco? D. MARIA JOSÉ – Eu saí de dentro do saco. Aí um dia, lá na frente da casa de Tia Cantu, tinha um barreirão que cavaram o barro pra aquelas casas, quase todas, aquelas que era de taipa. Aí era um inverno pesado, o barreiro tava cheio, chega tava por fora, a barreira do lado de cá, era dessa altura assim ou mais alta, pra lá era mais baixo. Aí compadre Luiz meu primo, era meu primo e padrinho de Benidita. Aí, nessa época, ele era rapaz sorteiro, tava sentado mesmo assim, no tronco do coqueiro, com as mãos assim. Aí Tia Cantu disse: “Mas Luiz, essa menina tem tanta força, essa criatura mói mandioca, vai pro mato, tira madeira. Com ela aquele terreno, nunca foi abaixo.” E era mesmo. Quando começava a sortar os varão, as estaca ficava podre, ia pro mato mais Tia Cantu, tirava um monte de estaca, tirava as estacas, tirava varão, cavava um buraco e fazia a cerca. Hoje em dia tudo tá abaixo, tanto do lado de cá como o do lado de lá. Mas, eu sei quantas braças tem de largura, são vinte e cinco braças de largura. ((fim da fita)) 3.2.7. Transcrição 5 Transcrição da entrevista realizada em 05 de maio de 2005, na Casa de Benidita, Loteamento Alto de Canaã, São Gonçalo do Amarante. Cheguei com Diva ao Oiteiro por volta das 14 h. Tínhamos combinado a visita anteriormente. Segundo Benidita, a filha que mora com D. Maria José, ela estava nos aguardando ansiosamente. Já havia perguntado várias vezes se nós viríamos mesmo. Nesse dia, encontramos D. Maria José muito pensativa, sentada no quintal, em baixo das mangueiras. Estava preocupada, não se sentindo muito bem por causa de uma crise de pressão alta. Percebemos que ela não estava bem e demonstramos grande apreensão. Benidita nos falou da preocupação com a saúde da mãe e com a angústia de não ter condições de tratá-la, devido às dificuldades de transporte, assistência... Ofereci-me para levá-la ao médico e tentamos, com a ajuda de Benidita, convencer D. Maria José. Ela resiste. Convida-nos a sentar e conversar, alegando que a conversa sempre ajuda a melhorar, pois a faz esquecer da solidão e dos problemas. Concordamos, com a condição de que ela tome o remédio e nos informe de qualquer piora. D. Maria José aceita e Benidita nos serve um café. Em alguns minutos, ela está conversando conosco com bastante entusiasmo. Começa falando da doença, das angústias, mas depois, descontrai-se e sua memória transporta a todas nós para o tempo de suas aventuras de criança... Preparamos o gravador e... D. MARIA JOSÉ – Um dia eu tava cavando buraco para fincar as estacas, era um dia de sábado, aí Seu Assis do tinha um novilho raciado. As orelhas... era aquelas lapa de orelhas. Aí Tia Cantu tava assim na frente, aí disse: “morreste Maria José!” Eu enterrei dos pés, com um ferro de cova desse comprimento do cabo, eu enterrei dos pés, dei uma cipoada nesse bicho, o pau bateu ele caiu, mijou-se foi todo. Tia Cantu: Mataste o boi de compadre Assis! Papai chegou da feira e o boi no chão. Aí ela disse: “Atanásio?” Ele disse: “Oi?” “Olhe aqui, Maria José matou o boi de compadre Assis.” Aí Papai. Disse: “é o que é que hei de fazer? Se ela matou, tá morto. Porque ele tem gado e pode comprar outro touro, e ela eu não tenho outra filha dessa não. Essa aí é meus pé e minhas mãos.” Eu era pra tudo no mundo. Lílian – Então a senhora era companheira de seu pai? D. MARIA JOSÉ – Era eu a companheira dele, era eu. Se levantava de duas horas das madrugada. “Maria José!” Inhô? “Vambora”, e eu ia. Lílian – E a senhora gostava da companhia dele? D. MARIA JOSÉ – Gostava. Ai! Queria bem a meu pai. Eu queria dizer para você que ele morreu só na minha companhia. Lílian – E a senhora conversava muito com ele, além de cantar juntos? D. MARIA JOSÉ – Ele não conversava, ele não conversava porque ele só trabalhava cantando. Ele cantando e eu botando tudo nos ouvidos. Lílian – Ele cantava com a senhora, ele cantava e a senhora cantava também? D. MARIA JOSÉ – Não. Ele cantava só. Lílian – E a senhora não cantava com ele, não? D. MARIA JOSÉ – Não. Lílian – Por que, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Hum? D. MARIA JOSÉ – Era só aprendendo. Lílian – É. Mas, na casa de farinha a senhora não aboiava com ele? D. MARIA JOSÉ – Aboiava, na casa de farinha, eu aboiava. D. MARIA JOSÉ - Eu comecei a aboiar foi só. Porque ele não mandou eu aboiar? Porque ele pensava que eu não aboiava. Lílian – Ele pensava que a senhora não sabia, porque a senhora ficava só ouvindo. D. MARIA JOSÉ – Aí ele: “Abóia, Maria José!” ... Eu digo: Eu não sei! Ele disse: O que foi que tu aprendeu? Eu disse: nada, (SILÊNCIO) eu não estou na metade do corpo que eu era. Cansei de papai/... chegava com a carga de mandioca, tirava o capuz de cima, aí ele pegava um caçuá. “Maria José segura o caçuá”, Quando ele tirava o dele, que era por cima do outro, eu tirava o outro. Quando ele despejava o dele, eu despejava o meu. Agora, foi-se embora tudo! Lílian – Mas, agora a senhora não precisa mais fazer isso! D. MARIA JOSÉ – É eu não posso mais! D. MARIA JOSÉ – Titia Petronila, minha tia por parte de pai ((a mais velha)) adoeceu, não tinha quem fizesse nada pra ela, não tinha família, uma filha que teve, morreu com sete anos. O marido morreu. E ela ficou. Eu é quem fazia tudo pra ela. E era só três irmãs mulher e mais papai. Lílian – Hum! D. MARIA JOSÉ – Bem! A irmã que comia na casa dela não, pisou lá. Aí eu fui buscar água. Cheguei, eu digo, mamãe foi pra lá, eu fui mais mamãe. Mamãe disse: encha os potes que eu vou aqui na casa de comadre Petronila, eu digo a senhora, eu encho quando a senhora voltar. Olhe, a morte de titia foi assim: ela tinha um pé de coqueiro desses cocos vermelhos. Só um. Aí o bicho só botou um cacho. Lílian – Sei! D. MARIA JOSÉ – Aí botou só um cacho de coco, com oito cocos, aí ela disse: “Bonifácio, tire aí esses cocos, que eu vou fazer uns beijus de mandioca mole.” Aí Bonifácio tirou os cocos, descascou um, quando abriu, a carne do coco era rã que chega tava entupido, aí chamou ela, ela veio disse: “vije! Quem diacho foi que já viu a rã entrar nos cocos sem ter canto pra entrar.” Aí foi ele abriu outro e assim foi todos os oitos entupidos de rã. Lílian – Nossa! D. MARIA JOSÉ – Porque ela trabalhava de chapéu, e um dia eu vi ela cortando os pés da mangueira com uma chibanca. Eu digo: vige! Aí ela tinha enterrado uma latinha com dinheiro no pé dessa planta. Aí ela disse: “quer saber? Vou já desenterrar aquele dinheiro pra mandar comprar uma rede. Minha rede ainda tá boa, mas eu vou comprar outra.” Aí ela cavou o dia todinho e não achou essa lata. Por que quem enterra dinheiro, depois de passar sete semanas, o dono vai cavar e não acha mais. Agora se aquela pessoa que enterrou der a outro, aí a pessoa ((que recebeu)) vai diretinho e encontra o dinheiro, mas a que enterrou não acha não. Porque depois que enterrou, quem toma de conta é o rabuge. Lílian – O rabuge? D. MARIA JOSÉ - O cão! Lílian – Ah, sim! D. MARIA JOSÉ – Sim! Aí ela pirou do juízo. Lílian – Foi mesmo! D. MARIA JOSÉ – Ela chegava na casa de mamãe, aí papai dizia: “Maria, quando tu for botar o almoço, bote para comadre Petronila, que parece que ela não vai botar a panela no fogo.” Aí a mamãe mandava chamar ela botava o prato pra ela, botava o pedaço de carne, ela tirava e enfiava na brecha da parede, os pedaços de carne. Aí mamãe dizia: “Atanásio, comadre Petronila num tá boa do juízo!” Lílian – Nossa! D. MARIA JOSÉ – Quando pensou-se que não, ela arriou. Ninguém sabe de quê. Eu já era casada quando tomava conta dela. Lílian – Sei. D. MARIA JOSÉ – E eu era quem cuidava dela, tirava ela a muque, botava em cima de um caixão, caixão de gás, que carregava lata de gás não era grande assim. Lílian – Sei. D. MARIA JOSÉ – Mamãe dizia: “vai buscar água Maria José.” E eu ia. Ela já tava velhinha, num é? Aí eu botava água pra ela, eu enchia a casa d’água, e depois ia botar água pra ela, barria o terreiro dela. E quando ela não pode mais, arriou. Aí eu botava o caixão, vivia permanente dentro do quarto. Eu botava ela no caixão, quando acabar, dava um banho nela, enxugava, penteava os cabelos dela, prendia e botava ela na rede. Aí ela dizia: “Quem paga o que tais fazendo comigo, é Deus.” Ela uma vez disse: “compadre Atanásio, a parte da terra que toca pra mim é de Maria José, porque a filha que eu tenho é Maria José.” Que eu ainda não tinha andado pelo meio do mundo, então ninguém sabia do meu nome. Era Maria José. Lílian - Seu nome de artista, né? ((risos)) D. MARIA JOSÉ - Depois dos diacho dos meus documentos, o povo chega: D. Militana, D. Militana. Eu espio pra parede ta lá D. Militana ((refere-se a uma das placas que foram feitas pela prefeitura de São Gonçalo em sua homenagem e que está exposta na parede de sua casa)), eu fico putinha de raiva. Aí Dácio sabe que eu tenho raiva, aí qualquer coisinha ele diz: ”D. Militana, D. Militana....” ((risos)). D. MARIA JOSÉ - Sim! A derradeira coisa que eu fiz... eu digo, ela usava duas redes, tinha uma rede guardada, bem alvinha, eu armei na sala. Titia, a senhora não quer tomar um ventinho lá fora? Ela disse: “Quero minha filha.” Aí eu armei a rede, levei ela no braço e botei dentro da rede, aí fui buscar água, a derradeira, no derradeiro pote da água, a cacimba, era trinta metros de fundura. Aí no derradeiro, pote da água, eu deixei o pote para encher quando eu voltar, e fui, quando cheguei ela tava deitada de banda pelas direita, toda encuída dentro da rede, aí eu olhei assim e disse: mamãe me dê essa vela aí que titia está morrendo, Ela disse: “tá não que indagora ela chamou Atanásio”, eu digo: mas, ela tá morrendo. E papai tava em Jundiaí tirando madeira, na hora que ele foi assar a carne, ela se apresentou na frente dele. Aí ele disse: ”Gonçalo, eu não vou mais fazer a bóia não! Eu vou já mimbora comadre Tutu morreu, comadre Petronila morreu”, chamavam ela de Tutu. D. MARIA JOSÉ – Ela era a irmã mais velha. Aí quando eu tirei ela de dentro da rede, que a pessoa tirar um defunto sem fazer jeito de nada, a pessoa tirar a muque de dentro da rede, a pessoa é preciso ter força, né? Lílian – É muita força, com certeza. D. MARIA JOSÉ – Aí, ela, eu botei a vela na mão dela, e ela morreu chamando ele, eles eram assim, eles dois. O marido dela morreu e quem dava o sustento era papai. Aí mamãe sentada em riba da mesa, “deixa de tua loucura Maria José, comadre Petronila chamando Atanásio e tu diz que ela está morrendo!” Eu digo: Ela tá morrendo. Aí ela disse: “minha filha, eu vou simbora, não tenha medo de mim não, que eu não lhe faço medo.” Aí eu fui acendi a vela, botei na mão dela. Aí ali mesmo ela morreu. Eu digo: mamãe quando eu tirar ela pra botar no chão... ela têm duas tábuas largas, forrei, fiz travesseiro de outra rede, aí, quando acabar, eu digo: mamãe quando eu pegar ela, que suspender, a senhora puxe a rede para baixo, pra ela não enganchar os pés. Mesmo assim eu fiz, enfiei as mãos por aqui, por aqui, tirei ela e botei, aí cobri ela, aí Arnaldo, o sobrinho dela chegou e disse: “isso é que é uma misera, Titia tem Tio Antonio, se bem que tem meu Tio, eu não digo que não tá aqui, e Maria José tirou Titia da rede sozinha. Maria José tem muita força.” Eu digo: Tenho muita força não! Aí ele: “Se tu tem tanta força que sacudiste o home dentro do barreiro d’água.” Lílian – Mas e os outros tios? D. MARIA JOSÉ – Minha mão está fedendo a sarro. ((refere-se ao fumo do cachimbo)) Lílian – Hein! Dona Maria José e as outras tias? D. MARIA JOSÉ – Minhas outras tias? Lílian – As irmãs de seu pai? D. MARIA JOSÉ – A outra irmã de papai? Lílian – Tinha filhos, a outra irmã de seu pai? D. MARIA JOSÉ – A outra irmã de papai? Tinha Bonifácio. Lílian – Todos eles moravam lá no Oiteiro também? D. MARIA JOSÉ – Era todos eles moravam lá no Oiteiro. Tia Cantu quando morreu eu não fui lá não, não fui porque o povo dela - genro, neto... tudo era crente. Os crentes foram quem tomaram conta, aí eu não fui lá. Lílian – Ah! Sim! D. MARIA JOSÉ – Porque eles usavam uma reza e a gente usava outra. Lílian – São diferentes? D. MARIA JOSÉ – É, aí eu não fui. Lílian – Depois que a senhora enterrou muita gente, não foi? Assim cuidou pessoas que estavam/... D. MARIA JOSÉ – Esse povo mais velho do Oiteiro tudinho fui eu. Lílian – De quem tava morrendo, a senhora ia lá, botava a vela... D. MARIA JOSÉ – A mãe de mamãe era dos Barreiros. Pai fez farinha, mamãe encheu uma cesta assim, botou um bolo de massa, botou uma tapioca feita debaixo forno, dobrou e botou na cesta, botou uma porção de negócio dentro da cesta, um saco com três quilos de farinha. Comadre Bune levava o saco e eu levava a cesta. Quando eu estava cansada do saco, eu levava a cesta e ela levava o saco. No derradeiro dia que a gente tinha, quando cheguemos lá na Rua de Santo Antonio, debaixo daquela mangueira que tem, ia eu e comadre Adélia na frente e ela e Maria Torre atrás. Os cabelos dela era por aqui debaixo da pá. Aí ela disse, só para fazer pouco da gente. “O tenente tá debruçado na janela”, que a casa dele ficava mesmo em frente à mangueira. Aí ela disse: “Óia Mariinha! a gente como somos as patroa, vamo atrás e as outra, as empregada, vão na frente, tudo carregada! Ói a cabeça delas duas.” Aí eu parei! O que é que eu ia fazer? Fiquei em pé, quando ela chegou perto dei-lhe uma tapa bem pequena, ela caiu porque é mole. ((Todas riem da história)). D. MARIA JOSÉ – Fastei a munheca, ela caiu com o vestido que ela usava, um vestido de seda, que ela só trabalhava pra ela, ela não dava um tostão em casa. Lílian – Nossa! D. MARIA JOSÉ – E eu? O meu já sabia, eu ia pra feira, sabia que papai ia pra feira, mamãe gostava muito de toucinho dentro do feijão, aí eu ia pra feira. Eu trazia, comprava toucinho, comprava peixe, comprava o que eu podia comprar e trazia um bolo pra mamãe, que mamãe apreciava muito bolo de padaria, todo sábado eu trazia. Aí comadre Bune quebrava na seda e eu, não. Eu tava dizendo... Parece que eu já disse isso a você, não disse? Lílian – Isso o quê? D. MARIA JOSÉ – Rita telefonou pra mim, perguntou o dia do meu nascimento, o ano que eu nasci, perguntou que idade eu tinha. Eu disse: Eu digo o tempo que eu nasci e você faça as contas. Lílian – Então diga aí pra gente fazer as contas? D. MARIA JOSÉ – Eu digo assim: na era de vinte e cinco a dezenove de março às doze horas do dia, foi aí meu nascimento, a lua tava de minguante, a maré tava de vazante, aí ela disse, o que foi que teve a lua? Eu digo a lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte. Eu digo, está falando a maior sofredora do Rio Grande do Norte. Aí ela disse: “agora eu me lasquei”, e eu digo: não já nasceu lascada? E isso era falando no telefone do seu Rivaldo, e seu Rivaldo ((Seu Rivaldo é o motorista de Candinha Bezerra, que se responsabilizava por levar e trazer D. Maria José das apresentações)) só faltava morrer de rir. Ela disse: “quantos filhos a senhora tem?” Eu digo: agora eu não digo não. Eu não digo não, porque se eu disser você não vai achar bom. Aí ela disse: diga! Eu dizendo e seu Rivaldo disse: “a senhora não é bem gente não, não é Dona Maria?” Eu digo: de gente só tenho os olhos de cachorro. Lílian – D. Maria, a sua relação com seus filhos era assim parecida assim com essa sua com seu pai? D. MARIA JOSÉ – Como é? Lílian – Sobre a senhora vivia com seus filhos a mesma coisa que vivia com seu pai? D. MARIA JOSÉ – Eu trabalhei tanto para criar meus sete filhos, criei eles a meu prumo. Tive dezoito, mas criei sete. Onze Deus criou. Eu já tinha os sete, aí tive uma barriga geme, aí Mané Luiz disse: “esses não são meus, que eu não sou homem pra fazer dois filhos, é um filho de teu genro.” Eu disse: Meu genro não! “um filho é do teu genro e o outro é filho do compadre Raimundo”, que compadre Raimundo é padrinho de quatro filho, padrinho de fogueira e ele é meu primo. Eu digo: Deus tome conta, que esse falso eu não te perdôo não. Aí, eu tava de resguardo, ele foi pra cidade, que eu descansei na quinta-feira, na sexta-feira ele saiu pra cidade, à boca da noite, mais os outros, pegou o galão de cesta, e quem fez o galão de cesta foi eu, quarenta e cinco cesta levou ele pra cidade, vendeu as cestas, comprou um quilo de carne seca. Quando ele chegou, mamãe já tinha arrumado coisa e feito comer pra mim. Aí mamãe disse: “Compadre Mané parece que trouxe foi um quilo de carne seca, será que dá pra tu passar a semana?” Eu digo: E eu sei! Aí mamãe disse: “Não vá pensar nisso não minha filha, que eu te ajudo como venho ajudando”. Quando foi de madrugada ele arrumou o saco, botou a carne velha no saco, já vou e me deixou foi sem nada. Lílian – Foi quando ele foi embora? D. MARIA JOSÉ – Foi. Aí foi simbora pra Poço de Pedra. Passou quatorze anos. E eu! Eu ia dizer: “vai pra casa de teu pai buscar comer.” Lá tinha batata, macaxeira, feijão, nunca mandei nem um atrás de nada. Criei os meus filhos a meu pulso. Lílian – Sozinha? D. MARIA JOSÉ – Sozinha. Lílian – Batalhando! A senhora trabalhava com as cestas? D. MARIA JOSÉ – Nas cestas. Lílian – E com a roça? MARIA JOSÉ – Eu fazia as cestas. Lílian – A senhora tinha roça também? D. MARIA JOSÉ – Não. Na época de casada não. Ele botou, ele botou um roçado, quando ele voltou de Poço de Pedra, ele botou um roçado ali onde é hoje de Almino. Lílian – Hum! D. MARIA JOSÉ – Ele morreu falando, aí chegou mandou chamar Zé Luiz. Zé Luiz chegou. “O que era papai?” “Olhe! Eu vou fazer minha viagem, eu sei que sua mãe não é de querer nem encomendar a farinha, desmanche a roça, faça a farinha e bote dentro de casa. Não venda a roça, não.” O derradeiro serviço que ele fez aqui pra casa foi esse roçado. Pergunta quantas vezes eu fui apanhar feijão no roçado? Nenhuma. Lílian – Só porque foi ele quem fez? D. MARIA JOSÉ – É... Ninguém faça nada comigo não, que não agravou a mim não, agravou um cão. Lílian – Hum rum! D. MARIA JOSÉ – Um dia ele não entendeu de me bater? Lílian – Foi? D. MARIA JOSÉ – Eu fui pra Macaíba com o galão de cesta... eu não já disse isso pra você não? Lílian – Não. D. MARIA JOSÉ – Atravessei o rio com água por aqui com o galão de cesta pra cima, a outra mão empurrando a água, e fui vender as cestas. Vendi as cestas e ele vendeu as dele, fazia quinze dias que ele tinha vindo pra casa. Lílian – Ele tinha voltado? Foi depois que ele passou os quatorze anos fora? D. MARIA JOSÉ – Foi. Aí pediu pra vir pra casa, eu digo: não! Aonde você passou os quatorze anos, passe o resto. Bem, porque eu mesmo não vou fazer nada pro senhor. Acabou-se, eu não presto, foi atrás da moça branca, pois vá deixar seu patuá, aonde você achou. Aí vivia assim, dentro de casa: quando eu tava trabalhando no terreiro, que ele vinha pro terreiro, eu entrava pra dentro botava a ripa no beiço da cama e ia trabalhar lá dentro. Agora no dia que ele morreu, aí eu fui pra rua, ele passou tanto tempo fora, que quando ele veio, eu já tava aposentada. Aí eu fui pra rua, recebi meu dinheiro, aí vim, Eu comprei pra ele uma lata de leite e uma caixa de maisena, que ele não comia nadinha. Passou dez dias sem fazer feze, dez dias. No dia que fez morreu. Lílian – Coitado, né! D. MARIA JOSÉ – Aí eu cheguei e perguntei: queis comer, queis uma papa Mané Luiz, “faz.” Aí comadre Olímpia chegou, entrou, passou por ele, que ele dormia na sala, eu botei a cama na sala que é melhor pra lutar com um doente, Aí ele foi no quarto, eu fiz a papa e ele disse: “traz pouca”, não tinha uns pirexzinho assim? Eu trouxe aquele pirex de papa e ele comeu. Aí ele disse: “Maria”, eu disse oi... Ele nunca chamava meu nome não, só mim chamava Maria. .... deixe eu ver aí o pinico. Aí eu trouxe, botei atrás da porta, perto da cama e fechei a porta. Ele abaixou-se e fez o serviço. Foi três vezes pro pinico, na derradeira vez já foi eu quem subi a roupa dele. Aí ele sentou-se no beiço da cama, estirou assim uma perna no varão da cama e a outra ficou no chão. Aí ele fez assim com as duas mãos. Eu digo: por que não te deitas? Não tira o cachimbo do bolso? Aí comadre Olímpia já tinha.... ((Benedita, filha com a qual D. Maria mora, chega preocupada com a saúde de D. Maria, pela recente crise de pressão alta.)) Benedita – Passou? D. MARIA JOSÉ – Hein! Passou. Lílian – Tem certeza? Mostre a mão. Diva – Olhe aí Lílian. Você que percebe, você que conhece ela, você acha que passou mesmo? Lílian – Passou. Não estava tremendo a mão aqui? D. MARIA JOSÉ – Passou. Lílian – Ainda está tremendo um pouquinho, olhe! D. MARIA JOSÉ – Tá boa, ói! Lílian – Não está tremendo um pouquinho a mão? Tem certeza? Está se sentindo melhor? Como eu já falei, eu posso lhe levar pro médico. Benedita – Eu digo a ela que não fique muito aqui, não. Às vezes, eu estou entretida fazendo as coisas. Lílian – É, sozinha, é perigoso. D. MARIA JOSÉ – Ela não vai subir mais hoje não, porque eu não quero. ((voltando ao tópico da conversa)) Sim! Aí eu disse assim... Francisca foi entrando e disse assim: “Mamãe, papai ainda vai fumar? Não acende o cachimbo pra ele não.” Aí ele disse: “Acenda meu cachimbo.” Eu disse: mim dais pra eu acender. Quando ele me deu o cachimbo, aí eu joguei o cachimbo pro corredor. Porque ele num tava na sala, aí eu tirei o fósforo, tirei o fumo do bolso dele. Aí ele agarrou assim o facão com as duas mãos e disse: “Vambora Felipe” e arrastou. Felipe foi o homem que ele tinha matado, ele tinha duas mortes nas costas. D. MARIA JOSÉ – Aí eu disse: Tu tais chamando Felipe pra ir mais tu, ele não foi só, porque tu não vai só? Aí ele disse: “Maria, eu to me indo.” Aí eu disse: Vai com Deus. (SILÊNCIO) Chorasse? Não chorei nem um pingo. Lílian – Não tinha porque chorar. D. MARIA JOSÉ – É, e ali mesmo ele morreu. De noite, as meninas diziam: “comadre Maria tem uma natureza ruim, o marido morrendo, ela com a vela na mão dele e não botar nenhuma lágrima!” Eu digo: Marido de três: De Poço de Pedra, de Maria Brincadeira e de Geralda, não era marido meu não. Ele chorou por isso, mesmo morto, as lágrimas correndo assim? Aí comadre Eva: “comadre Maria por quê você faz isso?” Eu digo: Quem fizer uma coisa a mim, saiba fazer, saiba fazer... De noite, o povo procurava: “não vai cantar bendito de defunto pra ele, não?” Não, ele não precisa de cantar bendito de defunto pra ele. Lílian – Aí como era o funeral, Dona Maria? Como era depois que morria? Como era o velório? D. MARIA JOSÉ – Sei lá, home. Cantava, rezava o ofício e tudo mais. E elas diziam: “Comadre Maria nem liga.” Eu digo: e se fosse eu que tivesse aí estirada, ele não tava agarrado com outra aí? Lílian – D. Maria, a senhora falou em cantar Bendito... Quando canta o bendito no velório Dona Maria, assim, é pra quê? D. MARIA JOSÉ – Porque é bonito, né? Lílian – É bonito, né? D. MARIA JOSÉ – Papai quando adoeceu/... Lílian – a senhora cantou algum? D. MARIA JOSÉ – Se eu mim lembro? Lílian – Sim, um bendito de velório? D. MARIA JOSÉ – Eu mim lembro. Quando mamãe Joana morreu, nós fumo pra Barreiros, quando cheguemos/A muié era dessa grossura, quatro muié quase não bota ela pra fora. Diva – Ai meu Deus! D. MARIA JOSÉ – Morreu com todo corpo, disse que foi a dentada de um maribondo. Mordeu em riba da mão esquerda. Diva – Ela era alérgica. D. MARIA JOSÉ – Hein? Lílian – Ela era alérgica. Continue.... D. MARIA JOSÉ – Aí eu fui deixar as coisas que mamãe mandou, aí quando cheguei lá, eu digo: minha madrinha, Mãe Joana tá morrendo. Ela disse: “Já chegou o urubu de asas.” Aí Tio Cisso: “Se ela disse que ela tá morrendo...” Tio Cisso sentado em cima da mesa mais a muié, madrinha Alice fazendo o café e Tia Noca sentada no pilão. Eu digo: Mãe Joana tá morrendo. Nesse instante eu encostei, aí e mamãe: “não tava morrendo, tu já vem chegando agora e já vem dizendo que ela ta morrendo.” Eu digo: Tio Cisso tem vela aí? Aí Tio Cisso me deu a vela, eu acendi, virei ela, Tio Cisso me ajudou a virar ela, que ela era muito grossa, gastou o bico da vela. Se eu não chego, tinha morrido sem vela e tinha ficado encuída. Lílian – Por que não pode morrer sem vela? A senhora fala muito que tem que colocar a vela. D. MARIA JOSÉ – Porque a pessoa anda no escuro e tando com a vela na mão anda no claro. Lílian – Ahhhhh! É como se vai fazer a passagem, né? D. MARIA JOSÉ – É. Lílian – Interessante! D. MARIA JOSÉ – Aí ela sempre dizia, que quando ela morresse, era pra cantar bendito até de manhã. Aí Madrinha disse: “aqui não tem quem cante bendito de defunto, não.” Aí Tia Gonçala, veio de Regomoleiro pra Barreiro, lá pra casa de Mãe Joana. Foi outro pra Uruaçu, buscar a família dela. Veio um pra São Gonçalo buscar papai. Quando papai chegou foi: Papai, Chico Pena, Mamãe, Tia Cantu e Tia Antonia. E assim, eu passei a noite fazendo quarto, de manhã peguei a cesta e o ferro de cova, fui tirar unha de velho. D. MARIA JOSÉ – Aí Papai disse: “Maria José, se não tiver quem queira cantar, vamo cantar bendito nós dois?” Eu digo: vamo. Aí sentemo no meio de terreiro, aí papai cantava, eu respondia. Aí, os de Regomoleiro chegaram e começaram a cantar também. Ainda mim lembro da despedida que os de Regomuleiro ... porque a despedida que papai canta é assim: ♫ Adeus irmão dos anjos, irmão dos anjos. Oh! Meu Deus eu ou pro céu ♫. O que eles cantavam, ♫ Os anjos vão mim levando ♫... eu não sei mais como era... a despedida deles era assim: ♫ Lá vem a barra do dia junto com a Virgem Maria,/ desceu dois anjos do céu levem tua companhia ♫. E o de papai é: ♫ Adeus irmão dos anjos, irmão dos anjos adeus ♫. Eu não sei mais nem cantar.... Lílian – Quer dizer que seu pai também cantava bendito? D. MARIA JOSÉ – Era e ele pedia que quando ele morresse, cantasse bendito de defunto até de manhã. Aí compadre Raimundo, veio pra mode cantar aí o povo/... Lílian – Compadre Raimundo era irmão D. MARIA JOSÉ – Raimundo Carvalho. Lílian – Sim! Pensei que era irmão dele. D. MARIA JOSÉ – Era sobrinho. Lílian – Era sobrinho dele. D. MARIA JOSÉ – Era dele e primo da gente. Lílian – Sabia cantar também? D. MARIA JOSÉ – Sabia. Compadre Raimundo veio pra tirar bendito, pra cantar bendito mais a gente. Aí, quando chegou o povo acharam ruim, aí começaram a cochichar. Aí, compadre Raimundo disse: “Comadre Maria eu vou embora, quando for na hora do enterro eu tô aqui”. Lílian – Por que o povo estava achando ruim? D. MARIA JOSÉ – Porque iam cantar bendito de defunto. Lílian – Porque as pessoas não gostam? D. MARIA JOSÉ – Porque tinha morrido um pai de família e as pessoas iam cantar bendito de defunto. Lílian – O que é que tem Dona Maria? Eu não entendi por que as pessoas ficavam cochichando. D. MARIA JOSÉ – Porque cantando bendito de defunto, não tem quem chegue perto. (SILÊNCIO) Tinha um pecador que dizia assim: ♫Vivia no mundo, no pecado original/ matou o padre e padrinho e o pai por quem foi gerado e o crime [?] e deu sossego [?] ♫...(SILÊNCIO) Quem reza pra Nossa Senhora todo dia, ela não deixa a alma ficar vagando não, não deixa de jeito nenhum. Aí quando ele tava morrendo... ♫ quando ele estava morrendo os anjos desceram e lhe pôs a mão dizendo: não pense no que fizeste/ deixa cá que eu te defendo. /Ele deu uma vertigem, o homem expirou/ o demônio, estava em pé,/ ativo se conservou/ o anjo da guarda veio/ o demônio se amassou.” ♫ O demônio perguntou ao anjo: ♫ o demônio perguntou ao anjo amigo:/ ”O amigo veio a negócio? /Que essa alma me pertence,/ nela eu não quero sócio,/ eu trabalho é para mim /e o resultado é o melhor” ♫. Aí São Miguel disse: ♫ “Cale-se três vezes maldito./ lhe disse o anjo da guarda./ Ela não foi a juiz/ para está sendo julgada,/ ela só pode ser sua/ depois da sentença dada.” ♫ Aí a alma chegou nos pés de Nossa Senhora e se ajoelhou. Aí, Nosso Senhor diz: ♫”Antes que eu te confesse,/ publica por tua boca/ que beneficio fizesse” ♫. Aí ele disse: ♫ “Se ela faz injúria/ contasse certo o passado,/ porque o meu próprio pai também foi assassinado/ Tenho o crime por amigo/ e Deus por meu intrigado” ♫. Aí Nosso Senhor respondeu: ♫ “Vocês escrava do vício/ por ser tão obstinado/ a justa sentença te digo:/ tais condenado.” A alma soltou um grito/ no receber da sentença,/ o demônio tragou ela/ levando no ar suspensa,/ dizendo consigo mesmo:/ “que felicidade imensa!”/ A alma se vendo aflita,/ no terror das agonias,/ despencou-se do diabo,/ caiu nas mãos de Maria,/ ainda com esperança /que a Virgem a socorria./ ”Maria! Oh, Virgem Maria!/ Mãe do Divino Espírito Santo,/ cobre-me com vosso divino manto,/ se vós não me socorreis,/ de vossos pés não me levanto.”/ “Oh, alma tu fica aí/ que vou falar a Jesus,/ que te prometi/ e sei que ele me atende,/ sabendo que sou por ti” ♫. O diabo diz, ♫ O diabo quando viu a Virgem pura a partir,/ disse ao outro companheiro:/ ” Lá vai a compadecida/ mulher com tudo se importa/ e quer ganhar a questão vencida.“ ♫ Aí ela foi e reclamou a Nosso Senhor: ♫ “Jesus, eu vim aqui,/ vim a ti com precisão,/ contar sobre uma infeliz/ e pedir dela compaixão/ se a alma tiver castigo/ por ela, hei de sofrer.”/ “Como minha mãe me pede,/ sou um juiz fiel,/ para ver que jeito dá-se,/ mandei chamar São Miguel.”/ ♫ São Miguel ficou rindo e disse: ♫São Miiguel chego sorrindo e disse: “Pronto Senhor.”/ Disse Jesus a Miguel, “você vai defender um pecador,/ para ver se pode aterrar/ a razão do traidor.” ♫ Aí, São Miguel.... Aí o cão quando São Miguel chegou, ele disse: ♫ “São Miguel, tu num sabe que essa alma/ só viveu foi só de pecar?/ São Miguel tu sabe o que essa alma praticou?/ Não faz meia hora que tudo ali confessou.”/ “É verdade que essa alma só viveu foi de pecar,/é porque também tinhas tu que só vivia de atentar.”/ Manoel deu a sentença: “Maria pode salvar!”/ A alma entoou o bendito./ ”Louvado seja Maria,/ amparo dos desgraçados,/ seja nossa luz e guia” ♫ Aí pronto. Lílian – Então o bendito esse é da compadecida, né? D. MARIA JOSÉ – É de alma que foi salva/... Lílian – É um bendito esse aí, Dona Maria? É um bendito? D. MARIA JOSÉ – Ah! É um bendito e é verso. Lílian – Han! D. MARIA JOSÉ – Por isso que não posso me deitar sem rezar, mas só se eu não puder nem levantar a mão pra me benzer. Lílian – É mesmo? D. MARIA JOSÉ – Desde menina que eu rezo tanto para Santo Antonio, como para Nossa Senhora. Diva – Ah! E a Senhora é devota de Santo Antonio! D. MARIA JOSÉ – Desde menina que rezo pra ele, a senhora reza? Lílian – Rezo. D. MARIA JOSÉ – Como é sua reza? Lílian – Um Pai-Nosso, quando vou dormir. D. MARIA JOSÉ – Só um Pai-Nosso? Lílian – e a Ave-Maria. D. MARIA JOSÉ – Ôxente! Lílian – Só quando eu me lembro. D. MARIA JOSÉ – É um que diz assim: Santo Antonio alevantou-se seu pé direito calçou, sua [?], seu caminho, caminhou [?] Meu glorioso Santo Antonio pela hora do Vosso Nascimento, pela primeira missa que celebrasse, pela igreja que zelasse, pela hóstia e o cálice que levantasse, é aí que a pessoa pede o que quer a ele. Já ouviu como é? Lílian – É bonito. Diva – Eu gosto muito de Santa Rita. D. MARIA JOSÉ – Santa Rita? Diva – Santa Rita, Nossa Senhora dos Impossíveis, a senhora conhece? D. MARIA JOSÉ – Santa Rita ... conheço. Diva – Eu nasci no dia dela, por isso que eu gosto dela. D. MARIA JOSÉ – Nasceu no dia de Santa Rita? Diva – Eu ia me chamar Rita. D. MARIA JOSÉ – Santa Rita foi muito sofredora, agora o sonho de Nossa Senhora diz assim: teve Nossa Senhora no [?] de Belém, na sua cadeira de ouro fina sentada, seu livro de ouro na mão, meio lido, meio rezado. Chegou seu Bento Filho e perguntou que faz mãezinha dormis ou velais?” Nem durmo, nem velo, se vós assim mim despertais, só assim sonhei um sonho naqueles montes, cravaram tu numa cruz de madeira com sessenta e dois espinhos na Vossa Sagrada cabeça e os Vossos Sagrados olhos inclinados para o chão [?] para Vossa Sagrada roupa, pregos e mais pregos nos Vossos Sagrados pés e nas Vossas Sagradas mãos. Aí ele diz: “Certo mãezinha que esse sonho não é sonho, esse sonho é uma pura e santa verdade, quem esse sonho rezar um ano continuado nesse mundo será rei e no outro será coroado. Já viu como é que se reza? Lílian – Ah! Quer dizer que a senhora reza assim? Eu não conheço, com quem que a senhora aprendeu essas rezas? D. MARIA JOSÉ – Com quem que eu aprendi? Lílian – Sim. D. MARIA JOSÉ – Com meu pai, que ensinava toda noite a gente a rezar. Quem me ensinava a rezar era papai. Lílian – Minha mãe, me ensinou a rezar a Ave-maria, Pai-Nosso, Credo. Como seu pai fazia, quando ia lhe ensinar a rezar? D. MARIA JOSÉ – A gente brincava, brincava no terreiro, toda brincadeira a gente inventava no terreiro quando ele dava um grito: “Maria José!” Senhor? “Tá na hora!” A gente entrava pra dentro e ele ia ensinar a gente a rezar; eu e comadre Maria Bune, comadre Raimunda. Comadre Raimunda interava ano no mês de agosto. Sant’Anna é agosto, né? Ela vivia pedindo a Deus, que se Deus visse que ela não tinha uma boa sorte, que se Deus visse que ela se casava e não tinha sorte ou mesmo não tinha sorte de ficar, porque o primeiro namorado dela tinha se casado era o marido de comadre Lourdes, quer dizer, ele era casado nesse meio do mundo, quando pegou amizade com ela, aí descobriram que ele era casado, aí disseram a ela, aí ela foi pediu a Deus que tirasse ela. Aí começou com uma dor de cabeça, com uma dor de cabeça, com uma dor nas pernas, com uma dor de cabeça. Se fosse agora ela não tinha morrido... (SILÊNCIO) e nada de ficar boa. Mamãe deu um purgante de óleo de rincino, mamãe deu um purgante de sena, mamãe deu outro purgante não sei de quê a ela e de resto, ela ia mais os meninos pros cantos, aí caía no meio do caminho. Lílian – Nossa! D. MARIA JOSÉ – Papai tinha um roçado nessa lombada de Oiteiro. Lílian – Ela morreu com quantos anos, Dona Maria? D. MARIA JOSÉ – Morreu com dezenove anos. Aí, num vê minha pintura de guiné? Pois mesmo assim eram os braços e as pernas dela, todo pintado assim. Lílian – Nossa! D. MARIA JOSÉ – Aí, papai disse: “Tá ruim essa doença de Raimunda.” Ela arriou de uma vez na sexta-feira, na quinta-feira e morreu no sábado a boca da noite. Aí disse: “Papai!” Papai disse: “Oi!” “Venha cá.” Papai chegou: “O que era Raimunda?” ... Antes disso, ela foi plantar um roçado mais ele. “Papai, o senhor mim dá uma mi cova desse roçado?” Ele disse: “Pra que tu queis?” Ela disse: “Pra comprar meu caixão!” Papai disse: “Tu vai morrer Raimunda?” Ela disse: “Se Deus quiser!” Papai vendeu. Quando ela morreu, ele vendeu a mi cova de terra pra comprar o caixão. Aí disse: “Quando eu morrer quero que chame muita gente, quero que vá muita gente no enterro.” Papai disse: “Tá certo!” Veio gente desse meio de mundo de Uruaçu, Jacarau, Santo Antonio, Barreiro, fartou uma pessoa pra cem no enterro dela. Aí isso assim ela não comia. O negócio dela era peixe, também nem comia couro de peixe, nem comia toucinho, nem comia fato, só era mesmo peixe pra ela e carne sem um sinal de gordura. Lílian – E adoeceu, né? D. MARIA JOSÉ – Ela era mais alta do que eu e eu até essa época eu tava buchuda de Sebastiana, quando ela morreu. Aí, ela disse: “comadre Maria tu vais te casar quando?” Eu digo: Não tem dia. Aí, ela disse: “Quando tu for se casar, eu vou pra teu casamento.” Eu digo: tu vai mesmo? Ela disse: “Vou, tu preste atenção que tu me vê lá!” Foi, e só quem viu foi eu e Santina e Olinda, e comadre Maria Bune não viu. Lílian – E ela estava lá e a senhora viu, onde? D. MARIA JOSÉ – Na igreja. Eu fui pra feira com o galão de cesta, eu e Mané. Mané com um galão e eu com outro. Aí de lá. Aí compadre Alfredo irmão dele disse: “Você tá pensando que vai morar todo tempo amigado? A mulher tem filho todo ano e você sem querer se casar? Você vai casar.” Aí ele disse: “Eu só vou vendo.” Ele falava assim. ((fala enrolando a língua e rindo)) Aí, compadre Alfredo disse: “Eu só vou vendo, é uma cebola.” Aí mandou uma carta pra seu Joaquim, pai dele, aí ele mandou outra. Disse que ia passar quinze dias pra vir aí e quando vier não quero chegar na casa dele amigado. Aí quando cheguemo na feira com os galão de cesta, compadre Alfredo chegou da igreja: “Eu já botei os banho lá na igreja, já tá pago.” Aí, ele disse: “Eu com esta roupa, em manga de camisa?” Ele disse: “O que é que tem? Quando você se apoderou dela você foi vestir roupa boa?” Ele era mais velho, e só morreu na minha casa. Morreu nas minhas mãos. Eu fazia tudo pra ele, que a mulher dele era bruta que só. Findou vindo morrer na casa de Benidita. Lílian – Mas, a senhora tomou conta de muita gente, tinha tempo pra fazer suas coisas, cuidar dos seus meninos e ainda cuidar... D. MARIA JOSÉ – Cuidar dos outros. Lílian – Cuidar dos velhos, cuidar das pessoas que iam adoecendo. D. MARIA JOSÉ – É. Diva – Assistiu muita gente morrer, então! D. MARIA JOSÉ – Olhe de lá de baixo, de lá do aceiro da cerca/... quer dizer que agora a cerca tá abaixo, mas ainda pego em dinheiro, agora não posso mais fazer, mas ainda pego em dinheiro e ainda mando fazer pelo menos a frente, só numa casa só tem cinco home, eu digo: tem vinte e um home dentro do Oiteiro, pru quê vocês não se ajunta um dia, só vocês faz essa cerca. Tirem a madeira que eu compro o arame. “A senhora tá achando que a gente tem o direito de fazer cerca?” Foi o que me responderam... (SILÊNCIO) agora se eu fosse outra tinha botado pra fora. Diva – É com certeza, Só quer morar não quer cuidar, não quer tomar conta, né? D. MARIA JOSÉ – É. Sim! Como é, o que era que eu tava dizendo? Lílian – Estava falando de sua irmã. Estava falando que ela foi ao seu casamento. D. MARIA JOSÉ – Sim! Aí papai, ela andando pro roçado mais papai, ela contente e tudo. Aí disse: “Tá chegando o meu dia!” Aí papai disse: “Seu dia de quê, Raimunda?” “Deu morrer.” Que ela falava assim. ((enrolando a língua)). Papai disse: “Morre bicha veia que eu faço o enterro com todo gosto.” Ela dizia: “E é pra fazer de todo gosto e não é pra chorar não.” Na quinta-feira, na sexta-feira arriou. Aí ela disse na sexta-feira, no sábado papai foi pra cidade, aí ela disse: “Papai o senhor traz/... ela não queria comer nadinha/... papai o senhor traz uma tapioca da feira pra mim?” Papai disse: “Trago”. Aí papai disse: “Quer saber, eu vou é entregar o galão de cesta e vou mimbora.” Deu oito horas do dia, papai chegou da rua, quando ela ouviu a fala dele disse: “Trouxe minha tapioca?” Ele disse: “Trouxe.” Só teve o gosto de comer uma que era pequenininha, comeu uma e uma pontinha da outra. Disse: “Tô satisfeita papai e adeus.” Aí tomou a bença a papai mais mamãe. Aí eu cheguei aí ela disse: “comadre Maria?” Eu disse: Oi! Que ela era madrinha da minha primeira menina, “Eu vou simbora. E eu vou pra teu casamento, pode prestar atenção que eu vou.” Eu digo: tá certo, vai! Eu quero ver. Aí eu cheguei, eu disse papai? Será que comadre Raimunda vai morrer mesmo? Papai disse: “eu tô achando que vai.” Aí comadre Olímpia chegou, aí ela disse: “Oi Raimunda.” Ela disse: “Vá buscar o adoremos pra rezar o ofício, que eu não quero sair sem ouvir rezar o ofício.” Aí mamãe começou a chorar, aí ela disse: “Mamãe não chore não, que é melhor ela ir e a senhora ficar pra acabar de criar os outros”, e foi aí comadre Olímpia correu pra casa foi vê o adoremos, aí chegou ela, comadre Olímpia rezando o adoremos, quando chagava em se benzer, ela se benzia também. Só arriou a mão na derradeira coluna, aí comadre Olímpia disse: “Agora pode botar a vela na mão que ela agora tá morrendo.” Lílian – O que é o adoremos, que a senhora disse, é uma reza? D. MARIA JOSÉ – Você não sabe, não? Lílian – Eu não conheço Dona Maria. D. MARIA JOSÉ – É onde tem o ofício de Nossa Senhora, onde tem o padre nosso, onde tem creio em Deus Pai, é um livrinho assim. Lílian – Ah, tá! Diva – É um livro de orações, aí tem pra todas as ocasiões, tem pra festa de nascimento, tem pra morte... Lílian – Ah! Tá certo! D. MARIA JOSÉ – Aí comadre Olímpia rezando o ofício e ela rezando também. D. MARIA JOSÉ – Aí, na derradeira coluna que comadre Olímpia disse: “Deus salve relógio, que andando atrasado serviu de sinal para o verbo encarnado.” Ela arriou. Foi se benzer a mão arriou aí comadre Olímpia botou a vela na mão dela. Aí ela de lá, morrendo com a vela na mão e dizendo: “mamãe não chore não, entregue a Deus e a Nossa Senhora que eu vou subir.” Aí morreu. Com oito dias que ela tinha morrido, aí mamãe tava sentada na rede rezando e no canto da parede do quarto tinha uma jarra grande assim, quando papai fazia farinha, enchia ela de farinha com uma tampa, aí ela chegou e pôs-se acima da jarra, com oito dias que ela tinha morrido, aquela réstia desse tamanho assim, bem alvinha, aí fazia mesmo assim pra banda de mamãe ((acena com a mão)), a réstia balançando, balançando, aí mamãe disse: “Maria José?” Eu fui chegando eu disse: Senhora? “Venha ver que coisa bonita.” Mamãe sentada na rede rezando e ela acima da jarra naquele manejo. Aí eu cheguei, fiquei espiando, aí ela ficou, ficou balançando, balançando, animada! Aí papai chegou, papai disse: “Deus te abençoe, Deus te faça mais clara do que tais.” Aí, comadre Maria Bune, a minha irmã, chegou, quando foi chegando que mamãe disse: “olhe que coisa bonita Maria Bune.” Aí ela disse: “Te disconjuro.” Aí a réstia tomou um açoite de cabeça acima, aí mamãe disse: “Pra que tu fizeste isto!” Papai ainda deu uma munhecada nela. Foi quando eu fui casar. Lílian – É porque tem gente que tem medo. D. MARIA JOSÉ – Ham! Lílian – É porque tem gente que tem medo, Dona Maria. D. MARIA JOSÉ – É mais não podia dizer assim, né? Lílian – É, realmente. D. MARIA JOSÉ – Aí quando fui casar, aí eu e comadre Santina vimo. Comadre Santina disse: “Maria José?” Eu disse: Oi? “Olhe Raimunda, ela não disse que vinha? Do jeito que ela estava lá balançando. Deus lhe abençoe!” (SILÊNCIO) Aí entrou lá na janela do sino, desceu assim... porque a gente casou, no altar de Santa Terezinha, em Macaíba. Aí ela entrou na janela do sino e veio, veio e ficou acima da cabeça de Santa Terezinha, bem alvinha. Aí Santina disse: “Maria José?” Eu disse: Oi? “Olhe Raimunda onde é que está.” Aí eu olhei e disse: É mermo! E comadre Bune disse: “Cadê? Cadê?” Nem viu Olinda, nem viu comadre Maria Bune, só quem viu foi Santina. Com bem dois meses pra três, Santina morreu. Agora mamãe morreu de repente. Lílian – O velório dela foi bonito, de sua irmã? D. MARIA JOSÉ – Da finada Raimunda? Foi. Papai foi vendeu a mi cova de roça pra fazer a arrumação dela aí ela foi toda/... Lílian – Toda de branco. D. MARIA JOSÉ – Toda de branco, papai comprou o ataúde, do meio do ataúde pra cabeça era de vidro, ela tava no ataúde e a gente tava vendo ela. Foi tanta gente! Lílian – Cantaram? D. MARIA JOSÉ – Hein? Lílian – Teve bendito? Ela não pediu pra cantarem, não foi? D. MARIA JOSÉ – Foi, mas ela... não cantaram não, ela morreu numa hora dessa assim, mas não cantaram não. Mamãe não agüentava ouvir cantarem. E mamãe vivia pedindo a Deus que se Deus visse que ela tinha que ficar viúva, que ela tinha sinal de viúva, a ponta do cabelo era comprido e os dedos, é que tem esse dedo encostado o grande maior que o outro. ((Nesse momento chega a neta de D. Maria com o filho para ser curado. Ela pede a benção à avó e senta-se em silêncio perto de nós)). Lílian – Chegou mais um neném D. MARIA JOSÉ – Estranha mais que tudo. Deus te faça uma boa criatura, Deus te dê a felicidade de ser criado pela tua mãe. Lílian – Foi curado pela senhora? D. MARIA JOSÉ – Foi três dias que se curasse, foi? NETA DE D. MARIA JOSÉ – Não vó, a senhora não já terminou a cura? D. MARIA JOSÉ – E eu já terminei? NETA DE D. MARIA JOSÉ – Terminou. D. MARIA JOSÉ – E agora vai se curar de quê? NETA DE D. MARIA JOSÉ – Não passou nada, não. D. MARIA JOSÉ – Passou não? NETA DE D. MARIA JOSÉ – Ela não ficou boa, não. D. MARIA JOSÉ – Não ficou, não? NETA DE D. MARIA JOSÉ – É porque ela é medrosa demais. Lílian – Tá se assustando? Tão linda! D. MARIA JOSÉ – Hum. Lílian – A senhora aprendeu a curar com quem? D. MARIA JOSÉ – Eu ia com os meninos de mamãe pro mode curar e prestava bem atenção como era. Aí uma vez que eu tava morando no Olho D’água, aí eu perguntei: Dona Maria como é que a gente cura uiado? Aí ela disse como era. E como é que a gente cura engasgo? Aí ela disse: “Você tá preguntando é pruque tu já sabe!” Eu disse: É nada, mas eu já sabia. Uma vez quando eu tava/... Mané Luiz inventou de ir pra perto de Mesquita, nas Barbuletas, aí tinha a casa de Mané Gonçalo, era encostada a derradeira cancela do terreno, foram pescar, pegaram cada um uma Curimatã, ele e Mané Luiz, aí botaram no fogo, aí Maria disse: “Tu queis a tua.” Olhe o peixe consertado, cozinhado sem coco, cozinhado na água e no sal, a panela cheia d’água, eu digo: Eu não quero teu peixe não, deixe que o meu eu ajeito, aí fui ajeitar o meu. Aí, Mané Gonçalo disse: “Compadre Mané não sabe comer nem peixe, a gente come peixe é assim.” Que ele jogou o pedaço de peixe na boca que deu o goto a espinha ficou, aí disse: “Valha-me Deus, tô engasgado.” Esse home chega as lágrimas corria e eu deixando ele sofrer. Aí, Mané Luiz disse: “Maria cura compadre Mané!” Aí eu disse: Quem mandou ele ser imbicioso, pra comer mais ligeiro do que os outros? Aí eu digo: Eu vou curar, quando eu puxar nas tuas orelhas, tu dá o escarro, aí fui pra detrás dele, que a gente cura por trás que é pra puxar aqui nas orelhas, o cabelo aqui, aí comecei a curar, aí, eu chega tive pena do nojento, quando eu puxei nas orelhas dele que ele deu o escarro, a espinha saltou no meio da casa chega vinha encarnada de sangue, ele botou sangue pela boca que só. Quando ele escarrava, que cuspia chega vinha a prastada de sangue, ele fazia assim o sangue ficava. Espinha de Curimatã é duas pontas, né? Diva – Ela é assim? ((mostra a mão em formato de v)) D. MARIA JOSÉ – Aí enganchou na guela dele, furou de um lado e do outro. Lílian – Meu Deus! Então quer dizer assim que tem uma reza pra cada tipo de coisa que a pessoa tem? É isso? D. MARIA JOSÉ – Eu curo engasgo, eu curo vento caído, eu curo uiado. Lílian – É uma reza diferente pra cada um? D. MARIA JOSÉ – É. Eu tava até curando uma menina que caiu, bateu com a cabeça do joelho, a meninazinha agora que está andando. Caiu bateu com a cabeça do joelho na quina do tijolo, a mãe chegou aqui com ela pra eu curar o joelho da bichinha, dessa grossura mesmo assim, aí eu curei. Lílian - Como é que faz pra curar D. Maria? D. MARIA JOS É - Por que tudo no mundo onde o olho de uma pessoa pode alcançar pode ter uiado. Aí nós escolhe as planta e reza, mas tem que saber rezar, escolher a reza certa pro problema da pessoa. Vocês conhecem Dácio? Lílian – Sei quem é. D. MARIA JOSÉ – Aí ele veio, o braço era dessa grussura assim, daqui pra cá. Que diacho foi isso Dácio? “Foi um jeito que eu dei no braço”. Fosse dá nos outros sem saber. Aí ele: “Se fosse dá nos outros sem saber ia ficar com o braço doendo." Aí Candinha disse: “Foi não!” Eu não me lembro o que foi que ela disse que ele foi fazer e arranjou pro braço. Mas, não tirou do canto não, era bom que tivesse tirado do canto. “Esse diabo só deseja o que não presta aos outros.” Porque um dia eu conversando mais Candinha e ele bem sério, espiando pra mim, aí ele disse: “Candinha!” “O que é home?” “Não te fia nessa mulher não que ela é criminosa.” Eu disse: Criminosa é sua mãe! “Criminosa é a senhora que a menina do olho, uma é redonda e a outra é comprida”, eu digo é pro que tua mãe matou e ficou a pinta no meu olho. Mas, não é não, né? Vocês tão vendo que é? ((risos)). Lílian – Eu nunca vi não, já procurei foi muito pra ver se eu vejo. D. MARIA JOSÉ – Pois eu já. Essa menina do olho aqui não é que nem essa. Lílian – É, não estou vendo não, pode ser que seja, mas não estou vendo não. A senhora tá melhor? D. MARIA JOSÉ – De quê? Lílian – De quê! Está sentindo ainda o cansaço? D. MARIA JOSÉ – Não estou sentindo ela não, quando ela quer subir eu sinto, o cansaço bate em mim dum lado e outro. Lílian – A gente viu quando chegou que a senhora não estava bem. D. MARIA JOSÉ – E quando eu tava aqui porque eu disse assim: será possível que eu só nasci no mundo pra sofrer? Eu já sofri demais, (GRANDE SILÊNCIO) ... uma menina de sete anos tirar daqui, acompanhar o rojão do andar de papai daqui pra Baixa de Massaranduba ia e vinha quando chagava nos caminhos ele enrolava meus pés com folha de cupuaçu e amarrava com embira de sapucaia pra mode eu poder chegar em casa, na terra quente, tá vendo como era sofrimento. Eu casei, saí de casa com dois vestidos: um de trabaiar e outro pra sair pros cantos. Lílian – Me diga uma coisa, a senhora gostava de namorar? D. MARIA JOSÉ – Namorar? Lílian – Sim, a senhora teve quantos namorados antes de se casar? D. MARIA JOSÉ – Eu sei lá home! Diva – Eita! Perdeu a conta. ((risos)) D. MARIA JOSÉ – Porque quem já foi namorado meu e noivo, já morreu tudo. Lílian – Então a senhora ia ficar viúva de qualquer jeito. D. MARIA JOSÉ – Porque Chico Curinga foi o primeiro que morreu/ Lílian – Chico Curinga, ele fazia o quê? D. MARIA JOSÉ – Ele era cabeceiro na feira. Lílian – Cabeceiro na feira. A senhora conheceu ele onde, na feira? D. MARIA JOSÉ – Foi a gente vendendo cesta. Diva – Conta aí como era que namorava na sua época pra gente saber? D. MARIA JOSÉ – Eu não digo não. ((risos)) Diva – Ô, Dona Maria! Só conta assim uns detalhes?! D. MARIA JOSÉ – Um dia acabei com a amizade com ele na feira, porque ele chegou eu tava comprando e comadre Bune tinha um piscado de olho com o retalhador de carne. Aí fui comprar carne pra mamãe e ia mais ela, aí ele chegou e ficou por trás de mim, aí quando eu fui saindo ele disse: “Maria José você não tem vergonha não?” Aí eu disse: Como é a proposta? “Você não tem vergonha não?” Mais sem vergonha do que eu, sois tu, porque se tu tivesse vergonha nunca falava com moça nenhuma. Porque o homem que tem vergonha nunca andava fedorento a tripa, fedorento a carne, fedorento a peixe, fedorento a tudo no mundo, ia trabalhar em serviço pesado, não ia esperar a semana todinha que houvesse feira pra ir ser cabeceiro dos outros. “Como é que você diz isso?” E tem mais uma coisa lá no Oiteiro não pise mais. Ele disse: “Eu tenho que ir acabar esse casamento com seu pai”. Eu digo: Vai casar com papai, lá tu encontra com ele. Ele disse: “Mim respeite”. Respeitar quem? Pra pisar não vejo o quê, pra respeitar não vejo a quem. Aí fui mimbora. Aí o home vizinho, a gente tava comprando perfume, eu comprei uma lata de pó coração e um vidro de banha vaselina. “Não precisa a senhora pagar não, que eu pago.” Não quero não, não quero nada seu que eu não tô lhe pedindo nada, quando eu trabaio é pra não pedir nada a namorado que eu tenho papai e mamãe. Lílian – A senhora tinha quantos anos, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Hein?! Lílian A – Quantos anos a senhora tinha quando namorou com ele? D.MARIA JOSÉ – Eu tava com dezoito. Lílian – E casou com quantos anos? D.MARIA JOSÉ – Eu, com vinte. Lílian – Bom, Chico Curinga foi o primeiro da lista, né? D.MARIA JOSÉ – É, foi o primeiro e foi o primeiro que morreu. Aí deixei a amizade dele, aí, eu digo: e não tem mais que ir no Oiteiro. Aí vendemo as cestas, acabemo de vender, peguemo uma carona e viemo imbora. Quando foi de tarde, mamãe disse: “Maria José?” Eu disse: Senhora? “Chico Curinga vem ali”. Eu digo: mande ele pastar! ((Fim da fita)) 3.2.8. Transcrição 6 Transcrição da entrevista realizada em 10 de maio de 2005, na Casa de Benidita, Loteamento Alto de Canaã, São Gonçalo do Amarante. Nesse dia, encontramos D. Maria José muito triste. O dia das mães tinha acontecido no domingo anterior e ela estava muito saudosa em relação à sua mãe. Contou que a prefeitura a havia convidado para uma comemoração na qual ela seria homenageada em nome das mães, mas, por não estar disposta, recusava-se a ir. Começou a contar da noite mal dormida que tivera. Iniciamos a nossa conversa sem ligar o gravador, para descontraí-la. Ela começou a falar de uma aparição sua na televisão. Perguntei-lhe então se podia começar a gravar, ela consentiu e começou a falar... D.MARIA JOSÉ – Aí ele disse: “A senhora sabe cantar?” Eu disse: eu sei. Aí ele: “Cante.” Aí eu cantei. ♫ Uma excelência do senhor São Benedito, ele chorava, ele dizia, ele se lastimava, aí a estrela clareava. ♫ Aí eu disse: isso aí era com que mamãe balançava os meninos ao meio dia. Pois quando saiu na televisão, saiu eu dizendo isso! Lílian – Foi? D.MARIA JOSÉ – Foi. Diva – Então, era esse canto que a sua mãe balançava os meninos? D.MARIA JOSÉ – Era quando mamãe ia balançar os meninos pra dormir. Lílian – Isso é uma, isso se chama “Incelência” não é Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Isso é a “Incelência de São Benedito”. Lílian – E não é uma canção que canta num velório, não? D.MARIA JOSÉ – Não, canta também pra São Benedito. Lílian – Porque a senhora falou, na vez passada que nós tivemos aqui, a senhora falou que cantava bendito, não? D.MARIA JOSÉ – Bendito de defunto. Diva – E têm outros tipos de bendito que não seja de defunto? D.MARIA JOSÉ – Tem muito. Lílian – Ah! É? Diga um assim pra mim, que não fala de defunto? Eu só conheci de defunto. D.MARIA JOSÉ – Só não digo de defunto! (SILÊNCIO) Eu não gosto muito de cantar bendito de defunto não, que eu mim lembro da minha mãe. (SILÊNCIO). Lílian – Por que Dona Maria, a senhora lembra de sua mãe, ela gostava? Ou a senhora cantou pra ela? D.MARIA JOSÉ – No dia que a gente saiu com mamãe, papai fez farinha, aí mamãe mandou a gente levar, aí a gente saímo daqui com um saco com três cuias de farinha, uma cesta assim, assim com um bolão de massa da testeira da prensa e quando acabar, forrou o bolão de massa e botou duas tapiocas feita debaixo do forno, só corta ela de faca, com coco. Lílian – Deve ser uma delícia! D.MARIA JOSÉ – Acabou-se esses tempos, acabou-se esses tempos bom. Eu pensei que vocês não vinha mais! Lílian – Tava esperando a gente? D. MARIA JOSÉ– É bom a gente falar da vida, né? (SILÊNCIO) D.MARIA JOSÉ – Que era que tava dizendo? Sim... No dia em que mãe Joana tava morrendo, eu digo: Mãe Joana tá morrendo. Aí saí correndo, ela era uma mulher tão franzina, que quatro mulher quase não bota ela pra fora e nesse tempo eu tinha força, agora não tenho mais não. Eu nunca dei uma cipoada numa rês pra mode ela não se levantar, mais agora? Mais em eu dizer, não vá se fiar em dá uma tapa n'eu não, viu? Lílian – Não! Faço isso não! Eu tenho juízo! ((risos)) Diva – Ela gostava de bendito, sua mãe? Qual o que ela gostava mais? D.MARIA JOSÉ – Então, mamãe morreu a gente não cantou não, porque mamãe morreu diferente, à boca da noite ela rezou, aí pegou o rosário e foi botar no pescoço, na capela, no pescoço de Santa Terezinha, tava com a mão quebrada, aí quando ela fez assim, disse: “Aí meu Deus que dor!” agarrando na cabeça e quando caiu já foi morrendo, só gastou o bico da vela. No dia das mães Ferreirinha veio me buscar pra eu ir pro dia das mães. Eu digo: eu não vou não. Ele disse: “Por que a senhora não vai?” Porque eu não vou, não posso ir. Aí ele disse: “Tá certo.” Avise lá porque já faz quarenta e dois anos que mamãe morreu, mas parece que estou vendo ela e ela não sai do meu pensamento, não posso ir. Porque se eu fosse, tinha que cantar e eu digo assim: ♫Oh! Minha mãe, minha mãe. Oh! Minha mãe, minha amada. Quem tem mãe, tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. ♫ E aí eu não fui não, fui nada. Lílian – É por isso que a senhora ficou triste no dia das mães? D.MARIA JOSÉ – O dia das mães não foi bom pra mim porque não tinha mamãe, papai. O dia das mães só quem veio aqui me tomar a benção foi José, porque todo o dia ele vem me tomar a benção, ele tá vindo, tá bem perto. Lílian – Todo dia quando a gente está aqui, ele vem. D.MARIA JOSÉ - Não sei quando é que vocês vêm pra eu fechar uma fita dessas? Lílian – Fechar o quê? D.MARIA JOSÉ – Uma fita dessas? Lílian – Sim! Quinta-feira. D.MARIA JOSÉ – Segunda? Lílian – Quinta. D.MARIA JOSÉ – Quinta-feira agora? Lílian – É. Hoje é terça, é depois de amanhã, eu vou ter que voltar, acabaram minha férias, mas eu vou ficar vindo nas sextas-feiras conversar com a senhora. D.MARIA JOSÉ – Hum. Lílian – Eu vou voltar pra Pau dos Ferros. D.MARIA JOSÉ – Vai voltar pra Pau dos Ferros? Diva – Ela num deixou a gente! D.MARIA JOSÉ – Foi! Rum. Diva – Cadê o bendito de Santo Antonio, que a senhora disse que ia rezar pra mim. Ia cantar pra eu ouvir? D.MARIA JOSÉ – O bendito de Santo Antonio? Diva – Sim. D.MARIA JOSÉ – De São Pedro. Toda noite eu rezo pra São Pedro. Lílian – De São Pedro? D.MARIA JOSÉ – Rum. Lílian – Qual a história de São Pedro? Ele era pescador, não era? D.MARIA JOSÉ – São Pedro era, é o dono da chave do paraíso. O que é pescador era Santo Enoque. Lílian – Ah, era? Por que São Pedro é dono da chave do paraíso? D.MARIA JOSÉ – Porque ganhou o paraíso. Lílian – Mas, por que ele ganhou a chave? A senhora sabe a história dele? D.MARIA JOSÉ – Não era ele que andava mais Nosso Senhor? Quem sabe todo sofrimento era São Pedro/... Diva – Ô! Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Senhora? Diva – A senhora vai dizer o bendito de Santo Antonio? Me ensinar? D.MARIA JOSÉ – O bendito de Santo Antonio? PESQ. COLABORADORA – Sim. D.MARIA JOSÉ – Tem dois bendito de Santo Antonio. PESQ. COLABORADORA – E qual o que a senhora gosta mais? D.MARIA JOSÉ – ♫ Antonio que tais na Itália, deixa para o sermão pra sempre, avisa teu amor que vai morrer inocente ♫.../ (( D. Maria interrompe bruscamente o canto e muda o assunto)) O carro não já passou lá embaixo? O povo tão tudo no meio do caminho [?]. Fazendo faxina e eu tô só calada, tô só calada. Quando eu disser uma coisa, vou conversar pouco, porque eu como filha de papai ... ... porque uns são neto, outros bisnetos e querem mandar mais do que eu, aí não pode. Lílian – Dona Maria porque que a senhora diz que suas irmãs têm ciúmes? D.MARIA JOSÉ – Hein?! PESQ. COLABORADORA – Por que a senhora diz que elas têm ciúmes? D.MARIA JOSÉ – Porque elas têm. Lílian – Como foi que começou essa coisa toda da senhora ficar famosa? D.MARIA JOSÉ – Dona Maria, muito famosa! Nem dente na boca tenho, ((risos)) cabelo bom não tenho, nem um dente na boca tenho. Quem disse que eu sou famosa? Lílian – Ah! Tem um bocado de gente aqui dizendo. Diva – E precisa disso tudo pra ser famosa? D.MARIA JOSÉ – Eu era safada. Lílian – Ah! Era? Por quê? D.MARIA JOSÉ – Eu só temia a Deus e a mais ninguém. Lílian – E a inveja das suas irmãs, é dessa sua força? D.MARIA JOSÉ – Da minha força? Diva – Sim, causa inveja em uma mulher, força. D.MARIA JOSÉ – Às vezes eu digo: ah! Se eu ainda fosse o que eu era! (SILÊNCIO). A velhice acaba com a pessoa, maltrato, pensamento, tudo isso acaba com a pessoa, viu? Lílian – Mas, a velhice traz coisas boas, né? D. MARIA JOSÉ - Eu apanhava muito porque eu era safada, não vou dizer que eu era boa! Lílian – Tem que reconhecer, né? D.MARIA JOSÉ – Oia! Duas coisas, duas coisa, que ele não soube: a vaca que eu matei dentro do roçado e a surra que eu dei em Zé Jacaré. Sim! Zé Jacaré/... Lílian – Zé Jacaré é aquele que foi pra Goianinha? D.MARIA JOSÉ – Não, aquele que foi pra Goianinha, foi Chico. Zé Jacaré de Santo Antonio. Lílian – E de Chico, ele soube? Essa surra que a senhora deu em Chico? D.MARIA JOSÉ – Nada, soube não. Se ele soubesse, ele tinha mim dado uma surra. Diva – Dona Maria! E como era que as moças namoravam na sua época? D.MARIA JOSÉ – Namoravam? Mais agora deu, o diabo! ((risos)) Eu sei que, mesmo papai dizia. Tem uma coisa, um dia ele ia dando em mim porque Zé Banheiro chegou lá em casa, aí comadre Maria Augusta foi botou a cadeira pra ele se sentar, aí ele se sentou. Ele embaixo da calçada e eu botei um tamburete em cima da calçada e me sentei. Aí quando papai saiu pra fora, deu um murro na minha cabeça, aí ele disse: “seu Atanásio, porque o senhor tá tão nervoso?” “Você ainda vem me falar?” Papai era bem alto, agora ele era franzino. “Você ainda vem me falar? Eu não lhe dei esse cabimento de fia minha se sentar mais namorado, não. É pra vim conversar mais eu, não é pra ir conversar mais ela, não.” Aí ele disse: “só tem uma coisa, porque eu não tô interessado no senhor, tô interessado é nela.” Aí papai disse: “Você aí vem me falar?” Aí ele acunhou no meio do mundo. Lílian – Seu pai deixou a senhora namorar com que idade? D.MARIA JOSÉ – Já tava com vinte anos, já. Lílian – Foi mesmo Dona Maria? Por que ele, ele não deixava nem a senhora ir ver o fandango? D.MARIA JOSÉ – Só ia no fandango se mamãe fosse mais a gente, ou mamãe ou titia. Titia gostava muito de mim. Lílian – Qual sua tia? É Petronila? D.MARIA JOSÉ – É Petronila, Cantonila, Antonia e Atanásio Gaspar. Lílian – Ah! só eram quatro na casa dele? (SILÊNCIO) D. MARIA JOSÉ - Agora por que, no tempo que foram me batizar minha mãe mandou botar o nome de Maria José e minha madrinha botou o nome de mamãe, o sobrenome de mamãe, ela botou meu nome, agora ninguém sabia que meu nome era Militana, depois que eu comecei a andar no meio do mundo, com os documentos. Pronto! Quando eu chego na cidade. “Oh! D. Militana, D. Militana”, eu fico putinha de raiva. Lílian – Quando foi que a senhora começou a andar no meio do mundo? D.MARIA JOSÉ – Primeiro eu fui pra Mossoró com o professor Gurgel. ((Falando com os bisnetos que brincavam perto de nós)) deixa meu cipó aqui porque esse cipó tá aqui mode sua mãe não dá-lhe, porque ela ia dá-lhe com ele. O que é que eu tava dizendo? Lílian – Estava dizendo que foi pra Mossoró com o professor Gurgel. D.MARIA JOSÉ – Sim, foi. Nesse dia eu tive tanta raiva! Lílian – Por quê? D.MARIA JOSÉ – Não, dormimos no meio da rua por causa de Seu Severino, conhece? Lílian – Não. D.MARIA JOSÉ – Seu Severino era motorista bom. Quando chegou em Mossoró, pra chegar em Mossoró, aí Seu Severino disse: “Quer Dona Militana, quer tomar café ou só vai almoçar e tomar café depois que chegar de lá em Mossoró?” Aí ele disse: “É que não tem onde comprar nada.” Aí Seu Severino disse: “Vamos ver se tem ou se não tem.” Aí chegou: “Tem um, um hotelzinho na beira do caminho.” Aí ele chegou, falou e mandou botar almoço pra gente. Aí o homem foi perguntou se a gente queria almoçar, aí ele disse que botasse frango. Sim! Quando veio o almoço, veio frango cozido, porque era dessa cor. ((aponta para a sua saia com tom avermelhado)) Lílian – O frango? D.MARIA JOSÉ – Hum. Lílian – Era? D.MARIA JOSÉ – Assado./... Vocês venham mais pra cá. Assim não vai dá pra gravar. Lílian – Não tá bom assim. D.MARIA JOSÉ – Aí Seu Severino. Aí/... Êpa, êpa, não briguem não, não briguem não, teu pai tá chamando ((falando com os bisnetos dela nesse momento))... Aí seu Severino disse: “Eu disse que queria frango assado, mas era assado não era afoguiado não. O home disse: “Tá assado.” Aí pôs a mão assim puxando o couro e chega minou sangue. Aí ele disse: leve seu galeto, que eu não quero não.” Aí trouxeram outro negócio. Aí de lá o professor disse: “Nós vamos dormir na casa da minha irmã e eu vou dormir na casa de [?] ...” Aí saímos, aí já dentro de Mossoró ele cassou um canto pra gente dormir, aí eu fiquei mais Lídia assim, aí tinha um portãozinho as divisas, né? Aí ele, o homem, veio e travou a porta, nós fiquemos desse lado e ele ficou do outro lado, aí tinha uma coisa de telefonar em cima de uma banca, aí botou pro lado que ele estava, né? Ficou debaixo da cabeceira dele e disse: “Olhe Dona Militana, qualquer coisa a senhora aperte nesse botão”... que tinha um botão verde e um vermelho... “Olhe a senhora pode apertar nesse botão que eu escuto”. Eu digo tá certo, aí fiquei. Você dormiu? Pois mesmo assim fui eu, Lídia pegou no sono, chega ressonava e eu acordada. Quando foi de manhã ele veio buscar a gente, aí disse: “Olhe, aqui é a delegacia, aqui é não sei o quê.” A delegacia era desse lado e o negócio de trabalhar em carro, a oficina de carro, assim. Aí ele disse: “Chegou, já é o dia a gente ainda vai hoje ou deixa pra amanhã? Que ela não vai mais cantar não.” “Ela não vai mais cantar não, eu tô achando muito pouco o que ela vem ganhando e outra coisa/... Lílian – Quem disse, Seu Severino ou o Professor? D.MARIA JOSÉ – Sim, Seu Severino: “Ela não vai mais cantar hoje não, só amanhã.” Quando foi de manhã, aí tava tão perto que o carro saiu de nove hora, aí cheguemo não sei aonde era mais de oito hora da noite. Aí ele disse: “Quer dormir? A senhora dorme lá em casa mais a menina?” Eu disse: eu quero dormir em casa. Aí ele tirou o carro no meio do mundo e veio me deixar em casa. Lílian – Como foi que ele lhe descobriu? O Professor Gurgel, como foi que ele descobriu a senhora? D.MARIA JOSÉ – Porque papai, ele andava muito, de oito em oito em vinha visitar papai. Lílian – Ah! Era?! D.MARIA JOSÉ – Era. Lílian – Ele já conhecia seu pai. D.MARIA JOSÉ – Era. Lílian – Então seu pai ainda era vivo quando ele lhe conheceu. D.MARIA JOSÉ – Tava. Ele vinha, ficava conversando um dia! Lílian – Faz quanto tempo que seu pai morreu? D.MARIA JOSÉ – Vinte e cinco. Vai fazer no dia dois de setembro, vinte e cinco anos. Lílian – Então faz tempo que ele conhece vocês, né? D.MARIA JOSÉ – Quando me levaram pra rua, eu dizendo a/... Eu digo: eu não vou dizer nada e quando eu cheguei, assim que eu cheguei pra entrar, tô na mente que não vou dizer nada. Lílian – Pra entrar onde? D.MARIA JOSÉ – Pra entrar aí na Prefeitura. Aí não iam fazer meu aniversário? Lílian – Ah! Sim. D.MARIA JOSÉ – Eles fizeram mais eu não sabia de nada. Lílian – E foi? D.MARIA JOSÉ – Foi. Eu digo, eu disse se quando chegar lá, aí mandarem eu falar, eu falo. Aí dizendo [?], Eu não disse nada. Lílian – E eles pediram pra senhora dizer alguma coisa? D.MARIA JOSÉ – Aí ele ((o prefeito)) chegou disse: “Se a senhora puder dizer alguma coisa, diga.” Aí mandaram eu sentar lá em cima, eu sentei, ele sentou-se de um lado e o diretor sentou-se do outro e quem pegou a cantarolar uns negócios foi Ferreirinha. Lílian – E quem é Ferreirinha? D.MARIA JOSÉ – Ferreira trabalha na Prefeitura. Lílian – Sabe cantar também esses versos que a senhora canta? D.MARIA JOSÉ – Nada. Aí ele: “Cante Dona Militana.” Não dá não, dá não. Até seu Gurgel foi. Lílian – Foi? D.MARIA JOSÉ – Foi. Eu digo: eu não vou cantar nada. Aí ele disse: “Ela já se aperriou hoje só pro mode ela chegar aqui, ela já se aperriou, pro mode ela ir cantar no meio de gente, possa ela ir se aperriar de novo.” Aí Ferreirinha disse: “vai apresentar sem ela cantar, mesmo.” Lílian – A senhora gostou do seu aniversário lá? D.MARIA JOSÉ – Foi no dia dezenove de março. Lílian – Foi agora, eu vi na televisão, que tinham vindo aqui, mas depois levaram a senhora pra lá, foi? D.MARIA JOSÉ – Foi. Diva – É bom o povo daqui também dá valor a senhora. Lílian – O professor Gurgel sabia que a senhora cantava, quando ele ia visitar seu pai? D.MARIA JOSÉ – Porque ele ia visitar papai de oito em oito dias, de quinze em quinze dias. Quando se dava fé, ele chegava. Aí ele disse, aí um dia papai cantou um verso pra ele, porque ele só ia atrás de verso e ele andou fazendo umas fita lá. Lílian – Hum! D.MARIA JOSÉ – No dia que papai morreu ele veio aí [?] Aí ele disse: “E agora?” Aí eu disse: agora fica por isso mesmo, mas aí ele disse: “Mas a senhora, sabe?” Eu digo: eu sei, mais não estou querendo ser cantora. Aí ele inventou de me levar pra lá, eu fui. Agora eu tô evitando, porque a pessoa sendo velha, sem dente... ((risos)) Lílian – A senhora gosta de cantar pra quem? D.MARIA JOSÉ – Pra ninguém. Quando vocês chegaram tinha saído um daqui, um da prefeitura. “A senhora pode cantar uns negócios?” Eu digo: eu não vou cantar não. No dia dezenove quando eu fui, fui parar no hospital. Lílian – Foi mesmo? Nesse mesmo dia que teve a festa lá? D.MARIA JOSÉ – Foi. Lílian – O que foi? A senhora ficou emocionada, foi? D.MARIA JOSÉ – Quando eu cheguei, assim que eu cheguei, aí... Conhece Paula? Lílian – Paula? Esse nome não me é estranho. D.MARIA JOSÉ – Ela era quem estava interessada, aí ela fez tudo pra ir pro Rio de Janeiro com ela, aí foi seu Sérgio e Castanha e a mulher dos dois, fumo pro Rio de Janeiro, eu pensando que eu ia ganhando um horror de dinheiro. Quando foi no fim chegou aqui ela disse: “O dinheiro vem amanhã ou a depois.” Veio me deixar vinte real, com quinze dias ela veio deixar vinte real. Eu digo: eu passo sem essa miséria, já ontem eu recebi dinheiro que fiz minha feira. Eu digo: Não muié, não carece disso não. O que foi que a senhora mim disse pra mode me seduzir? A senhora não brinque muito não que [?] “A senhora ainda tem raiva daquele dia?” Eu digo: Não sai do pensamento não, mas eu não tenho raiva de nada nem de ninguém, me faz mal. D.MARIA JOSÉ – É, o pensamento guarda as coisas e fica guardado. Lílian – É não passa assim não, né? D.MARIA JOSÉ – É. Lílian – É verdade. D.MARIA JOSÉ – Quero ver. Aí ela disse assim: “Nós tamo dando outra viagem no Rio de Janeiro.” Aí eu digo: Comigo? Ela disse: “Sim, nós duas.” Eu digo: Sim, quero só que ela venha! Lílian – E a senhora foi pro Rio de Janeiro, pra onde lá, foi cantar lá também? D.MARIA JOSÉ – Foi chamado de Antonio Nobre. Lílian – Mas, a senhora não foi com Candinha não? Foi essa vez que a senhora foi com Candinha, não? D.MARIA JOSÉ – Hein?! Foi que ele falou com Candinha, pra Candinha mandar me buscar e eu fui. Aí Candinha foi até certa altura, aí chegou não sei por onde, ela foi só descer dum avião e entrar no outro que o marido ia pra Brasília e mandou chamar, telefonou pra ela e ela, o avião tava parado, e ela voltou. Lílian – Mas, a senhora não foi sozinha, não? D.MARIA JOSÉ – Aí eu ia: a menina de Marina eu e Lídia e Dácio ia com a gente. Aí ela me recomendou a eles, aí nós fumo embora. Lílian A – A senhora gostou de Antonio Nóbrega? D.MARIA JOSÉ – Tinha uma dona lá fazendo pergunta, ela ia ganhar uns dois mil, ela ganhando dois mil e pra lá e pra cá fazendo pergunta. Aí, “Tem um curral com muito gado?” Mais repare que pergunta besta: “o que é que tem abaixo do gado?” Aí, Antonio Nobre alevantou-se e disse: “É merda.” O povo meteram o pau a mangar dela. Aí eu disse: deixa eu fazer uma pergunta a ela? Aí eu digo mim diga uma coisa, a senhora pode me responder: setecentos bois correndo quantos rastro pode ser? Ela disse: “É muito bonito ir pra um cercado, pegar na mão do gado pra ver quantos rastro podem ser.” Eu digo: pois eu digo setecentos boi correndo, a terra sendo de areia, são mil e seiscentos, rastro. Aí Antonio Nobre levantou-se e disse: “Ganhou.” Aí eu disse: e me diga uma coisa onde é que o bicho macho carrega força e talento? “Pronto tudo quanto é macho carrega força nos braços.” Eu digo: mentira sua, aí ela disse: “Pois se sabe diga.” Digo agora: touro tem no cupim; cavalo no espinhaço; onça, tigre tem no queixo, tatu peba tem nos braços; tijuaçu tem no rabo e camaleão no cangaço, aí eu disse: E agora? entendeu essa? Entenda essa? Ela disse: “agora me explique porque o camaleão tem mais força do que todo homem? Porque mais força do que o tijuaçu?” Eu digo: por que o camaleão é mais homem do que os homens? Ela disse: “É por quê?" Eu digo: encalque na macaxeira dele que ele lhe mostra porque é. Na macaxeira dele ele vira duas pintas ((risos)). Lílian – Nossa senhora ((risos)). ((nesse momento nós todas rimos muito da história)) D.MARIA JOSÉ – Eu digo: vai pegar um camaleão e traz e aperta na macaxeira dele pra tu vê se ele não é mais homem do que os homens. Aí no lugar de receber só o meu, recebi o meu e o dela, ela saiu que saiu fumaçando no meio do povo. Lílian – A senhora gostou de Antonio Nóbrega? Conversou com ele? D.MARIA JOSÉ – Eu quero dizer que ele foi uma boa pessoa. Lílian – Foi, né? D.MARIA JOSÉ – Quando nós entremos no avião tem um negro com uma perna na frente assim, desse jeito, que vai andando. Aí apertaram não sei por onde e ele disse é proibido entrar no avião fumando e é proibido entrar armado. Aí Marina disse: “A senhora vai armada mamãe?” Aí eu digo: repare aí na minha bolsa se tem alguma arma, repare nas minhas coisas se vai arma! E eu com a faquinha! Lílian – Sei. D.MARIA JOSÉ – E aí andei a vida toda nos ares. Aí fumo. Vim de Rio de Janeiro pra São Paulo, aí Marina disse: “a Senhora deixou sua faca mamãe?”, deixei tá na bolsa. Quando a menina viu, perguntou: “pra que essa faquinha?” Eu disse: Será que eu seja menino? Em terra estranha todo dia eu vejo o que se passa aqui em São Paulo eu vejo na televisão, hein?! Andando de boca aberta só nós duas, com um homem dentro do carro. Ela disse: “E o que é que a senhora faz?” Eu digo: se houver precisão você vê. Lílian – A senhora gostava Dona Maria de sair pelo mundo? D.MARIA JOSÉ – Hum! Lílian – A senhora gostava de fazer essas viagens? De cantar pelo meio do mundo? D.MARIA JOSÉ – Agora eu não vou mais não. Lílian – Mas, a senhora gostava quando a senhora ia? D.MARIA JOSÉ – Quando eu ia pra fora, eu gostava. Lílian – Por quê? O que era que a senhora mais gostava? D.MARIA JOSÉ – Eu gostava? De nada. Lílian – Hum! D.MARIA JOSÉ – Viajar é bom, mas às vezes passa um avião aqui, eu digo: Deus me livre nunca, mais de altura. Eu andei fora da terra? Lílian – A senhora teve medo de andar de avião? D.MARIA JOSÉ – Eu tive. E Marina disse assim: “Mamãe?” Pôs-se assim perto e disse: “Olhe ali aquele barraco de pedra e as ovelhas tudo comendo em volta.” Aí eu disse: Mentira! Aí eu suspendi um vidrozinho, um espelhozinho, não tem um espelhozinho? Lílian – Tem. D.MARIA JOSÉ – Aí eu suspendi, olhei, aí ela disse: “É mamãe!” Eu digo: é não menina! Aquilo ali é uma nuvem de chuva com aquelas branquinhas/... Lílian – De lado. D.MARIA JOSÉ – De lado. É não. Quando o avião tirou pras banda de lá, eu digo: taí, aí tem pedra, aí? Era até aqueles negocinhos, aqueles negocinho que vem? Taí aí tem nada? “A senhora percebe as coisas mais do que eu!” Lílian – Mais experiência, né? Mas a senhora ainda quer ir? D.MARIA JOSÉ – Eu desejo mais não. Diva – Não quer mais não andar no meio do mundo? D.MARIA JOSÉ – Quero não. Diva – Mas, gostava? D.MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – A senhora gostava de se apresentar. Conhecer um monte de gente e a senhora cantando os seus versos? D.MARIA JOSÉ – Eu não achava ruim não. Um dia a gente fumo lá pra Pedro Grilo, ((refere-se a um poeta de Natal)) conhece? Lílian – De nome. D.MARIA JOSÉ – Um que só anda com a bengala e um chapéu de palha desse tamanho! Lílian – Sei quem é. D.MARIA JOSÉ – Esse desgraçado ainda está mim devendo, um ano já fez. Lílian – E é? D.MARIA JOSÉ – É, é coisa e como é? E Ana, Ana Carla, conhece? Lílian – Conheço não. D.MARIA JOSÉ – Disse assim: “A senhora vai ganhar dois mil e a senhora recebe na hora. ” Eu disse: tu não vai me enganar, não? “Não, a senhora recebe na hora.” Mandaram eu cantar verso, eu cantei. Agora era Hélia Maia. Cuma é home? Hélia o quê? Lílian – Não sei, quem é? D.MARIA JOSÉ – Hélia Ramalho. Lílian – Elba Ramalho, que foi lá no campus, no Auto de Natal? A gente tentou entrar lá pra ver a senhora cantando, mas a senhora é muito importante, ninguém, ninguém deixou. D.MARIA JOSÉ – Não deixou o quê? Lílian – Não deixaram a gente entrar pra ver a senhora não. D.MARIA JOSÉ – Não deixaram entrar não? Lílian e Diva – Não. Lílian – A gente disse: mas, ela é minha amiga, a gente vai lá na casa dela conversar com ela! Mas não deixaram de jeito nenhum. D.MARIA JOSÉ – Hum, Hum! D.MARIA JOSÉ – Aí, ela recebeu o dela na hora. Lílian – Aquela lá? E a senhora não recebeu ainda não? D.MARIA JOSÉ – Não. Lílian – Foi mesmo, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Aí ela na hora, pagaram a ela. Aí Ana pagou a ela, aí disse: “amanhã logo cedo vou deixar seu dinheiro.” Até hoje, mais ela, ela ainda vem atrás de mim. Lílian – E por que a senhora acha que pagaram a ela e não pagaram a senhora? D. MARIA JOSÉ – Ela não é pobre, né! ((Chega a filha de D. Maria e pede que ela tome conta de um dos bisnetos. Nos distraímos com as brincadeiras das crianças. Depois nos despedimos.)) 3.2.9. Transcrição 7 Transcrição da entrevista realizada em 12 de maio de 2005, na Casa de Benidita, Loteamento Alto de Canaã, São Gonçalo do Amarnate. Nesse dia, encontramos D. Maria José muito bem disposta. Já estava nos guardando e, como tínhamos nos atrasado, ela reclamou um pouco, dizendo que já estava convencida de que não viríamos. Animadamente, pede que eu ligue o gravador. Começa contando a história da mulher que tinha ligado do Rio de Janeiro para ela. Diz: D.MARIA JOSÉ – Grave aí. Ela perguntou a minha idade, Eu digo: a era em que eu nasci, você faça a conta de idade, só pra ver se ela dizia, aí ela disse: “a quanto à senhora nasceu?” Aí eu disse: na era de vinte e cinco, a dezenove de março, às doze horas do dia, foi aí meu nascimento, a lua tava de minguante, a maré tava de vazante, a lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte e agora eu digo: sou a mais sofredora do Rio Grande do Norte. Aí ela disse: “agora eu mim lasquei”. Eu digo: e não já nascesse lascada? ((risos)) Aí ela danou a risada, no telefone. Lílian – Quer dizer que a senhora, inventa verso também, né? D.MARIA JOSÉ – Ah! Lílian – A senhora inventa verso também, né? D.MARIA JOSÉ – É. D.MARIA JOSÉ – Um dia, me levaram lá pra aquele teatro de Pedro Grilo. Lílian – Hum! D.MARIA JOSÉ – Não sabe? Lílian – Sei. D.MARIA JOSÉ – Aí chegou um cara com a barba bem aqui, aí eu tava cantando, aí eu disse: ♫ valha-me Deus, senhor São Pedro, de homem barbudo eu tenho medo. Valha-me Deus, meu senhor São Bento, que barba grande e é pioienta. ♫ Aí o povo ficaram acanaiando ele e ele disse: “eu vou mimbora daqui.” A muié disse: “peraí deixe ela cantar mais.” Aí ele saiu. Diabo de uma barba véia, um home novo com uma barba, chega era bem por aqui, chega era feia, nem mesmo tratava. Lílian – Esse a senhora criou na hora, na hora que olhou pra ele? D.MARIA JOSÉ – Foi, foi! Lílian – E quando a senhora estava trabalhando, a senhora criava também? D.MARIA JOSÉ – Quando eu tava trabalhando? Lílian – Sim, na roça? D.MARIA JOSÉ – Criava, e quando eu tava moendo mandioca mais papai, não era eu que tirava na frente? Lílian – Mas, esses que a senhora tirava na frente, a senhora ia inventando na hora? D.MARIA JOSÉ – Era. Quando eu era gente que mim sentava lá no olho do cajueiro, quando eu tinha raiva dos namorados, aí mamãe dizia: “lá vem Chico Curinga.” Aí eu me trepava, lá no olho do cajueiro e metia o pau a cantar. O galho do cajueiro ia lá e vinha cá e eu lá em cima atrepada. Maria dizia: “Maria?!” Eu dizia: senhora? “Chico tá aqui.” ♫ Eu digo: tu vais ingrato, repousar bem longe. Nunca te esquece, do amor que foi teu. Se perguntares, quem foi a tua amada? Responde, ingrato, ela já morreu. ♫ Eu era safada. Lílian – Mas essa, foi a senhora que criou também? D.MARIA JOSÉ – Papai: “Maria José, quem é que ensina tanto, as coisas a tu?” Eu digo: ninguém. Lílian – Mas aquelas histórias, a senhora não inventou não, né? D.MARIA JOSÉ – Papai era trabalhando e cantando, e eu colando na cabeça. Lílian – A senhora me disse uma vez, que tinha uma tia que lia. D.MARIA JOSÉ – Era tia Petronila, a mais velha irmã de papai, era só quem sabia ler. Ela lia toda qualidade de folheto. Um dia, mandaram me chamar em Natal, só pra mode eu cantar o verso de Antonino, óia? Perguntaram: A senhora sabe o verso de Antonino? Eu digo: vocês sabem ler? Então pega um folheto, pra ler no folheto. E eu que venha cantar verso pra vocês? Lílian – Mas no folheto não tem o canto. D.MARIA JOSÉ – Tem assim a pessoa queira. Lílian – E é? Como assim? D.MARIA JOSÉ – Porque é, tem que cantar no folheto, também. Onde é que os cantor aprende? Num é nos folheto, não?! Lílian – Mas, como vai saber o ritmo, a melodia? D.MARIA JOSÉ – Eles botam. Lílian – Como? D.MARIA JOSÉ – Eles botam o ritmo. Lílian – Então, é a senhora que bota nos seus? D.MARIA JOSÉ – Óia, o que eu ia dizendo. Lílian – Ia dizendo, o quê? D.MARIA JOSÉ – Você não disse, que eu era quem botava ritmo nos meus? Lílian – Eu estou perguntando, não estou afirmando, não. D.MARIA JOSÉ – O verso mais comprido, que tem de aprender, é o de Marina e eu canto ele todinho. Lílian – É bonito. Por que é difícil de aprender? D.MARIA JOSÉ – O verso de Marina? Porque Marina era. Ela foi muito safada, era criminosa de não sei quantas mortes. Lílian – Marina era criminosa? Por quê? D.MARIA JOSÉ – Era, porque era. (SILÊNCIO) Lílian – Qual a história do verso de Marina? D.MARIA JOSÉ – Hum?! Lílian – Conta a história, de quê? D.MARIA JOSÉ – Vexada pro mode aprender, né? Lílian – Eu só tô perguntando a história do verso de Marina. E por que eu não posso aprender? D.MARIA JOSÉ – Porque eu estou com dor de cabeça, aí não quero cantar, não. Lílian – Não, mas não cante, eu quero só que a senhora conte a história, fala de quê? D.MARIA JOSÉ – Tem o verso de Marina, tem o verso, de como é meu Deus? Eu sei lá mais! ... O verso cantando eu ainda me alembro. Que Marina era filha de um barão ou era de um rei, agora o rei não queria que ela casasse com Alonso. Marina era uma princesa muito rica e educada, porém amava Alonso, que não possuía nada. Alonso foi enjeitado, criado por um ferreiro trapio, morto de fome, sabe que se cria assim todo os dias não come. Aí findou ela... o rei... veio um primo dela.... O rei arrumou um rapaz pra casar com ela, que era do gosto dele, aí ela foi disse a ele, que matava ele, matava o rapaz. Aí ele, levou o casamento a frente. Na hora do casamento, cruzou o noivo à mão. Marina cravou um punhal, em cima do coração e ele caiu sem ação. Aí partiu o irmão dele pra vingar nela seu irmão, ela cravou-lhe o punhal e ele caiu sem ação. Ela disse: “o que vier.” Aí ela disse pro pai dela: “cumpri minha jura, ou não? Até o senhor, se cruzar, sofre a mesma, a mesma punição.” Aí ele foi, entregou. Quem levou ela pra cadeia foi o padre. Chegou lá, botaram ela na cadeia. E Alonso? Ele disse que ia mandar matar Alonso. Ela botou Alonso pro meio do mundo, pra não sei onde/... quando eu me lembrar o nome do lugar, eu digo/.... Aí, antes dela entrar na prisão, ela mandou uma carta./... Sim era pra Japão./... Ela escreveu uma carta e mandou. Aí, quando ele recebeu a carta, diz: “agora que eu me vingo do barão!” Aí pegou o barco, de lá pra cá. Aí quando chegou na rua, não queria que o barão soubesse que ele tinha vindo, aí andava na rua, cassando, ver se sabia notícia dela. Aí ele encontrou um velho que lhe pediu dinheiro, faz três meses que trabalho e não recebo dinheiro, aí Alonso olhou e viu que ele era carcereiro. Aí disse: “o senhor é carcereiro?” Ele disse: “sou, sou carcereiro.” “E essa chave é de abrir o quarto onde tá presa a menina do barão!” “Faz três dias que o ferro pesado corta, eu penso que amanhã ela amanhece morta.” Aí ele ofereceu vinte mil conto de réis pra mode ele abrir a porta, Aí ele foi e abriu a porta. Aí Alonso quando viu Marina no chão, quis desmaiar de ver Marina no chão. A pessoa sem comer e num sofrimento desse! Aí ele levava leite e rapidamente esquentou, deu um pouquinho a Marina e Marina melhorou. Aí ele vem saindo com Marina, ele e o velho, vem saindo e cinco oficial o cercou. Aí foram em cima dele. Aí Alonso matou dois e Marina matou dois e ficou um e fugiu. Aí contou ao barão que eles tinham fugido. Aí o velho levou eles dois e conservou dentro de uma cova, um buraco, não sabe? Lílian – Sei. D.MARIA JOSÉ – Aí eles carregaram o navio todo, só a fim de encontrar, mas o velho amigo de Alonso, dentro de uma cova, conservava. Quando foi meia noite ele foi no navio e disse ao capitão do navio que queria partir cedo. Aí ele disse que demorasse que o barco tava vazio, ele disse que queria partir que o tempo tava [?]. Aí o capitão do navio disse, que o barco tava vazio. Aí o véio escondeu eles dois e depois que ele lotou o navio disse que ele podia partir e contasse com ele. “Amigo pode sair do meu barco, se fizeram de mim [?]”. Às doze horas da noite, do dia, eles saíram. Quem vai sair escondido sai de dia. Eles saíram, aí o barão botou o navio dele atrás. Doze horas do dia os barcos se confrontaram, aí o capitão morreu logo, dos tiros que levaram, que trocaram. O capitão disse: “pode embarcar no barco comigo até [?], pode sair no barco que fizeram de mim [?]”, foi quem primeiro morreu. Ele e Marina seguiram no meio do mundo, de mar adentro, aí o navio afundou e caiu numa tauba, numa tal duma tauba, aí dizia, Marina ouviu uma voz que disse: “adianta, chegará uma onda que salvará tua vida.” Ela disse: “e que voz é que tais falando?” Ela disse: “Marina, eu sou tua mãe, que ando te acompanhando, há quinze anos que morri e ando por ti velando.” Aí foi botar ela na beira, aí eles ficaram. Aí vinha um velho, que vinha pescando, aí viu eles e deu uns gritos, pensando se era alma do outro mundo ou se era salteador. Aí, Alonso disse: “nem somo alma do outro mundo, nem somo saltiador, somo dois naufragados, lutamos a noite inteira, estamos ainda gelados.” Marina estava no chão, aí o véio foi em casa e trouxe um vestido da muié. Aí dizia. Alonso vestiu Marina, que tinha esmorecido, e Alonso embruiô-se com a capa que velho tinha trazido. Aí Alonso disse, perguntou ao véio se ele não conhecia quem trouxesse um barco novo. Aí ele disse: “conheço Manassés”, aí ele disse: “também conheço, é meu amigo, é meu freguês e amigo, só tem que eu nunca o vi.” Aí ele veio deixar o barco, aí ele pegou o barco e lascou no meio do mundo, não teve pai que empatasse dele se casar com ela. Eu tô com dor de cabeça que só! Lílian – E terminaram casando os dois? D.MARIA JOSÉ – Foi terminaram casando. Lílian – É bonita a história, Dona Maria. D.MARIA JOSÉ – É toda de sofrimento. Lílian – É. Marina é uma mulher muito forte, né? D.MARIA JOSÉ – É. Muito forte. Eu gosto dela. Aí mamãe... Comadre Elba teve um menino e ia mandar botar o menino na areia do rio. Aí eu cheguei e disse: mamãe?/... Que a casa dela era mesmo aqui, perto da minha casa, como aquela de lá. Lílian – Hum, hum! D.MARIA JOSÉ – Aí tia Cantu: “minha filha não faça isso, não.” Que ela era neta da minha tia. “Faça isso não.” Mais tarde... “mais eu não vou criar”, o bichinho tão alvinho! ... aí mamãe chegou e disse: “Elba, tu vai botar o menino no mato?” “Se não botarem ele no mato ou na areia do rio, eu mato ele.” Mamãe disse: “não mata, não! Me dá.” Aí ela disse: “pode levar.” Aí mamãe levou pra casa. Mamãe tinha Marina, aí botou o nome do menino de Alonso. Lílian – Ai! Que bonito! D.MARIA JOSÉ – Quando o menino tava com oito meses, morreu dessa grossura. Mamãe chorou, quando o menino morreu! Lílian – Quer dizer que o nome de Marina... Você tinha uma irmã que chamava Marina? D.MARIA JOSÉ – Minha irmã? É minha filha! Lílian – Não, mas não foi sua mãe que tinha Marina? D.MARIA JOSÉ – Mas, mamãe não tinha Marina, que era neta dela? Lílian – Ah! Sua filha, entendi! D.MARIA JOSÉ – Aí, ela vivia mais com Marina, do que mesmo eu. Lílian – E a senhora botou o nome de sua filha de Marina, por causa dessa história? D.MARIA JOSÉ – Foi. Lílian – Foi?! Que bonito! D.MARIA JOSÉ – Ela é mais clara do que Benidita, puxou a Mané Luiz Lílian – Eu já vi Marina, lá na outra casa. D.MARIA JOSÉ – Marina e Maria. Zé Luiz, puxaram uma cor de Mané Luiz e os outros puxaram a mim. Lílian – Sei. Então, a senhora gosta de Marina dessa história? D.MARIA JOSÉ – Eu quero bem a ela. Acho uma mulher safada que nem eu! Minha Marina... Quando o pai foi simbora, eu fiquei com eles sete, aí ela foi trabalhar nas cozinhas. D.MARIA JOSÉ – Ás vezes eu mim sento aqui...(SILÊNCIO)...agente da mocidade pra velhice muda muito. Lílian – A senhora mudou, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Mudei. Lílian – Mudou em quê? D.MARIA JOSÉ – Eu hoje não derrubo nem um pinto, mais. Lílian – Que é que a senhora sonhava em ser? Todo mundo quando é pequeno tem vontade de ser alguma coisa? A senhora fez tudo que queria na vida? D.MARIA JOSÉ – Eu não. Lílian – O que é que a senhora queria fazer que não fez? D.MARIA JOSÉ – (SILÊNCIO) Que não fiz? Lílian – Sim. D.MARIA JOSÉ – Porque no tempo que eu era gente, porque hoje em dia eu não sou gente. Porque diz assim: lá vêm duas moças, ou três moças, e uma velha! Aí eu não sou gente, sou velha! Mas, não é não? Lílian – Não é não. Nesse seu raciocínio, menina também não é gente, é moça. D.MARIA JOSÉ – Então, tudo muda, mas no tempo que eu era gente/... Eu saí de casa, aí eu digo: Mané se é de tá pagando aluguel de casa, é melhor a gente fazer uma casa. “Eu sei lá, qual é a madeira de fazer uma casa!” Eu mandei Raimundo, eu mandei Raimundo Gato tirar os esteios e as linhas. Ele tirou os esteios e as linhas e eu botei a casa no mato, tirei enchame, tirei os caibros, tirei as varas, aí paguei a Raimundo pra infincar, papai foi marcou e ele mais papai botaram os esteios e as linhas e o mais eu tomei conta. Cavei um barreiro de barro, cavando o barro e paliando pra fora, uma ruma do barro, amassei de duas vezes, que não dava pra amassar de uma vez só. Eu fiz essa casa, eles levantaram, eu enchamiei, fiz amarrações, envarei todinha, amassei o barro e tapei a casa. As paredes das biqueiras e as paredes da frente, eu tapei até onde eu alcançava. Aí Raimundo ia passando: “a senhora vai cair daí, é com essa vasilha de barro.” Aí tapou a frente, de um canto a outro. A casa foi eu quem fiz. Lílian – E Mané, não lhe ajudou? D.MARIA JOSÉ – Mamãe dizia: “porque compadre Mané não vai tapar as paredes?” “Eu nunca tapei parede, eu não sei tapar parede.” Ele dizia. Lílian – Era mole ele? D.MARIA JOSÉ – Era preguiça. Só não era mole pra fazer filho! ((risos)) Lílian – Isso aí ele fez dezoito, né? Diva – A senhora ficou quanto tempo casada com ele, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Eu sofri muito! (SILÊNCIO). Passei quantos tempos? Lílian – Sim. D.MARIA JOSÉ – Passei vinte e nove anos. Lílian – Contando com os quatorze que ele passou fora? D.MARIA JOSÉ – Não. Os quatorze anos que ele saiu de casa, eu fiquei com esses sete filhos. Quando chegou, José tava com quatorze anos, quando ele foi embora e Raimundo com seis anos. Quando ele chegou, Raimundo já estava noivo e José já tava na casa dele. José com quatorze anos, pegou a trabalhar numa vacaria, lá na milharada, era tão grande, quando dava tantas horas da tarde, eu ia pra encontrar ele, ia ver ele, vinha deitado na carreira de lá pra cá e quando mim avistava parava a carreira. Não sofri, não? Lílian – Demais. D.MARIA JOSÉ – Me casei e saí da casa de papai com dois vestidos. Era porque eu não trabaiava? Trabaiva e não via um tostão, porque eu trabaiava e chegava e entregava o dinheiro. Fui pra maré, na quinta-feira maior de um ano e terminei no sábado de páscoa do outro ano, ia pra maré todo dia, todo dia, todo dia... (SILÊNCIO). Diva – A senhora ia pra maré aqui nos Barreiros? D.MARIA JOSÉ – Todo dia, todo dia, eu ia. Se levasse o que comer era bom. Passava o dia na maré, tirando unha de velho. D.MARIA JOSÉ – Sofri, não? Hoje as minha perna não vale nada. Lílian – Por que andou demais? D.MARIA JOSÉ – Aí minha madrinha disse: “num é possível que tu vais largar o couro dos pés de andar pra Maré.” Aí comprou um vestido pra mim, de fustão branco com [?] encarnado. Aí papai disse: é pra fazer o vestido, que a roupa da gente tem que ser por aqui, que nem velho. Aí eu mandei fazer o vestido godê. Lílian – Nossa! D.MARIA JOSÉ – Aí ele disse; “quem te mandou fazer essa qualidade de roupa? Pois, tu vai mandar ajeitar o vestido.” Já tinha sido cortado, ia dar jeito de quê? Aí eu tinha ido pra missa, mas quando subi o patamar da igreja, o vento pegou o vestido e sacudiu na minha cabeça, por Deus que nesse tempo as muiés não andavam só com o vestido em cima do corpo, tinha a meia saia. Aí ele disse: “Oia, mais nunca mais, tu veste esse vestido pra sair mais eu. Vou cortar o vestido no seu couro. Mamãe diz: “Não corte porque tu não dais a ela um fiapo. O dinheiro que ela ganha, ela te entrega e ela já dê graças a Deus a madrinha dá um vestido, que tu não dais de vestir a ninguém.” Aí ele disse: “Tá certo. Domine ela como quiser.” Era um vestido godê, a costureira era até prima da gente, era Gonçala de Teó. Vocês conheceram Teó? Diva – Eu sou daqui, ela não é daqui? Mas, não lembro dele não. D.MARIA JOSÉ – Tu não disseste que era de Santo Antonio? Diva – Sou. D.MARIA JOSÉ – E então? Diva – Mas eu não me lembro, mamãe que deve conhecer, papai... D.MARIA JOSÉ – Aí Gonçala: “eu vou fazer o vestido bem feitinho, era bem feitinho mesmo, mas aí papai não deixou terminar o vestido.” Lílian – Não deixou terminar? Mas, a senhora não usou mais não? D.MARIA JOSÉ – Quem? Lílian – A senhora. D.MARIA JOSÉ – Eu vestia ele, mais botei em casa. Usava pra tirar cipó. Lílian – Ôh! Um vestido tão bonito! Lílian – E a missa?! A senhora no domingo, o que é que fazia no domingo? Porque todo dia trabalhava! D.MARIA JOSÉ – Todo domingo eu ia pra missa, eu passava a semana tirando unha de veio ou pegando siri e no domingo ia pra missa. Chegava da missa, acabava de almoçar, ia pescar na levada. Tá vendo, minha vida, como é que foi? Lílian – Quer dizer, que nem no domingo a senhora saía pra se divertir, pra dançar? D.MARIA JOSÉ – Pra dançar?! Lílian – Sim. Não dançavam um pastoril, essas coisas, não ensaiavam, não? D.MARIA JOSÉ – Não, a gente era muito besta! Pra papai dá na gente da rua até em casa?! Lílian – E era? Mas, a senhora tinha vontade de dançar? D.MARIA JOSÉ – Um dia ele deu em comadre Maria, em comadre Maria Bune. Lílian – Por que ele deu? D.MARIA JOSÉ – Por quê? Foi Benidita. A gente fumo pra rua, agora Benidita é mais nova do que a gente, aí eu já tava casada, aí papai disse: “repare, todo mundo vai pra uma festa, aí minha filha fica nem casa porque num tem com que ir”. Experimentei o vestido de Bune, não deu em mim, os de Raimunda, o de Eva, nem um deu em mim. Porque hoje eu num tô na metade do corpo que eu era. Aí papai disse: “Tá ruim.” Aí tirou uma saia de mamãe e uma blusa, aí eu fui pra rua. Quando chegou lá, aí comadre Benidita meteu-se no baile, dançando. Aí compadre Gaspar, chegou, espiou, aí veio em casa, aí chegou em casa e papai disse: “cadê as meninas tão lá?” “Comadre Maria tá lá sentada no patamar da igreja, esperando por Benedita. E Benedita?”... Compadre Gaspar disse: “Tá lá no baile, dançando.” Papai disse: “agora é por aqui.” Aí foi, comadre Bune foi, compadre Gaspar foi e avisou a papai e correu na frente. Chegou lá disse: “cuidado.” Aí chegou, foi tirar ela, pegou no braço dela: “solte o cavalheiro que meu pai vem aí”. O cavalheiro arrastou e ficou dançando. Sem se importar. Aí eu cheguei e disse: o senhor faz favor de soltar; aí ele disse: “eu vou soltar porque a senhora pediu, não foi que nem Gaspar.” Aí soltou. Aí a gente viemo, viemo e quando cheguemo mesmo em frente o mercado, aí papai já vinha, de lá pra cá. Pegou comadre Benidita Lílian – coitada! D.MARIA JOSÉ – Ele deu-lhe tabefe, aí ela fez carreira na frente, quando chegou naquela mangueira, aquela primeira mangueira, de lá pra cá que tem assim no Oiteiro, ela foi se virar pra conversar, pra falar, não sei com quem, papai vinha a pé junto, plantou-lhe a munheca, ela comeu areia. Nunca mais casou e não foi mais nunca pra rua, pra mode ir dançar. Lílian – Ela ficou solteira? D.MARIA JOSÉ – Não ela, ela não era solteira, Ela era moça, ela e comadre Severina, aí nesse dia, ela não quis mais saber de dança, não. Aí casou agora, tem, parece que é, sete filha moça em casa. Parece que é sete, é de seis a sete e três fio home. D.MARIA JOSÉ – Quando eu era menina gostava de brincar de boneca. Lílian – Fazia as casinhas. D.MARIA JOSÉ – Tinha os pés de mato aposto na frente da mangueira assim, a gente fazia sala, fazia corredor, fazia cozinha, brincava de cozinhado, brincava de boneca, mas pra sair das casas dos outros, papai chamasse uma, não tivesse, quando chegasse o pau comia. Lílian – Podia não?! D.MARIA JOSÉ – Não. Lílian – Então, a senhora não dançava: lapinha, pastoril, nada disso. D.MARIA JOSÉ – A gente brincava em casa. D.MARIA JOSÉ – A gente brincava em casa, inventava, brincava em casa e brincava, era grito de cego nos terreiros. D.MARIA JOSÉ – Papai dizia: “vocês tão doida?” Mamãe dizia assim: “se elas sair apanha, se tão brincando no terreiro, tu quer empatar?” Lílian – Qual dessas danças, a senhora gostava mais? D.MARIA JOSÉ – Às vezes eu gostava de brincar mais de boi de reis. Lílian – Boi de reis, era? Quem que fazia o boi? D.MARIA JOSÉ – As meninas se vestiam num saco de estopa e ia brincar. (SILÊNCIO) Era bom! Mas depois eu cresci. Depois que eu cresci, deixei de cozinhar, de trabalhar na casa de farinha e no roçado, depois que eu casei, mas enquanto tava em casa? Papai dizia assim: “eu não tenho fio home, meu fio home é você Maria José, vambora pro roçado!” O que era que eu, podia fazer? Aí a gente trabalhava alugado, eu era quem mais trabalhava lá em casa. Comadre Bune, trabaiava, um tostão ela não dava em casa, era só pra luxar. Quando ela casou, foi preciso comadre Eva, sentar em cima da mala, pra trancar a mala dela. Só duas redes e cinco lençóis, ela levou. Eu saí de casa levei dois vestido e uma rede remendada, porque papai era sozinho, pra dá de comer a onze boca, com a dele, eu tinha que ajudar o velho. Lílian – Mas, sempre tem alguém que ajuda! D.MARIA JOSÉ – É eu ajudava a ele, eu ia pra feira, quando não tava trabaiando alugado, ia fazer cesta e ia pra feira levando as cestas, vendia as cestas. Quando eu vinha, aí mamãe gostava muito de botar um pedacinho de toucinho no feijão, ela gostava! Gostava de coração de gado, rins, era o que eu comprava pra ela. Assar um pedaço de tripa pra comer, era a coisa mais difícil, ela não comia nem a pau, nem assado, nem cozinhado. Aí, quando eu vinha, vendia minhas cestas, aí chegava na banca e comprava. Ou um quilo ou quilo e meio, conforme o dinheiro que eu fizesse. Toucinho e comprava bolo pra ela, carne seca. Carne seca ou coração. Mamãe dizia: “Deus te proteja, eu não quero nunca que você reclame da sorte que tem.” Eu tenho reclamado muito, mais ainda tô por aqui, contando a história, até quando Deus quiser. Agora, eu já mandei botar um jogo pra mim e o jogo falou que eu ia morrer, com trinta anos. Já tô com oitenta. Lílian – Um jogo? Como é esse jogo? D.MARIA JOSÉ – Jogo do búzio. Lílian – Ah! Sim! Diva – Quem colocou? D.MARIA JOSÉ – O cabra pega o búzio e chama por todos os santos, aí joga àquele que fica de boca pra cima, chamar o nome da pessoa jogar pra cima, tá dizendo tudo quanto ela vai passar. Lílian – Ah, sei! Diva – Mas, é aqui em São Gonçalo, que tem esse jogador? D.MARIA JOSÉ – Quem fazia isso, Deus levou. Deus levou, não mataram. Era um primo meu, ele era catimbozeiro. Diva – Qual? D.MARIA JOSÉ – Raimundo Tavares. Diva – Raimundo Tavares era seu primo? D.MARIA JOSÉ – Era. Diva – Conhecia. D.MARIA JOSÉ – Filho de uma irmã. Era prima e comadre quatro vezes. Diva – Ele tinha um terreiro lá perto da casa de mamãe. D.MARIA JOSÉ – É. Diva – Eu sei que ele morreu D.MARIA JOSÉ – Mataram ele. Diva – Há pouco tempo? D.MARIA JOSÉ – Sem precisão nenhuma. Diva – Foi. Lílian – Foi nesse terreiro que a senhora trabalhou? D.MARIA JOSÉ – Hum? Lílian – Foi nesse terreiro que a senhora trabalhou? D.MARIA JOSÉ – Eu não trabalhei não, eu assistia. Lílian – Não tinha um que a senhora trabalhava, que a senhora disse? D.MARIA JOSÉ – Quem tomava conta dos médium era eu, eu era secretária do terreiro. Diva – Do terreiro de Raimundo? D.MARIA JOSÉ – Hum. Lílian – A senhora era casada, nessa época? D.MARIA JOSÉ – Era. Ele mesmo, que pediu a Mané Luiz, porque ia três moça: ia Nazaré/... como é o nome da fia de comadre?/... ((faz grande esforço para lembrar)) Ia três moças e os pais não consentia, ia na companhia de comadre Dora. Comadre Dora era meia... aí papai foi, pediu a Mané pra mode deixar eu ir e eu ia. Aí Mané, um dia foi pra lá. Foi Mané Luiz, compadre João. Foi no dia que a médium de compadre Raimundo tava manifestada, aí tirou a chibata do vaqueiro pra dar em compadre João, aí eu digo: levantou o braço, baixe! Pode dar agora, não conte com ninguém, pode dar. Aí compadre Raimundo, levantou a cabeça, que tava fazendo um trabalho [?], levantou a cabeça. “Pra que isso?” Por que que ele tá fazendo palhaçada. Aí ele disse: “Tais doida?” Ela disse: “nada.” Aí eu disse: bote a chibata no canto. Aí botou. Eu digo: agora saia, saia de dentro da ... ... pra fora. Aí ela disse: “Tá vendo seu Raimundo!” Compadre Raimundo disse: “Ela manda em mim, se eu tiver errado ela bota na rédea.” Ela não podia pegar uma chibata pra mode dá num sobrinho meu? Agora, ela pensava que ele não era nada da gente. Era sobrinho de compadre Raimundo, sobrinho meu [?]. Diva – Aí a senhora, ia do Oiteiro pra Santo Antonio? D.MARIA JOSÉ – Hein! Diva – Aí a senhora, ia do Oiteiro pra Santo Antonio, lá pras reuniões, lá? D.MARIA JOSÉ – Em Macaíba, quando ele morava em Macaíba. Lílian – A senhora tirava, do Oiteiro pra Macaíba? D.MARIA JOSÉ – Era. D.MARIA JOSÉ – Ía no domingo e na segunda-feira, agora na segunda-feira, a gente dormia e voltava na terça-feira, depois dos trabalhos. Lílian – E o que era que a senhora fazia? Tomava conta dos médiuns, como? D.MARIA JOSÉ – Hein! Lílian – Como era que a senhora tomava conta? D.MARIA JOSÉ – Ali o médium, não era pra brigar, não era pra falar, não era pra cochichar, nem era pra falar mal um do outro. Lílian – Ah! A senhora ficava olhando! Lílian – E a senhora, eu posso fazer uma pergunta? E a senhora, ia pra missa e ia pro terreiro? D.MARIA JOSÉ – Ia pra missa e ia pro terreiro? Lílian – Sim. D.MARIA JOSÉ – E o que é que tem? Lílian – Não tem nada não, né? D.MARIA JOSÉ – Não, porque compadre Raimundo todo domingo ia pra missa! Lílian – Ah, era? D.MARIA JOSÉ – Só ia pro terreiro depois que ia pra missa, lá em Macaíba. Diva – Não. Porque eu vejo o pessoal lá em Santo Antonio, não vai à missa, não. D.MARIA JOSÉ – Porque são crente. Eu acho que tô com sono! Lílian - Tem dormido bem? D.MARIA JOSÉ – Eu me deito, assim vejo os galo cantar, duas vezes, três vezes, aí pego aquela madorna, aí quando penso que tô dormindo, me acordo. Na amanhecença do dia, o galo tá amiudando, às vezes eu abro a porta, venho aqui espiar, às vezes a barra vem subindo. Essas chuvas dessa noite, eu vi tudinho. Lílian – Foi? Então, isso é a causa dessa sua dor de cabeça? Às vezes é a pressão. Quando a senhora vai dormir, fica pensando... D.MARIA JOSÉ – Às vezes Benedita diz: “mamãe, vá dormir, pro mode ver se passa essa dor de cabeça.” Eu me deito ali, quando o sono quer chegar eu meto os pés, me levanto e venho aqui pra fora, que é pra dormir de noite. Diva – Aí nem dorme de tarde, nem de noite. D.MARIA JOSÉ – Nem de noite. (SILÊNCIO) D.MARIA JOSÉ – Como é que eu acendo meu cachimbo, esse negócio aí gravando tudo que eu tô dizendo? Lílian – A senhora quer que eu desligue? D. MARIA JOSÉ - Não. Quando a gente tá conversando, tá se lembrando dos passados. Lílian – Se a senhora quiser eu desligo, mas a gente só tá conversando... D.MARIA JOSÉ – Só tá conversando? Lílian – É. D.MARIA JOSÉ – A pessoa sem dente, aí bota um diabo de um pau na boca. Lílian – Não tem nem como segurar o fumo? ((risos)) D.MARIA JOSÉ – Não pode nem segurar o cachimbo na gengiva, que a gengiva dói. Lílian – Não ia botar os dentes? Cadê os dentes que ia botar? D.MARIA JOSÉ – Tem essa parte aqui, mas tá folgada, seu Rivaldo não apareceu mais, que eu ia dizer a ele que fizesse a outra parte, que eu pagava. Diva – Eita! Se botar os dentes, ainda vai arranjar um namorado! ((risos)) ((Começamos a brincar com D. Maria. O ambiente torna-se bem descontraído)) D.MARIA JOSÉ – Tá pensando que eu ainda sou pilão? Diva – Não quer ser mais, não? D.MARIA JOSÉ – Não. Negócio de pilão ficou pra vocês duas. Diva – Uma coisa tão boa! D.MARIA JOSÉ – Hein? Diva – Uma coisa tão boa! D.MARIA JOSÉ – Vou ver se eu ainda acendo o cachimbo. Não. Vocês acham bom, eu não, pra mim não! Lílian – Deixe de conversa, que você teve dezoito meninos. D.MARIA JOSÉ – Hein? Mas, isso era no tempo que eu era besta. Diva – Nunca teve vontade de se casar de novo, não? Quando Mané Luiz foi embora? D.MARIA JOSÉ – Deus me livre. Lílian – Mas, apareceu alguém? D.MARIA JOSÉ – Um dia eu cheguei lá no sogro de compadre Raimundo, aí quando dou fé, o primo dele passou, quando voltou com a garrafa de cana: “pegue!” Eu digo: porque não pega a garrafa de cana e dá pra sua mãe? Aí ele disse: “não, a senhora não bebe, não?” Eu digo: não, ainda se eu bebesse, não ia pedir cachaça ao senhor, não. Me respeite, tenha vergonha! Compadre Raimundo tava lá no pé do alto, fez carreira, chegou, disse: “o que é isso?” Ele era primo de compadre Raimundo. “O que é isso compadre?” “Não, eu comprei a garrafa de cana pra ela, porque eu quero perguntar a ela, se ela quer casar comigo.” Eu digo: porque o senhor não pega sua mãe e casa com ela? No inferno tem uma côa solteira, porque o senhor não casa com ela? Aí ele chegou pra compadre Raimundo: “e você não vai dizer nada”, “ela chegou, tava aí no pau sentada, não lhe chamou a atenção. Quando ela chega nos cantos, ela não fala com ninguém e sai, não se despede de ninguém. Tu tão velho! tu não dá conta dos teus filhos, vai dá conta dos outros.” “É mais ela é viúva, eu sou viúvo também.” Eu digo: pois, no inferno tem uma côa que é viúva, vá atrás dela! O que é que o senhor tá entendendo? Compadre Raimundo: “pra dentro comadre Maria!” Mais, nunca ele pisou no terreiro de compadre Raimundo. Compadre Raimundo disse: “eu mostro se ele não pisa mais aqui.” Diva – Tá vendo como teve um pretendente? Alguém querendo casar com a senhora? D.MARIA JOSÉ – Outra vez, eu fui, mim chamaram pra cantar lá na gravadora lá em Natal. Aí, mandaram me buscar, aí eu fui, cantei o verso de Marina, o verso de Antonino, cantei o verso de [?] cantei o [?]. Cantei os versos, aí depois foi as cantoras de coco, aí Nilo disse: “cante uma despedidinha”, digo: eu vou cantar, aí cantei o coco da lagatixa. D.MARIA JOSÉ – Aí meti o pau a cantar, no meio do povo. Aí eu, quando saí só vi o home espiando pra mim, aí vem ele: “Boa tarde! Eu também sou viúvo.” Eu disse: Eu não tô lhe perguntando, a sua vida? Agora, quando eu perguntar uma coisa, o senhor diga quem é o senhor, que eu não tô lhe perguntando, nem quero saber da vida de ninguém. Aí ele veio, chegou: “o que é isso? A senhora não tem vergonha, disso não?” Aí encostou Dácio e seu Rivaldo: “o que é que o senhor quer?” “Eu sou de Macaíba.” Mas eu não tô lhe perguntando, o senhor pode ser até do inferno, da casa do diabo. Diva – Mulher! Desse jeito você espanta/.... Lílian – Os pretendentes. Diva – É porque ela não quis casar de novo. D.MARIA JOSÉ – De gente você só vê os óios dos cachorros Diva – Porque que a senhora nunca mais quis saber de casar? D.MARIA JOSÉ – Eu não já disse que não hei de servir de pilão, mais nunca, pra ninguém! Diva – Mas, só isso? D.MARIA JOSÉ – Só. Lílian – Não tem outras coisas não, no casamento não, além disso? D.MARIA JOSÉ – Não, não obrigado. Vocês acham bom, pisada de pilão? Lílian – A senhora não gostava, não? D.MARIA JOSÉ – Quem? Lílian – A senhora? D.MARIA JOSÉ – O que é que tá, olhando tanto? ((risos)) Diva – Eu? Olhando a senhora acender o cachimbo. D.MARIA JOSÉ – Vocês buliram comigo, porque quer. Se eu tivesse aqui, com a cara desse tamanho! Aí, dizia: aquela muié é tão ignorante, a gente chega, ela não liga nem a pessoa! Lílian – Mas, eu não digo isso da senhora, a gente não diz isso, senão a gente não voltava, mais nunca, aqui. D.MARIA JOSÉ – Não voltava? Lílian – Era, se não gostasse de vir, se a senhora fosse ignorante, a gente não voltava. D.MARIA JOSÉ – Se eu não te chamasse? Lílian – Não, mas se a senhora fosse ignorante, não ia me chamar, não é verdade? D.MARIA JOSÉ – Saía daqui com raiva de mim, aí/...Eu gosto de conversar. Quando tô aqui sozinha, eu me pego é com meus santos. Lílian – Quais os santos que a senhora gosta mais, Dona Maria? D.MARIA JOSÉ – Eu gosto de todos os santos.... .... Pere aí, é Santo Antonio. Lílian – É Santo Antonio, santo forte ele, né? D.MARIA JOSÉ – Têm dois santo forte. Lílian – Qual é o outro? D.MARIA JOSÉ – Dois não. O primeiro é Deus, sem a força de Deus eles não fazem nada. Lílian – É. D.MARIA JOSÉ – Santo Antonio e São Marcos. Lílian – São Marcos? Ah é, sabia não! Não conhecia esse santo, não! D.MARIA JOSÉ – Quer ver a minha banca, lá no meu quarto? Vá espiar?! Lílian – São marcos, tem lá, na sua mesa? Eu vou olhar. D.MARIA JOSÉ – Tá, pode olhar. Diva – Nunca ouvi falar nesse santo! D.MARIA JOSÉ – São Marcos? Diva – Sim. D.MARIA JOSÉ – Ele tem [?], o cabelo bem branquinho, a barba por aqui, branca, vais ver! Diva – Vou daqui a pouco. Deixa a Benidita chegar, que eu peço pra ela ir lá. D.MARIA JOSÉ – Cadê ela? Diva – Benedita foi lá dentro, quando ela chegar, eu vou. Lílian – Qual a história de São Marcos? ((houve uma interrupção por causa de alguém que chegou. Quando voltamos a conversar, D. Maria fala sobre seu modo de fumar)) D.MARIA JOSÉ – Só fumo com os beiços pra dentro, não é? Se eu não segurar o cachimbo, os beiços tá pra fora, se segurar os beiços tá pra dentro. Lílian – Então, precisa botar os dentes. Cadê os dentes que ia botar D.MARIA JOSÉ – Tem só essa parte, mas bota ela tá folgada, quando eu vou falar ela cai. Se tivesse os dentes de baixo, segurava os de cima. Lílian – Segurava, é isso aí! Diva – E além do mais, eu acho que a senhora fez muito cedo, assim que tirou os dentes, não foi? D.MARIA JOSÉ – Demorou um pouco, trinta dias. Diva – Faz tempo que Candinha não aparece por aqui? D.MARIA JOSÉ – Faz mais de ano, que ela apareceu aqui, eu ainda tava/... Diva – Lá no Oiteiro. D.MARIA JOSÉ – Lá no Oiteiro. Diva – Já faz muitos dias, que a senhora tá aqui? D.MARIA JOSÉ – Faz ano. ((fim da fita)) IV UM MUNDO NA CABEÇA: MEMÓRIA, POESIA E COTIDIANO A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem se mistura. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. Grande sertão: veredas João Guimarães Rosa 4.1. A voz-memória: narrativa e identidade Lidar com as lembranças − matéria de que é composta a memória − é entrar em contato com o movimento que põe em cena o passado, atravessado pelas múltiplas vivências do presente, montando e desmontando sentidos e significados, para compor um tecido narrativo, resultado de um viver, que garante ao indivíduo uma identidade. Entre os tantos estímulos que chegam do mundo, os indivíduos escolhem, consciente ou inconscientemente, aqueles que irão guardar na memória e aqueles que serão esquecidos. Selecionar o que deve ser lembrado e esquecer o que deve ficar em zona de sombras e silêncio constitui-se num processo que é responsável por tecer uma trama de imagens que se interligam, dando-lhes uma forma. Examinando-se esse jogo entre lembrar e esquecer, pode-se questionar o que o determina e perguntar o que estaria regendo as escolhas entre o que deve e o que não deve ser guardado na memória. No intuito de buscar uma resposta para a questão, proponho, neste capítulo, um passeio pela memória de D. Maria José, ao construir a narrativa de sua vida. O processo de interlocução que nos uniu neste trabalho foi o responsável pela evocação das lembranças da colaboradora, expondo-se aqui as representações que esse sujeito constrói de si e do mundo que o circunda. Na narrativa de sua trajetória, interessa o que foi por ela lembrado, o que ela escolheu para perpetuar-se na sua história. Decifrar os motivos que levavam D. Maria José a selecionar esse ou aquele acontecimento para contar, nos deu a possibilidade de refletir sobre os trabalhos da fala, da memória e da consciência na construção do enredo de sua vida. Caldas (1999) compara o trabalho da memória à criação de um texto ficcional. Para o autor, a memória se expressa como um texto e o trabalho interno realizado para se chegar até esse texto é o mesmo trabalho da criação literária. Assim, a memória não aparece pronta; ela é tecida, especificamente no caso da história oral, pelo convívio e a troca de vivências entre o pesquisador e o colaborador, durante o processo de entrevistas e da construção dos textos da história de vida. Para melhor perceber como se processa esse trabalho da memória, proponho um percurso breve por parte dos estudos que dão conta do tema e convido Ecléa Bosi para nos conduzir. No primeiro capítulo de seu trabalho sobre as lembranças de velhos paulistas (BOSI, E., 2001), a autora traça uma linha progressiva de estudos da memória, que, de uma forma geral, orienta o leitor para a contextualização dessa faculdade humana. Ela destaca o trabalho de Bergson (1999), no qual a memória aparece como um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, subjetivo. Para completar seu pensamento, esse autor diferencia dois tipos de memória: a “memória hábito”, que é regida por mecanismos motores e que se adquire pelo esforço da atenção e repetição de gestos ou palavras atuando na esfera prática; e a “imagem-lembrança”, que tem um caráter não-utilitário e é fruto da evocação das imagens definidas que marcam um momento único da vida. Esta última pode-se aproximar da matéria do sonho e da poesia. Ecléa Bosi (2001, p. 53-54) sintetiza o ponto-chave do pensamento do autor dessa forma: A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança. A sua forma pura seria a imagem presente nos sonhos e nos devaneios. Assim pensava Bergson, que [...] se esforçou por dar à memória um estatuto espiritual diverso da percepção. [...] No estudo de Bergson defrontam-se, portanto, a subjetividade pura (o espírito) e a pura exterioridade (a matéria). À primeira filia-se a memória; à segunda, a percepção. A síntese apresentada pela autora deixa claro que, da teoria formulada por Bergson, está ausente o tratamento da memória como fenômeno social. É nessa lacuna que se inscrevem as reflexões de Halbwachs (2004). A questão central de sua obra consiste na afirmação de que a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. Várias idéias, reflexões, sentimentos e paixões cuja origem o indivíduo atribui a si mesmo são, na verdade, inspirados por essa coletividade. A disposição do autor acerca da memória individual refere-se à existência de uma “intuição sensível”. Afirma ele: Haveria então, na base de toda lembrança, o chamado a um estado de consciência puramente individual que – para distingui-lo das percepções onde entram elementos do pensamento social – admitiremos que se chame intuição sensível (HALBWACHS, 2004, p. 55). Dessa forma, para Halbwachs, a memória individual, construída a partir das referências e lembranças próprias do grupo, refere-se a um “ponto de vista sobre a memória coletiva”. Este olhar sempre deve ser analisado considerando-se o lugar ocupado pelo sujeito no interior do grupo e as relações mantidas com outros meios. (HALBWACHS, 2004, p. 76-78). Pode-se afirmar, então, que a memória individual não está isolada. O suporte em que ela se apóia está relacionado com a memória coletiva. Esta é, antes de tudo, o espaço imaginário onde “circulam” os elementos de identificação cultural ligados à tradição e às origens da narradora. Percebem-se, na fala de D. Maria José, estes aspectos. As práticas da cultura popular − a vida em família, a religiosidade, os costumes que marcam sua existência num determinado tempo e espaço − transparecem de forma muito acentuada nos relatos. Sua herança cultural, perpetuada de geração a geração, se revela, entre outras práticas, nos benzimentos: Lílian – A senhora aprendeu a curar com quem? D. MARIA JOSÉ – Eu ia com os meninos de mamãe pro mode curar e prestava bem atenção como era. Aí uma vez que eu tava morando no Olho D’água, aí eu perguntei: Dona Maria como é que a gente cura uiado? Aí ela disse como era. E como é que a gente cura engasgo? Aí ela disse: “Você tá preguntando é pruque tu já sabe!” Eu disse: É nada, mas eu já sabia. (Transcrição 5 - 05/05/2005) ...................................................................................................................... nos cantos: Lílian – Dona Maria a senhora me disse uma vez que sua tia lia folheto com a senhora aí na mangueira, não era? [...] Como era isso? D. MARIA JOSÉ – Ela lia e papai aprendia a cantar. Lílian – Ah! Quer dizer que ela lia? Seu pai também aprendeu com ela? D. MARIA JOSÉ – Todo sábado e todo domingo ela ia pra debaixo da mangueira, porque ela era sozinha. O marido dela morreu, ela ficou só, teve uma filha que morreu com sete anos, morreu a sogra, morreu marido, morreu tudo e ela ficou sozinha. Aí, ela se via lá sozinha, fechava a porta e ia lá pra casa. (Transcrição 1 - 03/04/2003) ...................................................................................................................... e nas rezas: Lílian – Ah! Quer dizer que a senhora reza assim? Eu não conheço, com quem que a senhora aprendeu essas rezas? D. MARIA JOSÉ – [...] Quem me ensinava a rezar era papai. [...] A gente brincava, brincava no terreiro, toda brincadeira a gente inventava no terreiro quando ele dava um grito: “Maria José!” Senhor? “Tá na hora!” A gente entrava pra dentro e ele ia ensinar a gente a rezar. (Transcrição 5 - 05/05/2005) A herança recebida da comunidade, do pai e da tia, transmitida ou mesmo adquirida por meio do dom (no caso do benzimento) revela-se aos poucos, no decorrer de nossas conversas, através de um constante lembrar que é permeado pelo seu grupo de convívio. Ecléa Bosi (2001, p. 54) assinala que, dando relevo “às instituições formadoras do sujeito, Halbwachs acaba relativizando o princípio, tão caro a Bergson, pelo qual o espírito conserva em si o passado na sua inteireza e autonomia”, pois, como afirma Halbwachs (2004), esse ato não tem apenas o caráter de reviver o passado, mas também de refazer, reconstruir, repensar com idéias de hoje as experiências do ontem. Uma vez que, com o passar do tempo, o indivíduo não é mais o mesmo, sua percepção se altera e, com ela, altera-se seu juízo de realidade e de valor. Portanto, o autor aponta que, a partir das experiências em grupo, as lembranças podem ser reconstruídas ou simuladas e que o indivíduo pode criar representações do passado a partir daquilo que imagina ter acontecido ou do que internalizou como representação de si mesmo e do mundo. Essa representação do sujeito pode ser percebida nos relatos orais que colhi. É notório, na narrativa de D. Maria José, o seu interesse em deixar a marca de sua importância. Ao falar de sua atuação na comunidade, do seu papel na cultura da cidade e da influência que exerceu no grupo que a rodeava, constrói para si uma maneira de ver e representar sua existência. Dentro do objetivo que tem esta pesquisa, não é importante para o trabalho saber se esses relatos contêm a legitimidade dos fatos, se há uma reinterpretação dos acontecimentos, ou se a eles foram agregados valores de acordo com o interesse da narradora. O que importa é o modo pelo qual eles são expostos e o que marca sua significância para a vida desse indivíduo. A observação desses aspectos levou-me a crer que relatar sua experiência foi a forma que D. Maria José encontrou de demarcar seu papel de acordo com a função que ela exerce nos vários grupos que a circundam. Herdeira de suas tradições, essa mulher demonstrou consciência de seu significado no campo cultural e, por isso, concretiza na sua narrativa o desejo de ser reconhecida pelo seu grupo. No entanto o confronto entre suas identidades − ela pertence ao espaço público (a cantadora de romances) e o privado (D. Maria José em sua vida comunitária) − gerou conflitos na permanência da identidade comunitária. É possível ver isso no relato de D. Maria José sobre a relação com o seu grupo comunitário após sua descoberta como “romanceira”: D. MARIA JOSÉ – [...] o culpado disso foi o professor Gurgel. [refere-se à sua descoberta como romanceira] Lílian – Por quê? D. MARIA JOSÉ – Eu tava em casa, as meninas estavam embaixo da mangueira, que ele era amigo de papai, aí ele chegou procurou por papai, aí as meninas disseram que papai tinha morrido, aí ele mandou elas cantarem o quê? O bendito de Santo Antonio, aí elas disseram: “não, eu não sei não.” Aí ele disse: “e quem sabe o verso de Antonino?” “Só se souber comadre Maria, que era quem andava mais papai, no roçado, nesse meio de mundo.” Aí me chamaram. Mas, se eu soubesse que elas iam ficar ranhenta comigo por causa disso, eu não tinha ido. (Transcrição 1 - 03/04/2003) Percebi, através dos relatos de D. Maria José, que ela valoriza a escrita, porque tem consciência da diferença das oportunidades oferecidas para as comunidades letradas e para as não letradas: D. MARIA JOSÉ – [?] Aí veio um homem muito grosso e perguntou: a senhora sabe ler? Eu disse: num sei não. O meu livro era a terra, a enxada era... ((reeelaborando)) o meu caderno era a terra, o cabo da enxada era o lápis e o ferro de cova era a pena. Aí ele perguntou: a senhora não saber ler não? sei não senhor, num tive esse tempo. Acordava logo cedo e só ia dormir depois da meianoite, só trabalhando. Talvez eu fosse outra. Saí de casa com 20 anos. E diz aí o que quando eu me casei com 20 anos, o que foi que levei de casa? Meu vestido, uma rede emendada e um pedaço de pano remendado que me cobria com ele. Trabalhava direto lá. A mão era aquela carreira de calo... Se soubesse ler... já disse muito isso na vida!!25 Apesar de pertencer ao universo da oralidade, D. Maria José tem consciência de que eternizar a memória através da escrita é, sob certo aspecto, perpetuá-la. Por me considerar alguém do “mundo letrado”, posso crer que a colaboradora enxergou no trabalho que estávamos juntas construindo uma possibilidade de permanência no tempo. Ser conhecida, não por algo que ela possuía − sua memória, tratada como objeto, como já foi exposto neste estudo − mas sim por quem ela era abria-lhe o espaço para deixar sua marca. Posso crer que apresentar sua história lhe possibilitava uma outra maneira, mais legítima, de não ser anônima. Por meio da narrativa, D. Maria José construiu uma estratégia que possibilitava revelar aquilo que ela representa na sua cultura, fora do ambiente desta. Suas lembranças, que entre seus parentes acabam silenciadas26, encontraram em mim uma escuta que lhes proporcionou serem compreendidas, pois receberam um valor diferente daquele que tinham no seu ambiente familiar. Mas, para D. Maria José, não bastava recordar. Ela queria estar segura de que o ouvinte conseguiria perceber o valor daquilo que estava sendo narrado. É assim que posso interpretar a sua preocupação com o gravador. Em vários momentos da narrativa, ela diz: “Grave aí”, como uma forma de certificar-se de que o narrado estava sendo registrado. Esses momentos são principalmente aqueles que trazem implícita a imagem que 25 Esse fragmento não faz parte das transcrições apresentadas neste trabalho. Ele foi recolhido em meio aos vestígios do material perdido e não foi possível indicar sua data. Como compreendia uma parte muito pequena do diálogo, e que mal deixava entrever o contexto da conversação, optei por excluí-lo do corpus. No entanto, aqui o apresento para enfatizar o pensamento de D. Maria José em relação ao mundo escrito. 26 Muitas vezes ouvi os filhos de D. Maria José, principalmente a filha Benidita dizerem em tom irritado: “Mamãe fica aí lembrando essas coisas!”. Claro que esse tom se justifica pela preocupação que eles têm com o bem-estar da mãe. Entretanto, esse comportamento, por parte dos parentes, não deixa de ser uma maneira de tolher o fluxo das memórias de D. Maria José. ela acredita que os outros têm dela e que ela tem de si mesma: a de alguém que enfrenta as situações de adversidade com bravura e coragem. Pude perceber que o ato de narrar atribuiu um novo significado ao viver de D. Maria José, agora marcado pela rememoração de seu passado. Nosso diálogo abriu um espaço no qual ela se permitia movimentar as experiências, boas ou más, instituindo nelas a sua marca. Pollack (1992), ao caracterizar a relação entre memória e identidade, define que a memória é um fenômeno construído (consciente ou inconsciente), como resultado do trabalho de organização (individual ou social). Sendo um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. O autor também define a identidade como a imagem que a pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação e também para ser percebida pelos outros da maneira como quer. Segundo o autor, “a construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, credibilidade e que se faz por meio da negociação direta com outros” (POLLACK, 1992, p. 205). Nos relatos, a imagem de mulher forte e corajosa que D. Maria José tem de si e com a qual quer ser reconhecida está presente nas lembranças da infância no Oiteiro; na lida diária do trabalho; na luta pela sobrevivência; no papel que ela ocupa na comunidade, principalmente na responsabilidade assumida moribundos; religiosidade na para prestar popular, as que homenagens se apresenta finais de aos forma contundente em sua vida; e na revelação de outra prática cultural popular não divulgada sobre sua pessoa: a atividade de benzedeira. Na sua narrativa, essas imagens são intercaladas com a visão que D. Maria José tem sobre a divulgação do seu nome como D. Militana, a romanceira do Oiteiro; sobre as viagens que fez por causa disso, os shows que realizou e sobre a maneira como foi tratada por esse outro universo. Para D. Maria José, o trabalho, os cantos e a vida de sofrimento e de desafios mantêm viva uma identidade construída a partir de valores de comportamento e convívio. As rezas, os adágios, os ditados, os cantos, as narrativas de santos e os costumes revelados por sua memória descortinam as nuances do universo popular para aquele que ouve/lê a fala da colaboradora nos relatos orais colhidos. O real reconhecimento de sua pessoa por culturas diferentes da sua passa por conhecer esses aspectos de sua identidade. Percebo que D. Maria José tem consciência disso. O sucesso que obteve foi responsável por uma nova fonte de renda e nesse outro espaço ela forjou uma nova identidade, a da romanceira. No entanto, o exercício de relembrar e contar sua vida fez com que essa senhora, entre lugares e temporalidades variadas, recuperasse as marcas que a fazem sentir-se parte do seu grupo original. Dessa forma, perceber o resultado final dos relatos orais indica que essas experiências, na voz de quem narra, são amálgamas, ou seja, as falas advindas do universo memorial apropriam-se das histórias, retirando os espaços vazios entre elas e transformando-as em narrativa. Assim, deve-se dar importância não apenas ao conteúdo conjectural de uma narração, mas sim ao seu engenho, ao trabalho em si de tessitura, que posso, por que não, aproximar da tessitura literária, como faz Ayala (2003c, p. 1521): nos relatos, histórias de vida de cantadores e de outros artistas populares, há vários exemplos de encaixe de histórias e poemas ou de ritmos poéticos, incorporados à fala. Situações vividas, quando narradas, ganham estruturação e recursos próprios da literatura oral popular. As histórias de vida de muitos desses homens e mulheres comuns, dependendo de sua habilidade, ao contar suas experiências, vão tecendo lembranças de festas, alegrias, tristezas, dificuldades para sobreviver, compondo para o ouvinte uma narrativa tão atraente como a leitura de um texto escrito. Estas narrativas envolvem o ouvinte e o surpreendem, encantando-o e aprisionando-o na trama mágica que se tece na relação. Tentarei a seguir revelar os fios que entremeiam a construção dessa narrativa. 4.2. A narrativa do cotidiano Ao começar a análise das entrevistas realizadas com D. Maria José, uma pergunta me intrigava: o que os depoimentos revelavam? Práticas culturais inseridas no cotidiano dessa senhora ou, o contrário, esse cotidiano nítido através da memória, inserido nas explicações para o seu fazer poético? Ao ler os relatos, ficou claro para mim que a vida de D. Maria José, mais do que confundir-se com o seu universo poético, o transcende. Cada palavra sua evoca um passado cheio de pessoas e de práticas que acabam envoltas no repertório de seus cantos. O ato de cantar está presente: nos rituais de seus mortos; nas brincadeiras de infância; nos dias árduos de trabalho; nas lembranças da vida difícil, das diabruras de menina; e nas intermináveis histórias que aparecem e reaparecem nas nossas conversas, construídas pelo trabalho de sua memória. Assim, tenho o propósito de, através da análise do engenhoso trabalho de construção da narrativa, perceber como o cotidiano de D. Maria José se relaciona com os seus cantos. Como já foi dito, quando comecei as conversas com a colaboradora, eu tinha perspectivas da pesquisa de campo que foram se modificando ao longo do trabalho. Posso dizer que essas perspectivas incluíam a forma como as histórias iriam ser contadas. É necessário confessar que minha primeira idéia era de que a narrativa obedeceria a uma ordenação cronológica dos fatos. No entanto essa percepção logo se desfez. As histórias jorravam de todos os lados, dando a impressão de que nada do que a colaboradora trazia à tona chegaria a fazer sentido. Entretanto percebi que aquilo que eu julgava ser uma falta de critério para recordar era, na verdade, o laborioso mecanismo de operação da memória. Ao compreender isso, fiz a opção de não interromper o fluxo dessas narrativas e pude constatar que, quanto mais minha voz sumia, mais se operava o trabalho da memória, que construía uma coerência própria. Uma conclusão se tornou evidente: era necessário tempo para que D. Maria José pudesse revolver o seu estoque de lembranças com tranqüilidade, dando forma a esse conteúdo. Nessa mistura entre fascínio e nostalgia, a narradora construiu a sua narrativa. Até aqui apresentei a idéia de que o sujeito é um elo entre o cotidiano e as práticas socioculturais próprias de seu grupo. Posso observar essa relação nos relatos de D. Maria José. Para ela, são boas as lembranças do passado e é na atividade de narrá-las que ela o revive com tanta intensidade que chega a parecer estar elaborando novamente a própria existência. Nessa reelaboração, vida, prosa e verso se confundem quando ela conta as histórias. Em cada relato de sua vida, posso perceber seus cantos entremeados de personagens e ações vinculados às práticas cotidianas: as lembranças da infância trazem de volta as cantigas do tempo de menina; relembrar seus namoros faz D. Maria José recordar-se de pedaços de músicas esquecidas; e as histórias de santos fornecem “lições” que orientam o seu comportamento. Além disso, o trabalho e a vida dura de D. Maria José, por muitos momentos, confundem-se com os cantos que lhe aliviavam o ofício. E parece ser o trabalho o elemento em torno do qual a vida dessa mulher se desenvolve. Ligada a ele, porém, há uma figura fundamental na existência da narradora: o seu pai. As lembranças de seu pai aparecem como a maior fonte da relação que se construiu entre o cotidiano, sua vida e o universo poético. Seu Atanásio Salustino do Nascimento foi um grande mestre de diversas práticas culturais populares de sua comunidade. Figura respeitada no município, comandava o grupo de fandango da cidade de São Gonçalo, que contava com 31 participantes, e costumava apresentar-se nos meses de julho e dezembro, quando as apresentações duravam até a festa de Reis, em janeiro. (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1982). Seu Atanásio era um homem rígido, que ensaiava o grupo com muita disciplina e maestria, como afirma o Senhor Pedro Rodrigues, morador de Santo Antônio (localidade do município de São Gonçalo do Amarante) que participou como marujo da barca de São Gonçalo: [...] ele era um homem bom, muito comprometido com o grupo, mas era tão severo que os rapazolas como eu chamavam ele de Seu “Satanásio” ((risos)).27 27 Seu Pedro Rodrigues é o pai de Diva Sueli, minha acompanhante na pesquisa de campo. Em um dos dias em que estávamos eu e ela na casa de Seu Pedro, ele nos relatou a sua participação no grupo de seu Atanásio. Como eu estava sem o equipamento de gravação, o depoimento foi registrado na caderneta de campo da pesquisa. O comportamento rígido com que Seu Atanásio comandava o grupo era o mesmo com o qual conduzia sua família. São muitos os relatos nos quais D. Maria José salienta o temperamento austero do pai. “Ele num deixava a gente brincar, papai era osso!”, diz ela. É possível ilustrar esse comportamento com o relato no qual Seu Atanásio reclama do vestido da filha: D.MARIA JOSÉ – Aí minha madrinha disse: “num é possível que tu vais largar o couro dos pés de andar pra Maré.” Aí comprou um vestido pra mim, de fustão branco com [?] encarnado. Aí papai disse: é pra fazer o vestido, que a roupa da gente tem que ser por aqui, que nem velho. Aí eu mandei fazer o vestido godê. Lílian – Nossa! D.MARIA JOSÉ – Aí ele disse; “quem te mandou fazer essa qualidade de roupa? Pois, tu vai mandar ajeitar o vestido.” Já tinha sido cortado, ia dar jeito de quê? Aí eu tinha ido pra missa, mas quando subi o patamar da igreja, o vento pegou o vestido e sacudiu na minha cabeça, por Deus que nesse tempo as muiés não andavam só com o vestido em cima do corpo, tinha a meia saia. Aí ele disse: “Oia, mais nunca mais, tu veste esse vestido pra sair mais eu. Vou cortar o vestido no seu couro. Mamãe diz: “Não corte porque tu não dais a ela um fiapo. O dinheiro que ela ganha, ela te entrega e ela já dê graças a Deus a madrinha dá um vestido, que tu não dais de vestir a ninguém.” Aí ele disse: “Tá certo. Domine ela como quiser.” [...] (Transcrição 7 – 12/05/2005) No entanto, durante toda a narrativa, o pai aparece como a figura mais importante da vida da narradora, aquela que ajudou a construir a personalidade de fortaleza e bravura que D. Maria José julga ter. Por ser a filha primogênita, ela foi declarada a herdeira de Seu Atanásio, substituindo o filho homem, que só veio a nascer como o último dos filhos. De D. Maria José, então, era esperado um comportamento masculino. E é para quem ocupa o lugar do “filho” mais velho que Seu Atanásio deixa a herança cultural constituída ao longo de sua vida. Foi o pai de D. Maria José quem lhe ensinou a fazer cesta, trabalhar, rezar e cantar, romances, benditos, cocos, aboios e toda sorte de gêneros da literatura oral que compõem o repertório da cantadora. A D. Maria José, também coube a responsabilidade de cuidar da família, sendo aquela que junto ao pai, provê o sustento da casa. São muitos os momentos em que ela demonstra o carinho, o respeito e a admiração pela figura paterna. Esse sentimento é recíproco, pois a narradora salienta, também, a admiração que o pai tinha por ela. Nos trechos a seguir, pode-se perceber tudo isso: Lílian – Por que a senhora acha que ele só trabalhava cantando? D. MARIA JOSÉ – Porque era divertido. Papai era homem divertido. Papai ensaiava boi, papai ensaiava congo, papai ensaiava fandango, papai ensaiava quadrilha, mais era quadrilha, não era essas porquera de hoje. (Transcrição 3 - 15/07/2003) ...................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Papai cantava, pedia a mim os folhetos, papai gravava, cantava nos roçados e eu aprendia. Diva – No roçado ele também cantava? D. MARIA JOSÉ – Papai só trabalhava cantando. D. MARIA JOSÉ – [meu pai] Fazia farinha. Lílian – Fazia farinha? Ele tinha casa de farinha? D. MARIA JOSÉ – Não. Arrendava a casa de farinha, era sete cuia de farinha pra pagar. D. MARIA JOSÉ – Um dia, ele alugou seis carga de mandioca, ele disse: “eu faço, seis carga de mandioca eu faço, mais Maria José.” Aí, Ciço dizia: “compadre Atanásio quer acabar com Maria José, porque uma menina tão boa. Porque vai arrancar mandioca, leva ela pra ajuntar mandioca, é arrancando e ela ajuntando, quando é de tarde, leva pra casa de farinha.” Ele dizia: “quem não tem cachorro, caça com gato. Eu não tenho fio home pra me ajudar, quem pode me ajudar é ela.” Aí no dia que ia colher a mandioca, o moedor mandou dizer que tinha adoecido, comeu feijão preto com coco e deu uma dor no estômago dele e ele tava se vendo. Aí papai disse: “agora sim, eu não posso arrumar outro moedor.” Mandou atrás de Miguel Mulato, só que Miguel Mulato tinha ido pros mato. Ele ficou, aí eu disse: vambora moer papai. “Tu tais doida Maria José, tu não tais vendo que tu não mói, que tu não pode moer mandioca?” Eu digo: vamo moer a mandioca? [...] D. MARIA JOSÉ – Ele disse: “apois vamo teimosa.” Ele botou o rodete na roda, eu digo: Abóie papai, papai abóie, papai. Ele disse: “puxe na frente”, aí eu cantei: ♫ O veio da roda é meu e a mandioca é de seu dono, cevadeira de minha alma, deixa-me dormir um sono ♫. Aí ele começava: “essa menina não é gente, não.” Aí começou a aboiar. Aí eu disse: ♫ marcha, marcha meu cavalo, nessa marcha miudinha, que é pra ver se chegamos cedo, na casa da mulatinha ♫. Papai disse: “quem te ensinou este aboio, Maria José?” Aí eu disse: não mandasse eu aboiar? Um aboio mais outro aboio e assim foi as seis carga de mandioca. Quando foi de madrugada, ele mim chamou: “Maria José, vambora pra casa de farinha”, (Transcrição 4 - 03/05/2005) ....................................................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Um dia eu tava cavando buraco para fincar as estacas [...] Seu Assis tinha um novilho raciado. [...] Eu enterrei dos pés, com um ferro de cova desse comprimento do cabo, eu enterrei dos pés, dei uma cipoada nesse bicho, o pau bateu ele caiu, mijou-se foi todo. Tia Cantu: Mataste o boi de compadre Assis! Papai chegou da feira e o boi no chão. Aí ela disse: “Atanásio?” Ele disse: “Oi?” “Olhe aqui, Maria José matou o boi de compadre Assis.” Aí Papai disse: “é o que é que hei de fazer? Se ela matou, tá morto. Porque ele tem gado e pode comprar outro touro, e ela eu não tenho outra filha dessa não. Essa aí é meus pé e minhas mãos.” Eu era pra tudo no mundo. Lílian – Então a senhora era companheira de seu pai? D. MARIA JOSÉ – Era eu a companheira dele, era eu. Se levantava de duas horas das madrugada. “Maria José!” Inhô? “Vambora”, e eu ia. Lílian – E a senhora gostava da companhia dele? D. MARIA JOSÉ – Gostava. Ai! Queria bem a meu pai. Eu queria dizer para você que ele morreu só na minha companhia. Lílian – E a senhora conversava muito com ele, além de cantar juntos? D. MARIA JOSÉ – Ele não conversava, ele não conversava porque ele só trabalhava cantando. Ele cantando e eu botando tudo nos ouvidos. [...] D. MARIA JOSÉ – Aí ele: “Abóia, Maria José!” ... Eu digo: Eu não sei! Ele disse: O que foi que tu aprendeu? Eu disse: nada, (SILÊNCIO) eu não estou na metade do corpo que eu era. Cansei de papai/... chegava com a carga de mandioca, tirava o capuz de cima, aí ele pegava um caçuá. “Maria José segura o caçuá”, Quando ele tirava o dele, que era por cima do outro, eu tirava o outro. Quando ele despejava o dele, eu despejava o meu. Agora, foi-se embora tudo! (Transcrição 5 - 05/05/2005) ....................................................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Aí Papai disse: “Maria José, se não tiver quem queira cantar, vamo cantar bendito nós dois?” Eu digo: vamo. Aí sentemo no meio de terreiro, aí papai cantava, eu respondia. Aí, os de Regomoleiro chegaram e começaram a cantar também. Ainda mim lembro da despedida que os de Regomoleiro ... porque a despedida que papai canta é assim: ♫ Adeus irmão dos anjos, irmão dos anjos. Oh! Meu Deus eu vou pro céu ♫. O que eles cantavam, ♫ Os anjos vão mim levando ♫... eu não sei mais como era... a despedida deles era assim: ♫ Lá vem a barra do dia junto com a Virgem Maria,/ desceu dois anjos do céu levem tua companhia ♫. E o de papai é: ♫ Adeus irmão dos anjos, irmão dos anjos adeus ♫. Eu não sei mais nem cantar.... Lílian – Quer dizer que seu pai também cantava bendito? D. MARIA JOSÉ – Era e ele pedia que quando ele morresse, cantasse bendito de defunto até de manhã. (Transcrição 5 - 05/05/2005) Como se pode observar, a relação que D. Maria José tinha com seu pai era entremeada pelos cantos. Eles não conversavam, mas “ele cantava e ela botava tudo no ouvido”. Essa passagem lembra Benjamin (1993a, p. 205), quando afirma que: Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. Assim era a comunicação entre pai e filha. Entre eles, cantar era a maneira de dialogar um com o outro. Ao perceber que a filha escuta e guarda aquilo que ouve dele, o pai se enche de orgulho e segurança por certificar-se de que sua herança está entregue. Nas populações do meio rural, a ajuda para realizar os afazeres da roça é uma das atividades em que reinam o sentimento de amizade e apreço pelos outros membros da comunidade. Para tornar o trabalho mais atrativo, a música é indispensável. Ayala (1989, p. 262) afirma que “o trabalho demorado de plantar, fiar [...] possibilitou o aprendizado de vários cantos”. Durante o trabalho de D. Maria José e de seu pai, o aboio aparece como um canto de trabalho, e não no contexto da lida com o gado, no qual ele é comumente utilizado. Segundo Cascudo (2001, p. 5), o aboio é um canto entoado pelos vaqueiros para orientar os companheiros enquanto conduzem o gado. É um canto sem palavras, e pelos que já ouvi, parece-me um canto muito triste, próximo a um lamento. Como descrito por D. Maria José, aparece de forma diferente. É um canto dialogado, em que alguém “tira” o verso e outro responde. O aboio da casa de farinha deu-me a impressão de ser um canto mais alegre, talvez para dar ritmo ao ofício, como todo canto de trabalho. Ele se aproxima da definição que fazem Araújo e Aricó Júnior (2006, p. 1) do aboio de roça, quando ele o distingue do aboio de gado: Os aboios de roça são diferentes dos aboios de gado. O aboio de roça é um dueto e o de gado é homófono. O aboio de roça é uma forma de canto de trabalho, tem letra e é em dueto. O outro aboio é solo, é canto de uma só sílaba. Noutras regiões o aboio para orientar o gado na caatinga, na estrada, não tem letras, aqui, há porém, o canto de uma quadra e a seguir o canto de uma sílaba, longo. Já o aboio de roça dá-nos a impressão de um desafio por meio de versos entremeados de prolongados oi, ai, olá, cuja finalidade é excitar para maior produção de trabalho. Outros momentos no quais os cantos aparecem de maneira marcante e com profunda carga de emoção são quando D. Maria José fala da relação que sua cultura tem com a morte, revelada pela maneira, quase missionária como ela se encarrega de cuidar dos moribundos e de encomendar os mortos. Esses relatos foram sempre cheios de emoção, principalmente ao falar de seus parentes mais próximos, excetuando o seu marido. A emoção se revela na entonação da voz e nas expressões que se instalam no rosto de D. Maria José. Tem razão Benjamin (1993a, p. 210) quando afirma que “a memória é a mais épica de todas as faculdades”, pois a palavra narrada dava a D. Maria José quase o poder de ressuscitar os seus mortos. Pelo que pude observar, a morte, para a cultura popular tem um significado de reconstrução do elo do indivíduo com o mundo, com sua origem. A aproximação entre narrativa e experiência de vida, como forma de perpetuação, pode ser encontrada em Benjamin (1983a). Para ele, a idéia de eternidade tem a sua mais rica fonte na experiência da morte. Porém o autor ressalta que o gradual processo de afastamento da idéia de morte da vida em sociedade é mais um elemento que reforça o declínio da narrativa. Benjamin (1993a) comenta que, no decorrer dos últimos séculos, a morte vem perdendo, na consciência coletiva, sua onipresença. Gradativamente, a partir do século XIX, a sociedade burguesa operou uma modificação das atitudes perante a morte, esvaziando o significado das práticas e costumes que envolviam o ato de morrer. Antes disso, ela era tida como um episódio público. Em seu próprio quarto, o moribundo era cercado dos parentes e vizinhos, enquanto os ritos da morte se realizavam com simplicidade e sem exageros sentimentais. Ali era o espaço para ele dar suas recomendações finais, um momento em que o ciclo de vida se fechava, deixando, da história daquele sujeito, o exemplo para os que ficavam. A mão que se erguia em última benção para os vivos o fazia revestida da autoridade de quem tinha uma história completa para contar, com começo, meio e fim. A atualidade, que segregou os moribundos, reduziu o espaço da morte entre nós. Não se morre mais em casa, e sim nos hospitais, instituições encarregadas de cuidar não do indivíduo, mas de sua doença. Desse modo, o moribundo é lançado fora do convívio social. É posto em um estado latente. Numa sociedade que só reconhece o repouso como inércia ou desperdício, a morte é considerada o “outro lugar”, aquele que revela o fracasso e o limite do poder científico e que escapa às práticas familiares. (CERTEAU, 2003). Pelo relato de D. Maria José, pode-se perceber que o universo da cultura popular mantém com a morte uma relação de proximidade. O ato de morrer é arraigado ao cotidiano, por isso a participação dos membros da comunidade no processo é um ato, quase obrigatório, de compaixão. A hora da morte é esperada por todos e os esforços são para aplacar a ânsia de quem está prestes a deixar a vida para a viagem do desconhecido. Segundo a crença religiosa cristã, o céu é um lugar inacessível, onde só podem entrar os santos e os purificados. Por isso, na religiosidade popular é importante o cuidado dos parentes nos momentos finais. No momento do desenlace, há as pessoas que são responsáveis por encaminhar os moribundos à sua “última viagem”. Nos relatos de D. Maria José, ela se retrata como aquela que sempre intui a chegada da morte e, por isso, providencia os ritos necessários, como “botar a vela” nas mãos daquele que está prestes a morrer. Esse ato significa iluminar o caminho para que o moribundo possa fazer a passagem, não se perdendo entre as trevas. Após a morte, há o ritual de preparação do corpo. Cascudo (2002, p. 21) afirma que, segundo os costumes, nem todos têm o direito de tocar no cadáver. Somente aqueles que sabem vestir defuntos, pessoas de boa vida, especializadas, com a seriedade e compostura de uma exposição de ofício religioso. [...] Trabalham depois de rezar e vão vestindo peça por peça de roupa falando com o morto, chamando-o pelo nome. D. Maria José é uma das pessoas que tem esse papel na comunidade. Há, nas entrevistas, o relato de muitas pessoas que foram “ajudadas” na hora da morte por ela, como a mãe, o pai, a tia Petronila, a avó Joana. As mortes da mãe e do pai aparecem juntas, em um dos relatos. Nessa narrativa, essa função de D. Maria José fica evidente. Há nela alguns pontos que eu gostaria de comentar. D.MARIA JOSÉ – Aí quando ela [mãe] foi botando o rosário, fastou de costa e disse: “ai, meu Deus, que dor eu tô na cabeça”, e caiu sentada, no que ela foi caindo, disse: “ai que dor”, que foi caindo, comadre Benidita, minha irmã foi chegando, pegou ela pela cintura, mas não agüentou o peso dela, que ela era dessa grossura, aí caiu sentada com ela. Não deu tempo de botar em canto nenhum. Aí papai chegou e disse: “É isso mesmo... tá se acabando, minha Maria”. Aí botou a vela na mão dela, só gastou o bico da vela, ia morrendo sem vela. Papai passou, passou, quando foi um ano.... ((para um pouco e tenta lembrar)) dois anos, com dois anos que ela morreu, ele morreu. Ele Caiu doente, aí eu ia pra lá, fazia as coisas pra ele, era ele só mais comadre Severina. [...] Quando foi no dia que ele morreu, aí eu tava sentada na cama dele, mesmo assim, eu botei a cadeira, mesmo assim encostada na cama e ele deitado, só de ciroula, [...], aí eu digo: o senhor fique aí que eu vou trabaiar, mas volto. Comadre Severina dizia: “eu vou dormir um pedaço da noite”, e dormia a noite todinha. E eu passava a noite acordada. Aí ele disse: “isso é que é um calor minha filha!” Eu digo: o senhor quer tomar um banho? “Quem mim dera eu tomar um banho!” Tinha Gaspar, que era filho, que tinha deixado a mulher e tava dormindo lá e tinha o neto de Raimundo, Sérgio, e tinha o cunhado de papai e tinha Neto. Aí eu perguntei: o senhor quer tomar banho? “Quem mim dera eu tomar um banho!” Aí eu peguei uma bacia, desse tamanho, botei no meio da casa, na sala, amornei a água, quebrei bem a frieza da água, tirei ele, sentei numa banca e tirei a roupa dele sozinha, porque comadre Severina tinha ido pros mato. Aí tirei a roupa dele, dei banho nele, ensaboei a cabeça dele, aí ele ficou tão limpinho! Aí quando dei banho nele, enxuguei ele, e isso com as portas tudo fechada, aí enxuguei ele, vesti a roupa, botei ele na rede, ele ficou chorando. Eu digo: porque o senhor tá chorando, papai? “Porque tu sendo minha fia, eu com genro, com neto e tu sendo minha fia, tu é quem mim dá banho?” Aí eu disse: e eu não tinha marido. Não sei o que é que um home possui, não? Aí, deixei ele na rede, depois tirei ele da rede e botei na cama, que era uma caminha de sorteiro, porque ele passava um tempo na rede e ia pra cama, ver se estirava a coluna. (SILÊNCIO). Aí botei ele na cama e dasatei a rede e fui pra dentro, fazer um café. Quando eu tirei aqui, a chaleira do fogo, que olhei, ele tava assim, aí eu fiz carreira, deixei a vela e a caixa de fósforo no bolso, e cheguei onde ele tava: o que é papai? Ele disse: “tô indo embora minha fia, tome conta do terreno, não deixe gente de fora fazer casa, aí é pros fios e netos.” Eu digo: tudo bem, não tenha cuidado, não. Aí eu disse: Gaspar, ajeita aqui papai, que papai tá morrendo, ele disse: “vai buscar minhas chinelas no derradeiro quarto.” Que era dois quartos grandes, a sala e cozinha. Eu digo: tinha muita graça eu deixar papai nas últimas pra ir buscar teu chinelo, porque não trouxesse pra debaixo de tua rede? Fiquei sentada, aí botei a vela na mão dele. Eu disse: chegue, ajeite aqui papai! Ele disse: “ajeite.” Peguei aqui as pernas dele, torci os quartos pra ele ficar assim e ele estirou as pernas, peguei por aqui, trouxe ele, carreguei, aí ele disse: “cuidado pra não ir brigar com ninguém, pro mode não ir apanhar.” Eu digo: não tenha medo, não. “E outra coisa, cuidado que você é meia doida.” Eu digo: eu sei, mais no meio das doidices mim lembro do senhor. Ele até achou graça. Aí ali mesmo ele morreu. Ele morreu, eu disse: cumadre Severina, a hora é essa, aí ela no lugar de vir pra onde eu tava, fez carreira. Lílian – Severina, sua irmã? D.MARIA JOSÉ – [...] Aí peguei vesti a camisa dele puxei a camisa, subi a cueca, que tava lá embaixo, botei a vela na mão dele, ali mesmo, me deu conselho, me deu conselho e ali mesmo morreu, não fez careta, não fez nada. Eu vim chorar com três dias. Lílian – Foi mesmo, Dona Maria! D.MARIA JOSÉ – Com três dias, foi que eu sentada imaginando: é isso mesmo, papai tanto que lutou pra criar a gente e morreu sozinho na minha companhia, mas não tem nada não, aí comecei a imaginar, o que ele fazia, o que ele dizia e chorei. Mesmo assim foi mamãe. D.MARIA JOSÉ – No enterro de papai, faltou uma pessoa pra fazer 100 pessoas. (Transcrição 4 – 03/05/2006) Esse relato foi contado com uma profunda carga de emoção, que se revelou na entonação da voz e no silêncio que se instaurou no meio da narrativa muito longa e quase sem pausa. Entre a morte da mãe e a do pai, percebe-se que a função de cuidar do morto é transmitida pelo pai a D. Maria José. A mãe é “encomendada” por ele, pois é Seu Atanásio quem “bota a vela” responsável pela iluminação do caminho de sua esposa. Herdeira da tradição, a D. Maria José coube a tarefa de prestar os ritos ao pai. E mesmo em outros momentos, como o relato da morte de sua tia Petronila, na ausência de Seu Atanásio (que pressentiu a morte da irmã), D. Maria José foi a responsável por “cuidar” da moribunda, exercendo o papel de substituta do pai. Para a morte do pai ela se prepara. Pressentindo os momentos finais, coloca a caixa de fósforos e a vela no bolso e oferece o banho, no qual lava cuidadosamente todo o corpo do pai, deixando-o pronto para a morte próxima. D. Maria José deixa claro que ela é a escolhida para a tarefa por ser a mais preparada. Salienta a recusa de seus irmãos para assumir tal tarefa e destaca a falta de preparação deles para isso. A morte do pai de D. Maria José é denominada, na cultura popular, como destaca Cascudo (2001, p. 397), de “morte bonita”, ou seja, aquela precedida de “uma agonia calma, sem o penoso padecer, com estoicismo, despedindo-se, dando ordens e conselhos”. Em seus momentos finais, o pai de D. Maria José transmite sua “herança”: ele morre dando conselhos, finalizando sua história, perpetuando o seu saber. Essa passagem lembra-me o que diz Benjamin (1993a, p.207-208.): é no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida − e é dessa substância que são feitas as histórias − assumem, pela primeira vez uma forma transmissível. [...] A morte é a sanção de tudo que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade. Assim, na hora da morte do pai, a “autoridade” foi legitimamente passada. A função de D. Maria José de cuidar dos moribundos não está somente no cuidado com o corpo do morto. O momento da passagem também compreende o velório, chamado de “fazer quarto”. Nesse rito, as pessoas rezam e cantam benditos e excelências para facilitar a entrada no céu do espírito que deixou o corpo presente. Como não são todas as pessoas que sabem entoar os cantos, aquelas que os guardam na memória responsabilizam-se por encaminhar a alma do morto. Esse é um ato tão importante para o morto, que, ao falar dele, após um momento de silêncio, D. Maria José relembra o julgamento das almas, intercedido por São Miguel. Como no funeral do pai: Lílian – Quer dizer que seu pai também cantava bendito? D. MARIA JOSÉ – Era e ele pedia que quando ele morresse, cantasse bendito de defunto até de manhã. Aí compadre Raimundo, veio pra mode cantar aí o povo/... [...] D. MARIA JOSÉ – [...] Compadre Raimundo veio pra tirar bendito, pra cantar bendito mais a gente. Aí, quando chegou o povo acharam ruim, aí começaram a cochichar. Aí, compadre Raimundo disse: “Comadre Maria eu vou embora, quando for na hora do enterro eu tô aqui”. Lílian – Por que o povo estava achando ruim? D. MARIA JOSÉ – Porque iam cantar bendito de defunto. Lílian – Porque as pessoas não gostam? D. MARIA JOSÉ – Porque tinha morrido um pai de família e as pessoas iam cantar bendito de defunto. Lílian – O que é que tem Dona Maria? Eu não entendi por que as pessoas ficavam cochichando. D. MARIA JOSÉ – Porque cantando bendito de defunto, não tem quem chegue perto. (SILÊNCIO) Tinha um pecador que dizia assim: ♫Vivia no mundo, no pecado original/ matou o padre e padrinho e o pai por quem foi gerado e o crime [?] e deu sossego [?] ♫...(SILÊNCIO) Quem reza pra Nossa Senhora todo dia, ela não deixa a alma ficar vagando não, não deixa de jeito nenhum. Aí quando ele tava morrendo... ♫ quando ele estava morrendo os anjos desceram e lhe pôs a mão[...] (Transcrição 5 - 05/05/2005) O ato de solidariedade de cuidar das pessoas nos momentos finais é algo que se pode aproximar da maneira como Mauss (apud LANNA, 2000) define a dádiva. O autor afirma que a constituição da vida social é formulada por trocas concebidas e praticadas nos diferentes tempos e lugares, mostrando como dar e retribuir são obrigações organizadas de modo particular. Nas culturas populares, pude observar que essas trocas se constituem baseadas na reciprocidade. Sendo assim, é possível tecer relações entre a atitude de prestar, de forma beneficente, seu esforço para encaminhar os mortos e a instituição de um dom, que é uma dádiva divina. Dessa forma, como a função de curar com os benzimentos, cuidar dos mortos também seria assumir um compromisso de exercer essa prática em prol dos seus e daqueles que dela necessitassem. É assim que percebo a forma como D. Maria José cuidou de seu marido, como aponta o fragmento da entrevista a seguir: Lílian – Ele tinha voltado? Foi depois que ele passou os quatorze anos fora? D. MARIA JOSÉ – Foi. Aí pediu pra vir pra casa, eu digo: não! Aonde você passou os quatorze anos, passe o resto. Bem, porque eu mesmo não vou fazer nada pro senhor. Acabou-se, eu não presto, foi atrás da moça branca, pois vá deixar seu patuá, aonde você achou. Aí vivia assim, dentro de casa: quando eu tava trabalhando no terreiro, que ele vinha pro terreiro, eu entrava pra dentro botava a ripa no beiço da cama e ia trabalhar lá dentro. Agora no dia que ele morreu, aí eu fui pra rua, ele passou tanto tempo fora, que quando ele veio, eu já tava aposentada. Aí eu fui pra rua, recebi meu dinheiro, aí vim, Eu comprei pra ele uma lata de leite e uma caixa de maisena, que ele não comia nadinha. Passou dez dias sem fazer feze, dez dias. No dia que fez morreu. Lílian – Coitado, né! D. MARIA JOSÉ – Aí eu cheguei e perguntei: queis comer, queis uma papa Mané Luiz, “faz.” Aí comadre Olímpia chegou, entrou, passou por ele, que ele dormia na sala, eu botei a cama na sala que é melhor pra lutar com um doente, Aí ele foi no quarto, eu fiz a papa e ele disse: “traz pouca”, não tinha uns pirexzinho assim? Eu trouxe aquele pirex de papa e ele comeu. Aí ele disse: “Maria”, eu disse oi... Ele nunca chamava meu nome não, só mim chamava Maria. .... deixe eu ver aí o pinico. Aí eu trouxe, botei atrás da porta, perto da cama e fechei a porta. Ele abaixou-se e fez o serviço. Foi três vezes pro pinico, na derradeira vez já foi eu quem subi a roupa dele. Aí ele sentou-se no beiço da cama, estirou assim uma perna no varão da cama e a outra ficou no chão. Aí ele fez assim com as duas mãos. Eu digo: por que não te deitas? Não tira o cachimbo do bolso? Aí comadre Olímpia já tinha.... [...] Sim! Aí eu disse assim... Francisca foi entrando e disse assim: “Mamãe, papai ainda vai fumar? Não acende o cachimbo pra ele não.” Aí ele disse: “Acenda meu cachimbo.” Eu disse: mim dais pra eu acender. Quando ele me deu o cachimbo, aí eu joguei o cachimbo pro corredor. Porque ele num tava na sala, aí eu tirei o fósforo, tirei o fumo do bolso dele. Aí ele agarrou assim o facão com as duas mãos e disse: “Vambora Felipe” e arrastou. Felipe foi o homem que ele tinha matado, ele tinha duas mortes nas costas. D. MARIA JOSÉ – Aí eu disse: Tu tais chamando Felipe pra ir mais tu, ele não foi só, porque tu não vai só? Aí ele disse: “Maria, eu to me indo.” Aí eu disse: Vai com Deus. (SILÊNCIO) Chorasse? Não chorei nem um pingo. [...] e ali mesmo ele morreu. De noite, as meninas diziam: “comadre Maria tem uma natureza ruim, o marido morrendo, ela com a vela na mão dele e não botar nenhuma lágrima!” Eu digo: Marido de três: De Poço de Pedra, de Maria Brincadeira e de Geralda, não era marido meu não. Ele chorou por isso, mesmo morto, as lágrimas correndo assim? Aí comadre Eva: “comadre Maria por quê você faz isso?” Eu digo: Quem fizer uma coisa a mim, saiba fazer, saiba fazer... De noite, o povo procurava: “não vai cantar bendito de defunto pra ele, não?” Não, ele não precisa de cantar bendito de defunto pra ele. (Transcrição 5 – 05/05/2006) Mesmo com toda a vida de sofrimento que passou com o marido, D. Maria José aceitou-o na sua casa, quando ele voltou, após catorze anos depois que a tinha abandonado. Acredito que ela o fez porque tem dentro de si a consciência de que não pode negar auxílio aos moribundos. No entanto, D. Maria José nega-lhe a ele o benefício de cantar benditos, no velório. Cantar os benditos é um ato piedoso, um ato que ela só oferece àqueles a quem tem consideração e respeito, sentimentos que perdeu pelo marido, por causa das mágoas que ele lhe deixara. Assim, ela oferta ao marido seu cuidado, mas não o seu canto. Acredito que isso se justifica porque essa atividade tem um grande significado na sua vida. No seu espaço privado, D. Maria José não canta quando está triste e só canta para aqueles de quem gosta e em quem confia. Cantar foi o legado de seu pai, era a forma de linguagem que os unia. Por isso o canto permeia sua vida. Os fatos do cotidiano são acompanhados por uma trilha sonora composta entre a imaginação e a memória. Cantar é a sua maneira de brincar, de retrucar, de ser irônica, de estar no mundo. É, para D. Maria José, a atividade mediadora entre sua identidade original e sua identidade construída. Ao mesmo tempo que significa perpetuar suas raízes, é o movimento que permite modelar a sua forma de ser. Cantar, enfim, é o produto do desejo e do prazer de estar em contato com as lembranças. 4.3. “Minha vida é um romance”: o universo poético de D. Maria José Do ponto de vista das experiências individuais, já foi discutido neste trabalho que, ao lembrar as histórias que compuseram sua vida, cada pessoa recorda não apenas o que fez, mas também o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez. Ao dar a esse material mnemônico uma forma oral transmissível, o indivíduo o faz a partir da tessitura de uma narrativa em que revela suas experiências. Benjamin (1993a, p. 221) reflete sobre se a relação entre a matéria da narração − a vida humana − e aquele que narra não poderia ser vista como uma relação artesanal. Ele questiona: “não seria sua tarefa [a do narrador]28 trabalhar a matéria-prima da experiência − a sua e a dos outros − transformando-a num produto sólido, útil e único?”. A questão apresentada me faz pensar que, quando um indivíduo narra sua história, o material sobre o qual ele trabalha, artesanalmente, é a sua própria vida. É a ela que ele busca dar cor e forma, urdindo, em sua síntese, um sentido que transcenda a própria existência. A vida de D. Maria José é permeada por um universo poético representado pelos cantos e histórias herdados da tradição oral que a constitui. Nos relatos, esse repertório se insere, de forma peculiar, na sua fala e intercala-se na construção de sua história de vida. Ao debruçar o olhar sobre esse universo poético que constitui a vida da colaboradora deste trabalho, é possível pensar que ele proporciona um reordenamento do mundo a partir de elementos ligados à estrutura do texto literário. Caldas (1999) aproxima a forma de existência da memória da criação de um texto ficcional, na medida em que o ordenamento desses textos interiores é feito a partir de estratégias narrativas que integram à vivência palavras, temas, imagens, sonhos e desejos, interpenetrando-os numa única realidade. Tendo por base essa estrutura poética, posso acreditar que as histórias dos romances lidos e guardados na memória por D. Maria José deram suporte para ele construir a narrativa de sua vida com o tom épico característico dessas histórias. Assim, se a narrativa da vida de D. Maria 28 Grifo meu. José é um “romance”, ela, como protagonista, internalizou um personagem e, como diz Ciampa (1983) o homem só se presentifica como tal. Se para contar sua história o narrador começa por identificar-se dizendo quem é e de onde veio, pode-se pensar que o início da história de D. Maria José é este: D. MARIA JOSÉ – Eu nasci em barreiro, porque a sogra de mamãe, que era a minha avó, era quando eu nasci no dia 19 de março, dia de São José, por isso que eu digo ((recitando)): a maré tava de vazante e a lua tava de minguante. A lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte e eu sou a mais sofredora do Rio Grande do Norte29. Aí disseram: [...]“e porque a senhora diz que foi a mais sofredora?” Eu disse: porque quando eu nasci, não havia roupa pra vestir, não havia pano pra me enxugar, não havia, não havia comer pra comer, eu me criei com papa de farinha bruta, mamãe pisava a farinha, peneirava numa meia e fazia comer pra mim, não fui criada com leite, nem com carne, nunca comi... Nunca comprou um dedal de leite pra mim. Sempre fui sem sorte, quando inventei de me casar, saí de casa com dois vestidos e uma rede emendada e um lençol emendado, tá vendo? Agora, hoje em dia eu tenho com que dormir, tenho a roupa pra sair, tenho pra vestir em casa. Posso até emprestar uma roupa a um que não tiver/... (Transcrição 4 – 03/05/2006) ....................................................................................................................................................... D. MARIA JOSÉ – Eu digo assim: na era de vinte e cinco a dezenove de março às doze horas do dia, foi aí meu nascimento, a lua tava de minguante, a maré tava de vazante, aí ela disse, o que foi que teve a lua? Eu digo a lua cortou minha sina e a maré levou minha sorte. Eu digo, está falando a maior sofredora do Rio Grande do Norte.30 [...] de gente só tenho os olhos de cachorro. (Transcrição 4 – 03/05/2006) Para contar a sua história, a narradora tem como introdução um verso criado por ela que a aproxima dos personagens dos folhetos. Na literatura, normalmente os heróis têm começos difíceis ou estranhos. O nascimento de D. Maria José é descrito a partir de uma conjunção de forças da natureza que conspiram contra sua sorte. Ela apresenta o infortúnio de sua vida como uma sina. Desde o momento em que nasceu, a narradora se sente usurpada. A maré vazante e a lua minguante são representações 29 30 Grifo meu. Grifo meu. simbólicas ligadas ao enfraquecimento necessário antes da virtuosa mudança. Xidieh (1993) observou que, nas histórias populares, no nascimento do herói ou de uma pessoa predestinada a grandes coisas, a natureza e as situações rotineiras da existência são violentadas por acontecimentos fora do comum. No caso de D. Maria José, o que aconteceu fora do comum na natureza foi a conjunção do “enfraquecimento” do mar e da lua que anunciava uma vida de privações, na qual nada seria dado a esse sujeito e muito lhe seria tirado. As provações da heroína começam na hora do seu nascimento e exigirão dela a força e a bravura do herói para vencêlas. Em outras partes do relato, D. Maria José assume o formato do romance para anunciar sua história. D. MARIA JOSÉ – Se eu for contar minha vida. (SILÊNCIO) Minha vida é um romance, dizer eu sei que é duro, ((reelabora)) faz vergonha eu lhe dizer que no dia em eu nasci, não achei o que comer, e assim vou levando a vida do jeito que eu puder. Lílian – É Dona Maria, que bonito, agora essa foi a senhora que criou? cante ele de novo, tão bonito! D. MARIA JOSÉ – ((Dona Maria reelabora)) Se eu contar a minha vida /faz vergonha eu lhe dizer,/ no dia que eu nasci/ não achei o que comer,/... eu não digo mais não, você quer aprender. Lílian – Estou admirando, achando bonito. E por que eu não posso aprender? D. MARIA JOSÉ – Quando eu nasci assim mamãe dizia chorando que não achou nem um paninho pra amarrar o imbigo, nunca comi uma colher de leite. Minha vida sempre foi muito sofrida. (SILÊNCIO) (Transcrição 3 – 15/07/2006) Para continuar o romance de sua vida, D. Maria José precisa apresentar a força e a bravura da personagem. Para compor a personagem, ela sempre fala da faca que a acompanha e que está presente em muitas das suas histórias. A imagem da mulher que usa uma arma para se defender − dentro e, principalmente, fora de sua comunidade − delineia, no imaginário do ouvinte, a personagem que ela quer apresentar. A heroína não fala de algo divino ou santificado, mas sim da integração do humano em todos os aspectos e com todos os seus limites. Em sua história, D. Maria José, com suas falhas e imperfeições, permanece profunda e visivelmente humana; diante das dificuldades não se põe como vítima, mas como lutadora. Para ela, a coragem e a bravura são importantes qualidades. Lembro-me de uma passagem na qual ela fala de um canto que não gravou no CD Cantares. Eu lhe pergunto o porquê. Ela desconversa e depois me responde: Lílian – Esse é especial, né? D. MARIA JOSÉ – É, foi o coco da fome. Ele diz assim: ♫ no ano de oitenta e um eu vou lhe contar o pior/ brigava a mãe com os filhos/ e os netos com os avós/ pro mode um mandacaru e batata de um potó [?] velha vamos embora, senão nós morre de fome. ♫ Aí eu não cantei não! (SILÊNCIO) Lílian – Ele era muito triste, não era? D. MARIA JOSÉ – Hein? Lílian – Ele era muito triste? D. MARIA JOSÉ – Ele era valente, aí ele pegou um pano, foi na casa de não sei de quem e aí ela botou quatro litros de farinha, quatro rapaduras e quatro pares de bolachinhas. Aí o marido dela era safado, pegue cachaça pra ele num levar o que ela deu. Aí diz assim: ♫ Seu Joca eu vou embora, “não Roberto, espera aí, para melhorar da bola, beba um quarteirão de Ani.” ♫ A pessoa beber um quarteirão de cachaça, hein!? Aí ele disse que quando tomou a aguardente, não sentou mais o pé no chão, aí quando bebeu a aguardente deu logo pra valentão, aí pegue cassete em gente. Lílian – É cachaça tem isso, né? D. MARIA JOSÉ – Aí pegue cassete em gente, ficou por detrás da porta, quem entrava ele derrubava. Aí ele disse que viu quando o inimigo dele, corre Janjão que é Roberto! Aí quando o diabo do Janjão foi passando, ele meteu-lhe o reio e ele caiu do lado de fora. Aí mandaram eu cantar, mas eu não cantei não. (Transcrição 1 – 03/04/2006) D. Maria José considera esse coco especial, talvez pela temática muito próxima de sua vida. No entanto, quando lhe pergunto se considera a história triste, ela retruca-me dizendo que o personagem é valente, ou seja, tal qual ela, ele é aquele que se comporta diante do obstáculo − a fome −, enfrentando a situação. Não posso afirmar o motivo pelo qual ela escolheu não cantar, mas é notória a identificação e o apreço que D. Maria José tem por esse canto. No caldo derivado da memória, os relatos da colaboradora da pesquisa refazem a trajetória de muitas histórias como essa que remontam uma vida extremamente sacrificada enfrentada com muita coragem. Neles, pôde-se entrever, em meio à narrativa, aquilo que é ressaltado pela entrevistada. D. Maria José salienta, nitidamente, a sua enorme capacidade de reação às adversidades, materializada em sua coragem diante da vida. É possível perceber essa coragem na repetição constante de algumas histórias nas entrevistas como, por exemplo, a história da vaca que foi morta por ela, quando criança; a história de como lutou, quase de igual para igual, com Chico, o homem que atacou sua irmã, Maria Bune, e que ela feriu mortalmente; a história da maneira como sozinha construiu a sua casa e criou seus filhos; a briga dos tios em Santo Antônio, durante duas horas, na qual “o sangue fazia chinelo nos pés”, comprovando a descendência de gente brava e a história da morte das várias pessoas de quem cuidou nos instantes finais de suas vidas. Ao compararem os dois conjuntos de relatos desta pesquisa percebe-se queessas histórias são narradas quase com as mesmas palavras, depois de cerca de dois anos. Essa repetição das histórias é um recurso que diz muito do significado delas no contexto geral da vida de D. Maria José. Segundo Pollack (1989, p. 8), quando se trabalha com histórias de vida e o entrevistado volta diversas vezes a um número restrito de acontecimentos (seja por iniciativa própria, seja provocado pelo entrevistador), ali está um núcleo resistente que se revela como fio condutor dessa história de vida. Essa característica sugere que toda história de vida deve ser considerada como “instrumento de reconstrução da identidade”. Assim, a história de vida ordena acontecimentos que balizaram uma existência, e através desse trabalho de reconstrução de si mesmo é que o indivíduo tende a definir seu lugar social e suas relações com os outros. Para definir o perfil da heroína “D. Maria José”, a narradora precisa da voz dos outros personagens que estiveram presentes em sua vida. Os personagens estão envolvidos uns nos outros, não apenas porque deságuam numa narrativa comum, mas porque eles precisam uns dos fios dos outros para poder haver um desfecho, e, assim, um sentido. Ao narrar as histórias dos outros, entremeando-as às suas, D. Maria José aproxima-se da narrativa das histórias de As mil e uma noites, na qual a história da vida de cada personagem desdobra-se na vida de outros com quem eles contracenam, entretecendo não uma estória única, mas uma trama de histórias desdobradas. Entre os muitos romances que estão guardados na memória de D. Maria José e povoam o seu mundo imaginário, pude perceber que ela tem uma preferência especial pelo “verso de Marina”, como ela chama, ou O Romance de Alonso e Marina ou A força do Amor, como é conhecido. O folheto A força do amor (Alonso e Marina) (MEDEIROS, 2002) foi publicado entre 1910 e 1912, por Leandro Gomes de Barros. Conta a história da heroína Marina, que, filha de um barão e órfã de mãe, vê sua vida sentimental perturbada pela proibição da união matrimonial com um rapaz pobre, a quem, sem conhecimento do pai, dá condições de estudo. Ela é uma moça determinada, capaz de sugerir ao amado as atitudes a tomar. Alonso é digno e a ela reverente. Um certo dia, incentivado por Marina, o rapaz toma coragem e a pede em casamento. O pai da moça sente-se ofendido e determina a prisão do rapaz, que é solto por Marina por meio de suborno do carcereiro. A moça manda o namorado ao Japão, para que enriqueça com o trabalho, imaginando que seu pai pudesse, no futuro, ser seduzido pelo dinheiro. Logo depois, surgem para ela duas propostas de casamento, recebidas com entusiasmo pelo barão e com repulsa por parte de Marina. A primeira parte de um rapaz rico, logo descoberto como assassino e ladrão, o que a livra do compromisso sem maiores problemas. Porém, a seguir, um primo a pede em casamento, ao que Marina demonstra seu repúdio, jurando-o de morte. Não dando o primo atenção às palavras de Marina, é morto por ela no altar. Desejando vingar o noivo, o irmão dele investe contra a Marina, e também é morto. Ela é presa, mas consegue comunicar-se com Alonso, que já está rico. Este vem buscá-la, verificando sinais de declínio financeiro do pai repressor (o carcereiro não recebia salário, tendo trabalhado durante seis meses). A fuga do casal para o Japão é descrita como uma verdadeira batalha naval – , na verdade duas! – das quais o barão retorna completamente empobrecido. No final, ele é perdoado, porém Alonso é morto por um primo (o irmão que restara do noivo assassinado) de Marina. Na penúltima estrofe do romance, é mencionada a morte do personagem Alonso, o herói, mesmo após serem apaziguados os conflitos inerentes à estrutura do romance popular – o casal supera as dificuldades e vence a figura repressora. Não existe menção à reação de Marina, a heroína. Nesse romance, o fio condutor da narrativa é a impossibilidade de realização amorosa, a fuga do rapaz, a adversidade pela qual a moça passa e o crime cometido, a perseguição superada, a felicidade alcançada, a vingança pelo duplo assassinato e a nova vingança. Dentro do corpus apresentado, esse romance é narrado por D. Maria José em dois momentos: na entrevista do dia 15 de julho de 2003 e, depois, no relato do dia 12 de maio de 2005. No entanto, entre o material da pesquisa perdido, havia várias alusões a esse texto. D. Maria José sempre se referiu ao romance com uma admiração especial pela protagonista da história. Ela deixa transparecer na sua fala que se identifica com a personagem Marina. Tal qual a protagonista, D. Maria José, em sua história, também é a heroína que combate o mundo masculino com força e bravura. D. Maria José é uma mulher que, após ser abandonada pelo marido, cria seus filhos com a força de seu trabalho. Enquanto filha, esposa e cidadã, dentro de suas possibilidades, jamais se submete às imposições que o mundo masculino lhe impõe. O romance de Marina e Alonso apresenta essa transgressão aos modelos de família patriarcal. É o pai quem detém o poder, podendo decidir até mesmo a vida ou a morte da filha. No imaginário da narradora, Maria José e Marina são personagens que representam a mulher brava e corajosa, que, em meio à sociedade patriarcal, tem voz e identidade. É interessante notar o alinhavo que leva uma história à outra. No relato a seguir, para chegar à história do romance, D. Maria José começa falando da faca que levou escondida para a cidade de São Paulo, com o intuito de se proteger. Eu comento sobre a dificuldade da vida para as mulheres e meu comentário faz D. Maria José relembrar a história de Maria Doida, mulher que cortou os genitais de um homem que tentou atacá-la, matando-o em seguida. A história é contada ela justificando e aprovando o ato da moça. Essa história traz a narradora para o mundo imaginário do romance A força do Amor. D. Maria José conta a história do romance e eu pergunto: D. MARIA JOSÉ – Mulher forte era Marina. Marina, o pai dela foi prendeu, mandou butar Alonso na cadeia por que ele pediu a mão dela e disse pra não levar comida pra ele. Aí chamou ela, “você deu confiança a um bandido que agora mim envergonhou?” [...] Lílian – Marina era parecida com a senhora, num era? [...] D. MARIA JOSÉ – Era nada. Eu não tinha essa coragem de matar ninguém queimado não. Lílian – Uma lutadora. Todas essas suas histórias. Já prestou atenção, que são de mulheres fortes?[...] D. MARIA JOSÉ – Porque a gente não deve ser morta dentro da saia, não. Muito embora que às vezes se cague de medo. ((risos)) O que se faz já tá feito, não tem mais jeito. (SILÊNCIO) [...] D. MARIA JOSÉ – Marina é que nem eu, ninguém me engana com um olho, não! Sou besta não! (Transcrição 3 – 15/07/2003) A outra menção que é feita a esse mesmo texto inicia com uma conversa sobre como D. Maria José aprendeu os romances e como − seja através da criação do ritmo ou dos versos − ela interfere na composição desses textos. Em um certo momento, ela afirma que o verso mais difícil de aprender é o de Marina. Quando questionada sobre o porquê, a narradora começa a falar da bravura da heroína. Após uma breve recusa, D. Maria José conta a história e depois, apresenta a sua opinião sobre a história e a relação dela com sua vida: Lílian – É bonita a história, Dona Maria. D.MARIA JOSÉ – É toda de sofrimento. Lílian – É. Marina é uma mulher muito forte, né? D.MARIA JOSÉ – É. Muito forte. Eu gosto dela. Aí mamãe... Comadre Elba teve um menino e ia mandar botar o menino na areia do rio. Aí eu cheguei e disse: mamãe?/... Que a casa dela era mesmo aqui, perto da minha casa, como aquela de lá. [...] Lílian – Hum, hum! D.MARIA JOSÉ – Aí tia Cantu: “minha filha não faça isso, não.” Que ela era neta da minha tia. “Faça isso não.” Mais tarde... “mais eu não vou criar”, o bichinho tão alvinho! ... aí mamãe chegou e disse: “Elba, tu vai botar o menino no mato?” “Se não botarem ele no mato ou na areia do rio, eu mato ele.” Mamãe disse: “não mata, não! Me dá.” Aí ela disse: “pode levar.” Aí mamãe levou pra casa. Mamãe tinha Marina, aí botou o nome do menino de Alonso. Lílian – Ai! Que bonito! D.MARIA JOSÉ – Quando o menino tava com oito meses, morreu dessa grossura. Mamãe chorou, quando o menino morreu! Lílian – Quer dizer que o nome de Marina... Você tinha uma irmã que chamava Marina? D.MARIA JOSÉ – Minha irmã? É minha filha! Lílian – Não, mas não foi sua mãe que tinha Marina? D.MARIA JOSÉ – Mas, mamãe não tinha Marina, que era neta dela? Lílian – Ah! Sua filha, entendi! D.MARIA JOSÉ – Aí, ela vivia mais com Marina, do que mesmo eu. Lílian – E a senhora botou o nome de sua filha de Marina, por causa dessa história? D.MARIA JOSÉ – Foi. (Transcrição 7 – 12/05/2005) Para mim, essa passagem sintetiza talvez o que pretendi mostrar ao longo deste trabalho. Os cantos guardados na memória dessa mulher não estão lá cristalizados. Mais do que textos recordados, o universo poético que os compõe habita a existência de D. Maria José. Candido (2002), quando se refere aos estudos das manifestações literárias orais, ressalta que, para entendê-las, é preciso não perder de vista a sua integridade estética, distinguindo, como na literatura escrita, a função total, a função social e a função ideológica. A função total deriva da elaboração de um sistema simbólico responsável por transmitir uma certa visão de mundo. A função social abrange o papel que a obra desempenha no estabelecimento de “relações sociais, na satisfação de necessidades espirituais e materiais, na manutenção ou mudança de uma certa ordem na sociedade” (CANDIDO, 2002, p. 46). Entre outros dons que tem, D. Maria José canta histórias. Elas são tiradas do espaço em ebulição de sua memória e vêm contagiadas pela substância de sua vida. E a vida de D. Maria José, como qualquer outra, está repleta de bons e maus momentos, de fatos trágicos, cômicos e dramáticos, da sua história e da de seus antepassados. Quando canta seus versos, ela fala em seu nome e em nome de todos os seus: sua tradição, seu povo, sua realidade. E é essa mesma realidade experimentada que permite a ela encontrar sentido para a sua poesia. CONSIDERAÇÕES FINAIS Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a minha verdade. Fim que foi. Grande sertão: veredas João Guimarães Rosa Neste trabalho foi comentado que para os estudos que integram a linha do folclore, a cultura popular é tudo aquilo que se refere à tradição, o depósito da criatividade camponesa, da profundidade que se perderia com as mudanças exteriores da modernidade. No cerne das concepções do folclore, expõe-se a contradição “tradição x transformação”, muito presente nos diversos embates travados sobre esse tema. Estudos como os de García Canclini (2003) apontam, entretanto, novas respostas para esse confronto, afirmando que é preciso pensar em tradição e transformação como processos complementares entre si, e não como excludentes, pois o termo tradição não implica, necessariamente, uma recusa à mudança, da mesma forma que a modernização não exige a extinção das tradições. Assim, muito mais do que “guardar” objetos culturais, como cantos e festas, à maneira folclorista, pensar na preservação das tradições populares é compreender a cultura popular como um conjunto de significados que estão em um permanente processo de modificação, sendo indissociável da vida dos sujeitos que nela estão inseridos. Por essa ótica, passa a ser impossível estudar essas relações sem lançar um olhar atento para os contrastes e as ligações que mantêm essa cultura viva e presente. Para isso, é preciso considerar-se a voz dos indivíduos que participam da produção de seus bens culturais. Foi a partir desses princípios que pude realizar nesta tese a trajetória de Militana a Maria José. Percebi que as duas maneiras de conceber o popular lançam olhares diferentes sobre o mesmo sujeito. D. Militana, a “romanceira do Oiteiro”, é reconhecida pela capacidade armazenadora de sua memória, aparecendo como legítima representante da cultura popular, uma cultura que precisa ser resguardada, porque é sempre apresentada como em vias de extinção, por ser algo ligado a um passado distante. Ao tentar conhecer D. Militana, ela é uma imagem, e que de sua voz só se pode ouvir o maravilhoso repertório de cantos que traz consigo. Esses mesmos cantos, ouvi-os da voz de D. Maria José. No entanto conhecer a sua história de vida permitiu-me compreender que, para D. Maria José, o cotidiano, a vida e o canto são elementos interligados numa mesma dimensão. Sua incapacidade de viver sem cantar vai além daquilo que foi dito com palavras; refere-se à necessidade fundamental, coletiva e pessoal, de manter viva uma identidade construída a partir de suas lembranças. Assim, nos relatos apresentados por este trabalho, suas palavras confundem-se com seus versos, e pude captar nelas uma maneira própria de “dizer” o mundo. Os textos orais por D. Maria José produzidos tornam imprecisas as fronteiras entre o que se pode considerar textos orais “literários” e os “não-literários”. Procurei mostrar como literatura, história de vida e memória se entrelaçam em discursos que marcam uma identidade cultural. Benjamin (1993a), em seu conhecido texto O narrador, afirma que é da experiência vivida ou recontada por outros que o narrador retira elementos para a sua própria narrativa. Compartilhar do universo de experiências de D. Maria José deu-me condições para escrever este trabalho, pois foi nessa experiência mútua e, de certa forma, inusitada para ambas as partes que pude apreender o seu cotidiano. A inversão de papéis, 6666666em alguns momentos da pesquisa − entre observador e observado −, possibilitou um pouco dessa apreensão. O encontro, na pesquisa de campo, de dois universos culturais distintos me fez descobrir que a convivência pode transcender os limites de uma pesquisa científica. É na confiança que se estabelece entre esses dois sujeitos que os sentidos mais profundos daquilo que é dito deixam-se aflorar através das narrativas, das conversas intimistas, ultrapassando os limites da observação, exigindo interação mútua − além de uma certa cumplicidade entre os que “contam” e os que “ouvem” −, possibilitando um grau de sensibilidade que permite “ouvir” a voz que fala e a que cala. A construção dessa interação me mostrou quanto as “nossas” sociedades cultas e acadêmicas deixam de ganhar quando perdem a capacidade de ouvir à medida que se distanciam das classes populares, somente atribuindo-lhes algum valor quando para atingir seus próprios interesses. Encontramos, nas entrevistas, vários níveis de discurso: o discurso da personagem “Maria José”, o discurso da “cantadora D. Militana”, o discurso da “realidade da vida”. Todos eles são permeados pela “voz em canto” e espelham a diversidade da cultura popular: contraditórios, condescendentes, questionadores, persuasivos, tragicômicos, são todos eles vozes que contestam, que resistem, que sobrevivem e que edificam, dia-adia, a sua própria realidade. Dessa forma, longe do contexto que o gerou, o verso que D. Maria José canta só pode ser entendido parcialmente, pois foi arrancada de si a essência que o fez existir e o faz resistir. Preocupei-me, na construção desse texto, em captar da voz de D. Maria José, o que ela tinha a dizer, considerando o contexto que a revelava, as intenções que a motivavam e os discursos que a abafaram. Ouvir D. Maria José permitiu-me comprovar que o caminho necessário para se chegar aos produtores das práticas populares, no sentido de compreender o significado de suas realizações, passa pelo universo imaginário e real de cada indivíduo, em particular, e da sua comunidade, num aspecto mais coletivo. Não tenho certeza se foi possível, mas tive o propósito de não fazer deste texto somente mais um discurso sobre os que integram o universo da cultura popular, como D. Maria José. Tive a pretensão de fazê-lo um meio, um canal no qual essas vozes pudessem ecoar. Voltando a Walter Benjamim, fico com a impressão de que, se não faltam narradores populares, visto que o povo sempre terá o que contar o que falta é quem se disponha a ouvi-los. Falta, talvez, encontrar ouvintes capazes de aprender com essas estórias as quais, de maravilhosas e trágicas, constroem toda a épica das vidas que, sendo deles, não deixam de serem também nossas. Portanto, a responsabilidade que assumi na construção desta pesquisa foi a de apresentar D. Maria José. Fazer ecoar a sua “voz em canto” é dar som a essas vozes que são negadas, marginalizadas, relegadas a segundo plano por todos os que insistem em ver a sua cultura destituída da razão de ser e acontecer numa sociedade não construída para as populações marginalizadas, embora delas dependa para se manter. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALBERTI, V. Manual de história oral. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004. AMARAL, A. Tradições populares. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1976. ANDRADE, M. de. O turista aprendiz. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999. ARAÚJO, A. M.; ARICÓ JÚNIOR. Aboio de roça. Jangada Brasil. Ano 3, n. 35, jul. 2001. Disponível em: <http://jangadabrasil.com.br/julho35/cn35070a.htm>. Acesso em: 7 maio 2006. ARTISTAS vivem na miséria. Tribuna do Norte. Natal, 05 fev. 2004. Disponível em: <www.tribunadonorte.com.br/anteriores/2004/02/05/viverla.html>. Acesso em: 18 mar. 2004. AYALA, M; AYALA, M. I. N. Cultura popular no Brasil: perspectivas de análise. São Paulo: Ática, 1987. __________. Cocos: alegria e devoção. Natal: EDUFRN, 2000. AYALA, M. I. N. No arranco do grito: aspectos da cantoria popular nordestina. São Paulo: Ática, 1988. __________. O conto popular: um fazer dentro da vida In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA, 4., São Paulo, 1989. Anais... São Paulo, USP, 1989. p. 260267. __________. Riqueza de pobre. Literatura e sociedade. Revista de teoria literária e literatura comparada. São Paulo, n. 02, 1997. p.160-169. __________. Diferentes temporalidades da literatura oral popular In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA, 17., Gramado, 2002. Anais... Gramado: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. __________. Aprendendo a apreender a cultura popular. In: PINHEIRO, H. (org.) Pesquisa em literatura. Campina Grande: Bagagem, 2003a. __________. A cultura popular em uma perspectiva empenhada de análise. In: FERNANDES, F. A. G. (org.) Oralidade e literatura: manifestações e abordagens no Brasil. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2003b. p. 81-113. AYALA, M. I. N. Formas literárias na memória de artistas populares. In: ENCONTRO DE HISTÓRIA ORAL DO NORDESTE, 4., Campina Grande: 2003. Anais... Campina Grande: Universidade Federal de Campina Grande, 2003c. 1 CD-ROM p. 1521-1528. ASSUNÇÃO, L. C. de. O falso brilho do folclore potiguar. In: Fórum Cultural de Natal, Natal, Janeiro de 2004. Disponível em: <www.clotildetavares.com.br/forum/falsobrilho_luizassuncao.htm>. Acesso em: 07 jan. 2006. BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Traduzido por Yara Frateschi. 2. ed. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1993. __________. Estética da criação verbal. Traduzido por Maria Ermantina Galvão G. Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins fontes, 1997. __________. Marxismo e filosofia da linguagem. Traduzido por Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 9. ed. São Paulo: HUCITEC, 1999. BASTIDE, R. Sociologia do folclore brasileiro. São Paulo: Anhambi, 1959. BENJAMIM, W. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: _________. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. v. 1. Traduzido por Sérgio Paulo Rouanet. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993a. p. 197-221. _________. Experiência e pobreza. In: _________. Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. v. 1. Traduzido por Sérgio Paulo Rouanet. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993b. p. 114-119. _________. Imagens do pensamento. In: _________. Obras escolhidas. Rua de mão única. v. 2. Traduzido por Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993c. p. 267-272. __________. Experiência. In: _________. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, apresentação e notas Marcus Vinicius Mazzari, São Paulo: Duas Cidades/ Editora 34, 2002. p. 21-25. BERGSON, H. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. Traduzido por Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. BOM MEIHY, J. C. S Canto de morte Kaiowá: história oral de vida. São Paulo: Edições Loyola, 1991. _________. Manual de história oral. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000. BORGES, J. L. Funes, o memorioso. In: Ficções. Traduzido por Carlos Nejar. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001. BORNHEIM, G. O conceito de tradição. In: NOVAES, A. (org.) Cultura brasileira: tradição/contradição. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1997 BOSI, A. Cultura como tradição. In: NOVAES, A. (org.) Cultura brasileira: tradição/contradição. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. __________. Plural, mas não caótico. In: _________. (Org.) Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, 1999. p. 7-15. __________. Cultura brasileira e culturas brasileiras. In: ________. Dialética da colonização. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 308345. __________. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. BOSI, E. Cultura e desenraizamento. In: BOSI, A. (Org.) Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, 1999. p. 16-41. ________. Cultura de massa e cultura popular. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. __________. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 9. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. __________. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. 2. ed. Ateliê editorial, 2004. BURKE, P. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. __________. Variedades de história cultural. Traduzido por Alda Porto. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2000. CABRAL, C. F.; AYALA, M. I. N.; AYALA, M. Memória do coco em Tambaú. In: Revista Caos. Revista Eletrônica de Ciências Sociais. João Pessoa, UFPB; Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes; n. 1, abr. 2000. CALDAS, A. L. Oralidade: texto e história: para ler a história oral. São Paulo: Edições Loyola,1999. CAMARA, L. Dicionário da música do Rio Grande do Norte. Natal: Acervo da Música Potiguar, 2001. CANDIDO, A. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8. ed. São Paulo: T. A . Queiroz, 2002. ________. Os parceiros do Rio Bonito. 10. ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003. CASCUDO, L. da C. Tradições populares da pecuária nordestina. Documentário da vida rural, n. 09. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura- Serviço de Informação Agrícola, 1956 ________. Vaqueiros e cantadores. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1984a. ________. Literatura oral no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1984b. ________. Flor de romances trágicos. 3. ed. Natal: EDUFRN, 1999. ________. Dicionário do folclore brasileiro. 10. ed. São Paulo: Global, 2001. ________. Anúbis ou o culto do morto. In: Superstição no Brasil. 5. ed. São Paulo: Global, 2002. p. 17-39. CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: as artes do fazer. Traduzido por Ephraim Ferreira Alves. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2003a. CERTEAU, M.; JULIA, D.; REVEL. A beleza do morto. In: CERTEAU, M. A cultura plural. 3. ed. Traduzido por Enid Abreu Dobránszky. Campinas/SP: Papirus, 2003. CHARTIER, R. Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico In: Estudos históricos, Vol. 08, n°16. Rio de Janeiro, 1995. CHAUI, M. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2001. CIACCHI, A. Histórias no canto. Tese (Doutorado em Letras) João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 1988. _________. A história somos nós: reflexões sobre histórias de vida, autobiografia, cultura popular, narradores e pesquisadores. Revista Política e Trabalho. João Pessoa, UFPB; Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes; Programa de Pós-graduação em Sociologia, n. 13, set. 1997, pp. 223-235. CIAMPA, A. da C. A estória do Severino e a história da Severina: um ensaio de psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 2005. COELHO, T. Dicionário de Política Cultural. 3. ed. São Paulo: Iluminuras, 2004. CURTIUS, Ernest Robert. Literatura européia e Idade Média latina. São Paulo: EDUSP/HUCITEC, 1996. D. MILITANA. Jornal de Hoje. 25 maio 2004. D. MILITANA recebe de Lula a Ordem do Mérito Cultural 2005. Jornal de Hoje. Natal, 9 nov. 2005. DIAS, M. A memória de 700 anos de D. Militana. O Estado de São Paulo. São Paulo, 19 jul. 2002. Disponível em: <http//:www.estadao.com.br/divirtase/notícias/2002/jul/19/158.htm>. Acesso em: 11 ago. 2002. DOR, J. Introdução à leitura de Lacan. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. FERNANDES, F. O folclore em questão. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1989. FERNANDES, J. G. dos S. O boi de máscaras: festa, trabalho e memória na cultura popular do Boi Tinga de São Caetano de Odivelas, Pará. Tese (Doutorado em Letras) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2004. FERNANDES, J. et al. Já fui gente. Hoje Sou um Bregueço. Tribuna do Norte. Natal, 11 dez 2005. Disponível em: <http://anteriores.tribunadonorte.com.br/anteriores/2005/12/11/natal/na tal11.html>. Acesso em: 12 dez. 2005. FUNCARTE pagou cachê de D. Militana. Jornal de Hoje, 22 e 23 maio 2004. FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, Centro de Pesquisa Juvenal Lamartine. São Gonçalo do Amarante. Natal: Gráfica Manimbu, 1982. GALVÃO, H. Romanceiro: pesquisa e estudo. Natal: UFRN – Fundação Cultural Hélio Galvão/Fundação Sócio Cultural Santa Maria, 1993. GARCÍA CANCLINI, N. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. ______. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4. ed. Traduzido por Heloísa Pezza Cintrão, Ana Regina Lessa. São Paulo: EDUSP, 2003. _______. Ni Folklorico ni massivo ¿que es lo popular? Pensar em la comunicación: el espacio teórico. Disponível em: <http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/garcia_canclini1.pdf >. Acesso em: 10 jan. 2006. GINZBURG, C. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição. Traduzido por Maria Betânia Amoroso. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. GODBOUT, J. T. O espírito da dádiva. Traduzido por Patrice Charles F.X. Wuillaume. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999. GRAMSCI, A. Observações sobre o folclore. In: Literatura e vida nacional. Tradução e seleção Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. p. 183-190. GURGEL, A. Dona Militana: do estrelato ao abandono. Jornal de Hoje. Natal, 20 maio 2004. GURGEL, D. Romanceiro de Alcançus. Natal: UFRN/PROEX/Cooperativa Cultural, Editora Universitária, 1992. ________. Espaço e tempo do folclore potiguar. Natal: Prefeitura de Natal FUNCART (PROFINC): Secretaria do 4º Centenário, 1999a. ________. Romanceiro potiguar. GALANTE, Natal, ano 1, n. 6, nov. 1999b. GURGEL. D. Maria José: esse fenômeno. Tribuna do Norte. Natal, 13, jan. 1999. Disponível em:<http://anteriores.tribunadonorte.com.br/anteriores/990113/viver.html >. Acesso em: 4 abr. 2006. HALBWACHS, M. A memória coletiva. Traduzido por Laís Teles Benoir. São Paulo: Centauro, 2004. HALL, S. Notas sobre a desconstrução do “popular”. In: ________. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Traduzido por Adelaine La Guardiã Resende. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003. p. 245-264. HELLER, A. O cotidiano e a história. Traduzido por Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. HOBSBAWM, E; RANGER, T. A invenção das tradições. Traduzido por Celina Cardim Cavalcante. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. INFORMATIVO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE. Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (IDEC), 1999. LANNA, M. Nota sobre Marcel Mauss e o ensaio sobre a dádiva. In: Revista de Sociologia e Política. Revista do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, n.14, jun. 2000. p.173-194. LE GOFF, J. História e memória: memória. v. 2, Traduzido por Ruy Oliveira. 6. ed. Lisboa/Portugal: Edições 70, 1982. LIMA, F. A. de S. Conto popular e comunidade narrativa. Rio de Janeiro: FUNARTE/Instituto Nacional do Folclore, 1985. LÚCIO, A. C. M. O mundo de Jove: a história de vida de um cantador de coco. Tese (Doutorado em Letras) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2001. LUIZ, F. Por que esta ingratidão? Tribuna do Norte. Natal, 05 mar. 2004. Disponível em: <www.tribunadonorte.com.br/anteriores/2004/03/05/colunas/artigos2.ht ml>. Acesso em: 18 mar. 2004. MARANHÂO, J. l. de S. O que é morte. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992. MARIA JOSÉ: manifestação cultural rara no RN. Tribuna do Norte. Natal, 29 out. 2000. MARTINS, J. de S. Antropofagia e barroco na cultura latino-americana;. In: A chegada do estranho. São Paulo: HUCITEC, 1993a. p. 15-26. _________. Tempo e linguagem nas lutas de campo. In: A chegada do estranho. São Paulo: HUCITEC, 1993b. p.27-59. MEDEIROS, I. (Org.). No reino da poesia sertaneja: antologia de Leandro Gomes de Barros. João Pessoa: Idéia, 2002. MONTENEGRO, A. T. História oral e memória; a cultura popular revisitada. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1994. NOGUEIRA DE ARAÚJO, M. N. História de São Gonçalo – Edição Comemorativa. Natal: Nordeste Gráfica LTDA, 1983. ORTIZ, R. Cultura popular: românticos e folcloristas. São Paulo: Olho d’água, s/d. _________. A consciência fragmentada: ensaios de cultura popular e religião. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1980. ________. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003. POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. In: Estudos históricos, Vol. 02, n°03. Rio de Janeiro, 1989. p. 3-15. PORTELLI, A. O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito e política, luto e senso comum. In: FERREIRA, M. de M.; AMADO, J. (org.) Usos e abusos da história oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002. p.103-137. _________. Forma e significado na história oral: a pesquisa como um experimento em igualdade. Traduzido por Maria Therezinha Janine Ribeiro. Projeto história. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, v.14, Fev. 1997a. p.7-24. PORTELLI, A. O que faz a história oral diferente. Traduzido por Maria Therezinha Janine Ribeiro. Projeto história. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUCSP. São Paulo, v. 14, abr.1997b. p. 25-39 _________. Tentando aprender um pouquinho; algumas reflexões sobre a ética na história oral. In: Projeto história. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo, v. 15, abr.1997c. p. 13-49 QUEIROZ, M. I. P. de. Variações sobre a técnica de gravador no registro da informação viva. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 1991. RAMOS, J. de C. (Mestre Deda). Barca de Santa Maria: versos e memória da brincadeira da Nau Catarineta. Org. José de Carvalho Ramos, Marcos Ayala, Maria Ignez Novais Ayala, Diógenes André Vieira Maciel e Lygia Silveira Fontes. Campina Grande: Bagagem, 2005. RIBEIRO, I. Auto temperado com poesia, luzes e frevo. Tribuna do Norte. Natal, 24 dez. 2003. Disponível em: <www.tribunadonorte.com.br/anteriores/031224/viver/viver1.htm>. Acesso em: 13 maio 2003. ROMERO, S. Cantos populares do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1985. SARLO, B. Culturas populares velhas e novas. In: ________. Cenas da vida pós-moderna: intelectuais ante a videocultura na Argentina. 3. ed. Traduzido por Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2004. p. 99122. SILVA, Y. Produtor cultural esclarece questão de direitos autorais de D. Militana. Tribuna do Norte. Natal, 24 dez. 2005. Disponível em: <http://anteriores.tribunadonorte.com.br/anteriores/2005/12/24/viver/vi ver4.html>. Acesso: em 26 dez. 2005. SOUZA, T. Vozes de um sertão medieval. JB Online. Rio de Janeiro, 07 ago. 2002. Disponível em: <http://www.jb.com.br/jb/notícias/papel/cadernob/2002/08/06/jorcab20 020806005.html>. Acesso em: 14 jan. 2006. THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Traduzido por Rosaura Eichemberg. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. THOMPSON, P. A voz do passado: história oral. 2. ed. Traduzido por Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. Um TRIBUTO à rainha do romance. Diário de Natal. 10 nov. 2005. Disponível em: <www.diariodenatal.dnonline.com.br/site/matária.php?idsec=6&idmat=138 145>. Acesso em: 04 abr. 2006. XIDIEH, O. E. Cultura popular. In: SESC/SP. Catálogo de apresentação da Feira Nacional de Cultura Popular. São Paulo, 1976. _________. A difícil viagem de retorno à aldeia. Caderno de textos do Mestrado em Letras. João Pessoa, Série 2, n. 8, p. 7-50, 1992. _________. Narrativas populares: estórias de Nosso Senhor Jesus Cristo e mais São Pedro andando pelo mundo. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1993. ZELDIN, T. Uma história Íntima da humanidade. Traduzido por Hélio Pólvora. 2. ed., Rio de Janeiro: Record, 1999. FOTOS* Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre... O fotógrafo Manuel de Barros * As fotos que são apresentadas aqui registram os dois momentos desta pesquisa. As fotos de números 01 a 08, foram tiradas no dia 03/04/2003 e, excetuando a foto 04, são todas de minha autoria. O registro fotográfico que compreende as fotos de números 09 a 15 é todo minha autoria. Este aconteceu em 19 de março de 2006, dia do aniversário de 81 anos de D. Maria José. Foto 1 Casa de D. Maria José no Sítio Oiteiro, São Gonçalo do Amarante/RN, onde ela morou até 2004. Foto 2 Mangueiral do Sítio Oiteiro, em São Gonçalo do Amarante/RN. Foto 3 D. Maria José no batente de sua casa, no Sítio Oiteiro. Este foi o local das entrevistas realizadas no período entre 2003 e 2004. Foto 4 Lílian e D. Maria José, numa das muitas tardes de conversas... Foto 5 Imagens de santos e fotos na parede da casa de D. Maria José Foto 6 Banca de santos de D. Maria José, onde ela cultua seus santos de devoção. Em vários momentos os santos viram tema das conversas. Foto 7 D. Maria José Fumando seu cachimbo ao lado da sua banca de santos. Foto 8 A rede, o cachimbo, seus santos. O universo de D. Maria José Foto 9 D. Maria José em frente à casa de sua filha Benidita, casa em que vive desde o final do ano de 2004, localizada no loteamento Alto de Canaã, em São Gonçalo do Amarante. Neste local aconteceram as entrevistas da segunda fase de nossa pesquisa, em maio de 2005. Foto 10 D. Maria José rodeada pelas filhas, Benidita (de pé) e Francisca (na cadeira de balanço) e por netos e bisnetos. Entre eles, expõe com orgulho a medalha da Ordem do Mérito Cultural, comenda que recebeu do presidente Lula. Foto 11 D. Maria José ao lado do filho Zé Luiz, por quem expressa grande afeição. Foto 12 D. Maria José preparando um ramo para benzimento. Foto 13 Foto14 D. Maria posa para foto com a medalha da Ordem do Mérito Cultural nas mãos. D. Maria José expõe com orgulho a inseparável faquinha. Para ela, o instrumento serve como defesa. Foto 15 Diva Sueli e D. Maria José, num dos muitos momentos de descontração que construíram essa relação de amizade. ANEXOS ANEXO A - A memória de 700 anos de D. Militana. Matéria de O Estado de São Paulo. 19 jul. 2002 ANEXO B – Dona Militana: do estrelato ao abandono. Matéria do Jornal de Hoje. 20 maio 2004. ANEXO C - Maria José: esse fenômeno. Matéria da Tribuna do Norte. 13, jan. 1999 ANEXO D - Romanceiro Potiguar. GALANTE, Natal, ano 1, n. 6, nov. 1999. ANEXO E - Já fui gente. Hoje Sou um Bregueço. Matéria da Tribuna do Norte. 11 dez 2005. ANEXO F - Auto temperado com poesia, luzes e frevo. Matéria da Tribuna do Norte. 24 dez. 2003. ANEXO G -. Produtor cultural esclarece questão de direitos autorais de D. Militana. Matéria da Tribuna do Norte. 24 dez. 2005. ANEXO H - Vozes de um sertão medieval. Matéria do jornal do Brasil. 07 ago. 2002. ANEXO I - ARTISTAS vivem na miséria. Matéria da Tribuna do Norte. 05 fev. 2004. ANEXO J - MARIA JOSÉ: manifestação cultural rara no RN. Matéria da Tribuna do Norte. 29 out. 2000. ANEXO L - FUNCARTE pagou cachê de D. Militana. Matéria do Jornal de Hoje, 22 e 23 maio 2004. ANEXO M - D. MILITANA. Matéria do Jornal de Hoje. 25 maio 2004. ANEXO N - D. MILITANA recebe de Lula a Ordem do Mérito Cultural 2005. Matéria do Jornal de Hoje. 9 nov. 2005. ANEXO O - Por que esta ingratidão? Matéria da Tribuna do Norte. 05 mar. 2004. ANEXO P - Um TRIBUTO à rainha do romance. Matéria do Diário de Natal. 10 nov. 2005. ANEXO Q- Entrevista – Dona Militana. Matéria do Jornal Diário de Natal. 23 nov. 2005.
Download