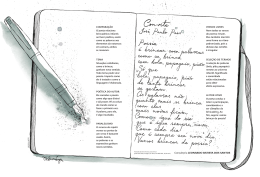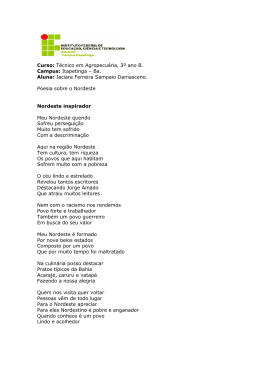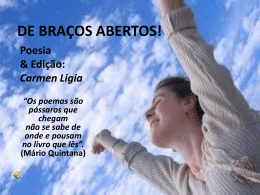Foto: Arquivo Benedito Nunes 308 da palavra VII. Homenagens poéticas a Benedito Nunes da palavra 309 310 da palavra da palavra 311 312 da palavra da palavra 313 Dina Oliveira Bibi Letras para Benedito 314 da palavra da palavra 315 Lilia Silvestre Chaves Para e pelo ser Santidade de escrever, insanidade de escrever equivalem-se. O sábio equilibra-se no caos. Carlos Drummond de Andrade 316 da palavra Para o tio Bené E a angústia de dizer sem ser palavra... Disse um sábio uma vez olhando triste: temos a eternidade em nossos olhos. O pensamento antecipa o meu gesto nesta margem opaca. Seria este o rio de tantos dizeres? Chegando ao fim da espera, quem convive em seu silêncio não esquece a alegria de pensar. Percebo o brilho das reflexões perdidas, o longe das estrelas: que dure a vida o tempo da resposta. A teus pés, o sopro do vento eterno da escrita. Lançaste a vida na travessia da palavra. Desnudem-se todos os verbos! O que vem às avessas do tempo, e ao tempo soma a sua essência: mãos de bronze nas portas de antiga memória, corredores de muitas tias. O dentro que é infância. (Na torre de pedra dos livros, meus passos tão pequenos que subiam sem questão de ser ainda, na rua de uma estrela – o riso que é do circo: o trapezista.) As minhas palavras ao falar-te não se sentem frias. Não há o livro entre nós: estamos nós entre o livro e o mundo. Leio a voz, o olhar, as mãos que explicam, comedidas, as medidas deste gesto que nos fala. No rio que leva a história, o ser da vida, de mim, de você, de todo o mundo, eu faço a roda das palavras pelo tempo: por fora a casca, que envolve a alma – isto envelhece, por dentro a infância, eterna infância e sempre juventude. da palavra 317 318 da palavra Vicente Franz Cecim Isso, o Aquilo, o Sem Nome, O ao Benedito Nunes Voando de Andara para pousar, nas Asas da Palavra, nos Jardins da Estrela O que faz a árvore, o que faz o vento, o que faz eu me perguntar essas coisas? - Lá. * Vicente Franz Cecim nasceu e vive na Amazônia, em Belém do Pará. Autor de Viagem a Andara oO livro invisível. Obras mais recentes: K O escuro da semente (Ver o Verso, Portugal, 2005), Ó Serdespanto (Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2006) e oÓ: Desnutrir a pedra (Tessitura, Minas Gerais, 2008). Vê: aquela árvore, lá, se movendo. Vês, vendo? Parece coisa de sonho, não é? Aquela árvore longe, no horizonte se movendo. O que move a árvore? Para isso a gente tem uma resposta humana na ponta da língua: o vento. Outro Verbo. Mas, ah, o que sopra o vento? Para isso, eu não tenho a resposta. Tu tens? Ninguém tem, te digo. É o Isso, o Aquilo, o Sem Nome, e de onde vindo ninguém sabe, pois só sabemos que ao chegar aqui vai logo se escondendo de nós sob muitas formas, as Várias: aves, estrelas, insetos, peixes, e de vento vento Pois se até sob a forma humana se esconde, em nós. E se aquela árvore, lá, parar de se mover? Para onde terá ido? Diz-se disso: o vento sopra em toda parte, o vento: o Vento. da palavra 319 Da minha boca, agora mesmo ele está soprando para ti sob a forma destas palavras, onde também está e se mantém, escondido. Abro a boca, sopro um pensamento, e eis: ele aparece, mas desaparecido, pois só percebes as palavras. Ouve, assim, com a tua mão roçando a minha boca. É a voz do vento das palavras. Sentes? Ah, olha: agora a árvore parou de se mover. Vês? Não-vendo¿ Ele terá ido embora dela, ou se mantém lá, nela, até a próxima brisa, ventania, sopro disso que nos sopra? Escondido¿ São muitas as perguntas que nos fazemos só de olhar as coisas, não é? Então, essa que eu me faço agora: esse vento que sopra pela minha boca sob a forma das palavras com que estou te perguntando isto: ele é o mesmo vento que, antes, soprava lá aquela Árvore, longe, no horizonte, e agora veio soprar em mim, através de Mim? Pudesse, pois se Isso sopra os ventos um só, se dispersando em vários istos, vários ventos, peixes, homens Ou será que depois que deixa de ser o Isso ele é, em cada isto, um Isto que não se compara a nenhum outro? Então, são muitas as perguntas que fazemos a elas, sós, olhando as coisas As Coisas. Elas, de Lá, nos olhando. Aqui. E aqui: um tU e um eU. Peixes homens Ah, somos mesmo dois homens conversando, ou só um? O Mesmo. O Um¿ Eis a minha homenagem ao nosso sábio e amigo Benedito Nunes. Veio para um dia pousar em um novo livro visível de Andara, em germinação. E vai agora para ele porque é um Diálogo que poderia acontecer nos Jardins de Epicuro tanto quanto tantos que B & eu tivemos nos Jardins da Estrela. 320 da palavra A natureza ri da cultura Milton Hatoum Para Benedito Nunes * Romancista amazonense . Autor de Relato de um certo Oriente; Dois irmãos; Cinzas do Norte; Crônica de duas cidades: Belém e Manaus. Essa, escrita com Benedito Nunes, em 2006. Quando vi Felix Delatour pela primeira vez, à porta de um pequeno sobrado neoclássico no centro de Manaus, não sabia que aquele encontro seria para mim uma grande descoberta: viagem inicial em torno de um texto cuja leitura me parece até hoje enigmática. Para comentar esse encontro com Delatour, devo dar uma volta pela minha infância em Manaus, e recordar a voz de Yasmine, a matriarca da casa. Eu escutava Yasmine cantar e rezar, não em árabe, sua língua materna, mas em francês, sua língua adotada. De vez em quando a voz de Yasmine era abafada por uma outra mais grave, mais incisiva, a do almuadem: voz do muçulmano da família que falava mais alto, como se quisesse neutralizar a presença do colonizador francês em plena Amazônia. Mas a voz de Yasmine, o som mais que o sentido, parecia-me mais convincente: nas noites de insônia da infância ela latejava na minha memória, e eu repetia mentalmente uma palavra ou um pedaço de frase, como um infante que, encantado com uma reza ou um canto, se entrega a uma aprendizagem litúrgica, a um culto privado de que só nós dois participávamos. Não era apenas a voz de Yasmine que contrariava o patriarca da casa: ela (Yasmine) cultivava amizades estranhas: estrangeiros do Ocidente que tinham uma expressão esnobe de cidadãos do mundo, gentes que viviam à margem da sociedade provinciana e frequentavam os salões de festa dos transatlânticos que atracavam no Manaos Harbour e bebiam e dançavam como se estivessem em algum hotel particular perto da ponte Alexandre III. Mas entre esses amigos esquisitos havia um ou dois que ela citava com frequência. Ontem conversei com o senhor Verne. Ele é muito imaginoso, tem o jeito de um dândi e já morou em Dakar, Caiena e Macau antes de aportar em Manaus, me dizia Yasmine. O senhor Verne falava vários idiomas e era um estudioso das línguas indígenas. da palavra 321 Em Manaus, ele se empenhava na execução dc um curioso trabalho filantrópico que consistia no que ele chamava de anti-catequese: insuflar (discretamente) os índios contra os padres e patrões e promover a cultura indígena. Para tanto, ele fundou uma certa “Sociedade Montesquieu”, de duração efêmera, cuja finalidade era “educar para libertar”. Yasmine comentava também as proezas de Felix Delatour: um bretão circunspecto, quase albino, e que sofre de uma enfermidade rara: o gigantismo. Não é fácil falar com ele, porque vive trancado numa sala e não recebe alma viva, informou Yasmine. Os conhecidos esnobes de Yasmine nunca me interessaram; na verdade, eram seres invisíveis, ou melhor, era possível encontrá-los nos clubes ingleses da cidade ou a bordo do Cyril e do Hildebrand. Mas esses dois, Delatour e o senhor Verne, me aguçaram a curiosidade. Numa manhã de chuva torrencial, uma dessas manhãs manauaras que parecem infindáveis, Yasmine me disse: Já que pretendes estudar francês, deves visitar o Monsieur Delatour amanhã mesmo, de tardinha. Depois, com um sorriso enigmático, completou: É o francês mais excêntrico do Amazonas. Anos mais tarde, descobri que a palavra excêntrico era a mais exata para evocá-lo. No primeiro contato ele foi lacônico. Aconteceu no entardecer de um dia de julho de 1959: o adolescente tímido e franzino dirige-se a uma pessoa idosa e diz com uma voz trêmula: Yasmine me disse que Monsieur Delatour leciona francês... Apenas pude ver um pedaço do seu rosto na porta entreaberta. Ele me olhou por um momento, depois uma voz rouca disse: Amanhã de manhã, antes das sete. Ao retornar na manhã do dia seguinte, notei que a porta estava aberta; pouca coisa pude observar na sala sombria do sobrado em que ele morava. Aquela sala era um espaço misterioso que ele sempre evitava frequentar. Desde o primeiro dia, e assim durante seis ou sete meses, só conheci o andar superior do sobrado: uma sala avarandada, de onde se podia contemplar um horizonte de águas escuras interrompido por uma paisagem de palafitas. Na sala havia apenas uma mesa de madeira e duas cadeiras de vime. Quatro livros abertos e quatro lápis vermelhos estavam dispostos sobre a mesa. Um mapa-múndi fixado na parede era a única imagem de um espaço que hoje ressurge na minha memória como uma câmera de luz intensa. Nos dias e meses que se seguiram, Delatour falou sobre a língua francesa, e quando lhe fazia uma pergunta sobre um item gramatical ou um exercício da escola, ele fazia uma expressão de enfado e desviava a conversa. O que lhe interessava eram as viagens, as muitas viagens que fizera durante a vida. Ele deixara a Bretanha há muitos anos para morar no outro lado da Terra. Seu desejo era descobrir o Amazonas, partir, sempre em busca do desconhecido. Como alguém que tem sede de espaço ou um botânico que passa a vida na floresta pesquisando polens e tecidos vegetais, pensei. Um dia perguntei se ele conhecia o dialeto bretão ou uma das tantas línguas indígenas do Amazonas. Vi o seu rosto branco e um pouco rechonchudo ruborizar (um rosto sem rugas, com uma barba rala e esbranquiçada, e os olhos 322 da palavra azulados que ao fitar uma pessoa durante uma conversa pareciam expressar uma dúvida ou indagação), e subitamente ele se levantou, foi até a varanda, e, de costas para o rio, disse: Yasmine me confundiu com Armand Verne. Ele, sim, é um linguista aplicado e tutor dos nativos. Verne pensa que pode promover a cultura indígena elaborando cartilhas bilíngues. Monsieur Verne comete um equívoco: não se pode dominar totalmente um idioma estrangeiro porque não podemos ser totalmente Outro. Um pequeno deslize no acento ou na entonação já assinala uma distância entre os dois idiomas, e essa distância é fundamental para mantermos o mistério da língua nativa, prosseguiu Delatour, sem esconder na fala um forte sotaque que reiterava a sua afirmação. Minha timidez não me impediu de lhe fazer outras perguntas: Por que tinha vindo ao Amazonas? Por que morar em Manaus, essa cidade ilhada e talvez perdida? Ele olhou para o mapa-múndi, apontou para uma região da França: Ali reside uma infância, disse. Ali, onde? perguntei. No Finistere, num vilarejo ilhado e talvez perdido. Alguém, um viajante que andou pela Amazônia, me deu de presente o mapa desta região. E os mapas, como tu sabes, fascinam as crianças, são desenhos misteriosos que as convidam a fazer viagens imaginárias. Os périplos da minha infância, irreais como os sonhos, começaram nos limites do quarto fechado, à espera do sono, não longe do mar e das falésias abruptas da Bretanha. Por um certo tempo não tocamos nesse assunto. Às vezes, nada falávamos: na sala branca, iluminada pelo sol da manhã, escutávamos o ruído dos barcos, monótono, insuportável. Enquanto eu pensava em alguma pergunta ou dúvida, ele lia um livro e fazia anotações com um lápis vermelho. Nem o rumor de um motor nem o calor matinal o incomodavam. Tinha diante de mim um leitor que parecia dialogar com o texto, ou seja, um verdadeiro leitor, e isso, para mim, era uma novidade, uma descoberta. Numa dessas manhãs em que não conversávamos, alguém bateu à porta. Delatour desceu para ver quem era, e depois escutei a voz de uma mulher. Passei a folhear um dos livros abertos, mas antes tive o cuidado de memorizar a página que ele estava lendo. A voz da mulher no interior da casa me deixou curioso, e quando Delatour voltou à sala, eu fiz menção de partir. Não é uma visita convencional, disse ele. Conheces a índia Leonila? Ela passa por aqui uma vez ao mês. Pede para entrar, observa os livros da biblioteca, cochila um pouco na rede do meu quarto e vai embora sem me avisar. Ela anda descalça, veste sempre a mesma roupa, pode ser confundida com um mendigo qualquer. Mas é uma mulher que conhece a história de sua tribo. Certa vez, sem que eu lhe pedisse, ela começou a falar sobre isso: a história, a violência, os mitos... Verne também aprendeu muito com ela, mas Verne insiste em querer falar por ela.Alguma coisa havia entre Felix Delatour e Armand Verne, mas não quis abelhudar. Yasmine nada me contou a esse respeito, apenas disse: Verne viaja no espaço, Delatour no tempo. Na manhã da visita de Leonila, ele notou que eu estava folheando um livro, e então passou a ler em voz alta poemas de Verlaine. Depois pedia para que eu os recitasse sem imitar seu sotaque. da palavra 323 Alguma coisa havia entre Felix Delatour e Armand Verne, mas não quis abelhudar. Yasmine nada me contou a esse respeito, apenas disse: Verne viaja no espaço, Delatour no tempo. Na manhã da visita de Leonila, ele notou que eu estava folheando um livro, e então passou a ler em voz alta poemas de Verlaine. Depois pedia para que eu os recitasse sem imitar seu sotaque. Não consigo entender muita coisa - disse-lhe com um pouco de apreensão. Por enquanto, isso é o de menos - afirmou. - O que importa, agora, é encontrar uma outra voz de Verlaine ou apenas captar o ritmo e a melodia de cada verso. Virou o rosto para a varanda. Disse: Numa primeira mirada a floresta é uma linha escura, não se consegue assimilar muita coisa. Mas no meio da escuridão há um mundo em movimento, milhões de seres expostos à luz e à sombra. Depois Delatour citou como exemplo o mapa da Amazônia que o fascinara na adolescência. Para ele, a floresta era um mundo quase inverossímil, e por isso mesmo fascinante. Ele chegou a construir uma floresta em miniatura, estriada por uma teia de rios, afluentes e braços de afluentes cujos nomes de origem indígena ele afirmava pronunciar como um bárbaro. A imaginação se nutre de coisas distantes no espaço e no tempo - afirmou, como se falasse para si mesmo. Ele fez esse comentário pouco tempo antes de eu partir de Manaus. Quando soube que eu pretendia viajar para o sul do Brasil, ele ficou entusiasmado e falou certas coisas que eu nunca esqueci. A viagem - disse Delatour - , além de tornar o ser humano mais silencioso, depura o seu olhar. A voz do verdadeiro viajante ecoa no rio silencioso do tempo. Ao ouvir essa sentença do meu professor, percebi que as grandes viagens que ele mencionara não se referiam a uma vida rastreada de aventuras, como a do viajante seduzido por um mistério intransponível, e sim da aventura do conhecimento, como alguém que viaja para aprender, e aprende para lembrar. Manaus e seu histórico teatro. Uma semana antes do meu embarque para o Rio de Janeiro, ele me deu uma plaquete em cuja capa se lê Reflexion sur un Voyage sans Fin1. Comecei a escrever essa coisa no Finistere e terminei aqui em Manaus disse Delatour. Lançou um olhar irônico para mim e acrescentou: Quase vinte anos para escrever isso, três páginas por ano, poucas frases por dia. Essa foi a minha grande viagem. Na manhã em que me entregou a plaquete, ele não conseguiu esconder uma expressão de desânimo, talvez fadiga. Duas semanas depois, nos despedimos no porto de Manaus, ainda de madrugada, na presença de Yasmine e de seu irmão Hakim. Perguntei a Yasmine se Armand Verne realmente existia ou se ele era uma invenção da “Sociedade Montesquieu” . Verne é visível ou é apenas uma brincadeira de Yasmine, perguntei. Yasmine sorriu para Delatour, e tio Hakim prometeu que um dia me contaria essa história. Posso te adiantar que ele é um viajante incansável, ou melhor, um andarilho que coleciona lendas e mitos do Amazonas, disse Hakim. 324 da palavra 1 Editora Palais Manaus, sem data. Royal, Pouco depois, escutamos o som grave e breve de uma sirene, e observamos a bordo o vaivém dos estivadores e marinheiros. A quilha do Neptuno ainda era uma sombra mais impressionante do que as outras. As gruas do cais flutuante estavam iluminadas, e, na escuridão ainda espessa, pareciam soltas no espaço, como gigantescos tentáculos de luz. Luar não havia, nem vento. Talvez um leve sopro, úmido, vindo do fim da noite. Era uma noite de adeus. Com uma voz grave, apontando para a plaquete, meu professor sentenciou: É o ritmo da frase que deve causar espanto. A bordo do Neptuno, e já perto do Recife, comecei a ler o escrito de Delatour. Naquela época me pareceu um texto estranho, mas o leitor de 1959, a bordo do Neptuno, não é o leitor de 1981. Hoje, depois de o reler tantas vezes, soa como um Manaus manifesto poético sobre a alteridade. Essa Viagem sem Fim evoca passagens da vida de um personagem que abandona um país europeu para morar numa região equatorial. Com o passar do tempo, esse personagem assimila algo do Outro, e percebe, com uma certa apreensão, que o estigma de sua condição de estrangeiro já é menos visível: algo no seu gesto ou na sua voz se turvou, perdeu um pouco do relevo original. Nesse momento, as origens do estrangeiro sofrem um abalo. A viagem permite a convivência com o outro, e aí reside a confusão, fusão de origens, perda de alguma coisa, surgimento de um outro olhar. Viajar, pergunta o personagem de Delatour, não é expor-se ao ritual do canibalismo? Todo viajante, mesmo o bem-intencionado ou que se pretende neutro, corre o risco de julgar o Outro: consciente ou não, intencional ou superficial, este julgamento quase sempre deforma o rosto alheio, onde se projetam os horrores e as taras de quem observa. A viagem mais fecunda, diz o personagem, é a que desvela a face dissimulada e obscura do porto de origem: é essa paisagem familiar que abriga a nossa discórdia com o mundo. O prazer da viagem é efêmero porque permeado por um sentimento de perda: a sensação de liberdade na terra estranha é a revelação de algo que nos falta, algo que procuramos no porto do passado. Talvez por isso o personagem de Delatour viaja para descobrir a si mesmo. Esta descoberta, que é também busca e extravio, não exclui a imagem que o narradorviajante constrói do Outro: imagem fugidia ou esfumada, mas de alguma forma presente na visão de quem navega em águas estranhas. O viajante, no convívio com o Outro, passa a privilegiar o olhar, pois é no silêncio do olhar que tudo acontece: o desejo de possuir e ser possuído, a entrega e a rejeição, o temor de se perder no Outro. O silêncio do olhar fabrica uma imagem que a memória, ao longo do tempo, pode evocar, perder, reinventar. De onde parte o personagem - viajante de Delatour? De Cancale, na Bretanha: “um porto tão estranho que ninguém ou quase ninguém é capaz de deixá-lo”. Em Cancale começa a travessia do Atlântico, uma travessia tempestuosa que termina num porto também estranho do hemisfério sul: um lugar sem nome, ilhado, habitado por pessoas que parecem resignadas ao confinamento e à clausura. Na passagem mais enigmática do texto de Delatour o narrador, ao evocar esse porto, acaba inventando uma linguagem. O ritmo da frase se altera bruscamente e a voz do personagem torna-se uma confusão de neologismos e da palavra 325 injúrias que beiram a bestialidade: a voz do narrador-viajante lembra a de um louco vociferando em várias línguas2. São apenas doze linhas que destoam desse manifesto poético, como uma breve festa de sons: um ruído no meio de uma noite serena. Por causa desse trecho, renunciei à tradução dessa Viagem sem Fim. Quase vinte anos passaram entre o primeiro encontro com Delatour e o meu regresso a Manaus. Eu o procurei por toda a cidade, em vão. Yasmine, com uma voz fraca que parece um sopro, me diz que em janeiro de 1978 ele enveredou rio acima, até alcançar o Cassiquiare, que liga a bacia do Orenoco à do Amazonas. Nenhuma pista sobre seu destino obtive no consulado da França em Manaus. O sobrado em que ele morava, numa das alamedas que desembocam no rio Negro, encontra-se abandonado. Creio que em poucos meses será um sobrado em ruínas: raízes de apuizeiro destroem a estátua de uma Diana e ameaçam uma parede que um dia já foi branca. Na parte térrea, crianças imundas e miseráveis cheiram cola, e com pedaços de carvão traçam garatujas na mureta que contorna o pátio. Um cheiro de podridão e excremento exala do interior da casa. No verde desbotado da fachada leio uma frase curiosa, escrita a cal: A natureza ri da cultura. Agora já amanhece: posso ver crianças amontoadas, dormindo no piso do pátio, solidárias e tristes no chão úmido da casa abandonada. Ao divisar a varanda que dá para o leste, posso também imaginar Delatour contemplando o horizonte aquático no amanhecer neblinoso, como alguém que se deixa levar pela lenta correnteza de um rio. Ali, o tempo flui como a imagem de um sonho: flui no pouco da noite que resta e no instante de luz que anuncia a manhã. Antes de me afastar do sobrado, percebo que uma das crianças que rabiscava na mureta do pátio me olha com apreensão. Calada, imóvel, com o pedaço de carvão na mão direita, ela parece surgir desse crepúsculo da madrugada. De soslaio, a criança me olha ou finge olhar para mim. Este olhar me paralisa e causa espanto. E, à semelhança do texto de Delatour, parece afirmar algo assim: somos alguma coisa essencialmente misteriosa, como aquele mapa que nos fascinou na infância. Nessa passagem do texto de Delatour, a linguista Odile Lescure, pesquisadora da ORSTOM, encontrou referências dialetais usadas por índios e caboclos do Amazonas. Na verdade, são “transcriações” de palavras e expressões das línguas nheengatu e baniwa faladas nos rios Negro e Içana. 2 326 da palavra Réquiem profano e glorioso para Carlos Drummond de Andrade Pedro de Assis* Poema-ensaio de compreensão/comemoração drummoniana em franco diálogo e em livre jogo textual com poemas, versos e imagens do poeta, bio(foto)gráficas e autobiográficas inclusive. Nova versão, revista, modificada e aumentada (work in progress) que ora suspendo, destino e dedico especial e nataliciamente: A Benedito Nunes mestre e amigo na auréola espiritual dos oitent’anos. E no rastro hermenêutico do seu, uno e alto, ensinamento ético-poético-filosófico. I Dorme em paz, Drummond, o teu sono eterno, de minério... oh Arquimineiro! enfim exausto de lavrar tuas minas de ouro e ferro e estanho e cobre, e lavras diamantinas: tuas minerais palavras – jazidas de mistério. Quieta em paz, Drummond, teu aflito espírito, crítico, irônico humorístico, em guarda e em riste ante os embates da humana lida. Tu, que calcaste o indivíduo, a classe, o medo, o ódio, a náusea, o tédio – e autêntico! a ti mesmo te destinaste: a ser gauche na vida. * Professor aposentado da UFPA. Doutor em Poética. Cala em paz, Drummond, tua voz tênue, tímida, emudecida voz que nos mais vários tons poéticos, e atonal, cantou e descantou os grandes temas eternos e os modernos, e ora longe e grave ressoa do fundo pressentimento... dos teus sábios versos à boca da noite. da palavra 327 Cerra em paz, Drummond, teus olhos tão pequenos para ver países mutilados como troncos – de novo proibidos de viver. E o velho mundo que se esvai em sujo e sangue, e um outro mundo que brota, qual nelumbo! a teus olhos sem luz que se translumbram. Queda em paz, Drummond, teus braços solidários, agora amortecidos – que acolheram e que abraçaram as causas e as crises do nosso tempo e souberam, em versos largos, sobraçar os dilemas e problemas desta vida e entrelaçar, à aura dos áureos tempos, a hora espandongada destes dias. Cruza em paz, Drummond, tuas mãos transidas, esmorecidas mãos que afagaram e que escreveram as coisas todas deste mundo e ternas se deram à terna e leal companheira da vida inteira – tuas mãos dadas: apenas duas mãos, e o sentimento do mundo. Junta em paz, Drummond, teus rijos pés, enrijecidos, não já andarilhos – pedestres, pés de verso, iguais abridores de aventura, nos iambos do poema e da experiência, que juntos palmilharam as avenidas da linguagem, da vida e caminham ainda, infinitamente, numa estrada de pó... e lembrança. Recosta em paz, Drummond, teu frágil, forte ombro andradino que suportou as dores, os sonhos, as esperanças do mundo. Tu – magno Carlos – que a ti chamaste José e Raimundo e uniste a verde rosa do povo e o negro lírio castroalvino. Relaxa em paz, Drummond, teu rosto imóvel, lívido, estarrecido ante a humana tragédia. Que tua face serena vela a face torturada. Pai – não padeceras ver, viver a morte da filha amada, estremecida. Poeta – não cantarias a guerra, o amor cruel, os ódios organizados. Sossega em paz, Drummond, teu coração maior e menor que o mundo e muito melhor, que desde o dia em que o amor te bateu na aorta e um anjo torto, e a legião de amigos, vieram ter e bater à tua porta – não mais tiveste posto em sossego teu pobre coração vagamundo. Requieta em paz, oh amador, teu peito oferto ao acerbo amor que árduo inquiriste. E alfim colheste, em som camoniano – de tua lírica, e ardente mineração do Eu, do Outro – a suma e simples lição: Amar se aprende amando. Reclina em paz, oh pensador, tua fronte imersa no pensar profundo, auscultando, perscrutando, entre miríades de signos símbolos, mitos, ritmos, o absurdo original e seus enigmas os mais claros, mais altos – pastor do tempo, minerador do ser. Recerra em paz, in extremis, teu manso olhar, alegre e triste que em cada retrato afeiçoou-te o espírito e o semblante e de que são o reflexo, dúplice, recíproco, e constante – os teus sorrisos e os teus poemas... da triste alegria. Descansa em paz, in aeternum, tua alma inquieta no sentir e no dizer os sentimentos grandes, raros, fundos, obscuros, contraditórios – que ao homem tornam estranho, o mais que estranho, a si contrário. E na língua um travo te cravaram – de angústia entre o talvez e o se. 328 da palavra Repousa enfim, nunc et semper, teu corpo inteiro, teu corpo inerte. Que pereceu na noite – e sucumbiu por si na espantosa solidão. Sem suor de remorso, terror, súplicas. Simplesmente, como anteciparas: adeus, composição que um dia se chamou Carlos Drummond de Andrade. II Faz, em paz e salvamento, ao seio da terra e da família (ao país dos Andrades, secreto latifúndio) a tua última viagem... selando as que aos mais loucos labirintos – sem passagem – tantas vezes fizeste, seguindo a morte em sua trilha. Em paz, recolhe ao teu agora hirto lado esquerdo as heranças, lembranças... o que restou dos teus mortos. Já não te pesam – vazios –os jazigos da memória. Aos teus lajos e andridos... te reúne este lajedo. Aqui jaz – morto! Drummond – na sancta paz dos descampados que alcançaste – teu corpo-e-alma na mais pura e completa solitude. Poeta do finito, e da matéria, cantor do nada, e da humana finitude: a ti acolhe – mina recôndita – o cemitério da infinita soledade. Mineiro e minerador, em ti refundes, inumas, a dura e rica mineralogia simbólica de tuas velhas minas extraída; e o comburido espírito de Minas, teimoso lume aceso mesmo sob cinza: eras geológicas de sonhos minérios, mineralgias míticas – geopoética do fogo embriagador que lavra súbito, na palavra, da pedra: diamantinimas turmaliniminas III No silêncio, e na sombra, de tua mais terrestre herdade (horto que antegozaste, trauteando teu responso prévio) fazendeiro do ar que regrediste aos arcanos da caverna – aí ofusca-te o esplendor da verdade / sem verdade. Em vão bateras tu à porta da verdade. Já estava a porta aberta em meias verdades – a verdade dividida em diferentes metades. E bateste bateste no portão do tempo perdido. Só eco respondeu. Era metade hera metade cinzas – a casa vazia do tempo perdido. Na fímbria entre o ser e as coisas, repensaste a suposta existência: nossa, e do mundo envolvente. Na teia fina das palavras, ir-rompeste os lindes da linguagem – onde a realidade é maior do que a realidade. E sibilinamente viste – no limite – o império do real, que não existe. Em tua desmi(s)tificante cosmovisão existencial do ser/estar-no-mundo mergulhaste num rio de turvas especulações em torno da palavra homem. Recusaste a vã revelação da máquina do mundo, e da máquina do tempo. E no balanço final, só recolheste: a incerteza de tudo / na certeza de nada. Indagaste em vão por que morte e homem andam de mãos dadas. Por que morre o homem? Como vive o homem, se é certo que vive? Morre a cada passo? Tem medo de morte? Ou medo é que o mata? E, homem, respondeste: sua morte é fome que a si mesma come. da palavra 329 Mas, tua poesia, que é a tua luz perpétua e insepulta – chama azul-telúrio em que perdura e rutila a essência da existência, que assumiste e que cantaste – tua poesia morte secreta – te salva, e te resgata, da morte absoluta. (Tu que, irresoluto, em matéria de infinito e anacoluto – fino perfil, de Machado, de Quixote, ou de Carlito – e nem Fausto nem Mefisto ¯ co’ um piparote em tudo isto – atiraste à cesta o absoluto... como inútil papelito.) Descobriste a tristeza de Deus e a alegria (tristes!) dos homens. No teu próprio choro – de/cifraste – o choro pânico do mundo. Sondaste a dor de tudo e de todos, a dor geral, dor sem nome. No fim, compreendeste: livre, bem livre, é mesmo estar morto. Em tua antiteodicéia poética, trágico-irônica, desassombrado e proscrito escreveste: o único absurdo é Deus, o único culpado é Deus. Ipsum fatum em nome do homem te arrependeste da criação de Deus (mas agora é tarde – adiste). E, irônica heresia, deste a entender no grave crocitar: Deus não morreu nem é Amor – é a Morte. No cimo de tudo, Deus está pousado com uma garra apenas (tristinfinitamente) e fita o mundo... desfere vôo e sai por aí bicando as coisas, indiferente... Bica-me Deus... nos olhos, pressentiste. E arremataste: Ao sumir crocita: “Hoje te perdôo.” O que Deus perdoa, só o sabe Deus. Ao findar o tempo / tudo se acomoda à sua vontade. Incerta marinhagem na rota do divino, busca imanente de precária transcendência travaste com o seu santo nome o vão combate, do humano, insano anjo batalhador em que te encarnaste, na guerra de Deus, inglória, infinda, sem vencedor, para quem escalavrado, no inútil duelo do Eterno, não sabe que fazer dele na microeternidade. Guerra santa, finda só para os mortos: só quem morre vai descansar na paz de Deus. Pois que a morte não existe para os mortos — não têm medo da morte desabrochada. Ceifados desta vida que não chega a ser breve, posto que é fim no começo, os mortos retornam eternamente à eterna vida – não a lendária – a que perdemos ao nascer. Ao Deus cruel, misericordioso, duplo (Rex tremendae majestatis) que argüiste: como entendê-lo? e que, também Ele, não entende suas criaturas, condenadas previamente (Dies irae, dies illa) a sofrimento e morte (Confutatis maledictis), opuseste-Lhe, à dogmática da onipotência, omnis-ciência, bondade e justiça supremas, o supremo paradoxo, o oxímoro mais crucial – dramático! da humana condição: o do bem e do mal de amar. – Por que nascemos para amar se vamos morrer? – Por que morrer, se amamos? E a Ele, em suma, cético imprecaste – sem esperança de resposta – o contra-senso irremissível do teu, do nosso! mais cruciante e consumado Por que? – Por que falta sentido / ao sentido de viver, amar, morrer? Em contraprofecia anteviste: não há advento esperável de um novo ou último deus. Porque assim leste nas escritas da época: já não há projeto de outro Deus ou vários. Só e precito, no seu ínsito Cáucaso, o homem caiu em si, sem remissão: – a seta não aponta destino algum, e o traço ausente / ao homem torna homem, novamente. (No rodapé de tão altas reflexões, pregaste-nos a peça de teu espírito maroto e faceto perguntando de pronto, com jeito e riso de garoto, e no verso dando dupla pirueta: E se Deus é canhoto? e criou com a mão esquerda? Hipótese, sem dúvida, mui esperta e muito astuta, pois atribui ao Criador os atributos típicos... do capiroto ou do capeta! 330 da palavra Facécia essa, nada teodicéica, do teu humor diabólico e moleque, lépido e metafísico: além de glosar o mito da mão de Deus, da sua generosa e tenebrosa mão direita – isso explicaria, troçaste, trocando a destra pela sestra, driblando a desgraça com gracejo: os males desta bruta vida, os desacertos do homem, e todo o desconcerto do mundo.) Sensível, contudo, aos mais singelos e humanos símbolos da religiosa cultura e devoção te (nos) curvaste ante o berço de palha, vento e ar... do Rei menino, sem manto e sem jóias o Rei criança, apenas um menino, humanamente nu e divino, inocente de todo saber e poder que reinando e brincando (assentiste): sustenta o peso do mundo na palma ingênua das mãos. IV Se não morreste satisfeito, não morreste inconformado. Assumiste o teu fim. E à morte deste a mão naturalmente. Soubeste, sentiste a hora de teu ser... desacoroçoado de viver, não, sobreviver... e em teu amor, sobremorrente. Mas não morreste de amor pela morte. Tua mor ciência, in-gaia e arte maior, foi urdir e entreter em tal forma o viver, o amar e o morrer, num jogo íntimo, à risca, entre o vivido e o inventado – que o amor da vida, que tiveste, reverteu-te a morte em amor. Repeliste, sem romântica ilusão, o frio e falso beijo da morte. A morte (riso sem boca) nada pode beijar. Só o fero ardor da vida (ainda quando morte, esculpida em vida) é que nos faz, qual fizeste ao mero nome da amada morta – beijar, beijar intensamente o nada. Teu senso vital - visceral - da força e poder maior do amor sobre a morte foi tal - sem temor de antever os nossos, predestinados, desmantelados ossos - que ironizaste: Há de restar (...) ossatura - desfeita embora em linha espúria - de modo (preconizaste) que a criatura, morta, de amor ostente a fúria. Em amor e morte envolvida, reescreveste, reviveste a vida passada a limpo. Na lavra da palavra, de tal modo revolveste a morte – até sovertê-la em nada. Harto interrogaste: – Amor é compromisso com algo mais terrível do que amor? Religaste catarse e gnose amorosa, na trama trágica de quem vive sua morte. Na mó da morte remoeste amor, memória, e dor, até à aguda espostejação da carne do conhecimento. E o mais doído e remoído sentido extraíste: Amar, depois de perder. Amar-amaro, amoremorte (perverso anel satânico de vogais e consoantes a te perseguir). E nada que responda – pasmaste – ante a magia: arder a salamandra em chama fria. Amor é privilégio de maduros – meditaste. Ambíguo, concluíste: Amor começa tarde. Bem sabias: a madureza – essa terrível prenda – vê o círculo vazio, onde se estenda. No cair geral da tarde viste nossa mesma queda: numa antecipação de morte sem dor. E, com irrisão, murmuraste: A tarde, a triste tarde caiu. Caímos / imorredouramente. Testemunhaste a morte no privilégio de ouro de a sentires em vida, através de um aquário. No ressentir da própria carne, e na pele das palavras, provaste o antessabor da linfa amara. E acumulaste o pó do tempo findo e das coisas morrentes... até às franjas do esvaecido ser. Mas um nome te reacendia o espírito: Amor – a descoberta de sentido no absurdo de existir. Para viver de amor mais largamente, imaginaste que a fraca e triste carne encanecida pede consolo ao Diabo. Os mil favores infernais, infaustamente, não logram dar de amor da palavra 331 os dons em flor. Ao fim, verias: o amor, o pobre amor estava putrefato. A envilecida carne desconsola-se. E nada se resolve, e o aroma espalha-se /de flores calcinadas e de horror. A ti mesmo acusaste, sem culpa, de ser o malvindo, o iludido migrante, o sobrevivente. Rindo de tua má sina, motejaste: (...) sem que, nascido, mores /onde, vivendo, morres. E sentindo-te o enterrado vivo, juraste por Deus e o Diabo que não viveste, não viveste. A vida te venceu, e não te convenceu – nem deu qualquer motivo para haver o ser vivo. Afinal: sofrer é outro nome do ato de viver. Todos os seres, até as flores, as pedras, sofrem. Mais, disseste: é a chave da unidade do mundo. Onde bailam mésons, brilham fótons... há uma opulência de impossíveis, casulos do possível. Erra o mistério em torno de seu núcleo. A todo momento, roda o tempo, rola o mundo... balanço de anca terrestre, certa de morrer. Numa visão agnóstico-escatológica, especulaste a trilhões de milênios antes do Juízo Final: até que do (humano) ser não reste em qualquer átomo / nada de uma hipótese de existência. Ao mito da eternidade saudaste com reverente sarcasmo:—Eternidade: os morituros te saúdam. E num simbólico par nos fundiste, esculpiste, imantados / pelo aço do silêncio em nós cravado. Só aquela esplêndida lua! – que inundou a noite, e fez tua alma uma lagoa iluminada... trouxe-te a serena e sutil ciência de quem contempla e vê: – Tudo branco, no tempo. E deu-te a sereníssima consciência – colhida flor que já não destila mágoa nem furor – de aperceberes: fruto de aceitação da natureza – essa alvura de morte lembra amor. Amor – que é o nosso viver essencial; e morte – nossa mais crua realidade virtual: ambos transfundiste no êxtase orgástico (morte de tão vida) do amor natural dos seres. Suma erótica da integração do corpo no cosmo – poética da unidade inicial do mundo. Gozo da eternidade – num instante de infinito: é quando o amor morre de amor, divino. Porém jamais te enamoraste da morte – foste a morte amortecendo em vida – vidamor te trespassando, transvivendo-te – sem que te mortificasses nela. E na tua mala-sorte, fadado a sobre-viver, e a rir-te e debicar-te da morte teu contra-epitáfio tamborilaste: amor é primo da morte, e da morte vencedor. V Ao redor de tua pobre campa, despojada, sem cruz, sem salmo, sem vela, virão todos, em coro, celebrar-te – Amor, amores, que nos seres encontraste: os seres-bois e os humanos, os astros, pedras, bichos, plantas, peixes, pássaros flores, beija-flores... E juntos, pascendo beatitudes, mugidoramente te abençoem. Pois tanto amaste os dons da Vida, e da Linguagem, os bens da Natureza e as obras da Arte, do Saber, e tudo em verso universo converteste e foste – Orfeu moderno – o vate ecosófico e humanístico da nova era ornem-te o nome, e a lira, as palmas da Paz, da História, da Cultura, da Beleza. Canção ecumênica da Terra, morada global dos homens e alicerce ôntico do Mundo – tua poesia (qual no cívico Adeus a Sete Quedas, sete boiadas de água, sete touros brancos sete fantasmas, sete crimes / dos vivos golpeando a vida / que não mais renascerá) tua civil poesia cedo entabulou a questão, com humor propondo o samba-enredo: Amor, Todo Amor à Ecologia. No fragor da Segunda Grande Guerra – tempo de partido, tempo de homens partidos – desfraldaste em estrofes, em vasta apóstrofe, o teu Guernica – a rosa do povo despetalada: tempo de divisas, tempo de gente cortada, tempo de muletas, de mãos viajando sem braços guerra de extermínio, horror de lado a lado. E desferiste o teu verbo contra a hora absurda: 332 da palavra painel crítico-irônico-dramático-sarcástico do Nosso tempo (escuro e medonho) pintado em tumulto, em revolta, com palavras roucas e duras, súbitas, explosivas – cortes cubistas, surrealísticas imagens, tintas expressionistas – lançado em peso de encontro ao lirismo deteriorado e contra o curso aterrador do mundo capitalista. Interpelando, interpretando, interceptando assim, com aguda intuição, os múltiplos símbolos obscuros da história ocidental, detectaste o sopro dos laboratórios platônicos mobilizados, a sua força panlógica e propulsora (des)encadeando, numa só e sinistra sintaxe histórico-metafísica, os basiliscos simbólicos e ideológicos (acoplados) da Razão, da Fé, dos Fins, da Ciência, da Técnica, do Progresso e do Poder – totalitário consílio ontote(le)ológico dos deuses e dos homens (consilium fraudis), predeterminando e produzindo o arrazoamento devastador da Terra, e do Mundo, em global cometimento e periclitância. Sopro ir-racional todo-poderoso, superpotente, que de novo detectarias e denunciarias, tanto mais concreto e destruidor: bruta inflamação no ventre da primavera, flor de pânico, de câncer, de pavor; bélico artefato que furtou e corrompeu elementos da natureza e mais furtara e corrompera; e que, sob uma espécie de alquímico-epistêmica reação em cadeia, transmutou-se no produto quintessente de um laboratório falido. O qual tu mesmo, poeta político-irônico-satírico, com teu poder de palavra literalmente detonaste (petardo-piparote, urânio-hidrogênico-sardônico) no teu zombeteiro e desmantelador poema d’A Bomba. Mas se no atro quadro da época tua denúncia foi patética, também foi lírica e iluminadora tua confiança: A escuridão estende-se mas não elimina / o sucedâneo da estrela nas mãos. E seria burlesca, mas lídima a tua esperança: A bomba / com ser uma besta confusa dá tempo ao homem para que se salve. / O homem (tenho esperança) liquidará a bomba. - Pois o perigo é que salva: a hora mais bela / surge da mais triste. Cantor do tempo, do tempo presente, os homens presentes, a vida presente e sobretudo o tempo da memória, pasto de poesia, e o tempo ucrônico da utopia – poematizaste e meditaste o tempo humano e o tempo do mundo, como um todo, desde as mais fundas ruminações do boitempo às altas confabulações do tempo-boi. Poeta completo da infância e adolescência, da mocidade, da madureza e da serena idade – tal o velho Bruxo do Cosme Velho, cuidoso leste, releste e tresleste da vida o livro inteiro. E um novo humanismo pensaste: antiprometeico, anti-heróico, anti-romântico, cético-irônico e tragi(ludo)cômico, bem mais (que) humano, porém não mais... humano demasiado humano. Poeta de poetas e da poesia, da arte e de artistas, alto ressoaste em canto órfico o panorama historial e o atual desmoronamento estético do panteão das Musas. A Orfeu, dividido, conjurando-o pediste a cifra da unidade áurea que perdemos. E só de ousar seu sancto nome já entreviras: a rosa trismegista, aberta ao mundo. A cada um dos teus diletos orfeus, os marcados, tuas muitas eletivas afinidades e amizades, saudaste e cantaste em verso afetivo-interpretativo, ou em versiprosa, ou na microlira pedestre de tua afinada viola de bolso, trinando em lírica celebração. Sendo tantos os eleitos de tua lira crítica e epidíctica, baste concelebrar, em orfeônica ciranda, alguns numes teus, dos prediletos. Manuel Bandeira, o poeta melhor que nós todos, o poeta mais forte, o que encarnou em si o fenômeno poético, o poeta de vastas solidões. Manuel canção de câmara, o que doou som de piano e violão e flauta ao sentimento. O que melhor te deu a sensação de poesia transparente. Nele viste o verso – puro, luminoso, cristalino – acasalando no ar as suas células rítmicas. No canto urgente, ziguezagueante, rouco, que lhe tiraste de tua viola desatinada no chão, no chão – carpiste o amigo Mário de Andrade que desce aos infernos. Órfico, arlequinal, ele era tão de tal modo extraordinário – raio de amor geral barroco soluçante – o poeta de todos os brasis. Dele te restaram as palavras (superamos a morte, e a palma triunfa) na carta, no verso: A própria dor é uma felicidade. da palavra 333 Machado de Assis, bruxo alusivo e zombeteiro (que revolves em mim tantos enigmas) de quem fino compreendeste a troça concentrada e filosófica, e a volúpia (grande lascivo) do nada (como tu mesmo após e sapiente experimentaste: a polpa deliciosíssima do nada) e o espírito, fito, onde a dúvida apalpa o mármore da verdade, a descobrir a fenda necessária. No Sonetilho do Falso Fernando Pessoa recriaste à risca o ambíguo, oblíquo, sibilino estilo pessoano. E sem quebrar o encanto do lírico oaristo, entremeaste em contraponto o tom do humor drummoniano: assisto / além, nenhum, aqui, / mas não sou eu, nem isto. Ao fim e ao cabo, interrogando as identidades do poeta, deixaste estar o enigma Fernando Pessoa: morto redivivo, presentifuturo / no céu de Lisboa. Na belíssima ode em longa-metragem que dedicaste ao homem do povo Charlie Chaplin captaste, em meio a tantas imagens líricas e mágicas, a múltipla e singela figura de Carlito: és espiritual e dançarino e fluido. E ao garoto setentão, pura concentração do lúdico infinito, brindaste: Velho Chaplin, a vida está apenas alvorecendo / e as crianças do mundo te saúdam. Em Portinari, colheste o entrelace do que é humano ao que é pintura, a dor em flor, conhecimento plástico do mundo, o sentimento da Terra domicílio do homem, o aroma primeiro do Brasil. Em Goeldi, a erosão do tempo no silêncio, o pesquisador da noite moral sob a noite física. Viste, ouviste em Tarsila o nome brasil, toda uma supina presença nacional, e nos seus monstros, assombrações, seguiste nosso traçado preternatural. Segall revelou-te o amar num ato único as formas, as gentes, os animais, os murmúrios da terra, e a pressentir a alegria do conhecimento solidário. Num poema nimiamente pictural: A tela contemplada, e trasladada em idéias, imagens, ritmos, timbres, para a moldura exata do soneto, perfeito quadro verbovisual de estruturas e figuras concreto-abstratas, resumiste a pintura metafísica de Chirico (Pintor da soledade nos vestíbulos / de mármore e losango, onde as colunas / se deploram silentes) e suas insólitas formas arquitetônicas, escultóricas, estatuárias. Na heráldica, hierática, imperturbada e brônzea escultura de Henry Moore, refletiste, contemplaste a pura experiência de estar imotos, blindados no silo do silêncio essencial: Na dignidade da postura paralítica, ausente de sentido, / irradiamos talvez / surda sabedoria / flor e sumo de todo não-fazer. E no Carnaval de Miró, tão vivamente apercebido, descobriste que a vida (como a arte) é bailarina. Niemeyer, o arquiteto da sustentável leveza do ser sob forma de concreto e vidro, esculturais volumes, vãos magníficos, vastas esplanadas, esplêndidas colunatas, curvas sensacionais, e velho artista engajado no alto Ideal social, cedo induzira-te o lírico olhar de boi ruminador, meditabundo (que vê os homens e deplora-os), contra um suposto, sur-real Edifício Esplendor, tipo máquina de habitar à Le Corbusier, funcionalíssima, porém mecanizadora da existência, da residência, fechada em células estanques, sem espaço vital e sem ternura, e de que por força tornar-te-ias também afinal um dos tristes moradores – emparedados entre claustro e acrofobia – prisioneiros do moderno e medonho edifício-torre, inumano e inatural (Na areia da praia /Oscar risca o projeto. // No cimento, nem traço / da pena dos homens). Depois, ao visitar, desfrutar no amplo do parque e da orla, a bela, plena, e leve arquitetura do M A M recolheste na concha do poema uma coisa pura em face do mar, o que uma coluna encerra de música, o que há num vão / num ritmo na linha / posta no papel / plantada no chão / e crescendo ao sol: floresta de palmas, flor em movimento: uma coisa pura / linha luz e ar –à traça de Reidy – pousa frente ao mar. Não te esqueceu o sutil desenho, arte irmã da escrita, e que às vezes finamente praticaste: traço ligeiro e irônico, de ti mesmo desdesenhaste. Em Kantor, viste que o desenho torna-se modo de viver a coisa a palavra torna-se a última projeção do desenho, a palavra incorpora-se ao desenho: a coisa o desenho 334 da palavra a palavra fundem-se em generosa radiação. / Kantor: invade o país dos signos e deles faz sua mansão. Nas sinuosas, melodiosas linhas de Carlos Leão, solfejaste o teu corporal poema. Eis toda a modulação da linha, no arabesco em forma de mulher: o corpo feminino revelado em sua linha virginal e eterna. A melodia corporal expande-se, contrai-se, tudo é música no gesto/ou no repouso.O sono, esse escultor modela raras formas e aparências.Carlos Leão, que tudo vê e sente,recolhe-as no seu traço, com amor. Nem te escapou ao olhar lírico, intérprete, remêmoro, a arte da fotografia, e tampouco as artes lúdicas, rítmicas e acrobáticas do carnaval e seus passistas, do futebol e sua bola, seu balé, sua dança (arte esta que também não esqueceste, arte viva do corpo-e-alma num só enlevo-movimento, suma concentração, num momento, da humana graça natural: – Onde a alma possa descrever / suas mais divinas parábolas sem fugir à forma do ser, / por sobre o mistério das fábulas). Visualmente, na colorida e bela coletânea em defesa da Mata Atlântica (sem dizer a do Pantanal), a câmara vigilante passeia com teu olho crítico e lírico, de poeta ecológico da natureza e da cultura, em verdadeiros cromos fotopoéticos, instantâneos, vivos libelos multicolores da paisagem, da flora, da fauna, que captas e estampas, explodindo em verde, alertando em cores e cantos gritantes, contra a agressão da vida – plástica imagem selvagem da vida inserida no VersoUniverso da mata! – como no fotograma do gato-do-mato; e no cromo policrômico do fastuoso tangará, que a si mesmo indaga: Sou pintor ou pintura? As cores arcoirisam no meu manto. E conclama: Objeto luxuoso, esvoaçante gravura colorida, / Não me neguem, por Deus, direito à vida. Dentre os diversos álbuns de família que se abrem nas páginas de tua poesia, revolvendo desvanecidas e melancólicas imagens em preto e branco, tal a nostálgica, pungente fotografia de Itabira na parede, que tão agudamente dói no verso-fecho de tua itabirana Confidência, em teu livro final tu a ti mesmo te fechaste (em urna luminosa) num último, remoto álbum de velhas fotografias, e mergulhaste no tempo e no espaço, no país do mato-fundo, em flashback nos autênticos fotopoemas de Imagem,Terra, Memória em que regressas ao teu mundo / miudinho dentro do mundo / e grande maior que o mundo, e a todo o aéreo panorama / de serra e vale e passado e sigilo – que pousa, intato, no retrato. E tua fotoviagem continua / ontemsempre, mato a dentro, como a recordas, e entendes: – imagem, vida última dos seres. Numa última e rica aproximação entre arte e poesia, criaste a tua particular galeria universal de pintura e escultura – Arte em exposição: muitos quadros célebres, algumas seletas esculturas. A cada qual, teu toque em sagaz ou irônico epigrama. E assim vais passeando o arguto olhar em promenade reflexiva, tal como revisitou Mussorgsky, ao piano, com humor e drama, os seus dez Quadros de uma exposição. Em Beethoven, teu rude Luís, escutaste o coração da Terra, desentranhaste a música, humana, da terra; que a Terra, disseste, é lar dos homens, não dos mitos. Nova música, ungida de tristeza mas radiante de força, vem ao mundo. A canção do heroísmo e a da alegria – auscultaste – resgatam nossa mísera passagem. E prorrompem na abstrata superação do tempo e do destino. Urso-maior uivando a solidão / aberta em cântico, – erguendo o sentimento à culminância da divina explosão. Que tempestade – interrogaste – passou em ti e continua a devastar-te no limite em que a própria morte exausta se socorre da vida, e reinstala o homem (Es muss sein!) na fatalidade de ser homem? Ó Beethoven (escuro Luís, Luís luminoso) tu nos mostraste o alvorecer. Em Camões, no seu verso rude e suave, seu ritmo de oceano sofreado em que te embebeste – capturaste, mais que o amador na coisa amada, o próprio Amor, a própria História, e todo o mar fremente da Linguagem. Camões – oh som de vida ressoando ( ...) de amor e guerra e sonho entrelaçados... E insculpiste em onda, ritmo, lume e brilho, áureo color e esplendor sonoro o mais rútilo e musical brasão poético já oferecido à maior glória do Poeta, da palavra 335 cinzelando em dois versos todo o universo do seu poema aberto aos mares: Luís de ouro vazando intensa luz / por sobre as ondas altas dos vocábulos. Na legenda quixotiana em que a rir-te e a divertir te transverteste a narrar e resumir, resenhar e repintar o mito, com riscos e rabiscos de figuras e palavras, qual jogo pueril com os signos da linguagem a falcoar a sorte e a flautear a morte, ao pé da letra e à mão armada: de soneto barroco a poema concreto, de poemas-desenhos, diálogos, ritos, gestos, mesuras, paródias, a cantiga e brincadeira de roda, a embolada-galope e ao poema-cálice, símbolo da demanda e caligrama da copa global do mundo; sempre trocando, terçando, esgrimindo metros e rimas, estrofes, ritmos, timbres na velha e brava porfia das letras e das armas, desde o durindano verso alexandrino ao versículo magriço, pé quebrado, trissílabo, até o agudo e o esdrúxulo dissílabo – teu auto-retrato-rabisco, escritinho, traçaste: poeta-inseto, poeta-in/sano (um louco de juízo), poeta-in/signe, da liça e da taça, da raça e graça do Quixote: tua exata, exímia e nímia e fina caricatura – fina e frágil, até na ponta da asa de teu nariz fino e frágil de tua alma fina e frágil, tua certeza frágil / frágil frágil frágil frágil / mas que por frágil é ágil. Retraduziste assim em forma tripla, e em tua própria forma de ser, pensar, poetar, os traços, riscos e coloridos portinarianos, resumindo e reiluminando o mundo quixotiano. E também aí inciso retraçaste o teu arquetípico perfil psico-poético: trágico-lírico-onírico-aporético irônico-hilário-cômico, lúdico-lépido-humorístico, tipo gafanhoto montado / em corcel magriz, espectro de grilo / cingindo loriga, / fio de linha / à brisa torcido, enfim: o triste cavaleiro / de tristíssima figura... porém maneiro brandindo, em triz e em truz, o lápis de cor, candor, e alegre humor, do artista-criança que fala e canta, brinca e dança, que ri e risca, pinta e borda, joga, roda, e salta, traquinas! e cai de costas, de gâmbias de fora, e cai de catrâmbias, planta bananeira, vira cambalhotas faz careta e dá piruetas, faz mil micagens mais, e espalha tanta mentira, e diz tanta besteira verbais e não-verbais, e muito mais. E assim e outrossim – farolim – por ti e a ti mesmo por teu verso, tua rima, teu jeito e teu gesto, te sagraste cavaleiro andante, amante, anelante de amor e sonho, quimera e utopia, per-seguindo, no sem-rumo e no sem-fim, o árduo projeto da humana lida e des(a)ventura – tu, o gauche, o malvindo, o malfadado (inda não nado) a cair do cavalo, de cabeça no valo, e destinado por fim a sair na cola de nenhum caminho... o que vagou, navegou mares errados, perdeu tudo que não tinha, amou a mulher difícil mas proclamou a imensa precisão de amar, amar e esquecer, amar e malamar – amar desamar, amar – sempre, e até de olhos vidrados, amar, e compartilhar amor sem conta amar a nossa falta mesma de amor, e dar saltos mortais vitais de amor de amor de amor. Em suma: em sigla, letra, cifra, lavra e palavra, traço e figura, lúdica e lúcida, lírica, épica e dramática, numa só e múltipla alegoria, heraclítico-nietzschiana, hölderlino-heideggeriana bíblica e muçulmana, brâmane-freud-jung-pré-colombiana, simultaneamente se compondo (porque as lógicas mito-lógicas são múltiplas e uma só, um só sentido em plurissignificação e o homem é homem em qualquer tempo e em todo e qualquer canto do mundo) rola e bola no papel o cosmogônico mitopoético ôntico-ontológico topo-gráfico poema Um em Quatro em forma global e simbólica de cálice – o aberto cálice in-finito da linguagem: A b y Z – no qual narraste, figuraste, des-envolveste todo o ciclo espaciotemporal do ser-no-mundo colhendo em gral e anel Os Quatro: o céu e a terra, os mortais e os imortais a cúpula celeste o pedestal terrestre o divino santelmo o humano ser comum 336 da palavra num elo metafórico-metonímico entre si unidos, entrelaçados-transpropriados uno discurso e um só destino: umcavaleiroumcavaloumjumentoumescudeiro quadrigeminados quadrimembra jornada quadrivalente busca, a discorrer mundo na terra – palavra espacial – a girar girovagar, num só giro, quadripartito anelo unificado anseio, transpropriante-espiralante, da p/rosa da vida – palavra temporal – do ser-no-mundo-para-a-morte: com-plexo existencial, no símplice Quadripartito. Dest’arte, no Aberto do cálice, instalaste o espaço-de-jogo-temporal-do-mundo: alfa-ômega, eterno-retorno, Anel-Graal, transpropriando-se entre si Os Quatro. Na gesta geral da Linguagem, con-figuraste a quadridimensão do espaço-tempo e compuseste, cervantina saga e mandala, o Poema quadriuniversal do Mundo. Poesia ontológica do logos e a physis, a physis e a poíesis, o nome e a coisa, o ser e o tempo o ser e o nada, o ethos e a polis, o Eu e o Mundo, Éros e Thánatos, mas sobretudo e sempre: o ser/estar-no-mundo-com-os-outros-para-a-morte, sem mistificação, sem ilusões metafísicas e sim o gosto de existir, e subsistir, no afã/elã de transfiguração e transvaloração da existência. Agora compreendemos com todo o corpo, para além da região minúscula do espírito, – como a ti mesmo interpretaras – aquela ambígua razão de ser, o ímpeto, a confusa distribuição em mim, de seda e péssimo. E rodopiando as tuas palavras, queremos assim te sagrar, e consagrar – seja numa escultura de ar, lunar ou tua estátua na calçada de Copacabana, que tanto e leve pisaste – o nosso mítico herói de seda e ferro. E as tuas quiméricas metáforas, e as tuas utópicas, roucas onomatopéias ressoarão no tempo e no mundo ao ressurgir e ao reflorescer das primaveras... até que o homem novo, a vir, o para-além-do-humano, nosso longe irmão futuro, sublime arrolamento de contrários, enlaçados por fim, um dia brote deste chão e alvoreça! Poeta da esperança e da derrota, das grandes odes e angustiadas elegias – buscaste na saga e na liça da linguagem a gesta essencial e simples da poesia e alcançaste – a gerir o mundo no teu verso e a viveres tu mesmo de palavra – empreender na lírica a aliança da simplicidade, sabedoria, e sutil serenidade. A ti reverte e consagra, por tua vida-obra à letra escrevida – versivida e vice-versa – a ti, homem escrito, o que inscreveste no retrato de Erasmo: “Santidade de escrever, insanidade de escrever – equivalem-se. O sábio equilibra-se no caos.” Tal se ergue o teu verso: em arco sobre os abismos. Também tu, pelejaste mais do que a peleja (e perdeste). A vida te viveu sem que vivesses nela. Amaste mais do que amor se deixa amar. Vagueaste a caminho de nada. A noite, enfim, desceu. Agora podes livre adormecer – não mais em sonhos – mas o sono limpo / de todo excremento romântico. Teu sono sagrado, sono em si, impenetrável até ao semínimo tim da Canção flautim – tua mais fina ironia, na infinda perspectiva do fim. Dorme, assim, o sono absoluto que petrifica a morte e vai além, e te completa em tua finitude – ser isento de ser – predestinado (como deliciadamente antefruíste) ao prêmio excelso de exalar-se. Dorme, Carlos Drummond, teu verdadeiro sono / despido de todo encantamento. Experimenta a última ração do vácuo, a última danação, parágrafo penúltimo (qual no teu último canto acalentaste) do estado – menos que isso – de não ser. Dorme, Carlos, dorme eternamente – insonte, petrificado cavaleiro desengano da palavra 337 VI Viverás, Drummond, surdamente, no reino das palavras. Lá onde todos os teus poemas foram e estão escritos ¯ nesse verso e reverso do real, em que investiste até à letra inapelada, que exprime tudo, e é nada. Escrita (i)memorial arquipo(i)ética antropo(m)órfica a reinscrever entre a palavra e a terra o teu criptograma grafado em ocre, ouro, ferro, em grifo universal ¯ Aurinaciano Auritabirano (a letra no corpo) o corpo na pedra a pedra na vida a vida na forma Agora sabes que é tudo certo e prescrito em nebuloso estatuto. A vida era só uma noção de porta, o projeto de abri-la / sem haver outro lado. Vives agora o mistério do tempo, na raiz mesma do ser. Porque o tempo é, para sempre. E assim a hera da antiga era / roreja incansavelmente. Tal que evocaste o teu sumo poeta e amigo, o venerando ausente ¯ agora tua poesia pousa no tempo, magia em si, escrita no ar. A arte completa, a vida completa. A forma perfeita, definitiva. Agora também Drummond é pura / poesia, profundamente. Agora és puro verso, branco, livre, solto, na distância espacitempo, escandindo-se... és o sentido escondido no imo do cristalino espírito, no veio da palavra, abissal. Campeias longe... nas campinas do vazio (esse completo estar-vivo no sem-fim) pastor de nuvens, reses encantadas – mudo em tua palavra-aprisco: saboreando-a. VII Ó novo aedo, imortal, de todos os temas, todas as rimas, toda a Poesia – que penseroso e lasso descendeste as montanhas de Minas, alterosas... percorreste as ruas e os dramas da cidade dos homens, e deste a volta à vida no Grande Hotel do Mundo sem gerência, e mago, e anjo, subiste ao sétimo céu e desceste ao quinto dos infernos, e ascendeste ao zênite da existência – em teu negro jardim onde violas soam, ouve o eco das sete faces, sete vozes em sete tons, das sete cordas de tua rude cítara, nestas outras sete palavras surdindo ainda... da pedra-enigma que havia e tinha no meio do caminho. Ó velho bardo, escuta, do sono de tua mina a mais funda tangendo – tom doloroso – ante o bloco de tua tumba em dó profundo, o solo inaudito e longo de um alaúde a dizer, ressonando... sobre a tua pedra tumular no cantochão da tua morte, em glorificação de tua arte que tua vida – oh! Poeta – foi teu verso (a) lapidar (te) 338 da palavra POSTSCRIPTUM (*) Pedro Pinho de Assis é o nome completo, aqui ad hoc e deliberadamente sincopado, aproveitando-se a tradição monacal do último sobrenome para criar uma espécie de conventual pseudônimo (Pedro de Assis) e, assim, emprestar um toque monástico incidental ao onomástico do (interposto) autor, ou intérprete, ou recitante, virtual concelebrante do ofício poético-litúrgico deste pretenso Requiem - para e por Drummond ele mesmo, em certo sentido (muito embora, ou malgrado seu, tenha ele em vida e em verso professado que não cantaria o morto: é o próprio canto). Ou seja: no sentido simbólico de que se evoca o poeta, d’outre-tombe, ao mesmo tempo invocando e convocando a voz lírica e intemporal de sua poesia, para com os seus próprios versos ou imagens (inclusive autobiográficas e fotobiográficas) entremeadamente relembrados, relidos, re-citados, ou dialogando-se e discorrendo intertextualmente, em livre jogo de linguagem, com os seus poemas, dizer e cantar a imortalidade da sua figura e do seu espírito: Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change. De modo que essa denominação ad hoc de autoria, tal como aplicada e acima explicada, bem como e sobretudo o título definidor do gênero diferenciado ou “heterodoxo” (para não dizer “heresíaco”) deste nosso “Réquiem” não religioso nem lamentoso (muito ao contrário, antes secular e jubiloso, por isso mesmo, e mais um tanto, profano e glorioso) constituem parte integrante e indicativa da natureza, sentido e intenção deste entretecido e versificado discurso fúnebre, também entrelaçado de celebração e mesmo de glorificação literária e espiritual ao pranteado poeta. Um pretenso Requiem, portanto, que pretende também envolver e entoar nos seus versos um certo Gloria (mundano, naturalmente) ao nosso consagrado e grande poeta; consagrado aliás também, e paradoxalmente, por ocasião de sua própria morte, tão inesperada, tão lamentada e tão repercutida nacionalmente, e em Portugal, como jamais poeta nosso algum em tempo algum havia sido, ou mesmo qualquer poeta da Língua Portuguesa, desde Camões ou até incluso Camões. De tal forma que, depois de ter sua digna figura, sua longa vida e larga obra plenamente reconhecidas e consagradas, Drummond teve uma “santa” e “senhora” morte, verdadeiramente consagradora e glorificadora (e tudo isso aqui se diz malgrado seu, mais uma vez, porquanto ele mesmo, no seu livro derradeiro, glosou, motejou e desdenhou, triplamente, como que por autoprevenção, qualquer sentido, expressão ou expectativa de Glória, aqui na Terra ou nas Alturas: Fortuna, ó Glória, se evapora, / e a glória se esvanece, Glória). Trata-se, pois, de um certo gênero recitativo de discurso fúnebre (portanto virtualmente uma oração, mas secular, civil, e sem o aparato nem o tom oratório, conquanto buscando nas imagens e nos ritmos uma certa eloquência recitante, ou mesmo cantante, de litania, leiga litania entretanto) que é no conteúdo e na expressão um discurso ao mesmo tempo elegíaco, exegético e epidíctico (não meramente um panegírico), em relação ao poeta e sua poesia, o homem e sua obra, vale dizer, sintetizando: sua vida, paixão e morte, num só drama e escritura envolvidas, tal como ele essencialmente as viveu, encarnou e inscreveu na sua obra poética. E assim também aqui relembradas, celebradas, ou de certo modo representadas, num texto/contexto de certa configuração lírico-dramática por sua da palavra 339 inspiração e escrita. Menos, aliás, sob o modelo propriamente litúrgico-musical de uma solene missa de réquiem (embora tirando daí certos proveitos e efeitos), do que sob a forma poético-litúrgica, livre e leiga, de uma espécie de cantata a cappella ou oratório puramente recitativo, já que discurso ou oração fúnebre de fato o é, ou pretende ser. Sem deixar de ser também ou conter em si uma certa liturgia (leitourgía), no pleno sentido etimológico da expressão, da proclamada palavra, em termos de culto público em memória do homenageado. Porquanto, demais disso, trata-se de um texto efetivamente publicado em suas duas primeiras versões (a primeira, e rudimentar, em jornal local, O Liberal, marcando o primeiro ano da morte de Carlos Drummond, e a segunda nesta mesma revista literária, Asas da Palavra, número comemorativo ao centenário de nascimento do poeta) e já eventualmente recitado (interpretado, executado por assim dizer, inclusive com acompanhamento ou ilustração musical de apoio e de fundo) em público e para um público universitário, embora não ao vivo mas sob gravação de estúdio em fita cassete, num restrito e rápido evento acadêmico também comemorativo da sobrevida cultural do poeta morto. “Apresentação” ou “representação” essa do nosso réquiem-oratório, recitado e musicalizado (de fundo), ou espécie de cantata profana, a capella, cuja “performance” teve a competente colaboração “teatral” e “musical” dos amigos, também afinados drummondianos e grandes aficionados do outro canto lírico, o da ópera e seus congêneres: Maria Sylvia Nunes, que colaborou na preparação vocal e na seleção musical de acompanhamento, e Gilberto Chaves, que também participou da escolha sinfônica e emprestou a sua própria voz grave e baritonal à recitação, ao recital, dando assim o tom, eloquente, meio contido meio solene, ao texto tendencialmente lírico-dramático do nosso recitativo réquiem ou oratório profano e glorioso, nos termos acima colocados. Ou ainda, e prosseguindo: uma espécie de “paixão” drummondiana, nos dois sentidos, objetivo e subjetivo (ou duplo genitivo), e num tangencial sentido bachiano, já antes insinuado, de recitativo (relato, narração), declamado e/ou cantado, de todo o “drama do Calvário” poético, se assim se pode associar, que é a longeva e profunda experiência drummondiana da existência e da poesia, entrelaçadas, com seus múltiplos conflitos recíprocos, interconexos, e seu ineludível sentido trágico. No caso, todo o drama existencial, ou melhor, poéticoexistencial, toda a experiência poética vivida, sofrida, meditada e poematizada por Drummond, toda a sua “via-crúcis” biográfico-literária, inextricável, com todo o seu pathos vivencial e expressional, da linguagem e da vida, inseparáveis, indissolúveis, daquele convicto “gerir o mundo no meu verso” e “viver eu mesmo de palavra”, que vai aos limites e aos liames do metapoético e do metafísico, desde o seu primeiríssimo poema, natalício, destinal, passando largamente por todas as muitas faces, facetas e estilos da riquíssima poética e da ampla e universal problemática de sua vasta, complexa e alta poesia, uma verdadeira suma poético-filosófico-existencial geral, até à máxima simplicidade, leveza e lucidez do seu autoconsciente Farewell (Até mais! Passar bem! Aproveitem bem, vale a pena... Agora vou-me. Ou me vão? / Ou é vão ir ou não ir? / Oh! se te amei, e quanto, / quer dizer, nem tanto assim.), seu efetivo e sincero livro de despedida, serenamente desiludido e antefinal; fechando-se assim o recitado 340 da palavra drama lírico-existencial da vida, paixão e morte do poeta, com todo o seu conteúdo e sentido passional da existência e da poesia fundidas e essencializadas entre si (Gesang ist Dasein, o canto é existência, cantar é existir, cantar é ser, como sabemos, e como ainda mais sabia e sentia Drummond, poeta do “canto órfico” e certamente leitor privilegiado dos Sonetos a Orfeu). Por conseguinte, reafirme-se, uma espécie de paixão drummondiana, mas tragi-cômico-lírica no seu geral conteúdo, linguagem e sentido, que se extrai, se narra, se recita, a partir não da vida biográfica do poeta mas sim da produção poética da sua existência enquanto poeta, de todo o seu caminho problemático de pensamento e sentimento (do Eu e do Mundo), de sofrimento e comprazimento na procura da poesia, na luta corpo a corpo, invencível, interminável, com as palavras (Tamanha paixão – grife-se – e nenhum pecúlio), no gosto de dizer e de sentir / a existência verbal / a eletrônica / e musical figuração das coisas; portanto o gozo mas também a angústia e mesmo a tortura (poética) de sentir, pensar e dizer, imbricadameente, com todo o corpo e com todo o espírito, a própria vida encarnada no verbo, essencial e consubstancialmente: no verbo poético, no ventre da palavra, “estereofonia da carne profunda” (Roland Barthes, O prazer do texto). Tal é o calvário dramático do poeta, o gólgota da linguagem, da língua, desse homem escrito (Sua vida é papel / a fingir de jornal? // Afinal, ele é gente / ou registro pungente?); esse o patético, igualmente sofrido e prazeroso, doloroso e gozoso, padecimento lírico-existencial do poeta-pensador, sua verdadeira e sacrificial, interminável, inelutável paixão, cujo martirológio da escrita, por assim dizer, se contém, se relata, se recita, no reler e no discorrer dos seus poemas, percorrendo a “via-sacra” (profano-sagrada, não sacrossanta) de sua reunida e consumada obra poética. Por outro lado, como indica o subtítulo, trata-se do que se pode considerar mais propriamente um poema-ensaio. Mas não necessariamente de cunho ou intuito didático, nem ortodocente, antes heterodoxo como antes dissemos; ou simplesmente um ensaio crítico-poético em versos, composto em intertexto livremente entretido com a poesia do homenageado e apropriado Autor: um lerreler-(re)escrever para lembrar, celebrar, co-memorar o poeta, num amoroso oaristo de leitura-escritura, incorporando e interpretando (em sentido também vocal, de recital), em nosso próprio discurso evocativo-interpretativo, poemas, versos, imagens poéticas e/ou biográficas de Drummond (imagens biopoéticas, diria muito bem, e bem a propósito, Joaquim-Francisco Coelho, um dos primeiros e melhores intérpretes da poesia da terra e família do grande itabirano; cujos versos incorporados ou implicados em nosso discurso crítico-poético, expliquese, nem sempre o são completos e nem sempre destacados em itálico, a não ser quando alguma ênfase se precisou dar ao texto, ou se quis ressaltar em si a beleza poética e musical de certos versos-chave); bem assim algumas outras expressões da vasta e alta fortuna crítica do poeta, e ainda certas ideias e imagens amealhadas, entremeadas, de alguns outros poetas e pensadores, cujas vozes podem ser mais, ou menos, claramente (sub)entendidas na tessitura intertextual do nosso texto e seu contexto. Aliás, um texto algo sinfônico, ou polifônico, em sentido também musical, pois inspirado também, ou tocado, pela música e o pensamento dos réquiens profanos (assim os vejo, assim os ouço) de Mozart, de Brahms, de Verdi; e ressoando ou repercutindo ainda, a nosso ver (nosso ouvir), da palavra 341 certo eco da famosa cantata cênica de Carl Orff, cujo moderno canto goliardogregoriano se coaduna bem com a entoação funeral, entre profana e sagrada, da temática e da poética de Drummond tal como recolhidas e interpretadas nestes nossos “carmina drummondiana”; até porque, como se sabe, além de tantas outras traduções de sua poesia em numerosas línguas modernas, o poeta ainda teve a singular fortuna de uma ampla antologia de poemas seus traduzidos para o latim (por Silva Bélkior) e por vezes, necessariamente, um latim “vulgar” ou até mesmo “bárbaro”, ou “goliárdico”, para corresponder ao estilo grotesco e/ ou burlesco de certos versos do bardo itabirano (ou também “burano” similarmente?). A par de ser especialmente dedicado a Benedito Nunes, este poema-ensaio ou ensaio crítico-poético, na sua ambivalência, entra em diálogo “concertante” e entra na dança do(s) sentido(s), circular, volteante, valseante, com a concepção hermenêutica do nosso grande intérprete (como teórico aprofundado e como crítico experimentado, isto é, provado e variado, na interpretação e análise da obra de inúmeros e importantes autores) das relações entre arte, poesia e filosofia, num amplo contexto cultural e sob um enfoque rigorosamente poético-filosófico. Assim, mas sem querer com isso justificar ou escamotear as possíveis fraquezas deste nosso ensaio de compreensão/comemoração drummondiana, de embasamento legivelmente heideggeriano, diríamos que o seu enlace (ou mesmo enleio) interpretante com os próprios versos do poeta (aliás um pouco à maneira do que Drummond há muito fizera em relação a Machado de Assis, seu grande guru, no intertextual, devocional e belíssimo poema A um bruxo, com amor, guardadas evidentemente as imensas distâncias e proporções que vão do grande poeta ao simples versejador) corresponde mais ou menos ao que o nosso aludido teórico, também com base em Heidegger (na “filosofia” heideggeriana da linguagem e da poesia), elucida e conclui no seu fundamental ensaio Hermenêutica e poesia: “Por essa forma, a hermenêutica tem que interpretar a poesia falandoa, desdobrando-as em figuras, em topoi dela mesma, sem traduzi-la em conceitos. E como fazê-lo, uma vez que visa a dimensão do texto que não reside no conteúdo semântico, temático e lógico do enunciado, mas no nível pré-categorial, pré-simbólico e pré-objetivo? Em tais condições, o intérprete é instado quase ao esforço de parodiar o texto, e de interpretar a poesia com a poesia. A Hermenêutica da poesia seria sempre poética.” Nada mais se precisa dizer ou acrescentar, a não ser que talvez não tenhamos conseguido dialogar à altura com os poemas de Drummond, ou que nosso texto versificado se tenha talvez excedido, ou se embatucado, no livre jogar com os versos do poeta. Em todo caso, fica a tentativa de compreensão (ainda incompleta) da poesia drummondiana, e valham a intenção e a deleitação da homenagem, em comemoração do poeta e(m) sua poesia. Outro ponto que o nosso presente ensaio nos leva a dialogar com Benedito Nunes é a questão muito atual e bem questionante d’O Nietzsche de Heidegger, deixada em suspenso ou numa talvez deliberada oscilação (entre les deux...) no seu homônimo e grande opúsculo do ano 2000. Em nossa vertente, ambivalente e recitante interpretação (também parcial ou parcelar) de alguns poemas filosóficoexistenciais de Drummond, a qual também balança entre Heidegger e Nietzsche, 342 da palavra ou melhor, de um a outro e vice-versa, porquanto a poesia drummondiana acolhe os dois pensamentos conforme a temática e a problemática meditadas poeticamente (mas sem subjugar-se a nenhum dos dois, porque a poesia pensa por si mesma, com suas próprias intuições e símbolos, autonomamente), cremos ter indicado que, no mais decisivo, o pensamento poético de Drummond é francamente nietzschiano; ele que, por sinal, tinha sido um tanto schopenhaueriano em sua ânsia nirvânica do nada, nihilismo passivo que veio se transformando ao longo de sua obra, de sua metamorfose poética, até se tornar um nihilismo ativo, afirmativo, ao modo de Nietzsche. Nas questões cruciais, por exemplo, da morte de Deus e da fuga dos deuses, do último (ou novo) deus, do homem novo, a vir, e de um novo começo da humanidade e do mundo, diríamos que o pensamento poético-existencial de Drummond, embora comporte os lineamentos da analítica heideggeriana da existência, pende francamente para uma visão nietzschiana. Nosso poeta maior (e maior poeta, certamente, e um dos grandes espíritos universais da nossa época e mesmo já pós-contemporâneo, porvindouro) parece-nos assumir, poeticamente, a figura do homem superior, do livre espírito, o espírito desatrelado, aberto, afirmativo e criador, aquele que pressente e prepara a vinda do homem novo, do suprahomem, o para-além-do-humano. E sua última poesia cada vez mais procura ser, fazer o jogo e a dança do artista-criança, que ri e que brinca, pueril poeta, com seus brincos de palavra, porém arteiro e pensante (o livre e leve espírito criança, não mais o pesado camelo nem o rompante leão, às vezes quando muito o poeta irônico e ferino como tigre, mas cochilando, disfarçado). No seu belo canto genetlíaco e propedêutico, pedagógico (de benevolente avô para netinho inocente), A Luís Maurício, infante, Drummond parece mesmo assumir poeticamente, na sua elocução, na sua fala tão liricamente educadora, a própria imagem e o tom de Zaratustra: não sendo talvez por acaso que o poema termina em pleno meio-dia (...) hora belíssima entre todas. Mesmo a última e acatadora (ou até acalentadora) imagem que sua poesia nos dá e nos deixa quanto ao tema do divino (não a ideia de Deus) é também a pueril figura do Rei menino, ou seja, o nosso tradicional, devocional, ingênuo e humano menino-deus, o Cristo-criança, no seu berço de palha; e de forma alguma nenhum novo ou último deus, qualquer que seja ou possa ser. Porém ainda mesmo a final e complacente “serenidade” que se colhe no último Drummond, fruto natural e cultivado na eudaimonia de sua mais avançada e serena idade poética (ou biopoética), não se identifica inteiramente com a Gelassenheit heideggeriana, tão quietista e expectante. Pois o nosso velho e juvenil poeta não perdeu, não sufocou aquele gosto de dizer e de sentir, até o último verso da sua Canção final. Quer dizer, sua poesia não elide, não elimina, até o fim (Canção flautim), a nietzschiana e supra-humana vontade de potência, que é, para o nosso vital poeta, afã e elã de viver, de existir e subsistir, apesar dos pesares, apesar de tudo, em amistosa e equânime convivência com os outros, o mundo, e as coisas. (Aliás: pesares de quê? - perguntaria o já amadurecido e pacificado poeta, ainda que desencantado - se esse travo de angústia nos cantares, / se o que dorme na base da elegia / vai correndo e secando pelos ares, // e nada resta, mesmo, do que escreves / e te forçou ao exílio das palavras, / senão contentamento de escrever (...)? - grifemos nós com intenção e bem a propósito). da palavra 343 Não é também de outro timbre menos otimista, nem de outro tom menos complacente, a última e convivial mensagem poética, entre muitas anteriores e similares já a nós dirigidas (como viver sem conviver?) na praça de convites, que ele nos deixou inscrita (e prescrita) no seu livro de despedida; e na qual, fazendo par festivo com a mesma balada natalina do Rei menino, e como tantas outras vezes antes, o poeta aproveita novamente o evento e o advento anual, em conjunção, para nos ver a todos de novo acreditar, a ser bons meninos, e convidar-nos assim a viver mais uma vez a Reinauguração do tempo, a renovar em nós mesmos a magia do tempo, e, brindando com alegria e esperança ao Ano Novo, novamente nos convida a acreditar na vida e na doação de vivê-la / em perpétua procura e perpétua criação. Assim falou Drummond. Como nitidamente se compara e se constata. Na verdade, a final serenidade drummondiana, a que nos referimos, ao invés da passiva ou mesmo impassível quietude (ascética? budista? pietista?) de Heidegger, é ainda uma felina, sutil serenidade como a saudamos e definimos no Réquiem do poeta (nada nirvânico nem olímpico, portanto, mas sim apolíneodionisíaco, in-tensamente). E no espaço-de-jogo-temporal do Quadripartito heideggeriano, que Drummond à sua maneira e seu frágil projeto de felicidade (neste mundo para todos, nesta terra poeticamente habitada, ou mais e melhor, ecopoeticamente restaurada e reedificada, como morada ecumênica, oikoumenós, da nova humanidade, no tempo novo, a grande morada do homem e do mundo, como ele a sentiu, meditou e preconizou: tantos pisam este chão que ele talvez / um dia se humanize) tão bem arquitetou e instalou, como indicamos, na sua verbal e literal instalação poética do mais do que concreto, alegórico poema UM EM QUATRO, nosso poeta-arquiteto da topológica (e topo-gráfica, visualmente e e-videntemente) nova residência poética do homem novo e quixotiano a vir, a girovagar no anel(o) cíclico e circular do tempo, em ampla translação, colocou assim no centro ôntico-ontológico desse mundo, no meio mesmo do cálice aberto da linguagem, que o envolve, a própria circularidade e perpetuição do eternoretorno nietzschiano. Enfim, queríamos agora dizer ao nosso Benedito Nunes, mestre e amigo, que a bola agora está com ele, para decidir (ou indecidir) a parada, a partida. Que o nosso pequeno e grande Bené, portanto, que é o nosso Pelé da acirrada porfia entre poesia e filosofia (a coisa está num tal pé, aliás, que só o Carlito Drummond, poeta pateta e peralta do jogo verbal da péla, da bola, do foot-ball, e até mesmo ou sobretudo do ludopédio (por que não?), espécie de “Beto bom de bola” da palavra e da poesia, é que pode quiçá, e oxalá, apartar sem resolver essa velha briga transcendental, acorrendo aqui com seus maneiros “dribles de palavra”, nos poupando assim a cabeça, e tirando de letra a questão; pois como ele disse, falou, arbitrou: E deixemos de briga, minha gente. / O pé tome a palavra: bola em frente.), que o nosso Bené, portanto, que é outro Carlito sem jeito e oitentão, o nosso “pequeno pai do tempo” como o apelidava(o)ntologicamente o impagável poeta Ruy Barata, de inapagável memória, e que tanto e a fundo tem interpretado o primeiro e o último Heidegger, nos dê agora um balanço geral, poético-filosófico disputadamente, da poesia do último Drummond. Ou então que nos dê, pelo menos, um balancete heurístico e hermenêutico, em retro-projeção, do último livro do último Drummond, esse excepcional e 344 da palavra inacreditável Farewell, do nosso jovial e juvenil poeta aos 85 anos de idade e mais de 60 ininterruptos e prolíferos de variada e alta poesia, existencial e existenciária, sem concessões nem mistificação. Que o nosso Bené, por conseguinte, que é também um craque das palavras e dos conceitos, das ideias e das formas, nos dê um bom passe para esse livro (difícil e fácil, simples e complexo, como só ele), em especial no que tange e toca à ora severa ora brincalhona, ora austera ora amorosa “musa filosófica” do poeta. Além e ao lado de Benedito Nunes, diversos outros críticos e teóricos são de certo modo assimilados, em maior ou menor grau, neste nosso ensaio drummondiano, por vezes utilizando expressões textuais de alguns deles, incorporadas ao nosso próprio discurso interpretativo, intertextual; entre os quais o já antes mencionado Joaquim-Francisco Coelho e mais os que ora lembramos (com desculpas aos que acaso ficaram, injustiçados, na velha academia dos esquecidos): Antônio Candido, Affonso Romano de Sant’Anna, Luís Costa Lima, Silviano Santiago e, por último mas principalmente, José Guilherme Merquior (in memoriam); como também, mais especificamente no campo da teoria literária e da poética, Eduardo Portela e Emmanuel Carneiro Leão; a eles todos, igualmente, consignamos aqui nossa admiração e reconhecimento. da palavra 345 346 da palavra Foto: David Jackson VIII. Escritos de Benedito Nunes da palavra 347 348 da palavra Meu caminho na crítica* Onde Platão acertou, a Filosofia converteu-se em Poesia. Hermann Bloch, A morte de Virgílio. * Depoimento dado durante o III Ciclo de Conferências “Caminhos do Crítico”, na Academia Brasileira de Letras, em 17 de maio de 2005. Publicado no Dossiê USP América Latina, Estudos Avançados 55, vol. 19, Set./Dez. 2005. pp. 289305. Incluído em A clave do poético. Organização Victor Sales Pinheiro. São Paulo: Cia das letras, 2009 (no prelo). Um dos encontros, em Belém, com Clarice Lispector, depois que publiquei O drama da linguagem (São Paulo, Ática, 1989) sobre o conjunto da obra dessa escritora, ela me disse antes do cumprimento de praxe: “Você não é um crítico, mas algo diferente, que não sei o que é”. No momento, perturbou-me essa afirmação. Hoje posso ver como foi certeiro, além de encomiástico, o aturdido juízo de Clarice. Ela percebia, lendo o que sobre ela escrevi, que o meu interesse intelectual não nasce nem acaba no campo da crítica literária. Amplificado à compreensão das obras de arte, incluindo as literárias, é também extensivo, em conjunto, à interpretação da cultura e à explicação da Natureza. Um interesse tão reflexivo quanto abrangente, é, portanto, mais filosófico do que apenas literário. Ora, desde Kant a filosofia também foi chamada de crítica. Não sei por qual das críticas comecei, se foi pela literária ou pela filosófica, tão intimamente se uniram, em minha atividade, desde novinho, e alternativamente, literatura e filosofia. No “algo diferente” a que Clarice se referia para qualificar-me, estava implícita semelhante união. Não sou um duplo, crítico literário por um lado e filósofo por outro. Constituo um tipo híbrido, mestiço das duas espécies. Literatura e filosofia são hoje, para mim, aquela união convertida em tema reflexivo único, ambas domínios em conflito, embora inseparáveis, intercomunicantes. Mas nem sempre foi assim. Na idade juvenil escrevi os meus “versinhos” metrificados e rimados e contos ultra-românticos; depois tentei um romance, que não passou do segundo capítulo. Era imitação, talvez, do Menino de Engenho, de José Lins do Rego. da palavra 349 Já estava, portanto, assentado na Literatura antes de passar à Filosofia, aonde cheguei premido pela religião, opressiva àquela época dentro de uma família católica e da qual, coroinha de missas e bênçãos, queria libertar-me. Senão por breve momento acompanhei o entendimento iluminista da religião, como meio de engodo dos mais esclarecidos sobre os mais ignorantes e como meio de controle sujeitando estes àqueles. Entendi, finalmente, o nexo religioso compartilhando da trama tecida pela imaginação, nativa à Literatura e não estranha à Filosofia. Na mesma ebulição da primeira juventude, além do mencionado esboço de romance, veio, embalado por prematuro conhecimento de Nietzsche, então lido em espanhol, um surto interrupto de reflexão filosófica, produzindo séries quase semanais de aforismos, numerados em arábico – mais de sessenta ao todo – publicados, de 1946 a 1952, sob o título de “Confissões do solitário”, no Suplemento Literário, dirigido por Haroldo Maranhão, parte integrante dominical do diário matutino Folha do Norte, em circulação desde o começo do século passado e já extinto, de propriedade do avô dele, o polêmico jornalista Paulo Maranhão, em dissídio com o interventor, e depois governador do Pará, coronel Magalhães Barata, um dos tenentes de 1930. Esse jornal foi o veículo dessa luta política, e o seu Suplemento o reintrodutor, em época tardia – o final da década de 1940 – no Pará, do movimento modernista, que já tinha sido difundido, entre nós, sem que o soubéssemos (falo pelos meus companheiros de geração como o Haroldo), a partir dos anos de 1920, pela revista Belém Nova. A minha geração incorporou extemporaneamente esse movimento, restaurando as suas fontes, paulistas principalmente e seus derivados cariocas e mineiros, sem entreter a menor relação com os pioneiros paraenses de Belém Nova, excetuando Bruno de Menezes, para nós tão só o autor da poesia da negritude em Batuque (1931), original contraponto à poesia servonegra de Jorge de Lima. Muitos dentre os pioneiros modernistas do Pará, na década de 1920, como Eneida de Morais, tomaram um Ita no Norte, emigrando para o Rio de Janeiro. Falecido em 2004, Haroldo Maranhão, meu companheiro de colégio no ginasial, a que me ligou, desde menino, a comum fome de leitura, e também meu confrade literário numa sociedade juvenil que fundamos, com outros então novos – a Academia dos Novos – espelhada na Academia Brasileira de Letras, seguindo os requisitos acadêmicos todos que nos propunha um dos Anuários dessa entidade que ambos avidamente lêramos, deu-nos, na maturidade, três obras-primas romanescas – O tetraneto del rei, extraordinária paródia à prosa quinhentista e sátira à colonização portuguesa no Brasil, Cabelos no coração, biografia imaginária de um dos próceres, no Pará, da Independência de 1822, Felipe Patroni, e o Memorial do fim, amorosa rememoração, de inventiva biográfica, da morte de Machado de Assis. O Suplemento da Folha do Norte, que Haroldo criou e editou, e onde publiquei “As confissões do solitário”, foi emblemático para a identidade intelectual da minha geração e particulamente para a sorte do nexo entre literatura e filosofia que, para mim, se formou nessa época, e que só muito mais tarde tornou-se privilegiado objeto de reflexão. 350 da palavra Esse encarte do falecido matutino, A Folha do Norte, agregava, sem distinção, dominicalmente, nas mesmas páginas, dos prosadores e poetas locais aos consagrados modernistas de diferentes naturalidades, mineiros, cariocas e nordestinos, e de distintas gerações – Carlos Drummond, Cecília Meireles, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, Ledo Ivo, Marques Rebelo e tantos outros. Assim, os escritores estaduais apareciam ao lado dos federais, os das Províncias com os metropolitanos, incluindo os de Belém, que fora prematura, elástica Metrópole, no final do ciclo da Borracha em 1912. Foi o Suplemento da Folha que estampou os fragmentos do confessional solitário: pondo à prova, de encontro a um vago neopaganismo neles preconizado, matrizes de minha formação católica, misturavam conceitos filosóficos e imagens poéticas, sob o foco de uma reflexão cética, certamente agnóstica, sobre problemas religiosos, morais e estéticos, alimentada pela vária, incessante, quase obsessiva leitura de Homero e Shakespeare, Santayana e Unamuno, Pascal e Walt Whitmann, Baudelaire e Goethe, Renan e Gide, Dostoiévski e Kant, Anatole France, Eça de Queiroz e Monteiro Lobato (o de Urupês e o do Pica-pau Amarelo). As leituras desses filósofos e escritores, a maioria dos quais poetas, alternavam-se num vai e vem constante entre imagem e ideia, entre percepção e conceito. Era um movimento de balouço entre o filosófico e o poético e, portanto, entre ideia e imagem, entre conceito e percepção, que presidiu minha própria formação intelectual. Tendo sido em Filosofia e Literatura autodidata metódico e sistemático, tal movimento entrosou, para mim, sobre um fundo neutro de regulares estudos universitários em Direito concluídos em 1952, quando ainda não existiam, em nosso meio, nem faculdades de Filosofia nem centros de Ciências ou de Letras, as duas sobreditas irmãs adversas. Na maturidade, tal entrosamento constituiria tema preferencial do meu hibridismo crítico. É aí que reside a pedra de tropeço, a pedra no meio do caminho para o crítico. Se pensado for o hibridismo sem o genuíno balouço entre as duas, parece que estava propondo, de saída, uma subordinação metodológica da literatura à filosofia. A Filosofia seria o caminho real para levar à Literatura. Nada disso. Não pretendi e nem pretendo aplicar a filosofia, como método uniforme, ao conhecimento da literatura, nem fazer da literatura um instrumento de ilustração da filosofia ou uma figuração de verdades filosóficas. Se fosse o caso, teria que recorrer à determinada filosofia – pois que temos filosofia no plural e não no singular – passando então a literatura, sob exame crítico, à condição de serva de um método filosófico. O que nos levaria ao seguinte contrasenso: a Filosofia já está implícita na crítica literária. Sejam quais forem, os métodos da crítica literária sempre têm uma maneira a priori, por assim dizer filosófica, de conceber e de avaliar o alcance do texto literário, em função de um fenômeno mais extensivo que o engloba, seja a linguagem, seja a sociedade, seja a história. Diante do texto literário, o crítico-leitor passa a examiná-lo sempre de acordo com uma perspectiva avaliadora mais ampla, que a experiência da época ou da sociedade em que vive, já lhe propõe, de antemão na linguagem de todos, como fala comum. Mas dá-se que o próprio autor também se lê. Como críticoleitor de si mesmo, pode ler-se indagando seu texto diante da instância epocal da palavra 351 que lhe prejulga a obra literária ou recapitulando-a diante da concepção filosófica que a ela integrou. O autor pode trabalhar o seu texto do ponto de vista de uma filosofia – travailler en philosophe – dizia-se no Medievo, tal como Dante trabalhou ao integrar a Escolástica à Divina Comédia – para não falarmos de Lucrécio, que integrou o atomismo de Leucipo, Demócrito e Epicuro ao De Rerum Natura – e tal como Goethe incorporaria aos seus dois Fausto o panteísmo de Giordano Bruno, o monismo de Spinoza, as monadas de Leibniz, a ideia estética de Kant e a intuição racional de Fichte. Nessas obras exponenciais do passado, assoma, quando as lemos, uma predisposição filosófica, do mesmo modo que, inversa e complementarmente, filosofias se nos apresentam com acentuado viés literário, a exemplo das filosofias, já em nossa época, de Heidegger, Sartre e MerleauPonty. Afinal, o que, de imediato, há, em comum, entre filosofia e literatura? A linguagem. Como assim? É que ambas só existem em obras de linguagem, o que significa que só existem operativamente ou poeticamente, no sentido originário da palavra grega poiesis. A Filosofia de Spinoza está configurada nos livros de Spinoza – principalmente naquele denominado Ética. E os livros de Spinoza se estruturam como linguagem escrita, de maneira análoga à Comedia de Dante. Ambas, Comedia danteana e Filosofia de Spinoza são poéticas desse ponto de vista: o da forma escrita que as corporifica, pela qual existem e subsistem no tempo, dirigindo-se a leitores, para veicular-lhes uma mensagem estética, ou seja, uma maneira de sentir por imagens, se a obra é literária, mormente se for poesia, ou para veicularlhes uma maneira de pensar, munida de recursos retóricos para persuadi-los, se a obra é filosófica. Mas concretizando-se em obras cada um desses domínios, a linguagem, o discurso escrito que têm em comum é, para dizê-lo de maneira simples – com o risco de simplificação – trabalhado de modo diferente: na filosofia preponderam a proposição e o argumento, em que prima o conceito ou o significado, na literatura preponderam a imagem e o significante, bem como os chamados tropos (metáfora, metonímia etc). Uma e outra, porém, como obras de linguagem posta em ação – fontes da palavra ativa, atuante – permitem-nos discernir o real para além do dado imediato, empírico. No entanto, é preciso dizê-lo, em proveito da identificação de meu caminho crítico, essas duas linguagens na maioria das vezes se traspassam em seus próprios componentes extremos, como obras repassadas pela mesma vis poética, formativa: entra o poético na filosofia e entra o filosófico na poesia, esta palavra aqui já usada como o essencial da literatura, ou, aproveitando-se a expressão de Valéry, a literatura reduzida a seu princípio ativo. Se, portanto, há traspasse, é porque, nesse nível, filosofia e poesia se encontram, se correspondem, se atravessam, e mesmo assim continuam diferentes. Sem coincidirem, enriquecemse mutuamente. Mas esse encontro de que estamos falando, já não teria ocorrido desde o século XVIII, sob a mediação da disciplina filosófica denominada Estética, então surgente na órbita do pensamento kantiano, em seu terceiro desdobramento, como crítica do juízo relativo ao Belo natural, ao Belo artístico e à finalidade? Se hoje, porém, estudamos o desenvolvimento da Estética entre nós, constatamos 352 da palavra que essa disciplina só se configurou de maneira autônoma, no Brasil, em tempos recentes. Sua existência, nova e esporádica, é secundada, senão suprida, pela crítica literária e artística, exercendo, em suplência, a função de discernimento estético. Não obstante, os românticos, principalmente os alemães, contemporâneos do surgimento da Estética no idealismo posterior a Kant, e entre eles um Friedrich Schlegel e um Novalis, defenderam a supremacia da Crítica, com efeitos estéticos. Defenderam, ainda, em nome das duas, a coincidência da Filosofia com a Poesia como equivalência entre gêneros. Assim, a filosofia é uma espécie de poesia e a poesia uma espécie de filosofia. Na verdade, os românticos sobrepunham as duas fraternas adversárias, porque adotavam o ponto de vista fichtiano, ou seja, do discípulo de Kant, segundo o qual, defendiam, contra o Mestre, a existência de uma intuição intelectual, capaz de criar o objeto no momento de conhecê-lo. A Filosofia passava a ser arte e poesia; e arte e poesia eram equivalentes à Filosofia. Porém o traspasse de uma na outra é, antes de tudo, transação historicamente efetivada, que mantém a identidade de cada parceira, no traspasse mútuo de ambas, em seguimento a um trânsito de mão dupla de filósofos e poetas – os primeiros transando com os segundos e vice-versa. Simetricamente, um poeta, Antonio Machado, sob a responsabilidade de seu heterônimo, Juan de Mairena, com a personalidade fictícia de professor de Retórica, e um filósofo, Heidegger, inclinado à poesia, figuraram essa transa ou transação, pelo último batizada de diálogo, entre as participantes de conflito quase trimilenar, se contarmos da época de Platão ou do grande escrito, A República, do fundador da Academia, o primeiro marco da contenda opondo o partido do pensamento filosófico à facção dos que poetam. Juan de Mairena escreve: “Hay hombres, decia mi maestro, que van de la Poetica a la Filosofia; outros que van de la Filosofia a la Poética. Lo inevitable es ir de lo uno a lo outro, en esto como en todo” (Há homens, dizia meu mestre, que vão da Poética à Filosofia. O inevitável, nisso como em tudo, é ir de um termo a outro). A primeira parte do percurso de ida e vinda aí exposto, poderia descrever o movimento intelectual de certos poetas, como o próprio Antonio Machado, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Rilke, Paul Valéry, Eliot, na direção da Filosofia; a segunda parte do percurso descreveria a órbita de filósofos como Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Hannah Arendt, Gaston Bachelard, Michel Foucault, Ludwig Wittgenstein e Paul Ricoeur na direção da poesia, tal como anteriormente concebida. Num confronto desse tipo, há, de início, duas consequências importantes: apesar do traspasse ou da mútua conversão dos termos, poeta e filósofo conservam cada qual a sua identidade própria; e, ainda, o traspasse deixa patente que filosofia e poesia, longe de serem unidades fixas, monádicas, sem janelas, mantendo entre si conexão unívoca e hierárquica, à maneira de duas disciplinas distintas, conforme nos legou a tradição clássica que Hegel averbou ao absorver a poesia na filosofia, são unidades móveis, em conexão recíproca. Mas há uma terceira consequência a ressaltar. É o fato de que nessa conexão recíproca, a filosofia faz da obra literária como tal objeto de sua da palavra 353 indagação (o que ela é, ao que visa, qual a sua estrutura) e a obra, por sua vez, reverte sobre a Filosofia, da qual, ela, obra, se faz, como poética, a instância concreta, reveladora (ou desveladora) das originariamente abstratas indagações filosóficas. Eis, em resumo, o procedimento geral que tenho seguido. Daí a quarta consequência: não é a Filosofia que impõe seu método à parceira, mas é esta mesma que o sugere; a Filosofia pode garantir ou legitimar a escolha de um ou mais de um método, eis que para o conhecimento da Literatura, a conveniência deste e daquele é assentada filosoficamente em estado de simpósio: cada qual pode servir ao iluminar de certa maneira a obra estudada. Reciprocamente a obra estudada também pode oferecer um ponto incisivo de aclaramento filosófico. Foi sob tal foco dúplice que comecei a examinar, entre outras, obras como o singular romance Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, síntese das chamadas formas simples, estudadas por André Jolles – entre elas o enigma e o mito - e como A paixão segundo G.H., de Clarice Lispector, narrativa de personagem inominada, no círculo de insólita transfiguração do real, semelhante às passadas de uma experiência mística que a ficção parodiasse. Nesse romance de Guimarães Rosa, a poesia cede lugar à sua nobre ancestral, o mito, contra a qual luta, desde o início, desde a aurora grega a insurgente força intelectual da Filosofia. E esse mito, nada mais nada menos do que o pacto com o Demônio, presumivelmente firmado pelo personagem narrador, o jagunço Riobaldo, modula o tom épico da narrativa até ser, por sua vez, deslocado, graças ao ânimo dubitativo do mesmo narrador, discutindo consigo mesmo se o Diabo mesmo existe, à condição de potência obscura do ânimo desse turbulento herói, concentrada no seu inconfesso amor por um companheiro de cangaço, Diadorim. A solução do romance está no SertãoMundo. Meio dos opostos extremos, Deus e o Diabo, o Sertão-Mundo é o terceiro termo, que os religa como aspectos complementares de uma mesma realidade problemática. Suspenso à indagação reflexiva que o neutralizou, o Mito nos entrega finalmente a um ethos, quer dizer, à inquietação ética ou a uma ética da inquietação, que converte a obra literária numa instância de questionamento filosófico. Nesse extremo limite da experiência do narrador e da matéria fingidamente oral de seu contar romanesco, é que a Filosofia é chamada “a nos servir de guia”, como disse Walter Benjamin a propósito das Afinidades eletivas, de Goethe. E ela vai retomar a referida obra de Guimarães Rosa na questão do tempo que a impregna, quer no modo de narrar (recordação do acontecido), quer no teor agonístico da matéria narrada (combates e embates internos do bando). Em suma, a combinação, no romance, do ethos e do mito, produz uma apresentação poética da existência humana temporalizada como travessia. “O Diabo não há! é o que digo, se for... Existe é homem humano. Travessia”. Em A paixão segundo G.H. não é a Filosofia que serve de guia. A trajetória mística seguida pela personagem é uma contrafilosofia que, em vez do discurso de aclaramento do real, lhe impõe, pelo uso mesmo da linguagem levada a seu extremo limite de expressão, a visão extática, o descortínio silencioso das coisas. 354 da palavra Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e como não acho. Mas é do buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias. Mas volto com o indizível. Aqui o arrebatamento da visão extática sobrepõe o mostrar ao dizer, o silêncio do olhar à sonoridade das palavras, o vislumbre intuitivo à frase. O poético, que se confunde com o místico, tal como Wittgenstein o entendia, é o aparecer do que se mostra, o indizível. “Das Mystisch zeigt sich” (O místico se mostra). É difícil encontrar um poeta que, como Fernando Pessoa, tenha, sob suas diversas máscaras ou heterônimos, tão frequentemente brincado com o místico e também com o mito. E nenhum outro como ele, dentro da língua portuguesa, procurou ligar-se, de maneira lúdica, à Filosofia e de modo particular à Metafísica. É o mito, esse “nada que é tudo”, a que ele visa em “Mensagem” – o mito do fundador da pátria ou da língua portuguesa. E o faz no seu modo peculiar de depuração da experiência individual, semelhante a um processo de ascese mística, por ele denominado de fingimento. É o que nos diz Fernando Pessoa em “Psicografia” e em outros poemas seus: “O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ que chega a fingir que é dor/ a dor que deveras sente...”. Fingir é um estratagema para se alcançar a fugidia verdade dos sentimentos. Como saber o que verdadeiramente sinto, quando vivo em permanente relação com os outros e eu mesmo me desdobro, parecendo um outro para mim mesmo? Se, como Fernando Pessoa diz, em certa nota sibilina de Álvaro de Campos, fingir é conhecer-se, então o conhecimento é ilusório e fictício. Nossas verdades, também afirmava ele, num diapasão nietzscheano, são mentiras vitais. E assim podemos inventar-nos e dar à luz, em nome de tantos que podemos ser, afivelando as máscaras de nossos papéis sociais, mundos imaginados e possíveis. Fernando Pessoa subscreveu os imaginários universos de seus heterônimos, “um drama em gente” desse poeta que já se outrava ao tentar ser si mesmo – o bucólico Alberto Caeiro, o greco-decadente do estóico Ricardo Reis a invocar sua Lídia, como Ovídio invocou Leuconae numa ode, de encontro ao insondável destino de cada um, o existencial, da náusea e da angústia, de Álvaro de Campos, sitiado entre as interrogações maiores do nascimento e da morte. Subscreveuos à medida que se escrevia diferente; pensava-se ortônimo, e era o heterônimo em prosa do Livro do desassossego, Bernardo Soares. Conhecer-se é figurar possíveis modos de existir, “novos tipos de fingir que compreendo o mundo, ou antes de fingir que se pode compreendê-lo”. E a cada tipo de compreensão corresponde uma ciência não real, mas virtual, chamada Filosofia, que se extrema nas concepções metafísicas do Universo, por nós criadas como se fossem obras de arte. Podemos forjar metafísicas engraçadas, mas “sem lhes ligar intenção alguma de verdade, exatamente como em arte se descreve e expõe uma emoção interessante, sem se considerar que corresponde ou não a uma verdade objetiva de qualquer espécie”. Então a Filosofia não passa de uma certa espécie de poesia, justificando-se assim o paradoxo formulado, em forma de trocadilho, da palavra 355 por Pessoa acerca de sua identidade própria: “Eu era um poeta impulsionado pela Filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas”. Ainda dentro de nossa língua, um poeta reflexivo como Carlos Drummond de Andrade, alto beneficiário da “musa filosófica”, na expressão de José Guilherme Merquior, levou a cabo, em poemas elegíacos, como “Passagem da Noite” e “Anoitecer”, estirada meditação sobre a morte, em dramático confronto a essa possibilidade extrema da existência. Mas mesmo assim, conforme nos mostram os tercetos de “Cantilena Prévia”, em A falta que ama (Boitempo I), o senso trágico desse confronto não é excludente do senso de humor, provindo do efeito jocoso dos refrões, tão só pela sonoridade isolada, em choque ou em ressonância com o sentido: “Don don dorondondon É o castelo de Drummond que vai à penhora Don don dorondondon É a soberba de Drummond que vai-se embora. Don don dorondondon É o prazo de Drummond que termina agora. É o prazo de Drummond que ainda não termina. Din din resta uma resina.” É uma cantiga da morte antecipada. O primeiro refrão – onomatopeia do sino de pregão da penhora? – é também rima em eco do nome do poeta. Há uma imitação do desafio folclórico; a penhora do Castelo é indefinidamente protelada: “Din din Resta uma farinha / de substantivo, infra-som / de voz, na voz de Drummond?/” Quem está para morrer, o morituro, aceita a anulação da consciência em abono de maior ciência adquirida. Esse paradoxo da anulação da consciência é acentuado pelo último refrão, popularesco (rinfonfon), sugerindo um significado que não há: “Dindon drondin din O que sabe agora Não o diz Drummond Sabe para si Sabe por si só Sabe só, sem som É de rinfonfon. É sem cor nem tom É completo É bom.” 356 da palavra A proeza do humor da “musa filosófica” do poeta é a associação, nesses versos, do pathos trágico da desindividuação dionisíaca com o entendimento sarcástico da finitude humana. Nunca são diretas e sim transversais as relações entre Poesia e Filosofia. Se o poeta é eminentemente crítico como João Cabral de Melo Neto, mais prosperam, com pontos de incidência característicos sobre a linguagem, essas relações transversais. O primeiro ponto é a poesia nascendo, em contraposição ao estado de êxtase, à inspiração, de um movimento de ascese, de depuração psicológica e literária, que cria o poema como “trabalho de arte”. O segundo diz respeito ao uso predominante, desde Pedra do Sono, dos nomes – preferentemente substantivos concretos – designativos de coisas naturais ou fabricadas, de lugares, paisagens, espécies de categorias de pessoas ou atividades, que acabam se tornando, a partir de Duas águas, como objetos temáticos, peças fundamentais de um repertório léxico, em geral intitulado as composições – “O vento no canavial”, “O ovo de galinha”, “Paisagem com cupins” etc. O segundo ponto, que acompanha a oscilação do concreto ao abstrato e do abstrato ao concreto na obra de João Cabral, é a transposição de qualidades das coisas humanas às naturais, e, vice-versa, das naturais às humanas, por um desdobramento dos vocábulos-imagens nas enunciações dos versos descritivos. Em “O vento no canavial”, o canavial se apresenta sucessivamente, “como um mar sem navios, papel em branco de escrita”, “[...] um grande lençol sem dobras e sem bainha [...]” O terceiro ponto direciona a linguagem para aquela parte do real perceptível que pertence ao mundo interior, mas como experiência corporal, afetiva, englobando a vida dos sentimentos numa esquiva à introspecção. Assim, em “A mulher e a casa”, a sedução do corpo feminino investe-se no corpo de uma casa: “Tua sedução é menos de mulher do que de casa: pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada”. Dessa forma torna-se patente a inclinação didática da poesia cabralina, congregando lições de inconformismo numa pedagogia da palavra ou numa educação pela pedra: “[...] por lições; para aprender da pedra, frequentá-la”. da palavra 357 Essa lição restaura a transitividade da poesia e seu influxo humanístico. Sempre a mesma e sempre diferente, a poesia de João Cabral é uma poesia agônica. Repete em cada um de seus momentos a experiência de um perpétuo recomeço. O mais notável recomeço que experimentou a poesia de João Cabral em sua última fase foi o surto memorialístico em “Escola das Facas”, “Agrestes” e “Crime na Calle Relator” (1987), principalmente, com o que revertido fica o seu dominante regime de suspensão subjetivista. Descobriria o poeta crítico, finalmente, que o seu fazer “poesia com coisas” é um modo desviado, negativo, de dizer-se: “Não haverá nesse pudor de falar-me uma confissão, uma indireta confissão, pelo avesso, e sempre impudor?”. Fora de nossa língua, dois poetas, o alemão Rainer Maria Rilke, conhecido como autor das “Elegias de Duino” e dos “Sonetos a Orfeu”, e o inglês T. S. (Thomas Stern) Eliot, que nos deu principalmente “Terra devastada” (“Waste Land”) e “Quatro quartetos” (“Four Quartets”), comprovam o nexo transversal da Filosofia com a Poesia. Nos dois poetas, a Filosofia se aproxima da Mística e a linguagem poética vinga como gnose intuitiva do real. Rilke começa interpelando Deus em O livro das horas (1899), como ser dependente do homem, segundo o concebera o místico medieval Meister Eckhardt, e aprofunda numa espécie de romance autobiográfico, os Cadernos de Malte Laurids Brigge, a morte como experiência vivida e amadurecida em cada homem. Esses temas se articulariam sob a égide do Anjo, mensageiro transmissor do divino e tardio musageta, tanto nas elegias quanto nos sonetos, embora de maneiras diferentes, sob o pressuposto da carga existencial do verso. Por meio do verso, poesia e vida se entrosam levando poeta e leitor a um estado contemplativo. No poema bem acabado se manifestaria o mesmo esplendor que nos dispensa o Torso arcaico de Apolo ou a Vitória de Samotrácia. Desses blocos surde um poder conversor, um apelo imemorial que nos atinge: “[...] pois aí não há ponto que não te veja. Forçoso é mudares de vida”. As elegias que o Anjo frequenta são noturnos, no sentido elegíaco da composição musical. Distingue-as a tonalidade do desconhecido, do estranho, do inóspito, que se coaduna com o conhecimento da morte – experiência da perda da habitação humana, dos desejos, do amor. Essa experiência é antecipada pela dissipação de nosso estar aqui (Hierserin), do nosso ser no mundo. E, no entanto, “Estar aqui é magnífico. Vós o soubestes, jovens mulheres, também vós...”. Nas dez elegias, cada qual definida por um tema – o amor, a morte, o herói, a amante, os saltimbancos e os animais – sobrelevam imagens, como 358 da palavra mundo, espaço, destino e aberto, que prepararam conceitos fundamentais das filosofias da existência. Dentre eles, o aberto, correspondente ao termo conceptual Erschlossenheit (abrimento, fresta, passagem) em Ser e tempo de Heidegger. Dois conjuntos de poemas – “Waste Land” e “Four Quartets”– demarcam a transversalidade do nexo da filosofia com a literatura em seu principio poético na obra de T. S. Eliot. O primeiro conjunto, na verdade composto de fragmentos, como que responde à laceração moral e espiritual do mundo moderno. Já os “Quatro quartetos” são “grandes poemas filosófico-religiosos” que fazem passar ao primeiro plano, numa tentativa de síntese, as heranças mítica e mística do Oriente e do Ocidente. Eles reúnem desde o ensinamento de Heráclito à visão mística de santos, como São João da Cruz, de filósofos como Platão e Santo Agostinho, e dos livros sapienciais do Oriente, como o Tao te king e o BhagavadGita. Assim, vê-se que entra em linha de conta a experiência de culturas e de gerações. Razão há, portanto, para que o autor invoque mais do que a memória individual, apelando tanto para os vivos quanto para os mortos. Nosso nascimento é uma espécie de morte. Morremos com os que agonizam e nascemos com os que morrem. A poesia constitui a cadeia dessa experiência letal. E é, ao mesmo tempo, a poesia que libera o homem da morte graças à função da memória, correlata ao circuito da História interligando passado, presente e futuro a uma parcela de eternidade conquistada em cada época. Jean-Paul Sartre tem prioridade do lado dos filósofos, nessa exposição, por que foi nele que se extremou a relação entre Filosofia e Literatura, aqui estudada, num nexo trilateral da mesma atividade de escritor, ora romancista e dramaturgo, ora ensaísta em A imaginação e o imaginário, e tratadista em Ser e nada. Essa trilateralidade é marcada por cruzamentos internos – da Filosofia com o drama e com o romance, do dramático e do romanesco com a concepção filosófica. A concepção filosófica de Sartre esboçada na novela “A náusea” (“La nausée”), e que resumida foi em L’existentialisme est un humanisme (ele criou o termo existencialismo), espraiou-se em L’être et le néant, integrando conceitos provindos de Hegel e de Heidegger numa metodologia fenomenológica oriunda de uma interpretação de Husserl, o fundador da Fenomenologia e mestre de Heidegger. Filosóficos na intenção, os dramas de Sartre, decisivo exemplo de cruzamento interno, exteriorizam a estrutura eminentemente dramática da existência humana descrita filosoficamente por esse escritor e pensador francês. Requalificando a Fenomenologia como hermenêutica do sentido do ser na existência humana situada no mundo e estruturada pelo tempo, em sua obraprima interrompida Sein und Zeit (1927), e depois como interpretação dos présocráticos e dos poetas alemães (Holderlin, Trakl, Rilke), Heidegger, com quem mais afinidades tenho, tentou, numa segunda fase, libertar-se de elementos subjetivistas e antropológicos, de que estaria eivado aquele livro, e que atribui ao curso invasor da Metafísica moderna a partir de Descartes, para soltar a linguagem desses pensadores e poetas a fim de que viessem a falar por si mesmos. Mas nesse extremo limite de sua Filosofia, Heidegger, sobre quem escrevi longo texto, “Passagem para o potético”, opta por uma espécie de reviravolta do pensamento numa prática meditante, que vai de encontro à tecnificação do da palavra 359 mundo, para isso aderindo ao canto, ao “fervor pensante da recordação” do ser a que nos chama a poesia. “Cantar e pensar são os dois troncos vizinhos do ato poético”, afirma o mestre alemão em seu estilo aforismático da segunda e última fase. Não esqueçamos porém que o idioma filosófico de Heidegger é também poético na escrita mesma de Ser e tempo, que abunda na criação de palavras, substantivos (Sein -zum- Tode) e verbos (welten, zeitigen). Destaca-se nele, sobretudo, o termo basilar daquele tratado, Dasein. Na língua alemã com o significado comum, dicionarizado, de existir, esse termo, no vocabulário heideggeriano, representa tanto o homem como o aí do ser, o ente no qual o ser se manifesta, quanto o ser aí, existente no mundo, de tal forma que sua estrutura lhe impõe um movimento extático, fora de si – a temporalidade, condição sine qua do tempo astronômico, dos calendários e dos relógios. Daí afirmar Heidegger que, como Dasein, o homem é temporal no fundo de seu ser. A temporalidade o ajuda a contornar a barreira da Metafísica, que impõe o ser como ente, e a transitar para o desvelamento do ser na linguagem dos poetas. Na passagem para o poético, a filosofia alcança o seu fim (Ende): ensinar o homem a habitar poeticamente a Terra. O habitar é menos e mais que o conhecer. É menos porque não se coaduna à mera representação das coisas no espaço e no tempo. E é mais porque pressupõe a prévia posse (Vorhabe) do ser que nos engloba. Focalizando essa posse como experiência primária, a filosofia atravessa o Rubicão da linguagem para reencontrar o silêncio que nos cerca. Do mesmo modo, a Filosofia descola do visível que a percepção capta para o invisível já apreendido naquele. Eis aí uma versão arquiresumida do pensamento de Maurice Merleau-Ponty, que começou por uma Phénomenologie de la perception e cujo último livro foi o inacabado e póstumo Le visible et l’invisible. Propondo uma Metafísica sem Absoluto, a visar como realidade nativa o ser-no-mundo, Merleau-Ponty, a quem Hannah Arendt aderiu, reconhece, no entanto, a dimensão ontológica da Arte e da palavra poética, apontando, em confirmação, a pintura de Cézanne e La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Cézanne não apenas nos ensina a ver. Ensina-nos o que é a visão e que a coisa natural nada mais é do que uma unidade simbólica, formado pela religação das qualidades sensíveis na cor e na forma. A montanha Saint-Victoire é uma fisionomia do visível, como fisionomia do visível é as Lavandières de Renoir. A água que figura nesse quadro não é a água do Mediterrâneo, mas o “emblema de uma maneira de habitar o mundo, de tratá-lo, de interpretar pelo rosto como pelo vestuário, pela agilidade do gesto ou pela inércia do corpo – enfim o emblema de uma certa relação com o ser” (Signes, p. 68). Ambos, Cézanne e Renoir, desvendam-nos o segredo da visão. Com a Literatura, sob a clave do poético, a Filosofia aprende o segredo da escrita: a enunciação nos dá mais do que a proposição e o argumento. Essa descoincidência entre enunciação e proposição encadeia o paradoxal movimento da escrita literária: o verdadeiro despontando do imaginário, da expressividade da palavra, como a ficção de Marcel Proust sintetizou. 360 da palavra Mas seja como texto literário, seja como pintura, o poder conversor da arte estreita a afinidade entre o artista e o filósofo, posto que ambos, conforme o enfoque de “Le metaphysique de l’homme” (Sens et non-sens), estão a braços com a descrição da inexaurível experiência humana – de sua raiz perceptiva à sua floração na linguagem, do plano corporal ao intencional, das vivências pessoais aos vínculos interpessoais ou aos laços da memória coletiva. Saber ver e saber dizer são também imperativos da escrita, do discurso filosófico. Desse ponto de vista, a Filosofia é criação no sentido radical, o que aprofunda “consideravelmente a estimativa de Souriau sobre a Filosofia como arte suprema” (Le visible et l’invisible, p. 251). Consequentemente, a descrição filosófica seria convergente ao dizer poético. Mas para entender essa convergência, não basta assinalarmos, com Habermas, “a guinada linguística” em nossa cultura. É preciso, na verdade, considerar que as mudanças do pensamento, nesta época, como o declínio da Metafísica e a “morte de Deus”, já tinham aproximado Filosofia e Literatura. Em sua linguagem mista, sublime e vulgar, alta e baixa, a poesia moderna, com traços de religiosidade e anti-religiosidade, à busca, antes de qualquer outra das artes, de uma unio mistica secularizada, interiorizou, desde os poemas de Baudelaire, a “morte de Deus”, depois do abalo produzido pela Crítica da razão pura, início da crise, na Metafísica, da noção de substância (os paralogismos), e, consequentemente, da alma, da unidade do sujeito e de sua imortalidade. No terreno filosófico, essa crise, culminando quando, desligado o alto do baixo, o sensível do supra-sensível, deu-se a descoberta da vida (biologicamente considerada), o que permitiu que se divisasse a importância ontológica da parte baixa, subterrânea, pré-teórica, da experiência, em que a teoria se funda e acima da qual se eleva. Em consequência do que tematizada ficou essa parte irreflexiva, distinta do sujeito humano como consciência reflexiva: a facticidade e a compreensão do existente como ser-aí (Dasein), o que nos daria o grande bloco hermenêutico do pensamento contemporâneo, construído por Heidegger e enriquecido por Hans George Gadamer e Paul Ricoeur. Compreendendo o mundo e a si mesmo como poder-ser, o Dasein não conhece teoricamente nem a Natureza nem a si mesmo antes de interpretar-se; o conhecimento funda-se no ser interpretado como “tal ou qual”, isto é, previamente compreendido na fala, no discurso que nos constitui como ente, e que possibilita os enunciados proposicionais. Mas a verdade pré-teórica, originária, não reside nesses enunciados e sim no desvelamento da compreensão, que é temporal e histórica. Verifica-se, dessa for ma, notável transposição: desloca-se o eixo proposicional da noção de verdade para o âmbito do discurso, da linguagem ou da fala, como o solo comum de nossa experiência, enfeixando as possibilidades do conhecimento científico, da poesia e da filosofia. E é precisamente aí onde poesia e filosofia já se avizinham. Tal vizinhança sustenta a aproximação histórica de poetas e filósofos no atual panorama da cultura. Fáctico nos sentimentos fundamentais da angústia, da alegria, do medo e do tédio, compreendendo-se no imediato de sua situação e nas possibilidades que o tornam temporal e, portanto, ente do longínquo jamais coincidente consigo mesmo, o homem é, como ser-aí ou Dasein, pela compreensão que o projeta no da palavra 361 mundo, ser de imaginação e não apenas de razão. Não será preciso fazer, como Coleridge, a apologia da imaginação. Salto no conceito e acima dele, a imaginação é comum de dois, à Poesia e à Filosofia. Sob esse foco, o mesmo da linguagem-discurso ou da fala, anteriormente referido, também se poderá distinguir, além dos componentes poéticos (metáforas, metonímias, paronomasia etc.), os contrafortes retóricos dos escritos filosóficos – que são os seus mecanismos de persuasão, tais como os circunlóquios de Descartes (estratégias, dir-se-á hoje), a ordem geométrica de Spinoza, as retificações kantianas (como nas Introduções à Crítica do juízo), o pensamento “romanceado” de Hegel, principalmente na Fenomenologia do espírito (o herói é o mesmo Geist, conforme observaria Santayana), a belle écriture bergsoniana, o estilo journal intime de Kierkegaard (compare-se com Amiel), os trocadilhos e paronomásias heideggerianas, os gêneros (o tratado, o ensaio, o diálogo, este frequente no Renascimento e nos séculos XVII e XVIII, em recesso no século XIX, e raro e ralo hoje), sua individualização num estilo, sua conformação verbal no todo de uma obra de linguagem. A missão de “dialogar” com a Poesia – que pensaria cantando, em ritmo – deferida por Heidegger à Filosofia, depois de Ser e tempo (Sein und Zeit) é, para os filósofos, de um modo geral, um diálogo limite, na fímbria da própria Filosofia e já para fora da Lógica. Mas para os poetas, esse diálogo com a Filosofia é um diálogo de limiar, que se incorpora ao trabalho de elaboração do poema – Camões e os barrocos absorvendo os neoplatônicos, Rimbaud, os gnósticos, Fernando Pessoa, Nietzsche, e tantos outros pensadores que ressurgem filtrados na criação, depois de incorporados à experiência pessoal, histórica e cultural do poeta, ou seja, à sua interpretação compreensiva de si mesma como ser no mundo. Assim, o movimento de vai e vem da Filosofia à Poesia e da Poesia à Filosofia, de que Antonio Machado/Mairena falou, remonta à compreensão preliminar, linguageira, do ser no meio do qual nos encontramos. “Na medida em que a Filosofia se torna mais consciente da maneira pela qual o pensamento requer a linguagem, mais ela se aproxima da poesia...” (Waren Shibbles, Wittgenstein, Linguagem e filosofia). O pensamento requer a linguagem interligada à fala, ao discurso. E requerendo a linguagem, o pensamento já se interpretou nela. Por isso, a Poesia moderna, consciente de sua fatura verbal, como nô-lo mostra a ocorrência nesta da tematização predominante do ato poético, é a que mais se aproxima da Filosofia. Tal é o requerimento da linguagem sobre nossa experiência de interpretantes, que se poderia dizer, que, para nós, leitores, a literatura pensa, não apenas no sentido da bem lograda tentativa de Macherey, de extrair a Filosofia implícita de certas obras literárias, como romances franceses dos séculos XVIII e XIX, mas, também, no sentido do efeito anagógico, conversor, propiciado pelo ato de sua leitura. O efeito anagógico é semelhante à súbita “iluminação” dos místicos, sejam eles orientais ou ocidentais. Na expressão do poeta jesuíta Gerard Manley Hopkins, trata-se de um inscape, levando-nos para além de nós mesmos, do entendimento banal do cotidiano e para fora da couraça das ideologias. No entanto, jamais podemos esquecer o que Nietzsche e Fernando Pessoa afirmaram: os poetas mentem e fingem muitas vezes, e muitas vezes, como já 362 da palavra sabiam as Musas, que inspiraram a Hesíodo sua teogonia, falam a verdade. Mas de que verdade essencial podem falar as obras de literatura, particularmente as poéticas, tanto no sentido estrito quanto no amplo para o filósofo? Além das respostas de Heidegger e Sartre, já examinadas, merecem consideração a de Paul Ricoeur, por via semântico-hermenêutica e a do neopositivista heterodoxo, marginal, Ludwig Wittgenstein, obtida pelo seu método de excludência lógica. O lado semântico da resposta de Ricoeur concerne ao plano da escrita, a que pertence o discurso como obra. A escrita abstrai a relação dos interlocutores no discurso falado, suspendendo, portanto, os referenciais correntes dos enunciados descritivos, afetos à verdade proposicional. E assim o texto literário, poético, devolve ao leitor, com um novo referencial, o mundo de sua experiência preteórica – o mundo do texto. O mundo do texto pode tornar-se texto do mundo porque desprendido fica das intenções pessoais do autor. É por esse lado hermenêutico que a obra de discurso (seja poesia seja prosa), é capaz de dar-nos variações imaginativas sobre o real, ou, como poderia dizer-nos Northrop Frye, enunciados hipotéticos da ação humana, reveladoras do ethos. Sem literatura de ficção jamais teríamos conhecimento dos conflitos éticos e do empenho moral do homem. Concordando com um dos fundadores da Lógica simbólica, Gottlob Frege (1848-1925) acerca do valor de verdade da referência, Ludwig Wittgenstein negou o conhecimento ético, mas não a importância do empenho moral do homem. Para ele, paradoxalmente, o seu Tratactus logico-philosophicus (1922) era uma introdução à Ética. Introdução negativa, por certo: os enunciados sobre o bem ou a felicidade, que tendem a absolutizar-se, são insustentáveis e sem sentido. Não é possível escrever uma Ética – disse-o Wittgenstein numa conferência. Por quê? Porque os juízos da Ética, que não correspondem a estados de fato, seriam intraduzíveis, inexpressáveis. Faltariam proposições que os asseverassem. “Sobre o que não podemos dizer, é melhor silenciar”, escreveu Wittgenstein. O ético, o religioso e o metafísico pertencem à categoria do indizível, isto é, daquilo que não pode ser articulado proposicionalmente. O indizível é o místico. “Das Mystische zeigt sich”. O indizível é o que só pode ser mostrado. Wittgenstein, leitor e adepto de Tolstói, admirador de Rilke e de Trakl, pôs à conta da literatura, da poesia, por excludência lógica, o que pode ser mostrado (dito numa forma de linguagem não proposicional): a verdade essencial relativa à ação humana, a verdade do ethos de que a Filosofia não pode falar. Ela pode, ironicamente, como fez no caso de Wittgenstein, falar dessa sua impossibilidade e, por meio dela, transar com a poesia. Mas, concluímos nós, quando a Filosofia e as Ciências se calam, é sempre a poesia que diz a última palavra. da palavra 363 Foto: Elza Lima 364 da palavra Quase um plano de aula* * Discurso proferido por ocasião da titulação de Professor Emérito - Universidade Federal do Pará, novembro de 1998. Incluído em NUNES, Benedito. Do Marajó ao arquivo: um breve panorama da cultura no Pará. Organização e prefácio Victor Sales Pinheiro. Belém: EDUFPA (no prelo). “Neste momento inolvidável...”, assim começaria eu se fosse fazer um discurso, na acepção vulgar de comovida peça oratória, fofa e balofa, que me desgosta, embora aprecie o Padre Vieira, – mais o das cartas que o dos sermões – aparentemente fofos e balofos sermões, no entanto escritos com as galas todas disponíveis da língua portuguesa do séc. XVII. Gosto de dar aulas, mas não me proponho a entediar-vos. Habituado, porém, a preleções ordenadas, segundo um procedimento que desde cedo adotei no ensino, fingirei, nessa alocução rememorativa a ser-vos apresentada, pois que ela é memória com prolongamentos analíticos e críticos ao final, que estou obedecendo a um plano de aula. Poderia ser: I – Filosofia no Ginásio; 2 – Como aprendi a dar aulas ou, ainda, como comecei a ensinar; 3 – Autodidatismo e formação; 4 – Meus patronos, pais espirituais (não se usava, outrora, o termo induísta de guru), e muitos outros tópicos ilustrativos, exemplares, esclarecedores sem muita acrimônia, e às vezes divertidos, expostos um tanto a esmo, ao ritmo oscilante do pensamento e da recordação. Mal terminei o curso ginasial, convidou-me o prof. Augusto Serra a dar aulas de Filosofia no Colégio Moderno, onde eu estudara de 1941 a 1948, e do qual era ele diretor e proprietário. Que me seja permitido dividir com Augusto Serra, o Serrão, – e com tantos outros que irei mencionando – o título que hoje me conferis. Essas pessoas, quase todas mortas, continuam a mim aliadas de várias maneiras; algumas elejo meus patronos, pais espirituais que encarnaram, cada qual de per si, para o autodidata que ainda sou, a figura do mestre por mim sempre buscado; as que ainda vivem foram e são amigos, no sentido próprio, isto é, companheiros de existência. Filho único, menino ensimesmado, na amorável companhia de seis tias maternais, procurava e estimava a convivência dos vizinhos de minha idade, a da palavra 365 maioria pertencendo à particular estirpe, muito difundida àquela época, dos pequenos serviçais de cabeça raspada (teriam muitos piolhos, dizia-se), empregados, sem remuneração, para trabalhos domésticos nas outras casas da Gentil Bittencourt próximas à nossa, quando não brincava com os moleques independentes dos grandes cortiços próximos, como a Jaqueira, um conjunto de minúsculos quartos de madeira, onde habitavam lavadeiras, cozinheiras, pequenos artesões, desocupados, escroques, pedreiros e trabalhadores em geral – o Lumpenproletariat desse período. Mas inclinei-me, desde cedo, à relação com pessoas mais velhas, como vereis. De família remediada muito católica, minha mãe sonhava pôr-me a estudar o ginasial nos Maristas, cujas mensalidades não lhe eram acessíveis. Procurouos, certo dia, para pedir-lhes, nesse momento exibindo-me ao padre que então nos recebeu, como aluno aplicado, uma vaga gratuita. O benefício caridoso foinos negado para decepção da expectativa cristã de minha mãe. Entretanto, Augusto Serra, reputado ateu (e ele não era senão, como vim a saber mais tarde, um descendente do positivismo à Litttré, ofereceu-me, por intermédio de seu irmão Osvaldo – o Serrinha –, nosso vizinho, ambos sendo excelentes matemáticos, a vaga gratuita almejada, no Colégio Moderno, onde, durante sete anos, eu e outros colegas na mesma situação, bem mais pobres do que eu, fomos estudantes de pleno direito, sem qualquer espécie de discriminação, como a que havia, então, nos colégios religiosos para órfãos, órfãs e assemelhados. Fui representante de classe, presidente do Grêmio e, de certo modo, líder dos colegas estudantes. Com o Serrão, tinha longas conversas litero- filosóficas nos fins de tarde. Franqueou-me a biblioteca do estabelecimento, até aquele momento fechada, e que viria a organizar e administrar em nome do Grêmio: livros, em sua maioria, em francês e inglês. Pela primeira vez, li, de cabo a rabo, um texto em francês de autor inglês: o Ivanhoé, de Walter Scott, um dos primeiros alumbramentos literários, depois de As Caçadas de Pedrinho e as Memórias da Emília, de Monteiro Lobato ou o Robin Hood, em tradução do mesmo Lobato – alumbramentos que continuaria a proporcionar-me a Odisséia de Homero, vertida do grego para o português, por Carlos Alberto Nunes, meu tio, que morava em São Paulo, com quem partilho as honras do meu título. Carlos Alberto Nunes, já falecido em Sorocaba, em 94, com mais de noventa anos, impossibilitado por uma total cegueira de realizar seu último projeto – a tradução das cartas latinas de Erasmo – enviou-me, de São Paulo, anos a fio, romances ingleses e franceses, tratados de filosofia e livros de divulgação científica, hoje inestimáveis peças de minha biblioteca. Nos anos 70, quando era Reitor Aloísio de Costa Chaves, doou à UFPa os direitos autorais sobre o gigantesco trabalho por ele empreendido durante dez anos: a tradução completa de Platão, editada por essa Universidade durante três administrações, entre 73 e 80, em 11 volumes. Além disso ofertou à sua biblioteca livros de e sobre Platão em várias línguas, particularmente em alemão – enfim, uma rica platoniana, a que não faltavam os originais manuscritos da tradução que fizera. Alongamo-nos sobre esse assunto, não porque queiramos propor à Universidade 366 da palavra que, na base desse acervo, inicie um novo programa de preparação de helenistas. Apenas faço ver ao Magnífico Reitor a necessidade de reeditar a tradução completa de Platão, de há muito esgotada. Onde quer que vá em minhas perambulações para conferências, na Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de Santa Catarina, em Florianópolis, do Paraná, em Curutiba, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, em Belo Horizonte, da Paraíba, em João Pessoa, ou na Universidade de São Paulo, onde quer que vá, é a mesma pergunta que ouço: Quando é que a Universidade Federal do Pará reedita o Platão? É certo que, não faz muito, ela se preparou para fazê-lo. Mandou revisar todos os volumes publicados; escoimados foram os erros, extirpadas as gralhas, organizados índices naqueles que contêm mais de um diálogo, e esse exaustivo trabalho de revisão entregue no tempo devido. Mas depois disso não mais se ouviu falar no Platão, embora tivesse chegado à Universidade vantajosa proposta de co-edição. Ignora-se, até, o paradeiro dos volumes. Ali onde comecei a dar aulas, no Moderno, também aprendi a ensinar. É o que tenho feito na vida: aprender a aprender. Sou autodidata dos pés à cabeça. No caso da aprendizagem das línguas foi diferente. Com seu vozeirão, a cabeleira de um branco fosco, Dona Hermenegilda Tavares Cardoso, a Dona Velha, temida no quarteirão, sem papas na língua, de uma franqueza arrebatada, que administrava a sua enorme casa em estilo art nouveau na Padre Prudêncio, atual Presidente Pernambuco, e estudava as línguas vivas, ensinou-me o francês também de graça. Denodada mulher, a quem designo como professora emérita: passava os dias preenchendo, com a sua bela letra, cadernos como os que me dava, e que continham listas de sinônimos e antônimos em francês, então, por excelência, o idioma instrumental da expressão cultural dos indivíduos, médicos e bacharéis em Direito, como os meus primos Hall de Moura, Ribamar, Sylvio e Levi, que viviam sob a sombra tutelar de tia Angelina, numa casa modesta da Rui Barbosa. A casa de tia Angelina era a última da rua e a rua acabava rente a um capinzal onde vacarias prosperavam. De sua sala pequena, com uma estante ao canto, perto da janela, guardando os livros de meus três primos, bacharéis em Direito e magistrados, fazia meu refúgio durante alguns dias da semana, pela manhã, são sair do colégio. Ali, naquela estante, encontrara edições francesas de a Crítica da Razão pura e de O Mundo como Vontade e Representação, além de L’Èvolution créatrice de Bérgson, da Felix Alcan, exibindo na folha de rosto assinatura de Dalcídio Jurandir, seu ex-proprietário. De vez em quando chegava-me o cheiro das vacarias espalhadas no meio do capinzal, quase sempre ondulado pelo vento. O odor de estrume, da bosta de boi, entre vegetal e animal, um dos melhores e mais fortes cheiros, como ouviria, mais tarde, de Mário Faustino, e o gosto do guaraná solúvel Sórbilis, infalivelmente servido em cada uma dessas visitas, associaram-se à descoberta do caráter a priori do espaço e do tempo na Estética transcendental de Kant. Um dos primos, Ribamar, a mim se afeiçoou. Estatura mediana, cabelos lisos, os olhos miúdos, mongólicos, como de muitos caboclos da região, bem moreno, mas com uma tez baça de indu, os da palavra 367 Foto: acervo Maria Sylvia Nunes Benedito Nunes, Mario Faustino e Haroldo Maranhão lábios finos cortados por leve sorriso numa cara gorducha de Buda, as mãos pequenas, Ribamar antecipava-me a clássica descrição de Sócrates por Alcebíades que leria no Banquete: a desgraciosa imagem de um Sileno. “Feio, és muito feio”, ouvi uma vez dizer-lhe de cara o professor de latim do então Ginásio Estadual Paes de Carvalho, Remigio Fernandez, um espanhol alto, de espessas sobrancelhas. E no seu tom lambanceiro, que havia rotinizado o insulto no tratamento de alunos e colegas, completou a apóstrofe chamando-o de Príncipe Encantador. Talvez o extravagante espanhol, que tinha lá as suas humanidades, se lembrasse, usando desse epíteto, Príncipe Encantador, de duplo sentido aplicado a quem o dirigiu, da imagem do Sileno, feio por fora e belo por dentro. No paralelo de Alcebíades, a figurinha exterior é um engodo: destapada, via-se, no bojo, a estátua de um deus. Ribamar deu-me a ver, pela primeira vez o homem por trás do indivíduo e o humano (ou o divino) por trás do homem. Saiu de sua comarca para o posto de juiz de Direito em Macapá. Lá teve um acesso de uremia. Ouvi contar que delirou numa audiência, proclamando, de chofre, com as palavras de Jesus em defesa da mulher adúltera, a inocência da acusada no processo em julgamento. Depois da Odisseia e da Ilíada, veio o tempo da comoção estética abalada, com a leitura de Les miserables de Victor Hugo, primeiro em português, e depois no original, graças ao dadivoso Orlando Bitar, que me confiou (ele foi meu 368 da palavra professor de latim no segundo ano ginasial) o catatau de uma edição gigante, letras douradas na capa e nas lombadas, profusamente ilustrada. Eis aí um dos amigos mais velhos, que me ensinou a apreender; o pouco de latim que ainda sei, devo à sua maneira de ensinar, familiarizando o aluno com os tempos primitivos buscados nos dicionários. Dava-se, portanto, que certos professores tornaram-se meus amigos, valendo igualmente afirmar, na proposição inversa, que determinados amigos meus, como o Ribamar, tornaram-se meus professores, no sentido ampla da palavra. Não faltará, nesta precária lista da equiparação entre mestre e amigo, o nome de Maria Anunciada Chaves, uma ligação afetiva e intelectual de muitos anos, professora minha que foi, no Moderno, de História Geral e História do Brasil, com a particularidade de ter sido, para mim, como Orlando Bitar, um modelo vivo de didática. Nenhum dos dois, ao que sei, frequentou cursos dessa matéria. Eu também não fiz curso de didática. Aprendi a ensinar a duras penas – a ensinar e a ensinar-me. Quando estava terminando o ginasial, formei o projeto de estudar filosofia na USP, em São Paulo. Não deu certo. Mas reencontrei a Filosofia nas aulas de Daniel Coelho de Sousa, em Introdução à Ciência do Direito, que ele ministrava, ainda em 48, contando em seu programa pontos extensos e profundamente desenvolvidos sobre Teoria do Conhecimento. Meritíssimo professor, ao longo do tempo meu amigo, Daniel, poderosa mente filosófica, era, como expositor, um dialeta: sabia unir e distinguir ideias, contrapô-las entre si racionalmente. Da Faculdade de Direito dessa época, entre 49 e 52, não posso omitir o professor de Direito Penal, José Tomás Maroja, com quem entretive uma singular relação amigável de empregado a empregador. Trabalhei em seu escritório de advocacia, a convite dele, por alguns anos, quando já começara a bandear-me para o magistério, com o que esse mestre não se conformava, achando que tinha pendores para o Forum. Talvez tivesse, mas o meu interesse não estava na advocacia. Comprova-o o fracasso do escritório que abrimos nesse domínio, eu e Haroldo Maranhão, meu amigo e contemporâneo no Colégio Moderno desde os 13 anos de idade, quando trocávamos cartas – cartas, imagine-se só, morando na mesma cidade – sobre assuntos literários, como haviam feito Monteiro Lobato e Godofredo Rangel em A Barca de Gleire, que procurávamos imitar. Fora colaborador do Suplemento Literário de a Folha do Norte que ele fundara e manteria por mais de quatro anos. Assim abrimos o escritório para que pudéssemos, com um certo conforto, boy à nossa disposição para cafés e merendas, ler e escrever à nossa vontade. Fugíamos dos clientes, escondiamonos deles, e cheguei a expulsar de minha casa um desses inoportunos. Notai que os patronos e amigos de que até aqui falei, salvo Anunciada Chaves, e salvo aquele de que trato agora, Francisco Paulo Mendes, que em mim acendeu o amor e o respeito pela poesia, dentro e fora da rodinha do Café Central que frequentávamos na década de 50, e que desfeita foi pelo golpe militar de 64 – o grande trauma de nossa geração – os patronos de que até aqui falei estão mortos. da palavra 369 À medida que passa o tempo, vai aumentando a nossa relação com os mortos, sem que cessem o sentimento de amizade, de respeito ou de admiração que a essas pessoas devotávamos em vida, como se dá, ainda hoje, em relação a Mário Faustino, falecido em 62. Mário não é para mim uma mera recordação, mas a terna e afetuosa lembrança de uma irmandade de ideias e sentimentos – irmandade tal como a que também mantenho, há quase cincoenta anos, com o imenso poeta vivo, Max Martins, os dois aqui, Mário e Max, o morto e o vivo, em mim traspassados e confundidos. De certa feita, íamos os dois, eu e Mário Faustino, andando pela calçada fronteira à Biblioteca Nacional, no Rio: “Não me sinto adulto, disse-me ele, de súbito. “Eu também”, respondi-lhe. Tanto a filosofia quanto a poesia são formas de infância do mundo e do espírito. Por isso sabíamos rir juntos, às gargalhadas. E por isso, posso sorrir ou rir da Filosofia, mesmo quando me incita, me estimula e me atormenta. Um dia, na vigência do governo militar, certo coronel achou que eu era um comunista disfarçado e ligou meu nome a um IPM, Inquérito Policial Militar. Foi quando, em 1967, saí do Brasil para a França, com o auxílio e a conivência de José Silveira Neto, a quem, neste momento, presto reverente homenagem. Deveria ir aos Arquivos Husserl, em Louvain, conforme me autorizara em carta seu diretor Van Breda. Já tinha lido muito sobre a Fenomenologia, anotando em cadernos as ideias de Husserl, seu fundador. Iniciei, em Paris, o meu período, intenso e curto, de estudos regulares em torno dessa disciplina ou corrente filosófica, que muito contribuiu — sem estancar a veia do autodidatismo — para o meu ensino, em sua fase universitária, decorrência de um convite de Moreira Junior – o patrono tardio que cito – para substituir Daniel Coelho de Sousa na Faculdade de Filosofia, antes da federalização desta, com a consequente criação da Universidade. Esse tempo coincide com o início da atividade de escritor – tormentosa a princípio, pois que escrevia à mão – Maria Sylvia ajudando-me no início, depois Maria José, a pacientíssima Maria José Silva – sem conta foram, antes de aposentála o solicito e traiçoeiro computador, os meus textos riscados e entrelinhados que datilografou – e a quem rendo aqui meu preito de público agradecimento. À Maria Sylvia devo mais do que isso: sua paciência já dura quarenta e seis anos. Nossa comum discreção tolhe-me a palavra. Se falasse, externado sentimentos, seria isso uma dupla traição. Só o silêncio pode evitar que se contamine pela publicidade mediática o mais intimo, o mais velado e o mais vivido. Há quarenta e seis anos vivemos na mesma casa, à Travessa da Estrela, mandada construir por Angelita Silva, minha cunhada, uma cabeça matemática, professora de Estatística Educacional na Universidade Federal do Pará e ao mesmo tempo criatura de fina sensibilidade artística, com quem morávamos. Tenho assim duas casas – a da Estrela e a da Gentil Bittencourt, perto da Jaqueira, onde nasci: aquela foi a da maturidade e, agora, da velhice; a última foi a da infância e da primeira juventude. Na mesma ordem, uma serviu-me à 370 da palavra particular Universidade intensiva dos meus estudos privados de gabinete, mas a outra ofereceu-me a primeira escola – a escolinha primária da tia Dodó, da prof. normalista Theodora da Cruz Viana: vinte alunos, e eu entre eles, em torno da mesa da sala de jantar, bancos corridos a princípio, depois substituídos por tamboretes comprados a duras penas. Não mais do que vinte alunos – há muitos outros à espera de vagas, dizia a tímida professora, que lecionava da alfabetização ao quinto ano no Colégio (assim batizou-o minha piedade infantil) Sagrado Coração de Jesus. O horário, em letra manuscrita, estava afixado, num dos caixilhos da sala: Segunda – Ditado, Leitura, Geografia; Terça: Redação, Leitura e Lições de Coisas, etc. etc. Fui um dos comensais daquela mesa; participava de um agape sem sabê-lo. É à Dodó, a última, que é a primeira, desta relação de patronos, que transfiro plenamente o título hoje recebido. O que me ensinei? Ensinei-me a jamais abordar um assunto de que não tivesse suficiente conhecimento, a ouvir o estudante, a ser por ele inquirido e confessar-lhe minha ignorância quando fosse o caso. A pesquisa, de que têm resultado meus livros, foi consequência desse ensino. Nesse ponto, faço questão de dizer que pouco ou nada devo à Universidade. Escrevi sempre em casa, em geral consultando os meus próprios livros, a maioria dos quais a instituição não tinha. Nos últimos tempos que lá passei, antes de aposentar-se, pugnei contra o populismo reinante, a contrafação interna da democracia (quando não se tem democracia na sociedade, tenta-se recuperá-la intramuros), o novo didatismo, muitas vezes disfarçando a incompetência e a negação do elitismo próprio às Universidades. Não pode a instituição universitária abdicar da escolha seletiva dos melhores; nesse sentido ela é elitista e sê-lo-á enquanto subsistir como Universidade. O que ensinei aos estudantes? Ensinei-lhes a boa arte do ceptismo: a duvidar de tudo, a tudo interrogar adequadamente com conhecimento de causa. Não me limitei a sentar praça numa filosofia determinada, ao som do clarim da especialidade. Serei céptico? Sim, enquanto crítico de ideologias, crenças políticas e religiosas. Pelo menos, não acariciei as ilusões intelectuais dos estudantes, não lhes adulei os preconceitos. Minha recordação volta-se para os melhores alunos que tive tanto no ginásio quanto nos cursos universitários, alguns dos quais tornaram-se professores. É o meu ganho de vida. Habituado a circular desde ontem entre vivos e mortos, não me desespera hoje o dever da idade, assumido no verso do poeta espanhol Jorge Guilhén: “mi dever de morir”. Finalmente, agradeço a meus colegas e aos Conselhos que me concederam o título de Professor Emérito e ao Reitor da Universidade que houve por bem ratificar a decisão. Belém, 30 de novembro de 1998. da palavra 371 Foto: Elza Lima 372 da palavra A Filosofia e o Milênio* * Conferência para o diretório acadêmico da UFPA, 1996. Publicado em NUNES, Benedito. Crivo de papel. São Paulo: Ática, 1998. O milênio, medida do tempo cronológico, marca o decurso de mil anos dentro do calendário cristão, isto é, do sistema de datação a partir do nascimento de Cristo, tomado, em nossa cultura, como ponto de origem de eventos que se alinham, num eixo referencial imaginário, antes e depois desse ponto, a.C. e d.C., os posteriores formando uma era, ao alcançar a longa duração de dez séculos, inclusiva de períodos e épocas. Mas a contagem da era cristã, que vai para dois milênios, vinte séculos, só foi instituída no século Vi, seis séculos depois de já ter começado, momento em que se fixou a data do nascimento de Jesus Cristo em 753 após a fundação de Roma, equivalendo ao nosso ano 1. Daí para a frente contamos 1996 anos – um milênio completo no ano 1000, século XI, em plena Idade Média, e o segundo, a completar-se daqui a quatro anos, em 2000, quando, então, entraremos no terceiro milênio. A Filosofia é mais velha; tem mais de 2 mil anos, em tolerável conta redonda 2596 anos, levando-se em consideração a data aproximada de seu surgimento oficial, 600 a.C., entre os antigos gregos. Ela é, assim, por nascimento, pré-cristã, se não for pagã e, em todo caso, anterior ao primeiro milênio, como parte da cultura grega ou helênica, que contava o tempo de outra maneira, pela sucessão dos Jogos Olímpicos. Quando, em contraproposta ao tema que me pediram abordasse, A Filosofia no ano 2000, sugeri a Filosofia e o milênio, quis, primeiramente, salientar esse fato, diminuindo a importância que se estava dando ao fim do segundo milênio ou início do terceiro, reputado, segundo difusa crença, data resolutiva de uma era apontando para o limiar de outra, à qual se empresta o fascinante apelo do início de um tempo diferente, com a envergadura de novo ciclo da existência humana. Sob o fascínio dessa crença numa onda renovadora, desenrolada pelo advento de outro milênio, duas questões se insinuaram: estaria a Filosofia preparada para enfrentá-lo? Não seria preciso, desde já, cobrar do filósofo uma atuação coerente em abono dessa preparação? Não posso nem devo abstrair essas duas questões, mas peço licença para a elas opor, deixando-as provisoriamente em suspenso, outro par de perguntas conexas mais gerais: para o quê a Filosofia, com o peso de sua idade já provocara, nos tem preparado? E qual, ao longo de mais de dois milênios, a atuação que vem distinguindo aquele que denominamos filósofo e que o identifica como tal? da palavra 373 Uma vez que o propósito inicial dos promotores desse encontro foi indagar se a Filosofia está apta a enfrentar o novo milênio, é preciso antes saber o que ela nos ofereceu ontem e nos oferece hoje, a que nos habilita, a nós que a estudamos atualmente, aproveitando seu esforçado exercitamento de milênios. E, se do filósofo exigimos um modo de conduta para o futuro, necessitamos avaliar previamente o que o identifica como filósofo numa história de longa duração. A primeira das duas novas perguntas é tanto sobre a instrução filosófica quanto sobre a habilitação,no sentido próprio e não no sentido legal da palavra, do estudante de Filosofia. O que a torna paralela à segunda. Perguntamos nessa o que identifica o filósofo como filósofo e naquela também o que identifica o estudante de Filosofia no correr dos séculos. O que é que ambos fizeram e fazem, segundo o que lhes deu e tem dado a Filosofia? Num caso e noutro, como um longo percurso terá que ser reduzido à dimensão razoável das quinze páginas desta reflexão, correspondendo a pouco menos de duas horas de leitura e conversa, permito-me, nesta exposição, burlar o tempo, sem respeito pela ordem cronológica. Chegam frequentemente às nossas mãos, como um dado corriqueiro da vida de relação cartões de identidade profissional os mais variados – Fulano de tal, motorista; Beltrano, economista; Sicrano, técnico em computação ou comunicólogo ou encadernador ou garçom ou professor de Matemática, de Português, misturandose aí diferentes profissões, atividades específicas, socialmente integradas ao sistema social do trabalho, mediante as habilitações técnicas variadas, sejam intelectuais, sejam manuais, que as identificam. Mas ainda não vi, e estranharia se visse, inscrito num desses retângulos de cartolina, por exemplo, “Spinoza Amoedo da Silva, filósofo”. Julgaria o seu portador ou um pedante ou um ingênuo, se não o incluísse na mesma categoria dos exibicionistas desajeitados, porque exibicionistas há que são jeitosos, ao lado de quem mandasse imprimir abaixo de seu nome próprio, para identificar-se, o título de intelectual ou de poeta. Intelectual é uma classificação genérica para todo aquele que, advogado, jornalista, sociólogo, médico, engenheiro – os chamados profissionais liberais -, pode pretender para si um trabalho livre das injunções e servidões que sujeitam o trabalhador comum; também significa, excepcionalmente, a pessoa em que esse trabalho livre se mistura com a liberdade de espírito e o exercício crítico da inteligência. Tanto o filósofo quanto o poeta são intelectuais nos dois sentidos, mas é difícil ajustá-los a estritos quadros profissionais, como os do carteiro e do sociólogo, a menos que trabalhem como professores. Seria normalíssimo inscrever em nossos cartõezinhos de representação social, em policromia, abaixo do nome próprio, a identidade profissional de professor de Filosofia, acrescido, se for o caso, com letras douradas, de um PhD (Doctor Philosophia). Mas, atenção. O título de PhD, de significação lata, também recobre ramos de saber que não a Filosofia propriamente dita, a palavra aqui usada na acepção geral de ciência ou de conhecimento científico. O PhD pode ser em Economia ou em Direito, e não necessariamente em Filosofia. Os três mil anos dessa disciplina um tanto indisciplinada mostram-nos, confirmando a dificuldade de ajustamento profissional a que me referia, que nem todo professor de Filosofia foi filósofo e, inversamente, que nem todo filósofo foi professor de Filosofia. E, muito embora seja frequente a relação do filósofo com o professor, não há equivalência entre os dois termos, salvo se tomarmos o último na acepção ampla, como aquele que professa ou ensina, 374 da palavra mesmo sem cátedra, fora de um estabelecimento ou instituição pedagógica. Mas nessa hipótese se dá a interessante particularidade de que o professor também aprende ao professar ou ensinar. Dois filósofos alemães de nossos dias, Hans George Gadamer e Karl-Otto Apel, foram ativos professores, hoje, aposentados, enquanto o americano Richard Rorty, mais jovem, leciona na Universidade de Charlottesville (Virgínia, Estados Unidos), e o francês Paul Ricoeur, com mais de oitenta anos, que lecionou até o início dos anos 70, em Nanterre, uma das Universidades de Paris, ainda profere, nos seus cursos em universidades norte-americanas, aulas expositivas, que não saíram de moda, ou dirige seminários para os quais os estudantes contribuem efetivamente, lendo textos de sua própria autoria. Como típicos professores de cátedra, os quatro vinculam-se à instituição universitária, de origem medieval, até o final do século XVII o único veículo do ensino superior, a serviço da transmissão do saber tradicional, religioso, dependente do domínio intelectual e disciplinar das Igrejas cristãs e de suas hierarquias eclesiásticas, católica na França e na Espanha, protestante na Inglaterra, na Holanda e em boa parte da Alemanha. Mas um Leibniz, tanto filósofo quanto matemático, que viveu entre o século XVII e o século XVIII, quando as guerras de religião estavam para cessar, não passou pelo umbral das velhas universidades alemãs. Em seu país um dos pioneiros das sociedades ou associações de sábios à margem da instituição universitária, frequentou a Academia de Berlim, que ajudou a fundar, tomando por modelo as duas mais importantes precursoras dos institutos de pesquisa, ou como diríamos nós, das sociedades para o progresso da ciência, a da França e a da Inglaterra, oficializadas, respectivamente, como Academia de Sciences (1666) e Royal Society de Londres (1645), depois que o Estado moderno descobriu na ciência natural, fundada por Galileu, uma aliada para a conquista de sua independência. Como Bacon, que fazia experimentos em laboratório, Newton, contemporâneo e concorrente de Leibniz, era professor de Matemática e apresentou sua teoria da luz aos confrades da Royal Society, à qual John Locke se filiou. Houve, assim, filósofos sem cátedra, ao lado dos catedráticos. Kant viveu sete anos depois que se aposentou, aos 73 anos, de sua cadeira na Universidade de Königsberg, onde chegou a lecionar, quando professor auxiliar, Lógica, Geografia, Pedagogia e até Fortificação e Pirotécnica. Já filósofos como Fichte, Schelling e Hegel, este o mais imponente dos mestres alemães do século XIX, lecionam as suas próprias filosofias, dando cursos sempre lidos que divulgavam o que já tinham escrito ou que lhes motivavam as obras, elaboradas em sala de aula, procedimento tornado comum entre os professores europeus e que continuou neste século. Mas Descartes jamais teria dado uma só aula se a rainha Cristina não o tivesse chamado, para seu professor particular, à frígida Suécia, onde veio a morrer de gripe. Spinoza explicava suas ideias, expostas na Ética, a alguns poucos amigos fiéis, em cartas que lhes dirigia. No século XVIII, Voltaire, Diderot, D´Alembert ficaram à margem do ensino oficial, mas não da Academia de Ciências, embora fossem pensadores didáticos, participando juntos de um empreendimento educacional inédito, a publicação de A Enciclopédia das Ciências, Artes e Ofícios, para a qual escreveram verbetes ao lado de Jean-Jacques Rousseau, que, como o escocês David Hume, não pertenceu nem à Universidade nem à Academia. da palavra 375 Se agora dermos um salto no tempo para as origens, e corrermos do século VI a.C. ao século IV a.C., para depois voltarmos à fase moderna, veremos, a despeito da conaturalidade existente entre o magistério, na acepção lata antes considerada, e o exercício da Filosofia, que a identidade do filósofo como filósofo, nascida, conforme nos diz Nietzsche, de maneira tortuosa, enviesada, até mesmo truncada, sob diversas formas de comportamento, religioso, místico, ascético, científico, poético, profético, combinadas em proporções de quase impossível discernimento, nunca foi nem é estritamente profissional, e se compatibilizou com as mais diversas condições de existência social e pessoal. Tales de Mileto encabeça a sequência dos primeiros filósofos em todas as Histórias da Filosofia. Mas, para os mais antigos gregos,era,como astrônomo e geômetra, um sábio – um dos sete sábios da Hélade, ao lado de Bias, Pitaco, Sólon, Periandro, Cleóbulo, Quilon. Ora, o filósofo seria aquele que, segundo uma proposição atribuída a Pitágoras, trocou essa condição pela de “amigo do saber” – do saber, acrescente-se, ancestral, mítico, que ele não mais possui completamente, do qual se recorda porque dele já se afastara. Eminentemente oral, relacionado com as principais capacidades de visão profética e poética, valorizadas pelos gregos, o delírio (manta) e a adivinhação (mantica), ativadas pela religião, sob o patrocínio das divindades complementares, Dionísio e Apolo, esse saber de tradição exteriorizou-se, contudo, nas epopeias e nas tragédias. Um Ferécides de Siro, imbuído de profetismo, prevendo o futuro, tal como os áugures dos templos gregos, ainda estava plenamente dentro dessa tradição, à qual também pertencia o próprio Pitágoras, que praticou a ascese, a disciplina do corpo, em proveito da purificação da alma, na confraria religiosa por ele organizada. Como o gigante se conhece pelo dedo, os sábios se denunciam pela linguagem, ainda cifrada. Invocam, à semelhança dos poetas trágicos, os mitos e as divindades, tanto quanto a ordem natural (o cosmo), assimilada à regulação das Cidades pelas suas leis (nomoi), comuns aos homens e comensuradas ao entendimento humano (logos).Cosmos, nomos, logos são palavras que os filósofos utilizarão depois de Heráclito, um desses sábios, cognominado “o Obscuro”, devido aos aforismos sibilinos, de duplo sentido, que escreveu, semelhantes aos enigmas dos oráculos gregos, os quais, transmissores de um ensinamento superior, de origem sacra, falariam sob a inspiração divina, de modo afirmativo. Linguagem afirmativa um tanto mítica também encontramos em Parmênides, que compôs o seu famoso escrito sobre o ser e o não-ser com o estilete de poeta (os gregos ainda não usavam caneta e nem escreviam sobre papel), em versos hexâmetros; a deusa da verdade inspirara-lhe a distinção entre ser e não ser, formulada com base no saber ancestral, um século depois retomada, com as mesmas palavras, numa outra linguagem, interrogativa e contraditória, desdobrada em pergunta e resposta, que não é mais a linguagem do sábio, porque já é a do filósofo. A primeira identidade de filósofo como filósofo, que interroga perguntando o que é – o que é (ti esti) a natureza (physis), o conhecimento (epistéme), a virtude (areté), a justiça (diké) -, é conquistada perante o outro, como dialogante. Pois, ao interrogar, está voltado para o pensamento alheio, à espera de que este o aprove ou conteste. Dizia Platão que o pensamento é uma conversação que a alma mantém consigo mesma sobre aquilo que é eventualmente objeto de seu exame. Quando 376 da palavra a alma conversa consigo mesma é também com o outro em mim que ela conversa. Disputo comigo mesmo, abro de mim para mim uma contenda, e então a conversa vira controvérsia. Mas se o outro está fora, e reconheço-o como meu opositor, aquele que, interrogando o mesmo que interrogo, nega o que afirmo ou me contradiz, a controvérsia se faz discussão, e a discussão, troca de discursos opostos, chamados de argumentos – por isso também uma luta (polemos) verbal compartilhada por um mínimo de dois contendores, a caminho de um possível entendimento comum –, se faz dialogação, conflitiva pendência (agon) sempre renovável, que a cada passo renasce do antagonismo das posições ou da própria dificuldade da matéria discutida. Por isso, a Filosofia precisou, para nascer, em correspondência com essa primeira identidade do Filósofo, da “intervenção de uma nova forma literária”, que foi o diálogo platônico. Permito-me essa redundância - diálogo platônico- para realçar o direito de propriedade de Platão, universalmente reconhecido, sobre tal nova forma literária que ele inventou, depois de haver abdicado da poesia. Conta-se que Platão, a quem se atribuem os versos sentenciosos publicados pela Antologia Grega, recentemente traduzidos por José Paulo Paes, queimou, em sinal de sua conversão à Filosofia, as tragédias que produzira, tornando-se discípulo de Sócrates, o pai do exercício de conceituação, a maiêutica (parturição das ideias), treino cotidiano do filósofo, que fundamenta a relação opositiva, de luta, entre os contendores do diálogo, a caminho do entendimento comum, anteriormente descrita. Como a luta é um confronto verbal, que vai de argumento a argumento, ou seja, de raciocínios armados sobre conceituações preliminares até se chegar mediante retificações sucessivas, a um conceito onde se detêm, a discussão, pelo seu curso e pelo seu resultado, toma o nome a dialética, palavra afim a diálogo e a lógica, por sua vez derivada de logos. Dizendo isso à maneira do filósofo Wittgenstein: ao dialogar, os que discutem travam uma espécie de jogo de linguagem, que como todo jogo tem as suas próprias regras. Ao discutir, os contendores já aplicam regras lógicas, sobre as quais se puseram de acordo, e que os autorizam a armar conceituações e aceitar conclusões do raciocínio. Ao acordo chamaria de razão e ao entendimento comum, mesmo que não seja definitivo ou final, chamaria de verdade. Verdade e razão são as palavras que mais frequentemente se inscrevem na carta de identidade do filósofo, já configurada pela dialogação. Dialogação e diálogo se unem sem confundir-se. O diálogo é a forma literária, escrita; a dialogação é o estar um diante do outro da conversa daqueles que se interrogam, confrontados a si mesmos e ao mundo, a moralidade do pensamento em situação. A dialogação é, ainda, o inquieto movimento do pensar vivido; o diálogo fixa-o numa forma, que traça, graças à convenção, estabilizada no drama, da alternância entre falas de dois ou mais personagens, imitados pelo autor e dele completamente distintos, o caminho (método para os gregos), nesse caso a dialética, no sentido antes estabelecido, e que liga pergunta e resposta, interrogação e conclusão, não apenas por força das regras lógicas, mas também pela intercorrência de procedimentos retóricos, jamais ausentes, que visam mais a persuadir do que convencer, e de qualidades poéticas, próprias da escrita. O diálogo conserva, pois, o curso da dialogação, assim como o curso da dialogação, dependente da maiêutica, põe, no começo, os contendores ocupando da palavra 377 posições distintas, uns como Mestres que ensinam, outros como Discípulos que deles aprendem. Hoje tendemos a embaralhar essas posições, confundindo a relação entre Mestre e Discípulo com o nexo que Hegel estabeleceu entre Senhor e Escravo. Mas o que se passa na maiêutica, um procedimento oral de pergunta e resposta, inventado por quem foi, como Sócrates, que nada escreveu, um pensador de voz e não de texto? Ela manifesta a pretensão de nada ensinar e não ser o princípio de que qualquer um só pode aprender pelos seus próprios meios. O professor é como a parteira da imagem socrática: ele ajuda a partejar a ideia, fazer nascer a conceituação no Discípulo, que só vem à luz quando, auxiliado pelo professor, pelo Mestre, seu oponente, o Discípulo a retira de seu espírito – como se, diria Sócrates, recorresse a uma lembrança – à custa de um esforço intelectual próprio, que o antagonista estimula e por obra do qual descobre por si mesmo o caminho da verdade, de que o Mestre não tem a posse. Se a tivesse, o Mestre estaria para o Discípulo assim como o Senhor está para o Escravo a quem domina. Dessa forma, ensinar Filosofia não é professar uma doutrina determinada, mas conforme o velho Kant, ensinar a filosofar, o que significa transmitir a aptidão de pensar a razão ou o fundamento de qualquer concepção, doutrina ou sistema. Só se transmite essa aptidão a outrem se também se é capaz de aprender dele – do que afirma ou refuta com o auxílio de bons argumentos. Ou o entendimento é comum, compartilhado, ou a razão perde a sua autoridade, e a verdade, professada pelo filósofo, decai para o estado de aceitação autoritária, instrumentando o poder de quem o professa. Forçoso é concluir, portanto, que a maiêutica alterna as posições do Mestre e do Discípulo, distintas e antagônicas no começo da dialogação, até que Mestre e Discípulo possam caminhar juntos, num symphilosophieren, num filosofar em comum, quando quem ensina também aprende e quem aprende também ensina. Portanto, o diálogo, como forma literária, que reincorpora a dialogação na dialética, confirma a canaturalidade entre ensino e Filosofia a que aludimos linhas atrás. Mas há muito tempo os textos filosóficos fundamentais deixaram de ser dialogais. Salvo raras exceções, que pespontam hoje aqui e ali, como unidades isoladas, dentro das obras de Santayana, de Heidegger ou do polonês Leszeck Kolakowski, o diálogo, ainda usado na Antiguidade pelos estóicos, por Cícero e Santo Agostinho, e que foi preferido no Renascimento e um pouco depois por Galileu, escasseou, desde a época de Descartes, para ceder lugar, depois de novo e pequeno surto durante o Iluminismo, ao texto expositivo sistemático, ao tratado, pelo qual, já no século III. a.C., derrotando o estilo de ensino de seu mestre Platão, Aristóteles, professor que adotou a prática, por aquele abominada, dos apontamentos de aula, escritos pelos discípulos sob ditado, abandonara a forma dialogada. No entanto, nem todos os tratados são como os de Aristóteles. Na Idade Média, foi a modalidade de ensino da Filosofia, sob a tutela da Teologia, por meio de questões levantadas e discutidas em aula, que gerou a sistemática expositiva em Sumas, compêndios articulando teses contra teses, de acordo com argumentos opostos, demonstrados segundo a técnica, então uniformemente cultivada, do raciocínio silogístico, aprendido de Aristóteles. Os textos filosóficos, principalmente 378 da palavra os modernos, alteram, modificam o tratado aristotélico, quando não o abandonam completamente, aproveitando formas literárias já existentes ou criando variações delas: o ensaio, em Montaigne, a narrativa no Discurso do método e nas Meditações metafísicas de Descartes, os aforismos em Bacon e, muito mais tarde, preponderantemente, em Nietzsche. Mas o espantoso é que os textos fundamentais, em que se abastece o pensamento filosófico, mesmo quando não são dialogais, guardam uma potência de dialogação que convida o professor e o estudante a atualizá-los de companhia. A contenda agora é com os textos, que por sua vez conversam com o mundo ou entre si em controvérsia. Ora lhes adotamos a voz, ora a contestamos, e é com ela, com essa voz que já foi de alguém, que não está mais diante de nós, rarefeita pela distância ou impessoalizada pelo tempo, que se abre a contenda e prossegue a dialética dos diálogos platônicos, a caminho do entendimento comum. O entendimento comum é a meta, e não o fecho da Filosofia, cuja indagação se renova a cada leitura de seus textos. A indagação filosófica sempre desborda o entendimento comum, alcançando num momento e refeito noutro. A razão se move de encontro ao irracional, e a verdade obtida hoje revela- se amanhã uma não-verdade. Por quê? O poeta Fernando Pessoa – e temos sempre que ouvir os poetas, criadores de mitos – responde que: A verdade, se ela existe Ver-se-á que só consiste Na procura da verdade. E de novo perguntamos, por quê? Porque a verdade, em Filosofia, não é factual, mas contextual, a mais contextual de todas as exigências do pensamento. Basta considerar que quando o filósofo pergunta o que á a justiça ou o que é o conhecimento, tal como os gregos fizeram e continuamos a nós a fazer, ele nem pode satisfazer-se com uma simples definição – justiça consiste em dar a cada qual o que lhe é devido, o conhecimento consiste na percepção ou no juízo – nem está fora daquilo que pergunta. Ele vê que a justiça acrescenta-se um aspecto social, distributivo, outro moral, um terceiro político, cada um dos quais é parte de um contexto histórico, e vê, do mesmo modo, que a percepção e o juízo diferem segundo as espécies de conhecimento, ora teórico, ora científico, ora prático, ora artístico, cada um dos quais exige ser compreendido em função dos outros, contextualmente. Por outro lado, as perguntas o envolvem, não pode cair fora: ao indagar “o que é”?, não só se dá conta de que precisou dessa frase, e portanto da linguagem, de que o conhecimento depende, como também do fato de que o uso de verbo ser – é isto, é aquilo – recorta um aspecto determinado do mundo onde já se encontra desde que começou a indagar. O mundo é o contexto dos contextos, onde estão situados os que indagam alguma coisa e os que não indagam nada. Se assim é, a Filosofia jamais pode pretender para si a exatidão, a certeza e a pureza da teoria. Pura e impura ao mesmo tempo, a Filosofia, conivente com o mundo, já está aliada às condições da existência humana, antes de começar a fazer-se, e, portanto, também ao mito, do qual ainda não acabou, e talvez não acabe nunca de se desprender, presa que está à tradição arcaica, a que opôs, desde os gregos, a linguagem interrogativa, contraditória, de pergunta e resposta. da palavra 379 Invoco mais uma vez um verso de Fernando Pessoa: O mito é o nada que é tudo. Nada é o mito porque nenhuma experiência o confirma, nenhuma ideia o circunscreve, nenhum raciocínio o comprova. E é tudo porque o mito nunca falta no horizonte da existência humana, como um seu acompanhamento situacional. Permitam-me exemplificá-lo partindo de um antecedente histórico da expectativa do ano 2000, que teria motivado o tema inicialmente proposto para esta palestra. Relembra o historiador Henri Focillon que na Europa, principalmente na França, Lorena e Turíngia, propagou-se, de acordo com o testemunho das crônicas, o generalizado sentimento de que o mundo terminaria no ano 1000, no começo do nosso segundo milênio, em plena Idade Média. O fim do mundo se ia precedido pela chegada do Anticristo; ele viria alguns anos antes, em 954. “Satanás em breve andará à solta, quando se completarem os mil anos”, anunciava o padre Glaber da Borgonha. Mas isso era só uma parte da história. Após a recrudescência do Mal, a humanidade, degradada por todos os vícios, o pecado em desenfreio, Cristo retornaria para reinar por um período de mil anos antes do definitivo encerramento do teatro-mundo, ao som das trombetas do Juízo Final, tribunal de derradeira instância, sentenciando vivos e mortos. Essa dupla expectativa de um milenar reino de Deus, após mil anos de duração do mundo, procedia do profetismo hebraico e cristão. Os profetas judeus anunciaram o reino do Messias, do enviado de Deus, que segundo os livros apocalípticos, como o de São João, devia durar mil anos, o que significa um dia da vida divina. Entre os primeiros cristãos, aguardava-se a volta de Cristo na Palestina, antes da pregação de São Paulo. Esta, que levou a mensagem evangélica aos gentios, aos não-judeus, latinos e gregos, desviou essa esperança do retorno próximo de Jesus ressurrecto para a crença, chamada Fé, na função sobrenatural redentora do filho de Deus, o Senhor (Kyrios), sem prejuízo de Juízo Final, a realizar-se, sob a sua égide, em dia imprevisível, determinado pelos altos desígnios da Providência divina e somente por ela sabido. Combatida depois pelos Doutores da Igreja, tal esperança de um advento real recuou perante a ortodoxia doutrinária, mas subsistiu, como fogo brando de uma tendência duradoura, o milenarismo ou chiliasmo (período de mil anos em grego), que de vez em quando e até hoje se alteia no âmbito das comunidades cristãs. Na tendência milenarista, naturalizada no cristianismo e que lhe parece ínsita, a expectativa difusa do fim do mundo (escatologia) está em correspondência com o mito escatológico do fim dos tempos, do término de um ciclo ou de uma época, implantado no zoroastrismo persa (12 mil anos duraria a batalha de Ormuz, deus do Bem, contra Arihman, o deus do Mal), e que se sustenta na visão de acontecimentos futuros decisivos (profecia) para o destino humano, porquanto implica a crença de uma renovação da vida, interrompido o tempo cronológico pelo advento de um período de paz, de fraternidade, de concórdia universal num espaço desimpedido, sem distância e separação (o Reino de Deus). O milenarismo apresenta-nos o inverso do mito hebraico-cristão de origem – o Paraíso perdido. Este nos acena com uma falha, um desfalque no passado 380 da palavra da espécie humana, aquém da história; o outro nos acena com uma final correção ou limpeza do déficit humano, num momento futuro, além da história. E ambos se sustentam, como mitos que são, de encontro ao sentimento deceptivo da incompletude da existência e do desejo insatisfeito. Sentimento e desejo realimentam agora a expectativa do milênio que se avizinha. Marcando o início de um terceiro milênio, o calendário nos surpreenderia, na passagem de 1999, com uma reviravolta do tempo, a trazer-nos ou um mar de calamidades ou um mundo de maravilhas. Mas seja que nos sintamos na véspera de uma época renovada ou de uma época decaída, nossa expectativa é um derivativo milenarista, um resquício da batalha entre Arihman e Ormuz, entre o Anticristo e o Cristo. À Filosofia não cabe preparar-nos para enfrentar o milênio, porque isso implica empregá-la profeticamente para antever o advento de uma nova era, de um novo tempo, embora possamos filosoficamente prestar reconhecimento ao mito, à sua perduração, que o positivismo, no século passado, tentou em vão extirpar, criando outros mitos, como o cientificismo e a religião da Humanidade. O filósofo, que se separou do profeta, não é também um futurólogo, que prefetiza sem sabê-lo, fazendo projeções de fenômenos cíclicos, suscetíveis de repetição probabilística. Reconhecendo o mito sem adotá-lo, sem a ele aderir, não pode (não deve) nem mitololizar (criar mitos, ofício da poesia e da religião), nem mitificar, isto é, canalizar-lhe a força emocional, senão a aura poética e a carga religiosa, para o desempenho de funções políticas. Platão, nesse particular, deunos um, mau exemplo, quando adotou as duas práticas. Para o que, então, nos prepara a Filosofia – que ela nos dá e pode oferecer-nos? Já leram, certamente, o que Aristóteles escreveu a respeito da noção de “problema””: A diferença entre um problema e uma proposição é uma diferença na construção da frase. Porque se nos expressarmos assim: “um animal que caminha com dois pés” é a definição do homem, não é?, ou “ animal é o gênero do homem” não é?, o resultado é um proposição; mas se dissermos: “é animal que caminha com dois pés a definição de homem ou não é?”, ou: “é animal o seu gênero ou, não”?, o resultado é um problema (Tópicos, Capítulo IV). Então a “proposição” difere do “problema” como uma frase afirmativa difere de outra interrogativa (“um animal que caminha com dois pés é a definição de homem”, “é animal que caminha com dois pés de a definição de homem? ” etc ), uma vez que a afirmativa aplica o conceito “animal” ao conceito “homem” e a interrogativa põe em suspenso essa relação, ou seja, questiona-a, converte-a numa questão para o pensamento. Isso se torna patente na dialogação, quando o raciocínio depara com questões contra as quais se choca, e nesse caso – ainda Aristóteles nô-lo diz – o problema é se, querendo saber se uma coisa é isso ou aquilo, há “argumentos convincentes a favor de ambos os pontos de vista”. Em outros casos, os pontos de vista são “extremamente vastos, e temos dificuldade de expor nossas razões, como a questão sobre se o universo é eterno ou não: pois também é possível investigar questões dessa classe”. Aristóteles, porém, coloca-se aí, tanto considerando a proposição quanto o raciocínio, anteriormente ao plano dos conceitos, que é onde os problemas emergem. Assim, por exemplo, o problema da certeza cartesiana (o que é certo nesse mundo, uma vez que posso duvidar da certeza do próprio mundo?) exige da palavra 381 os conceitos de pensamento ou Espírito, como o problema dos juízos sintéticos a priori, em Kant (os juízos universais de base empírica), toma por base os de experiência e das categorias aplicadas aos juízos. Desse ponto de vista, os problemas aparecem concomitantemente com os conceitos que permitem formulá-los. O filósofo, por excelência um questionador, é aquele que consegue pôr ou formular um problema. Conforme disse Bérgson, em Filosofia, “um problema bem posto é um problema resolvido”. Mas o pensador francês esqueceu que o problema bem posto precisa de elaboração inventiva do conceito, e que o resolvido leva a outros maiores problemas. Descartes hesitou em como chamar, se Espírito, Razão ou Pensamento, o princípio que lhe dava acesso à certeza; Kant teve que separar a sensibilidade do entendimento e o entendimento da razão, dando, para isso, um sentido diferente às palavras de sua língua. Sinnlichkeit (sensibilidade), Verstanden (entendimento) e Vernunft (razão-raciocínio), já usadas filosoficamente. A hesitação de um e as distinções do outro atestam a elaboração inventiva dos conceitos. No final do milênio, a Filosofia não se limita a ser um repositório de problemas; ela também se torna problemática. O que significa que a razão mesma se problematiza. Kant, sem sua primeira Crítica, erigira a Filosofia em um tribunal para julgar a Metafísica enquanto ciência e, portanto, também, a razão especulativa. Atualmente, o processo é aberto contra a filosofia toda, posta a razão em julgamento de três modos principais: o analítico (Ryle, Wittgensteins), que consiste em rebatê-la para a instância da linguagem; o desconstrucionista (Derrida), que a condiciona ao inconsciente da escrita; e o de Heidegger, que lhe antepõe a geral entificação, o pensamento do ente dominando a Filosofia, feito o filósofo um intérprete das metamorfoses do ser. Mas quem julga nesse novo Tribunal senão a mesma razão, despojada de suas ambições metafísicas? É ainda Fernando Pessoa que vem dizer-nos: Guia-me a só razão. Não me deram mais guia. Alumia-me em vão? Só ela me alumia. É uma razão cauta, sem a pretensão cartesiana da certeza, abdicando do papel de agente do saber absoluto que lhe deferira Hegel – uma razão ciente de seus débitos com a Antropologia Cultural, com a Linguística, com a Psicanálise e, ainda, com as Ciências da Natureza – que nos alumia. E que, alumiando-nos, pode preparar-nos para a tarefa esta, sim, real e não mítica, de reformulação dos problemas prático-morais, tecno-científicos, artísticos e culturais, a caminho, nessa “era dos extremos” em que nos encontramos, daquele entendimento comum de que já falei. Eis o que a Filosofia, feita magistério, pode nos dar, de acordo com a atuação do filósofo, homem do mundo, cuja identidade, como filósofo, provém do modo de pensamento que pratica, e não da doutrina que professa ou da ciência em que se instala. Repito aqui o que escreveu o pensador espanhol Miguel de Unamuno, em Del sentimiento trágico de la vida, obra que deveriam ler todos os aspirantes a filósofos e candidatos a professores de Filosofia: 382 da palavra La Filosofia es um poducto humano de cada filósofo, y cada filósofo es um hombre de carne y hueso que se dirige a otros que se dirige a otros hombres de carne y hueso como el. Y haga lo que quiera, filosofa, non com la razón solo, sino com la voluntad, com el sentimiento, com la carne y com los huesos, com el alma toda y com todo el cuerpo. Filosofa el hombre. É o homem que filosofa, empenhando sua vida na Filosofia. Mas esse empenho, que se compatibilizou, conforme assinalamos anteriormente, às mais diversas condições de existência pessoal e social, aliou-se a diferentes atividades e profissões. Faremos agora um ziquezague cronológico, entre a Antiguidade e a época moderna. Platão e Aristóteles foram cidadãos na Polis grega, aquele de família grega aristocrática, o último, filho de um médico, estrangeirado pela sua origem macedônica. À pequena nobreza da França no século XVII pertencia Descartes, que foi militar antes de dedicar-se completamente aos estudos, graças aos rendimentos próprios de que dispunha. Os filósofos gregos, poupados de todo labor manual, dispunham de escravos, que trabalhavam e exerciam os ofícios em proveito deles. Entretanto, o fato de que fossem senhores não os eximia das atividades comuns e da prática de negócios. Platão comprou o terreno, fora dos muros de Atenas, onde instalou a sua Academia organizada como Thiasos (comunidade religiosa) e, mais tarde, Aristóteles alugou, num bosque consagrado ao deus Apolo Lykeios, as casas que abrigariam a instituição escolar (Liceu) por ele dirigida. Conta-se que Tales de Mileo alugou, certa vez, todas as prensas para óleo da região, sob a suposição de que haveria farta colheita de azeitonas, depois de ter previsto, observando o movimento dos astros, do fundo de um poço onde distraidamente caíra, um eclipse do sol. Tenha ou não esse fenômeno influído na fertilidade das oliveiras, a historieta relata, em conclusão, que a abundante produção de azeite daquele ano, sob o controle de quem tinha a posse das prensas, deu grandes lucros a Tales. Nem sempre os filósofos foram desinteressados, corajosos e ascéticos como Giordano Bruno e Spinoza. Aquele morreu, na fogueira, condenado pela Inquisição.Uma vez excomungado pela Sinagoga de Amsterdã, Spinoza teria sobrevivido pelo humilde trabalho de suas próprias mãos, polindo lentes e, dizse também, com a ajuda, em dinheiro, que lhe propiciavam amigos e admiradores. Essa atitude de serenidade contrasta com o medo de Descartes. Depois da publicação do Discurso do método e das Meditações metafísicas, Descartes só se fixará em Amsterdã para fugir de Paris e ficar a salvo da Inquisição que temia. Era então recente o exemplo do que acontecera a Galileu. Já um Francis Bacon, ávido por dinheiro, perdeu, acusado que foi de corrupção, o cargo no Parlamento, a que tinha direito pela sua origem aristocrática. Não se deve, pois, julgar os filósofos pela vida que levaram, e sim pelas obras que escreveram – várias pelos problemas, diversas pelas diferentes formas de que se revestiram, mas tendo todas, pelo fato de que constituem, ao mesmo tempo, obras de pensamento e de linguagem, sob a assinatura pessoal de quem as elaborou, uma individualidade característica na maneira de sua escrita, chamada estilo. da palavra 383 As traficâncias de Bacon condenam o indivíduo, mas não é por elas que vamos julgar o Novum Organum. Platão aproximou-se do tirano de Siracusa, a quem quis, em vão, converter à Filosofia, sem que isso empane o valor dos Diálogos. Condenemos Rousseau por ter exposto seus filhos na “roda”; esse gesto de pai desnaturado não desqualifica o Discurso sobre a desigualdade nem atinge a pedagogia de Emilio. Heidegger aderiu ao Partido Nazista durante um certo tempo, mas Ser e tempo, uma das principais obras filosóficas deste século, nada tem de nazista. Se é “alto e régio o pensamento”, a fraqueza de caráter ou o momentâneo ofuscamento do homem não prejudicam a honra do filósofo como filósofo: o seu obstinado rigor, a sua esforçada lucidez, que só podemos encontrar dialogando com as obras, com os textos que lhes definem a identidade do pensamento. Essa identidade guarda, por certo, uma relação tensa com a vida do “hombre de carne y hueso” – que é também a nossa -, e sem a qual os problemas não nos envolveriam. Mas a vida não explica o pensamento a que incorpora; tão pouco o pensamento serve para justificar ou indultar a vida. No entanto, os problemas filosóficos, tanto os de hoje como os de ontem, sempre tiveram a incomoda vitalidade de questões que afetam a vontade, o sentimento, a carne e os ossos. Estamos nós, nesse fim, de milênio, a braços com novas perguntas, que interferem sobre as antigas. Não nos basta indagar o que é a razão; precisamos opô-la à desrazão com que contrasta. Quais os limites entre razão e loucura? Não nos limitamos a indagar sobre as bases cognoscitivas do saber; precisamos opô-lo às formas de poder a que se associa. Quais os limites entre saber e poder? A par das novas perguntas, continuarão a ser revistos, neste e no próximo milênio, os grandes conceitos clássicos de alma e corpo, de Natureza e Espírito, de consciente e inconsciente, de conduta moral, de vida, de sexo, de objetividade, de subjetividade e até de ação - eis que, numa escala inimaginável outrora, como demonstram a destruição dos ambientes naturais e a engenharia genética, os efeitos da atividade humana, tecnicamente conduzida, exigem o alargamento das noções de responsabilidade moral, jurídica e política. Não posso afirmar que a época vindoura seja uma era de mutantes; mas sei que se prolongará, muito além do ano 2000, a mutação de conceitos que a Filosofia parteja em nossos dias. REFERÊNCIAS ARISTÓSTELES. Tópicos, Abril Cultural, 1978, capítulo XII. COLI, Giorgio. La naissance de la Philosophie. Editions de l‘Aire, 1975, p. 114. DILTHEY. Leibniz e sua época. Coimbra, Armênio Amado Editor, 1947, p. 24. FOCILON, Henri. O ano 1000. Lisboa: Editorial Estampa, 1977, pp. 54/72. NUNES, Benedito. Crivo de papel. São Paulo: Ática, 1998. UNAMUNO, Miguel de. Del sentimiento trágico de la vida. Buenos Aires: Ed. Losada, 1966, p. 31 384 da palavra Universidade e Regionalismo* * Aula inaugural da Universidade Federal do Pará, abril de 1999. Incluído em NUNES, Benedito. Do Marajó ao arquivo: um breve panorama da cultura no Pará. Organização Victor Sales Pinheiro. Belém: EdUFPA. (no prelo) A ideia de universidade associa-se, de imediato, à universalidade do conhecimento científico, institucionalizado pela organização do ensino superior; regionalismo é termo restritivo: conota as particularidades que singularizam uma região geograficamente determinada. No Brasil, a própria ocupação histórica do território nacional, durante a colonização portuguesa, ora se estendendo ao interior em busca de riquezas – o ouro de Minas, o gado no extremo Sul e o extrativismo das “drogas do Sertão”, no Norte -, ora se espraiando pelo litoral e fixando bastiões de defesa, na embocadura dos rios, contra as incursões estrangeiras, como foi o caso do forte do Presépio na origem de Belém, condicionou a diversificação regional no espaço nacional. Por isso, as palavras “regional” e “regionalidade” assinalam diferenciações localistas de cunho topográfico, o sertão e a montanha, a planície e o planalto, decorrentes de causas econômicas e estratégicas de efeito histórico. Mas o regionalismo propriamente dito é a tendência que consagra o regional e não o universal, como medida de valor do conhecimento, da arte e da literatura. Por que então juntar, como medida de valor do conhecimento, os conceitos desconexos “Universidade” e “regionalismo”? Há duas boas razões para isso. A primeira razão que permite unir neste trabalho os conceitos de cultura e regionalismo decorre do fato da importância que entre nós a região amazônica desempenhou, do século XVIII em diante, como estimuladora de variada investigação científica, geográfica, geológica, econômica, etnográfica, arqueológica, botânica, zoológica, social e política, que dela fez, desde muito cedo, um atraente e privilegiado objeto de conhecimento para nacionais e estrangeiros. Provém a segunda razão da motivação específica que interferiu na criação da Universidade Federal do Pará, em 1957, dois anos antes cogitada, em 1955, numa ampliação regional de sua identidade, como Universidade da Amazônia, pelo Plano Quinqüenal da SPVEA, antecessora da atual SUDAM. Essas duas razões conjugadas não só nos autorizam a unir aqueles termos díspares, “cultura” e “regionalismo”; oferecem-nos, também, um foco apropriado para retirarmos do esquecimento a fase pré-universitária dos estudos pertinentes à região. A recordação dessa fase passada permite esboçar uma parte da história intelectual da Amazônia, interrupta e descontínua, que ainda não foi escrita. da palavra 385 Longe de mim a ideia de poder escrevê-la neste ou em outro momento. Mas, pelo menos, será preciso delinear-lhe algumas passagens, principalmente aquelas que salientaram, na transição do século XIX para o século XX, quando uma parcela da intelligentsia local conquistou, atuando em vários planos, didático, artístico e científico da atividade intelectual, sob o influxo das “ideias novas” perfilhadas pela geração de 1870, identidade própria no trabalho de abrir as diversas frentes de investigação exploratória das terras amazônicas. Entende-se por intelligentsia, na acepção de Karl Mannheim, o grupo heterogêneo, no exercício de profissões liberais, de que participam como escritores, artistas e homens de ciências, elementos de diferentes classes sociais. Composta por médicos, advogados e professores, a parcela da intelligentsia, a que me refiro, em sua maioria sem formação acadêmica especializada, realizou a conquista de sua identidade intelectual a custa de afincado autodidatismo, que ainda se prolongou, por muitos anos, em bom número de seus herdeiros, já quando partícipes do magistério universitário. Mas é a esse punhado de autodidatas, no seu período tardio, em 1924, que se deve o primeiro projeto da fundação de uma Universidade – a Universidade Livre do Pará, projeto natimorto, sepultado no papel em que o riscaram. Talvez lhes acudisse, aos intelectuais autodidatas, nos vários momentos da empresa de investigação exploratória da região que acometeram, aquele misto de deslumbramento e decepção, com que Euclides da Cunha, em 1906, quatro anos antes de publicado Os Sertões, exprimiu a sua primeira impressão da planície amazônica e de seu grande rio: um mundo excessivo, em formação, - “um excesso de céus por cima de um excesso de águas” – a lembrar “uma página inédita e contemporânea do Gênesis” ainda incompleta, e por isso vazia de gente e sem nenhuma história. Euclides da Cunha era um adepto das “ideias novas”, tal como antes o tinham sido, de diferentes maneiras, os escritores nortistas Inglês de Souza e José Veríssimo, dos quais adiante trataremos. Vinham da Europa, de onde também chegara antes o romantismo, as concepções contrárias à tradição dominante do espiritualismo católico, que perfilharam em nome da autoridade da ciência natural e dos ensinamentos da história. As “ideias novas” eram filosóficas – o positivismo de Augusto Comte (1798 – 1857) e o evolucionismo de Hebert Spencer (1820-1903), de quem hoje não se fala mais – ainda científicas para a época – a sociedade como um organismo em simbiose com o meio físico, o indivíduo como produto da sociedade (A sociologia acabara de nascer, com esse nome lhe dera Comte, batizando-a de física social), o conhecimento histórico obtido pelo método comparativo no cotejo dos grupos humanos, uns adiantados, outros atrasados. A diferença entre adiantamento e atraso se explicaria pela lei da evolução, o desenvolvimento gradual escalonado, das formas vivas, orgânicas, então paradigmas da organização social, seguindo o processo adaptativo de Darwin chamara de seleção natural que se estenderia às sociedades humanas sob o nome do progresso, para Augusto Comte lei geral do desenvolvimento histórico. A explicação dos fenômenos humanos, arte, ciência, religião ou política, dependeria da correta articulação de três fatores, meio, raça e momento histórico – o meio como a ambiência física, a raça como diversificação natural da espécie humana, dotada de potenciais elevados ou baixos favoráveis 386 da palavra ao desenvolvimento, o momento histórico remissivo à variabilidade no tempo das circunstâncias econômicas, religiosas e políticas – tríade causal aplicada pela primeira vez em larga escala na Filosofia da Arte do positivista francês Hipolyte Taine e depois, pelo paraibano, Sylvio Romero, sob restrições críticas a essa teoria, na sua História da Literatura Brasileira. Uma explicação deste tipo se chama naturalista. Em paralelo ao positivismo e ao evolucionismo, surgira, de modo particular na literatura e especificamente no romance, uma corrente de pensamento, o naturalismo; esposava a tese de que a pura natureza, fosse o instinto, fosse o sexo, ou mesmo a hereditariedade, constituiria a causa profunda e verdadeira das ações humanas. Indo de encontro a repetida nota de exaltação à variedade, grandiosidade e beleza da ambiência natural de nosso país, nas primeiras crônicas e livros de viajantes estrangeiros sobre o Brasil, a mesma concepção naturalista, que valoriza o meio físico, favoreceu a adoção do regionalismo, cuja duradoura prosperidade na vida intelectual ultrapassou, de muito, o domínio literário. Com sua sempre vigorosa “fascinação pelo meio geográfico”, incorporando a linguagem oral, o regionalismo literário aparece reiteradamente em várias regiões – o extremo Sul, o Norte, o Nordeste – e em vários momentos – antes, durante e após o modernismo de 22, na década de 30, com os romancistas nordestinos Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Onde e quando aparece, também aparece, destacadamente, o elemento da cultura popular, incluindo falares e os costumes locais, de que a ficção se apropria num quadro narrativo realista. E é a região amazônica, celeiro de mitos indígenas, que forneceria, independentemente das fórmulas realistas do regionalismo então consagrado, ao Turista Aprendiz Mário de Andrade, viajante na Amazônia em 1926, ao longo de seu grande rio, as façanhas de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, perpetradas de norte a sul do país, e portanto atravessando-o em corte transregional ou, como diria Antonio Candido, supra-regional, e que sugeridas foram ao escritor paulista pelas histórias coletas no roteiro do alemão KochGruenberg, Do Roraima ao Orenoco. Tendência da geografia brasileira, corrente histórica firmada durante a ocupação colonial ou vezo intelectual nosso, o certo é que o regionalismo demarcou, tradicionalmente, a orientação dos estudos sociológicos e antropológicos brasileiros. “A região como unidade sociologicamente autônoma, observa Guerreiro Ramos, dentro de um contexto nacional é um tema que, com toda probabilidade, foi tratado, pela primeira vez, em Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha”. Nesse sentido é que região pode ser marco cientifico além de referencial literário, e o regionalismo constituir-se, como sucedeu na virada do século, para a intelligentsia paraense, uma perspectiva norteadora da criação artística e do trabalho de conhecimento da realidade circundante. Nessa fase a que me refiro, os cientistas de formação acadêmica vinham de fora, desde o século XVIII; o geógrafo La Condamine e o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, baiano sediado em Portugal, os botânicos Martius e Jacques Hubert, os naturalistas Luís Agassiz, Wallace, Bates e o casal Coudreau, o geólogo Frederik Hart, os zoólogos Castelneau, Emílio Goeldi, Emilia Snethalage, a que se acrescentariam, mais tarde, muitos outros nomes, como o já citado Koch-Guetemberg e Kurt da palavra 387 Unkel, este que tomaria o nome indígena de Kurt Niemendaju. Todos os viajantes, alguns aqui se radicaram, quase naturalizados, nortistas pelo apego às coisas regionais que estudavam, identificados cientificamente aos nacionais da mesma profissão – como os Courdeau e o paraense Inácio Moura, exploradores do Araguaia, e como Luís Agassiz, visitante de Belém em meados de 1866, e o geógrafo mineiro Domingos Soares Ferreira, por aquele estimulado a fundar o museu, que não carregaria o seu nome mas o do cientista suíço Emílio Goeldi, chamado por Lauro Sodré para reorganizar essa instituição, definitivamente instalada em 1894, com discurso solene do já citado José Veríssimo, o melhor e mais competente autodidata dentre os expoentes paraenses das “ideias novas”. Creio que é difícil separar a figura de José Veríssimo da de Inglês de Souza, não apenas por haverem nascidos em Óbidos, terem sido ambos ficcionistas da região, e também duas aves de arribação que emigram para o Sul, o último se fixando em São Paulo, onde se tornou conhecido jurista e o primeiro no Rio, onde teve fama nacional como jornalista e crítico literário, publicou uma História da Literatura Brasileira, dirigiu a Revista Brasileira e fundou, ao lado de Machado de Assis e de outros escritores metropolitanos, a Academia Brasileira de Letras. Enquanto ficcionistas, é certo que um e outro traçaram, no mesmo estilo realista da época, caprichando nas descrições da natureza e dos tipos humanos, caboclos ou mamelucos pobres e de vida rude e proprietários, negociante e autoridades ávidas e brutais, cenas da vida amazônica, expressão com que José Veríssimo batizou em seu livro de contos e Inglês de Souza subintitulou o romance A História de um Pescador, e que poderia se estender aos outros de sua autoria, O Coronel Sangrando, O Calculista, O Missionário, escritos em São Paulo com base em matéria da memória, tão só pela elaboração de longínquas recordações da infância, reavivadas pelos relatos orais sobre casos regionais que um seu tio lhe contava. No seu conjunto, os contos e romances de Inglês de Souza constituem enorme painel sócio-político do Pará e de toda a Amazônia, elaborando uma narrativa ficcional de extrema acuidade nos detalhes da ação e no caráter dos personagens, cuja escrita, assimilando os termos das línguas indígenas incorporados à linguagem oral dos nortistas, ainda nos seduz com a sua aptidão para criar a imaginária atmosfera de ambiências locais. E eis o que verdadeiramente liga José Veríssimo a Inglês de Souza: o estrato amazônico da imaginação de ambos, - a imaginação material, como o chamaria Gaston Bachelard – fluvial, florestal, planiciária - feitas de água, de vegetação, de horizontes planos – sobe o lastro da cultura nativa, mestiça, que José Veríssimo estudaria pioneiramente, fora da ficção, como etnólogo e etnógrafo que se formou a si mesmo. O crítico literário se sobrepôs nele ao antropólogo, apagando, como lembra José Maria Bezerra Neto, em O Homem que veio de Óbidos, essa parte científica da herança do escritor, fruto de seu fecundo autodidatismo e um dos pontos altos da fase pré-universitária da cultura erudita na região. Chamo de erudita aquela cultura representativa da intelligentsia que a elabora ou herda, em torno de um ou mais de um núcleo de conhecimentos e de práticas – científicos, literários, artísticos, filosóficos – a que corresponde um ideário ético e político, conservador ou utópico, respeitando ou recusando modas, e ligado a mais de uma instituição social, como escolas, academias e institutos. Ela é portanto 388 da palavra multi-institucional, ideologicamente forrada, mas pode ser extremamente flexível a conhecimentos e práticas que não os seus. Assim constitui uma descoberta sua, no sentido próprio da palavra, porque conseguiu identificá-la e tentou defini-la, como o fez José Veríssimo, a cultura nativa, difusa nos modos de ser, proceder e falar, nos usos e costumes, nas festas e nas moradias, nas crenças religiosas de nossas populações interioranas, principalmente ribeirinhas ndo ou rtecusando modas m ou mais de um n, e que forma, grosso modo, pela sua simbolização do real, pela linguagem, pela adaptação seletiva a que submeteu o catolicismo missionário da catequese na região, uma espécie de cultura não letrada e até analfabeta, desenvolvida à margem do livro e das instituições de ensino. Trata-se, de qualquer maneira, sem entrarmos no mais complexo problema do popular urbano, de cultura vivida no sentido antropológico do termo; ela não se tematiza, não se estuda a si mesma. Quem a estuda é o outro, aquele intelectual que sobre ela se debruçou desde o romantismo, nos meados do século XIX – romantismo que realçou, às vezes indevidamente, a espontaneidade do popular, atribuída à “alma do povo” – e que pôde tanto valorizá-la quanto deturpá-la. José Veríssimo, um conservador a caminho de tornar-se escolarca (pode-se empregar, em lugar desta a mais bonita palavra inglesa scholar) e que fundou e dirigiu um colégio em Belém, poderia tê-la deturpada quando a ela chegou, se lhe aplicasse, sem divergência as fontes europeias das quais provinha, a tríade – meio, raça e momento histórico – a que antes me reportei. Na época, o conceito polêmico e perturbador, antes que entrasse em vigor a genética, era o de raça, tornado, sob travestimento de cientificidade, na primeira revolução industrial que intensificou a colonização europeia na África e na Ásia, o principal esteio da ideologia da superioridade da civilização ocidental, capitalista e tecnológica. Os mais altos potenciais de desenvolvimento proviriam da raça branca; os índices de sua conformação física, de sua caixa craniana, medida a compasso, o formato de seu nariz e aparência de seu cabelo, loiro, preto, liso, crespo, mas não pixaim, atestando-lhe maior capacidade intelectual e maior resistência ao meio físico, predispô-la-iam aos labores produtivos da tecnologia e da ciência. As raças coloridas, amarela e negra, deteriam, pelos mesmos índices os mais baixos potenciais para o progresso. E mais baixos ainda, afirmava-se, desciam esses índices no caso daquelas etnias misturadas, dos tipos híbridos, mestiços, em que a raça branca caldeada ora ao negro ora ao índio, perdia a sua pureza. Mas como pensar assim numa região gente miscigenada, com dois terços de mestiços caboclos, quando José Veríssimo, em 1878, Raças Cruzadas da Amazônia, primeira versão do tão admirável quanto problemático Populações Mestiças da Amazônia – traçou sua linguagem, suas crenças e seus costumes. A esse trabalho vou me ater por alguns instantes. “A Amazônia é um dom do Amazonas”, assim parodiava José Veríssimo em escrito seu posterior, de 1892, sobre os aspectos econômicos da região, a famosa tirada de Heródoto, “o Egito é um dom do Nilo”. Na bacia intensa do rio navegam e pescam, com eximia destreza, adaptados, portanto, às condições do meio, os habitantes interioranos, mamelucos e tapuios na maioria. Mas também se poderia considerar um dom desses habitantes à região, as suas técnicas para pescar e construir, a sua linguagem, repositório de palavras e torneios sintáticos da palavra 389 de origem indígenas, as crenças, que desalojaram os dogmas católicos em proveito de um culto quase exclusivo de santos padroeiros – tudo isso que José Veríssimo descreve, admiravelmente, com o olhar do etnógrafo, à altura dos objetos e das gentes que observa. No entanto, a infinita perfectibilidade, garantida pelo progresso do conhecimento científico, em que acreditava, interferiu negativamente nesse olhar quase amoroso sobre as gentes mestiças, prejudicado pela atitude de pedagogo que o positivismo lhe inculcara: via degradadas porque deseducadas. Mas não terá a mistura racial que deu o mameluco nem a exaustão física do índio de que seu desfibrado descendente, o tapuio da beira de rio, as causas das formas rudes, quase vegetativas, de vida pessoal, de relacionamento, de trabalho, de moradia, de vestuário, de religiosidade desses agentes. A mistura racial não pode degradar porque é “verdadeiro o princípio da antropologia que nega a existência de raças puras”. Pelo seu enorme contingente populacional caldeado, a Amazônia comprova “o fato, já hoje incontestável, de superioridade intelectual, no Brasil, dos mestiços...” Se assim é, Veríssimo poderia dizer, à ponta do terceiro fator da tríade causal naturalista que o momento histórico, pelos seus dois lados, a ação do colono português, branco, e a do catequista, favoreceu a influência deseducadora de que resultou a degradação do índio. Já Antonio Vieira, numa carta, que Veríssimo não invoca, ao rei Dom Affonso VI, denunciava, em 1657, a mortandade de dois milhões de silvícolas aguerridos e resistentes em quarenta anos de colonização. Se o colono português serviu-se deles quando pacificados, submetendo-os ao trabalho escravo, as ordens religiosas que para cá vieram, desintegraram-lhe as tribos em proveito dos aldeamentos em que os confinavam para facilitar a conversão religiosa do gentio. Para o nosso autor, o que Arthur Reis, o mais completo historiador da Amazônia nos dias de hoje, chamou de “conquista espiritual” da região por intermédio da atuação civilizacional das ordens religiosas, a dos jesuítas sobretudo, teria sido negativa a integridade dos indígenas: destruí-lhes a organização familiar. A necessidade de reeducar os índios, já que eles estavam degradados, importava em recuperá-los para a sociedade civilizada, aplicando-lhes a força natural no aproveitamento da “vastíssima e riquíssima região Amazônica”, da qual o mesmo autor, que escrevera a Pesca na Amazônia, se ocuparia como economista, preocupado, principalmente, com o novo extrativismo do látex em crise, apenas gerador de matéria-prima exportada para os centros industriais, a Inglaterra e os Estados Unidos, fabricantes de borracha, mas que desbancara, antes do mercado internacional a ela se retrair, por força da concorrência do mesmo produto oferecido a menor custo pelos plantadores ingleses da Malásia concorrentes, as tradicionais “drogas do sertão”, a coleta do cacau e o plantio de cafezais e da cana-de-açúcar. Na opinião de Veríssimo, a agricultura e a pecuária, suficientemente incrementadas, garantiriam, contra a crise da exportação da borracha, a economia amazônica. É certo que o dinheiro da exportação do açúcar, do cacau e do café, aqui cultivados, sob o estimulo da política de Marques de Pombal, para setentrião da colônia portuguesa, em prósperas plantações, já servira, no século XVIII, para o começo da urbanização de Belém. Em matéria de rendimento para a Província do Rio Negro (Amazonas), o lucrativo látex, que a princípio, a mão de obra indígena, forçada e gratuita, manipulava, antes de ela somar-se à dos imigrantes nordestinos, 390 da palavra acossados pela grande seca de 1877, excedeu os ganhos das anteriores transações comerciais. Milhões de libras esterlinas entravam nas grandes capitais, Belém e Manaus. E, no entanto, não beneficiaram nem a região nem o grosso de suas populações. Criaram, isto sim, um hausto de prosperidade, embora temporária, agravada pela desigual distribuição dos frutos da explosiva riqueza. Mas a tais frutos se deve principalmente o fato de que a capital do Pará, urbanizada no fim do século XIX, nos moldes do estilo europeu da época (art-noveau), tenha se convertido, com praças ajardinadas, uma Biblioteca Pública de fachada neoclássica, um arquitetonicamente sóbrio teatro de ópera – o Theatro da Paz – seis jornais diários e quatro seminários, um centro incorporado à Belle-Époque, onde, antes do desastre econômico de 1912, circulavam os expoentes da intelligentsia adeptos das “ideias novas”, como José Veríssimo, Lauro Sodré, adeptos do positivismo comteano (Crenças e Opiniões, 1896), Barbosa Rodrigues, estudioso da mitologia amazônica popular (Poranduba amazonense, 1890) e o romancista naturalista Marques de Carvalho (Hortênsia, 1888), compartilhando de uma mesma mentalidade. Publicaram-se antologias, uma de contos paraenses (1889), outras de poesias (1904), organizadas pelo Eustáchio de Azevedo. O jornalismo de então, eminentemente literário e polêmico, principal instrumento de projeção pública desses intelectuais, literatos e às vezes cientistas ao mesmo tempo, mostrava que aquela mentalidade não era unânime. Outras “ideias novas”, como o anarquismo e o socialismo, e mesmo os ecos da primeira internacional, encontram seus órgãos – a Tribuna Operária e a Voz do Povo – e seus primeiros porta-vozes, como Juvenal Tavares, que escreveu um livro de contos populares para crianças, Serões da Mãe Preta (1897). Trinta anos s, a obra histórica de maior vulto aqui escrita, Motins Políticos (1865), de Antonio Raiol, Barão de Guajará, ainda não refletia essas tendências mais avançadas, mas crônica dos levantes, quarteladas em morticínios políticos ocorridos no Pará logo depois da proclamação da Independência (1822), que culminaria na extrema violência da sedição popular dos cabanos, desmente a assertiva de Euclides da Cunha de que a Amazônia não tinha história. Esquecia Euclides da Cunha que, nessa região, a história começara mais cedo e de maneira trágica pelo massacre de dois milhões de índios de que Antonio Vieira falou. Mas os índios – nossas vitimas – não entravam em nossa história. Morriam fora das cenas dos feitos portugueses e muito depois morreriam nos bastidores já brasileiros das chamadas “frentes pioneiras de penetração”. Só a visão mais abrangentemente crítica dos jovens historiadores – e os há, atualmente, na universidade – seria capaz de revirar o cenário sobre o índio, ator sempre trágico de uma história violenta que a ele nos uniu e une antagonisticamente num passado comum. No entanto, o trabalho local da intelligentsia que precedeu a universidade e à que me referi, já formara uma cultura erudita, sem a qual a nossa Universidade não teria existido. É também verdadeiro que criado esse estabelecimento de ensino superior, surgia, em 1957, algo novo – a formação universitária – que no Brasil foi uma tardia floração da terceira década do século passado, próspero no Sul e Nordeste, entre 34, data da fundação da Universidade de São Paulo e 46, data do aparecimento da Universidade de Pernambuco, a do Distrito Federal, depois da Universidade do Brasil, e a da Bahia aparecidas, respectivamente, em da palavra 391 35 e 46. É evidente que a cultura erudita, já antes desenvolta, vai radicar-se na Universidade, como fonte institucionalmente forte do ensino superior de técnicas, artes, letras, ciências e filosofia. Desse ponto de vista, admite o professor Alfredo Bosi, a identidade de uma cultura universitária, que é um “setor privilegiado, isto é, protegido e incrementado quer pelos grupos particulares que deles fazem um investimento, quer pelo Estado, que arca, no Brasil, com boa parte do ônus da instrução superior”. Por ser protegido e incrementado o setor, a cultura correspondente, muitas vezes lugar de embate entre tendências críticas, que visam à mudança social e política, e tendências conservadoras ou regressivas, espelhando os interesses dominantes, se formaliza muito depressa, e pode favorecer, quando não a cunhagem de fórmulas, a adoção de modas em vez de modos de pensamento, na medida da escalada social a que a preparação profissional por ela ministrada favorece. Tudo isso está muito certo, mas poder-se-á também admitir, uma vez que o ensino superior é temporário, que não haveria a rigor uma cultura universitária; antropologicamente falando, o que Bosi chama de cultura universitária é a cultura erudita institucionalizada de certa forma a transmitir-se como herança de geração para geração. E no entanto a questão não fica por esse ângulo. Ficaria se a Universidade moderna, aqui, fora daqui ou no estrangeiro, não fosse, também, uma instância de produção de conhecimento. Ora, desde o século que começou, os saberes nos quais se traduz o conhecimento produzido, estão mudando conceptual e metodologicamente. Mudança conceptual e metodológica que necessita, a cada passo, de reformulações críticas: das noções de matéria, de espaço, de tempo e de velocidade na Física, a partir da teoria da Relatividade; das noções de movimento molecular, de átomo, de estrutura atômica e de reações das partículas componentes, que interligam, depois da associação da genética mendelina e a citologia, que possibilitou, com base no conhecimento das reações químicas do núcleo celular, nua estreita vizinhança entre Química, Física e Biologia, a ligação entre genes e cromossomos, e o conseqüente controle tecnológico da reprodução das espécies, até o fantasma da recente clonagem. No domínio das ciências humanas, análogas trocas se verificam: da Sociologia com a História, da História com a Antropóloga, da Antropologia com a Linguística, da Economia com a História. Nenhuma ciência constitui mais um universo isolado de conhecimento. Físicos como Schorodinger se interessam pela Biologia, antropólogos como Lévi-Strauss pela Linguística e pela Psicanálise freudiana. E na medida desse interesse submeteram essas ciências a confrontos críticos. Da crítica à crise não senão um passo. As ciências padeceriam, então, de uma crise de fundamentos. Ainda bem: com a crise de fundamentos, que se prolonga na dos métodos, tudo passa a ser revisto num geral movimento de reconceptualização. Esse estado crítico é intelectualmente saudável, e mais saudável ainda se transferimos, projetado a uma dimensão filosófica, com o incômodo e o desconforto mentais que lhe são inerentes, para dentro da Universidade enquanto produtor de conhecimento. Por que incômodo e desconforto mentais? Por que nesses últimos anos desfizeram-se as concepções totalizadoras, que enfeixavam, e poucos princípios, o conhecimento do real, não só aquelas 392 da palavra que moldaram a mentalidade de José Veríssimo, o positivismo, o evolucionismo, como as que influenciaram a das gerações posteriores, incluindo a minha: o marxismo, legado pelo século XIX e o estruturalismo pelo século XX. Enquanto o positivismo se articulou sob o pressuposto da perfectibilidade do gênero humano, decorrência da evolução natural amparada pela pedagogia, e o marxismo adotou esse pressuposto para a dialética, atrelada a uma solução final, revolucionária, da luta de classes, o estruturalismo unificou o gênero humano, primitivos, selvagens e civilizados, dotados com as mesmas estruturas mentais profundas, que os habilitam a construir mundos simbólicos diferentes, correspondendo a distintos tipos de experiência social, em contínua elaboração. Pelo menos o estruturalismo não é apocalíptico; nega que a história tenha um último final feliz, advento da sociedade sem classes, que aboliria a história como aspira o marxismo. Mas tanto este quanto aquele se fiaram na sanidade, no equilíbrio do espírito humano, sem suspeitar, que desse espírito, conforme nos ensinaram Nietzsche e Freud, pode deformar-se quando se forma, presa de fantasma recessivos, inclusive da vontade de domínio e de poder. Entraríamos assim, diz-nos Paul Ricoeur, na época da suspeita: suspeita do conhecimento totalizador, abrangente suspeita do consenso entre sábios no qual repousa a verdade científica. Não nos ensina Thomas Kuhn que a ciência pacificada, normalizada, sem revoluções internas conceptuais, é um breve instante entre grandes mudanças, implicando na convicção de que “a comunidade científica sabe como é o mundo”? Hoje sabemos que ela não sabe; saberia se a sustentassem as ideias unitivas, extra-empíricas, aparentemente racionais – evolução, raça, luta de classes, estruturas inconscientes – que o mesmo Thomas Kuhn chamaria de paradigmas. O desconforto e o incômodo arrostados no momento é o de não termos ainda novos paradigmas em lugar dos antigos que perdemos. Mas a era da suspeita em que vivemos é também a da pletora da informação, proporcionada pelos “mass-media”, pelos meios de comunicação de massa. Esses meios são onívoros; mais do que um gênero eletrônico de jornalismo, que como jornalismo transforma tudo em notícia ou reportagem, a informação audiovisual televisiva, por exemplo, alimenta-se tanto da matéria da cultura erudita quanto da popular, que ela devora. Além de vorazes, tais meios são socialmente porosos; a todos redistribuem a informação, ajustada a padrões direcionados, que terminam agindo como poderosos veículos de controle da opinião pública. É por isso que um Adorno arguiu na função que desempenham de principal instrumento da massificação da sociedade, enquanto industria cultural; são, como os chama Enzensberg, produtos da indústria cultural – indústria conformista do espírito – porque, no caso das imagens televisivas, conformadas a uma dialética da superficialidade, facilitada pelo meio empregado (a mensagem é o meio, insistia Max Luhan), põem em cheque a cultura erudita e a cultura popular, podendo convertê-las em assunto espetaculoso. Mas em virtude de seus efeitos penetrantes, os esquemas simplificadores do conhecimento e a retórica de estilo publicitário, que os meios de comunicação de massa propagam, se infiltram nas instituições de ensino, inclusive nas Universidades. Como as universidades serão capazes de opor-se ao cerco das mídias, principalmente dos mitos que geram, e de cujo aparato técnico – o gravador, o cinema, da palavra 393 a televisão, o computador, o CD – pode, no entanto, beneficiar-se, e ao mesmo tempo, enfrentar a crise das ciências em curso? Contra a crise e o cerco faltam-nos antídotos, mas há proveitosas compensações: a prática da interdisciplinaridade e um programa consistente de publicações, tanto de revistas quanto de livros. Duas acepções de interdisciplinaridade se apresentam: ou se trata de uma colaboração entre as ciências, produzindo domínio cientifico mais amplo que o das disciplinas convergentes, como é a Cibernética, resultante da formalização de modelo extraído da Matemática, da Física e da Biologia, em proveito de uma ciência da informação, oriunda, portanto, de um intercâmbio conceptual entre diferentes disciplinas; ou é o confronto dialogal, crítico e interpretativo, a cargo de estudantes e professores, entre disciplinas, cujas fronteiras movediças, instáveis, convidam ao debate de conceitos, no esforço de entrosá-las teoricamente para melhor compreendê-las e para melhor aproveitar-lhes os benefícios da aplicação prática que geram. Essa atividade dialogal poderia mobilizar reuniões acadêmicas, de que participassem um ou mais departamentos. Antes mesmo do surgimento de nossa Universidade, um homem sozinho, Eidorfe Moreira, já falecido, trabalhando isoladamente, exerceu o segundo tipo de interdisciplinaridade na elaboração de percuciente conceituação da Amazônia (Conceito de Amazônia, 1958) e de magistral ensaio de reflexão filosófica enraizada na paisagem amazônica (Idéias para uma Concepção Geográfica da Vida, 1960), o primeiro aqui escrito nesse gênero. Depois de criada a Universidade, o diálogo crítico e interpretativo das ciências humanas concentrou-se no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), por ela fundado, e que o prof. Armando Dias Mendes, legítimo herdeiro do autodidatismo de José Veríssimo, como o foi Eidorfe Moreira, concebeu e instalou (1969-1973). A época da suspeita teórica é também, paradoxalmente, a época da confiabilidade nos resultados práticos das ciências da natureza e do homem, para a melhoria das condições de vida, articulados, previamente, num plano de desenvolvimento para regiões pobres, economicamente carentes, como a Amazônia, visando transformá-las. Nessa confiabilidade tinham apostado, em conjunto, positivismo e marxismo, embora fossem filosofias incompatíveis. Conhecer é prever para prover, dizia Comte. Para Marx, não se poderia prover sem transformar a ordem do mundo que o conhecimento prevê. Já vimos que a Universidade Federal do Pará surge quase ao mesmo tempo que a agência governamental de planejamento para a Amazônia, SPVEA / SUDAM. Mas o NAEA, a que me referi, não é uma simples réplica acadêmica dessa agência. Quis ser, imune as injunções políticas e à pressão de grupos de interesse, um “usina de ideias” da Amazônia sobre a Amazônia, obtidas, sobretudo, em regime de estudo interdisciplinar, onde funcionasse curso de planejamento e se pudesse pensar e elaborar, sem pressa, a cada dia aperfeiçoado, um projeto de conhecimento e de provimento transformador da região, em beneficio da população que nela habita. Inoculava-se, assim, nesse Projeto Amazônia, a tradição humanística, claudicante fora de seu âmbito, dentro da Universidade, e conseguia-se interligar, na distinção do NAEA e nos resultados de seu funcionamento, o particular da região à universalidade do conhecimento sobre ela produzido. Essa interligação, reiterada em um grande número de 394 da palavra projetos de pesquisas de muitos Departamentos, quer nas ciências da natureza que nas ciências humanas, e que seria tedioso citar, mostra-nos que o regional ou a regionalidade, senão o regionalismo, continuam sendo marcos da formação universitária, como antes o foram da cultura erudita, delineada na transição do século XIX para o século XX, pela inteligência local. Sob esse ângulo, correspondente ao objetivo-fim da instituição universitária, produzir e transmitir conhecimento, conclui-se que, a despeito de seus enormes déficits, a Universidade Federal do Pará não é um fracasso. E se não é um fracasso, de que então precisaria? Certa vez, o poeta Mário Faustino, quando era crítico literário do Jornal do Brasil, na década de 50, perguntou-se do que precisava a poesia brasileira, nem inerme nem de inferior qualidade na ocasião. E respondeu, com extrema e chocante simplicidade, que ela precisava, antes de tudo, de dinheiro, querendo expressar com isso que a prosperidade da poesia dependeria, de certa forma, da prosperidade do país e de sua população. À pergunta que fiz - de que precisaria a Universidade Federal do Pará – respondo, mutatis mutandis, da mesma maneira: a Universidade Federal da Pará precisa, antes de tudo, de muito dinheiro para alcançar, com meios suficientes, a plenitude de seus fins próprios e conquistar sua identidade amplificada de universidade da Amazônia, de que interiorização, atualmente em curso, talvez seja a prelúdio. Mas não necessita só de dinheiro. Precisa de dinheiro para combater a desigualdade financeira entre os cursos, que os divide em “primos pobres” e “primos ricos”, sinal exterior da crise que a estiola e mediocriza; não da crise das ciências de que falei, mas da crise institucional em que debate. Precisa de dinheiro para cumprir um programa editorial, publicando revistas departamentais e, pelo menos, continuando as duas séries de livros outrora divulgadas – a José Veríssimo, sobre questões regionais e a Farias Brito, sobre temas científicos e filosóficos de ordem geral. Talvez isso ajudasse a desvencilhá-la de dois mitos difundidos pela mídia aqui e em outras partes do mundo, e que reforçavam o cerco das Universidades pela indústria cultural: o mito do auto-ensino, por iniciativa exclusiva do aluno, quase dispensando o professor, tornado obsoleto, e o da superação do livro substituído, em definitivo, pelo gravador e pelos CD-room. Longe de mim negar que esses aparatos tecnológicos também possam ensinar. Mas não esqueçamos que o gravador só ensina reproduzindo, na ausência do professor, uma alocução didática, professoral, e que a tela do computador, ao fazer desfilar imagens, funciona como um livro fartamente ilustrado, dando-o a ler verticalmente, em sentido contrário ao da horizontalidade da leitura tradicional. O livro pode se transformar, mas a leitura fica; sem leitura a instituição universitária perde a sua alma. E essa instituição só merece o nome de comunidade - nome de que tanto se abusa - na medida em que fundar em relações afetivo-intelectuais que passam pelo nexo entre seus principais e legítimos parceiros, professores e estudantes. Parece-me que o auto-ensino pode desempenhar aí um importante papel, desde que na iniciativa do estudante se instile a seiva do autodidatismo, de tal modo que seja mestre, conforme propõe Guimarães Rosa, aquele que aprende quando ensina - e, poderíamos acrescentar, que também aprende daqueles a quem ensina, se estes sabem aprender verdadeira e não mecanicamente, numa aprendizagem antagonística, dialogante, em confronto com o mestre. da palavra 395 396 da palavra Um conceito de cultura* * Aula magna pronunciada na abertura dos cursos da UFPA, em 1973. Texto publicado em Documentos Culturais 2, pelo Conselho Estadual de Cultura. Setembro, 2004. Incluído em NUNES, Benedito. Modernismo, estética e cultura. Organização Victor Sales Pinheiro. São Paulo: Ed.34 (no prelo). Um aspecto marcante do atual sistema do ensino superior, decorrente da reforma universitária que se efetivou, ofereceu-me o assunto para esta aula que a tradição universitária denomina “magna”, talvez menos em razão da moldura solene e festiva que a cerca do que pelo fato de constituir alocução dirigida a uma grande assembleia. O ciclo básico, horizontal a todos os cursos e primeiro dos dois estágios do atual sistema que substitui o regime das séries fechadas pela flexibilidade curricular, destina-se a suprir as insuficiências de preparo intelectual do estudante recém-admitido, orientá-lo na escolha da carreira, reforçando-lhe o acervo de conhecimentos e, ainda, item à parte nestas especificações, “propiciar elementos de cultura geral indispensáveis à plena formação individual e social do aluno, susceptíveis de serem desenvolvidos durante os cursos de graduação”. Precisamente esse aspecto, a cultura geral, que se distinguiu expressamente do acervo de conhecimentos e a que se atribuiu o desiderato específico de contribuir, com seus elementos, para a formação individual e social do aluno, pareceu-me reunir as condições ideais de um tema amplo que, de magna importância, proporcionado ao interesse de uma grande assembléia, se prestasse no entanto à rotina de uma simples aula, como pretende ser esta exposição. O tema escolhido é um tema remissivo ou apenas um subtema, que recai sob a noção mesma de cultura, pertencente não só ao vasto repertório de noções disciplinares e limítrofes – a exemplo da sociedade, conhecimento ou ação, que necessitam da convergência de várias disciplinas para serem esclarecidas, - como também a esse acervo de ideias comuns, habitualmente empregadas, ideias concebidas, gozando de um prestígio verbal indiscutível e que parece já trazerem o seu significado próprio inscrito na palavra que as designa. da palavra 397 Que é cultura geral? E de que modo contribui para a formação individual e social?A tentativa para responder a essas indagações, que circunscrevem o nosso assunto e que, assim formuladas, também indicam o modo eminentemente reflexivo e problemático de abordagem utilizado no desenvolvimento dessa exposição, põe em jogo o conceito de cultura, tão diversificado por natureza quanto polêmico pelas atuais vicissitudes dos múltiplos fenômenos que lhe são correlatos. Trata-se de um desses conceitos quentes, em estado de fusão e reformulação, do qual é conveniente nos aproximarmos, como à busca de uma realidade ignorada, em movimento de câmara lenta. I Três acepções da palavra cultura, registradas por T.S.Elliot num ensaio de 1948, modestamente intitulado de Notes Towards the definition of culture (Notas para a definição de cultura),nos servirão,com ligeiras modificações de nomenclatura, introduzidas tão só em benefício da síntese, e em que nada prejudicam o pensamento do grande poeta inglês , de roteiro preliminar: a) acepção individual; b) acepção social; c) acepção histórica. Na acepção individual, isto é, relativa ao indivíduo, cultura oscila entre dois pólos: ou significa o conjunto de conhecimento, de ideias, de crenças e de critérios de valor com que todo indivíduo se acha munido e de que todo indivíduo faz uso, consciente ou inconscientemente, nas suas relações consigo mesmo e com os outros, ou significa a sua formação, intencional e voluntariamente orientada, com apoio num variável grau de conhecimentos e experiências acumuladas, para alcançar uma maneira estável de pensar e de agir. No primeiro caso, cultura corresponde ao equipamento mental do indivíduo pelo fato mesmo da educação por ele recebida, em qualquer nível da vida social de que participe e qualquer que seja a latitude dos conhecimentos, das crenças e dos critérios que lhe foram transmitidos. Ela é, nesse sentido, uma posse intelectual, moral ou religiosa, que se alia à personalidade do sujeito. No segundo caso, mais próximo da origem etimológica – colere/cultivar – da palavra, traduz o cultivo do indivíduo, de sua inteligência, e de sua sensibilidade. A cultura estará aqui intimamente unida à personalidade e, mais do que uma posse, representará um modo de ser. Esses dois aspectos de uma mesma acepção colocam-se num eixo que chamaremos de subjetivo. As duas outras, a social e a histórica, situam-se num eixo objetivo, que diz respeito a uma segunda dimensão do mesmo fenômeno. Aquele equipamento mental do indivíduo com que o dotou a educação, seja através da escola, seja através do correlacionamento familiar ou profissional, tanto o indivíduo faça parte do meio rural ou do meio urbano, quer pertença a um círculo religioso, recreativo ou político, provém de um patrimônio acumulado, também constituído de conhecimentos, de ideias e de critérios de valor, mas que existem e subsistem independentemente do sujeito. Na acepção social, a cultura é essa herança transmitida de geração a geração e de que os indivíduos, como seus usufrutuários, partilham diferentemente, conforme o dinamismo dos grupos ou classes a que se vinculam. Sociologicamente, pode-se falar numa cultura eclesiástica (Idade Média), numa cultura aristocrática (Séc. XV a XVIII) ou 398 da palavra numa cultura burguesa a partir do século XIX, designando então essas expressões as ideias dominantes de um período ou de uma sociedade, ideias assim qualificadas em função dos que usufruem diretamente do patrimônio acumulado graças a um processo de transmissão e de elaboração conduzido por agentes determinados: - mandarins na China, sofistas na Grécia do século V, humanistas do Renascimento, filósofos e publicistas nos séculos XVII e XVIII, e, a partir de então e até hoje, escritores, professores, artistas e cientistas em geral. Nessa segunda acepção, de caráter social, a cultura é duplamente objetiva, já porque, comportando moldes de pensamento, padrões de gosto e normas de proceder, que tem existência independente dos indivíduos, e que de certa maneira a eles se impõem de fora para dentro, do exterior para o interior, revela os traços clássicos do fenômeno social – coletivo, exterior e coercitivo -, já porque o patrimônio espiritual a que a cultura corresponde é inseparável de certos suportes materiais privilegiados – exemplificadamente, instrumentos, livros, quadros, monumentos, discos, filmes-suportes, que têm, como diria Paul Valéry, “a duração limitada, a fragilidade e a precariedade das coisas”. De acordo com a terceira acepção, a histórica, também colocada no eixo objetivo, a cultura seria a fisionomia intelectual, artística e moral de uma civilização dada ou de um povo ao longo de sua história e num momento dela. Aqui vemos, importante aspecto a assinalar, que o nosso termo ligou-se a outro – chamemo-lo de processo civilizatório ou simplesmente de processo histórico – em função do qual passará a ser interpretado e em razão do qual poderemos falar tanto numa cultura helênica quanto numa cultura ocidental, tanto numa cultura hindu quanto numa cultura brasileira. Sob tal aspecto, em que prevalece a personalidade espiritual distintiva de determinado povo, a cultura depende de uma acumulação e de uma transmissão no tempo, com modificações e: acréscimos: de valores, formas de pensamento, técnicas, normas religiosas, morais e jurídicas, entre unidades históricas que mantêm contactos ou que se relacionam por um nexo de filiação, como o que existe entre a nossa cultura ocidental e a cultura helênica. As três acepções, individual, social e histórica, que indicamos e apreciamos rapidamente, não se opõem entre si, compondo as três escalas ou os três aspectos de uma só ideia, segundo a qual a cultura do indivíduo está em relação com a da sociedade, e a da sociedade, por sua vez equivalendo a uma forma historicamente evoluída, está definida no conjunto de um processo global de que o gênero humano é o último usufrutuário. “Soma de todas as criações que melhoraram a condição material dos homens ou que expressaram a vida intelectual e moral”, para repetirmos a definição de Burckhardt, a cultura traduziria o resultado do esforço de autoafirmação da espécie humana, que se desprendeu da condição da animalidade, até atingir, passando pela selvageria e pela barbárie, os mais altos graus de desenvolvimento. Essa ideia, certamente muito difundida e apreciada, é contudo uma ideia incompleta, suprida, corrigida e ampliada pelo conceito antropológico de cultura, mais abrangente e mais adequado, que exporemos a seguir. Em última análise, o encadeamento que verificamos entre as três acepções inicialmente expostas depende do elo que vincula a cultura a estágios avançados da palavra 399 do desenvolvimento humano, consubstanciado em sociedades determinadas, de cuja vida nos informa a História da Civilização. Haveria povos cultos e povos incultos. A Antropologia, desligando aquele elo histórico, faz da cultura um fenômeno coextensivo à sociedade humana, qualquer que seja o grau ou estágio de adiantamento material desta. Ralph Linton vos diria que, como termo geral, cultura “significa a herança social total da humanidade; e, como termo específico, “uma cultura significa uma determinada variante da herança social”. Mas desse ponto de vista, as sociedades ágrafas, também denominadas primitivas ou selvagens, termos inconvenientes porque a eles se associa até hoje uma conotação de inferioridade, também contribui para o patrimônio da humanidade. Só que a Antropologia – e particularmente a Etnologia – convida-nos a alargar a nossa própria ideia de humanidade. Penetrando com o raio X da investigação etnográfica no grande naipe dos agrupamentos humanos, revela-nos o essencial – do fenômeno cultura. Dos egípcios aos gregos, dos gregos, aos germanos, dos esquimós aos tupis, dos tupis aos bororós, quer adotemos um eixo vertical de sucessão no tempo ou um eixo horizontal de coexistência no espaço, verifica-se o fato cultural na constância de elementos característicos, que definem, para cada agrupamento humano, um conjunto de modos de proceder e de pensar, segundo estruturas normativas variáveis e particulares, que sustentam, conforme expressão de Ruth Benedict “diferentes padrões de pensamento e ação”. Não somente a Antropologia ensina-nos a olhar e a compreender a variedade das culturas; ensina-nos que cada uma delas sintetiza, por inteiro, a criação do universo humano: criação por meio de normas, indissociável da linguagem, de totalidades significativas, incluindo técnicas, conhecimentos, religião, valores éticos, estéticos e políticos, no conjunto de uma organização social determinada. Longe de ser uma acepção a mais, reunida às três anteriores, o ponto de vista antropológico se nos afigura uma concepção ordenadora, sob o foco da qual podemos fazer algumas discriminações úteis para o encaminhamento da questão relativa à cultura geral que nos propusemos a examinar. Somos, como povo, dotados de uma cultura própria, que tem a sua fisionomia distinta, o seu ethos peculiar, onde componentes de extração portuguesa se fundem àqueles caracteres primitivos, indígenas e negros, que os nossos modernistas foram os primeiros a contrastar com o arcabouço da cultura intelectual, também denominada superior, cultura fatalmente importada na expressão de Murilo Mendes, porque de origem europeia, e que presidiu, desde os tempos da colônia, a formação de nossos bacharéis, juristas, letrados e eruditos. Antropologicamente, a diferenciação do fenômeno cultural em escalas de altura diferente, como a que sugere a expressão cultura intelectual ou superior, é apenas uma diferença funcional, socialmente significativa, mas que não implica numa discriminação valorativa absoluta. Dito isto, voltemos ao nosso tema. II Ninguém deixará de admitir que o engenheiro, o médico, o historiador e o professor de literatura, aqui tomados como tipos representativos das quatro áreas – ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas e letras e artes – 400 da palavra em que, se divide o ensino universitário, possuem cada qual uma cultura especializada. Pelo simples recurso da exclusão, a chamada cultura geral figuraria, nem acima nem abaixo daquela; menos como pólo que a complementa do que como um plano transversal que a recorta, naquele domínio antes circunscrito, sob critério antropológico, da cultura superior ou intelectual. Científica ou artística, literária ou tecnológica, essa última corresponde, portanto, de acordo com o que o adjetivo superior exprime, a um nível de conhecimentos e de experiências acima do saber e da experiência comuns, qualificando a atividade de uma camada social extensa, variável e intergrupal, a intelligentsia, constituída principalmente de escritores, cientistas, técnicos, artistas e professores. Mas as dificuldades para caracterizar a cultura geral, agora ressaltada pelo expediente do contraste, e que se nos apresenta, à semelhança de um fundo ou de um horizonte de encontro ao qual sobressaíssem as distintas figuras da esfera intelectual, começam precisamente neste ponto, já pela ambiguidade de uma expressão traiçoeira, onde geral tanto pode ser aquilo que é comum a diferentes domínios daquela esfera, como aquilo que é universal enquanto somatória de todos eles. O Autodidata, personagem de La Nausée, de Sartre, cortou de maneira patética esse embaraço, decidindo pela última hipótese: frequentador regular de uma biblioteca pública, leu, metódica e imperturbavelmente, por ordem alfabética, sem recorrer ao caminho mais curto das enciclopédias, romances e tratados, monografias e brochuras informativas. Ao cabo de sete anos de aprimorado e burocrático esforço, chegou, passando pelo estudo dos coleópteros, da teoria dos quanta, da vida de Tamerlão e da polêmica do catolicismo com o darwinismo, à letra L da sabedoria humana. Dispor da totalidade das informações, eis o sonho ou o pesadelo desse Autodidata. Mas ainda que se possa reunir, em cartões perfurados, ambição tecnologicamente exequível, a enciclopédia das enciclopédias, o conjunto assim constituído, somatória e combinatória, ainda não seria cultura geral. Significando no mínimo o que é comum a diversos domínios especializados, integrando elementos heterogêneos pela sua procedência, dificilmente a compendiaremos num manual portátil que, a ser elaborado, constituiria uma aproximação assintótica àquele livro dos livros, ideal e abstrato, de que nos fala Jorge Luiz Borges num dos seus contos, convergência espectral dos conceitos chaves, das criações imaginárias, dos mitos e dos sonhos recorrentes da humanidade inteira. Tomemos, à busca de um indício concreto para surpreendermos essa integração do diverso e do heterogêneo que a cultura geral pressupõe um livro que não é certamente nem um manual portátil nem o repositório ideal de Borges. Trata-se do “Guide to Kulchur” (Guia para a Cultura), do poeta norte americano Ezra Pound, falecido ano passado. Aí encontramos retalhos de economia política, sondagens históricas na tradição intelectual europeia, cortes críticos na história da filosofia, juízos sobre educação, apreciações políticas – tudo em paralelo e em confronto, a literatura com a ciência, a ciência com a filosofia, as digressões sobre romance e obras de arte em contraponto à poesia provençal, mais Os Analectos de Confúcio, passagens de Dante e trechos antológicos, sucedendo-se e entremeando-se a comentários acerca de François Villon, tudo arrematado por uma lista de sete livros, “livros que um homem sadio gostaria de apreciar”, da palavra 401 e entre os quais figuram, de permeio com aforismos e máximas diversas, a Divina Comédia, a coleção das tragédias gregas e a Odisséia de Homero. Como se tantas coisas divisasse da altura de um patamar de observação, sobranceiro ao tempo e ao espaço, erguido no contexto de sua época, Pound, que nada sistematiza, entrança pois os variados e distintos fios de uma enorme rede, mas selecionando e avaliando os seus componentes. O “Guide to Kulchur” é uma espécie de balanço, de tomada de contas, de ajuizamento de todo um patrimônio preservado para dele extrair-se uma diretriz teórica e prática. Misto de conhecimento e de sabedoria individual e social, incluindo-se nestes padrões de gosto artístico, critérios morais e políticos, essa diretriz teórica e prática seria, enfim e resumidamente, uma pedagogia ativa, um modo de pensar, de agir e de sentir a serviço da formação espiritual do homem. Uma tônica que parece modular esse programa, vade mecum tão extenso quanto penetrante do homem cultivado, que o poeta dos Cantos nos oferece, é a ideia da cultura como preservação seletiva da experiência, impregnando a vida individual por aquilo que é digno de ser relembrado e utilizado em proveito do conhecimento e da autoformação do homem. Independentemente do valor assaz discutível da pedagogia poundiana, o “Guide to Kulchur” pode servir-nos provisoriamente, senão de guia para o fim a que o destinara o seu sofrido autor, pelo menos de indicação para concebermos o conteúdo e a forma da cultura geral. Variável no conteúdo, porque constituída de ingredientes heterogêneos, - filosofia, ciências humanas, ciências exatas e naturais, artes e letras – importa mais, qualquer que seja a extensão destes ingredientes, a correlação entre eles estabelecida, convergindo na forma de um pensamento flexível e abrangente. Importa, porém, ainda mais, a perspectiva integradora dessa forma, perspectiva que traduz a aspiração a um tipo de conhecimento dimensionado pelo homem, e que se destina a dimensionar a vida humana. Essa perspectiva recebe tradicionalmente o nome de Humanismo. Ora, desse ponto de vista, viriam reunir-se, no conjunto da cultura geral assim compreendida, nada mais nada menos do que as duas vertentes tradicionais, ciências e humanidades, - compreendendo estas, por extensão, as letras e as artes – de que se tem nutrido a vida intelectual do Ocidente. A cultura geral seria, portanto, em cada momento, uma pacífica e circunstancial partilha entre ciências e humanidades, gerando aquele horizonte ou fundo de encontro ao qual se destacam os conhecimentos especializados, as ciências aplicadas, as técnicas, os métodos de ensino e os processos de aprendizagem. Sucede, porém, que essa desejável partilha converteu-se hoje num relacionamento polêmico e conflitivo, de proporções até traumatizantes no registro dramático que do fato fez Sir J.P. Snow, graduado pela Universidade de Cambridge, e que, por sorte ou infelicidade sua, é um letrado por vocação, autor de vários romances, e um físico por profissão, há muitos anos ligado a importantes círculos de pesquisadores e cientistas ingleses. Dada essa dupla condição, que lhe permitiu transitar livremente do grupo de seus companheiros escritores ao grupo de seus colegas cientistas, constatou J.P. Snow a incomunicabilidade de uns com os outros e a falta de recíproco interesse pelos respectivos campos de atividade. Eram, como dois mundos alheios, cada qual fechado numa forma definida de cultura. Alarmado e perplexo, o físico e romancista pôs-se a refletir 402 da palavra sobre esse divórcio em sucessivas conferências – a primeira das quais em 1959 – enfeixadas, depois, num livro de grande repercussão, cujo título, “As Duas Culturas”, já nos indica que a incomunicabilidade e o desinteresse constatados assumiram aos olhos de Snow as proporções de um fenômeno de caráter geral: o mútuo desconhecimento e mesmo a mútua desvalorização dos dois grupos traduzia uma cisão na vida intelectual. Verdadeiro oceano, na hipérbole contristada de Snow, o fosso que atualmente aparta os letrados e artistas dos cientistas é de origem recente. Até o século XIX, as duas vertentes tradicionais, ciências e humanidades, interligadas durante o Renascimento, apenas separadas no século XVII, e que começaram a correr paralelamente no século XVIII, não estavam, a rigor, divorciadas e nem haviam colidido. No Renascimento, as humanidades, Studia Humanitatis, que foram, de certo modo, o descobrimento dos currículos das escolas medievais, compreenderam, através do estudo dos autores clássicos, aqui significando escritores antigos, gregos e latinos, a retórica, a poesia, a história e a filosofia moral. De Petrarca a Lourenço Valia, de Marcilio Ficino a Luiz Vives, de Pico Della Mirandola a Montaigne, esses estudiosos classificaram-se de humanistas, o que mais tarde, no século XIX, já numa conotação ética e pedagógica, deu origem ao termo Humanismo. De fato, os humanistas, que nem sempre tiveram interesse específico pela filosofia como especulação pura, viram no cultivo dos clássicos um “meio para educar e desenvolver um tipo desejável de ser humano”, fosse aquele homem, centro da criação e senhor da Natureza, dotado de infinita capacidade de conhecimento graças ao equilíbrio da vontade dominada pela Razão, do qual falou Picco Della Mirandola em seu virtuoso, de igual piedade para com Deus e para com os homens, capaz de aproximar a nobreza de estado da nobreza da alma, que os Diálogos de Luiz Vives recomendaram. Mas ainda durante o Renascimento desenvolve-se, em conexão direta ou indireta com o Humanismo, ora com o apoio em Platão ora com apoio em Aristóteles ou nos Estóicos, todo um conhecimento da Natureza, para o qual concorriam, de ângulos diferentes, os filósofos e os artistas. Para Leonardo da Vinci, a função da pintura, espelho das formas naturais, é função intelectual especulativa, paralela à da ciência e da filosofia. Assim, as humanidades, as artes e as ciências da época, convergiam numa perspectiva comum em que inteligência racional e imaginação criadora se completavam. Havereis notado que venho empregando a palavra ciência no sentido amplo de conhecimento – teoria para os gregos, contemplatio para os romanos, - predominante da Antiguidade ao século XVI, e do qual vai divergir a ciência no sentido moderno da palavra, nascida e desenvolvida no século XVII, nos moldes galileanos do conhecimento matemático da Natureza, extensivos, mais tarde, às próprias ciências humanas. Verdadeiro corte epistemológico então se produziu. Com a mecânica de Galileu (1632) surge uma diferente atitude em face do real, cognoscível enquanto mensurável, e que servirá de matriz a toda cientificidade até nossos dias, e uma nova atitude em face da Natureza, objeto de exploração e de dominação pelo homem, de que a tecnologia atual é a culminância. da palavra 403 Ciência é poder, proclamava Bacon no Novum Organon (1620), sintetizando essa nova atitude. Como ficou exemplarmente consignado no Discours de La Méthode (1637) onde Descartes, fundador da geometria analítica, ao estabelecer os princípios do método, despediu-se das letras, que não lhe poderiam proporcionar “une connaissance claire et assurée” – das letras que ele havia cultivado desde a infância, - ocorreu daí por diante a separação dos dois domínios – humanidades, letras e artes de um lado, ciências de outro – domínios todavia paralelos ainda no século XVIII, o Século das Luzes, a época da Ilustração (Aufklãrung). Durante esse período, duas ideias fundamentais – a existência de uma ordem natural, acessível à razão, e a inevitabilidade do progresso material e espiritual do homem, por efeito do conhecimento científico – inseminaram o saber e puderam integrá-lo numa perspectiva humanística, cujo espelho, L’Encyclopedie des Arts, des Sciences et des Mettiers (1750-1780), o primeiro e talvez o último compêndio de cultura geral do Ocidente, reunira em seus doze volumes, entre filósofos, artistas, cientistas e homens de letras, conforme nos diz o próprio verbete Enciclopédia desse livro, todos aqueles “homens vinculados pelo interesse geral do gênero humano e por um sentimento de recíproca benevolência, porque sendo estes motivos os mais honestos que podem animar as lamas bem nascidas, são também os mais duradouros”. Na sociedade europeia do século XIX, sob o império da Revolução Industrial e dentro das mudanças estruturais condicionadas pela economia de mercado expansiva, verificou-se, através mesmo das grandes sínteses filosóficas dessa época – evolucionismo, materialismo histórico e positivismo – direta ou indiretamente ligadas ao aparecimento das ciências humanas, sociológicas e históricas, uma reconfiguração dos próprios nexos sociais da cultura intelectual e artística, que se reflete particularmente na filosofia de Augusto Comte. O positivismo, transformando a ideia de Progresso, tomada à Ilustração, “numa harmonia constante e segundo as leis da evolução”, também emprestou um primado essencialmente político às ciências exatas, ordenadas e sistematizadas, esteio da autoridade espiritual de um “novo regime da humanidade”, e coroamento da divisão do trabalho industrial. Não apenas a ciência consubstanciaria todo o conhecimento possível; mas o conhecimento valeria, sobretudo, juntamente com as outras dimensões da cultura, com a atividade produtiva. Correlativamente, os critérios de eficiência e de interesse ajustam o modelo ético dessa Humanidade, que o Catecismo Positivista (1852) elevou à esfera da transcendência, à estatura do Homo Laborans, do Homo Faber, em que se dessora e se inverte, já convertido em utilitarismo, o ideal heróico afirmativo do humanismo renascentista. O ethos cristão, que nele se mantivera, é reinvestido por esse mesmo utilitarismo. Pois não foi Stuart Mill que interpretou o princípio evangélico – amai-vos uns aos outros como a regra de ouro da conciliação dos interesses? Em tais condições seria difícil encontrar para a Arte, que não resulta de uma atividade produtiva no sentido de utilidade, uma relação funcional com a sociedade. Tanto no sentimento de revolta da literatura romântica, parte do qual despendido na luta contra o filisteísmo (palavra que Clemens Brentano o então pôs em moda para significar a mentalidade que julga todas asa coisas em termos utilitários), quanto na concepção de uma realidade transcendente pelo simbolismo, podemos reconhecer os sinais dessa exclusão. É curioso constatar, 404 da palavra a esse respeito, uma correspondência entre duas vozes tão distintas e distantes quanto as de Nietzsche e Dürkheim. Nietzsche escrevia, indignado, em 1875, numa das suas Considerações Inatuais, que a arte havia se tornado, “na economia espiritual dos nossos homens cultivados”, uma necessidade mentirosa e um luxo. Trinta e dois anos mais tarde, em 1906, o sociólogo Dürkheim, quase que usando das mesmas palavras, constatou que a Arte, porque não subordinada a um fim utilitário, nenhum papel desempenhava nas funções da sociedade industrial. III Se J. P. Snow, no século XX, pode observar que a partilha entre ciências e humanidades, ou entre ciências e artes, ocultava um divórcio profundo, faltoulhe, no entanto, acuidade para perceber que o fosso, cindindo esses dois pólos da vida intelectual, e aberto no século XIX, longe de ser apenas um desajuste no plano da cultura superior, intelectual, estava escavado em profundidade naquele subsolo da cultura objetivamente considerada, onde os padrões do pensamento e os critérios de valor formam uma totalidade normativa, coextensivamente à própria vida social. Conforme vos dizia no início, o tema da cultura geral remete-nos ao da própria cultura, nos aspectos subjetivo e objetivo das acepções que anteriormente distinguimos. A cisão no plano da vida intelectual de que acabamos de tratar é um sintoma da crise da cultura em nossa própria civilização, hoje tema de reflexões e debates. Edward Spranger, cujo nome lembra o do autor da “Decadência do Ocidente”, Oswald Spengler, - que foi, a despeito de sua analogias precipitadas e de seu nacionalismo exaltado que a Guerra de 14 estimulou, um dos mais finos críticos da nossa civilização – adverte-nos que as culturas também podem adoecer quando perdem as suas regulações internas espontâneas. De fato, essas regulações parecem provir do relacionamento hierárquico de duas espécies de normas, em correspondência com duas espécies de correlacionamento social: as normas instrumentais, relativas aos fins práticos, que regulam o trabalho, a produção e o consumo, estarão subordinadas às normas de comunicação, do agir comunicativo, compreendendo os valores de convivência, dentre os quais os religiosos e os éticos, e que são relativos a fins transcendentes. O processo de racionalização de todas as atividades, apontado por Max Weber como a tendência característica da mobilização ocidental – tendência intensificada na era industrial – inverteu essa subordinação. O agir instrumental, hegemônico, tornou-se regulador das formas de convivência e de comunicação humanas. Resultariam de semelhante inversão os tópicos sociais da crise da cultura, que me limito a referir: os fenômenos correlatos da dessacralização levando à sociedade massificada, à Ionely crowd (multidão solitária) dos nossos dias, soma de indivíduos solitários no meio de um ressecamento ético geral, vazio onde se desenvolve a influência nem sempre benéfica das mass media, indiferentes ao tipo de mensagens que transportam. A crise se exprime, finalmente, naquele profundo desequilíbrio individual que podemos denominar, com Toynbee, de cisão na alma, e que Freud caracterizou como Unbehagen in der Kultur – o incômodo, o mal-estar da cultura e na cultura. Intelectualmente, do ângulo que concerne ao nosso assunto, da palavra 405 esse incômodo é um ir à deriva, pois, na síntese de Arnold Gehlen, vivemos “em grandes contextos que não é possível integrar nem espiritual, nem moral, nem afetivamente”. Vale, a propósito, destacarmos aqui outra observação pertinente desse antropólogo germânico: “Ninguém mais consegue precisar um conceito de cultura geral, e se intentássemos fazê-lo recorrendo às realidades clássicas, obteríamos a síntese do antiquado: a partir das categorias da física clássica não se podem deduzir as da física moderna, nem a partir dos valores da pintura ou da poesia clássica os da pintura e os da poesia da atualidade. Aqui me refiro somente à orientação dentro do mundo e, na verdade, também à filosofia, da qual pode-se dizer o que disse Goethe e Jacobi: que lhe faziam falta as ciências naturais, porque só com base num pouco de moral não era possível construir uma grande concepção do mundo”. Dessa forma, e sem que se pretenda estabelecer um regime de concordata entre as letras e as ciências, órbitas distintas de um mesmo universo intelectual, que não deve ser sacrificado nem ao cientificismo nem ao seu oposto o condenável desprezo pelo conhecimento científico – é o próprio Humanismo, enquanto perspectiva da cultura geral, naquilo em que os elementos desta contribuem para a formação individual e social, que entrou em fase de reformulação. Não será exagerado afirmar-se que caberá à Antropologia, dentro do quadro das ciências humanas, e se filosoficamente repensada, um papel saliente nessa reformulação em curso. A certa altura desta exposição, mostramos como àquela disciplina se deveu uma ampliação corretiva do próprio conceito de cultura. Mostraremos agora, em poucas palavras, que ao foco de aproximação e de compreensão das sociedades primitivas da Antropologia também se deve, na crise da cultura antes retratada, um benéfico efeito de contrastação com a sociedade civilizada, que desautoriza, por refração crítica, diante do feixe multiforme de culturas diferentes da nossa, a imagem tradicional, transportada pelas filosofias da história, e de que não escaparam nem a de Condorcet nem a de Kant nem a de Hegel, de um privilégio axiológico do processo histórico que culminou na civilização industrial dos nossos dias. É bem verdade que esse efeito de contrastação crítica começou há muito tempo, embora de maneira esporádica e acidental. Começou no apogeu do humanismo renascentista, contemporâneo da descoberta do Brasil, quando um esplêndido aristocrata, Michel de Montaigne, espiritualmente afeito desde a meninice à leitura dos clássicos gregos e latinos, e, portanto, familiarizado com certo tipo de humanidade, assumiu uma atitude de distanciamento relativamente aos próprios padrões de sua cultura, ao escrever, por volta de 1586, entre irônico e compungido, no capítulo VI, Des Coches, do livro III de seus Ensaios, acerca dos povos do Novo Mundo, talvez a página mais grave, mais sentida e mais profundamente humana da literatura do período: Nosso mundo acaba de encontrar um outro, não menor, não menos populoso, contudo, tão novo e tão criança que ainda se lhe ensina o “a b c”; há quase cinquenta anos atrás, esse mundo ainda não sabia nem letras, nem pesos, nem medidas, nem roupas, nem trigo, nem vinhas,... Temo muito que não tenhamos apressado demais seu declínio e sua ruína pelo nosso contágio, e que lhe tenhamos vendido muito caro nossas opiniões e nossas artes. Era um mundo infame; se não o tivéssemos açoitado e sujeito à 406 da palavra nossa disciplina pelas vantagens da nossa coragem e forças naturais, se não o tivéssemos sem submetido por nosso justiça e bondade, nem subjugado por nossa magnimidade. Montaigne antecipava o gesto de amarga censura à própria civilização, inseparável do esforço da etnologia moderna no conhecimento das sociedades primitivas, gesto que também exprime, pelo seu desinteresse, a confirmar o paradoxo da existência dessa mesma etnologia moderna, o ideal de ciência pura gerado pela cultura do Ocidente. Foi, sem dúvida, o autor dos “Essais” o primeiro europeu culto a recolher em Jean de Lerry e André Thevet, companheiros de Villegaignon no empreendimento da França Antártica, informações acerca dos modos de vida dos índios brasileiros, modos de vida que ele julgou tão sábios e tão equilibrados que fariam inveja aos habitantes da República de Platão. Foi também o autor dos “Essais” o primeiro humanista a divisar, por cima da barreira do etnocentrismo, as possibilidades de um alargamento da ideia que o homem europeu formou de si mesmo e do mundo. Alargamento que significa enfim, no conspecto da Antropologia atual, a confirmação de que o homem é em toda parte o mesmo pela forma do pensamento e da linguagem, e sempre diferente pela maneira diversa como estatui sistemas normativos reguladores de suas relações com os outros e com a Natureza. Na comum medida humana que os une, civilizados e selvagens elaboram mitos, criam artes e se entregam às fainas do conhecimento. Se há porém uma diferença fundamental entre o pensamento selvagem e o pensamento civilizado, é que aquele, longe de ser pré-lógico ou alógico, conforme admitiu a etnologia clássica pela voz de Lucien Levy-Brühl, é apenas um pensamento em estado selvagem, “distinto do pensamento cultivado ou domesticado com a intenção de obter um rendimento”. O humanismo alargado, que o teor reflexivo e problemático desta exposição me estimula a imaginar, como perspectiva necessária à cultura geral, enxertaria esse espírito não utilitarista dos primitivos às vertentes tradicionais da civilização do Ocidente, o que talvez pudesse habilitar-nos a criticar, em benefício de uma aproximação compreensiva entre as duas esferas da cultura intelectual cindida, três falácias insinuantes e prestigiosas que contribuem para mantê-las afastadas: a falácia de que Arte não é Pensamento, a falácia de que a Ciência é todo o Conhecimento e, finalmente, a falácia de que o conhecimento é eticamente neutro. Na Arte, ainda que alheia a fins cognoscitivos explícitos, e que tem efetiva relação com a sociedade, mas vinculada ao agir comunicativo, não-instrumental, o homem pensa, deixando as inscrições de sua passagem transitória no mundo. Na Ciência, pensamos em função das conexões objetivas, lastreadas pela verdade dos fatos e de acordo com as estruturas lógico-matemáticas, que nos permitem fixar as coordenadas do nosso universo físico e humano. Mas da verdade dos fatos à responsabilidade dos atos que deles decorrem ou que neles se inspiram, há outras conexões de ordem valorativa que os mais destacados cientistas da atualidade, físicos e biológicos, num desmentido da neutralidade ética da ciência, também procuram formular, diante, por exemplo, para nos limitarmos a um só caso, dos riscos decorrentes do desenvolvimento da biologia molecular (os da física atômica já pertencem ao passado), desenvolvimento que poderia conduzir, na insânia de um progresso material incontrolável, a um novo tipo de pré da palavra 407 manipulação da matéria viva, suporte da existência humana, capaz de concretizar o pesadelo do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. O humanismo alargado de que vos falo, e no qual um eudemonismo social, sobrepondo-se ao utilitarismo, pudesse dar um valor autêntico à palavra espírito, estaria possuído de um igual respeito pelo homem, pela vida e pelas coisas, mas numa proporção e numa ordem que nos são sugeridas pelo pensamento selvagem. Ao sumarizar, numa das etapas da análise de mais de seiscentos mitos das populações primitivas americanas, análise que seguiu o eixo orientador de um mito bororó, a sabedoria que tais criações particulares encerram, Lévi-Strauss reconhece, na rigorosa súmula antropológico-filosófica que suas Mithologiques formam, que essa sabedoria expressa uma verdade contrária à do tão difundido filosofema de Jean-Paul Sartre, segundo o qual o inferno são os outros. “Quando eles proclamam, ao contrário, que o “inferno somos nós mesmos”, - reflete Lévi-Strauss, - os povos selvagens dão uma lição de modéstia que gostaríamos de acreditar que ainda somos capazes de entender. Nesse século em que o homem se escarniça a destruir inumeráveis formas vivas, depois de tantas sociedades cuja riqueza e diversidade constituíam desde tempos imemoriais o seu mais claro patrimônio, nunca, sem dúvida, foi mais necessário dizer, como fazem os mitos, que humanismo bem ordenado não começa por si mesmo, mas coloca o mundo antes da vida, a vida antes do mundo, o respeito dos outros seres antes do amor próprio; e que mesmo uma temporada de um ou dois milhões de anos sobre esta terra, já que de qualquer maneira ela conhecerá um fim, não poderia servir de desculpa a uma espécie qualquer, seja a nossa própria espécie, para se apropriar da terra como uma coisa e tratá-la sem pudor nem discreção “. O novo humanismo, inspirado nessa escala de valores, corrigiria então o Renascentista num ponto: o homem, que deixou de ser escravo da Natureza, tampouco é o senhor que nela impera, e sim o seu vigilante guardião. Guardião da Natureza ou, para empregarmos a expressão do filósofo Heidegger, tantas vezes injustamente acusada de enigmática, der Hirt des Seins – pastor do Ser – pastor que tem como única obrigação, ao conduzir solícito o rebanho das coisas, fazer da terra a condigna habitação da espécie humana. Mas assim a cultura, termo que vem de colere conforme lembrei, reverteria, na junção dos eixos, o subjetivo e o objetivo, das acepções inicialmente analisadas, àquele sentido originário da palavra e do próprio conceito – palavra e conceito de procedência romana – significando, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a sociedade, – na perspectiva convergente das ciências, letras, artes e técnicas que caracteriza a cultura geral, – “cultivar, habitar, tomar conta, criar e preservar”. 408 da palavra da palavra 409 410 da palavra Benedito Nunes e o Reitor da Universidade da Amazônia, Édson Franco. IX. Benedito Nunes e o título de Doutor Honoris Causa da palavra 411 Benedito Nunes e o Vice-Reitor da UNAMA, Antônio Vaz. 412 da palavra Saudação a Benedito Nunes Amarílis Tupiassú 23 de novembro de 2009 Professor Edson Franco - Reitor da Universidade da Amazônia, Professor Benedito Nunes, demais Senhores Mantenedores desta instituição, Senhores Pró-reitores, Senhores membros do Conselho e dos colegiados universitários; Diretores de Centros e Coordenadores de cursos, Colegas Professores, Alunos, Funcionários desta Universidade e demais Senhores e Senhoras: Inicio esta saudação com agradecimentos ao Reitor da Universidade da Amazônia, Professor Edson Franco, pela confiança, por crer-me habilitada ao cumprimento desta saudação. No momento de escrevê-la, hesitei, senti-me confusa, e percebi-me (sem nenhum laivo de falsa modéstia), aquém dos méritos possíveis necessários para realizá-la com, pelos menos, a mínima ou média profundidade que a dimensão mental de nosso homenageado exige. É sempre difícil verbalizar a grandeza, a desmesura, os horizontes a perder de vista. Essa dificuldade aflorou quando comecei a retirar da prateleira e rebordejar a extensa produção de Benedito Nunes, para esquematizar estas palavras, que precisam ser breves, como o requer este momento concentrado em saudar um homem de mente viva, profusa e que se devota, irrestrita e serenamente, ao estudo, à escrita, ao desvendamento do acervo de reflexão, de indagação sobre o ser e sua existência, sobre a feiúra produzida pela razão que sabe fazer-se tão bela. Verter-se prazenteiro e interrogativo sobre essa matéria é o ofício ininterrupto de Benedito Nunes, desde que, ainda quase menino, recémsaído do então ginasial, cursado entre 1941 e 1948 no Colégio Moderno, como ele informa no discurso “Quase um plano de aula” proferido em 1998, quando a UFPA o agraciou com o título de Professor Emérito. 1948, 1998, e agora, 2009, este galardão, nota distintiva de alto valor mental, de constância em excitar as fontes, para, assim contemplado, prover sua própria monta de saber. da palavra 413 Reunimo-nos, então, para esta mais que justa homenagem, a concessão deste título, que compreendo como reiteração, confirmação de uma capacidade superior de pensar. Essa superioridade corre, difusa e informalmente, nos escritos lavrados pelo homenageado. Especifico a obra escrita, de vez que o que se poderia imaginar, sonhar como uma obra oral grafada dilui-se nas esferas do nunca mais a cada término de aula, conferência, debate, sempre entremeados de intervenções momentâneas, tiradas repentinas, espelho de sua argúcia elucidativa as quais, infelizmente, nem sempre ficam gravadas. Nesse ponto, lembro Platão, para quem a escrita é parricida, porque tira de cena, ensombra os movimentos do autor vivaz, a fala cara a cara, fecha o palco de onde brotam todos os ângulos, rosto a rosto, de falante e ouvinte. Refiro-me às essas intervenções ocasionais da docência in locu, e o usufruto da audição em andamento, usufruto, aliás, que pode ser referendado pelas professoras Rosa Assis e Nelly Cecília Paiva Barreto da Rocha, aqui presentes, o Professor Benedito Nunes nos fazendo dar “trato à bola” como incipientes alunas da disciplina “Teoria do Conhecimento” ministrada por ele na UFPA. Quanto à produção maturada na solidão à sua escrita tersa, elegante, claramente urdida, essa colheita se beneficia de valor excedente. Qualifica-se, enquanto saber e, ao mesmo tempo, desenha o perfil moral e o apuro do sábio, como bem o nomeia Lúcio Flávio Pinto, em “Um roteiro dos livros de um sábio paraense” (Edufpa e A Província do Pará, 1991). A obra escrita de Benedito Nunes é testemunho de qualidade, de vigor intelectual, o que me permite dizer que esta outorga é preito de reconhecimento, reafirmação de mérito, de notável saber, atestado de mente atilada, tanto que atua em muitas frentes de inquirir e concluir, e que, por isso, ressalta o estatuto do homem raro que exerce sua profissão em caráter exemplar. Benedito Nunes é modelo de sabedoria. E, no caso dele, convenhamos, modelo de rara reprodução, haja vista poucos como ele conseguirem se ajustar, de maneira tão resoluta e intransigente, nas exigências do estudo em exclusivo empenho, do ensino que deixa rastros agudos no discípulo que, assim marcado, segue e comanda seu próprio caminho, na escrita que atrai e excita, na discussão que desarma os ardis do falso, no debate que insufla e disseca o corpo do real para que dali aflore uma verdade mais cristalina. Não tenhamos dúvida, aos termos desta outorga se fundem as graças do reconhecimento de qualificada exemplaridade. Algumas vezes é fácil dizer e provar. Tomo o levantamento de quase toda obra do Professor Benedito Nunes, um esforço paciente de Vitor Sales Pinheiro. Constato, a partir desse levantamento, que Benedito Nunes, “O andarilho do saber” só quer saber de saber. Nem sempre, depois da debulha, recolhe e empilha em tulhas reservadas sua afortunada colheita, isto é, não perde tempo em organizar o cultivado fruto de sua cultura de saber. Por isso, abro parênteses para louvar Célia Jacob e Vitor Sales Pinheiro, graças a quem hoje se pode ter acesso a quase tudo que o cérebro de Benedito Nunes concebeu e subscreveu. Ponho-me a contar os títulos de livros. Vinte e cinco, publicados e a publicar, a maioria, por casas editoras fora do Pará. Todos fundamentais, essenciais àquele que se deseje bem posto nos territórios do saber filosófico, literário, das artes 414 da palavra em acepção lato sensu, sedimentado esse campo de extensão universal, sem que nosso homenageado descure da fortuna e do infortúnio desta região amazônica ainda coberta de densas nuvens tão turvas. Até onde me dispus a contar, aninhados nos escaninhos dos livros, abrigam-se cento e setenta e três estudos de têmpera irrepreensível. Seguindo o levantamento de Vitor Pinheiro, há mais, muito mais, os livros organizados por Benedito, as colaborações suas em livros nacionais, as principais, só as principais colaborações em livros estrangeiros, e Benedito ainda encontra tempo para o labor, o lavor da dificílima arte da tradução. As pessoas aqui presentes e todos os que cruzam os sítios de contemplação da obra do Professor Benedito Nunes poderão obter melhor campo de visão à obra, quando vier a público o próximo número da Revista Asas da Palavra, dedicado a ele, a publicação concebida e concretizada pelo curso de Letras da Universidade da Amazônia. Docentes amazônidas e de várias universidades brasileiras participam dessa publicação com ensaios sobre as ideias e pensamento de o nosso Benedito. Admirável a sua dedicação ao conhecimento. Admirável sua obra votada ao ato de pensar e de produzir beleza, o filósofo desdobrando-se desde eras remotas sempre perscrutando e inquirindo. Ele é irrequieto. Cola o ouvido no tempo e ausculta as palpitações vivas de Homero, por exemplo. E já desfibra as vozes da filosofia em suas nascentes e crescentes. Segue a outros rumos. Apoderase e exulta-se com a palavra de Clarice Lispector, passa tomado de encanto por Drummond, vigia com ardor a heteronímia pessoana, passa olhos penetrantes pelas veredas rosianas, e, quando se vê, fica longas jornadas abismado com a agudez ideativa de Heidegger, Nietzsche; vira-se a outros quadrantes do mundo e logo filtra o tempo e o ser em seu infrene crivo de papel. Vendo bem, decanta, celebra, enlaça saberes aparentemente estanques. Não sossega daqui para ali e detém-se nas chuvaradas dos campos, que também podem ser muito famintos e secos de Cachoeira, no Marajó de que ele também cogita, o arquipélago do Marajó volvido à Belém das acepções dalcidianas. Daí retorna às dicções poéticas de Ruy, Haroldo, Max, Plínio, Chico Mendes, amadores e promotores do belo e também seus camaradas reais em bastas cogitações estético-filosóficas. Admirável como move sua oficina de fundição de saberes, os quais se tocam e se entranham enlaçados, de tal forma que Filosofia, crítica estética e um vário lastro de conhecimento conformam o edifício de seu cuidado especulativo. Para finalizar, recordo um quadro terno. Estamos em volta de uma mesa na Editora da UFPA, Benedito Nunes, Vitor Pinheiro e a editora Laís Zumero. Falamos de um seu livro, ainda sem título, a editar (agora no prelo). É “Do Marajó ao arquivo: breve panorama da cultura no Pará”. Eu tinha comigo, como amostra de grande beleza editorial, dois volumes de livro de literatura e arte de uso colegial na França, compêndios de Liceu. E Benedito Nunes bate com os olhos nos volumes. Pronto. Desabrocha ali um Benedito infante, alumbrado, alegria estampada, sorridente, virando página a página, o brilho do olhar só cintilações. Ele parece sorver a primorosa iconografia, comenta, passa de leve as mãos nas folhas para sentir a textura do papel, sorri embevecido, distraído, esquecido dos propósitos do encontro. Foi rápido na montagem de uma como que cercadura invisível onde se instalou para saborear a descoberta. Decidiu da palavra 415 emergir do encanto. Era preciso, deu-conta. Fechou os volumes, mas pôs-se em guarda, o achado sob as mãos do menino. À saída, já de pé, carregava os volumes. Benedito Nunes tem sua carga de recuo, de timidez. Mas não se conteve: “De quem são estes livros?” “- Meus, Bené”, respondi. “ - Me empresta?” E lá se foi ele ledo e fagueiro com a conquista. É esse fascínio, esse embevecimento, essa capacidade de se maravilhar que invade e se imprime naturalmente na carne e nos poros de sua escrita. Nela, nada é banal. Só profundidade. Muito justa a efusão desta outorga, confirmação de mérito e de uma rara, muito rara envergadura e agudeza mental. 416 da palavra Discurso de Agradecimento Benedito Nunes 23 de novembro de 2009 Muito me sensibiliza a decisão dos órgãos colegiados e dos dirigentes desta Universidade de me conferir o título de doctor honoris causae. Um ato generoso de vossa parte, como público reconhecimento de meu trabalho como professor e de minha faina como escritor. O resultado desse esforço não é senão muito papel impresso: treze livros publicados, quase todos tratando, grosso modo, de filosofia e de poesia. Mas isso não é irrelevante para quem faz do escrever um modo de viver. Não obstante, fui e sou antes de tudo professor. E no ensino a melhor parte é falada e não escrita. O discurso do professor é dialógico. Não apenas exige a presença de outrem, mas a correspondência ou a consonância com ele. A palavra é sua pedra de toque sob a abóboda do silêncio, onde outra palavra, a do ouvinte, pode ressoar em diálogo. Ambos estão honrando o conhecimento que lhes é transmitido, e que, por sua vez, transmitem a outrem. Não só o conhecimento, que culmina na filosofia, mas também a trama de idéias e sensações por nós denominada de poesia ou arte poética.Entre as duas existe um nexo de complementação. Convém repetirmos o comentário de Albert Camus em Le Mythe de Sisyple: “Nunca se insistirá o suficiente na arbitrariedade da antiga oposição entre arte e filosofia. Se pretendermos entendê-la num sentido bem preciso, certamente ela é falsa(...) O artista, tanto quanto o pensador, compromete -se com a obra e se transforma dentro dela”. Essa transformação do artista na obra alcança o espectador ou o leitor. Também esses podem experimentar, sob o influxo da arte, mudanças de ordem ética, nas quais perspassam exigências sociais e políticas. Já o estudo das ciências, sejam naturais sejam humanas, quando bem aprofundado, atinge um limiar esté da palavra 417 É certo que o conhecimento é limitado. Mas o que impulsiona, reabrindoo , a cada passo, é a criação poética, que antecede e prepara o campo das ciências. Tenho sempre associado poesia e filosofia em meus escritos. A primeira está na origem da segunda. Sem poesia, inexiste, como efeito da arte e do pensamento, a possibilidade da metamorfose moral e social do homem. Não há separação estrita desses campos. O pensamento fecundo é o começo do artístico e a arte, quando grande, é pensamento em ação. Resta saber se ainda temos hoje a chamada grande arte, se ela já não é, como assegurava Hegel, coisa do passado. O problema focal de nossa época, que envolve essa questão, talvez esteja na polarização do pensamento atual pela técnica ou, mais propriamente, pela tecnologia. A Filosofia tem-se interessado por esse tema. Segundo o elucidativo livro de Ortega Y Gasset, Meditação da Técnica (1963), a técnica é o dom dos inadaptados, como o homem, capaz de modificar as circunstâncias em que vive. É por isso que ele é homo faber, o ente que se inventa a si mesmo. Man makes himself, resume Gordon Childe. A princípio ele não sabe que inventa. Depois os artesões ou artífices tendem a conservar a experiência adquirida, organizando um sistema de artes e ofícios. Sobrevém em seguida a técnica do técnico, quando se fabrica o instrumento que pode fabricar tudo: a máquina. Ortega já se refere então à técnica avançada, à tecnologia, como ilimitada possibilidade de fazer. Com essa ilimitada possibilidade de fazer, a mãe natureza parece desaparecer em proveito das coisas produzidas, tornadas mercadorias. Tudo é fabricável, tudo recai sob o ilimitado domínio da técnica. O estado errante, a aparente superficialidade da arte, nos dias de hoje, talvez resulte dessa tecnização do saber. A arte não teria mais condições, já dissera Hegel em seus escritos de Estética, de satisfazer as necessidades de nosso espírito. Colocada sob esse ângulo, a questão que se nos depara não é eventual, passageira. Por uma ironia da História, ela resultaria do estado conflitivo e problemático da cultura Ocidental nos dias de hoje, na época do pleno fastígio da ciência moderna, quando já se cumpriu o princípio da Instauratio Magna de Francis Bacon, de que “ciência e poder humano coincidem”. Essa coincidência alerta-nos para o perigo de arrebatamento da ciência pelo poder. Contra essa ameaça, sempre iminente em nossa época, convém invocar e reatualizar o ensinamento de Rabelais, segundo o qual ciência sem consciência é um corrosivo da humanidade do homem. Não só a arte, como a vivência da religião autêntica, difícil e rara, contrapõese a esse arrebatamento da ciência pelo poder. Sob esse ângulo, o verdadeiro poder da ciência pode emparelhar-se com o da filosofia e da poesia – um poder expansivo, feito de saber e de não saber, de conhecimento da realidade presente e de intuição das possibilidades futuras. Belém, 19 de outubro, 2009 418 da palavra Benedito Nunes e o Título de Doutor Honoris Causa. Benedito Nunes e Amarílis Tupiassú. da palavra 419 420 da palavra Tios, primo e pais de Benedito Nunes. Foto: acervo Maria Sylvia Nunes, 1948 X. Caderno Iconográfico da palavra 421 Benedito, com um ano de idade e já com um livro nas mãos, ao lado de sua mãe, Maria de Belém. (Arquivo pessoal João Guilherme Vianna). Benedito, em sua Primeira Comunhão. (Arquivo pessoal João Guilherme Vianna). O menino Benedito. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). 422 da palavra Da esquerda para a direita: Benedito Pádua Costa, Hermínio Pessôa, Elna Andersen, Epílogo de Campos, Milton Trindade, Mariazinha Campos, Joana Vianna, Andersen, Eva Andersen, Aarão Benchimol, Dulce Serra, Benedito Nunes, De Lourdes Vianna, Osvaldo Serra. (Arquivo pessoal Stella Pessôa) Maria Sylvia e um bilhete para o namorado: “Para Benedito, uma careta da Maria Sylvia”. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Os jovens Benedito e Maria Sylvia. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). da palavra 423 Reprodução do telegrama felicitando pelo noivado, na noite de Natal, 1951. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). No dia do casamento: 10 de dezembro de 1952. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Família reunida, no dia do casamento de Benedito e Maria Sylvia (10.12. 1952)..Da esquerda para a direita. Atrás: Dodô e De Lourdes (tias de Benedito), tio Adrião(tio de M. Sylvia), Almir Fortes da Costa (marido de Celina , irmã de M. Sylvia) Celina (escondida), Joana(tia de Benedito), Ilka Faro, Haroldo Maranhão, Edgard Franco, Cléo Bernardo, Beatriz Castro Ribeiro, Francisco Paulo Mendes, Stella Castro Ribeiro, Mário Faustino. Na frente: Margarida Schivazzappa, Elisa Roffé, Mimi(mãe de M. Sylvia) Orlando Costa, Barreto Borges, Cursino Silva (pai de M. Sylvia). Sentados, no chão, Fernando da Costa, sobrinho de M. Sylvia. (Reprodução do livro Mário Faustino: uma biografia/Lilia Chaves) 424 da palavra Central Hotel, local de efervescência cultural, frequentado por jornalistas, poetas, professores e críticos. (Reprodução do livro Mário Faustino: uma biografia/Lilia Chaves) Correspondência entre Mário Faustino, Haroldo Maranhão e Benedito Nunes. Mário Faustino e Francisco Paulo Mendes. da palavra 425 Festival de Teatro de Estudantes. Recife, 1959. Pascoal Carlos Magno, Maria Sylvia Nunes, Benedito Nunes. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). I Festival de Teatro de Estudantes do Brasil . Recife, julho de 1958. Da esquerda para a direita: Repórter, Paraguassú Éleres, Maria Sylvia Nunes, Wilson Penna, Fernando Penna, Waldemar Henrique, Maria Brígido, Carlos Miranda, Aita Altman, Benedito Nunes, Lindanor Celina, Lóris Pereira. Maria Sylvia, Benedito e Max Boudin.1959. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). 426 da palavra Osman Lins, Joel Pontes, Themira Pontes, Décio de Almeida Prado, e Benedito Nunes. 1961. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Bené, Raimundo Moura e Ruy Barata. Rio de Janeiro,1959. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Haroldo Maranhão, Eneida, Ledo Ivo e Benedito. Porto Alegre. Congresso de Escritores. 1959. (Arquivo pessoal Maria Sylvia Nunes). da palavra 427 Benedito Nunes, Raymundo Moura e Cléo Bernardo. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Joel Pontes, Roberto Schwarz, Benedito Nunes e Themira Pontes. Segundo Congresso Brasileiro de Crítica e História literária. São Paulo, julho de 1961. (Arquivo pessoal Maria Sylvia Nunes). II Encontro Nacional de Professores de Literatura: Affonso Romano de Sant’Anna, Pde. Mac Dowell, Benedito Nunes. 1975. PUC/RJ. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). 428 da palavra Pedro e Lúcia Maligo, com a filhinha; Benedito Nunes e David Jackson, no Texas. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). Michel Foucault e Benedito Nunes, na praia do Marahu, ilha do Mosqueiro. Pa. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). II Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária. Assis, São Paulo, 1961. Na segunda fila, Antonio Candido, Décio de Almeida Prado, Joel Pontes, Benedito Nunes (roendo as unhas). Na fila da frente: José Lino Grünewald, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. (Arquivo pessoal Benedito e Maria Sylvia Nunes). da palavra 429 Francisco Paulo Mendes, Max Martins, um amigo e Maria Sylvia Nunes. Francisco Paulo Mendes, Benedito Nunes e Rui Meira, na Casa da Linguagem. (Foto: Eduardo Kalif. Arquivo pessoal Dina Oliveira). O amigo, poeta Max Martins, na casa da praia de Marahu, ilha do Mosqueiro. Pa Max Martins, M. Sylvia Nunes, Dina Oliveira, Lilia Chaves, Chico Mendes, Bené Nunes e Ruy Meira na Casa da Linguagem. (Foto: Eduardo Kalif. Arquivo Dina Oliveira). 430 da palavra Em Rennes. Outono de 1996: Michel Riaudel e Bené. A cunhada, Angelita Silva (Dadá). Encontros de Poesia, (que continuam a acontecer) na casa da Estrela: Max Martins, Benedito Nunes, Sônia Parente, M. Sylvia, Augusto Rodrigues, Lília Chaves, Andréa Sanjad, Gilberto Chaves. (Arquivo pessoal Lília Chaves). Maria Sylvia, Benedito e Lionel Vianna, França. Outono de 1996. (arquivo pessoal Maria Sylvia Nunes). da palavra 431 Palestra no CCFC - Centro de Cultura e Formação Cristã. (Foto Stella Pessôa). Bendito Nunes e Clóvis Malcher, no lançamentos dos “Diálogos” de Platão, UFPA. (Reprodução de Bendictus - UFPA). Prêmio Multicultural Estadão. São Paulo, 1998. 432 da palavra Recebendo o abraço de Rosa Assis: Patrono do IV Fórum Paraense de Letras da UNAMA, junho de 1998. (Arquivo pessoal Rosa Assis). Bené e Maria Sylvia, na biblioteca da casa da Estrela. (Foto de Elza Lima. Arquivo pessoal). Victor Pinheiro, Lília Chaves e um aluno, com Benedito, em Seminário no CCFC, Ananindeua. PA, 2008. Foto Luiz Braga. da palavra 433 434 da palavra
Download