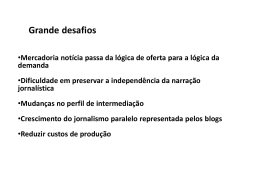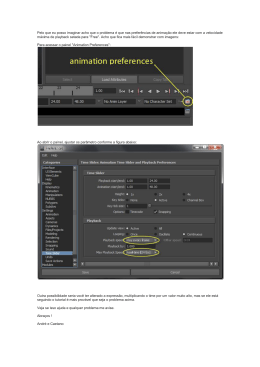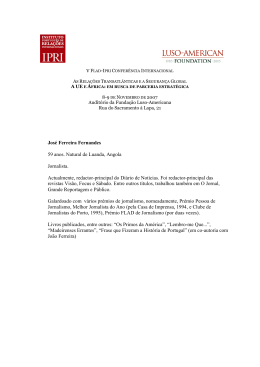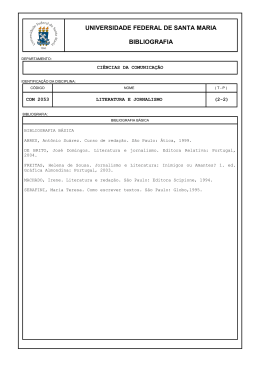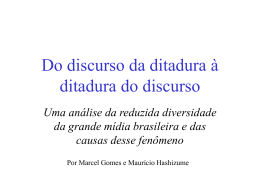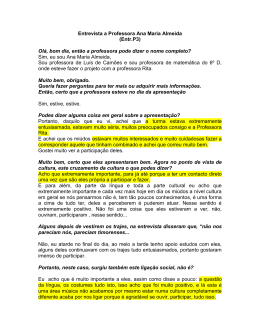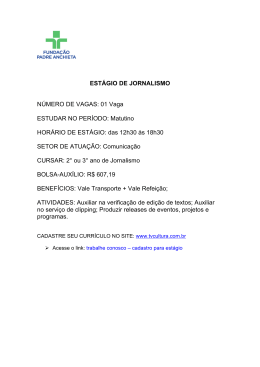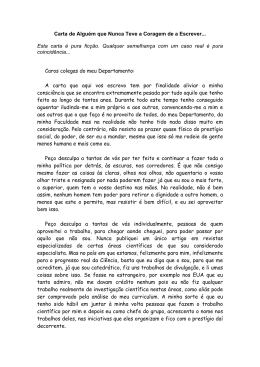Miguel Sousa Tavares A objectividade dos factos não se perde na expressão literária Palavras-Chave: objectividade, audiências, tribo jornalística, “Snob”, “Procópio”, sobre-individualidades, “Grande Reportagem”, SIC, TVI, “Público”. Após a formatura em Direito na Universidade Clássica de Lisboa, Miguel Sousa Tavares iniciou a carreira jornalística como estagiário na secção internacional de “A Luta”, jornal de combate do Partido Socialista. Faz uma primeira experiência no Telejornal da RTP, por pouco tempo. Sai e ensaia uma colaboração no Expresso e no jornal A Capital. Regressa à RTP, no Canal 1 e Canal 2, destacando-se durante seis anos no programa Grande Reportagem, que se prolonga na revista do mesmo nome, fundada por ele com outros companheiros do programa televisivo, que ficara para trás, passados seis anos. A revista não durou muito, o que o leva a afastar-se do jornalismo, por algum tempo. Mas não resistiu ao convite para director do semanário Sábado, que também não durou mais de seis meses. Em 1992 volta à televisão, agora na SIC, que acabara de nascer, admitindo que a consolidação económica do novo canal pudesse implicar um período de razoável condescendência na qualidade da programação, mas, quando vê que esse período se arrasta demasiado, acaba por entrar em rotura com Rangel e abandona a estação. Refunda então a revista Grande Reportagem, que dirige por dez anos e que tanto gosta de recordar: “é a maior medalha que eu tenho!” 8ova experiência, desta vez na TVI, reservando-se à função de comentador de Informação e desistindo de discutir a qualidade dos conteúdos da estação. Com a bagagem adquirida no jornalismo, Miguel consagra-se como escritor com o seu primeiro romance “Equador”, um best-seller editado em 2003, que já vende mais de trezentos mil exemplares em Portugal e que será a âncora duma nova carreira. 1 Do alto da sua casa no requinte da Lapa, mais torre de vigia que jardim suspenso sobre a cidade, tem debaixo dos olhos o vale de São Bento e o Parlamento dos deputados, sede das leis, que não se cansa de discutir e comentar. Em segundo plano, o casario do Bairo Alto e a Lisboa Antiga ligam-se à memória da Graça e à tradição da casa de família. O Tejo ali tão perto, majestoso e quente, enchendo Lisboa de azul, que ele apostou defender de atentados urbanísticos, do Pozor e dos contentores de Alcântara. E Almada, o começo do Sul, a outra banda da luta pelo ordenamento do território, de que Sousa Tavares é paladino em milhares 1 A sua estreia como escritor ficou datada com o livro “Sahara, a República da Areia” (1983), que nunca mais deixou de ser referenciado como uma grande reportagem jornalística. Da compilação das suas crónicas (no jornal “Público” e no semanário “Expresso”) resultaram dois livros marcantes da vida política portuguesa da década de noventa, “Um Nómada no Oásis” e “Anos Perdidos”. O livro de viagens “Sul” marca a viragem, se viragem há, entre o jornalista e o escritor de fôlego. Seguem-se dois livros de contos, “O Segredo do Rio”e “Não te Deixarei Morrer, David Crockett”. À data desta entrevista (2007) o “Rio das Pérolas” ainda estava em preparação. Foi editado nesse ano, com uma tiragem inicial de cem mil exemplares (vendidos …. mil até 2009) , beneficiando por arrastamento do sucesso do “Equador” (que já vendeu trezentos mil) . Em Julho de 2009, o autor lançou “No teu deserto”, outra vez cem mil exemplares na primeira edição, que se esgotou em três semanas. 1 de páginas decisivas. É uma ficha rica dum jornalista com perfil, respeitado e temido, criticado e citado, igual a si mesmo, inconformado e senhor de si. Avelino Rodrigues Escolheste o jornalismo ou foi daquelas coisas que acontecem na vida, sem a gente dar por isso? Não escolhi nada. Pode parecer ridículo, mas é mesmo verdade, era o meu sonho de infância, a primeira coisa que eu quis ser, desde que me lembro. Nem sequer tenho ideia de algum jornalista de referência. O meu pai não teve influência nenhuma, ele só foi para director do jornal “A Capital” quando eu já era jornalista. O meu sonho de miúdo era ser “foto-repórter”, como aqueles tipos da “Paris Match” Quando eras rapaz novo, participaste em actividades ligadas ao jornalismo? Sim, eu acho que sim, no liceu Gil Vicente havia uma espécie de jornal do liceu ou qualquer coisa e eu acho que cheguei a escrever para lá. Entraste no jornalismo por concurso, por relações pessoais ou por estágio académico? Para a “A Luta” entrei por relações pessoais; daí passei para a RTP, convidado para frequentar um curso de iniciação ao jornalismo televisivo, no Centro de Formação da RTP, um curso organizado com o apoio do Conselho da Europa, e que eu penso que foi o primeiro curso de jornalismo de televisão que se fez em Portugal. Era condição frequentar o curso com aproveitamento, para se poder entrar na empresa. Para ti, do ponto de vista social, a entrada para o jornalismo trazia-te alguma promoção… Não, antes pelo contrário. Mas o estatuto público quem mo deu foi a televisão, embora a televisão tenha sido um acidente na minha vida, como já disse, porque o que eu queria era escrecer num jornalzeco, mesmo que só fosse conhecido pelos amigos e por alguns leitores fiéis. A televisão fascinou-me, mas nunca tinha pensado nisso antes. 8esses órgãos de comunicação por onde passaste, havia praxes de iniciação ou rituais de passagem? Não sei ao que é que te referes. Eu comecei numa altura bastante criativa e riquíssima em termos de informação, que foi o PREC, em que o fluxo noticioso era tão intenso que não sobrava tempo quase para brincadeiras. Não sei, acho que a coisa mais engraçada que me aconteceu foi quando fui estagiar para o Telejornal e o meu chefe, o José Gabriel Viegas, disse que eu tinha de aprender como faziam os grandes jornalistas internacionais. Ora eles estavam todos no Tivoli e no Mundial, hospedados. A minha primeira missão foi ir para lá beber copos com eles, no que gastei o meu primeiro ordenado… Ao longo destes tempos ias aos copos e convivias com os teus colegas da redacção? Sim, durante muitos anos, e sobretudo durante os anos do programa televisivo “Grande Reportagem” eu era frequentador assíduo do “Procópio” e do “Snob”, jantava num ou noutro. Eu não era assíduo, era mesmo diário. Não se tratava de um grupo ad hoc, era uma tribo, uma tribo de jornalistas. Por exemplo, havia uma tradição à sexta à noite : quando fechava o Expresso vinha a malta toda para o “Snob”. Nos últimos tempos, perdi um bocado o espírito de tribo, mas alguns dos meus melhores amigos são jornalistas e vêm desde sempre. Viajamos, almoçamos, passamos 2 fins-de-semana, mas já não é tanto aquele espírito “vou ali para o bar dos jornalistas”, isso já não… E ao longo deste tempo, que imagem construiste da profissão, que ideia tinhas disto tudo? De facto, a imagem da profissão foi mudando e evoluindo e, na minha opinião, para melhor. A imagem que eu tenho dos jornalistas – não direi hoje, que hoje é um caso especial, os miúdos novos estão a ser chacinados, pura e simplesmente – digamos que, aí a partir de meados dos anos 80, ou dos inícios dos anos 90, o panorama começou a mudar para muito melhor. Quando eu entrei na redacção de A Luta, acho que havia dois tipos com um curso superior, eu era um deles e era o único que falava inglês. E eu já estava convencido de que isso eram ferramentas essenciais. Não se pode ser jornalista sem falar inglês! Eu lembro-me, por exemplo, de ir às conferências de imprensa no aeroporto, chegava um ministro americano ou qualquer coisa, estavam 20 colegas com o microfone estendido e não havia um que soubesse fazer uma pergunta em inglês, o que era uma coisa impressionante. E no capítulo de cultura geral os jornalistas eram muito fracos. É verdade que se ganhava pouco e havia muita acomodação. E curiosamente vou dizer outra coisa que não é politicamente correcta: eu achei que se trabalhava pouco no jornalismo, muito pouco realmente. O horário de trabalho era de seis ou sete horas interpoladas ou cinco sem intervalo. Sobretudo na RTP, aquilo era uma escola de preguiça instalada… Eu lembro-me de que no internacional da RTP tudo o que eu tinha de fazer em dias normais era uma notícia de dois minutos para o telejornal, que consistia em ir buscar o filme ao gabinete da Eurovisão, fazer a remontagem e gravar um texto sobre as imagens. Qualquer pessoa normal faria aquilo em meiahora e eu estava lá sete horas sem me darem mais nada para fazer. O perfil dos jornalistas mudou bastante, então? Mudou, eu fui vendo. Eu acho que a mudança tem dois momentos. Primeiro, no jornalismo escrito começam a aparecer pessoas com mais bagagem, mais preparação e a escrever melhor. Depois aparecem as televisões privadas, sobretudo a SIC, mas aí, a meu ver, a novidade começa primeiro pelos técnicos, ao nível de operadores de câmara e de operadores de estúdio, e depois é que começa ao nível de jornalistas propriamente. (Porque os grandes jornalistas estavam na RTP, que era a única estação que havia, e eles não saíram todos ao mesmo tempo, saíram poucos até). Eu lembro-me que tu nessa altura achavas que a qualidade na SIC não era uma prioridade inicial, mas que, uma vez assegurada a estabilidade da empresa, a qualidade seria imprescindível. É assim? Não dizia isso propriamente sobre a qualidade da Informação, era a da Programação. Eu acho que a SIC teve uma boa Informação, desde o início, com a limitação de não fazer grande- reportagem, por exemplo, porque não tinha dinheiro para isso. Pura e simplesmente não havia dinheiro. Agora eu acho, por exemplo, que a nivel de programas de debates em estúdio, em que eu tive a oportunidade de participar, acho que a SIC inovou brutalmente. A muitos níveis, inclusivamente na postura dos jornalistas perante os “poderosos”, que mudou radicalmente. Havia uma abordagem completamente diferente e o tipo de trabalho era muitíssimo mais profissional que o da RTP. E quanto ao público? Que imagem fazias do público, como é que tu te situavas perante o público? E como é que achas que a classe jornalística se situava? Eu acho que o público foi sendo formado, à medida que os jornalistas também o foram, até melhorarem. No início, a sensação que eu tinha era que o público não passava de pura abstracção. Ninguém sabia onde estava o público, quem era, como é que era composto… Eu senti muitas vezes que os jornalistas – aliás eu disse isso no 1º Congresso de Jornalistas, numa tese a meias com o José Barata Feio – os jornalistas escutavam-se tanto a si próprios que se esqueciam de 3 escutar os outros. Eu acho que nós não tínhamos noção de “feedback”, de maneira nenhuma. Era uma coisa que não existia, nem na televisão nem na imprensa escrita. Achava-se que se escrevia assim, que as ideias eram aquelas – e escrevia-se de manhã à noite sempre igual… Alem desse público dos jornalistas, tu pessoalmente tens uma experiência do teu relacionamento com o público… Mas na televisão eu dava a cara! Eu acho que a evolução é a seguinte: na primeira fase, a pessoa é conhecida na rua e nada mais do que isso. “Conheço este tipo da televisão”… A segunda fase é que, a partir de certa altura, eu comecei a perceber que muitos me conheciam mas só me falava quem gostava de mim. (E ainda bem: se é para insultar, é melhor não virem.) Portanto, nesse aspecto para mim foi um benefício, mas também representa uma melhoria do público. Eu acho que o público passou também a seleccionar. Hoje em dia as pessoas seleccionam os órgãos de informação e fazem “zapping” nas televisões durante os telejornais, quando não gostam. E portanto passou a haver uma escolha, passou a haver uma inter-relação entre o público e os Media, dantes não era tanto. Do teu lado, achas que essa presença do público, diante dos teus olhos, quando estás na televisão, influencia ou não aquilo que tu queres dizer ao público? Mas eu não vejo o público... Ninguém, que faz televisão e olha para uma câmara, vê o público. É uma abstracção total. Eu só realizava que as pessoas estavam a ver-me, no dia seguinte quando me falavam… Mas não falas para as pessoas? Abstrais-te completamente? Completamente. Mesmo se no dia seguinte me mostrarem as taxas de audiência e disserem que fiz 10 e tal por cento, é uma total abstracção, não quer dizer nada, não estou a ver as caras. Agora, basta que haja uma pessoa na rua que me diga “você ontem não sei quê”… aí eu vejo o público. Como se tivesse falado só para aquela pessoa. Vês hoje as audiências e ficas indiferente se elas baixam ou sobem? Felizmente é uma coisa que deixou de me interessar, há muito tempo, desde que saí da SIC. Sei lá, eu tenho 1,3 milhões de pessoas à terça-feira, porque estou no horário nobre do telejornal, mas, se estivesse a fazer uma coisa dez vezes melhor à meia-noite, teria um décimo dessa audiência. O melhor é não ligar a essas coisas... Tens consciência de que a tua participação no telejornal aumenta a audiência ou pelo menos aumenta essa apetência do público pelo telejornal? Eu não tenho consciência, sei as audiências. Mas, com toda a franqueza, o que está implícito no meu contrato com a TVI não é que eu aumente a audiência, é que aumente a influência ou, se tu quiseres, a credibilidade do jornal, que é uma coisa diferente. Porque, se fosse pelas audiências, eles poderiam ter lá pessoas que as aumentassem mais do que eu. Qual é a imagem que tu pensas que o teu público tem do órgão de informação onde trabalhas, que neste caso é a TVI? Em termos de informação, que é aquilo que me interessa, eu acho que infelizmente e injustamente a TVI vai demorar muito tempo a libertar-se da imagem de uma informação tablóide, o que hoje em dia, e estou a dizê-lo com toda a sinceridade, eu acho que não corresponde minimamente à verdade. Já correspondeu. Quando eu cheguei lá, acho que era muito assim, mas hoje em dia eu vejo os alinhamentos dos três jornais e não há diferença nenhuma e muitas vezes, quando há, é para melhor em relação à TVI. Mas essa imagem negativa ficou colada. E a gente sabe que a má publicidade demora muito tempo a passar. Por outro lado, criou-se um bocado a ideia de uma 4 estratificação social das audiências, ou seja, a ideia de que a classe A não vê o jornal da TVI e vai ver o da RTP, da SIC ou da SIC Notícias, a classe B e C é que vêem o jornal da TVI. Essa é a ideia do público. Que ideia faz o público dos teus trabalhos no Expresso e no Público? É muito cedo para saber, eu estou no Expresso há poucos meses. O que eu tinha era uma imagem do que era o meu público no jornal Público, onde escrevi durante 12 anos. E aí, eu acho que fica mal dizer isto, mas em números era brutal… Eu fazia parte da mobília do jornal. Tive acesso aos números e sei, por exemplo, que durante anos eu fiz vender o Público à sexta-feira mais 20% que na edição normal, com muitas pessoas a responderem ao inquérito a dizerem “eu compro à sexta só para ler o Miguel”. Eu acho que o público do Público anda pelos 50 mil leitores/compradores, o que equivale a 70 mil leitores, talvez. É excelente, acho que não há melhor público na imprensa em Portugal que o do jornal “Público”. Mas não aumenta nem mais um, são aqueles de há dez anos. E acho que, em relação a mim, também se passa muito isso. Eu costumava dizer ao meu editor quando comecei a publicar: «Tu contas sempre com 40 mil livros vendidos.». Porque eu tenho 40 mil seguidores fiéis que envelheceram comigo. São aqueles que eu chamo os meus leitores fiéis: eu estou na Grande Reportagem e estão aí comigo, eu mudo-me para o Público e eles lá estão, eu vou para o Expresso e eles vêm atrás. Eu acho que eles já criaram os mesmos defeitos que eu! Se calhar começaram por gostar das minhas qualidades e agora também gostam dos meus defeitos. Quer dizer, à medida que a gente vai envelhecendo, parece que às vezes a gente se identifica mais com os defeitos do que com as qualidades! São aquelas coisas que já não mudarão. É uma espécie de garantia de segurança. «Eh pá! Olha o Miguel é um tipo com mau feitio, não vai mudar!» Isto é uma coisa que dá segurança às pessoas. Eu acho que o meu público – e por isso é que eu tinha uma relação muito intensa com o Público – era muito igual à do próprio jornal, em relação a uma série de questões, em termos etários, em termos culturais, em termos de posicionamento ideológico, não digo político. Agora, só para te dizer isto, porque eu acho que te pode interessar, ao longo dos doze anos que eu estive no Público, da quantidade de cartas que eu recebi, de emails, de contactos, de tudo, havia uma frase recorrente que as pessoas me diziam sempre: «Eu passo a semana a pensar num assunto e chega à sexta e tu escreveste sobre isso!». E eu acho que esses são os tais que eu digo que até já se identificam com os meus defeitos. Eram capazes de adivinhar o que é que eu ia escrever na sexta-feira. Uma sintonia, é verdade. Miguel, não sei se podes responder a esta pergunta, mas, se no Público eras um sucesso, então por que saíste? Deveu-se a relações internas, digamos, entre mim e o director. UM APARTE DO E8TREVISTADOR: Eu acho um espanto. Devia ser difícil entrevistar um grande entrevistador, que conhece as regras todas, as surpresas preparadas, o “timing” da pergunta/resposta e, ainda por cima, pode ser descrito como uma “sobre-individualidade”, no sentido que lhe dá Edgar Morin, ou seja, uma daquelas vedetas em “constante representação no mundo”, que fazem na entrevista “um esforço tenso de elucidação de si”. Esta talvez seja uma das fragilidades do meu entrevistado, mas a entrevista foi muito fácil, porque ele aceitou o jogo, do princípio ao fim. Digamos que foi fácil ao entrevistador seguir o ritmo de uma entrevista semi-directiva, em que a sua função foi sobretudo provocatória, não no sentido da espectacularidade da entrevista de grande público, mas no sentido de provocar e ouvir a revelação de atitudes muito pessoais, que talvez tenham sido geradas espontaneamente e racionalizadas depois. O tempo da entrevista pode ser esse momento de catarse, em que o entrevistado se deixa ir, porque quer, no encantamento de tirar o véu que cobria seu mundo só, para oferecer-se ao outro, aos outros, num ritual fágico de comunhão/comunicação. Lembro outra vez Morin que, a propósito de certas entrevistas em 5 profundidade, a que chama “neoconfissões”, falava do “striptease da alma, feito para atrair a libido psicológica do espectador”. Estou a citar um texto de 1965, marcado pelo tempo – “L’ interview dans les sciences sociales et l’interview dans la radio, la télévision e le cinéma” – e nele me revejo como autor participante de uma “conversação aprofundada”, em que eu dialogava de fora (era esse o meu estatuto) mas não podia iludir a proximidade de pontos de vista, quando era o caso. Comecei por declarar a minha “espantação” como entrevistador deste momento singular e, à medida que fui descrevendo a minha perplexidade, encontrei a razão do que tinha feito, sem dar por isso. E o entrevistador trocou o distanciamento analítico por uma investigação de proximidade. Bem... Olhando agora para a nossa profissão de jornalistas, o que é que evoluiu positivamente na profissão e o que é que regrediu? Eu acho que o que evoluiu mais foi a preparação profissional dos jornalistas. Hoje em dia, quase todos têm uma licenciatura em qualquer coisa, que até pode ser péssima mas dá-lhes pelo menos uma bagagem de conhecimentos e um treino para ir à procura de conhecimentos. Quase todos falam línguas, é muito raro apanhar um tipo da nova geração que não fale inglês. Acho que, em contrapartida, o que regrediu brutalmente é que não há pessoas a formar jornalistas nas redacções. Não há tempo! Nas redacções que eu conheço, os chefes ou são incompetentes ou não têm tempo. O jornal não tem nem dinheiro nem tempo para formar um jornalista como deve de ser, para dizer, por exemplo: «Olha tu és um miúdo, nunca fizeste investigação, vais ficar três meses a investigar este dossier ou vou-te mandar a Espanha fazer isto, não resultou bem, voltas 2ª vez”... Eu acho que os miúdos saem das faculdades, chegam ali e são entregues às feras, são completamente abandonados. Na televisão, ainda é pior, porque a televisão é uma coisa muito técnica. Eu acho que a televisão é uma espécie de “state of art” do jornalismo, no sentido em que exige tudo. Exige capacidade de olhar, de escrever, de filmar, de montar, de jogar com os sons, quer dizer, é uma coisa complexa! E os tipos que nunca escreveram uma linha sequer na vida deles e se calhar nunca viram como é que se faz um plano, de repente são postos directamente em reportagem e a montar… 8ão havia cursos de jornalismo nem de televisão, mas a RTP tinha uma escola de formação dos seus quadros. Pois tinha, a RTP… Mas aquilo foi tudo ao ar. E a aprendizagem no terreno também foi ao ar. Por exemplo, eu trabalhei seis anos na Grande-Reportagem da RTP, que era um programa de 52 minutos e é capaz de ser a coisa mais complicada que há para fazer em televisão. Cada grande reportagem era um parto e, ao longo de 6 anos, tínhamos conseguido formar uma pequena escola de grandes repórteres…E não era fácil, porque às vezes o jornalista perdia meses a investigar e aquilo não dava nada, e então a gente via que o tipo estava a fazer mal e ajudava, com a nossa experiência. E essa escola perdeu-se, não houve sucessores, não passou, o programa acabou e lá foi tudo! Hoje em dia, quando eu vejo os directores de programação das televisões dizerem que vão avançar com um programa de grande reportagem, eu pergunto quem é que o faz, como é que aprendem, não é? Portanto aquilo que eu acho é que o jornalismo – que nisto não é diferente das outras profissões – deve ter um ciclo normal, em que as pessoas entram, formam-se, chegam a grandes repórteres, a redactores principais, por aí fora, e no fim da carreira ficam para ensinar aos mais que entrarem. Mas hoje em dia não há essa passagem de testemunho, nem em termos técnicos, nem em termos éticos e de valores da profissão... E eu vejo os miúdos a chegarem às televisões e o que eles querem é mostrar a cara no ecrã, é uma obsessão, e são capazes de estar a estagiar seis meses sem receber um tostão, em trabalho de escravos, só para depois dizer que apareceram no ecrã e porem aquilo no currículo. 6 Depois da tua passagem para o estatuto de escritor, sim porque isto é um novo estatuto… Eu não passei para escritor, fui passando… Foi acontecendo ao longo dos dez anos de direcção da Grande Reportagem, aquela revista trimestral que só tinha dois jornalistas, eu e outro, o resto eram colaboradores, a maioria estrangeiros. Eu tinha de fazer de tudo, escrevia, traduzia, paginava, fazia a edição dos textos de toda a gente e a, certa altura, eu não chegava para as encomendas, porque a edição era de 180 páginas! Cheguei a inventar três pseudónimos, escrevia na revista com quatro nomes, um deles só fazia uma banda desenhada... E depois habituei-me a fazer os títulos todos, as entradas, as legendas das fotografias, os destaques… Fui treinando várias formas de escrita e dei comigo a escrever com uma facilidade alucinante, sobretudo para quem tinha vindo da televisão onde, como sabes, se escreve muito pouco. Era do género de entrar um redactor na sala e dizer: «Eh,pá! Miguel, não consigo arrancar com o início deste texto, ajuda-me aí!». E eu olhava para o texto e pumba, pegava na caneta, na altura ainda era só caneta, e lá ia. E assim aos poucos fui criando essa facilidade de escrever, rapidamente e em abundância. E eu acho que às tantas eu já estava quase a escrever textos que eram mais literatura do que propriamente jornalismo, se calhar… Mas já fazias literatura, quando fazias notícias ou reportagens ou comentários jornalísticos? Mas se tu fores ver a revista, por exemplo grandes reportagens de oito ou dez páginas, boa parte já é literatura... Era um modo de escrever mais literário do que seria normal As pessoas gostavam. Aliás depois peguei numa quantidade de reportagens dessas sobre viagens que tinha feito e fiz um livro com elas. Não era propriamente aquele jornalismo que me tinham ensinado, factos e só factos rigorosamente… Digamos que a famosa objectividade dos factos não se perdia nessa expressão literária que tu lhe davas? Não, não, mas era anti-escola. Vejamos, vou fazer uma reportagem ao México e começo assim: «Estou sentado numa esplanada, na rua tal, a beber uma limonada. Não se passa nada aqui, não se passa nada no México.». Isto não é propriamente uma notícia, mas cria logo um ambiente. E o que eu fui fazendo foi meter factos dentro do ambiente. Aliás, eu acho que o meu primeiro romance, o “Equador”, é muito isso. Está carregado de factos e de informação que são diluídos no meio da ficção. Quer dizer, a certa altura há uma mistura de ficção com realidade – eu não digo que estivesse a fazer isso na “Grande Reportagem”, porque aí eu não inventava – mas a criação do ambiente para mim já era quase tão importante como os próprios factos. Já fazia literatura, mas nada disso pecava contra a objectividade. E agora com a liberdade de criação de quem escreve uma ficção como o “Equador”, qual é a preocupação da objectividade que ainda existe? Muita, tenho muita. Desvendando um bocadinho o véu, eu estou a escrever um livro agora, que a certa altura tem umas partes que se passam em Estremoz em 1920, eu fui investigar e todos os nomes que eu ponho ali são verdadeiros. O restaurante chamava-se tal, o hotel era assim mesmo, o chão que eu descrevo do hotel era igual, o corrimão era da maneira que eu digo, o que lá se comia era o que eu escrevo e as lojas à volta eram aquelas e não outras. E se tu me disseres: “É idiota, quem é o leitor que se lembrará de ir ver se em 1920 havia um “Café Pereira” em Estremoz?” Nenhum, provavelmente. Só algum velhote de Estremoz … Agora para mim, se calhar, é o tributo que eu devo ao jornalismo, a minha âncora. Para funcionar, preciso de me ancorar em coisas reais e, a partir daí, posso ficcionar. E ficcionas dentro dum contexto objectivo? Dentro do contexto. A partir do momento em que eu consegui saber o nome do hotel e ter uma descrição de como ele era, é muito mais fácil para mim imaginar-me lá dentro. “Picture yourself”, 7 como dizem os ingleses, imagina-te lá dentro. Agora, eu também podia inventar, a partir do nada. Mas, não sei porquê, – se calhar vem do jornalismo – dá-me uma segurança estúpida poder dizer “isto não é mentira, eu estou a contar uma verdade, o hotel era mesmo este, chamava-se assim, a entrada era assim, conhecido pela cozinha alentejana, sim senhor…” Eu não sei bem descodificar isto, mas perco um tempo brutal a investigar todo este processo, como deves imaginar... Para o “Equador” e muito mais para este novo livro, que se passa no Vale do Paraíba no Brasil, onde havia fazendas de gado e não sei quê…Eu já lá fui quatro vezes! Quatro, porque eu preciso de dormir uma noite numa fazenda, depois uma só não chega e vou ver outra, é assim… Como escritor, agarras-te à objectividade do ambiente, mas tens essa liberdade de criação dos factos, ao passo que no jornalismo... ...a notícia condiciona a liberdade de criação. Embora eu ache – e voltando um bocado atrás – que a minha experiência de jornalismo de autor, na GR, começou a acontecer um bocadinho em todo o lado. Por exemplo, tu pegas num Adelino Gomes, para não ir mais longe, e conhece-se logo a escrita dele, é o mesmo com a Clara Ferreira Alves. Passou a haver um jornalismo de autor que, independentemente da credibilidade que um jornalista merece ou não pela verdade dos factos que conta, tem a sua uma marca de escrita. Como o Ferreira Fernandes, por exemplo, tem uma marca de escrita, que é uma espécie de impressão digital. É isso que eu chamo jornalismo de autor. Eu achei a certa altura que estava um bocado esgotado o jornalismo completamente factual e que nós podemos continuar a ser rigorosos com os factos, sem perder a liberdade de criação e de escrita que enriqueça o jornalismo. Se não fosse assim, o jornalismo escrito não sobreviveria. Se tens noticiários na rádio a qualquer hora, na Internet a qualquer minuto e na televisão várias vezes ao dia, quem é que vai ler as notícias num jornal, se forem iguais em todos os jornais? Portanto, aí o que vale é a marca de água de quem escreve. E também há uma marca de água do jornalismo, que te tenho visto distinguir das publicidades e dos trabalhos de assessoria... E não esquecer as empresas de comunicação…O Carrilho levou anos a descobrir o perigo! Eu pessoalmente sempre as achei muito perigosas. Eu saí do Sindicato dos Jornalistas quando o Letria foi eleito Presidente, porque ele tinha uma empresa dessas e simultaneamente tinha responsabilidades num partido político. Eu achei que eram os dois pecados mortais do código ético da profissão… Mas como jornalista não eras bem pago? Pessimamente! Só comecei a ser bem pago quando fui para a SIC – e já levava em cima talvez uns 15 anos de jornalismo. Vais voltar ao jornalismo profissional? Não sei… tenho muitas saudades de fazer reportagem, muitas, muitas, muitas. Dirigir um jornal não, isso acho que não. Imagina um jornalista com a profissão estabilizada e compara-o com outras profissões, em termos de estatuto social… Eu acho que, em termos sociais de acreditação, de prestígio, o jornalismo subiu muitíssimos degraus desde que eu vim para a profissão. Não está ainda entre aquelas profissões que eu considero mais prestigiantes, está abaixo dos médicos, dos juízes, dos professores universitários, dos advogados, dos engenheiros, dos arquitectos, está abaixo dos escritores, se quiseres, está abaixo dos futebolistas, está abaixo de muitas outras… 8 Mas há uma sobrevalorização popular do estatuto de jornalista… Há, isso há…e essa imagem, aliás, foi responsável por milhares de erros de “casting” de miúdos, que foram para o jornalismo só porque era moda. Vieram atraídos atrás de uma quimera, estupidamente! Eu conheci casos de miúdos, a quem me apetecia dizer: «Ouve lá, tens 20 anos, muda agora, que ainda estás a tempo, não estás aqui a fazer nada, este não é o teu mundo». E esses vêm todos com a obsessão de chegar à televisão, que é uma coisa quase doentia, queimar etapas e chegar lá acima para ter a cara num ecrã... Como é que foram as tuas relações com as hierarquias da empresa? Boas e más. Eu acho que nunca tive um feitio fácil para as hierarquias. Em contrapartida também acho que tinha uma qualidade – embora não fosse muito fácil de ver – é não ter nenhuma ambição de poder, sempre odiei ser chefe, a não ser na GR, porque aí era muito criativo, realmente eu peguei naquilo e, mais do que mandar ou chefiar, o que eu fazia era criar, dirigir uma criação, digamos assim. De resto, nunca gostei de ter responsabilidades de comando e nunca invejei quem as tinha, pelo contrário. Voltemos à empresa jornalística, que, não sei se concordas, faz parte do nosso contexto de produção do jornalismo. Claro, claro. Eu não me posso queixar muito, sinceramente. Acho que, a nível de donos de empresas jornalísticas, conheci bons patrões e péssimos patrões de imprensa. Cheguei a ser despedido por um sujeito que nem sabia que negócio é que estava a fazer...Tive outros que tinham sensibilidade para as coisas. Onde eu tive relações que me frustraram bastante foi quando dirigia a GR durante dez anos e perceber que aquilo era quase indiferente para os donos, a Lusomundo, que não faziam ideia do trabalho que aquilo dava, o esforço que a gente fazia, inclusivamente para não perder dinheiro. E tenho a consciência plena até hoje de que isto é um mundo de “cavalheiros”, ou seja, hoje tu és porreiro e tens 12% da audiência e as pessoas gostam de ti, mas amanhã passas a ver mal de um olho ou ficas mal no ecrã, adeus e boa tarde e vais à vida. É cruel, acabou tudo num minuto! E não há cá indemnizações nem jantares de homenagem nem despedida, nada! É mesmo assim! Nós somos bons enquanto interessamos; se deixamos de interessar, paciência, vamos embora. Miguel, fala-me do teu relacionamento com as fontes, pessoais e institucionais, dentro desse teu percurso jornalístico… Isso, para mim, foi sempre uma questão muito difícil. Não quer dizer que eu não tenha regras claras sobre isso, mas é difícil de gerir no caso concreto, por exemplo, quando nos tornamos amigos de pessoas poderosas. Porque acontece, um tipo passa anos a falar com políticos, com autarcas, com grandes empresários e, de facto, há pessoas boas e interessantes em tudo e acabamos por criar relações de amizade. Depois é muito difícil gerir isso, é muito complicado, quando isso toca com o lado profissional. Eu acho que, embora 99% das pessoas sintam que comigo não podem confundir as duas coisas, às vezes tentam fazê-lo. Mais do que ter fontes propriamente, eu tenho é uma quantidade de gente que se oferece para fonte. Desde que ganhei esse estatuto de “opinion maker”, quando um ministro vai sair com uma lei “importantíssima” – e isto qualquer que seja o governo – a coisa que ele mais quer é almoçar comigo. E aqui é uma gestão difícil, até de boas maneiras, quer dizer, um tipo não pode dizer, e nem é por ele ser ministro, “olhe não me apetece almoçar consigo”. Por outro lado, do ponto de vista profissional, também não posso dizer que o assunto não me interessa, teoricamente tem de me interessar tudo o que diz respeito ao país. É uma situação complicada. A última que me lembro foi há poucos meses, há aí um projecto, mais um, de dar cabo da beira-Tejo, encher aquilo de contentores do Porto de Lisboa, enfim uma causa que eu já sigo há anos… E eu vi no jornal que o presidente da 9 Câmara estava contra isso, que estava para rebentar uma guerra. Agarrei no telefone, liguei para ele e pedi-lhe que mandasse a informação toda, que “eu quero cair em cima desses gajos”. E ele mandou aquilo, todo radiante, “bestial, tenho aqui um aliado”. Mas amanhã ele é capaz de me telefonar, sei lá, a pedir apoio para outra coisa qualquer. E aí é que eu digo que a gestão é complicada! Como jornalista, nunca tiveste problemas com os assessores dos ministros e das empresas? Tive. Quer dizer, eu sou muito mal-educado com eles! Há tempos telefonou-me o assessor do Melo, da Brisa, queria almoçar comigo para me vender aquela história da concentração da Brisa com as Auto-estradas do Oeste e não sei quê e eu disse mesmo: «Olhe lá, eu estou contra, não é um almoço que vai mudar a minha opinião e não vejo interesse nenhum em irmos almoçar». E o senhor ficou assim atarantado, nunca lhe devem ter dito isto assim tão brutalmente e disse-me: «Ah, mas o Sr. Melo tinha muito prazer em almoçar consigo e tal…» E eu: «mas ele com certeza é um homem muito ocupado, eu também sou e sobre esse assunto não vale a pena, porque eu não vou mudar de opinião.». Depois, digo sempre, se quiserem mandar a informação, a morada é esta, o mail é este, mandem o que quiserem…. E alguma vez te sentiste pressionado? Muitas vezes, muitas, muitas, muitas, muitas, pressões subtis e não subtis, variadíssimas. Pressões mais pessoais do que propriamente económicas. Mas, da parte de entidades patronais, já me senti nos bons (maus) velhos tempos… Safaste-te? Safei-me. Quer dizer… Contava-se na RTP que um dia entraste no gabinete do presidente da RTP, que eu até sei quem é mas não digo, conta-se que lhe disseste: «Olhe, enquanto você estiver aqui, quero uma licença sem vencimento …» Sim senhor… e hoje em dia é um grande amigo meu. Já o era, eu tinha estagiado com ele como advogado, ele era um grande amigo do meu pai… Já agora, eu não entrei pelo gabinete adentro, mandei-lhe uma carta mesmo: “Quero uma licença sem vencimento para durar até ao dia seguinte em que vossa excelência seja Presidente da RTP e o Duarte Figueiredo seja director de Informação”. E ele reagiu o pior possível, quis pôr-me um processo disciplinar, andou aí às cabeçadas…Mas saí mesmo na altura. Esse foi um bom conflito... foi, foi. A propósito das tuas relações com as técnicas e com as tecnologias… Quando começaste também escrevias à mão, como a maior parte de nós ? Desculpa, comecei logo a escrever à máquina, por acaso. Terrível! Só escrevia praticamente com dois dedos, ficava com os dedos entalados nas teclas, aquilo não dava jeito nenhum… E o telefone? Quando estavas metido na profissão jornalística, o telefone era um bom instrumento de trabalho, sabias utilizá-lo? Eu nunca gostei de telefones, ligava pouco, muito pouco… Depois foram os gravadores, usei-os sempre sem grandes problemas… dos antigos, os de fita e os de cassette, não é destes agora digitais. Nas grandes entrevistas jornalísticas ainda hoje uso um gravador antigo, sempre dos antigos. O telemóvel sim, rendi-me ao telemóvel. Depois veio o computador... Eu acho que o computador me salvou a vida! Não me custou nada a habituar-me. Quando saí da “Grande Reportagem” tinha uma secretária que me batia os textos todos e ela apostou que eu não 10 me ia habituar. Mas foi rapidíssimo mesmo. Salvou-me a vida porque eu hoje em dia sou um “stringer”, digamos assim, um colaborador externo, escrevo para dois lados e faço comentário político numa televisão e, onde quer que esteja, levo o portátil atrás e ando com o escritório às costas, que é um luxo fantástico dos novos tempos. É curioso: eu consigo escrever muito mais tempo seguido no computador do que antes com caneta e à mão. Cansa-me menos, mesmo fisicamente. Hoje em dia o que me custa mesmo é escrever à mão. Às vezes nem conheço a minha própria letra. Todavia tem uma coisa engraçada: se eu for fazer uma conferência ou uma palestra (que é raro ir, porque não gosto nada), aí escrevo tudo à mão, não sei porquê. É a única altura em que eu escrevo à mão. Esquisito, não é? Uma organização de pensamento diferente. E a Internet? A Internet, para além do serviço de mail que é decisivo hoje em dia, não uso tanto como gostaria, como devia, porque tenho um problema de estabilidade da Internet no meu computador, que eu nunca quis resolver, porque não quero mudar de computador, tenho o mesmo de sempre, toda a gente me diz que está podre e qualquer dia rebenta e eu perco tudo o que lá tenho, mas eu não me preocupo, já experimentei outros e gosto mais deste. Achas que estas novas tecnologias estão a mudar o modo de fazer jornalismo? Eu acho que sim, estão muito. E não é só isso, os telefones por satélite, o envio de imagens à distância instantaneamente, as televisões com ligação ao satélite que emitem onde quer que tu estejas, em termos de reportagem televisiva é uma coisa brutal, … Eu estou à espera do dia em que eu pegue numa malinha e instale o meu emissor para televisão e eu próprio faça a emissão, onde quer que esteja. Vamos falar de problemas de ética e deontologia jornalística. Houve mudanças? A sensação que eu tenho é a de que, tirando algumas ilhas onde há jornalistas com formação sólida, o resto é um mundo subterrâneo, onde se passam algumas das maiores vilanias. A gente nem dá por elas ou prefere nem se meter lá dentro e… “já dei para esta guerra”. Há locais e coisas em que não há regras, nenhumas, pura e simplesmente. Concordas com alguns que dizem que a ética e a deontologia profissional faziam parte da cultura jornalística? Eu acho que sim. Eu acho que nenhuma profissão pode funcionar sem um código ético, porque é uma regra de salvaguarda para fora, mas sobretudo para dentro, para evitar que isto seja uma selva. Eu acho que hoje em dia há práticas jornalísticas que são de verdadeira selva. Já me disseste por que é que tinhas saído do sindicato. E o que é que tu achas da necessidade de haver organizações profissionais? Fui sempre contra, ultimamente já não sei! Mas isso tem a ver com uma reflexão mais profunda sobre o papel dos sindicatos hoje na vida pública, não só em Portugal mas lá fora também. Eu acho que tem havido uma total ausência de reflexão, mesmo com os factos à vista. No outro dia estava a almoçar com o Carvalho da Silva e dizia-lhe isso, todos os anos há menos trabalhadores sindicalizados e isso devia-vos levar a pensar nalguma coisa, o que é que está mal, o que é que está errado, não podem continuar a funcionar como se o mundo fosse o mesmo. E eu vou-te dizer uma coisa, eu acho que não sei o nome do Presidente do Sindicato dos Jornalistas… É o Alfredo Maia? Vá lá, acertei! Não faço ideia há quanto tempo lá está, suponho que há 20 anos... Não tanto, estás a dizer que é menos? Ninguém sabe nada do sindicato. Dantes não era assim. Quando fui para o jornalismo, o sindicato era uma entidade, um tipo respeitava. A primeira coisa que eu fiz no primeiro dia que eu entrei numa redacção foi sindicalizar-me. Para mim uma coisa não passava 11 sem a outra... Mas hoje acho que o sindicato falhou muito no campo deontológico. Numa apreciação pessoal, eu acho que o reinado do Mascarenhas foi pernicioso, completamente. Detiveram-se com coisas que não tinham grande importância, tentaram travar guerras que não interessavam e deixaram passar ao lado as que eram verdadeiramente importantes. Por exemplo, eu lembro-me que tinha um programa na SIC que era o “Terça à Noite”, em que as pessoas telefonavam durante o programa e votavam na questão em debate: “Você é a favor do aborto livre ou não é? ”. A guerra que o Mascarenhas me fez! ... que isto era uma coisa antideontológica, que fazíamos passar como sondagem o que não era sondagem…E eu expliquei-lhe: «não é uma sondagem, a gente avisa que não é uma sondagem, mas as pessoas gostam de interagir com o programa, isto é o futuro. E era bater em ferro frio. Ora vê lá tu de então para cá o que isto avançou… neste momento estamos a discutir o aproveitamento das reportagens de televisão dos espontâneos, que filmam um desastre e vendem às televisões… Sindicato versus ordem, o que é que tu achas? Não sei, eu acho que talvez pudessem coincidir os dois em campos diferentes. Acho que o Sindicato talvez pudesse, uma vez que não evoluiu para outra coisa, ficar estritamente com as questões socioprofissionais, ao passo que a Ordem ficar com outro tipo de questões… Já não vejo o Sindicato ser capaz de evoluir. Alguma vez fizeste greves? Fiz. Fiz a primeira greve da história da RTP. Aquela dos 99,9 por cento, mas que não conseguiu parar a emissão. Foi a única até hoje, não foi? Mas ganhámo-la! Alto, espera aí, a greve começou por uma questão estritamente jornalística, o dr. Proença de Carvalho decidiu que a RTP não podia cobrir as eleições presidenciais, pensando que os jornalistas não davam garantia de isenção e eram todos pró-Eanes contra o Sá Carneiro. Era a opinião dele. E ao fim de três dias, fomos para o Provedor de Justiça, fomos para o Conselho de Imprensa, fomos para não sei onde e entrámos em greve e ele recuou. Os Conselhos de Redacção eram importantes nas redacções... Mas agora não sei. Acho que há sítios em que têm força (como no Público) há outros em que nem sequer existem, e há outros onde são extensão dos directores e fomentados por eles. E perderam a adesão das redacções, sobretudo dos mais novos, porque, infelizmente o excesso de oferta do mercado de trabalho deu que os miúdos que entram sejam tipos que vivem amedrontados e que querem sobretudo defender o seu lugar e não são sensíveis a essas coisas que podem pôr em causa as hierarquias. Miguel, consideras compatível ou incompatível com o exercício do jornalismo a militância partidária? Considero totalmente incompatível. Não mudei de ideias. Há quem diga que até o exercício do voto seria incompatível… Isso não. Um tipo também não pode estar desobrigado de qualquer responsabilidade cívica. E a acumulação da vida jornalística com outras actividades profissionais? Depende. Ser assessor de um ministro, trabalhar para o Estado, para partidos políticos, grandes empresas, sei lá, acho totalmente incompatível. Mas ser juiz, ser membro das Forças Armadas ou do Corpo Diplomático, não sei, é difícil dizer-te… Mas se calhar, o jornalismo devia ter declarações de interesses particulares, isto é, uma pessoa chegava à redacção e dizia: «Eu tenho outro emprego, que é isto, eu acho que pode haver conflitos de interesse nesta área, vamos lá ver isto”. 12 Vamos aos teus hábitos culturais e à tua forma de lazer… como é que é? Eu não chamo lazer, eu acho é que tenho uma profissão que me dá 24 horas de prazer, um deles é ler a imprensa, que é uma coisa que eu faço desde miúdo, um hábito talvez desde os 7 anos. Lês os jornais de que gostas ou os jornais de que precisas? Começo pelos que gosto e depois leio os que preciso. Mas gasto 3 horas por dia seguramente, ou 4, a ler jornais e revistas. Nacionais e estrangeiros. Livros leio muito, sobretudo ficção e história Vais ao cinema e ao teatro? E a televisão? Teatro e cinema, muito pouco, hoje em dia. Televisões vejo todas, mas só a Informação e o futebol, além do ténis, às vezes. Viajas muito, já sei, mas é por razões profissionais, não é? Eu viajo juntando as duas coisas. Não sou capaz de ir de férias, sem aproveitar para trabalhar. Frequentas algumas actividades, algumas colectividades, tertúlias, de natureza cultural, desportiva, outras? Não. 8o teu trajecto ideológico, ao longo da tua vida, achas que houve uma evolução entre esquerda-direita ou vice-versa? Não. O meu trajecto ideológico vem de sempre, a minha ideologia é a mesma, desde os meus 18 anos. Às vezes chego a pensar se não serei um caso estúpido. Quando vejo maoistas a Presidentes da Comissão Europeia, fico a pensar que alguma coisa deve estar errada. Só que eu, desde os dezoito anos que sou social-democrata, mas social-democrata sueco, não propriamente à portuguesa. Como é que tu encaras a clivagem habitualmente estabelecida entre esquerda e direita? Algo que continua a fazer sentido e que não desapareceu, ao contrário do que as pessoas dizem. Continua a fazer sentido, o que há é pessoas de direita que nalguns casos seriam de esquerda e vice-versa. Que importância tem a religião na tua vida? A religião? Nenhuma. Mas achas que a religião é um fenómeno cultural com influência na vida das pessoas? Eu acho que a religião influencia terrivelmente. Cada vez concordo mais com o Marx quando ele dizia que a religião é o ópio do povo. E quando eu digo religião, não é só as religiões de fé, acho que há muitas formas de religião, uma delas é este patriotismo com o futebol, a que estamos a assistir. E eu, que gosto de futebol e gosto muito de Portugal, acho que é uma forma de religião, inspirada por um fanático religioso, que é o Scolari. E fizéssemos um balanço desta entrevista, afinal um balanço do que foi a tua vida de jornalista, agora que és mais escritor... Não estou arrependido de ter sido jornalista, não. Acho que fui um privilegiado, tive muita sorte nos “timings”, comecei a fazer jornalismo quando houve liberdade de imprensa, portanto havia tudo para descobrir, inclusivamente como é que se fazia jornalismo em liberdade. Conheci a 13 revolução tecnológica nas televisões, conheci a cor na televisão, conheci tudo isso… Tive a sorte de fazer sempre o que queria, alternando, umas vezes fazia debates de política nacional, outras vezes grandes reportagens no estrangeiro e acho que devo tudo ao jornalismo. Mas a tua carreira jornalistica é bastante atípica, não achas? Talvez sim, tenho consciência disso. Isso tem a ver muito contigo ou tem a ver com o teu berço? Porque, ouve lá, que influência é que tem, como jornalista e como escritor, teres sido filho do teu pai e da tua mãe? Pois, isso é genético, talvez tenha tido influência. Agora, eu fiz por isso, digamos que há uma parte de mérito, acho eu, e outra que é de sorte. Eu tive o mérito de procurar o que queria desde o início, eu vim para uma coisa que queria conscientemente, nunca quis ser outra coisa, sou jornalista desde miúdo. E procurei sempre e sempre fazer o jornalismo que queria. A sorte foi que encontrei as oportunidades, porque às vezes procura-se e não se encontra. Nem sempre foi óbvio, por exemplo tive dois conflitos na RTP, que me forçaram a sair dois anos, ao passo que muita gente ficou para lá a “giboiar” nas prateleiras, eu não, isso era do meu feitio e, quando me encostaram à prateleira, fui-me embora, fui fazer outras coisas. No essencial, quando procurei, tive sorte, encontrei. 14
Download