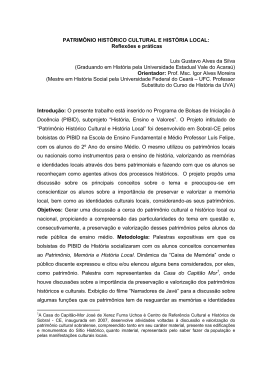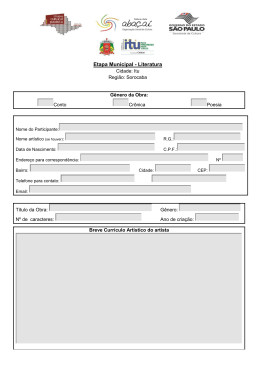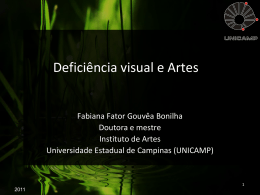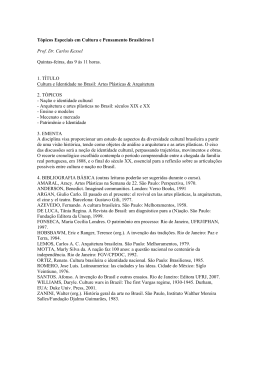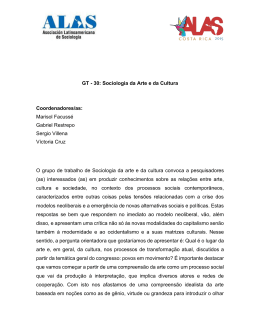Nome: Nº: História 2º ano Texto de apoio 2 Turma: Teresa mai/09 “O Patrimônio em Processo” ‐ Maria Cecília Londres Fonseca Rio de Janeiro, UFRJ, 2005, Pag. 35 ‐ 50 TEXTO DE APOIO 2 CAPÍTULO 1 O PATRIMÔNIO: UMA QUESTÃO DE VALOR Não importa quais sejam os direitos de propriedade, a destruição de um prédio histórico e monumental não deve ser permitida a esses ignóbeis especuladores, cujo interesse os cega para a honra. (...) Há duas coisas num edifício: seu uso e sua beleza. Seu uso pertence ao proprietário, sua beleza, a todo o mundo; destruí‐lo é, portanto, extrapolar o que é direito. A questão dos patrimônios históricos e artísticos nacionais costuma ser abordada tendo como foco o conjunto de objetos que os constituem, ou, quando muito, os discursos que os legitimam. Neste trabalho, o centro da investigação serão os processos e as práticas de construção desses patrimônios, conduzidos por atores definidos e em circunstâncias específicas. São essas práticas e esses atores que atribuem a determinados bens valor enquanto patrimônio, o que justificaria sua proteção. Nesse sentido, é a noção de valor que servirá de base a toda a reflexão aqui desenvolvida, pois considero que são esses processos de atribuição de valor que possibilitam uma melhor compreensão do modo como são progressivamente construídos os patrimônios. Na medida em que um dos traços que diferencia as sociedades simples das sociedades complexas é a existência, nestas últimas, de um aparelho estatal, com regras próprias e maior ou menor autonomia em relação aos diferentes grupos sociais e, consequentemente, à distinção entre memórias coletivas diversificadas e uma memória nacional, neste capítulo procuro analisar o modo específico de construção do universo simbólico dos patrimônios culturais nacionais: a sua constituição, a partir de um estatuto jurídico próprio, a sua proposição, como uma forma de comunicação social, e a sua institucionalização, enquanto objeto de uma política pública. No artigo “A história da arte”, Giulio Carlo Argan* parte de uma distinção entre coisa e valor ‐ que servirá de base para a discussão, neste capítulo, da noção de patrimônio. Uma vez que as obras de arte são coisas às quais está relacionado um valor, há duas maneiras de tratá‐las. Pode‐se ter preocupação pelas coisas: procurá‐las, identificá‐las, classificá‐las, conservá‐las, restaurá‐las, exibi‐Ias, comprá‐las, vendê‐las; ou, então, pode‐se ter em mente o valor; pesquisar em que ele consiste, como se gera e transmite, se reconhece e se usufrui (1992a, p. 13). Essas duas maneiras de abordar os fenômenos artísticos ocorrem também no tratamento dos chamados bens patrimoniais. É próprio das políticas de preservação estarem voltadas para as coisas e mesmo serem absorvidas por elas. A necessidade de resistir a pressões no sentido da destruição (tanto por fatores naturais como humanos), aliada à responsabilidade, inclusive penal, do Estado e de eventuais proprietários, em relação aos bens tombados, faz que o objetivo dessas políticas acabe se reduzindo à proteção de bens, convertendo‐se assim as coisas no objeto principal da preocupação dos atores envolvidos. Consequentemente, o valor cultural que se atribui a esses bens tende a ser naturalizado, sendo considerada sua propriedade intrínseca, acessível apenas a um olhar qualificado. Essa costuma ser a visão do técnico, do restaurador, dos responsáveis, enfim, pela conservação da integridade material dos bens, mas termina por predominar também entre os formuladores daquelas políticas. Entretanto, considero que uma política de preservação do patrimônio abrange necessariamente um âmbito maior que o de um conjunto de atividades visando à proteção de bens. É imprescindível ir além e questionar o processo de produção desse universo que constitui um patrimônio, os critérios que regem a seleção de bens e justificam sua proteção; identificar os atores envolvidos nesse processo e os objetivos que alegam para legitimar o seu trabalho; definir a posição do Estado relativamente a essa prática social; e investigar o grau de envolvimento da sociedade. Trata‐se de uma dimensão menos visível, mas nem por isso menos significativa, das políticas de preservação. No caso dos patrimônios históricos e artísticos nacionais, o valor que permeia o conjunto de bens, independentemente de seu valor histórico, artístico, etnográfico etc., é o valor nacional, ou seja, aquele fundado em um sentimento de pertencimento a uma comunidade, no caso a nação. Como observa José Reginaldo Gonçalves (1990), esses bens viriam objetivar, conferir realidade e também legitimar essa “comunidade imaginada”. Essa relação social, mediada por bens, de base mais afetiva que racional e relacionada ao processo de construção de uma identidade coletiva – a identidade nacional – pressupõe um certo grau de consenso quanto ao valor atribuído a esses bens que justifique, inclusive, o investimento na sua proteção. No caso dos patrimônios, essa capacidade de evocar a ideia de nação decorreria da atribuição, a esses bens, de valores da ordem da cultura – basicamente o histórico e o artístico. A noção de patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a ideia de nação, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, e foi precedida, na civilização ocidental, pela autonomização das noções de arte e de história. O histórico e o artístico assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental e passam a ser utilizados na construção de uma representação de nação. Já dizia Guizot, no século XIX, que o solo da França é simbolizado por seus monumentos. Enquanto prática social, a constituição e a proteção do patrimônio estão assentadas em um estatuto jurídico próprio, que torna viável a gestão pelo Estado, em nome da sociedade, de determinados bens, selecionados com base em certos critérios, variáveis no tempo e no espaço. A norma jurídica, nesse caso, funciona como linguagem performativa de um modo bastante peculiar: não apenas define direitos e deveres para o Estado e para os cidadãos como também inscreve no espaço social determinados ícones, figurações concretas e visíveis de valores que se quer transmitir e preservar. A seguir, com base na ideia de patrimônio tal como é formulada em textos jurídicos brasileiros,1 vou procurar especificar o modo como, no Brasil, se constituiu essa noção enquanto fato jurídico e fato social. 1 Proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte. 1.1 A NOÇÃO DE PATRIMÔNIO COMO CATEGORIA JURÍDICA Em termos jurídicos, a noção de patrimônio histórico e artístico nacional é referida pela primeira vez no Brasil (embora não exatamente com essa denominação) como sendo objeto de proteção obrigatória por parte do poder público, na Constituição de 1934. Diz o art. 10 das disposições preliminares: Art. 10 ‐ Compete concorrentemente à União e aos Estados. É, no entanto, somente com o decreto‐lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que se regulamenta a proteção dos bens culturais no Brasil. Esse texto, além de explicitar os valores que justificam a proteção, pelo Estado, de bens móveis e imóveis, tem como objetivo resolver a questão da propriedade desses bens. Desde então, todas as Constituições brasileiras têm ratificado a noção de patrimônio em termos de direitos e deveres, a serem observados tanto pelo Estado como pelos cidadãos. A primeira linha de reflexão que desenvolverei diz respeito à questão do valor. Em todos os textos jurídicos, é o valor cultural atribuído ao bem que justifica seu reconhecimento como patrimônio e, consequentemente, sua proteção pelo Estado. A segunda linha de reflexão – vinculada à primeira – remete especificamente à questão da propriedade, crucial nas implicações práticas do instituto do tombamento, sobretudo quando consideramos que a maior parte dos bens que compõem os patrimônios, e, certamente, os mais significativos, são bens arquitetônicos. Na medida em que são considerados de interesse público, os bens tombados se convertem, em certo sentido, em propriedade da nação, embora não percam seu caráter de mercadorias apropriáveis individualmente. O instituto do tombamento – dispositivo por meio do qual, no decreto‐lei n° 25, de 30 de novembro de 1937, se efetiva a proteção de bens culturais pelo Estado no Brasil – incide sobre o sistema de valores dos bens por ele atingidos e sobre o estatuto da propriedade desses bens de forma peculiar, específica. Para entender essa especificidade, é preciso retomar a distinção referida por Argan entre coisa e valor. Do ponto de vista jurídico – e para fins de regulamentação do direito de propriedade –, tanto o Código Civil como o Código Penal brasileiros distinguem bens materiais, ou coisas, de bens imateriais. O Direito das Coisas, no Código Civil, “trata da coisa, enquanto valor econômico apropriável individualmente, e de suas relações privadas” (Castro, 1991, p. 25). Distingue a coisa, apropriável, dos bens imateriais, não econômicos, que, no dizer do jurista Clóvis Bevilacqua, “são irradiações da personalidade que, por não serem suscetíveis de medida de valor, não fazem parte de nosso patrimônio” (apud Castro, 1991, p. 34). Esses bens imateriais, ou valores, são objeto específico, por exemplo, do Título III do Código Penal de 1940. Do ponto de vista jurídico, são inapropriáveis individualmente – à diferença dos bens materiais – e a relação dos indivíduos com esses bens se expressa juridicamente sob a forma de direitos: o direito à liberdade, à vida, à instrução etc. Nessa linha se inscreveriam também os direitos culturais, mencionados no art. 215 da Constituição de 1988 e reconhecidos pela Unesco, desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 0 direito, portanto, além de ter por objeto interesses que se realizam dentro do círculo da economia, volta‐se também para interesses outros, tanto do indivíduo quanto da família e da sociedade. São os direitos metaindividuais, que têm como titular não o indivíduo, mas uma coletividade mais ou menos abrangente. Entre esses interesses, figura o interesse público de que fala o art. 11 do decreto lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Pelas características do sujeito desse tipo de interesse indeterminado (a sociedade nacional, a humanidade etc.) – do seu objeto – fluido (a identidade nacional, a qualidade de vida, o meio ambiente etc.) e, também, pela intensa litigiosidade de seus parâmetros e pelo caráter mutável de seu conteúdo (cf. Mancuso, 1991, p. 67‐80), o interesse público se insere na categoria dos interesses difusos. O próprio direito à propriedade – enquanto direito do indivíduo, consagrado pelo Direito romano, fonte para o Direito brasileiro ‐ é, no Código Civil Brasileiro, limitado pelo que seria a função social da propriedade, regulamentada pela legislação. Nesse sentido, o exercício do direito de propriedade sobre as coisas não se pode contrapor a outros valores não‐econômicos de interesse geral, e, por isso, o exercício desse direito é tutelado pela administração pública. No caso específico do bem tombado, a tutela do Estado recai sobre aqueles aspectos do bem considerados de interesse público – valores culturais, referências da nacionalidade. O valor patrimonial é qualificado no texto legal: “quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (art. 12 decreto‐lei nº 25, de 30 de novembro de 1937). De acordo com o mesmo texto, o agente encarregado da atribuição desse valor, para fins de tutela pública, é a autoridade estatal competente – no caso, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através de seu Conselho Consultivo. Cabe ao poder público, portanto, exercer tutela no sentido de proteger “os valores culturais ínsitos no bem material, público ou particular, a cujos predicamentos, particularidades ou peculiaridades é sensível a coletividade e importa defender e conservar em nome da educação, como elementos indicativos da origem, da civilização e da cultura nacionais” (Rocha, 1967, p. 31). Esse é, lato sensu, o objetivo das políticas de preservação: garantir o direito à cultura dos cidadãos, entendida a cultura, nesse caso, como aqueles valores que indicam – e em que se reconhece – a identidade da nação. Entretanto, embora a proteção incida sobre as coisas, pois estas é que constituem o objeto da proteção jurídica, o objetivo da proteção legal é assegurar a permanência dos valores culturais nelas identificados. Esses valores só são alcançáveis através das coisas, mas nem sempre coincidem exatamente com unidades materiais. Essa distinção se torna mais clara quando consideramos o tombamento de conjuntos, seja de bens móveis (por exemplo, coleções de museus) ou imóveis (por exemplo, centros históricos). Nesses casos, o objeto do tombamento é um único valor – o bem coletivo (no sentido gramatical do termo, de conjunto de unidades), embora materializado em uma multiplicidade de coisas, geralmente heterogêneas. No caso do patrimônio, os valores não‐econômicos a serem protegidos (valores culturais) estão inscritos na própria coisa, em função de seu agenciamento físico‐ material, e só podem ser captados através de seus atributos. Mas, com o tombamento, o bem não perde o valor econômico que lhe é próprio, enquanto coisa, passível da apropriação individual. Por esse motivo, é preciso regular mais rigidamente ainda, nesse caso, o exercício do direito de propriedade. Sobre o mesmo bem, enquanto bem tombado, incidem, assim, duas modalidades de propriedade: a propriedade da coisa, alienável, determinada por seu valor econômico, e a propriedade dos valores culturais nela identificados que, por meio do tombamento, passa a ser alheia ao proprietário da coisa: é propriedade da nação, ou seja, da sociedade sob a tutela do Estado. Esse duplo exercício de propriedade sobre um mesmo bem gera, obviamente, uma série de problemas, pois o exercício de um tipo de propriedade limita necessariamente o exercício do outro. É evidente que os conflitos de interesses – sobretudo entre o interesse público e o privado ‐ ficam, nesse caso, mais agudos, mesmo porque o chamado valor cultural de um bem não é regulado por um mercado específico, mas se define no nível da “economia das trocas simbólicas”. De tudo que foi dito, fica claro que o âmbito de uma política de preservação do patrimônio vai muito além da mera proteção de bens móveis e imóveis em sua feição material, pois, se as coisas funcionam como mediação imprescindível dessa atividade, não constituem, em princípio, a sua justificativa, que é o interesse público, nem seu objeto último, que são os valores culturais. E, se os valores que se pretende preservar –conforme está explícito na abordagem jurídica da questão –são apreendidos na coisa e somente nela, não se pode deixar de levar em consideração o fato óbvio de que os significados nela não estão contidos nem lhe são inerentes: são valores atribuídos em função de determinadas relações entre atores sociais, sendo, portanto, indispensável levar em consideração o processo de produção, de reprodução, de apropriação e de reelaboração desses valores enquanto processo de produção simbólica e enquanto prática social. 1.2 O PATRIMÔNIO COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL O universo dos patrimônios históricos e artísticos nacionais se caracteriza pela heterogeneidade dos bens que o integram, maior ou menor conforme a concepção de patrimônio e de cultura que se adote: igrejas, palácios, fortes, chafarizes, pontes, esculturas, pinturas, vestígios arqueológicos, paisagens, produções do chamado artesanato, coleções etnográficas, equipamentos industriais, para não falar do que a Unesco denomina patrimônio não‐físico ou imaterial – lendas, cantos, festas populares, e, mais recentemente, fazeres e saberes os mais diversos. Essa enumeração, propositalmente caótica, visa chamar a atenção para o fato de que os bens enumerados acima pertencem, enquanto signos, a sistemas de linguagem distintos: à arquitetura, às artes plásticas, à música, à etnografia, à arqueologia etc. Cada um desses sistemas tem, por sua vez, suas especificidades e seu modo próprio de funcionamento enquanto código. Além disso, esses bens cumprem funções diferenciadas na vida econômica e social. Do que foi dito acima, pode‐se deduzir que o que denominamos patrimônio constitui um discurso de segundo grau: às funções e significados de determinados bens é acrescentado um valor específico enquanto patrimônio, o que acarreta a ressemantização do bem e leva a alterações no seu sistema de valores. O processo de seleção desses bens é conduzido por agentes autorizados ‐ representantes do Estado, com atribuições definidas – e dentro de categorias fixas, a priori definidas, relacionadas a determinadas disciplinas (arte, história, arqueologia, etnografia etc.). No caso brasileiro, essas categorias são os valores especificados no decreto lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. A essas categorias se superpõe uma categoria unificadora, a de valor nacional. Os signos referidos funcionam antes como símbolos, no sentido saussuriano do termo. Para Saussure (1969, p. 101), o símbolo nunca é inteiramente arbitrário, ele não é vazio, pois é construído com base em uma motivação cultural. O símbolo da justiça não poderia ser uma carruagem. No caso dos bens patrimoniais, os atributos da coisa são considerados valores culturalmente relevantes, excepcionais. No caso do Brasil, determinados bens como igrejas dos séculos XVII e XVIII, casas de câmara e cadeia, fortes, palácios, sedes de fazendas etc. foram erigidos pelos agentes do Sphan em símbolos da nação por sua vinculação a fatos memoráveis, mas, sobretudo, por suas qualidades construtivas e estéticas. Cabe, portanto, recorrer à noção de símbolo, pois haveria uma motivação, baseada na cultura, na constituição desses símbolos. Pode‐se concluir que os patrimônios funcionam como repertórios nos termos da definição de Umberto Eco: “Um repertório prevê uma lista de símbolos e, eventualmente, fixa a equivalência entre eles e determinados significados” (1987, p. 40). Neste ponto, quero chamar a atenção para a distinção – até o momento não explicitada – entre bem cultural e bem patrimonial. A intermediação do Estado no segundo caso, através de agentes autorizados e de práticas socialmente definidas e juridicamente regulamentadas, contribui para fixar sentidos e valores, priorizando uma determinada leitura: seja a atribuição de valor histórico, enquanto testemunho de um determinado espaço/tempo vivido por determinados atores; seja de valor artístico, enquanto fonte de fruição estética, o que implica também uma modalidade específica de conhecimento; seja de valor etnográfico, enquanto documento de processos e organizações sociais diferenciados. Ao se considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu valor utilitário e econômico (valor de uso enquanto habitação, local de culto, ornamento etc; e valor de troca, determinado pelo mercado), enfatiza‐se seu valor simbólico, enquanto referência a significações da ordem da cultura. Na seleção e no uso dos materiais, no seu agenciamento, nas técnicas de construção e de elaboração nos motivos, são apreendidas referências ao modo e às condições de produção desses bens a um tempo, a um espaço, a uma organização social, a sistemas simbólicos. No caso dos bens patrimoniais selecionados por uma instituição estatal, considera‐se que esse valor simbólico refere‐se fundamentalmente a uma identidade coletiva, cuja definição tem em vista unidades políticas (a nação, o estado, o município). Assim como ocorre na literatura, portanto, e nas artes em geral, para que determinados bens funcionem enquanto patrimônio é preciso que se aceite uma convenção: que esses bens conotem determinadas significações – ou seja, que se entre no jogo, aceitando suas regras. Isso significa que o interlocutor deve ter condições de participar do jogo não só na medida em que tenha algum domínio dos códigos utilizados – no caso, as diferentes linguagens –, como também que tenha acesso a um determinado ‐universo cultural. No caso do patrimônio não basta, portanto, selecionar e proteger criteriosamente um conjunto de bens. É preciso que haja sujeitos dispostos e capazes de funcionar como interlocutores dessa forma de comunicação social, seja para aceitá‐la tal como é proposta, seja para contestá‐la, seja para transformá‐la. O que quero dizer é que a proteção da integridade física dos bens patrimoniais não é por si só suficiente para sustentar uma política pública de preservação. Isso porque a leitura de bens enquanto bens patrimoniais pressupõe as condições de acesso a significações e valores que justifiquem sua preservação. Depende, portanto, de outros fatores além da mera presença, num espaço público, de bens a que agentes estatais atribuíram valor histórico, artístico etc., devidamente protegidos em sua feição material. Essa dimensão da questão do patrimônio – ou seja, a consideração dos bens do ponto de vista de sua recepção – não costuma ser abordada, a não ser eventualmente, pelos agentes institucionais. Normalmente, é do ponto de vista da produção dos patrimônios que a questão é tratada, seja na afirmação do valor nacional dos bens tombados – tônica do discurso oficial –, seja na crítica ao modo como são selecionados esses bens. Entretanto, poucos se voltam para a análise do modo e das condições de recepção desse universo simbólico pelos diferentes setores da sociedade nacional – questão que é particularmente importante no Brasil, onde a diversidade cultural é imensa, a escola cumpre muito precária e limitadamente uma de suas funções principais, que é a de formar cidadãos com uma base cultural comum, e onde o hábito de consumo de bens culturais é incrivelmente restrito. Por esse motivo, qualquer proposta de democratização da política de preservação que não leve em conta essa realidade corre o risco de cair no vazio, na medida em que os valores culturais que se quer preservar – fundados, como já foi observado, nas noções de arte e de história ‐ só fazem sentido para um pequeno grupo. Outro problema, na mesma linha mas em sentido inverso, é a leitura que as classes cultas fazem da cultura popular, em geral a partir de uma perspectiva folclorizante que enfatiza o exotismo ou a discutível categoria da autenticidade. Por esse motivo, vale a pena considerar esse aspecto da questão, ou seja, o processo de apropriação dos bens patrimoniais. Para Roger Chartier (1988), todo receptor é, na verdade, um produtor de sentido, e toda leitura é um ato de apropriação. As significações produzidas pelas diferentes leituras podem, inclusive, estar bem distantes da intenção ou do interesse do autor da obra – ou, no caso dos bens patrimoniais, das significações e dos valores que os agentes estatais autorizados lhes atribuíram enquanto patrimônio. De um lado, é evidente que esses bens serão tanto mais nacionais quanto maior for o número de pessoas que os identifique como patrimônio. Por outro lado, esse consenso não significará necessariamente que todos fazem a mesma leitura do bem. Só para dar um exemplo bastante óbvio, a igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, será valorizada por alguns por suas qualidades estéticas, por outros, como local de culto católico, por outros ainda, como palco para rituais de candomblé, e pelos turistas, muito provavelmente como um dos símbolos da capital da Bahia. O que quero dizer é que, por mais regulamentado e controlado que pretenda ser o processo de construção dos patrimônios, e por mais fixos que possam parecer os efeitos de um tombamento, tanto materiais como simbólicos, a recepção dos bens tombados tem uma dinâmica própria em dois sentidos: primeiro, no da mutabilidade de significações e valores atribuídos a um mesmo bem em diferentes momentos históricos – mudança que diz respeito inclusive às próprias concepções do que seja histórico, artístico etc.; segundo, no da multiplicidade de significações e de valores atribuídos, em um mesmo momento e um mesmo contexto, a um mesmo bem, por grupos econômica, social e culturalmente diferenciados. A percepção dessas dinâmicas relativamente ao patrimônio é fenômeno mais ou menos recente e decorre de circunstâncias específicas, que serão abordadas no próximo capítulo. O que interessa ressaltar aqui é que é imprescindível levá‐las em conta na formulação de uma política de preservação. O fato é que as análises críticas das políticas de preservação têm dado ênfase ao processo de construção dos patrimônios, visando chamar a atenção para sua utilização como instrumento ideológico de legitimação do poder estatal. Ao criticarem o seu caráter elitista, atribuem‐no apenas ao processo de seleção de bens, excludente, e que privilegia os monumentos identificados com a cultura dominante que, no caso do Brasil, é a cultura luso‐brasileira. Consequentemente, as propostas visando democratizar o patrimônio se centram no vértice de sua construção – ou seja, na ampliação do conceito de patrimônio e na participação da sociedade na constituição e no gerenciamento desse patrimônio. Fica de fora a questão da democratização da apropriação simbólica desses bens. A democratização da apropriação não deve, no entanto, ser entendida como mera difusão das significações produzidas pelos agentes institucionais. Como observa Roger Chartier, uma abordagem que leve em conta a complexidade do processo de recepção vai chamar a atenção para os usos diferenciados que são feitos dos mesmos bens, o que possibilita, inclusive, sua apropriação diferenciada pelos grupos sociais, mesmo em situação de desigualdade econômica e social. Porém, esse tipo de abordagem vai evidenciar os limites que se interpõem a essa apropriação, que decorrem da dificuldade de acesso, para grupos sociais culturalmente desfavorecidos (entendida aqui cultura como as informações e experiências veiculadas primordialmente pela educação formal), ao consumo e aos códigos de leitura dos bens patrimoniais. Essa perspectiva não impede que as diferenças sejam identificadas (inclusive as diferenças com raízes econômicas e sociais), mas desloca a sua própria esfera de identificação, uma vez que não implica a qualificação social das obras como um todo (“arquitetura luso‐brasileira”, “artesanato”, “arte popular” etc.). Em vez disso, caracteriza as práticas que se apropriam, distintivamente, dos materiais que circulam numa determinada sociedade (Chartier, 1988, p. 233). As análises centradas no processo de construção dos patrimônios são importantes na medida em que procuram desvendar o modo como determinados intelectuais, em nome do Estado, concebem a identidade nacional. Mas, uma vez que o interesse na questão do patrimônio seja o de entender o processo específico de circulação dos bens patrimoniais numa sociedade, a consideração do vértice da recepção é indispensável, tendo em vista o caráter dinâmico e ativo de qualquer apropriação social. Apenas quando esse aspecto é devidamente incorporado à política estatal é que se pode falar em uma política pública. 1.3 O PATRIMÔNIO COMO OBJETO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA Para Oscar Ozlack e Guillermo O’Donnel, as políticas estatais seriam “alguns acordes de um processo social tecido em torno de um tema ou questão” (1976, p. 17). Para Jobert e Muller, as políticas públicas constituem “tentativas de gerir uma relação entre um setor e a sociedade global” (1987, p. 52). Em ambas as definições, pressupõe‐se um “Estado em ação”, distinto da imagem de um Estado uno, que se apresenta como identificado à nação, de que garantiria a coesão. Nessa imagem, a do Estado como um organismo que regula os movimentos da sociedade – Estado, nação e sociedade praticamente se fundem no imaginário social. A ideia de um “Estado em ação” implica, no entanto, a heterogeneidade, a luta de poder e o conflito de interesses, mesmo dentro da burocracia estatal. Logo, analisar o “Estado em ação” significa levar em conta sua dinâmica interna, a partir das ações de diferentes sujeitos, tornando‐se difícil recorrer, nesse nível, a modelos analíticos que o reduzam a um instrumento de classe, a gestor da ordem social, a promotor do desenvolvimento ou a qualquer outra concepção que neutralize os inevitáveis antagonismos, tanto do Estado com a sociedade quanto internamente, na máquina estatal. A imagem que se tem da política federal de preservação no Brasil contradiz essa afirmação. A ideia de uma ação política monolítica, conduzida praticamente sem contestações pelo Estado, em nome do interesse público, foi, inclusive, reforçada pela aura que, até hoje, envolve a fase heroica do Sphan. Entretanto, como a trajetória dessa política estatal veio demonstrar, essa foi apenas uma entre diferentes orientações possíveis – e que, na época, se impôs sem maiores dificuldades, como a mais apropriada – para se elaborar a questão da identidade nacional na constituição de um patrimônio histórico e artístico. Partindo do pressuposto de que essa imagem é formada com base em uma situação conjuntural – o modo como essa política vem sendo conduzida no Brasil, o que uma análise comparativa com outras políticas pode comprovar –, propus‐me, neste trabalho, a abordar essa política estatal na sua relação com a sociedade, procurando apreender, ainda que nos limites de uma prática específica – os tombamentos – a presença de outros atores que não apenas os agentes institucionais. Pois é evidente que, se essa política foi instaurada e se mantém há mais de cinquenta anos, é porque atende a algum tipo de demanda social mais ampla. Na pesquisa, procurei seguir os passos discriminados tanto por Ozlack e O’Donnel quanto por Jobert e Muller para a análise de políticas públicas: a definição da questão e do modo como ela se tornou politicamente relevante, passando a ser objeto de uma política pública; a discriminação dos atores envolvidos, estatais e não‐estatais, de sua inserção social e das lideranças que assumem o setor; os recursos a que esses atores recorrem para legitimar essa política, ou seja, a relação de um projeto setorial com um projeto global para a nação; os instrumentos utilizados na sua implementação. No conjunto das políticas implementadas pelo Estado, as políticas culturais se distinguem pelo tema. Mas, assim como as demandas nessa área são bem mais difusas e costumam se concentrar em grupos restritos, também os objetivos dessas políticas nunca são claramente apresentados, tanto nos discursos oficiais quanto em definições formuladas em outras instâncias. Nesse sentido, é mais proveitoso verificar como diferentes linhas de pensamento político elaboram uma prática política nesse campo. Numa perspectiva liberal, cabe à sociedade produzir cultura. Ao Estado, cabe apenas garantir as condições para que esse direito possa ser exercido por todos os cidadãos. Para Norberto Bobbio (1977), essas condições são, basicamente, o reconhecimento e o respeito a valores como a liberdade (enquanto ausência de impedimentos físicos e morais), a verdade (enquanto espírito crítico, em oposição ao dogmatismo, à intolerância e às falsificações) e a confiança no diálogo. Bobbio faz um distinção entre política cultural e política da cultura. A primeira é a planificação da cultura feita pelos políticos, em que a cultura figura como instrumento para alcançar fins políticos. A segunda é a política dos homens de cultura, voltada para garantir as condições de desenvolvimento da cultura e o exercício dos direitos culturais. Se, na perspectiva liberal, cabe ao Estado simplesmente assegurar o espaço para a produção e o consumo de bens culturais, numa perspectiva socialista o Estado liberal constituiria um instrumento de classe. Nesse sentido, o que Bobbio denominou política de cultura seria inviável numa sociedade de classes. Considero que a postura liberal é irrefutável do ponto de vista de seus princípios, mas, no caso brasileiro, seus pressupostos colidem com uma realidade em que a cidadania ainda não é um bem coletivo. Nesse caso, a formulação de uma política cultural democrática (atributo que tanto os liberais quanto os socialistas defendem em suas propostas) implica uma atuação necessariamente mais ativa e abrangente do Estado. Trata‐se não só de defender determinados valores, como de criar condições para implementá‐los numa sociedade onde os direitos mínimos da cidadania, na prática, são exercidos por poucos. Ou seja, considerar todos os cidadãos como homens de cultura, assim como propunha Gramsci, em condições de exercer os direitos culturais, e atuar no sentido de converter esse princípio – que no caso do Brasil é ainda um ideal – em realidade. Na verdade, a implementação de uma proposta como essa – desafio que vem sendo enfrentado sobretudo no âmbito das secretarias municipais de culturas requer um esforço prévio, uma atuação didática no sentido de sedimentar uma nova cultura política. Se essa orientação tem se mostrado complexa no âmbito municipal, que dirá uma proposta de democratização como a formulada pela política federal de cultura no início dos anos 1980, ainda em plena vigência do regime militar. Naquele momento, além da fragilidade dos mecanismos institucionais de representação política, que só então começavam a ser reorganizados, e das formas de participação social, especificamente na área da cultura (a não ser entre alguns produtores culturais, como os cineastas), inexistiam mecanismos de mediação entre Estado e sociedade, e era praticamente impossível identificar atores sociais constituídos em torno de causas culturais. Ficava no ar a pergunta (e, para alguns, a suspeita) sobre o sentido dessa proposta: idealismo de alguns agentes institucionais, instrumentalização da cultura por um governo em crise de legitimidade ou estratégia política de resistência, possível num setor à margem dos grandes interesses do capital? Independentemente da resposta que se dê a essas indagações, o fato é que, como observa Chantal Mouffe (1988, p. 95), a mera enunciação, através de discursos, de determinados princípios e direitos – como o direito à igualdade – constitui fator que viabiliza a constituição de novos sujeitos sociais (por exemplo, os escravos como “homens”, as mulheres como “cidadãs” etc.) e a transformação de relações de subordinação em antagonismos. Nesse sentido, nos anos que se seguiram à formulação da proposta da Secretaria da Cultura do MEC, em 1981, ficou evidente que essa proposta veio atender a uma demanda social de valores democráticos, na medida em que seu discurso foi incorporado pelas mais diversas instâncias e foi absorvido pela Constituição de 1988. Entretanto, se partiu da área federal uma primeira reivindicação pela democratização da política cultural, na prática têm sido os órgãos municipais que vêm implementando com maior visibilidade propostas nesse sentido. E, passados vários anos da elaboração do documento Diretrizes para operacionalização da política cultural do MEC (1981), fica no ar a pergunta: qual a proposta hoje – em face de uma realidade politicamente outra, embora social e economicamente ainda fortemente marcada pela desigualdade – da área federal para a cultura, em geral, e para o patrimônio, em particular? Este trabalho não pretende – nem seria de sua atribuição – oferecer resposta a essa pergunta, mas apenas contribuir com alguns subsídios para a formulação de propostas que, afinadas com a realidade presente, não deixem de levar em conta uma experiência acumulada, em mais de cinquenta anos, por uma política que se tem diferenciado – tanto de um ponto de vista positivo como negativo – no conjunto das políticas estatais brasileiras. Notas: • Historiador e crítico de arte italiano, catedrático de História da Arte da Universidade de Roma. Trabalhou de 1933 a 1955 na Administração Estatal do Patrimônio Artístico. Foi eleito prefeito da cidade de Roma, em 1976, e senador pelo Partido Comunista Italiano, em 1983. Sobre a relação entre a história e as ideologias políticas, disse, em entrevista, o historiador Eric Hobsbawm: “A história é a matéria‐prima para ideologias nacionalistas, étnicas ou fundamentalistas, da mesma maneira como as papoulas são a matéria‐ prima para os viciados em heroína. O passado é um elemento essencial, talvez até mesmo o elemento essencial nestas ideologias. Quando não existe um passado adequado, ele sempre pode ser inventado.” (0 Estado de São Paulo, 16 jan. 1994. Especial Domingo, p. D6). Embora algumas das observações que se seguem tenham interesse geral – na medida em que se aplicam a outros contextos nacionais – elas dizem respeito apenas ao modo como, no Brasil, é construída juridicamente a noção de patrimônio histórico e artístico nacional. Cf. Barbuy, 1989, sobre as menções, nas Constituições brasileiras, relativas à cultura. Lembro que essa distinção – entre coisa e valor – é referida aqui apenas na medida em que é útil como recurso para a compreensão da noção de patrimônio. Não se têm em mente dois termos independentes, mas duas faces de uma mesma moeda, como o par significante/significado, em linguística. Para fins de inscrição dos bens tombados, devem‐se considerar os quatro Livros do Tombo: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro Histórico, Livro de Belas Artes e Livro de Artes Aplicadas. Esse último livro se acha em desuso, e dele constam apenas quatro inscrições. Foi no sentido de reelaborar criticamente esses tipos de leitura que vários projetos do CNRC abordaram manifestações de cultura popular. A partir dessa mesma visão foram consideradas as manifestações das diferentes etnias. Sobre essa questão, sintetiza Eunice Durham: “De um lado, é necessário eliminar as barreiras educacionais e materiais que impedem a maioria da população de ter acesso aos bens culturais, que são monopolizados pelas classes dominantes; de outro lado, é importante preservar e difundir a produção cultural que é própria das classes populares, garantindo seu acesso a instrumentos que facilitem essa produção e permitam sua conservação e transmissão” (apud Arantes, 1984, p. 34). Tanto a definição de política cultural formulada pela Unesco quanto a de Néstor García Canclini são igualmente vagas e genéricas: 1) Para a Unesco, política cultural constitui “um conjunto de práticas sociais conscientes e deliberadas, de intervenções e não‐intervenções, tendo por objeto satisfazer certas necessidades culturais pelo melhor emprego possível de todos os recursos materiais e humanos de que dispõe uma sociedade num momento dado” (1969, p. 8). 2) Para Canclini, política cultural é “um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições e os grupos comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação social” (1987, p. 26). (Ver FARIA, Hamilton José Barreto de; Souza, Valmir de (org.). Experiências de gestão cultural democrática. São Paulo: Pólis, n. 12, 1993.) Em entrevista a Gabriel Cohn, Marilena Chauí, então secretária municipal de cultura de São Paulo, esclarece o sentido desse tipo de proposta: “Decidimos também considerar a cultura como direito do cidadão, o direito de ter acesso aos bens culturais, o direito de produzir cultura e o direito de participar das decisões na política cultural. E com isso o nosso projeto é um projeto de cidadania cultural.” (1990, p. 32.)
Download