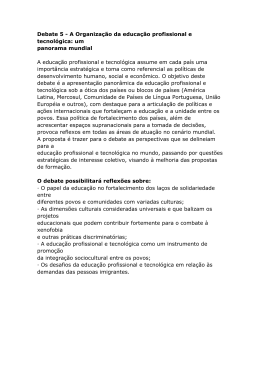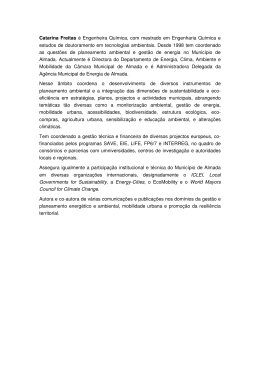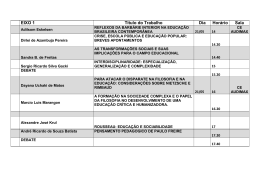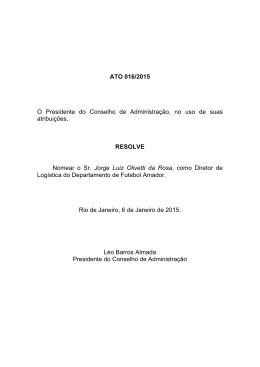205 IV. Resposta às críticas: continuação da controvérsia A resposta de JESUS MARIA SOUSA, JOSÉ SÍLVIO FERNANDES, ANA CATARINA FERNANDO, HELDER ARSÉNIO LOPES Continuando a dialogar com os nossos interlocutores acerca da avaliação do (no) Ensino Superior Entrando numa terceira fase do debate, a da análise de análises (uma espécie de metaanálise), o grupo da Universidade da Madeira considera que esta metodologia trietápica permitiu uma maior afinação de pensamento pela intra e intercomplementariedade de reflexões. Se, na primeira fase, cada um de nós, autores, interpretou à sua maneira o pedido que o SNESup nos dirigiu, na segunda fase, houve a possibilidade de analisar outras vertentes que não haviam sido objeto de reflexão. O convite de maio de 2013 mencionava no corpo do email o seguinte: “O SNESup está a promover uma iniciativa visando a reflexão e debate sobre “A Avaliação no Ensino Superior”. No entanto, o anexo ao email que pretendia esclarecer a iniciativa trazia o título “Pensar a Avaliação do Ensino Superior”. Se é certo que ao longo do texto tivesse havido uma inflexão mais redutora, ao referir que “Há, porém, temas incontestáveis, como por exemplo este da avaliação na carreira dos profissionais do ensino superior, mesmo que através da análise das instituições em que servem”, o convite terminava com a seguinte instrução: 1. Produção, até 15 páginas, em relação ao tema “A posição defendida sobre a avaliação do Ensino Superior”, até 30 de junho de 2013. 206 Esta ambiguidade temática deu logo origem a um debate interno (uma vez que somos um grupo) deveras enriquecido em torno das preposições “de” e “em” (do Ensino Superior ou no Ensino Superior), igualmente equacionado por Fernando Almada, tanto na primeira fase, como na segunda, em resposta ao nosso texto, quando questiona: “Mas não estarão ambas no mesmo quadro e de acordo com os mesmos princípios?”. José Ferreira Gomes, no comentário ao nosso texto, partilha também connosco a ideia de a Avaliação do Ensino Superior contemplar a Avaliação no Ensino Superior, quando, ao situar esta última ao nível da avaliação das aprendizagens dos alunos, diz claramente o seguinte: “Mas não desvalorizemos a avaliação no ensino superior. Sendo importante, qualquer processo de avaliação do ensino superior terá de se ocupar dela, terá de verificar que serve o seu objetivo disciplinar e focar toda a complexa experiência do estudante. A avaliação dos estudantes é um instrumento para induzir determinados comportamentos, não é, em si, o objetivo final.” Como é evidente, a nuance conferida pelo “do” ou “no” suscitou uma dupla interpretação do convite para a elaboração dos primeiros textos, pois enquanto Alberto Amaral e José Ferreira Gomes entenderam que se tratava de “avaliação de desempenho docente”, Fernando Almada, Michael Seufert e nós próprios encarámos a avaliação de uma forma mais abrangente. Por isso, quando falamos de intracomplementariedade de posições, referimo-nos concretamente à possibilidade que Alberto Amaral teve de se posicionar, na segunda fase, relativamente à avaliação de cursos ou de instituições, quando diz que “a avaliação individual dos docentes tem um carácter muito diferente da avaliação de cursos ou de instituições. Assim, enquanto que não tenho grandes dúvidas em relação à segunda modalidade, tenho as maiores reservas em relação à avaliação individual dos docentes, pelo menos nos moldes que estão a ser aplicados a Portugal.” Apesar de considerar que não deveria caber à A3ES proceder à “limpeza administrativa do sistema”, este nosso interlocutor faz a defesa da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, ao reconhecer que “um exercício como o que está a ser desenvolvido pela A3ES é complexo, moroso e caro, mas também indispensável”. A necessidade de higienização do sistema é suportada, na sua argumentação, através da exposição de casos gritantes de demissão das instituições de ensino superior na garantia da qualidade dos cursos de que deveriam ser responsáveis. 207 Ora não é preciso muito esforço para que os exemplos apresentados colham a adesão praticamente consensual dos restantes interlocutores. No entanto, mesmo assim, gostaríamos de voltar atrás, ao nosso primeiro texto, onde tivemos a oportunidade de apresentar um quadro de referências assente na complexidade, na visão sistémica, na valorização do sujeito (no reconhecimento da subjetividade na busca da objetividade) e na ruptura paradigmática, para questionarmos esta sua posição. Relativamente ao nosso enquadramento conceptual, reconhecemos que nos tínhamos sentido algo confortados por vermos pontos de convergência com Fernando Almada, se tivermos em conta as seguintes passagens do seu primeiro texto: 1. “A avaliação é um reflexo desta globalidade, sendo uma ferramenta poderosa para o consertar (ou destruir)”; 2. “Mas o todo só seria a mera soma das partes se as partes estivessem lá todas e fossem criadas as dinâmicas necessárias – ou seja é impossível no atual estado de evolução”; 3. “Mas passar do acontecimento para a vantagem da compreensão dos processos”; 4. “[…] ignora-se a revolução conceptual que está a decorrer há dezenas de anos (com mundos como o “quântico”, o “relativista”, a “nanotecnologia”, etc.) com dezenas de quadros de referência diferentes e mesmo contraditórios, … universos para explorar”; Sentimo-nos também acompanhados, em certa medida, por José Ferreira Gomes, mais concretamente quando, também no seu primeiro texto, referiu o seguinte: 1. “Num ambiente complexo como é a educação é perigoso perturbar o sistema sem que haja um objetivo claro e sem avaliar a relação custo/benefício”; 2. “[…] desempenho da instituição […] não é o somatório dos desempenhos individuais”. E é este quadro conceptual que nos leva a rejeitar a posição de Alberto Amaral, quando considera a avaliação do desempenho docente como um território independente, de fronteiras bem demarcadas, relativamente ao território mais amplo da avaliação do ensino superior, a qual congrega igualmente a avaliação de cursos, das aprendizagens dos alunos, das instalações e dos equipamentos, dos processos e muito mais. 208 Ou seja, não concordamos com o “sim” à avaliação de cursos, mas “não” à avaliação dos professores, como se depreende das suas palavras: “tenho as maiores reservas em relação à avaliação individual dos docentes, pelo menos nos moldes que estão a ser aplicados a Portugal”. Ora as reservas levantadas por Alberto Amaral aos moldes como está a ser aplicada a avaliação individual dos docentes, em Portugal, são as mesmíssimas que nós levantamos aos moldes como está ser levada a cabo a avaliação dos cursos no nosso país. Como é possível destrinçar uma da outra? Então a avaliação dos cursos não implica a avaliação dos professores que neles lecionam, nas suas dimensões pedagógicas e investigativas? Não são analisados os programas das unidades curriculares que atestam em parte a competência pedagógica de quem os construiu? Não é verificada a pertinência das publicações científicas relativamente aos conteúdos ministrados? Não são fechados cursos por se considerar que os docentes não têm perfil científico e pedagógico? Ou porque o diretor de curso não reúne as condições para tal? Não têm os professores de preencher a ficha curricular docente para a avaliação dos cursos? Não tenhamos dúvidas de que a desprofissionalização docente, tão bem apontada por Alberto Amaral, acaba por sair reforçada quando se coloca o professor do ensino superior, sem apoios administrativos de ordem nenhuma, perante formulários extensivos e padronizados criados pela A3ES para a avaliação dos cursos da sua instituição. E essa funcionarização/proletarização dos académicos é ainda mais difícil de entender quando nos encontramos ao nível da pressuposta e desejável esfera de criação do saber. Concordamos, por isso, com Alberto Amaral quando refere que “no novo sistema os grandes perdedores são os académicos. Transformados em simples funcionários em vez de profissionais reconhecidos, com perda evidente de prestígio social e considerados incapazes de dirigir as suas instituições, pagam o preço de serem vistos como fornecedores de serviços e perdem a confiança dada aos profissionais”. Enquanto docentes universitários que se confrontam no seu dia-a-dia com múltiplas tarefas cada vez menos relacionadas com o core da nossa profissão, a quem se exige a elaboração de relatórios do que se fez no passado (tempo de prestação de contas) e de projetos de futuro (tempo de antecipação), pouco ou nenhum tempo nos resta para 209 a produção/vivência do presente. Estamos perante a tal “degradação da qualidade do tempo dos académicos”, referido no seu primeiro texto, e reforçado no segundo, quando recorre “ao excelente artigo de Ronald Barrett (2008) sobre o tempo empobrecido dos académicos, cada vez mais vigiado e desnudado perante uma burocracia que procura identificar o tempo que os académicos dedicam a cada uma das suas atividades”. José Ferreira Gomes põe igualmente o dedo na ferida quando chama a atenção para a “considerável carga burocrática adicional”, fazendo-nos evocar os múltiplos e extensivos sistemas de recolha de informação para a elaboração dos tais relatórios visando a avaliação/monitorização das atividades realizadas: formulários sem fim das próprias IES, que por sua vez diferem das exigências das plataformas de FCT, De Góis ou ORCID… Como afirma o autor, “Que essa informação possa ser de má qualidade ou que seja inútil por não ter um destino imediato, isso não é preocupação. Estamos ainda na fase de a existência de informação ser, em si, um êxito! Para cada procedimento, deveria ser estimado o custo em horas de trabalho de todos os intervenientes…”. Ainda sem resultados palpáveis sobre a bondade desta nova cultura de avaliação topdown, não só porque não houve ainda tempo para ela se instalar, mas também porque a crise financeira e os sucessivos ajustamentos acabaram por a contrariar, ao deixarem de existir as eventuais compensações financeiras pelo mérito, resta-nos assim um travo amargo sobre as razões profundas que subjazem a todo este aparato avaliativo. José Ferreira Gomes capta bem esse sentimento generalizado de incompreensão dos verdadeiros desígnios de toda esta máquina já em ação, onde cada um vira marionete a ser comandada por fios invisíveis. Vale a pena retomar o que escreve no seu primeiro texto: “De facto os docentes começam a queixar-se . da sua impotência total para influenciar a vida da instituição no sentido de protegerem a sua cultura académica; . de que lhes é pedida a declaração de muitas actividades que consideram irrelevantes face aos seus contributos para o avanço do conhecimento; . da irrelevância do exercício, apesar do seu enorme custo, especialmente, pelo tempo despendido a recolher informação de baixa qualidade; 210 . de que o desempenho medido pelos algoritmos propostos não corresponde à sua percepção do mérito; . de que seria mais fácil e eficaz afinar a aplicação de vias de avaliação por pares nos momentos críticos da carreira; . de que a pretensa objectividade do algoritmo cego não é equivalente a uma avaliação justa do mérito académico; . de que a maximização do desempenho avaliado pelo algoritmo poderá distrair das linhas de trabalho associadas ao prestígio internacional da instituição; . de que poderão vir a ser dadas compensações a colaboradores mais dóceis mas nem sempre os que têm melhor reconhecimento pelos pares.” É interessante notar que, no seu segundo texto, José Ferreira Gomes, ao se referir ao nosso texto, tenha dele extraído apenas a nossa reflexão sobre a avaliação dos estudantes, ou seja, a avaliação das aprendizagens realizadas, de forma contínua, no acompanhamento das experiências educativas vividas. Traduzindo, dizemos que no fundo há Vida, desde a receção ao caloiro até ao exame. O exame só por si não é Vida. Pegando nas palavras do seu primeiro texto, e apesar de então se referir ao desempenho docente, o autor diz com muita propriedade que “o sucesso da educação depende do sucesso dos educados ao longo da sua vida, sucesso no sentido mais amplo de felicidade pessoal e profissional e de contributo para o sucesso do grupo social de que faz parte.” E de novo voltamos à abordagem sistémica, da interação dos vários sistemas de avaliação, quer diga respeito a professores, quer a alunos, cursos ou instituições, enquanto sistemas vivos, povoados por gente que pensa, que sente e que vive, isto é, que age e que, por isso mesmo, terá necessariamente de participar (nem que seja pela negativa) na construção do seu processo de avaliação. É nesse sentido que confirmamos a ideia que José Ferreira Gomes colheu do nosso texto: “Os autores insistem na necessidade de qualquer processo de avaliação do ensino superior ter de ser construído. Se este facto é verdadeiro para todo o processo de avaliação de desempenho, é-o sobremaneira na esfera do ensino superior onde nos dirigimos a profissionais altamente especializados.” E é este paradigma que não coloca os alunos do ensino superior num patamar diferente do dos mestres: também eles, adultos, são portadores de determinadas 211 representações sociais, carregam consigo expectativas e ambições de se tornarem igualmente “profissionais altamente especializados”. Não queremos com isto dizer que todas as avaliações devam ser idênticas, respondendo a Fernando Almada, quando nos questiona isso mesmo, no seu segundo texto. Elas não são idênticas, mas estão, como ele próprio diz, “no mesmo quadro e de acordo com os mesmos princípios”. Partilham da mesma filosofia, num exercício de coerência interna, que reconhecemos complicado, quando se passa a fronteira do professor para o aluno. Continuando a dialogar com este autor, dizemos que essa coerência se mostra, da mesma forma, necessária quando se transita da relação Estado-Nação, para a relação Estado-Região Autónoma, ou Estado-IES. Quando nos questiona de chofre: “Apelos à autonomia?”, Fernando Almada pode bem imaginar o duplo impacto que a frase seguinte teve sobre nós, enquanto professores de uma IES situada numa Região dotada de autonomia política e administrativa: “No entanto, as liturgias e ritualismos devem dar lugar a uma realidade construída de singularidades que não sejam abafadas por uma uniformização castrante das iniciativas que são expressão de histórias e identidades.” Por isso, a razão de ser de um dos eixos norteadores (um entre quatro) do nosso primeiro texto: Avaliação e autonomia. Ou seja, como compatibilizar os atuais procedimentos de regulação do sistema, através da lei do mais forte, ou seja, do financiamento, com a tal autonomia secularmente associada ao ensino superior? Como dizíamos então, “Trata-se sobretudo de, em ambas as direções, as dos financiadores e as dos financiados, haver um conhecimento amplo do conjunto de regras que lhes garanta a capacidade de colaboração e negociação, que permita criar uma autonomia efetiva e eficaz. Caso contrário, permaneceremos no estado atual de agressão à autonomia do ensino superior, por via da restrição direta ou indireta de competências, no quadro financeiro e científico-pedagógico.” Assumindo-nos como intelectuais transformadores, não podemos deixar de estar atentos aos efeitos perniciosos a que uma avaliação, em última análise, poderá conduzir: corremos o risco de ter as mesmas grades curriculares, as mesmas disciplinas, com as mesmas designações (chegaremos ao manual único?), os mesmos maneirismos, os mesmos perfis de professores, etc., destruindo afinal o último reduto de pensamento singular, livre e criativo. Concordamos por isso, com a posição de 212 Fernando Almada, quando diz que “as avaliações deveriam ser ferramentas ao serviço destes percursos e opções e não a sua determinante”, acrescentando nós as seguintes questões: Determinante determinada por quem? Determinante de comportamentos desejáveis e desejados por quem? Determinante a ser controlada por quem? Estado? Nação? Região? A3ES? IES? Que entidades míticas são essas? Quem as corporiza? Que interesses estão por detrás? Quais as agendas políticas que a determinam? E porquê uma determinante determinada a priori? O apriorismo não vem limitar o avanço científico? Mas para não ficarmos na generalização das expressões e das intenções, que criticamos, ao nível de que “a educação é essencial” e de que “é fundamental a avaliação no ensino superior”, sem cuidar da qualidade e dos objetivos visados, por exemplo, deixamos propostas de debate que gostaríamos de ver concretizadas e algumas linhas do enquadramento para que tal aconteça. Neste trabalho foram encontrados pontos de convergência e outros de divergência entre as posições assumidas pelos autores. As divergências darão certamente maiores contributos para que se possam definir complementaridades onde o debate poderá enriquecer quer pela possibilidade de, seguindo argumentações, poderem ser encontradas evoluções das posições defendidas com maior consistência ou até mesmo reajustamentos profundos, quer pela definição dos pontos em que concordaremos em discordar. Mas a convergência de ideias é tão rica como a sua divergência e é da diversidade das opiniões que a conjetura pode ganhar solidez, ultrapassada a refutação. Mas o debate é estéril se não der lugar a práxis cada vez mais sólidas e eficientes. Aqui sofremos de um enorme handicap resultante da pobreza do contexto em que nos inserimos. Se todos concordamos que a avaliação em geral e especificamente no ensino superior é um meio, uma ferramenta, torna-se imprescindível conhecermos os objetivos que devem ser visados e os meios e condicionamentos existentes, para então podermos definir os caminhos a seguir e as estratégias a desenvolver para que possa ser atingida uma eficiência aceitável. 213 A tecnicidade em que caíram a ciência, a política e até o social, tende a fazer esquecer a necessidade de um quadro geral coerente situando dialéticas e interdependências, onde possamos encontrar sinergias que potenciem os seus diferentes aspetos (e não quadros burocráticos, centralizadores de poderes, muitas vezes alheios à lógica dos processos e à sua fluidez e facilitação). O endeusamento da tecnologia e dos equipamentos faz, de facto, muitas vezes esquecer que estes não são mais do que meios, ferramentas, tal como as avaliações, ao serviço do humano e não o inverso. É sem dúvida penalizadora a inexistência de um quadro (ou de vários quadros, alternativos e complementares, mesmo que na sua oposição) político, motivador de vontades e de equilíbrios, bem definido nas suas opções e tendências evolutivas, a nível nacional, integrado numa grelha mais ampla de uma CE que define normas mas se esquece da relação custos/benefícios que marcam a justificação da sua implementação e os objetivos visados (uma política, uma cultura, hábitos, para além de economias, moedas, legislações, etc., pois estas só terão consistência e continuidade se forem alicerçadas naqueles - fugindo de novo a tecnicidades meramente postiças e artificiais), onde se possa fundamentar uma política universitária (ou das universidades, de cada universidade? Ou de cada instituição do ensino superior, universidade, politécnico, centro de investigação, etc. - mais um campo em que as indefinições são punitivas) - ou o sentido deverá ser inverso, partindo do ensino superior ou de cada uma das suas instituições até chegar a uma estrutura macro, CE, ou outra? Ou deverá haver uma dialética global, com ou sem dominâncias de quem seja capaz de agarrar rédeas (algumas delas) do processo evolutivo? É uma liberdade de opção tão ampla que se torna penalizadora, pois resulta da indefinição de identidades (individuais ou institucionais) com quem temos de dialogar e trabalhar. A solução simples seria a de esperarmos que nos definam o campo em que podemos exercer a nossa liberdade (uma atitude tão universitária/politécnica, não é?). Mas recusamo-la. A iniciativa tem que nascer das vontades de transformação, do prazer de partir e explorar. Se encontramos o que queremos, veremos em seguida. E no ensino superior não faltam problemas com que temos de nos debater. Vamos resolver o que está ao nosso alcance. Aliás já começámos. Já vamos na terceira volta 214 deste debate e esperemos que não fique por aqui. Foram vencidas etapas de arranque, foi tomada uma iniciativa pelo SNESup, foram encontradas pessoas para debater, a avaliação passou de tema a pretexto, o texto foi crescendo e deu lugar a posições… continuemos. De uma forma um pouco anárquica, fomos saltando de técnicas de avaliação e do seu enquadramento tático para as tecnologias que lhe dão suporte, os quadros operativos em que o processo se integra, as estratégias e as políticas que há que definir para que o todo tenha alguma coerência e solidez, de modo a que possa ser eficiente, pois os recursos e as vontades não são infinitos. Mas certamente será motivador para quem vive o ensino superior e se debate diariamente com as suas burocracias e bloqueios contabilísticos mesquinhos, ultrapassar o campo do homo economicus (na visão restrita que nos obrigam a vê-lo quase como homo miserabilis), para debatermos as contingências decorrentes da criação do homo numericus, em assuntos tão importantes como, o conhecimento fluido, omnipresente e veloz, os problemas enfrentados, neste novo quadro, pelo processo pedagógico e as formas que encontramos para os resolver e para avaliar as suas consequências. Um tal processo determinará as formas de avaliação e as funções que têm de cumprir.
Baixar