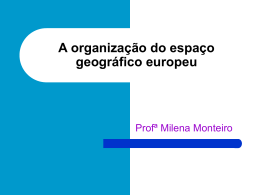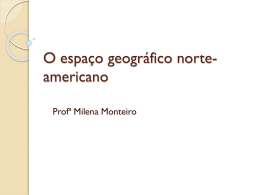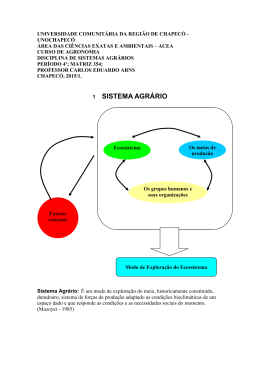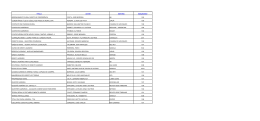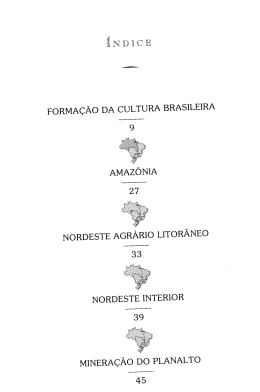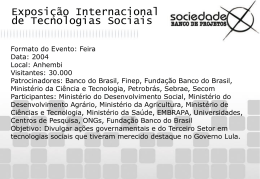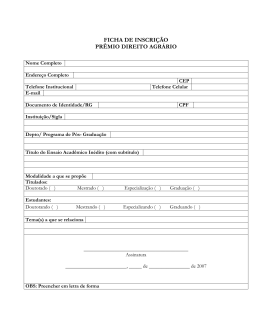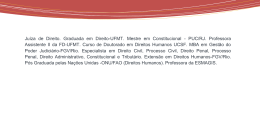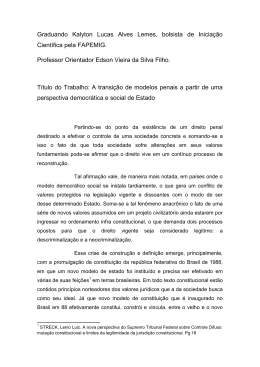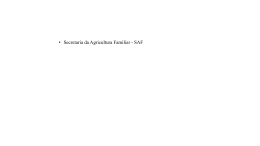INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS DIVISÃO JURÍDICA Edição quadrimestral N° 31 - abril a julho de 2001 EDITE - EDITORA DA ITE - INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO Faculdade de Direito de Bauru Praça 9 de Julho, 1-51- Vila Falcão 17050-790 - Bauru - SP - Tel. (14) 220-5000 DIRETORIA EXECUTIVA Pedro Walter De Pretto Diretor Educacional Edson Márcio de Toledo Mesquita Diretor Financeiro/Administrativo DIREÇÃO Pedro Walter De Pretto CONSELHO EDITORIAL Cláudia Aparecida de Toledo Soares Cintra, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, Hélio Requena da Conceição, Iara de Toledo Fernandes, José Roberto Martins Segalla, Jussara Susi Assis Borges Nasser Ferreira, Luiz Alberto David Araujo, Luiz Antônio Rizzato Nunes, Lydia Neves Bastos Telles Nunes, Maria Isabel Jesus Costa Canellas, Maria Luiza Siqueira De Pretto, Murilo Canellas, Pedro Walter De Pretto. SUPERVISÃO EDITORIAL Maria Isabel Jesus Costa Canellas COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO Bento Barbosa Cintra Neto NOTA: Os trabalhos assinados exprimem conceitos da responsabilidade de seus autores, coincidentes ou não com os pontos de vista da redação da Revista. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: Proibida a reprodução total ou parcial, sem a prévia autorização da Instituição, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos ou videográficos. Vedada a memorização e/ou recuperação total Ou parcial, bem como a inclusão de quaisquer partes desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e §§, do Código Penal, cf. Lei nº 6.895, de 17-12-1980) com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 122, 123, 124 e 126, da Lei n° 5.988, de 14-12-1973, Lei dos Direitos Autorais). ÍNDICE Apresentação Maria Isabel Jesus Costa Canellas............................................................................................ 11 Homenagem Lydia Neves Bastos Telles Nunes ............................................................................................. 13 VIDA DA FACULDADE Resumos de projetos e teses de docentes, apresentados em programas de mestrado e doutorado, e de trabalhos discentes em Iniciação Científica, da Faculdade de Direito de Bauru, Instituição Toledo de Ensino ...................................................................................... 15 DOUTRINA NACIONAL O princípio da progressividade tributária na diminuição das diferenças, na terceira via e no consenso de Washington. Francisco Alves dos Santos Júnior ........................................................................................... 45 O silêncio no direito administrativo Heraldo Garcia Vitta ................................................................................................................. 75 Sanções administrativas e princípios de direito penal Edilson Pereira Nobre Júnior ................................................................................................... 103 A autonomia privada, a transação penal e seus efeitos civis Luís Paulo Sirvinskas ............................................................................................................... 139 Método e conteúdo do direito agrário Fábio Maria De-Mattia.............................................................................................................. 151 A efetividade do princípio da manutenção do valor real dos benefícios previdenciários Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho ............................................................................... 225 Estabilidade provisória do trabalhador aidético: posição jurisprudencial & efetividade do processo Mauro Cesar Martins de Souza................................................................................................. 241 Contrato de trabalho e contratos afins: comparações e distinções Maurício Godinho Delgado ....................................................................................................... 251 O juiz substituto à luz de uma nova interpretação ao inciso I, do art. 93, da Constituição Federal de 88 Francisco das Chagas Fernandes ............................................................................................. 271 Eficácia e democracia na atividade judicante Ivan Lira de Carvalho................................................................................................................ 279 PARECER A hipótese de imposição do ICMS nas operações com energia elétrica: Peculiaridades nas operações interestaduais - Parecer Ives Gandra da Silva Martins.................................................................................................... 287 NÚCLEO DE PESQUISA DOCENTE Habeas Data e o conceito de registro ou banco de dados Conrado Rodrigues Segalla ....................................................................................................... 307 Os Trusts - Securitization em direito nos Estados Unidos da América Daniel Freire e Almeida ............................................................................................................ 315 ESTUDOS JURÍDICOS Astreintes: essa grande desconhecida Francisco Antonio de Oliveira .................................................................................................. 327 Atualização penal: Carteira de trabalho não anotada agora é crime! Atualidades do inquérito policial. D'Urso apresenta propostas ao Ministro da Justiça Luíz Flávio Borges D'Urso ........................................................................................................ 335 Lei 10.035/2000: contribuições sociais José Pita ..................................................................................................................................... 343 A coletivização do Direito Fernando Polito ......................................................................................................................... 351 ATIVIDADE PROFISSIONAL DE RELEVO Ação de nulidade de ato jurídico, reparação de dano e reintegração de posse Instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel. RESPOSTA Paulo Afonso de Marno Leite.................................................................................................... 359 ACÓRDÃOS ACÓRDÃO N. 29.060/2000-SPAJ em 15/08/Z000. 3a TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/15a. REGIÃO. Processo n. 004Z05/1999-RO-9 Recurso Ordinário, em que é Recorrente: Lucimara Maria dos Santos, e Recorrida: Indústrias Romi S/A. Origem: Vara do Trabalho de Santa Bárbara D'Oeste. AIOS. PORTADORA DE HN TEM DIREITO À ESTABILIDADE NO EMPREGO. DISPENSA IMOTNADA PRESUMIDA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. Mauro Cesar Martins de Souza (Juiz Relator) ......................................................................... 377 ACÓRDÃO N. 40.586/2000-SPAJ em 19/1O/Z000. 3a TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/15a. REGIÃO. Processo n. 015171/Z000-REO-7 Recurso Ex Officio e Recurso Ordinário, em que é Recorrente: Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Assis e Município de Paraguaçu Paulista, e Recorrido: Elias José da Silva. Origem: 2ª Vara do Trabalho de Assis. ADICIONAL NOTURNO. Mauro Cesar Martins de Souza (Juiz Relator) ......................................................................... 383 INFORMAÇÕES AOS COLABORADORES ....................................................................... 387 11 APRESENTAÇÃO Neste momento histórico do aprimoramento do ensino jurídico no Brasil, na hora em que esta Nação salta, com estilo imprevisível e velocidade surpreendente, da plataforma dos programas governamentais de combate ao analfabetismo, para a grande ascensão do desenvolvimento e divulgação da pesquisa científica, outra das metas principais da missão da universidade, conforme preconizado por Onega Y Gasset, vem esta “Revista” consignar a implantação oficial do NÚCLEO DE PESQUISA DOCENTE, da Faculdade de Direito de BauruITE, e divulgar o resultado da produção científica de seu CURSO DE MESTRADO EM DIREITO. No dia 15 de fevereiro de 2001, sob a coordenação da Professora Doutora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e com a presença do Doutor José Roberto Martins Segalla, Diretor da Faculdade de Direito e Doutor Pedro Walter De Pretto, Diretor Vice-Presidente Educacional da Instituição Toledo de Ensino-Bauru, reuniram-se os professores membros do Núcleo de Pesquisa para implantação e desenvolvimento de suas atividades. Tendo como destinatária da produção científica, a comunidade jurídica, são três os objetivos imediatos do Núcleo. Primeiramente, o de contribuir para o aprimoramento e divulgação, em nível nacional e internacional, da pesquisa científica programada, na busca incessante do aperfeiçoamento intelectual. Capacitar o professor universitário, conforme destacou a coordenadora, naquela oportunidade, enfatizando sua crença nos profissionais do Direito que se dispõem a repor a imagem da Universidade brasileira no foco correto, é o segundo objetivo do Núcleo de Pesquisa Docente e, em terceiro, a integração do corpo docente e discente, estendendo-se o trabalho dos professores aos alunos pesquisadores, a serem selecionados dentro das respectivas salas de aula. A fecundidade da semente lança da em forma hábil, na ação de semear, pela coordenadora do Núcleo, Professora Doutora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, sobretudo com o exemplo de sua vida, já se inscreveu na história de nossa RIPE desde a edição passada, constituindo-se em espaço de diálogo da diversidade de pensamentos e enfoques em relação à travessia da nova escola de Direito. A Universidade, conforme noticiado em edições anteriores desta “Revista”, por natureza e definição, deve refletir os verdadeiros sentimentos democráticos do nosso povo e os verdadeiros desígnios do nosso desenvolvimento, feito com árduo e penoso trabalho, em favor da produção intelectual científica no Brasil. 12 Completando, de certo modo, o quadro das significações atribuídas à presente edição, nossa RIPE quer pôr em relevo o êxito obtido por nossos colegas de magistério superior na defesa oral para obtenção dos títulos de Mestre e Doutor em Direito. Assim, como coroamento dos esforços daquelas pessoas vitoriosas, que constituem parcelas da grandeza humana, publicamos, a partir da presente edição, os resumos das dissertações e teses apresentadas, intra e extra muros, em programas de mestrado e doutorado, homenageando os mais novos diploma dos da Faculdade de Direito de Bauru-ITE e rendendo-lhes o nosso preito de gratidão e reconhecimento pela ardente profissão de fé nos destinos da libertação do homem e do aprimoramento da sociedade brasileira. Concitamos nossos estudantes a que marquem sua presença no processo do desenvolvimento econômico e cultural do nosso País, incentivados pela grande mensagem de coragem, estudo, tenacidade e patriotismo sadio de seus mestres, de modo a que se transformem, nos setores de suas atividades específicas, em nossos embaixadores perante as Universidades de outros estados e nações amigas, a fim de que o Brasil seja compreendido na sua vocação de servir à América e à Humanidade, confirmando e agradecendo a Deus aquilo que Ele nos reservou, na História do Mundo. Abril de 2001. Maria Isabel Jesus Costa Canellas 13 HOMENAGEM “Ainda assim, se um cântaro pode substituir outro cântaro, sem termos de pensar no caso mais do que para deitar fora os cacos do velho e encher de água o novo, o mesmo não acontece com as pessoas, é como se no nascimento de cada uma se partisse o molde de que saiu, por isso é que as pessoas não se repetem. As pessoas não saem de dentro de moldes..." (José Saramago, A Caverna). Fui professora da Angélica Mantovani. Em Julho de 1997, mais uma turma concluiu o curso de Bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru, da Instituição Toledo de Ensino. Uma turma especial que estabeleceu laços profundos entre si e, também, com os professores. Fui professora de Direito Civil dessa turma e uma aluna se destacou: Angélica. Desde os tempos da graduação, Angélica deixou transparecer sua retidão de caráter, sua determinação para alcançar objetivos, a força incontrolável que emergia da sua alma. Sempre muito prestativa e atenciosa, era admirada pelos colegas. Muito delicada e humilde, já nessa época, manifestou seu sonho de ser PROFESSORA NA FACULDADE DE DIREITO DE BAURU. Quando assim se manifestava, surgia um brilho nos seus olhos que iluminava todo o seu semblante. A colação de grau foi a passagem para o início da luta determinada. Logo após a formatura, informalmente, Angélica iniciou seu caminho na carreira acadêmica tão desejada: acompanhou-me nas aulas de Direito Civil. Ávida por saber, estava sempre atenta às minhas solicitações de pesquisas. Foi um período rico na consolidação do aprendizado da graduação. Convidada para ministrar aulas em uma outra Faculdade de Direito, resistiu ao convite porque não queria afastar-se da NOSSA FACULDADE. Aconselhando-se com os mais experientes, acabou por aceitar o convite. Foi ser professora! Começava a realização de um sonho acalentado com carinho. Pouco tempo foi preciso para que NOSSA FACULDADE chamasse a batalhadora e competente Angélica (que a essa altura era mestranda na Pós-Graduação da ITE) para ministrar aulas de Direito Civil. 14 Em decorrência de sua dedicação, seu carinho e simpatia, desde o início, foi muito querida pelos alunos da graduação. Coordenando Núcleo de Pesquisa da Pós-Graduação da ITE, fez-se estimada e admirada pelos alunos tutelados, que encontraram na Professora Angélica um exemplo a ser seguido, pela determinação, coragem, honestidade, competência e humildade. O caminho do Mestrado foi tão batalhado quanto os outros, mas foi percorrido com brilhantismo. Sempre disciplinada e dedicada aos estudos, tornou-se respeitada por muitos. . Nós que tivemos o privilégio de conviver com a Angélica não entendemos por que seu caminho tenha sido tão curto. Certamente, o Pai deve ter concluído que ela, em tão pouco tempo, cumpriu a sua missão. Por tudo que nos ensinou, pelos exemplos que humildemente nos deixou, digo com tranqüilidade: Angélica foi Mestra! Lydia Neves Bastos Telles Nunes Chefe de Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito de Bauru - ITE 15 VIDA DA FACULDADE Resumos de projetos e teses de docentes, apresentados em programas de mestrado e doutorado, e de trabalhos discentes em Iniciação Científica, da Faculdade de Direito de Bauru, Instituição Toledo de Ensino. O QUE DIZEM OS VITRAIS? SUA COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS SAGRADOS DA SAINTE CHAPELLE E DA CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE CHARTRES Hélio Requena da Conceição Programa de Pós-Graduação Em Artes e Comunicação Área de Concentração: Comunicação e Poéticas Visuais Nível de Mestrado Orientadora: Professora Doutora Nelyse Salzedas FAAC - UNESP -Bauru/SP O objetivo desta obra é apresentar uma recepção da comunicação veiculada pelos vitrais dos espaços sagrados da Sainte Chapelle, de Patis e da Catedral de Notre-Dame, de Chartres, demonstrando que essas obras, pertencentes ao período gótico francês, constituem verdadeiro meio de comunicação. Na primeira parte, “Os vitrais - meios de comunicação pela arte”, buscamos a apresentação e análise dos meios utilizados pelos seus criadores para tornar legível e aceita a mensagem veiculada, bem como a estrutura e a existência do prototexto que deu origem à 16 metacomunicação dos vitrais. Na segunda, “Uma proposta de leitura: estética de Iser e Jauss”, referente à técnica, preocupamo-nos com o enquadramento teórico da comunicação veiculada pelos vitrais na estética da recepção de Jauss e Iser. Na terceira, “O processo de leitura: o contexto”, buscamos a reconstrução da história, objetivo e forma como se deu a construção dos espaços sagrados onde se encontram essas obras de arte, como também o pensamento filosófico e a ideologia que as nortearam. Finalmente, na última parte, o não-verbal, apresentamos um processo de leitura formal e simbólica dos vitrais da Saint Chapelle e da Catedral de Notre-Dame de Chartres. 17 A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DA IMPRENSA Pedro Vinha Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientadora: Professora Doutora Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo A abordagem da responsabilidade civil pelo fato da imprensa é feita por meio de pesquisa bibliográfica em obras de autores brasileiros e estrangeiros, além de estudo das posições e tendências das jurisprudências originárias dos Tribunais brasileiros, comparando-as com a legislação estrangeira, em especial com a da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, contemplando o resgate histórico da responsabilidade civil, bem como dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva e objetiva e o campo de aplicação de cada uma dessas modalidades. A responsabilidade civil é tratada sob o enfoque do Código Civil Projetado (PL nº. 634-C/1975). As questões relacionadas com os direitos da personalidade e da comunicação social aplicáveis ao estudo, são analisadas como forma preparatória para o estudo da lei de imprensa em vigor (Lei nº. 5250/1967). O estudo da legislação de imprensa em projeto (PL nº. 3232-N1992) é destacado em seus aspectos relevantes, culminando pela apresentação de sugestões para aprimoramento daquela legislação e pela apresentação de princípios aplicáveis à resolução da antimonia existente entre as 18 normas constitucionais conflitantes, tendo concluído que os direitos da personalidade prevalecem sobre os direitos que decorrem da liberdade de comunicação social. 19 FRAUDE À EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO ONEROSA DE BENS E O DEVIDO PROCESSO LEGAL Gelson Amara de Souza Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientadora: Professora Doutora Iara de Toledo Fernandes Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo O presente estudo desenvolvido ao longo deste trabalho visou a analisar o comportamento empírico que se tornou uma constante na Justiça brasileira, em conhecer e reconhecer a existência de fraude à execução e declarar a ineficácia da alienação ou oneração, sem que, ao menos, sejam ouvidos o devedor alienante e o terceiro adquirente ou credor titular do ônus. Estes últimos, na grande maioria dos casos, somente tomam conhecimento da decisão depois que seus bens já sofreram restrição o constrição sem o devido processo legal. Sabendo-se, que em um País como o nosso, onde existe uma Constituição, esta é sempre colocada em posição hierárquica acima de quaisquer outras normas, e que no Brasil, esta Cana maior assegura e dá garantia de que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (Art. 50, LIV, da Constituição Federal), preocupou-se com o comportamento empírico (sem técnica e sem lei) e que se tornou costume nos meios jurídicos, que é o de se reconhecer a fraude à execução e ainda declarar-se a ineficácia da alienação ou oneração, e pior que isso, determinar-se a penhora do bem que pertence a terceiro e que por isso não é, nem devedor e nem pane na execução, sem direito à ampla defesa, sem contraditório e sem o devido processo legal. 20 É importante notar que além dos princípios do devido processo legal, o do contraditório e o da ampla defesa, princípios de natureza processual, preocupou-se com outros princípios de natureza substancial, como o princípio da boa-fé e quem foi dedicado um capítulo inteiro. A boa fé e a dignidade humana foram tratados como princípio implícito no sistema constitucional brasileiro, colocadas em relevo como princípios maiores que devem ser acolhidos ainda que se tenha de sacrificar outros princípios fundamentais que possam ser considerados em confronto como de menor importância para o caso. A boa fé, além de por si só já ser um princípio geral de direito, ainda está incrustada em vários princípios constitucionais expressos nos variados sistemas jurídicos e mais precisamente, no sistema constitucional. Entre esses princípios (alguns implícitos) realçam-se os seguintes: Princípio da confiança, da eqüidade, da igualdade e da dignidade humana. Todos esses princípios foram colocados em comparação com o procedimento da declaração de fraude à execução. 21 A TRIBUTAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA URBANA NA CONSTITUIÇÃO DE 1900 Antônio Carlos Batista Martinez Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Wagner Batera Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araújo O presente trabalho, sucinto e despretencioso, consiste em breves apontamentos com o escopo maior de compilar os vários entendimentos da doutrina jurídica e posicionamento jurisprudencial acerca da tributação incidente sobre a propriedade imobiliária, especificamente a urbana, levando-se em consideração a função social da propriedade. Os estudos nos fizeram analisar que a ferocidade do poder impositivo do Estado encontra, na atual Carta Política, mais uma limitação lançada frente a uma nova posição social: o direcionamento da função social da propriedade imobiliária. Tenta-se enfocar a questão levando-se em consideração, inicialmente, o próprio direito de propriedade, destacando-se que toda a estrutura do direito das coisas gira em torno desse direito. Necessário foi trazer à baila a visão histórica desde a época do direito romano até a conceituação moderna. Imprescindível, também, um breve histórico da origem da propriedade no Brasil (a propriedade imobiliária). 22 A noção tradicional do direito de propriedade individualista adquire novos caracteres, razão pela qual alinhava-se aqui aspectos breves da função social da propriedade, verificando-se, no contexto, a participação da igreja, a sua posição frente ao estatuto da terra, no direito agrário e econômico, além de outras considerações. Leva-se adiante o estudo sobre a função social da propriedade como princípio albergado na Carta Política atual, direcionando à propriedade urbana o comprimento, também, de uma função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano-diretor. Concomitantemente, a tributação fixada sob a denominação de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, alinhava-se um breve histórico. O estudo invade a discussão sobre a possibilidade de progressividade no referido imposto (a caracterização de progressividade fiscal e extrafiscal). Traça-se um parâmetro da progressividade com a função social. Por certo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é observado, afinal. Por derradeiro, o conflito de competência é analisado quando o cumprimento da função social da propriedade pelos municípios, vez da limitação, ou não, pela promulgação de lei federal. Resta, pois, ressaltar-se que o trabalho ora apresentado tem o intuito de tão somente oferecer alguns subsídios para o leitor sobre o tema enfocado, indicando com ele posicionamento de renomados juristas. Deve-se, portanto, analisar o resultado pela ótica de que o autor desta dissertação é um modesto aprendiz. 23 A LEGITIMIDADE E O ACESSO À JUSTIÇA PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS José Jorge Costa Jacintho Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientadora: Professora Doutora Iara de Toledo Fernandes Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Este estudo tem como objetivo geral, analisar a ação dos movimentos sociais e a sua legitimidade para estar em juízo e como objetivo específico verificar como tem sido tratada a questão da função social da propriedade rural e como te se dado o acesso à justiça pelos movimentos sociais e a sua legitimação. Para tanto, buscou-se analisar a luta pela terra desde a Antigüidade até a atualidade, verificando-se necessidade de efetividade social das normas constitucionais, a função social da propriedade e, por fim, a legitimação dos entes despersonalizados para estar em juízo. Concluiu·se que o acesso à justiça aos movimentos sociais vem sendo sistematicamente negado, ora por não lhes ser reconhecida a legitimidade, ora por não ter sido efetuada a citação das pessoas responsáveis pelos acampamentos, de forma correta ou 24 ainda pelo custo do processo e que os movimentos sociais despersonalizados têm legitimidade para estar em juízo. 25 RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO AERONÁUTICO Paulo Henrique de Souza Freitas Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Nelson Luiz Pinto Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo O presente trabalho visa elucidar a responsabilidade civil do transportador aéreo, motivado inclusive pelos recentes acidentes aéreos internacionais, Concorde da Air France (2000), Boeing 747 da TWA (1996), MD-II da Swissair (1998), Boeing 767-300 da EgyptAir (1999), com enfoque sob a ótica do Direito Constitucional, principalmente, indagando a questão da supremacia ou não dos Tratados Internacionais, em relação à Lei Interna. A Aviação Civil possui certas peculiaridades, especialmente adentrar nos espaços aéreos de outros países corriqueiramente; assim, é necessário todo um estudo, a nível globalizado, cujo trabalho envolve a dedicação de renomados estudiosos, incansáveis, atualizadores dos Tratados Internacionais, como visto, recentemente, através da Convenção para a Unificação de certas regras, relativas ao Transporte Aéreo Internacional, realizada em Montreal (05/1999) e ainda não em vigor. No âmbito doméstico, trouxemos também a estudo o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7565/86), editado há pouco mais de dez anos. Esclarecemos a questão da responsabilidade 26 objetiva e subjetiva no transporte aéreo, bem como a divergência jurisprudencial e doutrinária, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) ou do Código Brasileiro de Aeronáutica, à quantificação da indenização, limitada internacional e internamente, e à sua inaplicabilidade, nos casos de dolo e culpa grave. O dano moral, textualmente incorporado à Constituição Federal de 1988, traz à tona uma gama de aspectos, até pouco discutidos; neste estudo também são debatidos, assim sua acumulação com o dano material, e a posição de nossos Tribunais, quanto a essas questões. 27 A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DO DANO CAUSADO POR DISCRIMINAÇÕES INJUSTAS Maria Isabel Jesus Costa Canellas Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientadora: Professora Doutora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Trata-se de um trabalho de pesquisa e estudo sobre a justa reparação por ato de discriminação injusta ou ilegal, de qualquer natureza, que causa dano a outrem e para o qual a lei assegura a responsabilização civil. O objetivo desta dissertação é demonstrar que, apesar dos esforços da humanidade através da história das nações, no combate à marginalização, à exclusão das minorias e à pobreza - melhor dizendo, à distribuição injusta de riqueza - milhões de seres humanos continuam ainda hoje a ser vítimas das mais variadas formas de racismo, discriminação racial e social, xenofobia e outras formas de intolerância. O antagonismo ético, os atos de violência e as guerras sangrentas continuam aumentando no mundo globalizado, o que sobreleva a importância da educação como um instrumento poderoso de prevenção e erradicação da injustiça da discriminação e de conscientização dos princípios de direitos humanos. Assim, este trabalho científico busca a demonstração precisa de que toda discriminação injusta pode trazer como conseqüência não apenas um dano patrimonial, mas, especialmente, Sélio dano moral, a exigir reparação, por afrontar a dignidade humana. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro, de 1988, consagrou a dignidade humana como valor 28 fundamental, proibindo o preconceito e a discriminação de qualquer natureza e assegurou o direito à indenização por dano material, moral ou ambos decorrentes desses atos. Desse modo, em harmonia com a legislação civilista, as leis brasileiras atuais protegem as vítimas da discriminação injusta. Na verdade, o sistema legal autoriza os juízos e tribunais a fixarem uma indenização à vítima e/ou aos familiares próximos atingidos pelo dano. Por essas razões e para alcançar os objetivos fixados na Introdução, o trabalho apresenta uma visão geral sobre o gênero discriminação, os preconceitos malévolos, a semelhança de significado entre os termos e o dano causado por tais atos. Depois disso, reafirmando a crença no ser humano como o centro do universo, apresenta uma análise histórica e crítica da evolução da responsabilidade civil. Mostra também alguns focos de discriminação, como, por exemplo: contra os negros e indígenas, a mulher, as pessoas portadoras de doenças contagiosas, de deficiência física ou mental ou com orientação sexual diversa, imigrantes e migrantes e os pobres em geral. Cotejando as Constituições e Cartas Legislativas de alguns países, verificou-se que há identidade entre elas, implícita ou expressamente, quanto à preocupação com as minorias vulneráveis à marginalização, o compromisso político da eliminação de quaisquer formas de discriminação, assim como em relação à violência, incluindo a tendência de se fixarem políticas baseadas na discriminação ou superioridade racial, religiosa, étnica, cultural e nacional. A seguir, a dissertação destaca o reconhecimento mundial de que a discriminação merece tratamento legal porque é considerada uma das maiores violações contra os direitos humanos no mundo contemporâneo. Finalmente, enfatiza que o direito atual - ao menos na teoria - não visa à punição; seu objetivo é compensar e somente compensar. Assim, “perdas e danos punitivos”, que, às vezes, são concedidas na responsabilidade extracontratual, como um tipo de punição, pretendem, na verdade, prevenir ou desencorajar tais atos. O terceiro milênio deve ser de reação aos preconceitos que colocam as minorias segregadas em estado de inferioridade, adotando os governos, as várias organizações não-governamentais e a massa do povo idéias não-discriminatórias, respeito, tolerância e compreensão entre os povos e as diferentes culturas, de modo que os seres humanos possam ser um pouco mais felizes. 29 LIMITES CIRCUNSTANCIAIS PARA A REFORMA CONSTITUCIONAL Eliana Franco Neme Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Faculdade de Direito de Bauru/SP. Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre·Docente Luiz Alberto David Araujo O presente trabalho pretende analisar os institutos da intervenção federal, do estado de defesa, e do estado de sítio, no direito constitucional brasileiro, como situações especiais, nas quais não pode haver mudança na Constituição. Será feita, uma apresentação da Constituição, Poder Constituinte, formas e limites de mudança da Constituição, para que, finalmente, possamos 30 analisar essas circunstâncias, de exceção, oportunidade em que, serão evidenciados, os fundamentos de existência desses limites. 31 O DIREITO AO SILÊNCIO DO ACUSADO - ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS PENAIS Sílvio Carlos Alvares Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Na experiência da docência, bem como na experiência profissional de mais de vinte anos de serviços cartorários, notadamente na área Criminal, surgiu a idéia do presente trabalho. Após o advento da Constituição Federal de 1988, com as inovações trazidas com o término do endigitado regime ditatorial militar, mais presente se fez à menção às garantias do indivíduo frente à nova realidade que se mostrava presente. Saíamos de um regime de exceção onde os direitos e garantias fundamentais do indivíduo eram supridos pela necessidade de fortalecimento da ditadura do Estado. Com a nova ordem constitucional vigente, promulgada em 1998, os direitos do indivíduo, mais precisamente dentro do processo tornaram-se baluarte da luta democrática, pela instalação de um regime seguro. O presente trabalho, alicerçando-se no novo ordenamento constitucional, estuda de maneira direta e concreta, um dos novos princípios que se colocam como substrato das garantias fundamentais do indivíduo, mais especificamente, deste indivíduo no processo, e mais ainda restritivamente do indivíduo no processo penal, o seu direito ao silêncio. Direito esse oriundo do direito de não fazer prova contra si mesmo, bem como da 32 garantia de que qualquer procedimento deve, por primeiro, garantir ao indivíduo que está sendo acusado de qualquer infração penal, a observância estrita e indispensável das normas referidas na Constituição que lhe atribuem garantias e direitos. Nosso trabalho inicia-se com a hermenêutica da palavra silêncio, com suas várias definições nos diversos campos de atuação da vida e do direito, até se chegar ao conceito próprio dentro do ordenamento processual penal. Após, analisase o instituto do silêncio sobre o aspecto filosófico, visto que a filosofia é indispensável para o entendimento amplo de qualquer instituto, já que procura indicar um estado de espírito daquele que busca incessantemente o conhecimento, num indagar eterno a partir da aquisição de novo conhecimento. Terminado este estudo, o trabalho objetiva a análise das garantias que a lei maior, a Constituição, determina ao indivíduo dentro do processo, o estudo do devido processo legal, bem como do direito de ação. Cuida posteriormente, do direito ao silêncio como norma constitucional, sua localização na Constituição vigente, bem como a análise específica do dispositivo constitucional atinente. Não se esquece de procurar correlatos ao instituto das normas anteriores, bem como no direito comparado. A partir daí, dirige-se mais especificamente ao silêncio no processo penal, a oportunidade para tanto, dentro das várias possibilidades de interrogatório do imputado, conceituando-o, e estudando-o nas suas minúcias e características, analisando ainda tema atual e polêmico da possibilidade do interrogatório a distância. Por fim estuda o direito ao silêncio na jurisprudência pátria, sua utilização mais recente nas Comissões Parlamentares de Inquérito, onde se garantiu até a possibilidade da testemunha silenciar, ampliando-se o sentido literal e primeiro do dispositivo penal, mais notadamente no caso Chico Lopes e Comissão de Inquérito do Narcotráfico, sem perder a oportunidade de analisar a origem e significado dessas Comissões, com a indispensável crítica às mesmas, fazendo-se o que é de rigor ao cientista jurídico, indagar, criticar e apresentar conclusão no sentido sempre de melhorar o instituto estudado. 33 O ÔNUS DA PROVA NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL Virginio Guarnetti Sobrinho Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Gabriel Benedito Issaac Chalita Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo O objetivo do presente trabalho é o ônus da prova no direito processual civil, principiando com a conceituação de prova e de ônus e destacando a distinção entre ônus e obrigação. Os critérios distributivos do ônus probatório são analisados a partir do direito romano, e por intermédio deste, o direito hispano-lusitano e também o direito brasileiro. Ao lado dos princípios distributivos, ressalta-se o fato de ter o perfil subjetivo do ônus da prova, do reconhecimento de poderes instrutórios ao juiz e da possibilidade deste apreciar livremente a prova produzida no processo, independentemente da sua origem. O ônus da prova e a regra de distribuição no código de defesa do consumidor, a sim como a possibilidade de sua inversão em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação, em razão da aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo, tem de 34 ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade entre os partícipes da relação de consumo. 35 O AGRAVO FRENTE AOS PRONUNCIAMENTOS DE PRIMEIRO GRAU NO PROCESSO CIVIL Luís Henrique Barbante Franzé Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Gabriel Benedito Issaac Chalita Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz A1berto David Araujo Verificamos O recurso de agravo nas espécies retida e de instrumento, em relação à decisão interlocutória proferida na primeira instância, dentro do rito delineado pela atual redação do Código de Processo Civil, ressaltando as alterações trazidas pelas leis 9.139195 e 9.756/98. Para a coleta de dados, utilizamos, notadamente, pesquisa na doutrina e jurisprudência, além da experiência própria, quando necessário. Apontamos como principais resultados: a) a definição da decisão interlocutória; b) a análise, em sentido amplo, da teoria geral dos recursos, traçando paralelo com o agravo; c) a abordagem do atual procedimento do agravo, com o enfrentamento de seus aspectos polêmicos; d) a verificação da existência de efetividade no processamento do agravo em relação ao rito trazido pela redação primitiva do CPC/73. Concluímos que as reformas trouxeram inúmeras modificações e, em que pese a existência de omissões e contradições nas 36 normas pertinentes, o saldo, inequivocamente apresenta relevante aumento de efetividade do recurso. 37 A TUTELA ANTECIPADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO José Luiz Ragazzi Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Gabriel Benedito Issaac Chalita Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz A1berto David Araujo O presente trabalho procura demonstrar a insatisfação dos jurisdicionados com a demora na prestação da tutela jurisdicional, e a desigualdade material e processual que se estabelece nas relações de consumo, pela desigualdade econômica e cultural entre fornecedores e consumidores. Com o advento da Lei protetiva 8078/90, o consumidor ganhou status nunca dantes experimentado em nosso país, com instrumentos ágeis, que, se bem utilizados podem proporcionar uma efetiva defesa do consumidor, eis que a própria Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado deve promover a sua defesa, declarando então, sua vulnerabilidade freme ao fornecedor. Instrumento processual dos mais modernos, a Tutela Antecipada que pode ser concedida em quaisquer ações que visem a defesa do consumidor, é capaz de diminuir as desigualdades gritantes entre consumidor e fornecedor, pois, proporciona ao poder judiciário 38 antecipar os efeitos da sentença, diminuindo sensivelmente a desigualdade entre as partes, tanto no juízo monocrático como em órgãos colegiados. É de se ressaltar, ainda, o aumento dos legitimados a promoverem a defesa dos consumidores, através de Entes Públicos, ainda que sem personalidade jurídica, além de associações e do Ministério Público. Ressalte-se ainda, da possibilidade de concessão de Tutela Antecipada processos em que consumidores contendam com o Estado, contumaz descumpridor da legislação pátria. 39 A TUTELA ESPECÍFICA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR FRENTE ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL Soraya Regina Gasparetto Lunardi Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Gabriel Benedito Issaac Chalita Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz A1berto David Araujo O presente trabalho visa elucidar a tutela específica no Código de Defesa do Consumidor, frente as garantias constitucionais do devido processo legal. Primeiramente, traz a importância do processo civil constitucional; na atualidade, é necessário fazer-se uma leitura conjunta das matérias, ou seja, o processo civil precisa trazer em sua regulamentação e aplicação toda a base constitucional. O aspecto enfocado do devido processo legal neste estudo é aquele que não se delimita à idéia de forma, mas sim como instrumento de justiça, ou o também denominado substantive due process (devido processo legal material). Esse devido processo legal é a principal base constitucional da concessão da tutela específica, possibilitando inclusive a inibição do ilícito. Assim, o devido processo legal prestado em prazo razoável, previsto no Pacto de San José da Costa Rica, muitas das vezes é aquele em que a tutela é prestada anteriormente ao dano. Nesses casos, a fixação de indenização se trata de acesso formal ao Poder Judiciário, incompatível inclusive com a dignidade da pessoa humana. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a 40 questão se mostra mais evidente, em face de toda a principiologia e carga axiológica voltada à prevenção existente. A tutela específica do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor é então apresentada em todas as suas peculiaridades, com um estudo de cada um dos seus parágrafos, e as conseqüências de sua aplicação. Finalizando, são trazidos os aspectos relevantes para a aplicação da tutela específica nas lides coletivas, que são fundamentais para maior efetividade do processo, especialmente de prevenção, sua aplicabilidade se dando inclusive na ação civil pública, já que a legislação (Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor) é integrada. Casos concretos e a posição dos Tribunais pá trios são também apresentados, para a necessária ilustração. 41 O PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ NO PROCESSO CIVIL E SUA PARTICIPAÇÃO NA COLETA DO MATERIAL PROBATÓRIO Sérgio Augusto Frederico Programa de Pós-Graduação em Direito Área de Concentração: Sistema Constitucional de Garantia de Direitos Nível de Mestrado Orientador: Professor Doutor Gabriel Benedito Issaac Chalita Faculdade de Direito de Bauru/SP - Instituição Toledo de Ensino Coordenação Acadêmica: Professor Livre-Docente Luiz Alberto David Araujo Este estudo defende a participação efetiva do juiz na coleta do material probatório, contrapondo-se à postura dos que defendem e assumem posição mais comedida ou somente complementar. Os magistrados têm plena consciência de seus poderes instrutórios, porém, alguns deles, na prática, deixam sob a incumbência exclusiva das partes a produção da prova. Adotam essa postura porque imaginam ser esta mais favorável à imparcialidade. Visando rever esse comportamento judicial, a abordagem inicial centraliza-se no próprio princípio da imparcialidade. Apresenta-se a lei como primeiro referencial necessário à defesa da referida tese. Colocam-se, em 42 seguida, outros argumentos, ao se fazer a relação entre o princípio da imparcialidade e os princípios informativos e os fundamentais do processo civil. Por último, subsidia a tese, as lições de ética e cidadania, como suportes básicos para um papel mais participativo do juiz. 43 DOUTRINA NACIONAL 44 O PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA NA DIMINUIÇÃO DAS DIFERENÇAS, NA TERCEIRA VIA E NO CONSELHO DE WASHINGTON Francisco Alves dos Santos Júnior Ex-Procurador da Fazenda Nacional (SP), ex-professor da Universidade Católica de Pernambuco-UNICAP, Juiz Federal, 2a Vara-PE (desde fevereiro de 1988), professor da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco-ESMAPE, sócio do IBDT/SP, graduado em Direito pela USP (1979), pós-graduado, nível mestrado, pela UFPE (2000), autor de inúmeros trabalhos publicados. Ao Prof. Eduardo R. Rabenborst, cujos ensinamentos inspiraram-me este trabalho. INTRODUÇÃO Não há dúvida que o problema da desigualdade tem sido uma das maiores preocupações da humanidade, porque se choca com o ideal de justiça, havendo necessidade de redução das diferenças. Séculos antes de Cristo, o grego Trasímaco, em debate com Sócrates, já denunciava: 45 “O governo de cada cidade é o que nela detém a força”, estabelecendo Leis “tendo em vista os seus respectivos interesses”, mostrando, aqueles que estão no poder, “que é justo para os governados o que a eles [os que estão no poder] convém,...”1 e 2, Quanta atualidade nas palavras de Trasímaco! E esse situação acentuou-se com o advento do capitalismo3, sobretudo quando amparado por políticas de cunho liberal. A mesma situação denunciada pelo grego Trasímaco também se manteve na experiência do denominado socialismo real soviético, que se iniciou em 1917 e teve um fim melancólico no final da década de oitenta, onde aqueles que dominaram a burocracia “socialista” estatal gozavam de todos os privilégios em prejuízo da grande massa da população. Deflui-se da obra de Platão, acima referida, que Sócrates e os outros que participavam do debate no banquete ali descrito deram a entender que os que estão no poder só legislam a favor dos governados, quando erram.4 Os teóricos que, ao longo da história do homem, buscam saídas para uma atenuação desse estado de coisa, têm feito inúmeras propostas, que não se limitam a enganos dos que detêm o poder, mas no sentido de que estes o façam de bom grado, visando diminuir as diferenças entre os inúmeros grupos que compõem as sociedades, não só como uma questão de justiça ou de humanismo, mas até mesmo de sobrevivência do sistema, e é uma dessas propostas que vamos examinar, o princípio da progressividade no campo dos tributos, bem como o seu enquadramento no princípio da diferença, estudado por JOHN RAWLS5, na denominada terceira via da atual (ou nova) social-democracia, e ainda na não sincera proposta do consenso de Washington. 1 PLATÃO. Diálogos III. A República. Tradução de Leonel Vallandro. Rio de Janeiro. Ediouro. [s.d], p. 16. AGENES HELLER e FERENC FEHÉR comentam esses argumentos de Trasímaco, e o enquadram entre os pensamentos nominalistas ou relativistas e dizem que, se as afirmações de justiça fossem assim tratadas, todas as discussões a ela relativas seriam irrelevantes, porque a justiça não passaria de um ato de força. O direito seria força. E sustentam o ponto de vista de que, após o fim da crença na lei divina e o desacreditamento da chamada lei natural, também nominalistas ou relativistas, surgiram com o mundo moderno dois valores que fundamentam a justiça, que são a liberdade e a vida, sendo o primeiro valor reivindicação de justiça política e o segundo um valor de justiça social. A Condição Política Pós-Moderna. Tradução de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p. 179-181. Título original The Post-Modern Political Condition. 3 Nesse sentido, ANTÔNIO CARLOS WOLKMER. Pluralismo Jurídico. Ed. 2ª, São Paulo: Alfa Ômega, 1997, p. 25-26. 4 PLATÃO, ob. cit, p. 17. 5 JOHN RAWLS. Uma Teoria da Justiça. [Tradução de Vamireh Chacon]. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, p. 79-84. 2 46 O PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE Origens Certamente, não se cogitaria da aplicação deste princípio na República do grego Antístenes (cujos escritos não chegaram aos nossos dias, tendo suas idéias chegado a nós por intermédio dos seus discípulos, os cínicos), nas quais os gozos materiais e as riquezas eram desprezados.6 Também na Utopia do urbanista grego Hipódamo de Mileto, o princípio em estudo não poderia ser aplicado, por ausência de tributos e porque nela haveria uma grande preocupação com a igualdade entre os homens, não obstante fossem separados em três classes hierarquizadas: os sacerdotes, os soldados e os trabalhadores, permitindo-se, todavia, a ascensão de uma classe para outra por meio de eleições.7 Outrossim, nas cinqüenta e quatro espaçosas cidades da Ilha da Utopia, de Thomas Morus, não se haveria de falar da aplicação do princípio da progressividade, porque ali os cidadãos não pagariam tributos e todos receberiam tratamento igualitário, pois “No centro de cada quarteirão, encontra-se o mercado das coisas necessárias à vida”. São depositados aí os diferentes produtos do trabalho de todas as famílias. Esses produtos depositados primeiramente nos entre postos, são em seguidas classificados nas lojas de acordo com sua espécie. Cada Pai de família vai procurar no mercado aquilo de que tem necessidade para si e os seus. Tira o que precisa sem que seja exigido dele nem dinheiro nem troca. (... ). A abundância sendo extrema, em todas as coisas, não se teme que alguém tire além de sua necessidade”.8 Na República aristocrática de Platão, de cunho comunitário, esse princípio também não seria aplicável, pois ali não haveria cobrança de tributos e tudo seria custeado pela República, com diferenciações fixadas pelo legislador, o qual escolheria os casais que teriam vida conjugal “e, como morarão e tomarão suas refeições em comum, sem que ninguém possua nada como coisa própria, ...” e os cidadãos menos nobres, como os guardiães, não passariam “apuros e dificuldades que costumam causar a educação dos filhos e a necessidade de conseguir dinheiro para o sustento da família”. 6 JEAN-CRISTIAN PETITFLS. Os Socialismos Utópicos. [Tradução de Waltensir Dutra]. São Paulo: Círculo do Livro, 1977, p. 13-14 1bidem, p. 14. 8 THOMAS MORUS. A Utopia. [Tradução de Luis de Andradel. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d], p. 77 e 90-91. 7 47 O mesmo aconteceria nas Sociedades utópicas de Zenão de Cício e dos estóicos, que retomaram as idéias de Antístenes, de forma que nessas Sociedades haveria fraternidade, sem dinheiro, sem exército e sem justiça, onde os homens viveriam como irmãos, e ainda no “País dos Meropes”, de Teopompo, e na Cidade do Sol, de Jambulos, onde o ideal da igualdade e do comunismo também foram pregados.9 Registro que o projeto da Cidade do Sol foi retomado um século depois (em 1602) da obra de Thomas Morus, pelo monge domiciano calabrês Tommaso Campanella.10 Ora, então qual a origem do Princípio da Progressividade dos tributos? ALIOMAR DE ANDRADE BALEEIRO ensina que certamente foram cobrados impostos progressivos na República Florentina dos séculos J0I e J01I, e que Montesquieu defendeu a implantação desse tipo de imposto. 11 BALEEIRO destaca ainda que esse tipo de imposto também foi cobrado na Basiléia, no ano de 1429. EZIO VANONI lembra que PROUDHON, no ano de 1848, apresentou projeto de lei na Assembléia Nacional francesa, visando implantar esse princípio na sua legislação, mas mencionado projeto foi rejeitado por grande maioria (apenas três votos a favor), tendo restado consignado na ordem do dia dos anais da Assembléia Nacional da França que “o imposto progressivo era imoral e subversivo da ordem divina e humana”. 12 O tributarista HUGO DE BRITO MACHADO, em um pequeno artigo no qual criticou políticos de esquerda13 de Fortaleza-CE14, que estariam fazendo campanha contra Lei desse município pela qual pensavam que se estava introduzindo a progressividade no IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, demonstrou a incoerência ou ignorância daqueles políticos, verbis: “Curioso, porém, é observar que em Fortaleza são os políticos da esquerda que se voltam contra o IPTU pelo fato de o considerarem progressivo, quando a progressividade tem sido arma de socialistas e comunistas, 9 JEAN.CRISTlAN PETlTFLS, ob. cit., p. 16. Ibidem, ob. cit., 20.21. ALIOMAR DE ANDRADE BALEEIRO. Uma Introdução à Ciência das Finanças. Ed. 12ª. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 217 12 EZIO VANONI. Natureza e Interpretação das Leis Tributárias. [Tradução de Rubcns Gomes de Souza]. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, [s.d], p. 80. 13 O contraste esquerda x direita, respectivamente, socialista x capitalista, segundo pesquisas recentes, efetuadas na Inglaterra e nos EUA, já não se encontram presentes no seio dos eleitores, “tendo muito menor relevo (...) que o contraste entre libertário e autoritário, 'moderno' e ‘tradicionalista’...”. Cfr. ANTHONY GIDDENS. A Terceira Viareflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. [Tradução de Maria Luíza X. de A. Borges J. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2000, p. 32-33. E nas p. 47-56 dessa mesma obra, faz um histórico da utilização dessas expressões e da variação do sentido das mesmas ao longo da história. 14 Jornal “O Opinião”, Fortaleza: 08 de fevereiro de 1998, [s.p.]. 10 11 48 preconizada inclusive no manifesto de Marx (quanto a autoria desse manifesto, v. nota 16), contra a concentração da riqueza.” No mesmo sentido, o financista português A. L. SOUZA FRANCO que, falando sobre a progressividade tributária, assim se manifestou: “... , apesar de se encontrar hoje em dia perfeitamente enquadrada em sistemas económicos capitalistas, convirá recordar a ênfase que lhe é dada no "Manifesto do Partido Comunista" de Karl Marx e Friedrich Engels”.15 Na verdade, consta nesse histórico documento dos comunistas que o primeiro passo para se chegar a revolução proletária, ali pregada, deve tia ser a conquista da democracia e no decorrer desta, nos Países mais adiantados, poderiam ser postas em prática várias medidas, tais como: "1- Expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. 2- Imposto fortemente progressivo. 3- ..."16, etc. Ou seja, para os comunistas de então, a progressividade tributária seria aplicável nas sociedades capitalistas adiantadas, mas que inexistiria na sociedade comunista, porque nesta não haveria diferença de classes e o capital seria de todos, concentrado na figura do Estado coletivo17, de forma que numa sociedade tal não teria sentido a aplicação desse princípio. 15 Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1980, p. 1%. Obs.: Foi mantida a ortografia original. KARLMARX e F. ENGELS. Manifesto Comunista. [Tradução e revisão de Maria Arsênio da Silva]. Ed. 2ª, São Paulo: Ched Editorial, 1980, p. 37. (Coleção Polêmicas Operárias: Série Documentos). É interessante notar que esses dois teóricos primeiros do marxismo informam, no prefácio que escreveram em 1872 para referido Manifesto; transcrito neste livro, que tal documento não foi por eles escrito, mas sim pelos operários da Liga Comunista que participaram do Congresso que se realizou em novembro de 1847, na cidade de Londres, Inglaterra, e que teria sido publicado pela primeira vez nessa mesma cidade, no ano de 1850, na Rede Republican. 17 Quando existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o problema da tributação era tratado no final do art. 14 e no item 6° do art. 73 da sua Constituição. Constava no referido art. 14 que as rendas sofreriam tributação e, no mencionado item 6° do art. 73, que os impostos seriam fixados no ato da instituição do Orçamento Único da URSS, cuja aprovação cabia aos “órgãos superiores do poder e da administração do Estado”. Crf. Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, in: Constituições de Diversos Países. Volume II. Organização e Tradução de Jorge Miranda, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1979, p. 329-374. Registre-se que não era proibido o trabalho privado na antiga URSS e também eram autorizadas as cooperativas rurais, colcozes, em terrenos cedidos pelo Estado, mas com exploração privada (para fruticultura e horticultura, art. 13), de forma que quer me parecer que essas rendas privadas é que seriam tributadas por imposto específico, mas nada consta naquela Constituição quanto à possível progressividade desse imposto. Consta em uma publicação com aparência de documento oficial daquela época: “La proporción de los Impuestos que abona la población en la URSS (el I. sobre la renta, el I. de solteros, de ciudadanos solos y de poca familia, el I. agrícola, I. y cargos locales) va en constante descenso. En el Presupuesto estatal de la URSS para 1980, los I. que abona la población sumaban menos de 8,1%.”. V.N.Kudriávtsev, A I. Lukiánov y G.J.Shajnazárov e Outros. Constituoción del País de Los Soviets Diccionario. Moscú, Editorial Progreso, 1982, p. 159 (Negritei). 16 49 No Brasil, as nossas forças conservadoras só permitiram que mencionado princípio fosse integrado no texto da Constituição recentemente, ou seja, na Constituição em vigor, que é de outubro de 1988, já com inúmeras alterações, e assim mesmo porque na correlação de forças políticas então existentes foram vencidas pela aliança dos grupos de esquerda com os denominados sociais-democratas, de forma que referido princípio passou a ser expressamente previsto, com aplicação obrigatória para o Imposto sobre Rendas e Proventos de Qualquer Natureza (art. 153, § 20), e facultativa para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (art. 156, § 20 e ano 184, § 40 - II), ou seja, para impostos que incidem sobre a renda e sobre a propriedade imobiliária.18 Antes, embora não constasse do texto das Constituições então em vigor, era palidamente aplicado apenas no campo do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Aliás, conforme veremos no tópico próprio, continua sendo aplicado timidamente e apenas para rendas menores, embora agasalhado no texto da nossa Carta Maior. Em que Consiste a Progressividade Tributária Os impostos progressivos, juntamente com os impostos regressivos, são enquadrados como impostos graduados. Os primeiros sofrem gradação crescente. Os segundos, decrescente.19 Na Constituição da República Popular da China, de 05.03.1978, não consta nenhum dispositivo tratando de tributos. Crf. Constituições de Diversos Países Volume I. Ob. cit., p. 199-218 18 Eis o texto dos dispositivos acima mencionados da Constituição em vigor: “Art. 153 - Compete à União instituir impostos sobre: III - renda e proventos de qualquer natureza. § 2° - O imposto previsto no inciso III: I - será informado pelo critério da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei.” (Negritei). “Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; § 1° - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o ano 182, § 4°. inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: I - ser progressivo em razão do valor do imóvel;” OBS.: Este parágrafo 1° já está com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 29 de 13.09.2000. “Art. 182 - ... § 4° - É facultado ao Poder Público municipal. mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I- parcelamento ou edificação compulsórios; II- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;” (Negritei). 19 Veja um exemplo de ALIOMAR BALEEIRO(ob. cit, p. 216), mostrando a diferença entre progressividade e regressividade: Matéria Tributável Escala Progressiva Escala Regressiva Até. Cr$ 1.000.00.... 2% 10% De Cr$ 1.000,00 a Cr$ 20.000.00....... 4% 8% De Cr$ 20.000,00 a Cr$ 30.000,00........... 6% 6% De Cr$ 30.000,00 a Cr$ 40.000,00........... 8% 2% De mais de Cr$ 40.000.00......... 10% 2% Quanto à regressividade, quer me parecer que o § 4° do art. 153 da atual Constituição do Brasil a adotou para o Imposto TerritoriaI Rural-ITR, que é federal. E segundo o art. 11 da Lei Ordinária Federal nº 9.39J, de 19.12.1996, que trata desse Imposto, quer me parecer que, regressividade veio na forma graduada, levando-se em consideração o grau de: utilização da terra, pois conforme Anexo dessa Lei tem-se o seguinte quadro: Área total do imóvel (Em hectares) Grau de Utilização-GU (Em %) Maior Maior que Maior que Maior que até 30 que 80 65 até 80 50 até 65 30 até 50 50 Os financistas e os tributaristas são unânimes em informar que o princípio da progressividade consiste em aumentar a carga tributária, via majoração da alíquota (percentual)20, na medida em que haja aumento da base tributável (base de cálculo), de forma que aquele que tenha maior renda ou patrimônio de maior valor arcará com uma carga tributária superior. Aplicável principalmente a impostos diretos21. Não se confunde com o princípio da proporcionalidade, pelo qual as alíquotas (percentuais) dos tributos não variam, são fixas, havendo aumento do montante a pagar do tributo apenas se houver aumento do valor tributável (base de cálculo). Note-se, pois, a diferença: na progressividade a alíquota é majorada com o aumento da base de cálculo; na regressividade, a alíquota diminui conforme haja aumento do valor tributável; na proporcionalidade a alíquota não se altera, ainda que haja alteração da base de cálculo. Também não se confunde com o princípio da seletividade, em função da essencialidade, o qual aplica-se, no Brasil, apenas a alguns tributos indiretos22: IPI (obrigatoriamente, art. 153, § 30-1, C), eventual Imposto Residual (obrigatório, art. 154-1 da C) e ICMS (facultativamente, art. 155, § 20 -III, C), princípio esse que orienta o legislador ordinário a tributar de forma mais fone os produtos não essenciais, supérfluos, e mais suavemente os produtos essenciais, necessários à população.23 Até 50.................................... 0,03 0,20 0,40 0,70 1,0 Maior que 50 até 200............ 0,07 0,40 0,80 1.40 2,0 E assim por diante... Note·se, quanto maior o valor da produtividade, menor será a carga tributária. Busca-se tributar mais severamente a terra menos utilizada. Quanto maior for o grau de utilização e portanto o valor da produtividade, menor será o percentual de incidência do imposto. Se essa Lei fosse realmente aplicada, talvez diminuisse o latifúndio no Brasil e facilitasse a sofrida reforma agrária; todavia sabe-se que, por falta de vontade política, referida Lei tornou-se letra mona, praticamente não sendo aplicada. Basta dar uma olhada nos balanços das contas da União e dos Municípios para se constatar que é inexpressiva a arrecadação desse imposto no território nacional. OBS.: Metade da receita do ITR é destinada aos Municípios (art. 158-II da Constituição). 20 No que também se difere do princípio da regressividade, que favorece as camadas mais privilegiadas da sociedade, uma vez que pela regressividade a alíquota diminui “à medida que aumenta o rendimento colectável”, nele se utilizando “como argumento de base a teoria do benefício, para a qual os mais favorecidos receberiam menos do Estado e pagariam consequentemente menos”. A. L. SOUZA FRANCO, ob. cit., p. 195. A teoria do benefício é também conhecida por teoria do escambo (v. abaixo, neste tópico, ENIO ZANONI, na parte em que é referido na nota 38). 21 Tributo direto é aquele cujo ônus financeiro é suportado pelo próprio contribuinte de direito (o que pratica o fato gerador). Ex.: Imposto sobre a Renda. 22 Tributo indireto é aquele cujo ônus financeiro é transferindo para um terceiro, chamado de contribuinte de fato. Por exemplo, o ICMS e o IPI, cujo respectivo montante é embutido no preço da mercadoria, cabendo, respectivamente, ao Comerciante e Industrial (contribuintes de direito, que praticam o fato gerador) apenas recolher esse montante para o Fisco, mas o valor é suportado pelo comprador da mercadoria (contribuinte de fato). 23 Na reforma tributária em andamento, que na verdade não passa de um arranjo do Governo Federal para centralizar na União o poder de tributar, os dois impostos referidos na nota anterior mais o ISS-Imposto sobre Serviços serão fundidos em um só, o Imposto sobre Valor Acrescido-IVA. Não se sabe ainda se o princípio da seletividade, em razão da essencialidade do produto será mantido. 51 O jurista brasileiro RUBENS GOMES DE SOUZA24, autor do anteprojeto que deu origem ao ainda em vigor Código Tributário Nacional - CTN do Brasil, ensina que há duas técnicas de aplicação da progressão tributária, a saber: simples e graduada, e indica dois exemplos que, graças à clareza, transcrevo: “Progressão simples25 é aquela em que cada alíquota maior se aplica por inteiro a toda a matéria tributável: p. ex., valor até Cr$ 100.000,00, imposto de 5%, valor até Cr$ 150.000,00, imposto de 6%, valor até Cr$ 200.000,00, imposto de 7% e assim por diante; (...). Progressão graduada é aquela em que cada alíquota maior calcula-se apenas sobre a parcela de valor compreendida entre um limite inferior e outro superior, de modo que é preciso aplicar tantas alíquotas quantas sejam as parcelas de valor e depois somar todos esses resultados parciais para obter o imposto total a pagar. Exemplo (para um valor a tributar de Cr$ 220.000,00): Até 50.000,00 .....................................................5% Cr$ 2.500,00 Entre Cr$ 50.000,00 a Cr$ 100.000,00..............6% Cr$ 3.000,00 Entre 100.000,00 a 150.000,00..........................7% Cr$ 3.500,00 Entre 150.000,00 a 200.000,00..........................8% Cr$ 4.000,00 Acima de Cr$ 200.000,00..................................9% Cr$ 1.800,00” A. D. GIANNINI, italiano, registra ainda a existência da “progressività per detrazione”, na qual a alíquota é constante, mas tem um valor fixo que é deduzido do valor tributável, dando o seguinte exemplo: Alíquota fixa de 20% Valor fixo a deduzir 100,00 1º Exemplo: Renda de 100 Renda 100 -100 = 00 20% de 00 = 00 Neste caso, não haveria imposto a pagar. 2º Exemplo: Renda de 200,00 Renda 200,00 24 Compêndio de Legislação Tributária. Coordenação do IBET-Instituto Brasileiro de Estudos Tributários; Ed. Póstuma. São Paulo: Resenha Tributária, 1981, p. 171. 25 Na Itália, esta modalidade é denominada de “progressività per classi”, ou seja, progressividade por classes. Cfr. A. D. GIANINI. Istituzioni di Diretto Tributario. Milano: Don. A. Giuffre Editore. 1974, p. 162. 52 -100,00 = 100,00 20% de 100,00 = 10,00. Neste caso, o imposto a pagar seria 10,00 E assim por diante. O Imposto de Renda no Brasil aplica uma tabela, para pessoa física, que consiste numa mistura da Progressividade Simples e da Progressividade por Dedução dos italianos, conforme segue: Base de Cálculo Até 900 Acima de 900 até 1.800 Acima de 1.800 Alíquota Parcela a deduzir - - 15% 27,5% 135,00 360,0026 Note-se que segundo a tabela por último referida, a partir do maior valor o princípio da progressividade passa a não ser observado, pois quem ganha, por exemplo, R$ 50.000,00 vai pagar na mesma alíquota de quem ganha R$ 1.800, com a mesma parcela a deduzir. Portanto, de R$ 1.800,00 reais para cima, o Imposto de Renda para Pessoa Física do Brasil é proporcional, restando desrespeitado o dispositivo constitucional que determina seja progressivo. Também na tabela da Progressão Graduada do exemplo dado por RUBENS GOMES DE SOUZA, para rendas superiores a Cr$ 200.000,00, ocorrerá o mesmo problema, ou seja, deixará de ser progressivo, e, a partir desse valor, tornar-se-á proporcional. No Brasil, isso também ocorre com o IR das Pessoas Jurídicas, para as quais a sistemática legal admite inúmeras deduções na base de cálculo e no valor do imposto que venha a ser apurado, incide, regra geral, uma alíquota é de 15% e, a partir de determinado valor tributável (atualmente, a partir de R$ 20.000,00 mensais)27, há um adicional de 10%. Daí para frente, o tratamento é igual para todas as Pessoas Jurídicas, transformando o IR em um imposto proporcional, ou seja, não se respeita o princípio da progressividade, embora claramente fixado na Constituição. 26 Tabela Progressiva aprovada pela Lei 9.532/97, art. 21, parágrafo único, constante do art. 111 do atual Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto na 3.000, de 26.03.1999, DOU de 29.03.99. Lei nº 9.430, de 1996, art. 20, § 20, regulamentada no Parágrafo Único do art. 228 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto na 3.000, de 26.03.199, DOU de 29.03.1999. 27 53 Frise-se que, como o assunto das deduções fica a critério do legislador, diga-se do Sr. Presidente da República, que pode tratar do assunto por Medida Provisória (art. 62 e art. 84XXVI, com as exceções do art. 246, todos da Constituição) e, a nosso sentir, tem exclusiva competência para apresentar projetos de leis a respeito da matéria (art.. 61, § 10, “b”, c/c § 60 do art. 165, todos da Constituição)28, atualmente as Instituições Financeiras praticamente não pagam Imposto sobre a Renda, porque a legislação vigente permite que façam tantas deduções que findam por desonerá-las do pagamento desse Imposto. Só será assegurada real tributação progressiva, se a variação de alíquotas for mais amiúde à vista de degraus menores dos valores tributáveis, ou então, como na progressividade por dedução dos italianos, se a parcela a deduzir, em tal método, não tiver grandes majorações.29 Obviamente, a progressividade deverá ter um limite, para que a tributação não venha a ser confiscatória. No Brasil, o denominado princípio do não confisco foi colocado na Constituição pelos Constituintes de 1987/1988, de forma que esse princípio encontra-se hoje no art. 150-N da vigente Constituição brasileira. Não se sabe, porém, qual o percentual razoável, para que a tributação não seja confiscatória. A Lei Complementar, que deveria fixar esse percentual, por força do inciso II do art. 146 da mesma Constituição, ainda não veio a lume. Na Argentina, ensina GIULIANI FONROUGE, a sua Suprema Corte firmou jurisprudência, estabelecendo que a carga tributária imposta a cada Contribuinte não poderá ser superior a 113 dos seus ganhos.30 O Supremo Tribunal Federal - STF do Brasil, quando apreciou recentemente a legislação que aumentou os percentuais da Contribuição dos Servidores Ativos da União, suspendendo, liminarmente, sua aplicação, deu a entender que vai enfrentar esse problema quando da análise do mérito, pois considerou relevante a tese de ofensa ao princípio que veda a utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (CR, art. 150-N), salientando que o exame da questão do efeito 28 ROQUE ANTONIO CARPAZA sustenta que Leis que concedam benefícios fiscais, por força do § 6º do art.165 da Constituição da República, são de iniciativa exclusiva do Sr. Chefe do Executivo, pois só ele “reúne condições objetivas para aquilatar os efeitos que, leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob sua guarda e superior responsabilidade.” Curso de Direito Constitucional Tributário. 13' Ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 213. Quer me parecer que, por força do § 2º do mesmo artigo da Constituição, qualquer Lei que implique em alteração da legislação tributária finalisticamente necessitará da iniciativa do Chefe do Executivo, pois esse tipo de Lei necessitará estar prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e esta sem dúvida nenhuma é da sua exclusiva iniciativa (art. 84, XXIII da Constituição). Advirta-se, todavia, que o C. STF já decidiu que “o ordenamento constitucional vigente não contém disposição que contemple a iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para o processo legislativo em matéria tributária”. (AgRg 14.496-SP, 1ª Turma, Unânime, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 01.02.1995, apud Internet, www.stf.gov.br. 29 Este último fenômeno está ocorrendo atualmente no Brasil, onde há cinco anos os valores a deduzir, do IR das Pessoas Físicas, não sofre nenhum reajuste. Mas, tendo em vista a pouca variação das alíquotas, finda-se por penalizar mais âgudamente os ganhos pequenos e médios. 30 CARLOS M. GIULIANI FONROGUE. “La Corte Suprema, hasta este momento, mantiene el tope de 33% como limite de validez constitucional de los tributos”, Derecho Financiero, Volumen I, 5ª Edición, Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 342. 54 confiscatório deve ser feito em função da totalidade do sistema tributário e não de cada tributo isoladamente.31 Oxalá O faça, para maior segurança de todos nós Contribuintes. Relativamente a aplicação da progressividade ao IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, depois que O Pleno Supremo Tribunal Federal-STF considerou inconstitucional Leis da época em que a Sra. ERUNDINA foi prefeita em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores-PT, e o Sr. PATTRUS ANANIAS, em Belo Horizonte, pelo mesmo partido, pelas quais esse princípio foi implantado, levando-se em consideração o valor do imóvel32, quando, segundo o entendimento da nossa Suprema Corte, o texto constitucional, anterior à acima referida Emenda Constitucional 29, de 2000, exigiria, simultaneamente, o cumprimento da função social do imóvel e o seu grau de utilização ou de subutilização no tempo. Mas esse entendimento do C. Supremo Tribunal Federal - STF não encontra mais respaldo no texto da Constituição, depois da noticiada Emenda Constitucional nº 29, de 200033 (v. notas de rodapé 18 e 33 deste trabalho), da qual se excluiu a expressão “cumprimento da função social da propriedade”, que era de difícil delimitação. É verdade que, posteriormente, uma das Turmas do mesmo Supremo Tribunal Federal·STF decidiu que eram constitucionais Leis do Município de São José do Rio Preto-SP, que fixaram alíquotas distintas para terrenos vazios (subutilizados) e para terrenos edificados. Todavia, nessa Decisão, firmou-se o entendimento de que isso não seria aplicação do princípio da progressividade.34 31 Informativo STF nº 164, set/out de 1999, p. 1 e 2. Nesse sentido, AGRAVO REGIMENTAL EM RE nº 187.976-9 de São Paulo. Município de São Paulo José Giorgi Júnior. Relator Min. Maurício Corrêa. Acórdão de 26 de agosto de 1997, Diário da Justiça da União nº 211, de 31 de outubro de 1997, seção 1, p. 55553. 2ª Turma do STF. 33 Eis o texto da Constituição antes da Emenda Constitucional nº 29, de 2000: “Art.. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; § 1° O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.”. OBS.: V. acima a nota de rodapé 18, onde está transcrito esse dispositivo já com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000, facilitando a efetiva implantação da progressividade pelo legislador ordinário, vinculando-a apenas ao valor do imóvel juntamente com a progressividade no tempo do § 4° do ano 182, ali também transcrito. Ou seja, não se exige mais o pouco claro “cumprimento da função social da propriedade”. 34 RE 229.233·5P, Rei. Min. ILMAR GALVÃO, 26.3.99” o [n: Informativo STF N° 143, DE 07.04.1999, PÁG. 3. O entendimento adotado nesse RE encontra-se hoje no texto da Constituição, em decorrência de sua alteração pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000, verbis: “Art. 156 - ... § 1° - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o ano 182, § 4°, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá I - ... II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel”. Quer me parecer a adoção do princípio da seletividade, em função da essencialidade na tributação dos imóveis urbanos, pois combinando-se esse dispositivo com o inciso II do § 4° do ano 184 da mesma Constituição conclui·se que quanto maior o tempo de subutilização do imóvel maior poderá ser a alíquota desse imposto. Ou seja, seleciona-se o imóvel que não tem utilização, supérfluo, portanto, e tributa·se mais rigorosamente. E os que tenham utilização, úteis, portanto, terão uma tributação menor. E se pode mesclar esse princípio com o da progressividade. 32 55 A aplicação do princípio da progressividade deve, também, ser efetuada em conjunto com o princípio da capacidade contributiva, é tanto que na Constituição da Itália são tratados no mesmo dispositivo, art. 5335, porque ambos subjetivizam o tributo, e a progressão deve observar aquela capacidade.36 Também não se deve desprezar o entrelaçamento com o princípio da isonomia, que tem um caráter objetivo-subjetivo, uma vez que leva em consideração a renda e o patrimônio (objetividade), sem desprezar a situação econômico-financeira, sobretudo os respectivos encargos37, do sujeito passivo da relação tributária (subjetividade). EZIO VANONI registra que já se tentou aplicar o princípio da progressividade, levando-se em consideração a utilização dos serviços públicos: aquele que mais utilizasse esses serviços, pagaria mais imposto (teoria do escambo ou do benefício), tese essa que - argumentou o jurista italiano, a meu ver com razão - desvirtuava a finalidade originária do princípio, que é a distribuição das riquezas, e implantava no serviço público a lei do egoísmo e da negação do princípio da solidariedade social, uma vez que quem precisa do serviço público normalmente é o mais pobre, de forma que este iria pagar mais impostos que o mais rico, por isso não vingou.38 Portanto, na aplicação do princípio da progressividade, desde que bem dosada, haverá possibilidade de uma maior distribuição da riqueza, tirando-se daqueles que tenham menos encargos, que ganham mais ou que tenham patrimônio mais valorizado e/ou pouco utilizado, devendo os recursos serem aplicados em políticas compensatórias, visando a diminuir as diferenças entre os diversos grupos sociais. 35 A. D. GIANNINI, ob. cit., p. 57, verbis: “Non contradddice a questo conceito I’art. 53 della Costituzione, il quale, (...), dopo aver dichiarato che ‘tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva’, agiunge nel capoverso che ‘il sistema tributario è informato a criteri di progressività’, ... “ p. 57. 36 No Brasil, o princípio da capacidade contributiva era previsto, expressamente, no ano 202 da Constituição de 1946. A Constituição de 1967 e respectiva Emenda 1/69 silenciaram a seu respeito. A Constituição de 1988, no meu entender, também não o prevê, mas sim o princípio da capacidade econômica (§ 1° do ano 145), que com ele não se confunde; pelo contrário, o elimina, porque autoriza a medição da extensão do patrimônio econômico do Contribuinte, sem levar em consideração sua capacidade de contribuir. Nem sempre aquele que tem uma grande çapacidade econômica, tem capacidade contributiva. Mas, Pelo que está escrito na atual Constituição, o legislador, ao instituir os tributos, pode considerar apenas aquela. Na Alemanha, na época da Constituição de Váimar do Reich (1919), também se adotou o critério econômico para tributação e o texto da referida Constituição era bem semelhante ao que se encontra atualmente no texto do referido § 1° do ano 145 da Constituição' do Brasil. Eis o texto do ano 134 da referida Constituição alemã: “Todos os cidadãos, sem distinção, na proporção dos seus haveres, contribuirão para todos os encargos públicos, conforme dispuserem as leis”. Apud HENRICH BEISSE. O Critério Econômico na Interpretação das Leis Tributárias Segundo a Mais Recente jurisprudência Alemã. Tradução de Brandão Machado. In: Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prol Rui Barbosa Nogueira. (Coord.) Brandão Machado. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 12. 37 Aqui no Brasil, a meu sentir, este princípio incorpora, na sua parte subjetiva, o princípio da capacidade contributiva, pois, ao contrário deste, é em tal sentido expresso no texto da atual Constituição (art. 150-II). 38 Nesse sentido, EZIO VANONI, ob. cit., p. 80 56 CRÍTICAS A ESTE PRINCÍPIO Aqueles que pregam a chamada “liberdade de mercado” são contra a aplicação do princípio da progressividade, porque seria ele um desestímulo aos investimentos, tanto no campo do desenvolvimento tecnológico, como um empecilho ao barateamento da produção, podendo, inclusive, continuam, se aplicado de forma muito fone, tornar desinteressante, para o Contribuinte, o exercício da própria atividade. 39 Apóiam-se tais críticos nos ensinamentos do liberalismo da Escola Clássica (Smith, Ricardo, Mill), que considerava a atividade do Estado como improdutiva, porque subtrairia dos particulares renda que poderia ser utilizada na produção de novos bens, sendo, por isso, contra qualquer tipo de tributação que onerasse o capital ou o patrimônio. 40 Em sentido oposto a esse entendimento da Escola Clássica, posicionaram-se Adolpho Wagner, para quem a atividade financeira do Estado era produtora direta de riquezas, porque por meio dela seriam colocadas inúmeras utilidades à disposição dos Administrados, e Von Stein, sustentando que não seria apenas produtora, mas também reprodutora de riquezas, pois além das utilidades colocadas à disposição dos Administrados, o Estado, por meio da sua atividade financeira, consistente na arrecadação de receitas, também aumentaria o seu patrimônio, quando da aquisição de bens permanentes, patrimônio esse que é público, logo, de todos os Administrados.41 Já vimos acima como a Assembléia Nacional francesa rejeitou o projeto de PROUDHON, em 1848, pelo qual propôs ele a instituição de um imposto progressivo, adjetivando-o de imoral e subversivo da ordem divina e humana. BALEEIRO informa que a Suprema Corte dos EUA, no fim do século XIX, considerou um imposto que tinha alíquotas que variavam de 1% a 5% como inovação comunista, mas registra que, graças ao uso moderado dessa forma de tributação, hoje, no mundo todo, são raros os financistas que guardam algumas reservas contra ela.42 No Brasil, considerado País periférico, em desenvolvimento, sua classe social dominante é apenas representante, na sua grande maioria, de grupos econômico-financeiros estrangeiros43, e 39 A. L. SOUZA FRANCO, ob. cit., p. CARLOS M. GIUUANI FONROUGE. Ob. Cit., p. 5. Ibidem, mesma p. 42 Ob. cit., p. 218. 43 Atualmente, após o crescimento do fenômeno globalização, quase todos os grupos econômicos nacionais foram absorvidos ou então fundiram-se com grupos estrangeiros, contando-se nos dedos das mãos aqueles que ainda subsistem autonomamente. 40 41 Esse fenômeno, de a classe dominante nacional não passar de testa-de-ferro de grupos estrangeiros, infelizmente, vem desde o nascimento do Brasil, conforme demonstra o saudoso DARCY RIBEIRO, em uma das suas últimas obras, O Povo Brasileiro, 2ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 441: “O Brasil foi regido primeiro como uma feitoria 57 por exigência desses grupos impede a real aplicação do princípio da progressividade tributária44, o qual, embora previsto na Constituição, conforme acima demonstrado, finda por não ser implementado pela legislação infra-constitucional, de forma que, praticamente, apenas a classe média, pequenos e micro-empresários pagam, por exemplo, o Imposto de Renda. Ainda no Brasil, há até quem, como ROBERTO CAMPOS, proponha a progressividade para impostos indiretos, afastando-a do Imposto de Renda, sob o argumento de que dessa forma todos contribuiriam para o custeio das despesas do Estado e, para a poupança, verbis: “Quando o imposto é progressivo, o absurdo é duplo: além do trabalho forçado, aplica-se uma multa aos mais eficientes. Do ponto de vista dos Países pobres, o IR é antidesenvolvimentista, pois incide sobre a renda produzida, desencorajando o esforço, quando deveria incidir apenas sobre a renda consumida, de forma a premiar a poupança”. (Negritei).45 E no mesmo trabalho acrescenta que nos EUA o Congresso Nacional estaria discutindo proposta de alíquota única de 17% para o IR, e que na Inglaterra busca-se dar fim a esse Imposto e restabelecer os Impostos Indiretos: “Os impostos indiretos sobre o consumo seriam preferíveis aos impostos diretos sobre a renda, porque o cidadão poderia optar por maior poupança”. Não explica o Sr. ROBERTO CAMPOS, para os seus inúmeros leitores, o motivo pelo qual esse tipo de tributação iria “premiar a poupança”: é que em face da progressividade dos tributos que incidem sobre o consumo (ICMS, IPI, ISS, por exemplo) os preços finais ficariam tão altos, que o povo não poderia adquirir mercadorias e serviços e seria obrigado a poupar, para que os banqueiros pudessem utilizar o dinheiro dessa poupança explorando mais ainda o próprio povo, com juros escorchantes, mediante aplicação dos recursos dessa poupança na produção e escravista, exoticamente tropical, habitada por índios nativos e negros importados. Depois, como um consulado, em que um povo sublusitano, mestiçado de sangues afros e índios, vivia o destino de um proletariado externo dentro de uma possessão estrangeira.”. 44 O jornal O Estado de São Paulo, principal representante brasileiro, no seio da imprensa, da corrente liberal, publica constantemente trabalho contrários à intervenção estatal, por qualquer meio, no setor privado. Merece destaque trechos de um artigo, publicado por esse jornal no dia 07.11.1999 (Domingo), Caderno 2, cujo autor, estrangeiro, não foi identificado, traduzido por José dos Santos, sob o título de “Evidentemente, não podemos permitir que os direitos de propriedade sirvam ...”, onde esse tipo de pensamento encontra-se exposto com toda virulência. Nesse artigo, o articulista não identificado posiciona-se contra a intervenção governamental na propriedade, quer seja para garantir a preservação do ambiente, quer seja para garantir direitos sociais dos que não têm renda ou não têm emprego, “pois ninguém tem direito a nada à custa de outros”, argumenta. E acrescenta: “apesar disso, em nome de tais direitos espúrios, exige-se que grande número de cidadãos nas democracias industriais sejam obrigados a trabalhar para o sustento de outros”. (...). Na Suécia, o estado mais retrógrado nesse sentido, para cada cidadão que ganha o próprio sustento, 1,8 outros cidadãos são plena ou parcialmente mantidos por impostos que aquele cidadão é obrigado a pagar. Na Alemanha e na GrãBretanha, a proporção é de 1,1 e nos EUA, de 1,076”. 45 A Temporada da Anti-Razão. /n: Jornal do Comércio de Pernambuco, 25.jun.1995, Domingo, p. 24. 58 comercialização desses produtos e serviços, em uma “roda viva” sádica que levará à superexploração desse povo e ao aumento da sua fome. O PRINCÍPIO DA DIFERENÇA JOHN RAWLS disserta sobre o princípio da diferença, ensinando que por ele julgam-se as desigualdades econômicas e sociais da estrutura básica e, desde que observadas igual liberdade e eqüitativa igualdade de oportunidades, serão justas as expectativas daqueles que estiverem em melhor situação desde que haja um esquema que melhore as expectativas dos menos afortunados.46 Eis um resumo das teses de RAWLS sobre este princípio, teses essas que se encontram nas páginas 78-84 da sua conhecida Uma Teoria da Justiça, acima referida: Explica RAWLS que, se a curva da indiferença registrar distribuição considerada igualmente eqüitativa, resultará o princípio da diferença em concepção fortemente igualitária. Tomando-se apenas duas pessoas como exemplo, por esse princípio, o ideal será que a distribuição seja Igual. E se uma melhorar, do ponto de vista desse princípio, só haveria lucro se a outra também se beneficiasse. O aumento da expectativa de melhoria de uma implicará no da outra. Quando as linhas de indiferença forem representadas por curvas pouco pronunciadas e convexas em relação à sua origem, conforme gráfico que apresenta à fl. 80, assim serão as curvas da indiferença para as funções de bem-estar social, expressando o fato que, “na medida em que uma das pessoas levar vantagem em relação à outra, seus benefícios posteriores vão se tomando cada vez menos valiosos sob um ponto de vista social” (final da p. 79). Se as duas pessoas referidas forem tipos representativos de outras pessoas, a valorização de suas vantagens tem que levar em consideração, de forma proporcional, o número de pessoas por elas representadas, não se podendo adotar o utilitarismo clássico, porque este seria indiferente à forma de distribuição quando esta tiver de ser feita para mais de duas pessoas, gerando desigualdade. Uma forma de diminuir as desigualdade de expectativas entre o filho de um operário e o filho de um empresário, segundo RAWLS, pela aplicação do princípio da diferença, o empresário será estimulado a praticar atos que aumentarão as expectativas da classe trabalhadora, porque as melhores perspectivas desta atuarão como incentivo que tornarão mais eficaz o processo econômico, mais rápida a introdução de inovações, etc. 46 Ob. cit. na nota 4 supra, p. 78. 59 A aplicação deste princípio, continua RAWLS, poderá consistir em aumentar as expectativas dos menos favorecidos, ou simplesmente suprimir mudanças nas expectativas dos que se encontram em situação melhor, porque isso poderia implicar melhoria da situação daqueles. Aqui seria um ajuste eqüitativo. 1àmbém aumentando-se as expectativas dos melhor situados poderia implicar melhoria dos menos favorecidos. Nesta situação, não haveria o ajuste mais eqüitativo de todos. A sociedade deve evitar contribuições marginais negativas dos melhor colocados, porque é mais grave do, que não alcançar “o melhor esquema, quando estas contribuições forem positivas”. Quanto maior for a diferença entre as classes sociais, maior será a violação dos princípios da vantagem mútua e da igualdade democrática. Numa concepção democrática, não devem prevalecer, para RAWLS, o sistema da liberdade natural e a concepção liberal, segundo os quais tudo se resolve pela pura justiça processual, porque mais produtiva a prévia resolução dos problemas. O princípio da diferença é compatível com a eqüidade e com a eficiência, devendo a eqüidade ter primazia sobre esta, e o esquema só funcionará quando for perfeitamente eqüitativo e eficiente. No regular funcionamento da aplicação do princípio da diferença, os lucros são irrelevantes e até mesmo quase impossíveis de determinar. Se as desigualdades são “conexas”, o benefício que aumentar as expectativas das camadas mais baixas, findará por também aumentar a expectativa da camada média e assim por diante, havendo assim uma reação em cadeia, conforme demonstra nos gráficos de fl. 83 da sua obra. Mas não ocorrerá essa reação, se a camada mais baixa sofrer diminuição nas expectativas de melhora, porque nessa situação nada acontecerá na camada média. Também não haverá reação em cadeia, relativamente à camada menos favorecida, se a expectativa da camada média subir ou descer. Embora o princípio da diferença não dependa da concretização da relação causal e do enlace restrito, “parece plausível que se os menos favorecidos se beneficiarem, também o farão os que estiverem em posições intermediárias” (p. 83), desde que sejam satisfeitos os outros princípios de eqüidade (liberdade igual e eqüitativa igualdade). No entanto, à vista do princípio da diferença, a mudança na expectativa positiva dos melhor situados em nada modificará a expectativa dos que estão em pior situação. Pelo princípio da diferença lexicográfica, mais geral que o princípio da diferença simples, tendo em vista a falta de enlace restrito na situação por último descrita, deve-se em primeiro lugar maximizar-se as expectativas dos que estão em pior situação; em segundo lugar, os que se seguem 60 e assim sucessivamente até chegar aos tipos representativos melhor colocados, que só terão o bem-estar maximizado após a maximização do bem-estar dos inferiores. “As desigualdades sociais e econômicas terão de dispor-se de tal modo que possam tanto(a) proporcionar a maior expectativa de benefício aos menos favorecidos, quanto(b) estar ligadas a cargos e posições acessíveis a todos, sob condições de uma eqüitativa igualdade de oportunidades” (p. 84). INTEGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROGRESSMDADE TRIBUTÁRIA NO PRINCÍPIO DA DIFERENÇA. Como se nota claramente, o bem arquitetado princípio da diferença de RAWLS, sendo um “princípio de maximização”, tem por meta a melhoria do equilíbrio social, via diminuição das diferenças entre os diversos grupos sociais, sem quebra do sistema democrático, devendo, para tanto, haver rígida observação do princípio da liberdade igual (considerado, para ele, o principal dos princípios que discute na sua obra47) e da eqüitativa igualdade. Quanto à primazia pela liberdade, fazendo expressa referência a RAWLS também pronunciam-se AGNES HELLER e FERENC FEHÉR, sustentando que quando se consegue o valor liberdade (justiça política) fatalmente se consegue o valor vida (justiça social), binômio que para eles fundamentam a justiça.48 Quanto à utilização da tributação progressiva, RAWLS, no seu Livro acima referido, a ela se reporta diretamente no tópico denominado Os Fundamentos Institucionais da Justiça Distributiva, onde tratou mais diretamente dos recursos necessários para que o Estado faça frente ao princípio da diferença, verbis: “Finalmente, há um ramo da distribuição. Sua tarefa consiste em preservar uma justiça aproximada, em parcelas distributivas, através da tributação e dos necessários ajustes nos direitos de propriedade. (..). (..), o princípio progressivo pode ser aplicado em favor do beneficiário. (..). 47 Quanto a liberdade, eis o que disse RAWLS: “Estes princípios, em ordem numérica, são, como indicarei vez por outra, de tal forma que a concepção geral enfim assume importância quando as condições sociais melhoram. Esta questão se liga com a da prioridade da liberdade, ...”. Ob.cit., p. 84, final do penúltimo parágrafo. 48 Ob. cit., p. 183-184. 61 São tais instituições ameaçadas quando as desigualdades de riqueza excedem um certo limite; e a liberdade política, tende, do mesmo modo, a perder seu valor e o governo representativo se torna apenas aparente. Os tributos e dispositivos do ramo da distribuição têm de prevenir que tal limite seja excedido”49. E, cauteloso, na mesma página adverte que o patamar desse limite, por depender de um juízo político, deve ser fixado à luz do bom-senso50, e suposição feita dentro de uma grande margem. Esse bom-senso, no campo tributário, tem o limite fixado em outro princípio, o princípio do não confisco, ao qual já nos referimos acima, que no Brasil tem atualmente expressa previsão constitucional (art. 150-N da Constituição) e, também conforme já demonstramos acima, foi fixado no percentual de 33% pela Cone Suprema da vizinha Argentina (v. nota de rodapé 30, supra). Também na fundamentação de RAWLS para o princípio da diferença são detectados indícios do seu entendimento quanto à utilização dos tributos para diminuição das diferenças, conforme as seguintes passagens: a) Logo após tratar do problema das classes sociais, sobre o que fazer para equilibrar a situação entre o filho de um empresário e o filho de um operário, explica RAWLS que, se houver um ajuste eqüitativo, “a supressão das mudanças nas expectativas dos melhor situados pode melhorar a situação dos pior situados”. (...). “Um esquema não é eqüitativo quando uma ou mais das maiores expectativas são excessivas. Se estas expectativas diminuíssem, melhoria a situação dos menos favorecidos” (p. 81). b) Quando trata da reação em cadeia dos benefícios “conexos”, fala sobre os limites dos lucros dos mais favorecidos: “Mais ainda, existe um máximo de lucro permitido ao mais favorecido, supondo-se que, se o princípio da diferença o permitir, teria efeitos ineqüitativos sobre o sistema político ou outros semelhantes, excluídos pela primazia da liberdade” (final da p. 82). Nessas partes da fundamentação do princípio da diferença, também encontro argumentos para nele enquadrar o princípio da progressividade tributária como um dos seus instrumentos, 49 Ob. cit., p. 216. AGNES HELLER e FERENC FEHÉR desenvolvem raciocínio semelhante, quando tratam dos valores liberdade e vida, como fundamentadores da justiça, onde demonstram a necessidade de afastar-se o argumento da força, devendo as regras ser fixadas por consenso decorrente da negociação e do discurso humano, mesmo porque liberdade não comunga com força. Ob.cit., p. 181. 50 62 uma vez que por este princípio do campo tributário suprime-se parte da receita dos que estão melhor situados, visando a diminuir a diferença entre estes e os que estão em pior situação, melhorando as expectativas destes. E, na aplicação da progressividade tributária, a maximização pregada por RAWLS, para o seu princípio da diferença, não será contrariada, porque se maximiza a situação do que estava pior situado e também o equilíbrio social e, como conseqüência desta última maximização, maximizada fica a posição do melhor situado, porque dentro de uma sociedade socialmente equilibrada o melhor situado terá uma vida mais saudável, tranqüila e justa. Não se deve, todavia, olvidar da advertência de RAWLS: como o princípio da diferença é um princípio de maximização, a sociedade deve “tratar de evitar situações nas quais as contribuições marginais dos melhor colocados sejam negativas, já que, ceteris paribus, isto parece uma falta mais grave que não alcançar o melhor esquema, quando estas contribuições forem positivas” (p. 81). Obviamente, o ideal de RAWLS e a finalidade do princípio da progressividade tributária só serão atingidos, em decorrência da aplicação deste, se os dirigentes51 do País realmente destinarem a parte da receita tributária, suprimida dos ganhos e patrimônio dos melhor situados, na melhoria das expectativas dos pior situados, não de uma forma paternalista, mas dentro dos novos parâmetros político-sociais aprovados pela denominada Terceira Via da Social Democracia, e que veremos no tópico seguinte deste trabalho. A SOCIAL DEMOCRACIA, TRIBUTÁRIA A TERCEIRA VIA E A PROGRESSIVIDADE Social Democracia A velha social democracia, como se sabe, sempre figurou como um meio termo entre o liberalismo e o socialismo (aqui também no sentido de comunismo), pregando a manutenção das relações de produção capitalista (capital x trabalho), mas com intervenção do Estado em setores considerados estratégicos para as principais atividades públicas, bem como para manutenção do 51 AGNES HEUER e FERENC FEHÉR, tendo em vista a crise do Estado europeu assistencialista, propõem a busca de novas alternativas consensuais, fora do Estado, porque entendem que assim aumentarão as oportunidades de as pessoas viverem, uma vez que a estabilidade estará no seu caráter dinâmico e portanto mutável. E o dinamismo só pode existir, continuam, com novos imaginários e utopias, representados por seus atores sociais, sem a ambição de se chegar a uma sociedade plenamente justa, porque, além de impossível, seria indesejável, uma vez que geraria imutabilidade, falta de dinamismo, ou seja, uma sociedade estática e esta seria uma utopia mais negativa que positiva. Ob. cit., p. 188-189. 63 bem-estar social, com políticas compensatórias para amparo dos mais necessitados, buscando o igualitarismo, contra o individualismo e sem muita preocupação ecológica. E um dos instrumentos necessários para concretização dessas políticas, segundo as propostas dessa velha social-democracia, via welfare state, era tirar dos ricos para amparar os pobres via tributação progressiva.52 A utilização da tributação como arma redutora das desigualdades sociais também foi detectada por PIERRE BELTRAME, em estudo dos sistemas fiscais de vários Países, no qual concluiu que a estrutura fiscal dos Países desenvolvidos, caso goze de certa flexibilidade, permitirá que os governantes a utilizem na prevenção de conflitos sociais, mediante redistribuição, ainda que provisória, dos encargos e dos ativos sociais, sendo que esse papel da tributação prevaleceu no século XIX para toda modalidade de tributo, fixando-se, a partir do início deste século XX, nos impostos sobre os rendimentos e sobre o capital, o qual apareceu “como meio de igualização das condições sociais”, conclusão essa que também teria sido apontada por outros autores: “os autores pensam da mesma forma na tributação do capital para reduzir as desigualdades crescentes de rendimentos, mantendo a economia de mercado e a sociedade capitalista”, citando, aqui, o trabalho L'impôt sur le capital, Droit Social, de M. ALLAIS.53 Ou seja, para que a economia de mercado e a sociedade capitalista sobreviva, há a necessidade dessa modalidade de distribuição de riqueza. A partir de meados da década de oitenta, com o acentuar da globalização da economia e o ressurgimento do liberalismo, sob a denominação de neo-liberalismo, com políticas sociais consideradas avançadas, apoiando inclusive a liberdade sexual e descriminação das drogas54, a social-democracia foi obrigada a renovar-se, recebendo inclusive reforço dos novos partidos de esquerda, que nasceram em substituição dos antigos partidos comunistas, extintos em decorrência do colapso do comunismo no leste europeu no final de 1989. Então começaram, os socialdemocratas, a preocuparem-se com a questão da produtividade econômica, com políticas de participação, desenvolvimento comunitário, política ecológica, equilíbrio entre privado e público, oportunidade educacional, habitação, democracia econômica e “a defesa de interesses individuais deixou de ser considerado palavrão...”55, porque “individualidade e solidariedade não deveriam ser vistos como opostos”.56 52 Nesse sentido, ANTHONY GIDDENS. Ob. cit., p. 20. PIERRE BELTRAME. Os Sistemas Fiscais. Tradução de J.L. da Cruz Vilaça. Coimbra: Almedina, 1976, p. 176. Título original Les Systêmes Fiscaux. 54 ANTHONY GIDDENS, ob. cit., p. 16. 55 Ibidem, p. 27-28. 56 Ibidem, p. 30. 53 64 E essa nova social-democracia, sozinha ou fazendo coalizações de centro-esquerda, em meados de 1998 chegou ao poder na Grã-Bretanha, França, Itália, Áustria, Grécia e em países escandinavos57. No Brasil, embora a social-democracia tenha feito coalização com a centro-direita, podemos enquadrá-lo no rol dos Países em que a social democracia chegou ao poder, com a eleição do Sr. Fernando Henrique Cardoso no ano de 1995 e sua reeleição no ano de 1999, cujo partido empalma uma das vertentes da social-democracia tupiniquim. Terceira Via Ensina ANTHONY GIDDENS que a expressão Terceira Via parece ter surgido na virada do século XIX para o século XX, tendo sido muito popular, na década de vinte, no seio da direita (v. nota de rodapé 13 supra); todavia, os social-democratas e os socialistas também dela se utilizaram. E a Internacional Socialista, por ocasião da sua refundação, no ano de 1951, a utilizou expressamente, no sentido de que haveria uma outra via entre a proposta socialista soviética e a proposta capitalista norte-americana, a proposta social-democrata, a Terceira Via. O economista tcheco, Ota Sid, a utilizou como sinônimo de socialismo de mercado, a social-democracia sueca como renovação programática. Finalmente, continua GIDDENS, Tony Blair e Bill Clinton, fizeram renascer a expressão Terceira Via, na social-democracia, com um novo welfare state, o welfare positivo58. As propostas desses dois líderes da contemporânea social-democracia, acrescenta GIDDENS, não foram bem acolhidas pelos social-democratas do continente europeu, tampouco pela velha esquerda (quanto ao uso deste termo, v. nota de rodapé 13 supra) em seus respectivos Países, porque muito semelhantes, respectivamente, às propostas de Margartet Tatcher (conservadora da Inglaterra) e dos neo-liberais norte-americanos.59 Mas, cientificamente, ANTHONY GIDDENS indica como programa da Terceira Via: a) um novo Estado democrático (ob. cit., p. 87): descentralizado, com dupla democratização, renovação da esfera pública pela transparência, eficiência administrativa, mecanismos de democracia direta e Governo como administrador de riscos; b) sociedade civil ativa (em parceria com o governo60) (ob. cit., p. 89): renovação comunitária através do aproveitamento da iniciativa local, envolvimento do terceiro setor (associações e voluntários), proteção da efera pública local, 57 Ibidem, p. 34. O que vem a ser welfare positivo, v. parágrafo seguinte e nota de roda pé 62, infra. Ibidem, p. 35. 60 Aqui muito parecido com AGNES HEUER e FERENC Fl'HÉR, cfr. nota 51 supra, segundo os quais o Estado não deve ser o único administrador, devendo-se buscar novas alternativas fora do Estado 58 59 65 prevenção do crime baseada na comunidade; c) família democrática (ob. cit., p. 105): consistindo na igualdade emocional e sexual, direitos e responsabilidades mútuos nos relacionamentos, copaternidade, contratos vitalícios de paternidade, autoridade negociada sobre os filhos, obrigações dos filhos para com os pais, a família socialmente integrada; d) o Estado do investimento social (ob. cit., p. 109-139): com uma nova economia mista, integrativa do setor público e privado, mediante utilização do dinamismo do mercado, mas tendo em vista o bem público. Quanto à igualdade, não seguir a meritocracia (igualdade de oportunidades), modelo neo-liberal, porque faz crescer as diferenças sociais, mas sim lutando pela inclusão do maior número possível de menos favorecidos no mercado de trabalho61 bem como contra a exclusão e isolamento dos grupos mais privilegiados em bunkers de felicidades (exclusão no topo) e ainda contra a exclusão dos menos privilegiados dos benefícios sociais e do mercado de trabalho (exclusão na base), mediante política de equilíbrio nos ganhos individuais, diminuindo as diferenças entre os grandes e os pequenos salários; maior investimento na educação, sobretudo no campo profissional, para possibilitar a “redistribuição de oportunidades”; welfare positivo (uma nova versão do welfare stae62), substituindo a ajuda econômico-financeira estatal direta pelo aconselhamento, consultaria, investimento em capital humano, redirecionando o investimento social do Estado de forma que se integre nos programas para o desenvolvimento ativo da sociedade civil, e fomentando parceria entre capital público e privado, observando-se a prevalência do interesse público, inclusive no importante campo do meio ambiente; finalmente, substituição da possível ociosidade do velho welfare state, pela iniciativa e pela feição dinâmica do welfare positivo. Quanto à tributação, na terceira via, não parece ser grande preocupação para ANTHONY GIDDENS, pois, segundo ele, quanto maior a carga tributária maior a cobrança por parte da população de benefícios estatais em época de grande desemprego, como, ainda segundo ele, ocorreu na Finlândia, onde há aceitação, maior que em outros Países do ocidente, de uma tributação mais elevada63. Por outro lado, ainda segundo GIDDENS, a rigidez do Estado, sem envolvimento cívico do cidadão, pode gerar informalidade, totalmente à margem da tributação64, dando a entender que deve haver um bom senso para que o cidadão se convença da sua indispensável parceria com o Estado, para um welfare positivo. 61 Inclusive evitando aposentadorias precoces, que causam problemas às finanças da seguridade social, e afastam a experiência do mais idoso, que pode funcionar como exemplo (modelo) para o mais jovem. Também evitar o surgimemo de “guetos de aposentados”, porque negativamente excluidores (ob. cit., p. 131). 62 Walfare State que Bismack adotou na Alemanha do seu tempo, como combate ao socialismo, consistente em investimento público na saúde, educação, previdência social, habitação pública, etc., diretamente ou via associações criadas com finalidades específicas, e que ao longo do tempo gerou problemas, em face do crescimento em mais de 100% das despesas com a seguridade social, principalmente na Inglaterra, crescimento esse decorrente de vários fatores, como acomodação dos beneficiários, fraudes, etc., prejudicando a defesa do desemprego que visava combater (Ob. cit, p. 121·127). 63 Ibidem, p. 124 64 Ibidem, p. 138. 66 No entanto, como as desigualdades sociais existem e a concentração de renda vem se exacerbando com a globalização da economia e das finanças privadas, não vejo e GIDDENS não explica, tampouco A. HELLER e F. FEHÉR, como, respectivamente, a decantada parceria dos particulares com o Estado ou outras alternativas fora do Estado iriam reverter essa situação. Creio que a proposta do velho Manifesto Comunista e da velha Social-Democracia, encampadas por RAWLS, no sentido de que a tributação progressiva é um eficiente meio de distribuição de riqueza, ainda se faz necessária. É interessante notar que a globalização do capital também foi prevista no referido Manifesto Comunista, com a linguagem própria dos operários de então, verbis: “Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte”.65 E a gigantesca concentração de capital nas mãos de poucos, foi prevista, em 1916, por WLADIMIR ILUCH ULIÁNOV, LENIN66, considerado continuador da obra de F. Engels e K. Marx e um dos líderes da revolução bolchevique de 1917 na então Rússia. Escreveu LENIN que o capital financeiro empalmaria os capitais industrial e comercial e seria concentrado nas mãos de uns poucos, estabelecendo-se o imperialismo financeiro, fenômeno no qual o dono do capital domina e impõe as regras àqueles que necessitam de capital, e que essa concentração chegaria a tal ponto que a grande massa de dominados explodiria em um movimento revolucionáriosocialista. Quanto à ultima previsão de LENIN, explosão de um gigantesco movimento revolucionário-socialista, totalmente afastada pelos atuais teóricos das ciências sociais, não me parece que possa ser de todo descartada, pois a meu ver a violência nos grandes centros urbanos, os movimentos violentos, de grupos de esquerda, nos Países denominados periféricos pela divisão da riqueza e pela reforma agrária, são sinais do possível início dessa grande revolta dos que se enquadram na denominada “classe dominada”. Acredito que LENIN também tenha acertado em cheio quanto à concentração do capital, da riqueza, nas mãos de poucos. Por isso, repito, os fundamentos do princípio da diferença de JOHN RAWLS, nele se integrando o princípio da progressividade tributária e a tributação direta das grandes 65 Ob. cit. na nota 17, p.12. Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Livro escrito em 1916, editora Edições Avante, tradução do Coletivo das Edições Avante, Moscovo/Lisboa, 1975, pág. 10/11. 66 67 fortunas, continuam mais vivos que nunca e indispensáveis à uma melhor distribuição da riqueza, sob pena de marchamos para uma fim nada agradável, pois os que se encontram na situação de desemprego, fome e outros males sociais têm um limite, como tudo que é humano. Mas reconheço que a efetiva aplicação destes princípios, em face da observância do princípio da legalidade67, que se transformou em verdadeiro dogma do chamado mundo civilizado, principalmente a partir da revolução francesa de 178968, necessita de maioria no Poder Legislativo de parlamentares vinculados à social-democracia, a partidos socialistas, comunistas, bem como outros partidos que se preocupem com os princípios da justiça social, para que os integrem nas leis de cunho social e tributário. O “CONSENSO DE WASHINGTON” E A FALSA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROGRESSMDADE TRIBUTÁRIA Mas, não sei se por cinismo ou como estratégia de negociação com os grupos mais à esquerda, foi consignado no documento que passou à história com O nome de “Consenso de Washington”, um tópico sobre necessidade de uma reforma tributária de cunho progressivo.69 Digo cinismo porque, como se sabe, o conjunto das propostas desse “consenso” atende aos interesses dos grandes grupos econômico-financeiros que hoje detêm o capital no mundo, e visa, finalisticamente, o desmantelamento do Estado e entrega do patrimônio deste para o setor privado (certamente para referidos grupos econômico-financeiros, porque os nacionais da América Latina não detêm capital). GUSTAVO H. B. FRANCO, um dos gurus do atual grupo político-econômico-financeiro que ocupa o poder no Brasil, já tendo ocupado o importante posto de Presidente do Banco Central, escreveu um entusiasmado artigo a respeito desse assunto. Referido articulista, que também é Professor Universitário, em trabalho publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 07.11.1999, Caderno Economia, narra que após a queda do muro de 67 Previsto na vigente Constituição do Brasil, de forma genérica, para todo tipo de obrigação, no inciso II do art. 50, como uma garantia e um direito individual. No campo tributário, no inciso I do art. 150, estabelecendo que todo tributo só poderá ser instituído ou aumentado por intermédio de Lei (o STF do Brasil firmou o entendimento de que, neste particular, a Medida Provisória, prevista no art. 62 da mesma Carta, da exclusiva competência do Sr. Presidente da República, como tem força de Lei, pode ser utilizada para essa finalidade. Advirta-se, todavia, que com as limitações do referido art. 62 e também do art. 246 da mesma Carta). 68 FÁBIO KONDER COMPARATO registra a força do poder econômico na Revolução Francesa de 1789, esclarecendo que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão atendeu “duas preocupações máximas da burguesia (...): a garantia da propriedade privada contra expropriações abusivas (art. 17) e a estrita legalidade na criação e cobrança de tributos (art. 13 e 14)”. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 133 69 A não ser que seja a progressividade pregada por ROBERTO CAMPOS, aplicável aos impostos que incidem sobre os bons de consumo. 68 Berlim, em 1989, o Prof. John Williamson, então pesquisador Sênior de um prestigioso Instituto de Estudos de Washington, promoveu um Seminário sobre a reforma econômica na América Latina. As conclusões dos palestrantes foram parecidas e referido Prof. Williamson as sintetizou em dez tópicos, chamados de dez mandamentos do consenso de Washington, a saber: 1. Disciplina fiscal, ou seja, contas equilibradas; 2. Prioridade no ajuste fiscal, favorecendo redução de despesas, preservando as áreas sociais e investimentos em infra-estrutura; 3. Reforma tributária de cunho progressivo e simplificador; 4. Desrepressão financeira, ou seja, abolição de compulsórios, direcionamentos e controles sobre taxas de juros; 5. Taxas de câmbio realistas, mas admitido o seu uso como “âncora” para terminar com hiperinflações; 6. Abertura comercial; 7. Eliminação de restrições ao investimento direto estrangeiro; 8. Privatização; 9. Desregulamentação; e 10. Respeito aos direitos de propriedade, à letra do contrato e à lei. Como se sabe, pelo menos no Brasil, a progressividade tributária (item 3 do referido “consenso”) não vem sendo aplicada, conforme procurei demonstrar no subtópico “EM QUE CONSISTE O PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE” acima, mas todos os demais itens vêm sendo impostos de forma até mesmo radical ao povo brasileiro e, com certeza, no resto da América Latina.70 CONCLUSÕES 1. A progressividade tributária, nos impostos sobre a renda, capital e patrimônio, aparece ainda como uma exigência indispensável para diminuição das diferenças entre os mais favorecidos e os que se encontram pior situados em termos sociais, sobretudo na atualidade em que se nota uma exacerbação da concentração da renda e do capital nas mãos de poucos. 2. A efetivação da regra do inciso VII do art. 153 da atual Constituição da República Federativa do Brasil, efetivação essa hoje obrigatória por força do art. 11 da Lei Complementar 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal), e que consistirá na instituição do imposto sobre grandes fortunas, também servirá para diminuir tais diferenças. 3. O princípio da progressividade enquadra-se perfeitamente no princípio da diferença, arquitetado por JOHN RAWLS, porque pode ser utilizado como fator de diminuição das diferenças entre ricos e pobres, possibilitando distribuição da riqueza (via investimentos na 70 Bem antes do “Consenso de Washington”, a sangria da América Latina por parte dos EUA já era visível: “No período 1950·67, as novas inversões norte-americanas na América Latina totalizaram, sem incluir os lucros reinvestidos, US$ 3.921 milhões. No mesmo período, os lucros e dividendos remetidos ao exterior pelas empresas somaram US$ 12.819 milhões. Os ganhos drenados superaram em mais de três vezes o total dos novos capitais incorporados à região. Desde então, segundo a CEPAL, novamente cresceu a sangria dos lucros, que nos últimos anos excedem em cinco vezes as inversões novas; Argentina, Brasil e México sofreram os maiores aumentos da evasão.” EDUARDO GALEANO. As Veias Abertas da América Latina. Tradução de Galeno de Freiras. Ed. 16ª, Rio de Janeiro: paz e Terra, 1983, p. 243-244 69 educação, saúde, previdência, etc.), desde que eqüitativamente aplicado, evitando o excesso de tributação, que poderá provocar o surgimento de tributos marginais. 4. Mencionado princípio tributário dificilmente será efetivamente adotado em Países que sejam controlados por políticos liberais, enquadráveis na denominada centro-direita, fenômeno esse que ocorre atualmente no Brasil, onde o Imposto sobre Rendas e Proventos de Qualquer Natureza, em face das leis em vigor, praticamente não vem sendo a esse princípio submetido em face da inexpressiva variação de alíquotas e da permissão abusiva de deduções aos grandes grupos econômico-financeiros, deduções essas que findam por desonerá-los integralmente do pagamento desse Imposto, de forma que estão sendo descumpridas as regras da Constituição da República que prevêem a aplicação da progressividade e da instituição do imposto sobre grandes fortunas, com criminosa omissão do Ministério Público Federal, que não toma nenhuma providência. 5. O sistema econômico-financeiro vigente nos Países capitalistas necessitam desse tipo de distribuição de riqueza (sem paternalismo) até mesmo para auto-sobrevivência, conforme sustentam PIERRE BELTRAME e M. ALLAIS, porque uma supercentralização da riqueza nas mãos de poucos poderá implicar na quebra desse sistema, quer seja pelas distorções internas que fatalmente gerará, quer seja por possível revolta dos pior situados, como previsto pelo marxista Vladimir Illich Ulinanov, Lenin. 6. As atuais teses do movimento social-democrata, denominado terceira via, têm muitos pontos de contato com os fundamentos arrolados por JOHN RAWLS no seu princípio da diferença, e, embora os teóricos desse fenômeno (terceira via), como ANTONHY GIDDENS, AGNES HELLER e FERENC FEHÉR, não mencionem a progressividade tributária como nele (fenômeno da terceira via) enquadrável, tais teses podem também incorporar, perfeitamente, essa progressividade, como o fazia a velha social-democracia e o velho manifesto comunista, princípio esse a ser aplicado nos tributos sobre os rendimentos, sobre o capital e sobre a propriedade. 7. Acredito inviável a proposta liberal, defendida no Brasil por ROBERTO CAMPOS, no sentido de que o Estado deveria ser custeado com aumento dos tributos indiretos, que incidem sobre bens de consumo, mediante aplicação da progressividade nesses tributos, porque implicaria o aumento do fosso existente entre ricos e pobres, uma vez que estes findariam por pagar na mesma proporção daqueles pela utilização dos serviços públicos, gerando a ocorrência de uma distribuição de riqueza às avessas, dos pobres para os ricos, e aumentaria as necessidades básicas dos pobres, que ficariam impedidos de adquirir bens de consumo, uma vez que o preço destes chegariam às alturas. 8. Não é sincera a proposta do denominado “Consenso de Washington”, no sentido de implantar uma reforma tributária com impostos progressivos na América Latina, porque 70 totalmente à margem das demais propostas liberais desse “Consenso”, que consistem em um desmantelamento do Estado e transferência do patrimônio deste para o setor privado, a custo quase zero. 71 BIBLIOGRAFIA AUOMAR DE ANDRADE BALEEIRO, Uma Introdução à Ciência das Finanças. Ed. 12ª. Rio de Janeiro: Forense, 1978. ANTHONY GIDDENS. A Terceira Via - reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. Tradução de Maria Luíza X. de A. Borges. Rio de Janeiro - São Paulo: Editora Record, 2000. Título original: The Third Way. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. l3ª Ed., São Paulo: Malheiros, 1999. COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 133. BELTRAME, Pierre. Os Sistemas Fiscais. Tradução de J.L. da Cruz Vilaça. Coimbra: Livraria Almedina, 1976. Título original Les Systêmes Fiscaux. BEISSE, Henrich. O Critério Econômico na Interpretação das Leis Tributárias Segundo a Mais Recente jurisprudência Alemã. Tradução de Brandão Machado. In: Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prof Ruy Barbosa Nogueira. (Coord.) Brandão Machado. São Paulo: Saraiva, 1984. EZIO VANONL Natureza e Interpretação das Leis Tributárias. Tradução de Rubens Gomes de Souza. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, [s.d]. Título original Natura ed Interpretazione delle Leggi Tributarie. FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financiero. Vol. 1. Ed. 5ª, Buenos Aires, Argentina: Depalma. FRANCO, A . L. Souza. Finanças Públicas e Direito Financeiro. Lisboa: Edição da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1980. GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Tradução de Galeno de Freitas. Ed. 16ª, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Título original Las Venas Abiertas de América Latina. GIANNlNI, A. Donato. Istituzioni di Diritto Tributario. Milano: Dott. A. Giuffre Editore, 1974. HELLER, Agnes; FEHÉR, Ferenc. A Condição Política Pós-Moderna. Tradução de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. Título original The Post-Modern Political Condition. JFAN-CRISTIAN PETITFLS. Os Socialismos Utópicos. Tradução de Waltensir Dutra. São Paulo: Círculo do livro, 1977. Título original Les Socialismes Utopques. JOHN RAWLS. Uma Teoria da justiça. [Tradução de Vamireh Chacon]. Brasília: Editora da Universidade de Brasília. 72 KUDRIÁVTSEV, V.N.; LUKIÁNOV, A L; y SHAJNAZÁROV, G.J.; e Outros. Constitución dei País de Los Soviets. Diccionario. Moseú, Editorial Progreso, 1982. MARX, Karl; F. ENGELS, F. Manifesto Comunista. Tradução e revisão de Maria Arsênio da Silva. Ed. 2ª, São Paulo, Ched Editorial, 1980. (Coleção Polêmicas Operárias: Série Documentos). MIRANDA, Jorge. (Org., Introd. e Tradução) Constituições de Diversos Países. Volumes I e II. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1979. OUVEIRA, Juarez de. (Org.). Constituição da República Federativa do Brasil. 10ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1994. PLATÃO. Diálogos III. A República. Tradução de Leonel Vallandro. Rio de Janeiro. Ediouro. [s.d]. RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. 2ª Reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Coordenação do IBETInstituto Brasileiro de Estudos Tributários, Ed. Póstuma. São Paulo: Resenha Tributária, 1981. THOMAS MORUS. A Utopia. [Tradução de Luis de Andrade]. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d]. UUÁNOV(LENIN), Vladimir Ilich. Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Livro escrito em 1916, editora Edições Avante, tradução do Coletivo das Edições Avante, Moscovo/Lisboa, 1975. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico. Ed. 2ª, São Paulo: Alfa Ômega, 1997. JORNAIS AUTOR desconhecido. Evidentemente não Podemos Permitir que os Direitos de Propriedade Sirvam.... Tradução de José dos Santos. Jornal O Estado de São Paulo, 07.11.1999 (Domingo), Caderno 2, [s.p]. CAMPOS, Roberto. A Temporada da Anti-Razão. In: Jornal do Comércio de Pernambuco, 25.jun.1995, Domingo, p. 24. FRANCO, Gustavo H. B. O Consenso e o Bom Senso. Jornal O Estado de São Paulo, 07.11.1999, Caderno Economia, [s.p.]. Internet. MACHADO, Hugo de Brito. Jornal “O Opinião”, Fortaleza: 08 de fevereiro de 1998, [s.p.]. LEGISLAÇÃO 73 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Org.) OLIVEIRA, Juarez de; OLIVEIRA, Ana Cláudia Ferreira de. Atualizada até a Emenda 31, de 2.000. 6ª Ed., São Paulo: J. de Oliveira, 2000. BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26.03.9999, Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Diário Oficial da União de 29 de mar.1999. ___. Lei 9393, de 19.12.1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências. DOU de 20.12.1996. UNIÃO DAS REPÚBLICAS SOCIAUSTAS SOVIÉTICAS. Constituição da. In: Constituições de Diversos Países. Volume II. Organização e Tradução de Jorge Miranda, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1979, p. 329-374. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Constituição de 05.03.1978. In: Constituições de Diversos Países. Volume I. Organização e Tradução de Jorge Miranda, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1979. ALEMANHA. Constituição de Váimar do Reich (1919). Apud HENRICH BEISSE. O Critério Econômico na Interpretação das Leis Tributárias Segundo a Mais Recente jurisprudência Alemã. Tradução de Brandão Machado. In: Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prof Ruy Barbosa Nogueira. (Coord.) Brandão Machado. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 12. Jurisprudência BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Tributário. IPTU Progressivo. Matéria Dirimida pelo Plenário desta Corte. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a progressividade do IPTU, que é imposto de natureza real em que não se pode levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte, só é admissível, em face da Constituição, para o fim extra-fiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Agravo regimental não provido. AGRAVO REGIMENTAL EM RE na 187.976-9 de São Paulo. Município de São Paulo x José Giorgi Júnior. Relator Min. Maurício Corrêa. Acórdão de 26 de agosto de 1997, Diário da Justiça da União n° 211, de 31 de outubro de 1997, seção 1, p. 55553. 2ª Turma do STF. __. Supremo Tribunal Federal. A Turma confirmou acórdão do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, que reconhecera a legitimidade da exigência do IPTU, com base nas Leis 5.447193 e 5.722/94, ambas do Município de São José do Rio Preto, que prevêem alíquotas distintas para terrenos vazios e terrenos edificados. Considerou-se que a duplicidade de alíquotas nesses casos 74 não se confunde com a progressividade do tributo, que o STF entendeu ser inconstitucional quando não está destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. (CF, art. 6. 156, § 10). RE 229.233 de São Paulo. Relator Min. Ilmar Galvão. Acórdão de 26 de março de 1999. In: Informativo STF, n° 143, de 07.04.1999, p. 3. __. Supremo Tribunal Federal. Pleno, por maioria (dois votos contra, dos Min. Nelson Jobim e Moreira Alves). Suspendeu Lei que majorava para até 25% alíquotas da Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos da União, por entender ser relevante a argüição de inconstitucionalidade pela descaracterização da função constitucional da contribuição de seguridade social, já que foi instituída em alíquotas progressivas com finalidade do cobrir defict público passado e não benefício a ser pago ao contribuinte, e também considerou relevante a tese de ofensa ao princípio que veda a utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (CR, art. lS0-N), salientando que o exame da questão do efeito confiscatório deve ser feito em função da totalidade do sistema tributário e não de cada tributo isoladamente. ADInMC 2.01O-DF. Rei. Min. Celso de Mello. Decisão de 29.9.1999. In: Informativo STF n° 164, set/out de 1999, p. 1 e 2. ARGENTINA. Corte Suprema. Cfr. CARLOS M. GIULIANI FONROGUE. “La Corte Suprema, hasta este momento, mantiene el tope de 33% como limite de validez constitucional de las tributos”, Derecho Financiero, Volumen I, 5ª Edición, Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 342. 75 O SILÊNCIO NO DIREITO ADMINISTRATIVO Heraldo Garcia Vitta Mestrando na PUC-SP, Professor de Direito Administrativo; Presidente do IBADIP (Instituto Bauruense de Direito Público) e Juiz Federal da 2ª Vara em Bauru/SP. INTRODUÇÃO As funções estatais básicas, legislar, administrar e julgar, a partir de determinado momento histórico, desvincularam-se de uma só pessoa, do príncipe ou monarca. Criaram-se órgãos do Estado, embora se reconhecendo a unidade do Poder, cada qual com as atividades determinadas pelo ordenamento, entrelaçadas e coordenadas. Essas atividades foram distribuídas aos denominados “Poderes” Legislativo, Executivo e Judiciário, por intermédio dos quais o próprio Estado e os administrados passaram a reger sua vida e seus negócios. Vê-se, dessa forma, o intrincado problema de saber-se qual o regime jurídico a aplicar-se na atividade estatal desenvolvida por determinado órgão, pois, evidentemente, o regime jurídico das leis, do ato administrativo e da sentença não são os mesmos, diferem-se entre si, refletindo-se nos conceitos e nas conseqüências jurídicas estudados pela ciência do Direito. Muitos autores, talvez a maioria, sobrelevam a existência do silêncio administrativo, como “substituição” da manifestação da vontade estatal. A omissão do Poder Público, em certas hipóteses, acarretaria a equivalência à declaração do Estado e, assim, ter-se-ia ato administrativo. No entanto, o ato jurídico, como o é o ato administrativo, é uma pronúncia, uma declaração; mas o fato jurídico não é declaração, nem pronúncia - ocorre, simplesmente. 76 O silêncio, assim, é ato ou fato? Quais as conseqüências disso? Pode o juiz atribuir ao silêncio determinado efeito, ainda que a lei não o tenha previsto? Nosso estudo levará em conta tais questões; iniciaremos pela função administrativa, pois o ato administrativo exige sua compreensão, até ubicarmos na distinção entre ato e fato para finalmente, chegarmos no silêncio da Administração Pública, onde levantaremos alguns problemas para reflexão. A escolha do tema é proposital. O trabalho não o esgota e permite diversas alternativas e indagações, propícias para análises futuras. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA Antes de ingressarmos no tema propriamente dito, urge verificarmos a função administrativa, na qual o ato jurídico, editado pelo agente público, terá a conotação de ato jurídico-administrativo. Ou seja, apenas no exercício da função administrativa o agente estatal, ou quem lhe fizer às vezes, expedirá ato administrativo. Logo, o início deve ser a noção da função administrativa, ponto de partida para entendermos O ato administrativo. 1) O ilustre jurista alemão Otto Mayer1 divide as espécies de atividades estatais em quatro: legislação, justiça, administração e governo. Segundo o autor, (a) o governo influi em todas as atividades materiais do Estado, corresponde à alta direção do Estado, no sentido de uma boa política e interesse geral. O governo não desce no terreno do Direito. (b) A legislação, por seu turno, possui dois elementos (1) o estabelecimento, pelo poder soberano, de regras gerais e obrigatórias de direito, o qual (2) se manifesta por um corpo representativo. (c) A justiça, de sua vez, é a atividade estatal que busca (1) manter a ordem jurídica, (2) por meio dos tribunais. Envolve a declaração do direito individual, a jurisdição voluntária, as medidas coercitivas por agentes, etc. A administração judiciária (gestões e atos preparatórios à boa marcha da justiça, como conservação de material, nomeação de servidores), porém, não significa manter a ordem jurídica; logo, pertence à administração. (d) A administração tem noção delimitada “negativamente” - faltando um dos elementos da legislação ou da justiça, a atividade será administrativa. A administração exerce-se “sob a autoridade da ordem jurídica”.2 O mestre alemão alude à existência de outras atividades, além das já referidas, as quais não são legislação, justiça ou administração, tais (a) as atividades auxiliares do Direito Constitucional - como a nomeação dos membros do Parlamento, a direção das eleições, etc; (b) as atividades sob 1 2 “O Direito Administrativo Alemão”, Tomo I, p. 3 ss. Logo, ela está sob a ordem jurídica; deve cumprir a lei. 77 o Direito das Gentes· elaboração dos tratados internacionais, as relações diplomáticas, etc., (c) as ordenanças de urgências, poder do príncipe de editá-las, como medidas extraordinárias3; e (d) as medidas individuais tomadas sob a forma de lei - como são a concessão, a declaração de utilidade pública.4 Portanto, para Otto Mayer, há oito funções exercidas pelo Estado; e a Administração é conceituada no sentido negativo, vale dizer, a atividade estatal que não for legislação ou justiça será administração. 2) a insigne jurista italiano Renato Alessi5 designa Estado uma organização política de um grupo social assentado estavelmente num território determinado. A idéia de organização implica um sistema de normas (ordenamento) e um sistema de poderes. a sistema de poderes encontra sua base no ordenamento, mas constitui O fundamento da coercibilidade deste. Tais poderes são objetos de um “dever” das pessoas que estão encarregadas de sua atuação. Logo, função estatal, de acordo com o mestre, é o poder estatal dirigido às finalidades coletivas, objeto de um dever jurídico. 6 Para Renato Alessi, (a) legislação é a emanação de atos primários (inovação no mundo jurídico com efeito direto e imediato do Poder Soberano7) (b) a jurisdição é a emanação de atos subsidiários dos atos primários; e (c) a administração, a emanação de atos complementares dos atos primários, numa situação de superioridade (potestade)8. Logo, a administração é atividade concreta, ação positiva para a seguridade, o progresso e o bem-estar do povo. Em suma: é ação direta. O autor denomina “função administrativa”, no sentido objetivo, material, a realização de fins concretos do Estado, a emanação de atos de produção complementares, como parte na relação. Com efeito, enquanto na legislação e na jurisdição o Estado está acima e à margem das relações, na administração, ao contrário, o Estado é parte, é sujeito da relação, conquanto o seja de maneira superior (potestade estatal).9 3 Como resquício dessas medidas “excepcionais” do príncipe, pensamos enquadráveis as nossas medidas provisório as, na prática e em face das decisões judiciais, não permitindo a verificação de seus pressupostos, em flagrante contradição com o Texto Constitucional, cujo artigo 62 estipula os requisitos de sua emanação, evidentemente sindicáveis pelo Poder Judiciário. 4 No Brasil, aliás, há atos materialmente (substancialmente) administrativos editados pelo Poder Legislativo, como são as leis que decretam a desapropriação, concedem isenções, etc., os quais estão sujeitos à impetração de mandado de segurança por causa de seus efeitos concretos e imediatos. 5 Instituciones de Derecho Administrativo, p.1 e ss. 6 Como se vê, o exercício da função estatal é um “dever” das autoridades públicas; este termo deve vir antes da palavra “poder”, expressão utilizada apenas para ultimar aquela. Seria muito bom se nossas autoridades notassem a nítida e importante diferença - não se cuida de mero “jogo de palavras”, mas importante colocação conceitual: a função estatal é um “dever-poder” e não “poder·dever”. 7 Assim, apenas a lei pode inovar a ordem jurídica. Não concebemos possa o ato administrativo, sobretudo o regulamento, que é, de regra, geral abstrato e impessoal, realizar esta tarefa. 8 Decorrente, a nosso ver, da supremacia do interesse público sobre o do particular, por meio do qual o Estado age de forma unilateral, numa posição sobranceira em relação aos indivíduos componentes do Estado. 9 Para o autor, a Administração Pública, hoje, deve ser conceituada mediante conciliação da noção subjetiva e objetiva: a) sentido objetivo-desenvolvimento da “função administrativa” por partes das “autoridades” pertencentes à ordem administrativa; b) sentido subjetivo· conjunto de “autoridades” pertencentes à ordem administrativa, enquanto desenvolvam 78 Há, ainda, a “função política ou de governo”, atividade de ordem superior, correspondendo à direção suprema e geral do Estado, para determinar os fins da ação estatal, buscando a unidade de orientação (unidade de soberania) - tais os tratados, a declaração de guerra, a convocação e dissolução das Câmaras, etc. Os órgãos estatais realizam funções características e normais (Poder Legislativo, função legislativa; Poder Jurisdicional, função jurisdicional; Poder Executivo, função executiva - no âmbito desta, a “função administrativa”), mas não têm competência absoluta, e sim mera “coordenação de funções”. De outro lado, os órgãos estatais têm competência excepcional: (a) a potestade regulamentar, as quais são autênticas normas jurídicas, atividade materialmente legislativa dos órgãos administrativos10; (b) funções jurisdicionais - como as do Conselho de Estado e do Tribunal de Contas.11 De importância notável, trazida por Renato Alessi, as relações existentes entre a função administrativa e a função legislativa: a primeira está subordinada à segunda (princípio da legalidade), quer (a) no sentido negativo (são as proibições, quanto às finalidades a alcançar, os meios e as formas a seguir), ou (b) no sentido positivo (a lei pode vincular a atividade administrativa nas finalidades, meios e formas). E conclui: a administração somente pode fazer aquilo que a lei permite.12 3) O professor argentino Gordillo13, critica o conceito negativo de Administração (é a função que não se inclui na legislação e jurisdição)14, e o conceito positivo, quer o orgânico ou formal (é o ato realizado por órgão administrativo, que é dependente e tem hierarquia, ao contrário do jurisdicional, o qual é independente e sem hierarquia; e do órgão legislativo, que tem índole constitucional)15, ou o material ou substancial (os atos da função administrativa são manifestações concretas, os da função legislativa e a jurisdicional são abstratas).16 Suas conclusões são interessantes, pois, no sentido material: (a) o órgão administrativo realiza funções: administrativas, legislativas (regulamentos) e jurisdicionais (julgamentos no recurso hierárquico); uma função “materialmente administrativa”, compreendendo, por outro lado, na “função administrativa”, a emanação de “regulamentos administrativos”. (ob.cit., p. 12). 10 No Brasil, o regulamento só pode dar cumprimento à lei anterior editada. É subordinado à lei, quanto ao conteúdo e à forma (art.84, N, CF/88). Aliás, na Itália, Renato Alessi aduz serem os regulamentos administrativos equiparados às atividades administrativas: são misto de legislação e administração; e a tutela, a reação, em relação aos administrados, é idêntica. (lbidem) 11 As decisões dos Tribunais de Contas, no Brasil, segundo pensamos, estão submetidos ao crivo do Poder Judiciário, em face do artigo 50, XXXV: “- a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se de decisões meramente administrativas, embora louváveis, as quais podem ser contrastadas perante o Poder Judiciário, não só quanto ao aspecto formal (legalidade), mas, sobretudo, quanto ao seu aspecto substancial, ou, para utilizarmos expressão corrente, no seu mérito. 12 E, não, frisamos, o que a lei não proíbe. 13 Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Cap.VII, p.l e ss. 14 O autor diz ser insuficiente, porque há atos que não são legislação e jurisdição, e há dúvidas de que atos se trata. 15 Segundo o autor, este critério é errôneo, pois os órgãos legislativo e jurisdicionais também realizam função administrativa. 16 Para o autor, a função administrativa nem sempre se limita a manifestações concretas da vontade. 79 (b) o órgão jurisdicional realizada funções: jurisdicionais e administrativas; (c) o órgão legislativo realiza funções: legislativas e administrativas.17 Logo, há atos materialmente legislativos que são organicamente administrativos, como os regulamentos; atos materialmente administrativos que são organicamente legislativos (investigação, pedidos de informações, autorização); atos materialmente administrativos que são organicamente judiciais (nomeação e remoção dos servidores judiciais); atos materialmente jurisdicionais que são organicamente administrativos (quando o Poder Executivo decide um recurso hierárquico). Conclui o mestre da necessidade de utilizar-se de critério misto para conceituar cada uma das funções, combinando elementos de um e de outro tipo. 18 No sentido orgânico-material, então, o autor passa a conceituar cada uma das funções estatais. (a) A função legislativa é composta de atos materialmente legislativos19 e realizados por órgão legislativo. O Poder Executivo, ao editar regulamentos, não exerce função legislativa, pois aqueles têm gradação hierárquica com a lei20, não podendo contradizê-la. Assim, os órgãos administrativos não exercem função legislativa. O Poder Judicial, mediante os regimentos internos não legisla, porquanto têm graduação hierárquica com a lei e não podem contradizê-la - o regime jurídico não é função legislativa. O mesmo ocorre com os acórdãos. Por conseguinte, o Judiciário não exerce função legislativa. A conclusão, quanto à função legislativa, é: realizada apenas pelo Poder Legislativo, sendo elementos dessa função: o material ou objetivo (normas gerais)21, e o orgânico ou subjetivo (apenas pelo Poder Legislativo). (b) A função jurisdicional, segundo o autor, no conceito orgânico - material22, é a realizada apenas pelo Poder Judiciário, pois o Legislativo quando decide remover determinado servidor de sua função política atua no regime jurídico-administrativo; e o Executivo, ao decidir questões 17 É importante ressaltarmos, no ponto, que os três órgãos estatais realizam funções administrativas. Estas considerações também foram feitas por Renato Alessi. Podemos advertir as situações anômalas, porém não impossíveis, nas quais o Legislativo edita normas individualizantes, como notou Otto Mayer, quais a decretação de utilidade pública, a concessão de serviços, etc. São atos materialmente administrativos, editados por órgão legislativo, e o regime jurídico é o da função legislativa, e não o da função administrativa. 20 É o nosso caso, nos termos do artigo 84, IV, da Constituição, segundo o qual compete ao Presidente da República: “sancionar, promulgar e Jazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.” a verdade, há outros atos gerais, abstratos e impessoais, além dos regulamentos, igualmente editados pelos órgãos administrativos, como as circulares e instruções, os quais têm o regime jurídico=administrativo, embora possuam as qualidade indicadas, como as leis as possuem. 21 Já constatamos a existência de atos individuais editados pelo Poder Legislativo, sob a forma de lei, como adverte Otto Mayer. 22 No conceito objetivo, ou seja, ante o conteúdo da função, a função jurisdicional é a decisão com força de verdade legal entre as partes. 18 19 80 disciplinares dos servidores23 não atua como órgão imparcial ou independente24 e a decisão não é definitiva25. Portanto, são elementos da função jurisdicional: material ou objetivo (decisão com força de verdade legal entre as partes), orgânico ou subjetivo (praticada pelos juízes, que são órgãos independentes e imparciais).26 (c) Gordillo, especificamente à função administrativa, ensina-nos cuidar-se de conceito cujo conteúdo é impreciso, indefinido, mas, de qualquer forma, realizada pelos Poderes Legislativo e Judiciário; logo, sob O regime jurídico da atividade administrativa. E arremata: “Função administrativa é toda atividade que realizam os órgãos administrativos, a atividade que realizam os órgãos legislativos e jurisdicionais, excluídos, respectivamente, os fatos e atos materialmente legislativos e jurisdicionais.” 27 4) O ínclito professor da PUC-SP, Celso Antônio Bandeira de Mello, por seu turno, ao realizar importantíssima decomposição do ato administrativo, mediante classificação de seus elementos e de seus pressupostos, ao mencionar estes, no tocante à existência do ato, incluiu além do objeto (o qual, diga-se difere do conteúdo do ato) a “pertinência à função administrativa”28, vale dizer, o ato administrativo é o ato jurídico emanado no exercício da função administrativa, definido esta como “a função estatal, exercida normalmente pelo Poder Executivo e seus sujeitos auxiliares e atipicamente por órgãos de outros Poderes, sempre na conformidade de um regime hierárquico, e que, tal como resulta do sistema constitucional brasileiro, caracteriza-se juridicamente pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais vinculados, submissos todos a controle de legalidade pelo Poder judiciário.”29 5) O não menos notável professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello30 acentua o Estado como organização jurídica de um povo em dado território, sob um poder supremo, para a realização do bem comum dos seus membros, e pressupõe: (a) o Estado-poder, o qual diz respeito à sua própria organização jurídica, como meio para a consecução do fim do Estado-sociedade, seja nas relações externas (com outros Estados), seja nas relações internas (com sua própria estrutura política).; (b) o Estado-sociedade, referindo-se à organização jurídica da vida social das pessoas, tanto nas recíprocas relações, envolvidos mediatamente pela autoridade estatal, como nas 23 Acrescentamos nós, ao decidir quaisquer questões dos particulares. Ao contrário do Poder Judiciário. Podemos acrescentar, exceto nas nações nas quais se tem o contencioso administrativo. 26 De certo modo, a colocação coincide com a de Renato A1essi, ao asseverar acerca da função jurisdicional; no caso, o Estado atua acima e à margem das relações, assim como na função legislativa, o que não ocorre na função executiva, na qual o Estado é sujeito das relações, apesar de estar numa posição de superioridade. (ob.cit., pp 7-8) 27 ob.cit., p. 42. 28 Curso de Direito Administrativo, p.279. 29 Idem, rodapé 22. 30 Princípios Gerais de Direito Administrativo, vol I, p.13 e ss. 24 25 81 relações imediatas dessas pessoas, isoladamente ou em sociedades menores por eles constituídas, com o Estado-poder e vice-versa. De acordo com o autor, a (a) Ação Normativa do Estado-Poder corresponde à sanção de leis jurídicas, isto é, de normas de conduta, gerais, abstratas e impessoais, que inovam originariamente na ordem jurídica31; ordenação normativa da conduta dos componentes do Estado-sociedade, em caráter coercitivo. Mas a ação normativa legislativa é “completada” por outras normas jurídicas, que dispõem sobre a sua “execução”: são os regulamentos e as instruções. A (b) Ação Executiva do Estado-poder é a realização, em concreto, de todas as normas jurídicas, através de (l) atos jurídicos, verdadeira manifestação de vontade, para a produção de efeitos na ordem do direito, de efetivação da ação pública legislativa; (2) atos materiais, pressupostos ou complementos diretos dos atos jurídicos; ou atos materiais com certa autonomia, de oferecimento de comodidade dos particulares, efetuando obras públicas ou executando serviços públicos.32 A (c) Ação judicial do Estado-poder é a ação judicante, através da qual o Estado-poder aplica a norma jurídica disposta pela ação legislativa aos casos concretos. Por ela, se visa, imediatamente, assegurar o direito constante da norma; porém, de modo indireto, por meio das partes litigantes, em controvérsia. Para o autor, são órgãos do Estado-poder, segundo conceito material dos atos jurídicos, os Poderes Legislativo, Executivo e o Judiciário. No entanto, não se podem confundir os órgãos do Estado-poder com as suas funções, mesmo com as ações que o especificam, pois há atividades: (1) de natureza executiva, realizadas pelo (a) Poder Legislativo, como a aprovação do orçamento, autorizando a despesa e receita do Estado-poder, a aprovação de normas de candidatos apresentados pelo Executivo para serem por ele nomeados para altos cargos; (b) Poder Judiciário, como a jurisdição voluntária, na qual não há resolução de qualquer controvérsia jurídica inventário de bens a serem partilhados, a arrecadação e a administração de bens de ausentes, etc33.; bem como os atos judiciários nos processos contenciosos, por exemplo: “Preparados, voltem-se conclusos os autos para sentença”. (2) de natureza jurisdicional, realizadas pelo (a) Poder Legislativo, o impeachment, que são juízos políticos, nos quais se julga os titulares dos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, por crimes funcionais ou má conduta no exercício de suas atividades34; (b) Poder Executivo, ao decidir sobre pretensões das partes, administrativamente, na defesa dos seus direitos, frente ao Estado-Poder, e ao punir, disciplinarmente, seus próprios agentes. 31 Logo, apenas a lei pode inovar no mundo jurídico, como acentua A1essi. Devemos ressaltar, nos termos do ensinamento do autor: a ação legislativa estabelece o escopo e as balizas da ação executiva, mais ou menos rígidas; ela se move conforme a maior ou menor liberdade que lhe é conferida.(ob.cit.,p.19). É o princípio da legalidade, insculpido entre nós nos artigos 5º, 11 e 37, caput, do Texto Constitucional. 33 Tivemos oportunidade de ver que ano Mayer inclui a jurisdição voluntária como atividade judicial. 34 Vimos que, para Gordillo, o regime jurídico é de Direito Administrativo. 32 82 (3) de natureza legislativa, realizadas pelo (a) Poder Executivo, ao participar na elaboração da lei, e na prescrição de atos normativos, como os regulamentos e as instruções, impondo regras de conduta aos particulares e aos seus agentes35; (b) Poder Judiciário, por meio dos regimentos normativos, para regular a marcha dos seus respectivos trabalhos.36 Contrariando a doutrina majoritária, propõe duas faculdades distintas, dois poderes fundamentais: o político, de integração da ordem jurídica, mediante o seu estabelecimento e sua atuação; e o jurídico, de reintegração dessa ordem jurídica. A ação legislativa e a executiva do Estado-poder, segundo o autor, são dois momentos sucessivos de uma mesma função. Englobam a criação de novas utilidades sociais, por meio de normas jurídicas, que as dispõem, ou atos jurídicos, que as concretizam, e atos materiais complementares. Logo, a função administrativa é deliberação normativa e sua execução. Ou seja, a função administrativa é criação de utilidade pública, através de ação legislativa e executiva, efetuada de modo imediato e direto. A ação judicial tem preocupação de manter a ordem jurídica em vigor, assegurando o direito vigente; o objeto é o próprio direito, é a sua razão de ser. Os Poderes Legislativo e Executivo são distintos, mas harmônicos, pois constituem estruturas orgânicas autônomas que se entrosam na sua atuação; são dois sistemas orgânicos autônomos, porém do mesmo poder, o Político. O Judiciário é independente delas, forma um sistema a parte, pela própria natureza do seu objeto, e participante de outro poder, o Jurídico. Por conseguinte, o autor exclui do Direito Administrativo qualquer função jurisdicional, isto é, de dizer o direito das partes em controvérsia, mesmo quando uma delas seja o Estado-poder. Quanto aos atos de governo (relações externas: diplomáticos, guerras, tratados; relações com outros poderes do Estado: a iniciativa de projeto de lei, a sanção ou veto de lei, a convocação extraordinária do Parlamento, a nomeação de Ministros de Estado; relativos à ordem interna: expulsão de estrangeiros, a anistia, a graça) devem enquadrar-se num ramo do direito: no Direito Constitucional, por exemplo, os pertinentes às relações dos outros poderes, enquanto organização do regime político; e no Direito Administrativo, todos os demais; assim, os atos jurídicos de declarar guerra ou o estado de sítio, ou de firmar tratados com outras potências, bem como de participar na ação legislativa do Estado. O autor enfatiza a possibilidade de os atos de governo serem apreciados pelo Poder Judiciário, se ferirem direitos subjetivos das pessoas, ou desconhecerem a ordem jurídica normativa vigente.37 35 Para Gordillo, o Executivo não realiza função legislativa; pois tais atos estão submetidos ao regime jurídico-administrativo. Gordillo entende não haver, na elaboração dos regimentos, regime jurídico da função legislativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto aos atos de governo assim se expressa: “Pelo quanto se disse, entretanto já se vê, atribuímos à noção de ato político ou de governo relevância totalmente diversa da que lhe é conferida pela doutrina européia. Esta os concebe para efeitos de qualificá-las como atos insuscetíveis de controle jurisdicional, entendimento que repelimos de 36 37 83 6) Para o conceituado jurista francês Benoît38, há o Estado-Nação e o Estado-Coletividade. O primeiro corresponde à emissão de normas jurídicas primárias (constituição, leis, decretos, neste último caso, quando não estiver subordinado à lei), tendo controle meramente político; e o segundo, submetido ao regime do Direito Administrativo, tem missões variadas (prestação de serviços aos habitantes, a polícia, a gestão de domínio, as operações materiais), cujo controle é jurídico. Exalta, a subordinação do Estado-Coletividade às normas e às diretrizes do EstadoNação. Conforme o autor, há três regras pelas quais se deva analisar as funções estatais: a) distinção da arte da ciência. No caso, a visão artística das funções, causada por conta da separação de poderes difundida por Montesquieu, deve ceder à verificação das tarefas, dos regimes e dos órgãos para chegar-se à noção de função. Esta deve exprimir a realidade do direito positivo; b) a definição científica das funções deve exprimir a complexidade da realidade jurídica. As missões consideradas não devem dissociar-se do regime conforme o qual elas são assumidas pelo órgão o qual está investido. Enquanto missões são tarefas definidas por seu conteúdo (fazer as leis, manter a ordem na rua) - vale dizer, apenas por seu objeto, independentemente do problema do regime e da atribuição a um órgão -, função é um conjunto homogêneo de missões com um mesmo regime, atribuído a um órgão determinado; c) a função não pode exprimir mais que a realidade de um momento; não há valor absoluto. Por exemplo, na monarquia havia somente a função governamental, incluía a missão de legislar. Ante o exposto, podemos fazer algumas conclusões quanto à função administrativa: é a realizada pelo órgão executivo, dependente e hierárquico; logo, baseado numa hierarquia de funções; mas também é a realizada pelos órgãos legislativo e judiciário, quando estes não estejam em suas tarefas normais, suas competências próprias; os atos editados no exercício da função administrativa são sindicáveis pelo órgão judicial, pois não têm caráter de definitividade; tais atos são subordinados à lei. Parece-nos, de logo, ser correta e perfeitamente clara a definição de função administrativa, fornecida por Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual função administrativa “é a função estatal, exercida normalmente pelo Poder Executivo e seus sujeitos auxiliares e atipicamente por órgãos de outros Poderes, sempre modo absoluto e que não se coaduna com o Texto Constitucional brasileiro, notadamente com o art. 5°, XXXV.” (ob. cit., p. 271). Assiste razão ao preclaro professor, pois tais atos podem ferir direitos subjetivos das pessoas, ou não observar as normas vigentes, quanto ao conteúdo ou à forma, sobretudo em face da própria norma constitucional, a qual poderá trazer pressupostos ou requisitos para a edição de determinado ato, evidentemente sindicáveis pelo juiz. 38 Le Droit Administratif Français, p. 27 e ss. 84 na conformidade de um regime hierárquico, e que, tal como resulta do sistema constitucional brasileiro, caracteriza-se juridicamente pelo fato de ser desempenhada mediante comportamentos infralegais ou, excepcionalmente, infraconstitucionais vinculados, submissos todos a controle de legalidade pelo Poder judiciário.”39 A importância do conceito de função administrativa, como frisamos, alcança finalidade prática, pois dele se origina o conceito de ato administrativo, na medida em que “a instituição produtora do ato administrativo é a função administrativa.” 40 A NOÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO Para Gordillo, o ato administrativo é manifestação no exercício da função administrativa. Não importa o órgão que edita o ato; a raiz do ato está objetivamente na função administrativa. Os motivos desta posição permitem, conforme o mestre platino Agustín Gordillo: “a) eliminar as contradições lógicas entre as noções de função e ato administrativo; b) fazer a eliminação sem tomar em conta elementos acidentais, mas o regime jurídico; c) atos do poder judiciário e legislativo referentes à sua organização interna, meios materiais, vida funcional, etc., regem-se pelo direito administrativo; d) é inútil propor a desvinculação entre as noções de ato e função administrativa, por induzir desnecessária complexidade terminológica e conceitual.” 41 Se é ressaltada a função administrativa, como fonte produtora do ato administrativo, não é menos importante a noção formal de ato administrativo, sobretudo diante do regime jurídico a ser aplicado ao ato editado pelo órgão. Ensina-nos André de Laubadere: “No direito positivo, a noção formal de ato administrativo apresenta incontestavelmente uma importância capital: um grande número de regras são comuns a todos os atos formalmente administrativos. Assim, diferente dos atos formalmente legislativos, todos os atos formalmente administrativos estão assujeitados a um controle jurisdicional, e em particular, desde que tenham efeitos de direito são 39 40 41 Ob.cit.,p. 279, rodapé 22. Agustín Gordillo, ob.cit., Tomo 3, Cap. I, p. 7. Idem, p. 15. 85 suscetíveis de ser atacados em anulação pela via do recurso por excesso de poder: Sob diversos pontos de seu regime jurídico, é a noção formal de atos administrativos que fica. Por exemplo, se os regulamentos administrativos têm sido apresentados como atos materialmente legislativos (..), sua natureza de atos formalmente administrativos é suficiente a privá-las do regime jurídico de leis e os submete ao regime de atos administrativos; ao contrário, uma medida individual editada pelo Parlamento, bem que podendo ser apresentado como um ato materialmente administrativo, é beneficiado do regime jurídico de todas as leis formais, e notada mente não pode ser anulada pelo tribunal. A noção formal de ato administrativo é assim a mais importante pelas conseqüências que ele leva sobre o regime jurídico do ato.”42 A definição de ato administrativo pressupõe classificação prévia de objetos, alguns incluídos no conceito, outros não. Apenas dessa divisão podemos chegar a bom termo e definir o ato administrativo. No entanto, como os autores classificam os objetos de acordo com critério de conveniência43, aliás, como visto acima, partiremos, de imediato, excluindo os atos não enquadráveis no conceito de ato administrativo, iniciando com a do ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello.44 Com efeito, estão excluídos da noção de ato administrativo, embora realizados pela Administração Pública: (a) os atos regidos pelo Direito Privado, como a locação de uma casa para nela instalar-se uma repartição pública. O conteúdo e os efeitos são regidos pelo Direito Privado; apenas as condições de emanação têm regulação pelo Direito Administrativo; (b) os atos materiais, como o ministério de uma aula, uma operação cirúrgica realizada por médico no exercício de sua atividade, a pavimentação de uma rua; (c) os atos políticos ou de governo, praticados com margem de discrição e diretamente em obediência à Constituição, no exercício de 42 En droit positif, la notion formelle de l' acte administratif présente incontestablement una importance capilale: un grand nombre de règles sont communes à tous les actes formellement administratifs. Ainsi, à la différence des actes formellement législalifs, tous les actes formellement administratifs sont assujettis à un contrôle jurisdictionnel, et en particulier, dès lors qu' íls ont des effets de droit, ils sont susceptibles d’ être attaqués en annulalion par la voie du recours pour excès de pouvoir Sur plusiers point de leur régime juridique, c’ est la notion formelle des actes administratifs qui est à retenir. Par exemple si les réglements administratifs ont été parfois présentés comme des actes matériellement législatifs (ínfra, sect.2) , leus nature d’ actes formellement administralifs suffit à les priver du régime juridique des lois et à les soumettre au régime des actes administratifs; à l’inverse, una mesure individuelle édictée par le Parlement, bien que pouvant être présentée comme un acte matériellement administratif béneficie du régime juridique de toutes les lois formelles, et notamment ne peut être annulée par un tribunal.” (“Traité de Droit Administratif”, Tomo I, p 576, grifos no original) 43 Nesse sentido, Gordillo: “As características comuns que adotamos como critério para o uso de uma palavra de classe são uma questão de conveniência. Nossas classificações dependem de nossos interesses e nossa necessidade de reconhecer lama as semelhanças como as diferenças entre as coisas.” (ob.cit.,Tomo I, Capo I, p.15). 44 ob. cit., p. 270-1. 86 função puramente política; e, incluímos nós, d) os contratos administrativos, regidos por regime próprio, específico. Segundo o autor, há atos, de outro lado, não praticados pela Administração Pública, mas que “devem ser incluídos entre os atos administrativos, porquanto se submetem à mesma disciplina jurídica ...” Como exemplo, os relativos à vida funcional dos servidores do Legislativo e do Judiciário, ou as licitações efetuadas nestas esferas.45 O mesmo enfoque podemos atribuir quanto aos efeitos jurídicos do ato. Muitos autores entendem excluir da definição de ato administrativo os atos não possuidores de efeitos jurídicos diretos, imediatos sobre os administrados. De acordo com esse entendimento, apenas os atos geradores de efeitos jurídicos diretos nos administrados seriam verdadeiramente atos administrativos; os demais, como são as informações, não teriam essa característica, assim, não são atos administrativos. 1) Agustín Gordillo, de fato, exclui do conceito todos os atos preparatórios (informações, opiniões, projetos, etc); não são impugnáveis por recurso administrativo nem judicial, ainda que padeçam de algum vício. O mesmo ocorre com os que tenham algum efeito jurídico, em união com outros elementos, mas que ainda não o tem: a opinião vinculante ou semivinculante; um ato que deva ser aprovado; um ato que haja sido ditado, mas ainda não haja sido notificado. 2) Roberto Dromi, de seu turno, entende ato administrativo toda “declaracíón unilateral efectuada en el ejercício de Ia función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa”.46 A maioria dos autores parte da realidade jurídica de seu país. Alhures, há normas legais estabelecendo a situação assinalada: o ato administrativo é sempre uma declaração unilateral, individual com efeitos jurídicos diretos. No Direito argentino, leis de procedimento administrativo das diversas províncias definem o ato administrativo no sentido apontado, assim como no da Alemanha e no da Colômbia. No Brasil, porém, não há definição legal de ato administrativo. A recente lei federal de procedimento administrativo (9.784/99) não realizou essa tarefa, o que dificulta, ainda mais, o tema por aqui. Entendemos do seguinte modo. Se o ato foi editado no exercício da função administrativa, não se cuidando de mera gestão do patrimônio público, de atos políticos ou de governo, de fatos jurídico-administrativos, e de contratos administrativos, somente pode ser ato administrativo, na firme certeza de que não se cuida de ato judicial (decisão com força de verdade legal, pondo fim à controvérsia entre as partes) ou de lei (norma abstrata, geral e impessoal, editada pelo 45 Ob.cit., p. 271. EI Acto Administativo, p. 15. O mesmo autor arrola as diversas tendências doutrinárias da defmição de ato administrativo. (p. 12-5). 46 87 Legislativo). Isto porque a perfeição do ato não se confunde com sua eficácia; ocorre a primeira quando “esgotadas as fases necessárias à sua produção”47; o segundo, quando “está disponível para a produção de seus efeitos próprios ...”48 Ora, uma informação, uma perícia, um parecer, mesmo não vinculativos, existem. Pertencem ao mundo jurídico, tanto constatam fatos, situações, emitem juízos de valor. São manifestações de vontade. Apenas dependem, muitas vezes, de um ato posterior a dar-lhes eficácia, como o ato controlador da autoridade, ou a determinação do fechamento da fábrica, baseada na informação anterior. Parece-nos, então, os referidos atos devem ser incluídos na categoria de atos administrativos, sobretudo para podermos entender os atos administrativos posteriores editados com base neles. Os efeitos jurídicos podem ser diretos ou indiretos, em nada descaracterizando sua natureza jurídica. 3) O insigne professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, após definir ato administrativo no sentido material ou objetivo49 e no sentido orgânico-formal ou subjetivo50, explica o abandono, pela doutrina, da distinção entre ato executivo (como manifestação de vontade individual, concreta e pessoal) e ato normativo. Hoje, segundo o autor, há apenas ato administrativo, no sentido de ato executivo, como manifestação de vontade individual, concreta e pessoal.51 4) André Gonçalves Pereiras52, ilustre jurista português, exclui dos atos administrativos os regidos pelo Direito Privado e os contratos administrativos: ato administrativo é ato unilateral e implica o uso de um poder. Para o autor, o regulamento e o ato administrativo têm regimes jurídicos diferentes, que justificam a construção de um conceito autônomo. São duas diferenças essenciais: o regime de revogação e a impugnação contenciosa. Quanto ao primeiro, o regulamento pode ser livremente revogado por outro posterior dotado da mesma autoridade formal, não estando submetido ao regime dos atos concretos. O regulamento é mediato em relação ao administrado, enquanto o ato administrativo é imediato, projetando-se diretamente na esfera jurídica do administrado. Por isso; não pode o ato administrativo constitutivo ser revogado se não em condições determinadas, aliás, restritivas, ao passo que o regulamento pode ser livremente revogado. 47 Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., p. 272. Ibidem. “Manifestação da vontade do Estado, enquanto poder público, individual, concreta e pessoal, na consecução do seu fim, de realização da utilidade pública, de modo direto e imediato, para produzir efeitos de direito.” (ob. cit., p. 463.) 50 “Ato emanado de órgãos encarregados da Administração Pública, compreendendo os integrantes do Poder Executivo, ou mesmo dos outros, desde que tenham a mesma estrutura orgânico-fonnal daquele, como sejam as secretarias do Legislativo e do Judiciário.” (Ibidem) 51 Concordamos plenamente com o autor, quando diz ser preferível a seguinte classificação: gênero - ato administrativo; espécies: ato executivo e ato normativo. (Ibidem) 52 Erro e Ilegalidade do Ato Administrativo, Cap.I1, p.78 e ss. 48 49 88 No tocante à impugnação contenciosa, se ela é regra nos atos concretos, é exceção quanto aos genéricos, só sendo admissível nos regulamentos autárquicos.53 5) A respeito da primeira questão, Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza: “Compreende-se, então, por que os atos gerais abstratos (como os regulamentos) são sempre revogáveis e por que o problema dos limites específicos ao poder de revogar coloca-se apenas para os atos concretos. É que nos atos gerais e abstratos não se trata de reincidir competência sobre a mesma relação jurídica. Tais atos dispõem para o futuro e não interferem com alguma relação presente. Apanham qualquer relação criada. Logo, não correspondem à reiteração de competência sobre a mesma relação. Consistem no simples exercício normal de uma competência deferida em abstrato e que é manifestada tendo em vista o porvir. Daí sua 'liberdade'.”54 E completa Michel Stassinopoulos: “Do ponto de vista da revogação, há também uma diferença a notar. Os atos regulamentares são em princípio revogáveis, então que os atos individuais são apenas na medida em que eles não tenham criados direitos. Por outra, a revogação dos atos regulamentares não tem jamais um caráter retroativo - conforme o princípio que não se regulamenta para o passado - enquanto que, num ato individual, sua retirada retroativa é possível.”55 6) Para nós, contudo, a questão da revogabilidade não é determinador do regime jurídico do ato; o regulamento, embora tenha diferenças no tocante à revogabilidade e à impugnação em relação ao ato concreto, está subordinado à lei, não pode contrariá-la, deve obedecê-la, e é editado na função administrativa, antes estudada. Em uma palavra: o regulamento tem o regime jurídico do Direito Administrativo, pois se cuida de ato editado na função administrativa. Logo, é ato administrativo. Além disso, perante nosso ordenamento jurídico, o regulamento, as instruções, 53 No Brasil, ante a possibilidade de mandado de segurança preventivo, a princípio, torna-se possível ação judicial contra regulamento, ato normativo. Ob.cit., p. 327. grifos no original. 55 “Du point de vue de Ia révocation, il y a aussi une différence á noter. Les actes réglementaires sont en principe révocables, alors que les actes individuels ne le sont que dans la mesure oú ils n’ont pas créé de droit. En outre, la révocation des actes réglementaires n’ a jamais un caractère rétroactif - selon le principe que ‘l’ on ne réglemente pas pour le passé’ - tandis que, s’ aggissant d’ un acte individuel illégal, son retrair rétroactif est possible.” (“Traile des Actes Administratifs”, p, 64). É de observar-se, porém, que a revogação, de regra, não tem efeitos retroativos, ao contrário da 'nulidade do ato, o qual retroage, atingindo o ato em sua origem. 54 89 etc, atos abstratos e gerais,56 podem ser combatidos por intermédio do mandado de segurança preventivo, na hipótese de ameaça a direito do particular. No ponto, o regime de impugnação judicial aproxima-se daquele do ato administrativo concreto. Estamos inclinados, assim, a incluir na categoria de atos administrativos os atos abstratos e gerais, bem aqueles, não incluídos nestes, que não possuam efeitos jurídicos diretos. Diante das considerações feitas, podemos conceituar ato administrativo: “é toda declaração unilateral do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, editada no exercício da função administrativa, em complemento da lei, de efeitos jurídicos diretos ou indiretos, concretos ou abstratos, gerais ou individuais, submissa a controle pelo Poder judiciário”. Conforme veremos a seguir, esta conceituação, baseada na declaração do Estado, tem reflexos importantes na teoria do silêncio da Administração. Antes, porém, devemos distinguir o ato do fato administrativo. É o que faremos. O FATO ADMINISTRATIVO. A DISTINÇÃO ENTRE ATO E FATO ADMINISTRATIVO 1) Gordillo mostra-nos a distinção entre atos e fatos; segundo ele, no exercício da função administrativa, há quatro grandes setores da atividade administrativa: (a) atos não jurídicos - são decisões da administração que não produzem efeito jurídico algum. O professor decide explicar um tema antes que outro; (b) atos jurídicos - são as decisões ou declarações que produzem efeito jurídico, isto é, produzem o nascimento, a modificação ou extinção de um direito ou um dever. A decisão de designar uma pessoa a um cargo; (c) fatos não jurídicos - são todas as atuações materiais da administração que não produzem um efeito jurídico direto. O professor de sua classe caminha; (d) fatos jurídicos - a posse de uma coisa por determinado tempo, é um fato que produz efeito jurídico, a aquisição por prescrição; o agente de polícia que detém pessoa sem decisão prévia produz efeitos jurídicos: nascimento de uma responsabilidade para a administração, direito de indenização.57 56 Atos concretos são os que dispõem para um único e específico caso, esgotando-se neste única aplicação. Exemplo: a exoneração de um funcionário; atos abstratos, são os que prevêem reiteradas e infindas aplicações, as quais se repetem cada vez que ocorra a reprodução da hipótese neles prevista, alcançando um número indeterminado e indeterminável de destinatários. Exemplo: o regulamento; atos individuais são os que têm por destinatário sujeito ou sujeitos especificamente determinados. Exemplos: nomeação de dado funcionário; a nomeação, em uma única lista, de diversos sujeitos especificados; atos gerais, são os que têm por destinatários uma categoria de sujeitos inespecificados, pois colhidos em razão de se incluírem em uma situação determinada ou em uma classe de pessoas. Exemplo: um edital de concurso público. (Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., p. 302). 57 Ob. cit., Tomo III, Cap. III-3. 90 2) Vamos nos valer, igualmente, da lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para bem delinearmos a distinção entre o fato e o ato administrativo, na medida em que dessa diferenciação resultam importantes conclusões quanto à omissão do Poder Público. Ensina o mestre: “O ato administrativo é um ato jurídico, pois se trata de uma declaração que produz efeitos jurídicos. Sendo ato jurídico, aloca-se dentro do gênero fato jurídico. Este se define como: qualquer acontecimento a que o Direito imputa e enquanto imputa efeitos jurídicos. O fato jurídico, portanto, pode ser um evento material ou uma conduta humana, voluntária ou involuntária, preordenada ou não a interferir na ordem jurídica. Basta que o sistema normativo lhe atribua efeitos de direito para qualificar-se como um fato jurídico.”58 3) Cuidando da manifestação exterior da vontade da administração nos atos administrativos, dizem “Hauriou et de Bezin”: “É preciso reter, é o caractere exterior dessa declaração; toda vontade administrativa é necessariamente exteriorizada; é uma precaução elementar para distinguir, no agente, as vontades que ele exprime em nome da administração, daquelas que ele poderia ter por sua conta; as vontades administrativas devem ser formuladas exteriormente pelo agente, no exercício de suas funções. A gente pode mesmo sustentar que a forma escrita é exigida para as declarações de vontade expressa da administração, e que esta exigência é uma precaução natural.”59 4) Apenas advertimos de que há aros jurídicos que não são necessariamente comportamentos humanos voluntários. É o caso dos parquímetros que expedem multas uma vez excedido o prazo do estacionamento. É que “pode haver atos administrativos que não são produzidos por homens. Não se pode, de outro lado, falar em uma vontade da máquina que os expede”60 58 Ob.cit.,p.265. “Ce qu `il faut retenir, c’est le caractere exterieur de cette déclaration; toute volonté administrative est nécessairement exteriorisée; c’ est unan precaution élémentaire pour distinguer, chez l’ agente, les volontés qu` il exprime au nom de l’ administration, de celles qui ‘il pourrait avoir pour son compte; les volontés administratives doivent être formulées extérieurement par l’ agent dans l’ exercicie de ses fonctions. On peut même soutenir que la forme écrite est exigée pour les déclarations, de volonté expresse de l’ administration, et que cette éxigence est une précaution naturelle.” (La déclaration de volonté dans le droit administratif français, in Revue trimestrielle de droit civil, 1903, p. 549, apud Themístocles Brandão Cavalcanti, “Tratado de Direito Administrativo”, vol. I, p.203). 60 Cr. Tomás Hutchinson, La actividade administrativa, la máquina y el Derecho Administrativo, in RDP 55-56/37, 45, notadamente pp.41 a 43, apud Celso Antônio Bandeira de Mello ob.cit.,p.267. 59 91 Em outras palavras, o ato jurídico é exteriorização do pensamento; um processo intelectual. Ao contrário, o fato jurídico é ato material, e bastas vezes, depende do primeiro para ocorrer. Realmente, Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza: “Ao nosso ver a solução é a seguinte. Atos jurídicos são declarações, vale dizer, são enunciados; são 'falas' prescritivas. O ato jurídico é uma pronúncia sobre certa coisa ou situação, dizendo como ela deverá ser. Fatos jurídicos não são declarações; portanto, não são prescrições. Não são falas, não pronunciam coisa alguma. O fato não diz nada. Apenas ocorre. A lei é que fala sobre ele. Donde a distinção entre ato jurídico e fato jurídico é simplicíssima.”61 Os fatos jurídicos podem ser simples ou complexos, segundo se realizam por um simples evento, ou exigem para a sua integração uma multiplicidade de fatos. O nascimento, a maioridade, o parentesco, a ocupação, são fatos simples; já a usucapião, que depende de diversos elementos sucessivos é um fato complexo.62 Enquanto atos são decisões, declarações dirigidas ao intelecto dos administrados, abstratamente, através da palavra oral ou escrita, ou de signos com conteúdo convencional ou ideográfico (gesto do guarda do trânsito, os sinais de trânsito); fatos são atuações materiais, operações técnicas realizadas no exercício da função administrativa. A “decisão declarada” se dá a conhecer às demais pessoas por meio de “fatos ou dados” que têm significado simbólico: a decisão de permitir atravessar a rua surgirá de uma expressão verbal ou escrita, ou de um signo convencional de trânsito, a decisão de destruir surgirá de um cartaz, etc; a “decisão executada” se dá a conhecer aos demais indivíduos através dos “fatos reais” que transmitem a idéia respectiva: a decisão de liberar o trânsito de veículos advém da dedução de que nada impede de transitar; a decisão de destruir se infere de que a coisa está sendo destruída.63 5) O discrímen deve ser feito, pois (a) os atos administrativos podem ser anulados e revogados; fatos administrativos não são nem anuláveis, nem revogáveis; (b) atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; fatos administrativos não; (c) o tema da vontade interessa nos atos administrativos discricionários, isto é, naqueles em cuja prática a Administração desfruta de certa margem de liberdade; nos fatos administrativos nem se poderia propô-lo64; (d) os atos administrativos são impugnáveis mediante recursos administrativos e judiciais; os fatos em princípio não são suscetíveis de impugnação, porque não traduz explicitamente a vontade do Estado - há necessidade de interposição de reclamações prévia, pedidos, etc. Transcorrido 61 ob. cit., p. 268. Themístocles B.Cavalcanti, ob. cit., p. 196. Agustín Gordillo, ob. cit., Tomo III, Capo III-19. 64 Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., p. 268 - grifo no original. 62 63 92 determinado prazo sem que administração se pronuncie, se produz a de negação tácita pelo silêncio administrativo65; Logo, se ato administrativo é declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, certamente o silêncio da administração, o qual não se confunde aquela, não é ato; é apenas um fato jurídico-administrativo, portanto, com conseqüências jurídicas atribuídas pelo Direito. O SILÊNCIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1) André Gonçalves Pereira acentua a função política da teoria do ato administrativo, que teria sido a de estabelecer para o administrado um sistema de garantias de respeito pelo princípio da legalidade por parte da Administração. O mesmo doutrinado r português distingue ato tácito do ato implícito. Este resulta de uma conduta destinada a fins diversos, inferindo-se sem possibilidade de dúvida dos facta concludentia. O autor não se opõe ao ato administrativo implícito, o qual só poderá valer nos casos em que a lei não exija qualquer requisito formal. Por exemplo, num pedido de concessão se a autoridade concede o mesmo serviço público, por hipótese pedido, a outra pessoa em regime de exclusividade, necessariamente se infere que indefere o primeiro pedido. O ato tácito, por sua vez, pode ser (a) interno, quando resulta da omissão de órgão administrativo controlador em manifestar tempestivamente sua aquiescência ou desacordo em relação a ato de outro órgão que deva ser objeto de seu controle. Se não o fizer em determinado prazo, a lei o considera aprovado; e (b) externo, resultante da omissão administrativa em apreciar, em dado tempo legalmente prefixado, uma pretensão do administrado. Não o fazendo, considerase rejeitada a pretensão que lhe fora submetida. Porém, o ilustre autor nega sejam os atos tácitos atos administrativos, sustentando que, no caso dos atos tácitos internos ocorre uma restrição temporal à competência controladora; transcorrida in albis a dilação legalmente prevista, a competência controladora não mais pode ser exercida e o ato controlado torna-se eficaz ope legis. No caso dos atos tácitos externos, há permissão legal para que o interessado passe diretamente às vias contenciosas, com prescindência do ato administrativo denegatório.66 Na verdade, a lei, em determinadas circunstâncias, manda interpretar para certos efeitos a passividade ou silêncio de um órgão administrativo, como significado de deferimento ou indeferimento do pedido. Decorrido O prazo fixado, a lei tira do silêncio a conclusão de que ele significou assentimento, aprovação ou indeferimento. 65 Agustín Gordillo, ob. cit., Tomo III, Cap. III-4. ob. cit., p. 85 e 55. Marcelo Caetano nega o entendimento de André Gonçalves Pereira, sob o argumento de que existem atos tácitos (Cf. Manual de Direito Administrativo, p. 434). 66 93 No Direito português, conforme informa Marcelo Caetano67, a regra é a de que o silêncio equivale a indeferimento. Excepcionalmente, a lei manda interpretar o silêncio como significado de aprovação. Segundo este autor, para que o silêncio origine um ato administrativo é necessário: “1°. Que o órgão administrativo seja solicitado a pronunciar-se num caso concreto; 2°. Que esse órgão tenha o dever legal de resolver em certo prazo o caso apresentado, mediante a prática do ato definitivo, o que quer dizer que o poder de decidir deve ser vinculado quanto à oportunidade de exercício; 3°. Que a lei atribua à abstenção de resolução dentro do prazo legal um significado determinado.”68 2) No Direito francês, princípios gerais não escritos devem ser considerados como suscetíveis de ser modificados por leis. É o que o conselho constitucional afirmou numa decisão de 26 de junho de 1969: “Considerando que, após um princípio geral de nosso direito, o silêncio da administração vale decisão de rejeição e que na espécie, não pode ser derrogado senão por uma decisão legislativa.”69 E acentua Rivero: “A decisão pode ser puramente tácita: quando a administração, recebendo um pedido, não responde num prazo de quatro meses, seu silêncio é normalmente interpretado como uma recusa, excepcionalmente, quando um texto preveja, como uma aceitação.”70 3) Para Roberto Dromi, a vontade pode ser expressa ou tácita. No primeiro caso, quando a conduta administrativa se exterioriza através da palavra oral ou escrita ou por símbolos ou signos. A vontade é tácita quando o silêncio administrativo, por expressa previsão do ordenamento jurídico, é considerado ato administrativo. O ordenamento jurídico argentino em geral prescreve que o silêncio administrativo deve considerar-se negativamente, ou seja, que se haja de negado o pedido do administrado (de negação tácita). 67 Idem, p. 432. Idem, p.433. “Considérant que, d'aprés un principe général de notre droit, le silence gardé par l’administration vaut décision du rejet et qu’en l’espèce, il ne peut y être dérogé que par une décision législative” (André de Laubadere, ob. cit., p. 633); 70 “La décision peut d’ailleurs être purement tacite: lorsque l’administration, saisie d’une demande, n’y a pas répondu dans um délai de quatre mois, son silence est normalment interpreté comme um refus, excepctionnellement, lorsqu’un texte le prévoit, comme une acceptation.” (“Droit Adminisrratif”, p. 88.) 68 69 94 Segundo o autor argentino, silêncio é presunção de vontade e também substituição de vontade para não deixar desamparado o reclamante. O sentido da inércia administrativa equivale, para efeitos processuais, à denegação.71 4) O silêncio “negativo” é uma ficção legal de efeitos exclusivamente processuais, ao permitir ao administrado recorrer; não é ato administrativo, mas a ausência de um ato - substitui o ato expresso, mas só a estes concretos fins e em benefício do particular. Esta a lição de García de Entenia72, a qual se afeiçoa a de André Gonçalves Pereira. Contudo, o mesmo autor espanhol, quanto ao silêncio “positivo”, entende corresponder a um “verdadeiro ato administrativo, equivalente a essa autorização ou aprovação às que substitui.”73 5) Themístocles Brandão Cavalcanti distingue a inércia da administração do silêncio na decisão, provocada por terceiros. No primeiro caso, pode o silêncio, a inércia, a falta de iniciativa importar na decadência do direito. Assim, a falta do exercício do poder de polícia, de medidas coercitivas, de restrições ao exercício de direito, quanto à maneira e à forma de praticá-los, implicará, tacitamente, no consentimento. Mas, a falta de despacho de um pedido, em um requerimento, não pode ser considerada assentimento tácito, reconhecimento implícito da legitimidade da pretensão de terceiros, perante o Estado ou a administração.74 O saudoso jurista brasileiro, seguindo Velasco75, formula as seguintes regras: “1°. O silêncio tem que estar previsto ou interpretado na lei. Sua significação própria não deriva de atos ou de omissões, a menos que lhes tenha outorgado a lei uma significação determinada. 2°. Omitir um ato de natureza discricionária não tem significação jurídica alguma; é um ato indiferente ao direito. 3°. Por conseguinte, a noção do silêncio administrativo é uma noção empírica, que afasta toda regra abstrata. 4°. Manifesta-se diante da faculdade-poder, visto como, diante da faculdade-dever, deve-se considerar mera abstração. Nesse caso do silêncio, a administração pode falar, mas não tem o dever de fazê--lo. Caracteriza-se, também, porque somente aparece nos atos requeridos, e não nos espontâneos, que o próprio conceito elimina.”76 71 ob. cit., p. 248. Conforme Agustín Gordillo a denegação “tem o valor conferido pela norma, de declaração de vontade suficiente para interpor os recursos administrativos e judiciais pertinentes, equiparando-se aos alas da função administrativa”. (ob. cit., Tomo III, Capo III-5); 72 Curso de Direito Administrativo, p.517. 73 Idem, p. 522. 74 ob. cit., p. 206. 75 EI acto administrativo, p. 206. 76 ob. cit., p. 207. 95 6) Osvaldo Aranha Bandeira de Mello menciona, entre as causas do “ato administrativo”, a “causa agente ou eficiente instrumental”, ou seja, o meio pelo qual a manifestação de vontade se revela, o que lhe dá aparência, podendo ser, quanto à estrutura, “expressa e tácita”. Interessa-nos apenas esta, em face do tema proposto. Conforme o autor, a forma tácita resulta indiretamente com referência a dado assunto, por intermédio de (a) ato positivo, jurídico ou material (o particular requer a devolução de determinado imóvel, sob alegação de que está indevidamente em poder da administração pública, por lhe pertencer; mas, a administração, em vez de deferir ou não o pedido, determina que no local se construa uma escola pública - de modo “tácito”, ficou indeferido o pedido); e (b) ato negativo, o silêncio (se a lei lhe der esse alcance, de recusa ou de um consentimento).77 O autor ressalta o caso de ato positivo, jurídico ou material, vale dizer, a manifestação tácita, que equivale a ato jurídico-administrativo, deduzida de fact concludentia. Estabelece, ainda, regras importantes: a) só se tolera se decorre de “comportamento querido pela administração pública”, cuja conseqüência tenha previsto; não pode provir de inação inconsciente. A manifestação tácita equivale a uma declaração expressa que deixou de existir, e, através daquela esta se deduz, quanto aos efeitos de direito. Logo, a pessoa que ocupa, durante vários anos, sem qualquer ato administrativo, imóvel público, de uso público, não pode ser considerada “concessionária de uso”; quando muito, seria apenas “'permissionária de uso”, título precário, gratuito e revogável a qualquer tempo. b) as manifestações tácitas de vontade, de regra, são as pertinentes a situações que configuram “atos implícitos”, como resultantes de "outros atos expressos que os pressupõem". Se a autoridade decidisse vender bem público já materialmente desafetado, mas sem a prévia declaração formal de desafetação, pois o ato jurídico de decisão da venda implica, necessariamente, de modo indireto, na declaração formal dessa desafetação. c) deve emanar do “mesmo órgão competente para editar o ato”. Não se violam as “regras de fundo e de forma exterior”. Se o ato exigir trâmite prévio ou maioria especial, e o comportamento do qual se pretende defluir manifestação implícita se perfaz independentemente dessas exigências, não se pode concluir tenha havido manifestação de vontade implícita – 77 Ob. cit., p.496-504. 96 “esta não pode existir com desrespeito a requisitos formais exteriores obrigatórios, desrespeito a formalidades legais.” Quanto ao silêncio, uma das “manifestações tácitas da vontade”, equivalente a ato administrativo, pode decorrer da “inação” (a qual gera manifestação de vontade) e jamais da “inércia” (esta gera apenas a decadência do direito). Em seguida, o autor elenca situações possíveis: a) a lei pode atribuir ao silêncio efeito jurídico (assentimento ou recusa), após o decurso de certo prazo. Pode declarar que, não despachado qualquer requerimento no prazo de 30 dias, deve haverse como indeferido. b) outras vezes, sem expressamente afirmar o efeito positivo ou negativo do silêncio, lhe emprestar, indiretamente, um determinado significado. A lei pode declarar que, decorrido o prazo probatório, sem manifestação em contrário dos órgãos administrativos, o funcionário nomeado para cargo público efetivo adquire tal situação jurídica.78 c) a lei não diz como se interpretar o silêncio da administração pública. Então, dois casos podem apresentar-se: c.1) se a lei a obriga a praticar determinado ato em certo prazo, e decorrido este, ela se mantém indiferente, pode o interessado notificá-la para em prazo que lhe marcará - nunca inferior ao já esgotado e legalmente prefixado - se pronuncie a respeito, sob pena de haver-se como “negativa sua manifestação”; c.2) se a lei não a obriga a praticar o ato, em prazo prefixado, é possível seja notificada, com prazo razoável, pelo interessado se essa manifestação é condição para que ele possa utilizar-se de outras medidas em defesa dos seus direitos, e recorrer a outras autoridades administrativas ou judiciais. d) quanto aos atos administrativos de controle79: (a) na falta de dispositivo legal, marcando prazo para manifestação da administração, não há possibilidade de interpretação de silêncio, para considerá-lo de recusa ou aceitação do ato controlado; (b) se o prazo existir e decorrer sem manifestação fica caduco o seu direito de contraste na hipótese - o silêncio terá efeito positivo; o ato administrativo se torna eficaz, a partir daí. e) quanto aos atos administrativos espontâneos, o silêncio não gera conseqüências, exceto a responsabilidade da administração pública: (a) se há prazo marcado, a falo ta de decisão acarreta a responsabilidade civil perante o Judiciário, pelos danos; (b) se não há, apenas a responsabilidade política, pela má administração. 80 78 Hoje, em face do disposto no artigo 41, parágrafo 4°, da Constituição Federal de 1988, a lei não poderá atribuir tal efeito ao silêncio da administração. “Atos controladores são os que confirmam ou infirmam a legitimidade dos atos do procedimento ou a oportunidade da decisão final” (Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., p. 318). Por exemplo, a homologação ou a nulidade do procedimento licitatório, realizado por autoridade superior. 80 Após a Constituição Federal de 1988, temos o artigo 5°, LXXI, segundo o qual “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativa entes à nacionalidade, à soberania, e à cidadania.” 79 97 f) com referências aos atos administrativos provocados, (a) se há prazo marcado, ou se acham sujeitos a condição a favor dos particulares, a falta de decisão, após o seu decurso, torna a pretensão indeferida ou caduca; (b) se inexiste prazo, mas foi cominado, os seus efeitos jurídicos serão apreciados pelo Judiciário. 7) As conseqüências da omissão do Poder Público, acima relatadas pelo culto mestre paulista, são perfeitamente aceitas pela razoabilidade de suas conclusões, na medida em que não há lei alguma atribuindo ao silêncio da administração determinado efeito, negativo ou positivo81. A recente lei federal n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe nos artigos 48 e 49: “Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art.49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir; salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.” De fato, cabe à Administração Pública motivar os atos administrativos; para isso, deve editá-los, expressamente, indicando os fatos em que se baseou, a regra de direito pertinente ao ato e a relação de adequação entre os fatos (motivo) e o conteúdo do ato. Não lhe compete omitir-se aos pedidos feitos pelos administrados, mesmo porque a norma constitucional, descrita no artigo 50, inciso XXXII e inciso XXXIV, letras “a” e “b”82 determina a obrigatoriedade da manifestação estatal, ante o pedido do indivíduo. Logo, todo pedido do administrado deverá ser decidido. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de decidir que somente a manifestação da Administração marca o início do prazo prescricional: 81 No Estado de São Paulo, há lei de Processo Administrativo (n. 10.177, de 30.12.98), cujo artigo 33 estabelece: “O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1 ° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. § 2° omissis. §3° O disposto no § 1° não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”. Quanto à decisão e seus efeitos o artigo 50 dispõe: “Ultrapassado, sem decisão, o prazo de 120 (cento e vinte) contado do protocolo do recurso que tramite sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. § 1° omissis. § 2° O disposto neste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o recurso.” Esta lei aplica-se apenas naquele Estado. 82 Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXN - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 98 “Administrativo - Silêncio da Administração - Prazo Prescricional. A teoria do silêncio eloqüente é incompatível com o imperativo da motivação dos atos administrativos. Somente a manifestação da Administração pode marca o início do prazo prescricional”.83 O julgado acima se refere a policial militar, autor da ação, que pediu ao Poder Público sua promoção, invocando permissivo contido em lei estadual. Embora o requerente não tenha obtido resposta, outros policiais militares, mediante pedidos deduzidos perante o Poder Público, obtiveram o deferimento e passaram a gozar da nova situação jurídica, decorrente da promoção efetivada. Ou seja, enquanto o pedido do autor não obteve resposta, as pretensões dos seus homólogos foram deferidas. Alegava-se, na ação, o prazo prescricional de os anos, porquanto a promoção a outros requerentes, que pleiteavam idêntico direito, importava ato inequívoco. Acentuou o ilustre relator: “A importância dos motivos na formação e no controle do ato administrativo é reconhecida entre nós. Tanto que o Legislador inseriu entre as causas de nulidade dos atos administrativos, a inexistência de motivos (Lei nº 4. 717, de 20-6-65 - art. 20. - d). Ato cujos motivos não estejam ao alcance de seus destinatários é ato nulo. Se assim ocorre, não há como aplicar a teoria do silêncio eloqüente aos atos administrativos. Muito menos, quando se trata de resposta devida pelo Estado às petições que lhe são dirigidas. O direito de petição, inserido entre as garantias fundamentais do art. 5° da nossa Constituição Federal, tem como corolário o direito à resposta. Não houvesse a obrigação de responder, o direito de petição mereceria integrar o acervo das solenes inutilidades. Enquanto não responde ao requerimento, a Administração está em mora. O silêncio traduz inadimplência, não resposta implícita. (...) Quando há indeferimento explícito, o marco inicial será a intimação do ato denegatório ao interessado. Ora, se não existe ato, não haverá como estabelecer o início do prazo prescricional. 83 REsp 16.284 – Rel. Min. Gomes de Barros – DJU 23.3.92, p.03447. 99 É impossível, sem abdicar da seriedade, admitir que o Estado se dirija a quem lhe dirigiu uma petição, para lhe comunicar que ao apreciar o pedido, decidiu permanecer em silêncio”. Portanto, mesmo nas hipóteses perante as quais se deduz o indeferimento do pedido do administrado, não há ato administrativo algum, pois é “dever do Poder Público manifestar-se expressamente ante o pedido do particular”, motivadamente. Se o administrado A solicita um pedido de permissão de uso em relação a dado bem imóvel, e o Poder Público, em vez de deferilo ou indeferi-lo, resolver acolher idêntico pedido do administrado B, não estamos diante de ato administrativo implícito. O ato administrativo é sempre uma declaração, uma manifestação do agente público. É evidente que o fato de o Poder Público ter entregado o imóvel, no exemplo citado, ao particular B tem reflexos no direito de A; porém, daí deduzir-se a edição de uma “manifestação implícita” vem de encontro ao conceito da expressão citada: se é ato administrativo, portanto uma manifestação, não pode ser implícito - há evidente contradição terminológica. Não há nenhuma presunção; apenas o Poder Público deixou de cumprir sua missão de decidir os pedidos dos particulares, podendo, inclusive, se for o caso, ser responsabilizado civilmente pela omissão. Deveria, no exemplo, deferir expressamente um dos pedidos, e indeferir, explicitamente, o outro, ambos motivados. Aliás, “tratando-se de ato omissivo, não há que falar em decadência do direito a impetração da segurança”84; e que “a falta de resposta a requerimento que lhe foi dirigido, seja concedendo ou negando o pedido em prazo razoável, caracteriza a omissão da autoridade apontada como coatora”85 “mero silêncio da Administração não constitui ato administrativo, e sua inércia, no caso, não ofende direito subjetivo do recorrente”86; “o interregno de seis meses entre a instalação do inquérito para apuração de falta grave e o ato demissório não se constitui perdão tácito”87; “a falta de imediata punição ao discente pela demora na apuração dos fatos não implica perdão tático”.88 8) O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza: “o silêncio não é ato jurídico”.89 Pouco importa que a lei haja atribuído determinado efeito ao silêncio: o de conceder ou negar. Este efeito “resultará do fato da omissão, como imputação legal, e não de algum presumido ato, razão por que é de rejeitar a posição dos que consideram ter aí existido um ato tácito”90. Isso porque o silêncio é um fato administrativo, e não uma declaração estatal. 84 STJ, MS 14708, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJU 23.11.92, p. 21829. STJ, MS 17711, Rel. Min. Peçanha Martins, DJU 24.2.92, p. 01847. TRF 1ªR, Ap. Cív. Ac. 0121155-6, Rel. Juíza Orlanda Ferreira, DJU 27.11.89. 87 TRF 4ªR, RO 0419293-5, k Rel. Juiz Teori A1bino Zavascki, DJU 17.10.90, p. 024356. 88 TRF 5ªR, Ap. MS 0050032&7, Rel. Juiz Castro Meira, DJU 02.12.89. 89 ob. cit., p. 293. 90 Idem, p. 294. 85 86 100 E arremata com lapidar precisão: “Aliás, se fora possível, em tais casos considerar o silêncio como ato (e já se viu que não pode sê-lo), além de se que admitir a existência de um ato sem formalização - pior ainda, sem forma sequer (o que é logicamente impossível) -, tratar-se-ia de um ato ilícito. Com efeito, a formalização é, de regra, uma garantia, quer para a Administração, quer para o administrado, pois cumpre a função de conferir segurança e certeza jurídicas, as quais, destarte, ficariam suprimidas. Além disto, o pseudoato incorreria no vício de falta de motivação. Frustraria uma formalização que é uma garantia do administrado e um direito descendente do princípio de que todo o poder emana do povo, o qual, bem por isto, tem o direito de saber as razões pelas quais a Administração se decide perante dado caso.”91 9) Finalmente, quando se cuidar de ato administrativo discricionário92, e a lei não prever o efeito da omissão estatal, ante o pedido do particular, se este ingressar no Judiciário, deverá fazêlo apenas para que a autoridade administrativa se manifeste em prazo razoável, sob pena de multa diária; ou, a nosso ver, alternativamente, sob pena de reconhecimento do indeferimento da pretensão. Com efeito, não compete ao juiz fazer as vezes do administrador, substituindo-lhe a vontade, valorando os fatos como se fosse a autoridade administrativa. De outro lado, o indeferimento da pretensão, nos termos indicados, reconhecido pelo magistrado, pela inércia da autoridade administrativa, não significa invadir competência alheia, no caso a do Poder Executivo, mas de permitir ao administrado socorrer-se das vias recursais perante a Administração Pública, ou de novamente ingressar no Judiciário, pleiteando seus direitos. No caso de ato administrativo vinculado93, ao contrário, se a lei não trouxer os efeitos legais diante da omissão do agente administrativo, o particular poderá solicitar diretamente ao juiz sua pretensão não atendida pela Administração. Isso porque, no próprio conceito de ato editado na competência vinculada, não há margem de liberdade ao administrador, critérios de conveniência ou oportunidade. Logo, o juiz poderá, simplesmente verificando o caso concreto, deferir ou indeferir o pedido do autor da ação. Se o administrado solicita à Administração licença para edificar, e esta fica silente por prazo razoável, aquele poderá pedir ao juiz a determinação para que o agente público expeça o ato administrativo (licença), sob pena de responsabilidade penal, administrativa e civil. 91 Ob. cit., p. 294. Ato administrativo editado na competência discricionária é aquele no qual o agente atua mediante critérios de conveniência e oportunidade, valorando os fatos, com cena dose de subjetivismo. 93 Ato administrativo editado na competência vinculada é aquele no qual o agente atua sem margem de liberdade para decidir, pois a lei indicou o único comportamento possível. 92 101 Mesmo vencido o prazo legal para se pronunciar, pode sempre a Administração Pública se manifestar, exceto, segundo pensamos, no caso de competência vinculada do agente, e tendo sido decidida a questão pelo juiz, isto é, tendo este decidido a pretensão do particular (ex: aposentadoria por tempo de serviço e de contribuição). Neste caso, não pode mais a Administração manifestar-se. Na hipótese de ato administrativo discricionário, se o magistrado reconhecer, na ação ajuizada, o “indeferimento” da pretensão por parte da Administração, esta, ainda assim, poderá manifestar-se em sentido contrário, vale dizer, terá condições de aquilatar os fatos, sopesá-los e deferir o pedido do particular. Evidentemente, poderá mesmo indeferi-la, motivadamente.94 CONCLUSÃO Ao cabo da explanação referida, alinhamos, sucintamente, as seguintes conclusões: a) A função administrativa é a atividade estatal, realizada por agentes do Poder Executivo, como regra, do Poder Legislativo e do Judiciário, excepcionalmente, mediante atos e comportamentos complementares da lei, para dar-lhe perfeita aplicação, na conformidade de um regime hierárquico, submetidos a controle jurisdicional. b) O ato administrativo é toda declaração unilateral do Estado, ou de quem lhe faça às vezes, em complemento da lei, editada no exercício da função administrativa, podendo ter efeitos jurídicos diretos ou indiretos, concretos ou abstratos, gerais ou individuais, excetuados os atos regidos pelo Direito Privado e os atos políticos ou de governo. c) O fato jurídico-administrativo é um acontecimento da natureza ou humano, voluntário ou involuntário, o qual o ordenamento atribui efeitos jurídicos; é ato material, nada pronuncia, apenas ocorre. d) O ato administrativo tácito e o ato administrativo implícito (em suma: o silêncio da Administração) não são declarações; constituem fatos jurídicos, e dessa, forma, não estão submetidos ao regime próprio dos atos administrativos. Não existem atos tácitos e implícitos, pois o conceito de ato pressupõe uma declaração, uma manifestação do agente público, o que não ocorre com o fato jurídico-administrativo. e) Na falta de texto legal, atribuindo ao silêncio estatal determinado efeito jurídico, a princípio, não se pode concluir algo, quanto aos direitos e sobretudo aos deveres dos administrados, exceto no primeiro caso (direitos), na hipótese de reconhecimento judicial de indeferimento do pedido do administrado, ante a omissão do agente público, na competência 94 Para Themístocles Brandão Cavalcanti, perante nosso direito, “o único recurso cabível [da mora da Administração] é o judicial, por meio ou da propositura da ação competente, ou de simples notificação, que trazem sempre como conseqüência, nos termos do Código Civil, a suspensão do curso da prescrição.” (ob. cit., p. 209). 102 discricionária; se for competência vinculada, o juiz poderá suprir a omissão, determinando ao Poder Público o cumprimento do que foi decidido, a entrega da pretensão pedida pela parte. BIBLIOGRAFIA ALESSI, Renato. Instituciones de Derecho Administrativo. Barcelona: Bosch, 1970. BENOIT, Francis Paul. Le Droit Administratif Français. Paris: Dalloz, 1968. CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. São Paulo: Freitas Bastos, 1964. DROMI, Roberto. El Acto Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. ENTERRÍA, Eduardo García / FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Macchi, 1979. LAUBADERE, André de / VENEZIA, Jean-Claude / GAUDEMENT, Yves. Traité de Droit Administratif. Paris: L.G.D.J., 1996. MAYER, Otto. Le Droit Administratif Altemand. Gerd et Brière, 1903. MELLO, Oswaldo Aranha de. Princípios Gerais de Direito Administrativo, V. I, 2ª Ed., 1979. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Melhoramentos, 1998. PEREIRA, André Gonçalves. Erro e ilegalidade no Ato Administrativo. Ática, 1962. RIVERO, Jean / WALINE, Jean. Droit Administratif. Paris: Dalloz, 1994. STASSINOPOULOS, Michel. Traité des Actes Administratifs. Paris: Ubr. General de Droit et de Jurisprudence, 1973. 103 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PRINCÍPIOS DE DIREITO PENAL Edilson Pereira Nobre Júnior Juiz Federal, Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN); Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. I – ATIVIDADE SANCIONADA DA ADMINISTRAÇÃO A função administrativa, dentre as relevantes missões estatais, evidencia-se pela dinâmica de atos, praticados de acordo com a ordem normativa, no escopo de legar o bem-estar geral da coletividade. Em sua multifária atividade, a Administração, muitas vezes, depara-se com a necessidade de impor aos administrados punições para assegurar a higidez da ordem pública, ou o eficaz funcionamento dos serviços que estão a seu cargo. Tal se verifica ora com relação a terceiros, quando se está ante o poder de polícia, ora com sujeitos que se encontram vinculados à entidade administrativa por vínculos hierárquicos (servidores) ou negociais (contratos administrativos). Não se esquecer ainda das penalidades aplicadas no campo da atividade vinculada de arrecadação de tributos, as quais, embora estudadas com maior relevo na província do Direito Tributário, seguem os nortes orientadores das demais sanções administrativas. 104 Tal competência se funda em posição de supremacia que a Administração exerce sobre os particulares, podendo, assim, ser geral, quando manifestada em face da preservação do interesse coletivo (supremacia geral), ou especial, quando advém de relações com particulares, submetidas a regime jurídico de cunho publicístico (supremacia especial). Surge, portanto, o instituto que se poderia denominar de direito penal administrativo, reputado por ANDRES SERRA ROJAS como o que “tende ao estabelecimento das infrações administrativas, necessárias para o funcionamento da Administração Pública, e o seu adequado regime de sanções”1. Extrema-se do Direito Penal comum em função do ilícito a que visa punir. Enquanto este almeja a prevenção e a repressão da delinqüência, considerada como conduta violadora dos bens jurídicos em geral (vida, integridade física, patrimônio etc.), a Administração pune, basicamente, comportamentos que infringem deveres de obediência ou de colaboração dos indivíduos para com a atividade dos entes públicos na busca do interesse geral. Embora não possa configurar uma disciplina autônoma, o estudo do direito penal administrativo cresce de prestígio à medida que se torna cada vez mais necessário o conhecimento dos parâmetros a autorizar o administrador, em nome do interesse coletivo, a submeter o particular, servidor público ou não, a conseqüências que sempre vêm representar um limite à sua liberdade. A primeira indagação que se nos antolha condiz com a possibilidade de aplicação dos cânones cristalizados, após larga elaboração histórica, pelo Direito Penal. Em seguida, mesmo sem pretensão exauriente, listaremos, para análise, alguns desses padrões. II – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PRINCÍPIOS DE DIREITO PENAL Antes de enumerarmos tais balizamentos, faz-se imprescindível indagar se os cânones, de aplicação inconteste no Direito Penal, também encontram guarida para modular a postura sancionatória da Administração. Não se duvida que crime ou delito e infração administrativa são entidades distintas em sua essência. Prova disso, Vários critérios foram sugeridos pela doutrina para diferençá-las, dos quais sobressai o de adorno prático, formulado por GUIDO ZANOBINI2, no sentido de que a infração administrativa não integra o Direito Penal, porque a responsabilização do infrator não é tornada concreta pela função jurisdicional, mas pelo Estado no desempenho de uma competência administrativa. 1 “Tiende al estabelecimento de las infracciones administrativas, necessarias para el funcionamento de la Administración Pública, y a su adequado régimen de sanciones” (Derecho Administrativo: doctrina, legislacion y jurisprudencia. 4.ed. Cidade do México: Libreria de Manuel Porrua S.A., 1949. 1.2, p. 1.125) 2 Curso de Diritto Amministrativo. 5. ed. Milano, Dott A. Gilfré Editare, 1958. v.1, n. 316. 105 Essa distinção ontológica, no entanto, não pode olvidar que, tanto no ilícito criminal como no administrativo, está-se ante situação ensejadora da manifestação punitiva do Estado. Segue-se, em linha de princípio, nada haver a obstar, antes a recomendar, serem os postulados retores da aplicação das punições criminais, cuja sistematização doutrinária e legislativa é bem anterior à ordenação das sanções administrativas, a estas aplicáveis. Há necessidade, porém, de restarem sempre consideradas as peculiaridades das últimas. Releve-se não constituir matéria estranha ao campo das punições administrativas a incidência, via construção jurisprudencial, de modelos do direito criminal. Nota exemplificativa a extensão, precisamente no concernente às multas da SU AB, da regra da continuidade delitiva.3 A admissão dessa hipótese também não passou despercebida pelo STF, conforme se pode, de maneira implícita, extrair do MS 20.9994 Infere-se do voto do relator, Min. CELSO DE MELLO, acolhido à unanimidade pelo Tribunal Pleno, que a consagração, no Texto Básico (art. 50, LV), do contraditório e da ampla defesa, implicou o reconhecimento, no âmbito do processo administrativo disciplinar, de clara limitação dos poderes da Administração, em contra partida à crescente intensificação do grau de proteção jurisdicional dispensada aos direitos dos agentes públicos. Considerando-se que a concreção da responsabilidade criminal é privativa do Judiciário, a aproximação do processo administrativo frente ao judicial é traduzível, pelo menos no plano formal, pela implícita constatação de que os parâmetros aplicáveis ao jus puniendi no tocante aos crimes ou delitos são extensíveis, na medida do possível, à responsabilização pela prática de infrações administrativas. A incidência dos postulados criminais à apuração da responsabilidade administrativa, imperioso frisar, não constitui privilégio do nosso sistema jurídico. No direito hispânico, mostranos JOSÉ MARIA QUIRÓS LOBO5, esse pensar granjeou a preferência da interpretação judicial que sê debruçara em torno do estudo da extensão do art. 25.1 da Constituição de 19786, o qual, quanto à exigência de tipificação prévia, equipara os delitos e infrações administrativas. Primeiramente, há que se referir ao Tribunal Constitucional, que, mediante as Sentencias 246, de 19 de dezembro de 1991, e 146, de 08 de março de 1994, afirmou a incidência dos princípios inspiradores da ordem penal ao direito administrativo sancionador. Todavia, advertiu a Corte que tal operação não haverá de ser realizada de forma automática, mas tão-só à medida que ditas garantias guardem compatibilidade com a natureza do procedimento administrativo. Doutro lado, confira-se o Tribunal Supremo, pelas Sentencias 1.930, de 08 de março de 1993, 4.129, de 08 de 3 TRF – 5ª Reg., 3ª T., A C 10.228-PE, rel. Juiz JOSÉ MARIA LUCENA, DJU - 11 de 04.04.97, p. 20.542; TRF – 5ª Reg., 1ª T., AC 19.790-PE, rel. Juiz MANOEL ERHARDT, DJ 16.4.93. RDA 179-180/117-123. 5 Principias de Derecho Sancionador: Granada: Editorial Comares, 1996. pp. 25-28. 6 Referido dispositivo ostenta a seguinte redação: “Ninguém pode ser condenado ou sofrer sanções por acusações e omissões que no momento da sua prática não constituam delito, falta ou sanção administrativa, segundo a legislação vigente nesse momento”. 4 106 fevereiro de 1994, e 1.397, de 27 de fevereiro de 1991. No corpo desta última, restaram explicitados alguns desses princípios, com destaque para a antijuridicidade, tipicidade, imputabilidade, culpabilidade e punibilidade. Na doutrina, a extensão, acima mencionada, mereceu os aplausos de GARCÍA DE E TERRÍA & TOMÁS-RAMÓN FERNANDEZ7, JUAN CARLOS CASSAGNE8, HECTOR VILLEGAS9, PASSOS DE FREITAS10, e LUCIANO DA SILVA AMARO11. Ademais, não é despiciendo suster que as garantias constitucionais implícitas, inerentes ao Estado Democrático de Direito (art. 50, §2°, CF), conduzem à aplicação, o quanto possível, dos postulados penais às faltas administrativas. Fincado esse remate, resta-nos mencionar, neste tópico, quais os balizamentos, emergentes do Direito Penal, capazes de nortear o desempenho das atribuições punitivas da Administração. Para análise mais didática, podem, grosso modo, ser agrupados sob os planos substancial e formal. Eis alguns deles: a) legalidade; b) tipicidade; c) culpabilidade; d) proporcionalidade; e) retroatividade da norma favorável; f) non bis in idem; g) non reformatio in pejus. III – LEGALIDADE Nota inerente ao Estado de Direito, por historicamente representar forte sinal de contraposição às ilimitadas restrições individuais do Absolutismo, a regra da legalidade é componente indissociável da competência sancionatória. O nosso ordenamento constitucional timbra em assim se posicionar em mais de uma passagem. Em primeiro lugar, secundando o dito tornado clássico pelo art. 50, parte segunda, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, bem como larga veneração constitucional pátria desde o art. 179, I, da Constituição Imperial de 182412, o art. 50, II, da Lei Fundamental em vigor, acolhe o princípio de que somente a lei poderá obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mais à frente, em inovação digna de encômios (art. 37, caput), positivou, no particular da Administração Pública, para melhor lembrança, a necessidade de sua vinculação à legalidade. 7 Curso de Direito Administrativo. Tradução de Arnaldo Setti. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. pp. 890-894. Derecho Administrativo. 5 ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. II, p. 575. Infrações e sanções tributárias. In: BALEEIRO, Aliomar [et alii]. Textos selecionados de Direito Tributário.São Paulo: RT/Resenha Tributária, 1983. p. 26. 10 Direito Administrativo e meio ambiente. 1.ed. Curitiba: Juruá, 1995. p. 67. 11 Infrações Tributárias. Revista de Direito Tributário. (67):29-30, 1995. 12 Tal previsão permeou as demais Constituições de 1934, com ressalva à de 1937 (1934, ano 113, nº 2; 1946, art. 141, §2°; 1967, ano 150, §2°; 1%9, ano 153, §2°). 8 9 107 Vê-se, portanto, que a imposição administrativa de sanções não deverá perder de vista as recomendações das normas jurídicas. Adiame-se, igualmente, que, por a inflição de penas importar em detrimento dos valores de liberdade e propriedade, exaltados como básicos pelo art. 50, caput, da Constituição, segue-se que tal ação há de ser inteiramente vinculada. Não remanesce espaço à discrição do agente público. Sem embargo de sua adoção pacífica, a adstrição da legalidade ao campo punitivo provoca, de logo, uma importante questão. Consiste na necessidade ou não de reserva de lei em sentido estrito (formal e material) para a definição de infrações e respectivas penas? Caso não se opte pela legalidade estrita, conceber-se-á, então, que atos de cunho regulamentar realizem, com legitimidade, tais fins? A pergunta exige, em nosso direito positivo, que se trace, à luz de nosso direito positivo, uma distinção. A influência da legalidade, nas relações Estado-particular, é consagrada em nossa Lei Maior ora de maneira genérica, ora de modo específico. Exemplo da primeira situação está nos citados arts. 5°, II, e 37, caput. Por força destes preceitos, a expressão lei alberga significado de ordem genérica, não implicando a exclusão do seu campo de ação de norma regulamentar, dado o qualificativo desta como lei em sentido material (regra de direito). Além dessas passagens, o vocábulo lei é utilizado pelo Constituinte em acepção específica, representando ato legislativo votado pelo Parlamento, no decurso do procedimento especificado constitucionalmente. Tem-se, assim, o art. 5°, XXXIX, da Lei Magna, ditando não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia definição legal. Da mesma forma, o art. 150, I, da Constituição, subordina à lei formal o exercício da competência de instituição de tributos. Nessas situações, a atuação regulamentar é inoperante. Conquanto se admita, como o faz a evolução doutrinária, entre nós exemplificada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO13 e CARLOS ARY SUNDFELD14, não haver afronta à Separação de Poderes na criação de obrigações aos particulares por ato normativo do Executivo, quando este se assentar em delegação expressa e específica do legislador natural (regulamento delegado ou autorizado), não se pode esquecer o requisito necessário de a matéria regulamentada não se encontrar entre aquelas insertas na província do monopólio da lei15. Atento a essa exigência, extrai-se que preceitos como os dos art. 5°, XXXIX, e 150, I, ambos do Diploma Básico, não podem ser concretizados sem a interveniência do Legislativo. 13 A delegação legislativa - A legislação por associações. In: ____. Temas de Direito Público. Belo Horizonte, Del Rey, 1993, p. 411. No texto, é mencionado precedente do STF no RE 76.629 - RS (RTJ 71/1.477, rel. Min. AIJOMAR BALEEIRO). Direito Administrativo Ordenador. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 34. 15 Nessa linha, bem frisou ° STF (Pleno, ac. un., ADIMC 1.296, rel. Min. CELSO DE MEUO, DJU de 10-08-95) a situação de ilícito constitucional de dispositivo legal que delega ao Poder Executivo a possibilidade de, mediante decreto, outorgar de isenção assunto posto pelo Constituinte sob o monopólio da lei. 14 108 Fixando-se no art. 5°, XXXIX, da Lei Maior, que nos interessa de perto, ao exprimir a máxima, reinante no direito ocidental, de que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, sugere-se, de logo, mais uma necessária indagação: a reserva de lei em sentido estrito - já agora indene de dúvidas tanto em face de seu caráter especial, ora pelo lastro em secular tradição - abrange apenas as infrações criminais, ou, além destas, investe-se também no campo das punições administrativas? Penso que a solução ampla é a que melhor se coaduna com o nosso ardo juris. A resposta se basta por duas justificativas. A uma, em decorrência da consentida aplicação, no âmbito administrativo, dos princípios do Direito Penal. Em segundo lugar, o Estado Democrático de Direito, idealizado pela vigente Lei Fundamental (art. 1º), caracteriza-se pela crescente limitação, em prol da liberdade dos indivíduos, das zonas de imunidade de poder atribuídas à função administrativa. Desse modo, não se concebe que tão relevantes atribuições, como a definição de infrações e respectivas penas, possa ficar entregue à discrição do administrador, que as materializará através de regulamento, para cuja elaboração não há a emissão volitiva da sociedade, representada pelos titulares de mandato legislativo. Às voltas com o problema, o STF se manifestou pela necessidade de lei formal para a definição de faltas disciplinares. Espelhou essa tendência o decidido na ADIN 1.823-1/DF, onde se cuidava de hipótese, retratadora de liame de sujeição geral, na qual se impugnava dispositivos da Portaria 113, de 25-09-97, editada pela Presidência do IBAMA, no intuito de estabelecer obrigações para pessoas físicas e jurídicas, acompanhadas de sanções em caso de seu descumprimento. A decisão da Excelsa Corte fora ementada da maneira seguinte: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5°, 80, SJO, 10, 13, § 1°, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO IBAMA.Normas por meio das quais a autarquia, sem lei que o autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu sanções para a hipótese de inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com ofensa ao princípio da legalidade estrita que disciplina, não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito de punir. Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados. Cautela deferida”16. 16 Pleno, ac. un., rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJU de 16-10-98. Essa orientação outrora fora objeto de perfilhação pelos Tribunais Regionais Federais. Entre outros arestos, consultar: 5ª Reg., 1ª T, AC 50.498 - 5 - AL, ac. un., rel. Juiz HUGO MACHADO, DJU - 11 de 22-12-95, p. 89.183; 3ª Reg., 4ª T, REO 36.224 - O - SP, ac. un., rel. Juiza LÚCIA FIGUEIREDO, 109 Em suma, somente à lei compete a definição das infrações administrativas e respectivas penas. Por esta razão, somos pela ilegitimidade do parágrafo único do art. 161 do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de 23-09-97, uma vez incumbir ao regulamento, no caso às resoluções do CONTRAN, a cominação de sanções. Firmada essa orientação, peculiar atenção desperta a província tributária. Isto porque o art. 113, §2°, do Código Tributário Nacional, conceitua, ao lado do dever de pagar tributos, a obrigação acessória como sendo aquela que tem por objeto prestações, positivas ou negativas, previstas pela legislação tributária no interesse das atividades de arrecadação ou fiscalização. Por sua vez, o art. 96 do mesmo diploma ressalta que a legislação tributária compreende as leis, os tratados, convenções internacionais, decretos e normas complementares, estas enumeradas no seu art. 100, I a IV. Pergunta-se: a qualquer dos instrumentos abarcados pela expressão legislação tributária compete definir infração e a respectiva punição? A melhor escolha envereda pela negativa. O descumprimento de obrigação acessória, diz o art. 113, §3°, do CTN, caracteriza infração à ordem jurídica tributária, importando no pagamento de dinheiro em prol do Estado por situação não representada pelo fato gerador de tributo. Desse modo, para se interpretar os arts. 113, §§2° e 3°, e 115, todos do aludido diploma, de sorte a compatibilizá-los com a Lei Maior, há que se emprestar ao binômio legislação tributária, ali contido, alcance restrito, somente abrangente dos atos normativos que tenham força legislativa. Necessária a redução do universo do art. 96 do CTN. A essa conclusão nos conduz o art. 113, §3°, do CTN, quando menciona que a não observância de obrigação acessória tem o condão de convertê-la em obrigação principal, ou seja, no dever de se efetuar pagamento ao Fisco. Desembocando no encargo de dar dinheiro ao Estado, o seu fundamento de validade não pode se central em instrumento jurídico que não possua força legislativa. Prova disso se tem na imposição de multa pela não apresentação tempestiva, por pane do contribuinte, da Declaração de Contribuição e Tributos Federais DCTF, cuja previsão se encontra no art. 11, §3°, do Decreto-lei 1.968/82, modificado pelo Decreto-lei 2.065/83. Cabe, neste ponto, uma observação: a singularidade da infração achar-se prevista em decreto-lei, editado à época da Constituição pretérita, não induz violação à legalidade, haja vista que aquele, ao invés de natureza regulamentar, porta o caráter de norma primária, munida de força inovadora ativa e passiva, podendo revogar e ser revogada por uma lei ordinária ou delegada. DOE de 03-05-93, p. 182; 2ª Reg., 3ª T, AC 18659 - 2 - RJ, ac. un., rel. Juiz RICARDO REGUEIRA, DJU, 11 de 22-11-94, p. 67.401; 1ª Reg., 4ª T., AMS 19326 - 8 - DF, mv, rel. desig. Juiz EUSTÁQUIO SILVEIRA, DJU - II de 08-10-98, p. 70. 110 Essa qualidade do decreto-lei possuiu respaldo na doutrina. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO17, ao comentar a Constituição anterior, mencionava que esta inovara a tradição do direito brasileiro, “ao prever, em favor do Presidente da República, o poder de legislar sobre determinadas matérias e em certas circunstâncias”, salientando que, ao contrário da competência de elaboração das leis delegadas (art. 54), a expedição de decreto-lei configurava uma atribuição sem intermediários, decorrente exclusivamente da Lei Maior. Não discrepa disso PINTO FERREIRA18, ao mostrar que o decreto-lei “pode também ser definido no direito constitucional pátrio como o ato com força de lei, editado pelo presidente da República e homologado pelo Congresso Nacional”. O ano 25 do ADCT, ao prever a revogação, no prazo de 180 dias da promulgação da Lei maior em vigor, de todos os dispositivos legais que tiverem atribuído ou delegado, em favor de órgão do Executivo, competência assinalada ao Congresso Nacional; não pode ser invocado para, sob o prisma da legalidade, afastar a recepção dos decretos-leis tipificadores de infração administrativa. O referido dispositivo não implicou a perda de validade de todos os decretos-leis, editados sob o pálio da Constituição pretérita. Absolutamente. Voltou-se, diferentemente, a afirmar que os dispositivos legais que, até 10-05-88, tivessem atribuído ou delegado a órgão do Poder Executivo competência que a Constituição então em vigor deferia ao Congresso Nacional, inclusive quanto à ação normativa, estariam revogados, salvo prorrogação por lei. Teve-se, repita-se, a revogação dos dispositivos legais (contidos em leis ordinárias, complementares ou delegadas, ou ainda em decretos-leis) que cometeram ao Poder Executivo competência do Legislativo19. Revogação desnecessária, até porque a atribuição a órgãos do Poder Executivo, através de norma jurídica infraconstitucional, de competências que a Constituição de 1969 reservara ao Congresso Nacional, por si só, já implicaria em inconstitucionalidade e, por isso, o ato normativo derivado seria inválido. Além do mais, o decreto-lei, como visto, não pode ser confundido com legislação delegada, tratando-se, ao inverso, de instrumento veiculador de competência legislativa própria do Executivo. Quando o Constituinte, nas suas disposições transitórias, quis falar sobre a perda de eficácia dos decretos-leis, anteriores a 05-10-88, foi expresso, como se pode notar do art. 25, § 1°, do ADCT, ditando, sem deixar dúvidas, que, se editados até 02-09-88 e estivessem em tramitação no Congresso Nacional, deveriam por este serem apreciados até cento e oitenta dias, a contar da 17 Comentários à Constituição Brasileira. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1983. pp. 290-291. Decreto-lei. In: Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v.23., p. 3. Assim é que se deve compreender a AC 6.105-8 - GO (TRF-1ª Reg., 4ª T., ac. un., rel. juíza ELIANA CALMON, DJU-II de 06-05-93 18 19 111 promulgação da Constituição em vigor, não se computando o interstício de recesso congressual. Caso tal não ocorresse, reputar-se-iam rejeitados. A reserva de lei aqui longe está de significar reserva do Parlamento. Contenta-se com a edição de norma que possua força legislativa. Isso significa o reconhecimento, na atualidade, da medida provisória como hábil a definir infração administrativa e suas conseqüências? A negativa se impõe. Apesar de configurar expressão da competência de legislar, vale contra essa espécie normativa os mesmos argumentos tecidos pela doutrina, no particular da definição de crimes e penas, qual seja o de não se admitir tipo sob condição. Contrariamente ao decreto-lei, cuja eficácia era definitiva, ainda que rejeitado (art. 55, §§1° e 2°, CF de 1969), a precariedade da medida provisória, a submeter a validade definitiva das suas prescrições à posterior conversão em lei, impede que venha operar efeitos no tocante à movimentação, em detrimento do particular, do jus puniendi estatal, ao qual não é alheio a função administrativa.20 Antes de encerrar este tópico, que se alonga demasiadamente, não olvidar a observação, extraída da prática jurisprudencial hispânica, no sentido de que a reserva de lei é flexibilizada nas relações de sujeição especial. Comentando o assunto, ENRIQUE BACIGALUPO, ao depois de afirmar que o Tribunal Constitucional, debruçando-se sobre o art. 25.1 da Constituição de 1978, interpretara o binômio legislação vigente, ali inserto, identificando-o como lei formal21, entendeu que a máxima somente tinha aplicação, com tal rigidez, nas hipóteses de sujeição geral. Nas de sujeição especial, a reserva de lei perdia sua razão de ser, tanto que, mais adiante, mostra-nos o autor a dispensa de norma com grau hierárquico de lei formal nas STC’s 2/87 e 219/89, nas quais, respectivamente, discutia-se acerca de sanções impostas a detentos em estabelecimentos penitenciários e a profissionais liberais por entes corporativos22. A construção é de ser aceita com reservas. Certo que a crescente complexidade da vida gregária poderá tornar dispensável, pena de comprometimento do interesse público, a exigência de lei em algumas situações onde a Administração mantenha com o indivíduo liame específico. Mas tal não se admite indiscriminadamente, como sugere o Tribunal Constitucional espanhol. Parte dessas relações, como a dos funcionários públicos, cujo regime é caracterizado pelo estabelecimento dos direitos e deveres em lei, não dispensa a exigência de norma com força legislativa. A entidade política, ao traçar a disciplina legal da relação Administração-servidor, 20 Conferir a ensinança de ALBERTO SILVA FRANCO (A medida provisória e o princípio da legalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, (648):366-368, out-1989), WALTER CLAUDIUS ROTHENBURG (Medidas provisórias e suas necessárias limitações. Revista dos Tribunais. São Paulo. 82(690):313-319, abril-1993), MANOEL PEDRO PIMENTEL medida provisória e crime. Repertório IOB de Jurisprudência, Civil, Processual, Penal, Comercial e Administrativo, São Paulo, (146):245, jul-1989) e CLÉLIO CHIESA (O regime jurídico-constitucional das medidas provisórias. Curitiba: Juruá Editora, 1996. p. 57). 21 Sanciones Administrativas. Derecho español y comunitario. Madrid: Editorial Colex, 1991. p. 21. Menciona o autor as STC’s 42/87, 3/88, 101/88, 29/89, 69/89, 61/90 e 61/90. 22 ibid., p. 26-28. 112 deverá prever os ilícitos administrativos e correspondentes sanções. Idem nos contratos administrativos, onde, a par da lei geral (Lei 8.666/93), cada um dos entes federados deve possuir lei própria a respeito, tocando-lhe dispor sobre as infrações correspondentes. Somente poder-se-á conceber a desnecessidade de lei formal quando se tratar de hipóteses onde a sujeição especial, mais aguçada, dispense o legislador de disciplinar pormenores do vínculo jurídico. Por exemplo, seria inaceitável negar-se a uma universidade, pública ou privada, o direito de punir, com base em regimento próprio, aluno que envidara agressões físicas a professores, ou colegas de turma, somente por não existir lei que disponha a respeito. A autonomia conferida no ano 207 da CF permite que cada uma daquelas entidades, desde que respeitadas a Constituição e as leis federais, disponha sobre a sua organização, facultando-lhes, assim, disciplinar os direitos e obrigações dos seus docentes e discentes, no que se insere o estatuir as situações disciplinares em que lhe caiba infligir pena23. Nada impede, contudo, que sobrevenha lei a respeito, de modo a estabelecer os ilícitos e punições administrativas, o que afastaria, é lógico, a incidência da norma interna corporis. IV - TIPICIDADE Este princípio, de forte vinculação com o anterior, timbra em exigir que a Administração, ao manejar a sua competência punitiva, ajuste-se, com precisão, à descrição típica da norma que prevê a infração. Torna necessária a exata subsunção do fato ao modelo infracional. A tipicidade enuncia uma das conseqüências da adoção da reserva legal: a taxatividade. Segue-se daí não ser permitida a utilização, pelo administrador, da analogia, a fim de aplicar penas ao cidadão. A jurisprudência se tem mostrado uma atenta guardiã do cânon, reclamando, à legitimidade da imposição de sanções, o devido encaixe do fato perpetrado com a definição do ilícito administrativo24. Problemas rodeiam o tema. O primeiro deles, na pena autorizada de GARCÍA DE ENTERRÍA & TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ25 condiz com a invalidade de certas cláusulas 23 Essa tendência é consagrada pela jurisprudência, podendo ser extraída expressamente de alguns acórdãos (TR- lª Reg., 2ª T, ac. un., REO 6.512 - 1 - BA, rel. Juiz CARLOS FERNANDO MATHIAS, DJU - 11 de 31-03-97, p. 18.593; TRF -1ª Reg., 2ª T, ac. un., REO 1.526 - 9 - DF, rel. Juiz HÉRCULES QUASÍMODO, DJU - 11 de 04·06·90, p.11.742), ou noutros mediante interpretação a contrário sensu (TRF - 3ª Reg., 4ª T. ac. un., AMS 77.748 - 8 . SP, rel. Juíza LÚCIA FIGUEIREDO, DJU - 11 de 29-04-97, p. 28.723; TRF – 4ª Reg., lª T, ac. un., AMS 1.968 - 5 - SC, rel. Juiz ARI PARGENDLER, DJU - 11 de 08·05-91, p. 9.788; TRF – 4ª Reg., 2ª T., ac. un., REO 5.435 - 9 - RS, rel. Juiz LUÍZA DIAS CASSALES, DJU . 11 de 1409·94, p. 51.060). 24 Consultar: TRF – 1ª Reg., 4ª T, ac. un., rel. Juíza ELIANA CALM0N, DJU-II de 07-11·94, p. 63.215; TRF - 4ª Reg., 1ª T, ac. un., rel. Juiz ALBINO TEORI ZAVASKl, DJU-II de 09-06-93, p. 22.257; TRF – 5ª Reg., 1ª T, ac. un., rel. Juiz FRANCISCO FALCÃO, DJU-II de 08·09·95, p. 58.900). 25 Curso de Direito Administrativo. Tradução de Arnaldo Setti. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. pp. 895-6. 113 abertas que pretendem qualificar como sancionável infração normativa de qualquer espécie. Desse tipo seriam exemplos, entre nós, regras como as do art. 129, segunda parte, da Lei 8.112190, ao mencionar a aplicação de advertência à não observância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, complementada pelo seu art. 116, III, que dita ser dever do servidor o cumprimento das normas legais e regulamentares; o art. 70, caput, da Lei 9.605198, afirmando considerar-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão violadora das disposições jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente; igualmente, o ano 161 da 9.503197, ao reputar infração de trânsito a inobservância de qualquer de seus preceitos, da legislação complementar e das resoluções do CONTRAN. Contrários a tais previsões infracionais, assim argumentam os citados autores: a) a técnica genérica de qualificação da infração volatiza o princípio da tipicidade, a exigir figuras demarcadas com precisão, não se comprazendo com remissões em branco a delimitarem o espaço do lícito ou proibido; b) qualificam como puníveis condutas incapazes de, objetivamente, lesar bens jurídicos, ou de implicar transtorno ou perigo social relevante; c) finalmente, há o esquecimento de que não são todos os preceitos normativos que impõem deveres de conduta pessoal a seus destinatários, não fazendo qualquer sentido pretender que a violação a qualquer norma deva ser objeto de sanção pessoal. Poder-se-á, de logo, aduzir que a moldura genérica de uma conduta infrinja o princípio da legalidade, ao consagrar norma em branco, cuja complementação advenha com a edição de atos normativos? Tenho que não. A uma, porquanto não se deve perder de vista que, no campo do Direito Penal comum, onde a reserva legal constitui valor de importância inexcedível, haja vista encontrar-se em jogo o jus libertatis, não se tem reputado inconstitucionais as prescrições retratadoras de normas penais em branco. Tome-se, à guisa de exemplo, o art. 268 do Código Penal, ao tipificar o crime de infração de medida sanitária preventiva, consistente na ação do agente que infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Idem o art. 269 do mesmo diploma (omissão de notificação de doença), ao punir a ação de deixar o médico em denunciar à autoridade moléstia cuja notificação seja compulsória, cabendo, na atualidade, à Portaria 1.100, de 24-05-96, do Ministério da Saúde, especificar o rol de enfermidades que ensejam tal providência. Apesar de mais de meio século de vigência do Código Penal, promulgado em 1940, nunca foi, sob esse aspecto, posta em xeque a compatibilidade de tais comandos incriminadores com a Lei Fundamental. Analisando-se a jurisprudência, com ênfase ao Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Lei Básica, não se tem verificado a recusa à validade de tipos penais em branco. 114 Destaque-se o recente julgado proferido no HC 73.168 - 626, onde se entendeu que, regra geral, o art. 3° do Código Penal se aplica às normas penais em branco, representando, tacitamente, o reconhecimento da legitimidade destas. Da mesma maneira, o STJ, ao apreciar o HC 4.75327, dirigido contra fato fundado no art. 70 da Lei 4.117/62, decidiu que na denúncia não necessitava constar a indicação da norma integrativa do tipo penal, reforçado, assim, o ponto de vista acerca da liceidade das normas em branco. Não se argumente, em detrimento da compatibilidade vertical das normas penais em branco, com a evocação do julgado publicado na RTJ 120/1.09228. Neste apenas se entendeu que disposição legislativa autônoma, posterior aos fatos, não poderá servir de complemento a tipo criminal, o que, igualmente, não depõe contra a tipificação em normas dessa natureza, antes aceitando-a. Conclui-se, então, que, se na província dos delitos, tal postura não é inquinada de ilegitimidade, com maior motivo lícita a sua prática no que concerne às sanções administrativas, a representarem emanação do direito de punir do Estado de caráter mais brando, por não se falar na possibilidade de se atingir a liberdade de locomoção. Reforçando essa orientação, é de observar-se a postura dos Tribunais Regionais Federais no apreço dos litígios inerentes à violação do disposto no art. 11, alíneas j e n, da Lei Delegada 04, de 27-09-62, os quais consideram infração administrativa os atos de “dificultar ou impedir a observância das resoluções que forem baixadas em decorrência desta lei” e de “descumprir ato de intervenção, norma ou condição de comercialização ou industrialização estabelecidas”. Em ambos os casos, há necessidade de ato normativo para que a conduta típica, enunciada pela lei formal, possa se completar e, nem por isso, deixaram os julgados de respaldar a aplicação das multas previstas, na condição de reprimenda pelo desrespeito à norma legal, primária29. O problema da cláusula punitiva aberta poder redundar na punição de conduta que, na prática, seja inidônea para lesar bem jurídico de interesse coletivo, também não deverá induzir a sua desvalia. A exemplo do Direito Penal, é de bom alvitre a aplicação do princípio da insignificância. Assim, o aplicador da norma punitiva haverá de relevar as situações de não ocorrência de lesão a bens jurídicos da coletividade, escoimando de pena o infrator. A mesma sorte segue a terceira objeção. Basta que a autoridade incumbida de aplicar a regra se guie pela senda de somente infligir sanção quando o preceito inobservado disser respeito a um dever pessoal do agente. 26 Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 15-03-96, p. 7.204. Rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-03-96, p. 6.664. STF, 2ª Turma, RHC nº 64.282-RJ, rel. Min. CÉLIO BORJA, ac. un., j. 04.11.86. 29 TRF – 5ª Reg., 1ª T., ac. un., AC 22.406-9-PE, rel. Juiz RIDALVO COSTA, DJU - 11 de 16-07-93, p. 28.189; TRF -1ª Reg., 3ª T., ac. un., AC 33.035-4-DF, rel. Juiz TOURINHO NETO, DJU - 11 de 29-03-96, p. 19.878. 27 28 115 Em ambos os casos, há que se ponderar que eventual injustiça poderia ser contornada com a incidência de um juízo de proporcionalidade, postulado a ser adiante abordado, de sorte a se exigir um razoável motivo para se impor a restrição de direito que a pena acarreta. Prosseguindo, GARCÍA DE ENTERRÍA & TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ30 mostram que o reclamo de tipicidade também colide com a previsão, tradicional nas infrações disciplinares, de tipo puramente deontológicos, como os de “atos desonrosos” e de “falta de probidade moral”, previstos nos arts. 94 e 88 da hispânica Lei Articulada de Funcionários Civis do Estado, de 07-02-63. Vislumbram ofensa ao art. 26 da Constituição de 1978, o qual proíbe os tribunais de honra no âmbito da administração civil e das organizações. A par disso, propõem a solução para a questão, de forma a forjar a compatibilidade dos preceitos sanciona dores com a ordem constitucional. Tal se centra na consideração de que tais tipos hão de ganhar tecnicidade, a fim de que se obtenha, nos casos concretos, a delineação de uma conduta que decorra dos deveres e proibições funcionais. Trata-se de se aplicar, na formulação dessas situações, a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados31, posição que recebeu também o beneplácito de JUAN CARLOS CASSAGNE32. Apesar de, nessas plagas, a tese dos conceitos indeterminados ainda não ser acolhida com primazia pela doutrina e jurisprudência, não vislumbramos que o óbice apontado possa, v. g., negar legitimidade à cominação de demissão nas hipóteses de improbidade administrativa e incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, contempladas na Lei 8.112/90 (arts. 132, N e V). Necessário apenas que a autoridade administrativa, ao valorar tais tipos, busque a sua vinculação com o interesse público, contido, tácita ou explicitamente, na norma de Direito. V – CULPABILIDADE O postulado acima impõe, a fim de que possa ter lugar a responsabilização administrativa, a ocorrência de dolo ou culpa por parte do agente da infração. Afasta, portanto, a responsabilidade objetiva. Deriva da individualização da pena (art. 50, XLVI, CF), de observância irretorquível pela jurisdição criminal, a forçar o seu aplicador a perscrutar o grau de culpa do autor da falta. 30 op. eit., pp. 896-7. Carradas de mão possui EROS ROBERTO GRAU (Poder Discricionário. Revista de Direito Público, São Paulo, 23(93): 41, jan/mar-1990), ao situar a indeterminação não nos conceitos, mas nas expressões ou termos dos quais se utiliza o legislador para exprimir a regra jurídica. 32 Derecho Administrativo. 5.ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. v. 2, p. 577. 31 116 Esse entendimento influenciou a nossa doutrina. Tal ocorreu na busca do sentido da expressão “independe da intenção do agente ou do responsável”, contida no texto do art. 136 do Código Tributário Nacional, a qual faz supor o caráter objetivo das infrações fiscais. Em substancioso estudo, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO33, após referenciar a posição da maioria da doutrina, na qual se incluíam as opiniões de FÁBIO FANUCCHI, ALBERTO XAVIER, HECTOR VILLEGAS e GERALDO ATAUBA, rematou que o aludido dispositivo não dispensava a culpabilidade como elementar do ilícito tributário. Apenas excluía a necessidade da presença de dolo, consagrando apenas a imprescindibilidade de culpa. Além de basear-se no fato de que o vocábulo intenção se referia apenas à vontade livre, consciente, voltada em direção do ilícito, restou posto em destaque que a exigência de culpabilidade em ditas infringências decorria de franquia constitucional, qual seja a contida no art. 153, §13, da Constituição pretérita (atual art. 5°, XLVI), que estabelecia o princípio da pessoalidade e da individualização da pena, do qual não poderia afastar-se a Administração Tributária no uso de sua competência punitiva. Ainda quanto ao art. 136 do Código Tributário Nacional, LUCIANO AMARO DA SILVA34 ratifica o entendimento acima, afirmando que o dispositivo, ao dispor que a responsabilidade infracional independe da intenção, não deve ser entendido, como à primeira vista parece, no sentido de perfilhar a responsabilidade objetiva. É que o dispositivo não diz que a responsabilização ocorre independentemente de culpa. Diz tão-só que dispensa a “intenção”, quer dizer a vontade de ludibriar o Fisco. Este, segundo o autor, apenas se encontra dispensado de provar o dolo em que incorreu o contribuinte. Diferentemente, RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA35; aponta que o assunto não dispensa polêmicas. Aludindo à generalidade das infrações administrativas, sustenta não ser a culpabilidade requisito indispensável do tipo, tocando ao legislador exigir, quando entender necessário, a presença de dolo ou culpa. Nossos pretórios apresentam um indefinição sobre o tema, havendo acórdãos a conceber a imposição de punições administrativas com a só prática do ilícito, independente de dolo ou culpa, uma vez ser a responsabilidade administrativa de natureza objetiva36, enquanto outra corrente timbra em torná-la descabida quando não existir a culpa do administrado37. 33 Infração Fiscal: dever acessório; declaração de número de cadastro; objetividade das infrações fiscais. In: BALEEIRO, A1iomar [et alii]. Textos selecionados de Direito Tributário. São Paulo: RT/Resenha Tributária, 1983. pp. 63-5. Infrações Tributárias. Revista de Direito Tributário, (67):33-34. 35 Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. pp. 8-10. 36 TRF – 4ª Reg., 3ª T., ac. un., rel. Juiz AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI, DJU - II de 22-07-98, p. 467; TRF – 4ª Reg., 3ª T., ac. un., rel. Juíza MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRERE, DJU - II de 09-12-98, p. 798 37 TRF – 5ª Reg., ac. un., rel.Juiz LÁZARO GUIMARÃES, DJU - II de 21-12-90, p. 31.298. 34 117 O debate vai além de nossos lindes territoriais. JOSÉ MARIA QUIRÓS LOBO38 salienta que a velha teoria, que acatava a responsabilização objetiva perante a Administração, não mais tem aceitação na atualidade perante o Tribunal Constitucional espanhol (Sentencia de 19 de dezembro de 1991)39. JUAN CARLOS CASSAGNE40, ao depois de frisar que o princípio da culpabilidade, de inspiração jus naturalista, constitui um dos postulados do Direito Penal que se impõem em matéria de sanção administrativa, averba a tendência, tanto na Argentina como no direito comparado, de permitir-se que leis especiais possam legitimar um sistema de responsabilidade objetiva para certas infrações quando a cura do bem comum reclame uma solução diferente ante as exigências maiores da comunidade, situação verificável na aplicação de sanções às pessoas físicas ou ideais pelo fato de seus prepostos. Para tanto, alvitra que essa responsabilização, em face de seu caráter excepcional, há de instrumentar-se sob determinadas cautelas, demandando-se, além da garantia constitucional da razoabilidade das leis (art. 28, Constituição da Nação), as seguintes condições: a) o ato ou omissão do empregado há de ser imputável a título de dolo ou culpa; b) tipificação da conduta em norma de hierarquia legal; c) as sanções sejam exclusivamente patrimoniais, não podendo implicar a privação da liberdade de locomoção nem na restrição temporária do exercício de alguma faculdade jurídica (por exemplo, a inabilitação para o desempenho de determinada atividade); d) os diligentes da pessoa jurídica podem invocar isenção de responsabilidade quando tenham manifestado o seu desacordo com o fato ou conduta punível em ata de reunião da diretoria; e) tocam aos juízes corrigir eventual rigorismo da lei com o auxílio da eqüidade, já que se afigura injusto que alguém aporte em estado de ruína financeira como conseqüência de fato cometido por outrem. Somos pela impossibilidade de responsabilidade objetiva nas infrações administrativas. Há necessidade de se demonstrar que a ação antijurídica adveio de culpabilidade. O que se faculta ao legislador e, mesmo assim, desde que seja expresso, é dispensar o dolo, contentando-se com a culpa em sentido estrito. A assertiva deflui do bill de direitos individuais de nossa Constituição, a consagrar, demais das franquias que expressa, aquelas resultantes do regime e dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil (art. 50, §2°, CF). Entre estes está o da individualização da pena, que, entre os seus vários sentidos, desemboca, consoante LUIZ VICENTE CERNICCHIARO41, na mensuração da pena ao caso concreto, onde são ponderados diversos fatores, de ordem 38 op. cit., pp. 47-8. ENRIQUE BACIGALUPO (Sanciones Administrativas: Derecho español y comunitario. Madri: Editorial Colex, 1991. p. 33) mostra que essa posição fora adotada pelo Tribunal Supremo antes da Constituição de 1978 (Sentencias de 16 de fevereiro de 1%2, de 27 de abril de 1966,7 de junho de 1966, 20 de fevereiro de 1967, de 21 de fevereiro de 1969, de 31 de dezembro de 1971 e de 11 de março de 1976), reclamando-se o dolo ou a culpa como pressupostos da sanção administrativa. 40 Derecho Administrativo. 5.ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. v.2. pp. 577·579. 41 Direito Penal na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. pp. 131-134. 39 118 objetiva e subjetiva. Dessarte, atende-se aos princípios humanitários, do interesse público e da culpabilidade, não podendo sofrer restrição do legislador. Nesse diapasão, orientou-se a Lei 9.605198, voltada à imposição de sanções penais e administrativas a condutas lesivas ao meio ambiente. O seu art. 20, a despeito de utilizar o vocábulo crimes, traz a advertência de que o agente incide nas penas nela comi nadas na medida de sua culpabilidade. Ao depois, responsabiliza o diretor, o administrador, o membro de conselho de administração e de órgão técnico, o auditor, gerente ou preposto, ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia e tinha o dever de evitá-la. A exemplo do art. 13, §2°, do Código Penal, a omissão ganha relevância quando o agente deveria agir para evitar determinado resultado. A responsabilidade pela postura omissiva decorre do não cumprimento de dever jurídico. No art. 3°, o mesmo diploma diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração emane de decisão de seu representante, legal ou contratual, ou de órgão colegiado seu, no interesse ou em benefício de sua finalidade social. Tem-se, como pressuposto da punição, o substantivo decisão, derivado do verbo decidir, a significar determinar, deliberar, resolver e, por isso, denota a prática de ação voluntária. Da análise dos citados dispositivos, conclui-se que não se dispensa, para a efetivação da responsabilidade administrativa, a manifestação de ação culposa. Apenas a pessoa jurídica que, à míngua de componente anímico, não pode expressar a sua vontade, é responsabilizada pela emissão volitiva de seus dirigentes, os quais não têm a sua responsabilização excluída (art. 3°, parágrafo único). Há de se refletir, então, que o pensar de JUAN CARLOS CASSAGNE, linhas atrás citado, não colide, ao contrário do que possa parecer, com a exigência da nulla pena sine culpa. Apenas adapta esta máxima às novas exigências da vida gregária. O culto à culpabilidade se satisfaz com a adoção da primeiras das cautelas propostas, qual seja a de que a responsabilização do empregador, pessoa física ou jurídica, advenha de ato culposo ou doloso de preponente. Na seara civil, é pacífico que o patrão responde pelos danos provocados pelas pessoas que estão a seu serviço, como reconhece a Súmula 341-STF, entendimento que, perfeitamente, poderá ser transposto à responsabilidade administrativa, sem maltrato ao princípio da culpabilidade. Basta, tão-só, que a falta resulte de culpa ou dolo do preposto e que possua nexo com os serviços de que é beneficiário o responsável. Duas observações ainda hão de ser feitas. A primeira é a de que não ofende a máxima da culpabilidade a imposição de uma sanção, em caráter solidário, a duas ou mais pessoas. A esse 119 respeito, decidiu o Tribunal Supremo de Espanha na Sentencia de 04 de julho de 199442, exigindo, apenas, que a solidariedade estivesse prevista em norma com hierarquia de lei. Em segundo lugar, e ainda com apoio na jurisprudência espanhola, desta vez oriunda do Tribunal Constitucional (STC 76/90)43, asseverou-se que o princípio ela culpabilidade impõe outorgar relevância ao erro de direito, independente deste fundamento de exclusão encontrar-se, às expressas, previsto em lei. A premissa pretoriana é de fácil justificação. Isto porque, a exemplo do Direito Penal comum, a lei administrativa vincula a punição a uma prévia conduta reprovável, sendo evidente que o erro de direito, quando escusável, poderá excluir ou atenuar a responsabilidade do infrator. VI – PROPORCIONALIDADE O art. 59 do Código Penal, como decorrência dos vários fatores que põe em relevo, fornece ao intérprete a medida pela qual a pena, a ser infligi da ao agente, há de guardar correspondência com a gravidade do fato perturbador da paz social44. Tratando-se de sanção imposta pela Administração Pública não há diferença. Necessário também o seu concerto harmonioso com o princípio da proporcionalidade. A despeito de remotas raízes históricas, a noção de proporcionalidade passou a freqüentar o ainda incipiente Direito Público com os revolucionários ingleses do Século XVII, a pregarem, fortemente influenciados pelo jus naturalismo, que o poder de polícia, exercido pelo governante, somente poderia limitar direitos fundamentais do indivíduo com vistas à proteção do interesse coletivo. Visceralmente combatida, portanto, a sua ação desarrazoada. Transplantada para a França, mesmo passado o fastígio do Iluminismo, a idéia serviu de estuque para o controle dos atos administrativos através do récours pour excès de pouvoir, criação do Conseil D'État em 1806, desenvolvida, com contornos mais definidos, a partir do Segundo Império (1852), tendo, no apagar deste, ganho o seu perfil atual com a Lei de 24.05.1872, que legou àquele órgão feição jurisdicional, com vistas a julgar questões envolvendo a Administração e os particulares. A partir da segunda metade do atual Século, passou a influenciar, mediante o aprofundamento de seu estudo na Alemanha, o Direito Constitucional no que concerne à fiscalização de constitucionalidade de leis restritivas de direitos individuais. 42 Cf. JOSÉ MARÍA QUIRÓS LOBO, op. cit., pp. 111-112. Cf. ENRIQUE BACIGALUPO op. cit., p. 35. Recomenda-se a leitura de HUMBERTO BERGMANN ÁVILA (A distinção entre principias e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, (215): 151-179, jan/mar-1999), ao salientar, em uma de suas felizes passagens, a relevância da proporcionalidade no Direito Penal. 43 44 120 Volvendo-se ao Direito Administrativo, o princípio da proporcionalidade, segundo texto produzido, em março de 1996, pelo Grupo de Estudos da Justiça Federal de Primeira Instância de Curitiba/PR, evoca noção lapidar: “O princípio da proporcionalidade é um desenvolvimento do princípio do Estado de Direito. Significa ele, em termos simples, que o Estado, para atingir os seus fins, deve usar só dos meios adequados a esses fins e, dentre os meios adequados, só daqueles que sejam menos onerosos para o cidadão.”45 Na Península Ibérica, essa doutrina ganhou alento na pena de JESUS GONZALEZ PEREZ, ao destacar que a violação à máxima da proporcionalidade colide com as exigências de lealdade que devem presidir a tônica das relações entre administrado e Administração, requeridas pelo princípio geral da boa-fé. Afirma o lente ibérico: “O da proporcionalidade é um dos princípios que hão de informar toda a atividade administrativa e, muito especialmente, no campo da polícia administrativa. Princípio que não postula outra coisa que uma adequação entre meios e fins, entre as medidas utilizadas e as necessidades que se tratam de satisfazer. A Administração pública deve eleger os meios menos restritivos à liberdade (sentenças de 29 de março de 1965, 10 de junho de 1977 e 15 de junho de 1981), os que resultem menos lesivos aos direitos dos administrados (sentenças de 14 de fevereiro de 1977), não impor nenhuma carga, obrigação ou prestação mais gravosa que as necessárias para cumprir com as exigências do interesse público. Poderia entender-se que uma atuação desproporcionada é contrária às exigências da boa fé, enquanto o sujeito adota uma conduta que não é a conduta normal e reta que poderia esperar-se de uma pessoa também normal.”46 Da dimensão estrutural do cânon, extrai-se que a Administração quando impõe pena ao particular deve, necessariamente, atuar da maneira menos lesiva, pautando-se pelas balizas da necessidade e adequação. A utilização imoderada da competência punitiva ressai ilegítima, propendendo às raias do arbítrio. 45 O princípio da proporcionalidade e Direito Administrativo. Ajufe, (49):63, mar/abr-1996. EI Principio General de La Buena Fe en el Derecho Administrativo. 2.ed. Madri: Editorial Civitas SA, 1989. pp. 49-50: “EI de proporcionalidad es uno de los principios que han de informar toda la actividad administrativa y, muy especialmente, en el campo de la policía administrativa. Principio que no postula otra cosa que una adecuación entre medias y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan de satisfacer. La Administración pública debe eligir los medios menos restrictivos a la libertad (sentencias de 29 de marzo de 1965, 10 de junio de 1977 y 15 de junio de 1981), los que resulten menos lesivos a los derechos de los administrados (sentencias de 14 de febrero de 1977), no imponer niguna carga, obligación o prestación más gravosas que las que sean necesarias para cumplir con las exigencias del interés público. Podría entenderse que una actuación desproporcionada es contraria a las exigencias de la buena fe, en cuanto el sujeto adopta una conducta que no es la conducta normal y recta que podría esperarse de una persona asimismo normal.” 46 121 Não fora à toa que LAUBADÈRE47, comentando o poder da Administração em impor sanções durante o desenrolar dos contratos administrativos, asseverara ser tal prerrogativa sujeita ao controle do juiz quando a pena pronunciada não encontrar adaptação frente à gravidade da falta imputada. Forte no resguardo do princípio, a recente Lei 9.784, de 29-01-99, ao estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo perante a Administração Federal, estatuiu, no art. 20, parágrafo único, VI, a observância, entre outros critérios, da adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Antes de tal diploma, as Leis 8.112190 (art. 128) e a Lei 9.605/98 não se portaram silentes em estabelecer balizas, no escopo de que a concreção das penas administrativas não desbordasse de padrões aceitáveis. A indispensabilidade de se controlar, nos casos concretos, a proporcionalidade das punições, torna imprescindível a indicação, pela autoridade administrativa, dos fundamentos de fato e de direito a justificar a decisão (a Lei 9.784199 é expressa a esse respeito no seu art. 2°, parágrafo único, VII). É da análise dos motivos invocados pelo administrador que se perceberá a ocorrência de possível excesso, de sorte que sanção aplicada sem motivação é nula. O Poder Judiciário tem reputado a proporcional idade como pedra de toque da imposição administrativa de sanções, servindo de sólida amostra inúmeros precedentes, em cujas conclusões: a) restou anulada pena de demissão, imposta a servidor público, em virtude da não rígida correspondência entre a sanção e o fato perpetrado48; b) constatou-se excesso de punição, decorrente do poder de polícia, por o seu montante desconsiderar a parte da área sob proteção ambiental realmente atingida pela ação ilícita49; c) afastou-se a imposição de multa de 20%, incidente sobre o valor da mercadoria importada, por simples falha no preenchimento de guia de importação50; d) desconstituição da pena de perdimento de bem, uma vez não comprovado o indevido benefício fiscal fruído pelo infrator, pela ausência de imposto a pagar51; e) considerou-se excessiva a gradação de multa moratória prevista no art. 61 da Lei 8.383/9152. Outra questão a enfrentar, antes do finalizar deste tópico, pertine à possibilidade, frente à Separação de Poderes, do Judiciário, em vislumbrando exasperação de pena de multa, reduzi-la ao valor estatuído por lei. Para HELY LOPES MEIRELLES53, tal não é possível, tocando ao magistrado apenas examinar se a punição é legal e, em caso positivo, mantê-la, ou , em se 47 Traité élémentaire de Droit Administratif 3.ed. Paris Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1963. p. 301. TRF – 5ª Reg., 3ª T., AC 54.961- 0 - RN, ac. un., rel. Juiz RIDALVO COSTA, DJU - II de 30-12-94, p. 75.124. TRF . 4ª Reg., 4ª T., MAS 25.685 - 8 - SC, ac. un., rel. Juiz JOSÉ GERMANO DA SILVA, DJU - II de 26-08-98, p. 811. 50 TRF – 5ª Regi., 3° T., AMS 53-810, rel. Juiz RIDALVO COSTA, v.u. DJU - II de 06-09-96, p. 66.027. 51 TRF – 4ª Região, 3ª Turma, REO 404346, rel. Juiz VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, v.u., DJU 08-05-91, p. 9.845. 52 TRF – 4ª Região, 2ª Turma, AC 443095, rel. Juiz TEORI ALBINO ZAVASK.I, v.u., DJU 26-03-97, p. 18.282. 53 Direito Administrativo Brasileiro. 14.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 593. 48 49 122 constatando a sua ilegalidade, proceder à sua anulação. Inadmissível - averba - a permuta da discricionariedade legítima do administrador pelo arbítrio ilegítimo do juiz. Em que pese a esse respeitável entendimento, ousamos manifestar atitude discordante, sustentando a competência judicial, desde que, para tanto, não haja necessidade do julgador ingressar em seara discricionária, privativa do administrador, mas tão-só ajustar a atuação deste aos parâmetros legais. Assim se tem manifestado a jurisprudência. Invocável aresto da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região54, que, à sua vez, louvou-se em arrêt de principe do extinto Tribunal Federal de Recursos55. Esse pensar voltou a ser reafirmado pelo STJ, no REsp 176.645 - DF56, onde se assentou que não se caracteriza invasão de competência da esfera administrativa a redução, por ato judicial, de multa, a fim de conformá-la aos limites previstos em lei. VII – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS FAVORÁVEL É de indagar-se: sobrevindo à imposição de penalidade administrativa lei mais benéfica, ora por deixar de considerar o fato perpetrado como infração, ora por amenizar as conseqüências do ilícito, haverá de lograr incidência retrooperante? A melhor resposta é a que pende pela afirmativa. A Constituição em vigor não deixa dúvida a respeito. O seu art. 5°, XL, é expresso em proclamar que a lei penal não retroagirá, salvo se para beneficiar o réu. Implica dizer, em outras palavras, ser a retroatividade um mandamento quando houver benefício para o acusado, franquia que o legislador não poderá coartar, pena de incidir em inconstitucionalidade. O dispositivo sobranceiro, com carradas de razão frisara RÉGIS FERNANDES DE OLNEIRA57, quando ainda vigente o art. 153, §16 da Constituição pretérita, não tem o seu conteúdo limitado a albergar o fato criminal, abrangendo também o administrativo. Assim vêm se orientando os julgados de nossos pretórios, servindo de exemplo a AC 6.843 - 2 - SP, onde a 3ª Turma do TRF – 3ª Região58 entendeu que a redução de multa, de 30% para 20%, instituída pelo art. 15 do Decreto-lei 2.323/87 deveria ser aplicada àquelas impostas anteriormente. Idem o TRF – 4ª Reg.59, ao' acolher a retroatividade in melius quanto ao percentual de 100%, estipulado a titulo de multa pelo art. 3° do Decreto-lei 308/67, fora reduzido para 20% por força do art. 1°, II, do Decreto-lei 2.471/88. 54 Ac. un, rel. Juiz VICENTE LEAL, DJU de 17-08-92, p. 24.273. AC 66.959, rel. Min. PÁDUA RIBEIRO Ementário vol. 38/44. 1ª T., ac. un., rel. Min. JOSÉ DELGADO, julg. 20-08-98. 57 Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 44. 58 Ac. un., rel. Juiz AMÉRICO LACOMBE, DJU . II de 18-06-90, p. 49. 59 Ac. un., reL. Juiz GILSON LANGARO DIPP, DJU - II de 28-07-93, p. 29.264. 55 56 123 Ressalvas hão de ser feitas. A primeira destas é a de que a retroatividade benéfica não se aplica no particular das leis excepcionais ou de vigência temporária, uma vez a revogação ser da natureza da norma, perdendo esta todo o seu atributo intimidativo caso o agente, de antemão, já tivesse conhecimento de que, cessada a situação anormal, ou o intervalo de sua vigência, ficaria impune em face da injunção de retroatividade da nova norma retora da competência punitiva. Esse caminho fora sufragado pelo TRF – 4ª Região60. Noutro ponto, cabe investigar a ocorrência de retroatividade quando se cuide de revogação da norma complementar, integrativa do tipo, persistindo indene a disposição principal, plasmadora da postura antijurídica. A solução que se impõe, no plano administrativo, é idêntica à que se atribuiu à interpretação do art. 3° do Código Penal, assunto por nós versado em escrito anterior61, de sorte que o seu perfeito equacionamento há de fazer-se conforme o complemento da norma em branco assuma natureza estável ou ostente foros de excepcionalidade. Na primeira hipótese, o complemento penal, em apresentando sinais de estabilidade, adere de tal forma ao tipo principal que a sua modificação importará em verdadeira mutação da figura infracional, sendo imperiosa a retroatividade in menus. Foram as situações vivenciadas pelo art. 269 do Estatuto Repressivo e pela Lei de Tóxicos, onde a superveniente edição de portaria retirando, respectivamente, o caráter de notificação compulsória de enfermidade e entorpecente de substância traficada foi capaz de levar à descriminalização. Nas demais situações, quando a disposição integrativa visar à disciplina de situação oscilante, excepcional, outro resultado não se antepõe ao intérprete senão o de propender pela irretroatividade, orientação plasmada pelo STF62 quanto aos crimes contra a economia popular, levados a cabo pela desobediência a tabelamento de preços. Alfim, advirta-se que a retroatividade admitida é a favorável ao agente, no caso o administrado. Inaceitável a aplicação retrooperante de dispositivo legal que comine pena a fato verificado anteriormente à sua vigência. Isso se explica pela singularidade de que a competência punitiva da Administração, a exemplo da inerente à jurisdição penal, não pressupõe apenas a existência da lei. Reclama algo mais, qual seja a precedência desta ante o comportamento a punir. É expresso, nesse sentido, o art. 5°, XXXIX, da Lei Maior. A aplicação retroativa de lei que define conduta infratora da ordem jurídica administrativa envereda pela senda da 60 4ª T., ac. un., rel. Juiz JOSÉ GERMANO DA SILVA, DJU -II de 16-09-98, p. 423. Referencia o relatar precedentes do Tribunal Federal de Recursos nas AC 5946800 - Rj (DJU de 05-11-81) e 6872800 - PR (DJU de 29-06-82). Cinco Temas Controvertidos de Direito Penal. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 28 (109): 174-176, jan/mar1991. 62 RT 556/425 e 482/440; RTJ 74/590. Exemplo da extensão desse pensar à potestade sancionadora da Administração, colhese do TRF – 4ª Reg., 2ª T., ac. un., rel. Juiz OSVALDO ALVAREZ, DJU - II de 15-04-92, p. 9.495. 61 124 inconstitucionalidade, por contrariar o ideal de segurança jurídica que também quis curar o Constituinte. Por esse motivo, reputou-se inaceitável a incidência da multa, instituída pela Lei 8.025190, aos servidores que firmaram o termo de ocupação anteriormente à sua vigência63. VIII – NON BIS IN IDEM Expressa a premissa de ser inaceitável a dupla punição pelo mesmo fato. A Súmula 19 do STF é categórica: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira”. Isso, todavia, não está a impedir que, em virtude de um mesmo fato, possa alguém ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente. É que são esferas de responsabilidade diversas e autônomas. Firme se manifestou o STF no MS 22.728 – PR64 salientando a não ocorrência de bis in idem na hipótese de, pelo mesmo fato, terem sido aplicadas multa pelo TCU e pena de cassação de aposentadoria pela Administração a que se encontrava vinculado o servidor, à época dos acontecimentos. O que se quer afirmar é não ser concebível, dentro de uma mesma esfera de responsabilização, in casu no campo administrativo, haver mais de uma punição em virtude de um mesmo fato. Tal cumulação somente será possível caso a lei assim preveja expressamente, conforme vem aceitando a jurisprudência65. Essa inteligência resultou bem exemplificada através da compreensão, a contrario sensu, do RM5 5.802 - 6 - RJ, provido pela 6ª Turma do STJ66. Do substancioso voto do Min. ADHEMAR MACIEL se tem que a ilegitimidade da exclusão, a bem da disciplina, aplicada posteriormente à prisão disciplinar por 30 dias, decorrera da circunstância do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar ser peremptório quando veda, às expressas (art. 37, IV), que, por uma única transgressão, seja aplicada mais de uma punição. Percebe-se, então, que, caso o referido diploma permitisse mais de um castigo na espécie, não haveria que se falar em violação do due processo. Advirta-se não haver que se falar em violação do princípio nas situações em que a Administração, em face do periculum in mora ocasionado pela permanência do indiciado no 63 TRF – 1ª Reg., 3ª T., AC 10.457 - 4 - DF, ac. un., rel. Juiz CNDIDO RIBEIROO, DJU- II de 05-0698, p. 53; ver também da lavra do mesmo relator a AC 20.443 -1- DF, DJU – II de 24-10-97, p. 89.173. Pleno, ac. un., rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 13-11-98, p. 00005. Esse posicionamento não coincide com o Tribunal Constitucional da Espanha na Sentencia de 03 de outubro de 1983, ao determinar que, a fim de se evitar duplicidade de sanções administrativas e penais, respeitantes a um mesmo fato, caberia à Administração suspender a sua atividade sancionadora caso, posteriormente, fosse instaurado um processo penal (ver JOSÉ MARÍA QUIRÓS LOBO, op cit., p. 73). 65 TRF – 1ª Reg., 2ª T., MAS 12707 - 0, ac. un., rel. Juiz ANTÔNIO SÁVIO, DJU - 11 de 03-06-93, p. 37.153; TRF – 5ª Reg., 1ª T., REO 35.593 - 7 - RN, ac.un, rel. Juiz FRANCISCO FALCÃO, DJU - 11 de 21-03-94. 66 Mv, rel. desig. Min. VICENTE LEAL, DJU de 22-04-97. 64 125 exercício de função pública, determine, como medida preliminar, a suspensão do servidor durante o prazo de transcurso do inquérito administrativo. Da mesma forma, podem vir a lume, no campo do poder de polícia, fatos em que, para o resguardo do interesse público, torne necessário proceder-se, antes da aplicação de qualquer pena, a medidas preventivas, como a apreensão de veículos, instrumentos de trabalho, produtos e demais bens móveis. Cuida o mencionado acima do instituto da tutela cautelar administrativa. Deste é exemplo o ano 147 da Lei 8.112190, ao determinar à autoridade processante, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração dos fatos, o afastamento deste do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração. Da mesma finalidade, o art. 56, parágrafo único, da Lei 8.078/90, ao permitir que algumas das penas que enumera, como a apreensão de produto, possam ser aplicadas como medida cautelar67. Interessante, nesse particular, aresto do STF no MS 22.643 - SC68, ao não reconhecer bis in idem no fato de o TCU, antes da imposição de multa (art. 58, V, Lei 8.443/92), haver determinado o afastamento temporário (art. 44, Lei 8.443/92) do Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, imposta pela existência de indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas atribuições, pudesse retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, ou causar novos danos ao erário. Predominou a consideração da natureza cautelar da medida. IX – NON REFORMATIO IN PEJUS Outro princípio relevante é o que não admite a possibilidade da reformatio in pejus. Significa que a parte vencida não poderá, em decorrência do exercício de sua legítima pretensão em recorrer, ver a sua situação agravada quando, para esse fim, nada postulou a Administração processante. Embora possa parecer tipicamente de índole procedimental, dada a localização no texto do Código de Processo Penal (art. 617), a diretriz possui, igualmente, índole substantiva, razão por que dela aqui nos ocuparemos. A primeira indagação que exsurge tem a ver com a sua pertinência ao campo do Direito Administrativo, em razão da indissociável vinculação do administrador à legalidade. HELY LOPES MEIRELLES69, por exemplo, opinara favoravelmente a que a autoridade administrativa, incumbida do julgamento de recurso, concentre ampla liberdade de revisão, podendo modificar ou 67 Gostaria de anotar que o instituto do CDC, ao contrário do previsto na Lei 8.112/90, assimila-se mais à antecipação da tutela punitiva, uma vez que, como consta do texto legal, cuida-se de aplicação, antes de concluído o processo administrativo, da própria pena, e não de mero instrumento de feição acautelatória. 68 Pleno, ac. un., rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 04-12-98, p. 13. 69 Direito Administrativo Brasileiro. 14.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 572. 126 invalidar a decisão recorrida, inclusive apartando em reforma para prejudicar a situação do recorrente. Noutra vertente, OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, que escrevera páginas indeléveis na literatura administrativa, pronuncia-se: “Igualmente, a reformatio in pejus não é interdita ao Direito Administrativo, sob pena de frustar ação fiscalizadora ou diretora dos órgãos de controle e hierarquia, a fim de não agravar a situação do administrado, com prejuízos à Administração Pública. Esse princípio tem a sua aplicação restrita ao Direito judiciário e se estende ao terreno do Direito Administrativo tão-somente quando se trata de recurso do próprio interessado em processos quase contenciosos”70 Nos pretórios, chama a atenção o julgamento do RMS 3.252 - RS, proferido pela 6ª Turma do STJ71. Consta do voto do relator, que contou com O beneplácito do Min. VICENTE CERNICCHIARO, logo após a distinção entre o poder disciplinar da Administração, exercido pelos órgãos administrativos, e o poder punitivo penal, inerente ao Estado-sociedade, que se desenvolve a cargo do Judiciário, o esclarecimento de que, em ambos, não é tolerada a reformatio in pejus. Essa a posição mais acenada. A franquia não constitui exclusividade do Direito Penal, mas, ao inverso, compatibiliza-se nos contenciosos onde viceja a possibilidade de aplicação de pena. Poder-se-á sustentar, com fundamento no ano 64, parágrafo único, da recente Lei 9.784/99, ser possível a reforma prejudicial de decisão administrativa. Isso porque o caput do dispositivo dispõe que o órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular, ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, complementando o parágrafo único que, se do julgamento puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado, com vistas a formular suas alegações antes da decisão. Há que se lançar uma ponderação, uma vez que a não reforma para pior não constitui mera explicitação do legislador processual penal, óbice que poderia ser facilmente contornado pela lei administrativa, mas do ano 50, §2°, da Lei Fundamental, ostentando o caráter de direito individual implícito. Nesta condição, configura desenvolvimento do ano 50, LV, ao assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Houve, à época da Constituição pretérita, quem assim pensasse, invocando o ano 153, §1572 70 Princípios Gerais de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v.2, p.142. Mv, rel. desig. Min. ADHEMAR MACIEL, DJU de 06-02-95, p. 1.372. Foi o raciocínio seguido por RÉGIS FERNANDES DE OLIVEIRA (Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 101), exposição na qual é referenciado sólido manancial da doutrina comparada. 71 72 127 O mesmo fenômeno se passa perante a Constituição da Espanha de 1978, tendo, em elucidativa deliberação na Sentencia de 19 de dezembro de 1988, o Tribunal Constitucional afirmado que a vedação à reformatio in pejus resulta tacitamente inserida no seu ano 24, que constitucionaliza, naquele país, o proceso debido. Numa forçosa revisitação a JOSÉ MARÍA QUIRÓS LOBO73, obtém-se precioso trecho da justificativa da aludida decisão: “É um princípio geral de nosso Direito no âmbito sancionador, tanto penal como administrativo, que nas segundas ou sucessivas instâncias, qualquer que seja a natureza do recurso utilizado, ordinário ou extraordinário, não se pode agravar a condenação do recorrente acima do que havia imposto a sentença impugnada, salvo se a parte contrária em suma, o acusador - tiver recorrido independentemente, ou se aderira a recurso já formulado. Isto acarreta a vinculação do Juiz ad quem ou superior pelos limites subjetivos e objetivos que hajam marcado a acusação e a defesa, neste último grau jurisdicional”. Torna-se necessário, pára que o dispositivo citado possa se harmonizar com a Constituição, que a sua aplicação se dê nas hipóteses em que não se discuta a imposição de penalidade. Exemplificando: se determinado contribuinte, visando suster eventual isenção de IPI, que lhe fora cobrado no percentual de 15% sobre o valor da mercadoria fabricada, recorre, nada impede que a autoridade administrativa, considerando descabido o favor fiscal, resolva alterar, de ofício, o lançamento, mencionando como correta alíquota maior, de 20%. Nesses termos é que deverá ser aplicado o art. 64, parágrafo único, da Lei 9.784199. Suponha-se, ao revés, que o mesmo contribuinte, irresignado com multa por descumprimento de obrigação acessória, fixada em 20% sobre o valor do produto, interponha recurso, questionando a ocorrência da infração. Nesta hipótese, defeso é à autoridade administrativa, em reconhecendo a prática infracional, elevar a sanção pecuniária para 30%. O resguardo à regra da legalidade, por maior que venha a ser o esforço retórico, esbarra noutra razão dotada de juridicidade, qual seja a garantia magna decorrente do art. 50, LV, da Lei Maior vigente, que impede a reforma prejudicial. O pensar defendido se projeta à reformatio in pejus indireta, ocorrente quando, anulada a imposição punitiva em grau de recurso, a nova decisão imponha pena mais grave do que a comi nada no ato administrativo desconstituído pela Administração. Também essa postura não se afigura legítima. 73 op cit., p. 117. 128 No plano do juízo criminal, igualmente tem sido o pronunciamento do STF74. Ressalva, contudo, uma situação que, a nosso ver, encontra, grosso modo, guarida no processo administrativo sancionador, qual seja a nulidade por incompetência absoluta75. Havendo a primeira decisão promanado de autoridade sem competência para a aplicação da sanção, nada impedirá que a autoridade competente, que ainda não exarou sua opinião sobre o fato em apuração, quando instada a atuar, delibere no sentido de infligir pena mais severa. X – PALAVRAS FINAIS O procedimento administrativo punitivo, no Estado Democrático de Direito, perfilhado como modelo pelo nosso Constituinte (art. 1º, CF), ostenta feição vinculada. Os aspectos submetidos à discrição do administrador sofreram redução demasiada. Em conseqüência, impende ao intérprete a difícil tarefa de cinzelar os parâmetros que deverão comandar essa atividade estatal, tema a que estas modestas linhas se propuseram. Adotou-se o critério de examinar a recepção que, no Direito Administrativo, mereceu as premissas estruturantes do jus puniendi da coletividade e o Direito Penal comum, cuja elaboração foi longamente sedimentada no decurso da história da humanidade. Tais arquétipos são hábeis ao fornecimento da medida de justiça ideal das punições impostas pela Administração, as quais, na hipótese de desvio, expõem-se ao arbítrio, clamando a expedita corrigenda do Judiciário. 74 75 RTJ 88/1.018 e 95/1.081; RT 558/414. RTJ 100/927. 129 A AUTONOMIA PRIVADA, A TRANSAÇÃO PENAL E SEUS EFEITOS CIVIS1 Luís Paulo Sirvinskas Promotor de Justiça em São Paulo. Especialista em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - FADUSP e em Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público - ESMP. Professor Associado de Direito Ambiental na Universidade Cidade de São Paulo - UNICID e ex-Professor Adjunto de Legislação Tributária nas Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Mestrando em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP. 1. INTRÓITO A Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, criou o Juizado Especial Cível e Criminal e estabeleceu três aspectos de despenalização: a) composição dos danos civis (art. 74); b) transação penal (art. 76); e c) suspensão do processo (art. 89)2. Tais institutos têm aplicação na esfera dos Juizados Criminais com o objetivo de impedir o prosseguimento da ação penal. A composição civil dos danos extingue a punibilidade, através da renúncia do direito de queixa ou de representação, no crime de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública 1 Monografia apresentada no Curso de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado) na matéria “A Autonomia Privada e a Constituição” ministrada pelo Professor Dr. Renan Lotufo. Carlos Ernani Constantino. Transação penal - Suspensão Condicional do Processo - A Lei n. 9.099/95 e o Conceito de Bons e Maus Antecedentes. Porto Alegre, Revista Jurídica n. 255, p. 29. 2 130 condicionada à representação (crimes de lesões corporais dolosas leves, lesões corporais culposas, crime de ameaça etc.) (art. 74, par. único, da Lei n. 9.099/95). A composição civil, no entanto, na ação penal pública incondicionada não produz nenhum efeito na esfera penal. Tal fato impede a propositura de eventual ação na esfera civil, servindo como título executivo (art. 74 da Lei n. 9.099/95). Referida lei, como pode-se ver, privilegiou a composição dos danos como fator determinante para extinção da punibilidade na ação penal pública condicionada à representação (art. 74, par. único, da Lei n. 9.099/95). Também exigiu como requisito principal a reparação do dano para a concessão da suspensão do processo ou a sua revogação em caso de descumprimento (art. 89, I e par. 3°, da Lei n. 9.099/95). Admitir-se-á a transação penal nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial (art. 61, da Lei n. 9.099/95). Assim, não sendo caso de arquivamento e havendo representação por pane da vítima, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de “pena” restritiva de direitos ou multas, a ser especifica da na proposta (art. 76 da Lei n. 9.099/95). A pena restritiva de direitos se consubstancia na prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana (art. 43 do CP). A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (art. 45, par. 1o., do CP)3. Vê-se, pois, que a pena não pode ser superior a um ano. Trata-se de requisito objetivo. Além disso, o autor da infração deverá preencher os seguintes requisitos objetivos: a) não ter sido condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva (art. 76, par. 2o., I, da Lei n. 9.099/95); b) não ter sido beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo (art. 76, par. 2º., II, da Lei n. 9.099/95); e c) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida (art. 76, par. 2º., III, da Lei n. 9.099/95). Na hipótese de o infrator estar sendo processado por outro crime, não impede o benefício da transação penal ou da suspensão do processo (art. 89, da Lei n. 9.099195). É possível que, naquele outro processo, o infrator venha a ser absolvido. Tal fato impediria o benefício previsto 3 Estes dispositivos foram alterados pela Lei n. 9.714, de 25 de novembro de 1998. 131 na Lei n. 9.099/95. Caso contrário, estar-se-ia deixando de aplicar o princípio da inocência previsto no art. 5o., LVII, da CF (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória). Há várias decisões nesse sentido (RJDTACrimSP n. 31/170-1; RJDTACrimSP n. 32/409-10). Admite-se também a concessão da transação se o infrator foi condenado anteriormente a pena exclusivamente pecuniária (RJDTACrimSP n. 311/70). Não se pode, por essa razão, afirmar que o infrator possui maus antecedentes simplesmente por estar sendo processado por outro crime ou ter sido condenado anteriormente a pena de multa. Para a concessão da suspensão do processo, é necessário que a pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público poderá propor a suspensão do processo por dois a quatro anos, logo após o oferecimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos legais (objetivos e subjetivos) (art. 89 da Lei n. 9.099/95). Este estudo tem por finalidade demonstrar a presença da autonomia privada na transação penal. A transação penal foi criada pelo art. 76 da Lei n. 9.099/95 que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Trata-se de uma composição entre o Ministério Publico e o autor da infração ou o seu defensor. Em havendo consenso, o acordo será submetido à apreciação do juiz, o qual, verificando a presença dos pressupostos legais, proferirá uma decisão homologatória da transação. Esta decisão homologatória não gera condenação, nem reincidência, não há o lançamento do nome do autor da infração no rol dos culpados, não causa efeitos civis e nem maus antecedentes. A transação é o ato ou efeito de transigir, negociar, contratar, ajustar, acordar. A transação penal é uma forma consensual de resolver questões criminais e, muitas das vezes, cíveis, respeitando a autonomia da vontade das partes. Tais questões são discutidas entre as partes sob a presidência do juiz e a fiscalização do promotor de justiça, resolvendo, ao mesmo tempo, a questão penal e civil, evitando-se a propositura de ação para o ressarcimento dos danos. Antes de adentrarmos na análise da questão da transação penal, se faz indispensável tecer alguns comentários a respeito da autonomia privada e suas limitações na esfera penal e civil. 2. AUTONOMIA PRIVADA A autonomia privada é o poder de auto-regular os interesses de ordem patrimonial ou extrapatrimonial entre as partes na elaboração de um contrato no que tange a sua forma de criação, modificação ou extinção, limitada, tão-somente, pelas normas jurídicas (CDC, por exemplo), pela moral (ética, por exemplo) e pela ordem pública (bons costumes, por exemplo). Abrange na autonomia privada a liberdade de contratar, a liberdade de escolher seus contratantes e a liberdade de determinar o conteúdo desse contrato. 132 No dizer de Joelma Ticianelli a “autonomia privada é a expressão máxima do negócio jurídico, através do qual se cria, modifica e extingue as relações jurídicas”4. O negócio jurídico permite a criação de normas jurídicas5. É a possibilidade que o indivíduo tem de poder determinar sua vontade6. Assim, a liberdade negocial está adstrita a liberdade individual. Essa liberdade é tolhida se houver submissão de uma das partes à vontade da outra, razão pela qual, se isso ocorrer, as cláusulas excessivamente onerosas poderão ser modificadas ou alteradas se em desacordo com as normas legais, a moral ou ordem pública, aplicando-se, neste caso, o Código de Defesa do Consumidor que é expressão máxima da proteção do consumidor face ao poderio econômico. A autonomia privada, por sua vez, não se confunde com a iniciativa privada. Esta se restringe as questões patrimoniais e a autonomia privada poderá abranger questões extrapatrimoniais. O negócio jurídico é menos abrangente do que a autonomia privada. O indivíduo poderá criar regras que valem entre as partes, limitadas, no entanto, pelas normas gerais do ordenamento jurídico. Também não se confunde com a autonomia da vontade que está relacionada com a formação do ato, enquanto a autonomia privada está consubstanciada na possibilidade de o contratante criar normas jurídicas. Assim, a vontade expressada no contrato é pressuposto de validade do negócio jurídico. A autonomia privada está presente na transação penal. Não é uma autonomia plena7, pois há que se respeitar os requisitos legais (objetivos e subjetivos)8. Trata-se de um negócio jurídico 4 Limites objetivos e subjetivos do negócio juridico na Constituição Federal de 1988. In Direito Civil Constitucional, Coord. Prof. Dr. Renan Lotufo. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 40. Ana Prata. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra, Portugal. Livraria A1medina, 1982, p. 16. 6 Luis Diez-Pocazo e Antonio Gullón conceituam autonomia privada com sendo “el poder conferido a la persona por el ordenamiento juridico para que gobierne sus propios intereses o atienda a la satisfacción de sus necesidades” (Sistema de Derecbo Civil. Madrid, Espanha, Editorial Temos S. A. 1994, vol. 1, p. 480). 7 Júlio Fabbrini Mirabete afirma que a iniciativa da proposta ministerial “decorrente do princípio da oportunidade da propositura da ação, é hipótese de discricionariedade limitada, ou regrada, cabendo ao Ministério Público a 1tuação discricionária de fazer a proposta, nos casos em que a lei o permite, de exercitar o direito subjetivo de punir do Estado com a aplicação de pena não privativa de liberdade nas infrações penais de menor potencial ofensivo sem denúncia e instauração de processo. Essa discricionariedade é a atribuição pelo ordenamento jurídico de uma margem de escolha ao Ministério Público, que poderá deixar de exigir a prestação jurisdicional para a concretização do ius puniendi do Estado. Trata-se de opção válida por estar adequada à legalidade, no denominado espaço de consenso, vinculado à pequena e média criminalidade, e ao espaço de conflito, referen'e à criminalidade grave.” Juizado Especiais Criminais - Comentários jurisprudência Legislação. São Paulo: Atlas, 3a. Ed., 1998, p. 84). 8 Maurício Antonio Ribeiro Lopes afirma que a “formulação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade não está ao talante exclusivo do Promotor de justiça como se fosse soberano da discricionaridade. Em matéria de atos em que importem no reconhecimento de direito à liberdade,-num Estado Democrático de Direito Material, há de se entender como eleição em nível de direito subjetivo o que adquire, por vezes, na lei, caráter meramente facultativo. Foi assim com a suspensão condicional da pena, será assim com a transação e com a suspensão condicional do processo. Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos, o argüido torna-se titular de um direito subjetivo à obtenção da transação, como também da suspensão do processo. Assim, silente o representante do Ministério Público que, ao invés de fazer a proposta, formula a denúncia oral, pode o juiz, antes mesmo da audiência para a instrução, debates e julgamento, quando se dará opor tunidade à defesa para manifestar-se quanto ao recebimento ou não da peça acusatória, não acolher a denúncia oferecida por entender ser caso de oferecimento de proposta de transação”. Continua o autor mais adiante: “Não tendo dúvidas de que esteja o juiz autorizado a assim proceder Não pode, contudo, aplicar ex officio pena privativa de liberdade, devendo submeter sua desconformidade, por analogia ao disposto no art. 28 do CPP, ao Procurador-Geral de justiça, Isso porque não se trata formalmente de rejeição de denúncia por descompasso com os requisitos do art, 41 daquele diploma, o que deixaria sem recurso o Promotor d justiça, salvo se se partisse para a apelação prevista no art, 76, par 50., embora ali se 5 133 extrapatrimonial consubstanciado em um ato de vontade, firmado pelas partes, ou seja, Ministério Público e autor da infração, visando solucionar uma questão civil e criminal. O Ministério Público abre mão do seu poder-dever de oferecer a denúncia e, em contraprestação, o autor aceita a proposta ministerial de se submeter a uma “pena” não privativa de liberdade. Tal “pena” poderá ser a prestação de serviços à comunidade, entrega de cestas básicas às entidades de caridade, limpeza do local pelo pichador, pagamento de multa, pagamento de indenização diretamente à vítima, reparação dos danos causados etc. O autor da infração tem liberdade de aceitar ou não a proposta ministerial (negócio jurídico extrapatrimonial). Ele não está obrigado a aceitar a proposta ministerial. Contudo, sua liberdade é delimitada pelas circunstâncias do fato delituoso e pela lei9. Todavia, caso o autor não aceite a proposta, o processo prosseguirá até final decisão condenatória ou absolutória. A aceitação estará adstrita ao fato da viabilidade ou não de futura condenação. Assim, o autor verificando a possibilidade de eventual e futura condenação poderá optar pela aceitação da proposta. Às vezes, o autor, para se ver livre do transtorno do processo, aceita a proposta mesmo havendo a possibilidade de futura absolvição. Ele é livre em sua autonomia para decidir qual o caminho que deseja seguir. Ressalte-se que a proposta poderá ser discutida e analisada, podendo o autor questionar ou apresentar contra-proposta que não aquela apresentada pelo Ministério Público. Uma vez aceita e homologada a transação, seus termos passa a valer como lei entre as partes, não podendo ser descumprida. 3. TRANSAÇÃO COMO NEGÓCIO JURÍDICO EXTRAPATRIMONIAL A base fundamental do negócio jurídico é a liberdade de contratar, escolher seu contratante e definir o conteúdo do contrato. Trata-se de um poder conferido pelo ordenamento jurídico a um indivíduo que pretende reger suas próprias ações através de um entendimento comum10. Assim, a autonomia privada se exterioriza na liberdade de negociar, mas, para tanto, é necessário buscar fundamentação nos princípios gerais e na teoria dos atos jurídicos. É no contrato que a autonomia privada encontra sua expressão máxima em razão da sua natureza de negócio patrimonial (arts. 1079 ss. do CC). diga que tal recurso caberá contra a decisão que acolher a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração” (Comentários à Lei dos juizados Cíveis e Criminais. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, 2a. Ed., p. 498/499). O STF decidiu que a recusa do promotor de justiça em propor a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) “deve ser submetida ao Procurador- Geral de justiça, por aplicação analógica, no que couber; do art. 28 do CPP Precedente do Supremo Tribunal: RE 75343, T Pleno, Sessão de 12.11.97” (STF, HC n, 76.439-3, São Paulo, Ia, Turma, Rel. Octavio Gallotti, v. u. 12.05.1998). 9 Caio Mário da Silva Pereira ressalta que não “há transação por força de lei, nem é possível atuação judicial espontânea” (Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro, Forense, Vol.II, Teoria Geral de Obrigações, 5a. Ed., 1978, p. 220). 10 Pietro Perlingieri. Perfis do Direito Civil- Introdução ao Direito Civil Constitucional, traduzido por Maria Cristina De Cicco. São Paulo, Ed, Renovar, 1994, p. 17. 134 No entanto, a transação encontra fundamento, entre nós, no direito das obrigações (arts. 1025 a 1036 do CC). A transação é uma forma de solução de litígio mediante concessões mútuas. A transação, como se vê, só se permite quanto a direitos patrimoniais de caráter privado (art. 1035 do CC). O negócio jurídico não se restringe somente a questões puramente patrimoniais, mas também a matéria extrapatrimonial. É na constituição Federal que se buscará a sua fundamentação. Fábio Henrique Podestá sustenta que o art. 1033 do CC foi parcialmente revogado pelo art. 74, par. único da Lei n. 9.099/9511. A transação penal é uma modalidade de negócio jurídico12 extrapatrimonial. O indivíduo que cometeu uma infração penal poderá negociar sua liberdade através de uma pena não privativa de liberdade mediante um acordo livremente firmado com o promotor de justiça. De um lado, temos a liberdade do infrator assinalada como bem fundamental da pessoa humana (art. 5o., da CF) e, de outro, o poder-dever do promotor de justiça de promover a ação penal pública previsto constitucionalmente (art. 129, I, da CF). São dois direitos considerados indisponíveis e inegociáveis. São dois direitos contrapostos extrapatrimoniais que a constituição expressamente permitiu a sua disponibilidade por meio da transação (art. 98, I, da CF). Os atos de autonomia têm diversas origens e encontram fundamentos na necessidade de serem dirigidos à realização de interesses e funções que merecem tutela social. Mas essa necessidade social não pode contrariar a segurança, a liberdade e a dignidade humana13. Estes limites são as razões prementes para a existência válida no mundo jurídico da autonomia privada. A transação penal tem natureza civil ou penal? No nosso entender, a transação tem natureza 14 civil , a despeito de entendimento contrário15. O fato de o instituto em contrar-se previsto em lei que disciplina matéria penal não lhe tira sua natureza civil16. Tanto é verdade que o instituto teve 11 Fábio Henrique Podestá afirma “que diante da importância conferida pelo legislador referente a hipóteses da composição dos danos civis que diretamente produz efeitos na esfera penal, o art. 1033 do CC encontra-se revogado parcialmente pelo art. 74, par. único, da Lei n. 9.099/95, situação para a qual não houve previsão expressa pelo al1. 97 da referida lei, a qual se limitou a revogar a Lei n. 4. 611/65, que cuidava da apuração dos crimes culposos e já estava revogada tacitamente diante da abolição da instauração do processo por Portaria do delegado de Polícia e do juiz nos precisos termos do art. 129, I, da CF, e da Lei n. 7.244/84 que tratava da criação e do funcionamento do juizado Especial de Pequenas Causas” (O art. 1.033 do Cód. Civil e a Lei n. 9.099/95. São Paulo, Tribuna da Magistratura, outubro/96, p. 94). 12 Caio Mário da Silva Pereira afirma que a “transação é uma especial modalidade de negócio jurídico, que se aproxima do contrato na sua constituição, e do pagamento no seus efeitos” (Instituições de Direito Civil. Ob. cit., p. 220). 13 Pietro Perlingieri. Ob. cit., p. 19. 14 Antonio Carlos Santoro Filho sustenta que a “transação penal instituída pela Lei n. 9.099/95 possui a natureza de negócio jurídico civil, firmado entre o Ministério Público e o autor do fato, e que as 'penas' de multa e restritivas de direitos, estabelecidas por força desse negócio jurídico, nada mais são do que as prestações assumidas pelo autor do fato” (A natureza jurídica da Transação Penal. São Paulo, Tribuna da Magistratura, mai/96, p. 11). Nesse mesmo sentido é a posição de Fábio Henrique Podestá ao sustentar a revogação parcial do art. 1.033 do CC pelo art. 74 da Lei n. 9.099/95 (O art. 1.033 do Cód. Civil e a Lei n. 9.099/95. Ob. cit., p. 94). 15 Maurício Antonio Ribeiro Lopes, ao comentar sobre a natureza jurídica da transação penal, afirma que “Ada Pelegrini Grinover e seus colaboradores, ao assentarem que as nornas do art. 76 têm natureza predominantemente penal, assim aplica-se retroativamente até o limite da coisa julgada colhendo todos os casos em andamento. Sobre esta cláusula, aduzem ainda que, juntamente com o acordo civil extintivo da punibilidade (art. 75, parágrafo único), a transação penal do art. 76 é medida pré-processual, anterior ao oferecimento da denúncia” (Ob. cit, 506). 16 Eduardo Araújo da Silva, em sua preciosa monografia, afirma que: “Na essência, a transação regulada pelo legislador civil não difere daquela disciplinada na área penal, pois ambas possuem natureza de negócio e dependem da vontade da partes. A diferença está no objeto da transação, pois enquanto no Direito Civil busca-se um acordo sobre direitos e 135 origem e fundamento nas normas previstas no Código Civil, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, no que couber. Além disso, há forte influência da doutrina civilística, como por exemplo, a autonomia privada, a teoria da vontade, negócio jurídico, etc. Muitas vezes a doutrina penal tem de pedir socorro ao Direito Civil. Registre-se, ademais, que a “doutrina enfrenta sérias dificuldades na interpretação de textos legais imprecisos e, muitas vezes, contraditórios. O julgador acompanha tendências do momento e a jurisprudência não consolida temas controvertidos”17. Registre-se, por fim, que Antonio Carlos Santoro Filho sustenta que a “transação penal, portanto, nada mais é do que a realização de negócio jurídico civil entre o Ministério Público, como representado na sociedade, e o autor do fato, o que, após homologação por sentença tornase título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III do Código de Processo Civil”18. Este mesmo autor não admite, por outro lado, o prosseguimento do feito em caso de descumprimento da obrigação assumida pelo autor. Tal negócio jurídico deverá ser executado no juízo civil com fundamento no art. 646 e ss. do CPC (quando se tratar de execução por quantia certa - multa) ou com fulcro no art. 632 e ss. do CPP (quando se tratar de obrigação de fazer ou não fazer - restritivas de direitos). Ousamos discordar do ilustre articulista, pois, em havendo cláusula resolutória de descumprimento do acordo, é possível a desconstituição da transação e o prosseguimento do feito19. Deve-se, no nosso entender, prevalecer a autonomia privada. 4. TRANSAÇÃO PENAL 4.1. A transação penal na Lei n. 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais) Os juizados especiais cíveis e criminais foram criados tendo-se em vista a necessidade de uma prestação jurisdicional célere, respeitando os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (art. 20 da Lei no. 9099/95). A transação penal encontra-se disciplinada no artigo 76 da Lei no. 9.099/95. Reza citado dispositivo: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública interesses privados, no campo penal transaciona-se, em última análise, sobre a liberdade do individuo, impondo-se por conseqüência a observância das garantias processuais constitucionais” (Ação Penal Pública - Princípio da Oportunidade Regrada. São Paulo: Atlas, 1999, p. 108). 17 Sérgio de Oliveira Médici. Penalistas Pedem Socorro ao Direito Civil. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 73, Dez/98, p. 6. 18 Antonio Carlos Santoro Filho, A natureza jurídica da Transação Penal. Ob. cit., p. 11. 19 Caio Mário da Silva Pereira admite no “negócio jurídico bilateral, e em razão de criar obrigações para os transigentes deve comportar a faculdade de resolução por inadimplemento, não parecendo que se possa invocar o Direito romano em sentido contrário, nem a analogia com os efeitos da coisa julgada. Uma vez falte um dos transatores com o que se obrigou, é perfeitamente cabível o ataque sob tal fundamento, se tiver sido estipulada a c1áusula resolutória; não se pode, em falta de ajuste, pleitear sua resolução por inadimplemento se a obrigação preexistente houver sido novada” (Anteprojeto de Cód. De Obrigações, art. 819; Projeto, art. 830) (Instituições de Direito Civil. Ob. cit., p. 227). 136 incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta”. Trata-se de um instituto novo que se assemelha ao plea bargaining norte-americano20, o qual permite a aplicação imediata da “pena” (restritiva de direitos ou multas). Assim, o Ministério Público, a defesa e o autor da infração discutem qual a melhor medida a ser aplicada ao caso em espécie. Havendo consenso, a decisão é homologada pelo juiz. Referida lei inseriu em nosso ordenamento criminal o sistema consensual de solução de litígios criminais. No dizer do Prof. Damásio E. de Jesus, o autor da infração renuncia a certas garantias constitucionais “em prol de satisfazer outros interesses pessoas, como, v.g., o de não sofrer o constrangimento de um processo penal em virtude da prática de uma infração penal de pouca monta”21. Ou seja, havendo representação por parte da vítima e não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público, o autor e seu defensor ajustam, de comum acordo, uma medida adequada para o caso sub judice sem se adentrar no mérito da questão. Pode ser uma “pena” restritiva de direitos ou multas, não se admitindo a aplicação de pena privativa de liberdade (art. 72 da Lei no. 9.099/95). Por outro lado, a “pena” restritiva de direitos se desdobra em: a) prestação pecuniária; b) perda de bens e valores c) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas; d) interdição temporária de direitos; e e) limitação de fim de semana (art. 43 do CP). Inserem-se, nestas medidas, a prestação pecuniária diretamente à vítima (art. 45, par. 1º, do CP), a entrega de cestas básicas à entidades de caridade previamente cadastradas no juízo, a obrigatoriedade de assistir palestras na Associação dos Alcoólatras Anônimos, a obrigatoriedade em se submeter a tratamento em entidades governamentais de desintoxicação por drogas, a obrigatoriedade de prestar serviços, dentro de sua especialidade, em órgãos públicos ou em entidades que exercem a filantropia, ao pagamento de multas etc. O legislador se utilizou da palavra “pena”, em alguns dispositivos, dando a entender tratarse de uma sanção de natureza penal, advindo daí as conseqüências inerentes de uma sentença condenatória propriamente dita. Não é verdade, pois todos os efeitos foram afastados expressamente pela Lei em questão. Entendo que a sanção tem natureza especial e não penal. Tanto é verdade que o Prof. Damásio E. de Jesus, ao analisar a natureza jurídica da transação, disse que a “aceitação da proposta de aplicação de pena menos grave, constitui forma de despenalização”22. Ou seja, não se trata de sanção penal propriamente dita. Na realidade, não há processo penal em seu sentido estrito. Não há observância do due process of law e nem das 20 Paulo Lúcio Nogueira ressalta que o “instituto da barganha, que é aplicável a qualquer delito, pode haver contraproposta do defensor, e até ampla 'transação' sobre a conduta, os fatos, a adequação típica, assim como a respeito da pena a ser aplicada. A barganha pode ser feita fora da audiência, enquanto a transação só é feita na audiência” (juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 90). 21 Damásio E. Jesus. Instituição do Juizados Especiais Criminais no Brasil e sua influência na aplicação das penas alternativas. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 45, Agol96. p. 02. 22 Damásio E. de Jesus. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 62. 137 garantias inerentes previstas na Constituição Federal. Conseqüentemente, não há pena a ser aplicada. Cuida-se de uma medida judicial sem conseqüência penal. No processo comum, como é sabido, a relação processual se forma somente em juízo com O recebimento da denúncia, formando-se a relação processual com a citação do réu para interrogatório. No juizado especial criminal, a relação se forma com a simples comunicação da notitia criminis à autoridade policial. Uma vez lavrado o termo circunstanciado, o mesmo é remetido ao órgão do Ministério Público, o qual, verificando que não é caso de arquivamento e havendo a formalização da representação, requererá a designação de audiência preliminar, intimando-se o autor da infração e do seu defensor e, se for o caso, da vítima, oportunidade em que se fará a proposta de aplicação imediata da medida. Até então, no dizer de Cláudio Antônio Soares Levada, não “há denúncia, não há colheita de provas (no que este instituto difere da probation norte-americana, por exemplo), não há confissão ou reconhecimento de culpa, que em nenhum lugar está indicado no caput do artigo 76 ou em seus parágrafos)”23. E mais: não sendo caso de arquivamento e havendo a formalização da representação, passa-se a fase da transação penal. Não aceita a proposta, o Órgão do Ministério Público oferece, de imediato, a denúncia oral, formando-se, aí sim, a relação processual. Tudo o que ocorreu antes está dentro da fase preliminar não processual. Ademais, aceita a proposta não mais se discute a culpa do autor da infração. A decisão que homologa o acordo deixa consignado que, uma vez aceita a proposta, não significa que o autor está assumindo a culpa pelo fato. Às vezes o autor da infração aceita a proposta apenas para se ver livre do processo, mesmo tendo a convicção de não ter praticado a infração penal. Aceita a proposta, o autor da infração poderá buscar o ressarcimento dos danos, se o caso, na esfera cível. Vê-se, pois, que o autor, ao aceitar a proposta, não está assumindo a culpa. E se o agente se arrepender da transação, não poderá, posteriormente, voltar atrás com o intuito de provar sua inocência? Basta o autor da infração deixar de cumprir a pena aplicada para o feito prosseguir até final decisão. Prevendo-se a possibilidade do arrependimento ou do descumprimento da transação, as decisões proferidas na Primeira Vara Criminal da Penha deixa consignado que o autor, ao aceitar a proposta, não está assumindo a culpa pelo fato e, o não-cumprimento do acordo, importa em prosseguimento do feito (cláusula resolutória). 4.2 A transação penal na Lei n. 9.605/98 (Lei Ambiental) Todos os crimes tipificados na lei ambiental são de ação penal pública incondicionada (art. 26 da LA), cuja iniciativa é do Ministério Público (art. 129, I, da CF). Não se admite mais a 23 Cláudio Antonio Soares Levada. A sentença do artigo 76, da Lei n. 9.099/95, é declaratória. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 35, nov./95, p. 3. 138 iniciativa da ação penal pela autoridade policial, consoante se verifica no art. 33 do Código Florestal e art. 32 da Lei de Proteção à Fauna. Denomina-se de procedimento judicialiforme. Permite-se, contudo, em caso de omissão do Ministério Público utilizar-se da ação penal subsidiária (art. 5°, LIX, da CF, art. 29, do CPP e art. 100, par. 3°, do CP). Os requisitos previstos na Lei n. 9.099/95 aplicam-se plenamente às hipóteses da Lei n. 9.605/98. Esta lei exige, como pré-requisito, à prévia composição do dano ambiental nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/95, salvo no caso de comprovada impossibilidade (art. 27, da 9.605/98). Assim, a reparação do dano ambiental (arts. 27 e 28 da LA) e a composição do dano (art. 74 da Lei n. 9.099/95) têm por escopo restaurar ou recompor o dano causado ao meio ambiente. Procura-se fazer com que o infrator restaure, às suas expensas, a coisa danificada ou destruída, quando possível, ou transforme em pecúnia o valor correspondente. A reparação tem cunho repressivo e educativo. Trata-se de prevenção geral (exemplo dirigido a toda sociedade) e prevenção especial (exemplo dirigido ao próprio agente). Tanto é verdade que para que o infrator possa se beneficiar da composição do dano (art. 74 da Lei n. 9.099/95), da transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099195) e da suspensão do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) deverá comprovar previamente a reparação dos danos causados ao meio ambiente (arts. 27 e 28 da LA). Pergunta-se: essa reparação do dano deve ser efetivada antes da proposta transação penal ou está condicionada à prévia composição do dano para a proposta ministerial? À semelhança do que dispõe a Lei n. 9.099/95, a composição do dano, uma vez homologada pelo juiz, poderá ser executada no juízo cível se o autor da infração descumpri-la, desde que não haja determinação em contrário acenada pelas partes na transação. É possível que as partes estipulem cláusula resolutória, ou seja, em caso de descumprimento da transação o feito prosseguirá até final decisão, observando-se a autonomia privada. Assim, o acordo entre as partes será formalizado e o seu cumprimento se dará a posteriori. No entanto, “se as partes não compuserem o dano ambiental, isto é, se não chegarem a um denominador comum sobre a forma, meios e condições de reparar o dano, não se poderá transigir quanto à sanção criminal. A forma de executar a composição poderá, inclusive, ser objeto da própria composição, através de cláusulas a serem cumpridas”24. Enfim, se eventualmente o autor da infração conseguir comprovar sua impossibilidade em reparar o dano pela insolvência ou qualquer outro motivo, poderá, excepcionalmente, se beneficiar da transação penal, nos termos do ano 27 da Lei 9.605/98. 24 Cezar Roberto Bitencourt, Transação e Suspensão do Processo à Luz da Lei n. 9.605/98. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 73, Dez/98, p. 4/5. 139 4.3. Natureza jurídica da decisão homologatória da transação penal. Discute-se: qual a natureza jurídica da decisão homologatória da transação penal? É condenatória ou meramente declaratória. Dependendo da resposta, as conseqüências seriam diversas. Se condenatória os efeitos são os mesmos de qualquer decisão definitiva. Se declaratória não haverá conseqüência penal alguma. No primeiro caso, a sentença tem eficácia de título executivo. No segundo, a decisão não gera efeitos civis e, por via de conseqüência, não tem força de título executivo. Entendo que a decisão que homologa a transação penal é meramente declaratória e não condenatória. A decisão meramente declaratória não pode ser executada, pois haveria a possibilidade de se discutir o mérito da medida aplicada. Cláudio Antônio Soares Levada sustenta que a decisão é declaratória, acrescentando ainda que “não tendo havido processo penal regularmente instaurado, e não gerando a sentença a ser proferida efeito algum típico de condenação (reincidência ou título executívo na esfera civi!), tem-se que não há lesão alguma ao due process of law, não havendo de se falar; igualmente em assunção de culpa por parte do agente, mas apenas em uma sanção consentida, por um critério de conveniência e oportunidade inaugurado pela recente lei e que escapa à análise da doutrina e jurisprudência tradicionais, que deverão, doravante, ter em mente o princípio da disponibilidade também no processo penal para as causas que se enquadrem na Lei n. 9.099195, e que o consagram”25. Aqueles que entendem que a decisão homologatória é condenatória se baseiam· na denominação “pena” contida no caput do artigo 76 da Lei no. 9.099/95, porém sem as conseqüências penais de uma decisão propriamente dita26. E se o autor da infração não aceitar a proposta do Órgão ministerial, este oferece denúncia e, ao final, ele é condenado. Essa decisão não seria condenatória? Não produziria todos os efeitos penais? 25 Cláudio Antonio Soares Levada. Ob. cit., p. 3. Júlio Fabbrini Mirabete entende que “a sentença homologatál1à da transação tem caráter condenatório e não é simplesmente homologatória, como muitas vezes se tem afirmado. Declara a situação do autor do fato, tornando certo o que era incerto, mas cria uma situação jurídica ainda não existente e impõe uma sanção penal ao autor do fato. Essa imposição, que faz a diferença entre a sentença constitutiva e a condenatória, que se basta a si mesma, na medida em que transforma uma situação jurídica, ensejará um processo autônomo de execução, que pelo juizado, quer pelo Juiz da Execução, na hipótese de pena restritiva de direitos. Tem efeitos processuais e materiais, realizando a coisa julgada formal e material e impedindo a instauração de ação penal. É certo, porém, que a sentença não reconhece a culpabilidade do agente nem produz os demais efeitos da sentença condenatória comum (itens 19.4.1. a 19.4,3). Trata-se, pois, de uma sentença condenatória imprópria.” (Ob. cit., p.95) 26 140 Antonio Magalhães Gomes Filho, por seu turno, entende que a decisão homologatória da transação penal não é nem condenatória e nem tampouco absolutória, mas uma sentença homologatória de transação, fundamentada no art. 584, III, do CPC. Nesse mesmo sentido é o voto do Ministro Marco Aurélio, em Habeas Corpus n. 79572-GO. Tal decisão fará coisa julgada material, impedindo a sua discussão na hipótese de não cumprimento das cláusulas resultante do consenso entre as partes27. 4.4. Execução da transação penal. Com a transação penal, o autor da infração se vê livre do eventual processo, cabendo, da decisão homologatória da transação, apelação (art. 76, par. 5°, da citada Lei). Cabe apelação, sim, contra a decisão que homologa a transação e não do acordo propriamente dito, exceto se ausentes os pressupostos legais. Desse modo, o autor da infração, ao verificar que as provas lhe são desfavoráveis, aceita a transação penal e, posteriormente, deixa de cumpri-la, pois a decisão não poderá ser mais revista para o prosseguimento do feito. Ora, para que serve, então, a transação penal? Apenas para o autor se ver livre do eventual processo? E mais: como se explica ainda o art. 85 da citada Lei que permite a conversão da multa não paga em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, nos termos legais. Ressalte-se, contudo, que a Lei no. 9.268/96 alterou o artigo 51 do CP e, por sua vez, modificou o artigo 85 da Lei no. 9.099/95, impedindo a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, mas permitiu a conversão da pena de multa em restritiva de direito. Não estaria, aí, ocorrendo a modificação da decisão homologatória? Claro que sim. Tal decisão não faz coisa julgada material, mas somente coisa julgada formal28. Portanto, não poderia constituir um título executivo penal. Isso vem expresso no artigo 76, parágrafo 6°, da dita Lei. Se assim fosse, este título poderia ser objeto de questionamento na esfera cível, podendo, inclusive, ser anulado por não ter sido originado de uma decisão condenatória propriamente dita, nos termos do artigo 63 do CPP. E, através de embargos à execução, poder-se-ia discutir quanto da origem do título executivo. Somente na hipótese de composição dos danos civis é que a decisão homologatória constituiria título executivo a ser executado no juízo civil competente (art. 74, da Lei no. 9.099/95). Não se aplica a Seção IV (Da execução). Tal instituto se aplica somente se houver condenação penal definitiva, com a observância do due process of law. Não fosse assim, o legislador não teria inserido no parágrafo 6°, do art. 76, da citada Lei, a ressalva de que a 27 Juizados Especiais Criminais (Anotações resumidas sobre a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995). São Paulo: Revista do Advogado n. 50, Ago/97, p. 51. Vide decisão do TACrimSP, 1a., Câm., Ap. 1.072.105/8-São Paulo, rel. Juiz Damião Cogan, j. 9.10.1997, v. u.), entendendo tratar-se de coisa julgada formal e não material a decisão homologatória da transação penal. 28 141 transação não teria efeitos civis. Também não teria esclarecido que, a composição dos danos, devidamente homologada, teria eficácia de título executivo (art. 74 caput da Lei no. 9.099/95). Há duas situações distintas: uma é a composição dos danos nas ações penas públicas incondicionadas prevista no caput do art. 74 da Lei n. 9.099/95, a qual terá eficácia de título executivo e outra é a composição dos danos nas ações penais públicas condicionadas à representação ou de iniciativa privada, a qual acarretará a renúncia ao direito de queixa ou de representação prevista no par. único do art. 74 da Lei n. 9.099/95. Neste último caso, a lei não fala que a composição terá eficácia de título executivo. Contudo, é muito comum a vítima renunciar ao seu direito de representação por conta da composição. Não seria essa a intenção da vítima se não houvesse à disposição da composição dos danos. A vítima, por seu turno, se sentiria traída com o descumprimento do acordo, restando, neste caso, uma única alternativa que é a propositura da ação executiva. Tal medida oneraria ainda mais a situação econômica da vítima sem qualquer perspectiva de sucesso em sua empreitada judicial. O Juizado Especial Cível e Criminal que se pretendia célere, passa, nesta fase, à vala comum. Indaga-se: a execução das medidas aplicadas na transação penal deve seguir as regras da Lei de Execução Penal ou da Seção IV desta Lei? Entendo que a transação é inexeqüível pelos modelos clássicos, pois os critérios norteadores da Lei se pautou na celeridade, oralidade, simplicidade, informalidade e na economia processual. Registre-se também que as medidas aplicáveis nos juizados especiais criminais têm caráter repressivo mínimo e educativo. Ora, se o autor da infração não cumpre a transação por ele mesmo aceita, deve o feito prosseguir e não executá-la através de processo executivo ordinário. Com tal atitude, o autor da infração demonstrou não ser merecedor do benefício, o qual poderia ficar impune, caso haja questionamento do título executivo. Ainda: como se obrigar o autor da infração prestar serviços à comunidade ou obrigá-lo a se submeter ao tratamento de desintoxicação ou assistir a palestras na Associação dos Alcoólicos Anônimos ou entregar cestas básicas a uma entidade de caridade29 etc. Cuidam-se de “penas” restritivas de direitos ou multas sem nenhuma força coativa? 29 Messias José Lourenço destaca com muita propriedade o fato de que em “São Paulo, entidades como a Casa Transitória e a Bezerra de Menezes podem servir de exemplos para demonstrar que é possível - e legal - ajudar o semelhante sem qualquer pretensão eleitoreira. Há, efetivamente, uma diminuição do sofrimento humano - e essa constatação, por si só, já justifica qualquer crítica eventualmente destinada à iniciativa em tela. Ademais, referido procedimento também encontra amparo legal na autonomia da vontade das partes” (Juizados Especiais Criminais - Observações Práticas. São Paulo: Revista Justiça & Democracia, Revista dos Tribunais, jul-dez/96, p. 273). Este autor esclarece que não só cestas básicas de alimentos podem ser objeto de transação, mas também cestas básicas de remédios. Assim, doenças “como a aids, por exemplo, trazem inúmeras outras moléstias. O Estado, em geral fornece às instituições beneficientes apenas o coquetel contra a aids, os demais remédios - muitos deles encontrados em qualquer farmácia - podem perfeitamente compor uma cesta básica. Recentemente, a Casa Siloé, entidade mantida por uma Paróquia na Capital de São Paulo, que atende criança portadoras do vírus HIV, apresentou uma lista de remédios que podem ser adquiridos em qualquer farmácia. Entre eles, havia pomadas, mutivitamínicos, algodão e luvas descartáveis. Tais produtos podem perfeitamente compor uma cesta básica de remédios” (Juizados Especiais Criminais - Observações Práticas – Parte II. São Paulo, em vias de publicação da Revista do Supremo Tribunal Federal, 2000). 142 4.5. A autonomia da vontade e o descumprimento da transação penal. A autonomia da vontade consiste na formação do negócio jurídico. Este negócio se deu com a transação penal, onde as partes se compuseram consensualmente. Entendo que o nãocumprimento da transação penal é caso de prosseguimento do feito por todos estes motivos já elencados, especialmente porque se trata de uma decisão declaratória e não condenatória. Além disso, “o consenso implica necessariamente a convergência de vontades: de um lado, o Ministério Público deixa de exercer o poder-dever de instaurar a ação penal (com a exclusão do processo); e, de outro, o autor do fato aceita submeter-se a uma multa ou a algumas regras de conduta que, uma vez adimplidas, motivarão a extinção da punibilidade. Eventual descumprimento deverá resultar pura e simplesmente no oferecimento de denúncia ou a adoção de procedimento preparatório para tal desiderato (p. ex. requisição de inquérito policial ou diligências necessárias ao embasamento da denúncia), retornando-se ao statu quo ante”30. A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido do prosseguimento do feito na hipótese de descumprimento da transação penal pelo autor da infração, designando-se outro Promotor de Justiça para oferecer denúncia (Protocolado n. 7329/97 - Conflito de Atribuições - TC no. 174196, da 22º Vara Criminal da Capital). Ainda, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Ministro, Dr. Marco Aurélio, em magnífico voto em Habeas Corpus n. 79.572-GO31, deferiu o seguinte despacho concessivo de medida acauteladora, admitindo, inclusive, a possibilidade de prosseguimento do feito em caso de descumprimento da transação32; “EMENTA: HABEAS CORPUS LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO. 30 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly. Juizados Especiais Criminais. São Paulo: Aide, 1996, p. 65. O Prof. Damásio E. de Jesus sustenta que “a orientação da Suprema Corte não encontra amparo legal: inexiste dispositivo permitindo essa providência. O acórdão criou um caminho desconhecido do legislador” (Descumprimento da Pena Restritiva de Direitos na Transação Penal - Importante Acórdão do Supremo Tribunal Federal. Boletim do IBCCRIM, junho 2000, n. 91, p. 7). 32 Esta decisão tem por fundamento o enunciado 21, do 4° Encontro de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, realizado no Rio de Janeiro em 1988. Diz citado enunciado: “O inadimplemento do avençado na transação penal, pelo autor do fato, importa desconstituição do acordo e, após cientificação do interessado e seu defensor, determina a remessa dos autos ao Ministério Público”. 31 143 A legitimidade para a impetração do habeas corpus é abrangente, estando habilitado qualquer cidadão. Legitimidade de integrante do Ministério Público, presentes o múnus do qual investido, a busca da prevalência da ordem jurídico-constitucional e, ao fim, da verdade. TRANSAÇÃO - JUIZADOS ESPECIAIS - PENA RESTRITNA DE DIREITOS - CONVERSÃO - PENA PRNATNA DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE - DESCABIMENTO. A transformação automática da pena restritiva de direitos, decorrente de transação, em privativa do exercício da liberdade discrepa da garantia constitucional do devido processo legal. Impõe-se, uma vez descumprido o termo de transação, a declaração de insubsistência deste último, retornando-se ao estado anterior, dando-se oportunidade ao Ministério Público de vir a requerer a instauração de inquérito ou propor a ação penal, ofertando denúncia (g.n.)” (STF, Rel. Marco Aurélio, HC n. 79.572-GO)33. Sensível a esta discussão o Ministro Dr. Marco Aurélio proferiu esta decisão, seguindo o mesmo entendimento do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo (TA-CrimSP, 1ª Câm., Ap. 1.072.105/8-São Paulo, rel. Juiz Damião Cogan, j. 9.10.1997, v. u.). Caso não prevaleça essa posição, há outra alternativa jurídica ou prática para forçar o autor da infração cumprir a transação penal. Na esfera jurídica, através da interpretação sistemática, chega-se a conclusão de que a transação penal não terá efeitos civis. Portanto, não teria eficácia de título executivo. Assim, homologada a transação, intima-se o autor para cumpri-la dentro do prazo legal. Em não comparecendo, o juiz determina a sua condução coercitiva e, por fim, revoga-se a decisão homologatória ou torna prejudicada a transação penal, abrindo-se vistas ao Ministério Público para oferecer a denúncia. Trata-se de um verdadeiro negócio jurídico, representado pela autonomia privada. Tal fato permite as partes criar normas que devem ser cumpridas. Assim, caso o autor da infração descumpra o acordo e, havendo previsão no termo da transação, a ação penal prosseguirá com o oferecimento de denúncia. Outra hipótese prática, é aguardar, uma vez aceita a proposta, o cabal cumprimento pelo autor da infração. Cumprida a “pena”, homologa-se a transação penal e extingue-se a punibilidade em um único ato processual. 33 Este acórdão foi publicado no informativo do STF n. 180, de 15 de março de 2000 e no DOE-SP (Poder Executivo) de 21 de março de 2000, p. 18. 144 Vê-se, além disso, que o art. 60 da citada Lei diz que os Juizados Especiais Criminais têm competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações de menor potencial ofensivo. Como a citada Lei ainda não foi regulamentada uma alternativa jurídica ou prática para se fazer cumprir a transação penal homologatória pelo juízo competente. Essa alternativa poderia evitar a omissão legislativa, que bem poderia servir de inspiração ao nosso legislador no sentido de minimizar a impunidade que reina em nosso sistema penal34. “Melhor seria, a nosso ver, que a Lei tivesse condicionado a extinção da punibilidade não à homologação do acordo, mas ao seu efetivo cumprimento, evitando-se má fé do suposto autor do fato no momento da realização da composição, com o fim precípuo de eximir-se de virtual processo criminal”35. 5. EFEITOS CIVIS DA COMPOSIÇÃO E DA TRANSAÇÃO PENAL Levada a notitia criminis ao conhecimento da autoridade policial, lavrar-se-á o termo circunstanciado ou o boletim de ocorrência. Se se tratar de infração de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapasse a um ano, será lavrado o termo circunstanciado. No entanto, se a pena máxima for superior a um ano, lavrar-se-á o boletim de ocorrência que dará, se o caso, origem a um inquérito policial. Uma vez lavrado o termo circunstanciado, a autoridade encaminhará imediatamente ao juizado o autor da infração e a vítima ou tomará por termo o compromisso destes para apresentação espontânea, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Assim, comparecendo o autor e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. Na falta do comparecimento das partes, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil via postal ou por mandado de intimação. Na audiência preliminar, o autor do fato e a vítima, se possível o responsável civil, acompanhados dos respectivos advogados, na presença do órgão do Ministério Público, serão 34 Messias José Lourenço ressalta ainda que “o instituto tem se mostrado um instrumento poderoso para a impunidade. Isso porque, muitos autores de infração, conhecendo as conseqüências da Composição, 'aceitam' qualquer tipo de proposta. Muitos de antemão já sabem que não terão condições de honrá-la, outros sequer pensam em cumpri-la”. Diz citado autor mais adiante: “Lamentavelmente, da forma em que hoje o instituto se apresenta, essas pessoas estão equiparadas áquelas que, de boa fé, celebram o acordo e por questões supervenientes não podem cumprir o compromisso”. Completa o autor: “Campo aberto para a impunidade e má fé” (Juizados Especiais Criminais - Observações Práticas – Parte II. São Paulo, material inédito em vias de publicação na Revista do Supremo Tribunal Federal, 2000). 35 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly. Ob. cit., p. 55. 145 esclarecidos pelo juiz acerca da possibilidade de composição dos danos e da aceitação da proposta, formulada pelo promotor de justiça, de aplicação imediata da sanção não privativa de liberdade. Nesta fase procedimental, resolve-se muitas questões das mais diversas matizes como por exemplo: a) entrega de bens (partilha de bens em caso de separação do casal- televisão, sofá, rádio, roupas e documentos pessoais etc); b) fixação provisória de pensão alimentícia a filhos menores; c) acordo de bem viver (após a renúncia); d) concessão de prazo para a saída de uma das partes do lar; e) indenização por danos materiais e morais patrimoniais e extrapatrimoniais; f) termo de compromisso de ajuda à vítima (pagamento de plano de saúde por prazo determinado, pagamento de consulta médica e de remédios, conta de água e luz etc); g) termo de retratação à ofensa em crime contra a honra; h) compromisso de reconhecimento espontâneo de filho; i) compromisso de matricular os filhos em escola etc. Se as partes se compuserem a respeito dos danos, esta composição será reduzida a termo e, homologada pelo juiz, mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título executivo judicial. A aceitação do acordo, implicará a renúncia da vítima no prosseguimento do feito (art. 74, par. único, da Lei n. 9.099/95). Assim, não havendo acordo, será dada oportunidade para a vítima, na hipótese de ação penal condicionada à representação, oferecer oralmente a representação ou, no caso de ação penal privada, a apresentação da queixa-crime. Oferecida a representação e não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na proposta. Aceita a proposta pelo autor da infração o seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. A transação penal se consubstancia na proposta ministerial. Esta proposta pode ser uma “pena” restritiva de direitos ou multa. A aceitação da proposta não significa assunção de culpa e não impede a eventual propositura de ação civil na busca do ressarcimento dos danos materiais ou morais causados à vítima. Trata-se apenas de uma medida para o autor da infração se ver livre do eventual processo. Se o autor da infração perceber que a futura decisão lhe será desfavorável, aceitará a proposta para colocar fim ao processo. Tal transação só poderá se dar a cada cinco anos, se o autor cometer outro delito neste período não poderá se beneficiar novamente desta lei. Se as partes se compuserem civilmente, a vítima não poderá discutir novamente a questão na esfera civil (art. 74 caput da Lei n. 9.099/95). A única alternativa é a execução do acordo que terá validade de título executivo judicial. Ressalte-se ainda que um dos requisitos na suspensão do processo é a reparação dos danos causados (art. 89, par. 1°, inc. I, da Lei n. 9.099/95). 146 Como já vimos, o acordo civil implica a renúncia do direito de representação. Há quem entenda que a composição desses danos podem ser parcial36 Via de regra, a composição poderá ficar restrito aos danos materiais, nada impedindo a possibilidade da discussão dos danos morais na esfera civil. Neste caso, a quitação poderá ser restrita aos danos materiais. Seja parcial ou total, a quitação do acordo ocasionará a renúncia do direito de representação da vítima no prosseguimento do feito e sua conseqüente extinção. É possível, inclusive, no caso de ação penal pública incondicionada afeta ao Juizado Especiais Criminais o acordo entre as partes de eventuais composição na esfera civil de danos ocasionados ao veículos de uma das partes sem que tenha ocorrido lesões corporais nos envolvidos. Isso pode ocorrer se o causador do acidente se evadir com o objetivo de se eximir da responsabilidade dos danos civis (art. 305 do CTB). Como se vê, a transação penal não terá nenhum efeito na esfera civil. A aceitação da proposta ministerial não implica imposição de condições unilateral. Tal proposta poderá ser discutida conjuntamente com o autor, vítima e advogado, abrindo-se a oportunidade à vítima de discutir os danos materiais e morais na esfera civil. Isso só não ocorrerá se, apesar da aceitação da transação penal em ação penal pública incondicionada, ocorrer o acordo civil no mesmo ato. É respeitada a autonomia privada e a autonomia da vontade das partes. Trata-se de um verdadeiro negócio jurídico. Vê-se ainda que aqui está presente um assunto tão discutido ultimamente sobre a questão da vitimologia37. A lei procura privilegiar a composição dos danos entre as partes38. Referido acordo implicará na extinção da punibilidade pela renúncia da vítima. E mesmo que haja pluralidade de autores e se um deles se compuser, implicará a renúncia dos demais autores. Tanto é verdade que da sentença homologatória do acordo civil não caberá recurso. Trata-se de sentença irrecorrível. 6. CONCLUSÃO 36 Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes. Juizados Especiais Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1999, p. 13; Carlos Roberto Marcos Garcia sustenta que: “É certo, porém, que o nosso ordenamento jurídico-penal não contempla de forma ampla e geral a reparação dos danos sofridos pela vítima, a despeito dos movimentos de Direitos Humanos que, quase sempre, somente se direcionam às penas e aos delinqüentes, esquecendo-se da condição da vítima que, independentemente de uma possível reparação material do agente do crime, deveria ficar protegida por instrumento oficial de compensação decorrente do crime.” (Aspectos Relevantes da Vitimologia. São Paulo: RT n. 769:450). 38 Waléria Garcelan Loma Garcia afirma que “o legislador penal pátria cumpriu uma das funções do Direito Penal: a de favorecer a reparação efetiva do dano causado à vítima, que, em regra, não é devidamente amparada pela legislação penal. Além disso, acompanhou as idéias do Direito Penal moderno, que passam a valorizar o ofendido ao mesmo tempo que procuram empregar a reparação do dano como medida de política criminal.” (A Lei 9.099195 e a importância da reparação do dano no Direito Penal. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 36, dez/1995, p. 6). 37 147 A autonomia privada está presente também na transação penal. A aceitação ou não da transação pelo autor da infração não impede a possibilidade da discussão, na esfera civil, dos danos causados à vítima. A aceitação da transação, por sua vez, está implícita a autonomia da vontade do autor. Trata-se de um verdadeiro negócio jurídico extrapatrimonial. O autor está obrigado ao cumprimento das condições impostas na transação homologatória do juiz. O nãocumprimento poderá ocasionar a execução diretamente no juizado especial ou no juízo civil comum da obrigação de fazer ou não fazer, dependendo do valor fixado no acordo. Ou o desfazimento da decisão homologatória, prosseguindo o feito até final decisão, em havendo cláusula resolutória. O Ministério Público abriu mão do seu poder-dever de oferecer a denúncia por conta da transação. Ora, se esta transação não é cumprida, o negócio deverá ser desfeito e o processo criminal deve prosseguir até final decisão. Só caberá recurso da decisão homologatória, no meu entender, se ocorrer algum vício na origem da vontade da vítima, ocasionando a nulidade do acordo. Por exemplo: acordo realizado por pessoa incapaz ou por pessoa sem representação. Pode-se, através da transação penal, realizar qualquer tipo de acordo entre o autor da infração e o promotor de justiça. Havia, contudo, posição contrária quanto à entrega de cestas básicas a entidades de caridade na transação penal. Hoje não mais se discute esta questão com O advento na Lei n. 9.714/98. Assim, tanto no acordo civil, como na transação penal, está presente a autonomia privada e a autonomia de vontade, cuidando-se de um verdadeiro negócio jurídico extrapatrimonial. Registre-se, ademais, que o acordo e a transação penal têm por escopo o incentivo à composição dos danos. Se a autonomia privada é uma forma de criação de normas, estas normas devem ser respeitadas pelas partes, por essa razão é que o sistema jurídico deve permanecer aberto para a inovação, criação e evolução do pensamento jurídico. Não podemos deixar de ressaltar que o “sistema jurídico-científico tem que permanecer ‘aberto’, nunca tornando definitivo e, portanto, não podendo nunca ter à disposição uma resposta para todas as questões, é nesta conformidade asseverando tanto por ENGISCH, como por ESSER e por GOIBG”39. Caso contrário, não se poderia discutir as questões colocadas à apreciação do judiciário e nem sequer aplicar os dispositivos constitucionais nos casos pertinentes. Vê-se, pois, que a autonomia privada seria tolhida nas transações penais (negócio jurídico extrapatrimonial) se não tivéssemos um sistema aberto para a discussão das questões constitucionais na teoria geral do direito40, evitando-se ou minimizando-se, com a aplicação dos princípios fundamentais, que o direito seja eternamente condenado a correr atrás da ciência sem nunca a alcançar41. 39 Karl Larens. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, traduzido por José Lamego, 1997, p. 234. Claus - Wilhelm Canaris afirma que as “quebras no sistema eliminam-se através da ‘interpretação sistemática’ e da ‘integração sistemática de lacunas’. Onde isso não seja viável, porque o teor e o sentido da lei, o Direito consuetudinário ou uma proibição de interpretação criativa se lhe oponham, fica a saída de considerar as normas contrárias ao sistema como 40 148 7. BIBLIOGRAFIA BITENCOURT, Cézar Roberto. Transação e Suspensão do Processo à Luz da Lei n. 9.605/98. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 73, Dez/98. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. CONSTANTINO, Carlos Ernani. Transação Penal - Suspensão Condicional do Processo - A Lei n. 9.099/95 e o Conceito de Bons e Maus Antecedentes. Porto Alegre: Revista Jurídica n. 255:29. DEMERCIAN, Pedro Henrique e MALULY, Jorge Assaf. Juizados Especiais Criminais Comentários à Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Rio de Janeiro: Aide, 1ª Ed., 1996. DIEZ-PICAZO, Luís & Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1994, vol. 1. FERRI, Luigi. La autonomia Privada. Tradução espanhola, Madrid: Ver. De Derecho Privado, 1969. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Juizados Especiais Criminais (Anotações resumidas sobre a Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995). São Paulo: Revista do Advogado n. 50:47, Ago/97. GRINOVER, Ada Pellegrini, GOMES FILHO, Antonio Magalhães, FERNANDES, Antonio Scarance e GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª, 1999. JESUS, Damásio E. Instituição dos Juizados Especiais Criminais no Brasil e sua influência na aplicação das penas alternativas. São Paulo: Boletim do IBCCRIM n. 45, Ago/96, p. 02. _____________. Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, São Paulo: Saraiva, 1995. _____________. Descumprimento da Pena Restritiva de Direitos na Transação Penal Importante Acórdão do Supremo Tribunal Federal. Boletim do IBCCRIM, n. 91 junho 2000, p. 07. nulas, por causa da sua violação da regra constitucional da igualdade; pois as quebras no sistema representam, por definição, contradições de valores e, com isso, violações da regra da igualdade. O Tribunal Constitucional da União já se pronunciou, de facto, várias vezes nesse sentido. Com este reconhecimento, o sistema prático, sob um novo aspecto. Não obstante, mantém·se um resquício, ainda que relativa· mente pequeno, de quebras no sistema, pois uma contradição de valoração nem sempre precisa de significar ‘arbítrio’, no sentido da interpretação dominante do art. 31 GG” (Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito, traduzido por A. Menezes Cordeiro. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 285/286). 41 Bertrand Mathieu salienta que “en certains domaines, la bioéthique par exemple, la détermination de principes fondamentaux par voie législative ne suffit pas. Il serait nécessaire d’affirmer par une déclaration des droits des personnes (pendant de la Déclaration de 1789, pour les droits de l’individu, et du Préambule de 1946, pour les droits sociaux) des principes fondamentaux qui seraient précisés par des lois de circonstances, afin que le droit ne soit pas éternellement condamné à courir derrière la science sans jamais la rattraper (cf. en ce sens le premier pas du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par le doyen Vedel, proposant d’ajouter dans le texte de la Constitution, le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée et de la dignité de sa personne, JO 18 févr. 1993) (Droit constitutionnel et droit civil: “de vieilles outres pour un vin nouveau”, Revue trimestelle de droit civil, n. 1, janvier-mars 1994, 93° année pp. 1- 222. 149 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito, traduzido por José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. LOMA GARCIA, Waléria Garcelan. A Lei 9.099/95 e a importância da reparação do dano no Direito Penal. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 36, dez/1995. LOURENÇO, Messias José. Juizados Especiais Criminais - Observações Práticas. São Paulo: Revista Justiça & Democracia, Revista dos Tribunais, jul-dez/96. _____________. Juizados Especiais Criminais - Observações Práticas - Parte II. São Paulo, em vias de publicação da Revista do Supremo Tribunal Federal, 2000. MARCOS GARCIA, Carlos Roberto. Aspectos Relevantes da Vitimologia. São Paulo: RT n. 769:437. MATHIEU, Benrand. Droit constitutionel et droit civil: “de vieilles outres pour un vin nouveau”, Revue trimestrielle de droit civil, n. 1, janvier-mars 1994 - 93° année pp. 1 - 222. MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Penalistas Pedem Socorro ao Direito Civil. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 73, Dez/98. MIRABETE, Julio Fabbrini. Juizados Especiais Criminais - Comentários jurisprudência Legislação. São Paulo: Atlas, 1998. NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Saraiva, 1996. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil - Introdução ao Direito Civil Constitucional, traduzido por Maria Cristina De Cicco. São Paulo: Renovar, 1994. PODESTÁ, Fábio Henrique. O art. 1033 do Cód. Civil e a Lei n. 9.099/95. São Paulo: Tribuna da Magistratura, outubro/96. PRATA, Ana. A tutela Constitucional da Autonomia Privada. Coimbra: Livraria Almedina, 1982. RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2a ed. 1997. SANTORO FILHO, Antonio Carlos. A natureza jurídica da Transação Penal. São Paulo: Tribuna da Magistratura, maio/96. SILVA, Eduardo Araújo da. Ação Penal Pública - Princípio da Oportunidade Regrada. São Paulo: Atlas, 1999. SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de Direito Civil. Rio de janeiro, Forense, Vol. II, Teoria Geral das Obrigações, 5ª Ed., 1978. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Conseqüências do Descumprimento da Transação Penal (Solução jurídica ou Prática?). São Paulo: Revista dos juizados Especiais, vol. 6, 1997, Out.-Dez/97. SOARES LEVADA, Cláudio Antonio. A sentença do artigo 76, da Lei n. 9.099/95, é declaratória. São Paulo: Boletim do IBCCrim n. 35, nov/95. 150 TICIANELU, Joelma. Limites Objetivos e Subjetivos do Negócio Jurídico na Constituição Federal de 1988. In Direito Civil Constitucional. Coord. Renan Lotufo. São Paulo: Max Limonad, 1999. 151 MÉTODO E CONTEÚDO DO DIREITO AGRÁRIO* Fábio Maria De-Mattia Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo O estudo da ciência do Direito Agrário, tendo como preocupação questões de método e do conteúdo ou objeto, deve ser antecedido pela análise de três aspectos: 1. se existe uma ciência do Direito Agrário; 2. a questão epistemológica; 3. história da ciência do Direito Agrário sob o ponto de vista do método1. INTRODUÇÃO 1. PARTE INTRODUTÓRIA a. Se existe uma Ciência do Direito Agrário A resposta afirmativa estará dada, na verdade, quando se cuida da autonomia do Direito Agrário em sentido científico, sendo certo que a cientificidade da matéria é um dos pressupostos da observada autonomia (no plano científico, precisamente, além dos planos didático e legislativo).2 * Este trabalho é dedicado ao professor doutor Antonio Junqueira de Azevedo, mestre e amigo dileto que em sendo dinâmico e eficiente Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi criada e instituída uma vaga para professor titular na área de Direito Agrário. 1 Carrozza, Antonio. “Lezioni di Diritto Agrário”, “I Elementi di Teoria Generale”, Milano: Giuffré Editare, 1988, p. 73 2 Id, ibid, p. 73. 152 Neste sentido, verificará o estudioso a matéria conforme se delineie a questão da ocorrência de um tratamento legislativo autônomo (autonomia legislativa) ou que se trate da oportunidade de um ensinamento distinto para o Direito Agrário (autonomia didática) ou que se discuta por fim a autonomia do ramo do estudo científico, que diz respeito à nossa matéria (autonomia científica). Mas nem todos os estudiosos da matéria parecem convictos de tal asserção, vez que ainda se indaga se é possível admitir uma ciência que procura, continuamente, o seu conteúdo, seus objetos, que, enfim, está hoje, como ontem, “à procura de si mesma”. Cada Alberto Graziani, ao explicitar tal indagação, opina que a doutrina agrária moderna não se refere, presentemente, a um Direito Agrário, mas a múltiplos direitos agrários, tantos quantos sejam os subsetores que, gradualmente, vão sendo identificados. Neste sentido, os subsetores se podem classificar procedendo-se a distinções verticais: 1. subsetor contratual; 2. reforma fundiária; 3. sanitário - veterinário; 4. zootécnico; 5. hereditário; 6. patentes vegetais. Mas as distinções dos subsetores podem ser horizontais: 1. o setor administrativo; 2. processual; 3. securitário-previdenciário; 4. trabalho; 5. industrial; 6. penal; outros ainda. O mesmo autor aponta que, justamente, a exigência em especificar subsetores diversos comprovaria inequivocamente que “a discussão concerne não a uma ciência, mas-somente a um fenômeno do mundo real - e pois um setor da economia, precisamente, o setor primário - que incide sobre ramos jurídicos multíplices (direito civil, processual, administrativo, comunitário, do trabalho, etc.) dotados de princípios próprios os quais aplicam-se onde a lei especial, como freqüentemente acontece, não introduz exceções para o setor agrícola”3. Graziani conclui que as exceções introduzidas pelo legislador, tendo presente a especificidade do fenômeno agrícola, não bastam para compor uma lista de princípios sobre a qual fundamentar uma ciência do Direito Agrário verdadeira e própria.4 Paolo Grossi, partindo das considerações elaboradas por Cada A1beno Graziani, salientou em sede de réplica, considerada por Antonio Carrozza de muito eficaz, “que a ciência é mais posição do que solução de problemas, é procura da verdade, é um itinerário orientado teleologicamente, é um movimento, para uma meta que sempre transcende; ciência nunca é conquista definitiva, e nem mesmo um conjunto de certezas imóveis”. Grossi prossegue: 3 4 Carrozza, Antonio, ob. cit., p. 73. Id, ibid, p. 74. 153 “Se o Direito Agrário neste momento nos parece ainda a procura de sua face completa, por causa do transformar-se rápido e incandescente em que adentrou, se nos parece inchado de complexão sem podê-lo transformar em arquiteturas dogmáticas assentadas, disto não e.trairei conseqüências negativas quanto à sua cientificidade”. Este enfoque do ilustre historiador e estudioso do Direito Agrário - que Antonio Carrozza ratifica - consente em encerrar também a controvérsia sobre a existência de uma ciência do Direito Agrário.5 Poder-se-á dizer tratar-se de ciência jovem e pobre (e o é de homens, de meios e talvez de idéias), ou algo que se queira dizer, mas seu “existir” está pois provado, e com argumentação no fundo assaz elementar sob o ponto de vista filosófico, enquanto nos remete ao cartesiano cogito ergo sum.6 Escusado dizer, o existir de uma ciência específica do Direito Agrário não significa que seja fácil exercitá-la. As dificuldades são múltiplas: 1. não existe, como respaldo, uma história geral do pensamento inerente ao direito da agricultura; 2. não existe o hábito de agregar elementos de uma teoria geral a partir dos sujeitos particulares da pesquisa ou 3. mesmo somente uma pane geral que se antepõe às partes especiais (e toda ciência pode aparecer “acéfala”, enquanto resulte desguarnecida de uma verdadeira teoria geral); “inexiste mesmo unanimidade quanto à uma definição da matéria”. 7 Ainda fato mais grave que a doutrina “especial” do Direito Agrário, “em crise desde sua gestação”, tenha vivido atormentada pela necessidade de alcançar acordo sobre os limites dos assuntos a serem tratados. Esta última reflexão introduz o assunto que segue, dedicado ao mais incitante dos problemas modernos de teoria geral: o problema do objeto.8 b. A questão epistemológica Desde que se admita que problema de ciência jurídica é essencialmente um problema de relações entre objeto e método, é necessário estudar a questão epistemológica mais importante: a clarificação do método e do objeto do Direito. Método e objeto é um binômio que é inoportuno decompor, se é verdade que o objeto de uma ciência não é uma variável, independente do método empregado para o determinar; do 5 Id., ibid., p. 74. Id., Ibid., p. 74. Id., ibid., p. 74. 8 Id., ibid., p. 75. 6 7 154 mesmo modo o estudo do objeto não é uma variável (completamente) independente do sistema de Direito Positivo, onde o expositor se insere e opera. Quanto ao objeto, cada época propõe uma graduação diferente dos problemas científicos. Anteriormente, cuidou-se do problema da autonomia, superada a preocupação com tal aspecto, presentemente, é a vez do objeto. É necessário reconhecer primeiramente o caráter de complexidade de exposição sobre este tema, caráter que explica a dificuldade admitida e muitas vezes lembrada quanto a fixar os limites claros e estáveis do Direito Agrário como conjunto de normas, como normação, e reflexamente a este Direito como ciência, ainda que seja lícito confiar na estabilidade frente à realidade das metamorfoses contínuas de tal objeto sempre na lição de Antonio Carrozza. Neste sentido, apresenta-se a afirmação de Mario Longo, na qual com razão considera que, pelo fato da especialização da matéria compreendida pelo Direito Agrário resultar útil e nãodanosa ao progredir da ciência, essa deve manter a visão geral do ordenamento jurídico e deve se dirigir à formação de ramos, os mais orgânicos e unitários possíveis. Por isto que, para este autor, o verdadeiro problema de elaboração do Direito Agrário, longe de ser o da autonomia, é aquele da organicidade e unidade da disciplina.9 Para Antonio Carrozza, logo em seguida deve-se recordar que, se se confia no caráter de organicidade do Direito Agrário, peculiar em um Direito que se auto-re· produz em múltiplas direções (os subsetores de que, em outro sentido, escreve Graziani), e que encontra em si mesmo a capacidade de se completar, não há por que se admirar ao ver este objeto crescer e se dilatar e com isso se alargar o horizonte dos interesses dos cultores da matéria. Talvez seja oportuno renovar a advertência de não-confundir o que distingue o Direito Agrário como conjunto de regulae legis da ciência do Direito Agrário como conjunto de conceitos e de instrumentos conceituais: na verdade o perigo de semelhante confusão de planos é constante e quase inadvertido, quando se fala de objetos e de conteúdos. 10 Se a afirmação não soasse tão peremptória asseveraríamos, com efeito, também mantendo os dois planos distintos, os quais em tema de objeto ou de conteúdo se intersecionam, no sentido que em substância o objeto da ciência do Direito Agrário é o próprio Direito Agrário, como norma, enquanto o Direito Agrário tem por objeto a agricultura, focalizada em primeiro lugar como atividade produtiva centrada, em primeiro lugar, no fenômeno da criação e, em segundo lugar, como conjunto de atividades e de relações que formam num certo sentido o território circunstante àquele fenômeno. À essência da agricultura admitida como criação de animais ou vegetais, é necessário 9 Longo, Mario. “Profili di Diritto Agrario Italiano”, 1ª edição, Torino: Edilrice G. Giappichelli, 1951, p. 24. Carrozza, Antonio. op. cit., p. 75. 10 155 atentar para os aspectos remanescentes do objeto. Há ainda um preconceito a afastar, vez que, no campo de nossos estudos, radicou-se a convicção de que os limites dentro dos quais a atividade do agricultor é relevante para o ordenamento jurídico sejam fixados por lei em termos vinculantes e, rebus sic stantibus, imodificáveis. Na realidade, a demonstração de que o regime jurídico da agricultura deve ser construído de um certo modo integra a tarefa que cabe à doutrina, analogamente ao exercício de uma crítica vigilante com relação às disfunções admoestatórias no Direito Positivo, tendo presente o fato que o produto legislativo não pode ser senão o resultado de compromissos penosos e precários entre as ideologias político-sociais contrapostas: e os compromissos dos políticos, sabe-se, envolvem quase fatalmente o sacrifício da pureza lógica do sistema e acrescem a confusão e a impropriedade da linguagem normativa.11 O conhecimento e a avaliação dos fatores de especificação do Direito Agrário integram a bagagem cultural do agrarista teórico e é sua tarefa denunciar as situações em que o ordenamento posto deixar a desejar quanto à adequação à causa, ao raciocínio da especialidade, o que, muitas vezes, consubstancia um desvio da norma do objeto típico do Direito Agrário, do qual falta um conhecimento demonstrado. Enfim devemos, sempre, mover-nos da premissa que o direito autêntico da agricultura ainda não se efetivou de modo apto e integralmente no espaço que lhe reserva a delimitação do objeto. Não resta senão confiar na função propulsora e crítica da ciência do Direito.12 2. HISTÓRIA DA CIÊNCIA DO DIREITO AGRÁRIO SOB O PONTO DE VISTA DO MÉTODO Na investida ao objeto do Direito Agrário, devem ser examinados os “caminhos nacionais do Direito Agrário”, ou seja, as notas distintivas mais relevantes do “estilo francês” e do “estilo italiano”. São duas vertentes que partem de uma encruzilhada comum, o Código Napoleão, mas que divergem, hoje, claramente e em certo sentido são emblemáticas de duas posições metodológicas diversas e mesmo opostas, ambas profícuas. Destaque-se como exemplo, nesta perspectiva de distinção das escolas francesa e italiana, as verificações de Alberto Germanó e Eva Rook Basile, que se referem à unificação legislativa, sob a categoria unitária da empresa, da atividade agrícola com aquelas comerciais e industriais - 11 12 Id., ibid, pp. 75 e 76. Id., ibid, p. 76. 156 operadas na Itália pelo Código de 1942 - que não chegou a ocorrer na França. Não há dúvida sobre a conveniência de servir-nos do conceito de empresa e de tudo que a esta idéia se submete quando se examina o Direito francês do exercício da atividade econômica de produção agrícola. Todavia deve-se ter clara a noção de que entre entreprise (comercial) e exploitation (agrícola) são suscitadas diferenças de Direito Positivo muito mais profundas do que aquelas que surgem entre as empresas agrícola (art. 2.135 do Código Civil italiano) e empresa comercial (art. 2.195 do mesmo diploma), coligadas na unidade da noção legislativa de empresa (art. 2.082).13 A propósito, falou-se, com imagem brilhante, em uma contra posição do mos gallicus ao mos italicus (que é, pois, parente do mos hispanicus e hispano-americano). Seria, porém, um erro imaginar o mos italicus como um fenômeno científico-cultural compacto, em todas as suas manifestações unido e disciplinado; ele, ao contrário, também apresenta uma composição bastante variada, devido ao tempera· mento diverso dos estudiosos principalmente representativos (aqueles que poderemos denominar, se não fossem tão poucos, os autores “clássicos” do Direito Agrário) mais do que a uma propensão ciente e marcada para um método ao invés de para outro.14 Mas significa lei, regulamento, qualidade, estado. Ao se procurar a chave para a melhor compreensão da historiografia do Direito Agrário, também, deve ser apontado que as posições metodológicas, que caracterizam na sua origem “as duas escolas” italianas do Direito Agrário, com o tempo, com a contribuição do pensamento dos herdeiros de ambas escolas, as duas posições metodológicas confluíram para um estilo interpretativo e construtivo bastante homogêneo, sinalizado apenas por “endereços diversos”, conforme a leitura correta e fria de Agustín Luna Serrano, na observação de Antonio Carrozza.15 A divisão em duas escolas que marcou os primeiros decênios deve-se aos estudos de Natalino Irti. Talvez a única voz discordante é a de Carlo Alberto Graziani, como já acenamos, que sustentou com vigor e incontestável coerência uma orientação crítica, que se consubstancia na negação da exeqüibilidade de um Direito Agrário unitário. A este propósito, Antonio Carrozza se refere a uma “concepção atomística” do Direito Agrário, não distante da orientação do mos gallicus.16 Para se traçar o histórico moderno do Direito Agrário, considera-se o nasci· mento do movimento doutrinário italiano desta disciplina a data de 1922, ano em que se registram dois acontecimentos memoráveis que têm como protagonista a figura relevante e singular do professor 13 Id, ibid, p. 77. Germanó, Alberto, e Basile, Eva Rook. Lineamenli di Dirino Agrario Francese, Milano: Don. A. Giultre Editore, 1ª edição, p. 15. 15 Carrozza, Antonio, ob. cit., p. 77. 16 Id, ibid, p 77. 14 157 Giangastone Baila: a instituição do primeiro curso oficial dedicado ao Direito Agrário, junto à antiga Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade de Pisa justamente ministrado por Baila e a fundação, por este mesmo professor, da “Rivista di Diritto Agrário” que está no septuagésimo terceiro ano.17 Contudo, a gestação remonta aos últimos anos do século precedente, quando se torna perceptível um movimento de reflexão sustancialmente autônomo do pensamento civilista dominante, até então condicionado pela tradição dos esquemas romanistas, o que obstava uma plena adesão das formas jurídicas à realidade econômico-social.18 Ressalte-se, contudo, que 1922 assinala o momento da tomada de consciência do novo Direito, figurativamente: o nascimento.19 Para se conhecer o que ocorrera um século antes, é relevante a contribuição de Paolo Grossi que, na avaliação de Antonio Carrozza, “fixa agudamente o histórico do Direito Agrário”.20 Grossi informa que a partir da metade do século XIX havia, na Itália, vários “cursos” de lições e manuais que evocam a “legislação agrária” e a “legislação rural”, mas que estes cursos não nos interessam, porque limitam a sua atenção para aquela zona objetivamente definida, que é o conjunto das relações agrárias. Ressalta que o seu método, contudo não-difere do exegético do método civilista. Para os autores italianos da segunda metade do século XIX e início do século XX, ”falar-se de autonomia do seu discurso científico é conclusão sem dúvida desproporcionada”. Importante, ao invés, é a análise do momento em que, frente a uma realidade técnica e sócio-econômica tanto própria quanto inerente à agricultura e à sua organização, começa a emergir uma consciência particular de jurista que inclui no seu discurso científico notas de autonomia substancial.21 Antonio Carrozza relaciona três exemplos notáveis inseridos por partidários de referida autonomia substancial: Francesco Filomusi Guelfi, Giacomo Venezian e Vincenzo Simoncelli. Traça-lhes o perfil como três personalidades dominadas pela insatisfação pelos velhos métodos, atraídos por aquele “real” autêntico, a terra, e que participam do entendimento que no momento em que os juristas criam uma observação sobre o "real" compreendem a necessidade, a exigência de operar uma variação de método. É o caminho que leva uma nota cultural inconfundível ao Direito como ciência.22 17 Id, ibid, p 77 e 78. Id., ibid., p. 78. Id., ibid., p. 78. 20 Id, ibid., p. 78 21 Id., ibid., p. 78. 22 Id., ibid., p.78. 18 19 158 A “Rivista di Diritto Agrário” passa a representar uma mensagem clara e explícita de autonomia. Então começam a se delinear as duas escolas de Direito Agrário. A matéria foi objeto de importante estudo de autoria de Natalino Irti que elabora uma reconstrução, apontando a existência de duas escolas: a primeira encabeçada por Ageo Arcangeli (1880-1935), apresenta-se propriamente jurídica, ou seja, sensível ao método civilista; já a segunda escola intitulada Giangastone Bolla (1882-1971) para cujo substrato confluem “sugestões históricas, critérios econômicos e motivos ideológicos” que induzem a ressaltar o tecnicismo da agricultura e os setores identificados com a res frugifera e, concomitantemente, a reivindicar com vivacidade semelhante e tenácia a autonomia do Direito Agrário, concebido e exaltado como jus proprium da agricultura.23 O itinerário científico de Giangastone Bolla se estende desde a denominada idade de ouro do Direito Agrário (o período entre as duas guerras) até nossos dias.24 Natalino Irti ressaltou que “o sistema legislativo, não oferecendo espaço para um significado autônomo de atividade agrícola, impeliu Bolla e a escola florentina além dos limites rigorosos da indagação jurídica: justamente no campo das estruturas técnicas e dos interesses econômicos”. Antonio Carrozza conclui que tal reflexão de Natalino Irti revela “ênfase crítica talvez excessiva”.25 Situa, Antonio Carrozza, Giangastone Bolla como um protagonista inimitável de seu tempo, mas definitivamente solitário, enquanto a escola iniciada por Ageo Arcangeli conta com numerosos adeptos do método jurídico, provenientes em geral da escola civilista, já falecidos há anos, entre eles Giovanni Carrara, Giorgio de Semo, Ferruccio Pergolesi, Pietro Germani, Fulvio Maroi, Giovan Battista Funaioli e Alfredo Moschella. Entre os vivos cita Salvatore Orlando Cascio. Mas é Enrico Bassanelli quem colheu a herança de seu mestre Arcangeli, o chefe indiscutível desta corrente: muitas gerações de jusagraristas são devedores de seu magistério elevado e severo.26 Carrozza conclui que o critério de análise histórica fundamentado na contraposição das duas escolas permite sublinhar duas posições metodológicas fundamentais dos primeiros cultores de uma disciplina que estava à procura de sua identidade, obviamente ontem muito mais do que hoje, 23 Id., ibid., pp. 78 e 79. Id., ibid., p. 79. Id., ibid., p. 79. 26 Id., ibid., p. 79. 24 25 159 enquanto o sistema da ciência do Direito Agrário, em seus alvores, custava a se colocar como “reprodução” do sistema das leis e das soluções econômico-sociais.27 A contra posição entre as duas escolas, visível nos primórdios, cessou praticamente de existir quando a partir da metade do século tornou-se superada: a utilidade da reconstrução por meio do critério das “duas escolas” se atenua porque a contraposição delas logo se reduz em decorrência da diversidade de caráter de duas fortes personalidades: Bolla e Bassanelli, tão diversas não obstante admiravelmente unidas no esforço em obter reconhecimento à disciplina prelecionada.28 Quanto aos discípulos e continuadores, sua ação pode-se inserir em um catálogo de metodologias que, presentemente, se apresenta de um lado suficientemente articulado e, de outro, muito menos caracterizado: e, por outro lado, mesmo sob o perfil do método, adquirem relevo os condicionamentos.29 O quadro traçado com sabedoria, recentemente, por Agustín Luna Serrano,30 ao analisar o desenvolvimento do Direito Agrário no período 1960-1985, afasta-se do enfoque baseado em “escolas” para se basear em “direções”, que vão da orientação institucional (que Giovanni Galloni e Alberto Ballarin Marcial herdaram de Bolla) à sociológica (seguida pelos agraristas da América Latina e bem recebida na França, mormente na esfera da “Revue de Droit Rural”: mas na Itália se transforma em uma orientação sociológica-econômica), à forma lista (integrada por Natalino Irti e outros), e enfim à orientação técnico-jurídica, na sua ramificação mais acentuadamente sistemática (Giovan Battista Funaioli e depois Antonio Carrozza) e ainda a orientação axiológicovalorativa (Emilio Romagnoli, que Antonio Carrozza define como um escritor fecundo e dotado de faculdades sincréticas particulares).31 Agustín Luna Serrano, escrevendo em 1986, ainda admite que o Direito Agrário se aflige na procura de sua identidade.32 Conclui que no período 1960-1985 a abordagem metodológica básica foi o alargamento progressivo do conteúdo normativo levado ao sistema de Direito Agrário.33 A variedade das direções metodológicas da pesquisa Agrária deriva, com efeito, da diversidade das metas que cada jurista agrário se propõe alcançar, de maneira que a escolha da meta torna-se escolha metodológica fundamental. Não há dúvida, sob este aspecto, que as duas metas das pesquisas dos agraristas nos 25 anos (1960-1985) foram as da determinação do objeto e do conteúdo normativo do Direito Agrário.34 27 Id. ibid., p.80. Id., ibid., p. 80. Id., ibid., p. 80 30 Id., ibid., p. 80. 31 A avaliação é de Antonio Carrozza. 32 Luna, Serrano Agustín. “Aspetti metodologici dello sviluppo dottrinale del Diritto Agrario negli anni 1960-1985” em Rivista di Diritto Agrario, v. n. 65, Milano, 1986, p. 25. 33 Id., ibid., p. 25. 34 Id., ibid., p. 26. 28 29 160 Agustín Luna Serrano indica que, entre as direções metodológicas que avaliou prevalecentes no estado atual dos estudos agrários, a institucional e sociológica poderiam, de qualquer maneira, essencialmente coligar-se à escola técnico-econômica que partiria do ensinamento de Giangastone Bolla: contudo, a orientação institucional idealmente se refere às indicações de Bolla com um perfil que apenas sob aspectos muito específicos ligam-se às sugestões do mestre.35 Quanto à orientação sociológica do Direito Agrário, conecta-se à escola técnico-econômica tão-somente no sentido que se baseia em dados de fato como ponto inicial, mas, pelo menos em suas manifestações européias, posiciona-se imediatamente a redimensionar qualquer virtualidade normativa que se queira extrair dos próprios dados de fato. As quatro direções metodológicas individuadas objetivaram a uma das duas metas, a determinação do objeto do Direito Agrário que consinta na redução de seus institutos de uma constelação a um sistema ou subsistema dentro da inteireza do ordenamento.36 As várias instrumentações metodológicas possíveis e suas combinações são usadas de modo diverso por uns ou por outros agraristas. Deve ser ressaltado que na orientação institucional adaptam-se naturalmente os procedimentos dedutivo e conceitual, na orientação sociológica adaptam-se melhor o indutivo e o fenomenológico, na orientação formalista são mais congeniali o procedimento dedutivo e o conceitual e na orientação técnico-jurídica são convenientes os procedimentos indutivo e conceitual.37 O aceno ao encaminhamento “para a unidade e os princípios gerais do Direito” deveria conduzir à orientação dogmática; da verificação que “ao lado do fundo toma forma e se diferencia a empresa como centro de atividade econômica e social” tem-se premonição para a orientação institucional; o convite aos economistas para colaborarem com os juristas no estudo dos problemas agrários “também nos seus pressupostos econômicos, nas suas relações técnicas” prenuncia uma constante no comportamento dos agraristas que seguem a corrente sociológica.38 Luna Serrano afasta das orientações metodológicas, particularmente a instituocional e a sociológica, a orientação que entendeu poder denominar técnica-jurídica.39 Bolla fundamentou-se num objeto centralizador e caracterizante da disciplina normativa que se desejava delimitar para demonstrar a existência do Direito Agrário, para tanto desenvolveu a idéia de que “ao lado do fundo tomava forma e se diferenciava a empresa como centro da 35 Id, ibid., p. 29. Id., ibid., pp. 29 e 30. Id., ibid., p. 30. 38 Id., ibid., p. 31 39 Id.. ibid., p. 32. 36 37 161 atividade econômica e social”, que em si enfeixa sinteticamente os traços defini dores do Direito Agrário assumido como instituição. 40 Bolla apresenta o “fundus instructus” e após a empresa agrária como instituição-grupo por si munida de capacidade caracterizante imanente ou mesmo normatizante ou também ordenante.41 a. Orientação institucional Os traços fundamentais da formulação da concepção institucional do Direito Agrário por Giangastone Bolla remontam a 1935 e sua última contribuição data de 1971.42 A orientação metodológica institucional do Direito Agrário, enquanto obteve o consenso de alguns dos não muitos agraristas espanhóis, como Alberto Ballarín Marcial, quanto à empresa, ou como Juan José Sanz Jarque, em relação sobretudo à propriedade da terra, obteve escassos seguidores nos países ibero-americanos, entre os quais se deve notar a posição assumida por Román José Duque Corredor, e também - o que parece mais surpreendente - na França e na Itália. Para explicar esta situação concorrem diversas causas: algumas de caráter prático, outras de natureza ideológica outras ainda decorrentes da técnica jurídica. Entre as primeiras causas, - as de caráter prático - talvez a mais importante consista na grande dificuldade na formulação de um conceito ou da compreensão do perfil orgânico que deve sempre recolher o objeto que se queira alçar a instituição operativa e ordenante em todas as suas implicações.43 Agustín Luna Serrano aponta uma segunda explicação, por assim dizer ideológica, na base do escasso sucesso da orientação metodológica institucional, que reside no fato desta orientação se ressentir de tendências solidárias que, na época atual, muitos acreditam atuar mais maleável, vistas as dificuldades de conciliação, através de uma idéia de colaboração simples e também vaga, dos interesses e das posições em contraste, através de outros valores mais urgentes ou de outras posições doutrinárias mais incisivas: é assaz significativo, neste aspecto, que para muitos agraristas, quando devem julgar a função social da propriedade ou quando de referências tais como a exploração racional do solo e das relações sociais équas, freqüentemente sequer vem à mente a relação ou conexão daqueles conceitos com a orientação metodológica institucional do Direito Agrário.44 Esclarece Luna Serrano: 40 Id.. ibid., p. 33. Id.. ibid., p. 33. Id., ibid, p. 34. 43 Id, ibid, p. 34. 44 Id., ibid, p. 35. 41 42 162 para nossas finalidades é, porém, mais interessante notar que o insucesso do método em exame deriva das especificas características da técnicajurídica e diz respeito particularmente ao fato, apenas aparentemente conexo ao da dificuldade de formulação do conceito de empresa agrária. Enquanto a capacidade caracterizante e ordenadora do objeto que se considera sob o perfil da instituição que se extrai da sua realidade específica e da virtualidade imanente que eventualmente possui, aquela capacidade não apenas arrisca-se de se apagar através da conceitualização que se põe de permeio à realidade, mas que definitivamente vem ontologicamente a faltar quando a conceitualização do objeto não se adapta perfeitamente à realidade de que deseja ser a representação. 45 O conceito de empresa agrária, à qual se reportam geralmente os propagandistas da orientação institucional, foi construído - se foi precisamente, verdadeiramente construído - como equivoco e polivalente, e se posiciona, sempre,46 com referência à atividade agrária, à sua base patrimonial ou à organização que a atividade exige, ou se reporta também à pessoa do empresário. A empresa agrária, para que possa surgir como instituição, deve ser apresentada como organização, pois de outro modo comprometeria, funcionando o conceito como paravento distorcido à própria orientação metodológica. Ensina Luna Serrano: “esta necessidade, corretamente sentida pelos mais autorizados jusagraristas que se inserem na orientação institucional, apresenta, porém, ainda o problema, de não-pequena importância também no plano metodológico, do tipo de organização empresarial que se insere no sistema de Direito Agrário traçado ao redor da instituição característica: no sentido que, enquanto é fácil aceitar, por exemplo, que nele se enquadram as atividades conexas ou auxiliares da atividade de produção, vez que a ligação pertinente estabelecer-se-ia entre atividades complementares que iriam ter para com o mesmo empresário, ainda que com modalidades jurídicas diferentes. É muito menos fácil inserir as empresas conexas ou auxiliares no Direito Agrário comparada com a de produção, porque neste caso a ligação dever-se-ia estabelecer 45 46 Id., ibid, p. 36. Id., ibid., p. 36. 163 forçosamente entre organizações empresariais diversas e independentes e certamente não se poderia apoiar na idéia de instituição.” 47 E então a individuação sob o aspecto de conexão ocorreria, em verdade, fora da lógica da orientação institucional: “basta considerar a este propósito, como a obtenção do crédito para a empresa agrária concedido à empresa auxiliar não deriva da natureza caracterizante do objeto, mas da qualificação legal, diferentemente da destinação para o uso agrário do fundo.”48 A escassez de seguidores da orientação em exame, e também o abandono eventual, consciente ou inconsciente deste por parte dos agraristas que haviam se sentido atraídos pela sua capacidade imediata aparente em sustentar a particularidade do Direito Agrário, está compensado pela obra de Giovanni Galloni que sobre a orientação institucional concebeu uma das mais coerentes elaborações doutrinárias do Direito Agrário de nossa época, o que tem relevância particular para os nossos fins de análise e de notícia comparativa dos métodos dos agraristas modernos. Giovanni Galloni desenvolveu sua concepção institucional do Direito Agrário com abordagem linear, seja nas impostações de caráter geral como nos desenvolvimentos concretos dos argumentos específicos.49 Além da linearidade e da coerência das idéias, deve-se ainda notar, a propósito da importante contribuição deste agrarista, a atenção preocupada por ele prestada, na verificação com aprovação da validade do seu próprio pensamento, mas também no escopo de traçar um sistema completo específico para o Direito Agrário, nos vários níveis em que Galloni expressa sua escolha metodológica: “a respeito podem ser lembrados seus ensaios dedicados à comprovação das relações institucionais das normas constitucionais, italianas ou de outros países, que dizem respeito à agricultura; reconhecer a capacidade reguladora da empresa em relação às normas sobre reforma agrária; enquadrar a destinação dos bens agrários sempre sob o perfil institucional da empresa; a importância da ordem dos interesses nos contratos agrários, tendo presente o ponto de vista da solidariedade.” 50 Apesar da inconciliabilidade da teoria institucional com a orientação admitindo a importância dos princípios gerais em matéria de Direito Agrário, a lógica cumplicidade do risco 47 Id., ibid., p. 37 Id., ibid., p. 38. Id, ibid, p. 38. 50 Id., ibid., p. 39. 48 49 164 que a conceitualização impõe as capacidades normativas, que se retiram da natureza dos objetos que se querem elevar à categoria de instituição, deveria também ter afastado os partidários da concepção institucional de sucumbirem ao fascínio dos princípios gerais. Os autores que se agregaram aos princípios gerais não se deram conta que não eram princípios, ou pelo menos não eram princípios jurídicos.51 Mesmo os princípios enumerados por Carlo Frassoldati não superam praticamente o caráter de meras derivações técnico-econômicas dos fatos, ou se se desejar, da natureza das coisas, e se tomam a forma mais do que princípios, de meras verificações.52 Giovanni Galloni retoma o princípio da colaboração nos contratos agrários, sem extrapolar o seu significado próprio de mera modalidade, que o reconhece, coerentemente em suas concepções institucionais, na incidência da empresa - instituição na estrutura do contrato agrário.53 Alberto Ballarín Marcial fala em princípios políticos ou teleológicos do Direito Agrário.54 Agustín Luna Serrano esclarece que apenas os agraristas que elencam atualmente princípios gerais de Direito Agrário, às vezes recorrendo até a constrangimento em querer apresentar como tais as modalidades, também, externas da organização da legislação agrária, são os partidários da concepção institucional do Direito Agrário.55 A respeito deste assunto, já se estudou a posição metodológica avançada de Antonio Carrozza.56 b. Orientação sociológica Enquanto, para a orientação que agora se examinou, a realidade específica do objeto do Direito Agrário marca, definitivamente, a disciplina que forma o seu conteúdo normativo, para a orientação sociológica o complexo dos fenômenos sócio-econômicos concernentes à agricultura é fator determinante da acumulação conetiva das normas que a esses se referem. Uma determinação assim efetuada do conteúdo do Direito Agrário acontece, então, mediante o reconhecimento dos interesses que estão abaixo das relações sociais de base que constituem a fattispecie, de fato a disciplinar através das normas jurídicas agrárias. A mutação de perspectiva entre uma e outra orientação torna-se assim, falando metodologicamente, assaz profunda, vez que os dados de fato e da natureza caracterizam, 51 Id., ibid., p. 39. Id., ibid., p. 40. Id, ibid., p. 40. 54 Id., ibid., p. 40 - ver, p. ex., Sanz Jarque. “Derecho Agrario”, p. 39. 55 Id., ibid., p. 41. 56 Id., ibid., p. 41. 52 53 165 segundo a concepção institucional, a disciplina jurídica que a estes se deve conformar, porque são de caráter normativo, e, ao invés, para a concepção sociológica do Direito Agrário reconhecem-se como fattispecie normativas a serem reguladas com soluções disciplinares em si mesmas contigentes.57 Partindo destes pressupostos, e com estas premissas de método, é assaz normal, e dir-se-ia antes, pelo contrário, fácil, que o reconhecimento dos dados da realidade social consista em encaminhar, conforme a intensidade dos conflitos individuados ou do grau da sua adaptabilidade a ordem dos interesses designados pelo esquema jurídico derivado da codificação, a pesquisa do tipo sociológico58 para um desdobramento em outras tantas linhas de pensamento que retira: uma, dos dados de fato da fenomenologia sócio-econômica, as orientações de uma disciplina agrária que consinta, ainda que transpondo os limites do sistema estabelecido, a retificação das soluções normativas que se apresentam (ou se acreditam) inadequadas para acomodar os interesses em conflito. Ou, para a outra, leva as normas para a composição dos interesses agrários em aderência aos dados de fato, talvez com as adaptações da disciplina exigi das pela realidade técnica mudada e mutável. Neste sentido, e ultrapassando de qualquer maneira as implicações precípuas de técnicajurídica que dizem respeito especificamente a qualquer orientação metodológica, a orientação sociológica foi desviada, por alguns agraristas ibero-americanos, em direção à proposição de formulações de normas agrárias de ruptura revisionista no sistema jurídico geral, ou parou, por obra de outros agraristas europeus, particularmente franceses, na consideração, sobre um plano metodologicamente mais genuíno, dos interesses agrários e a adaptação eventualmente inovativa, mas sobretudo aplicativa, e pois a nível também de interpretação, não-apenas das normas agrárias, mas de todo o sistema normativo que pode incidir sobre aquelas orientações.59 Não é por acaso que os dois trilhos da orientação sociológica dizem respeito naturalmente ao esquema normativo da reforma agrária ou ao trilho da orientação planejadora da agricultura, de resto presentes precipuamente nos ordenamentos dos países, onde a orientação metodológica em questão recolheu o naufrágio doutrinário mais intenso.60 Da orientação diversa dos dois trilhos de pesquisa, um está mais atento aos perfis ambientais e estruturais da sociedade campesina e o outro mais fixado no desenvolvimento de tudo quanto diga respeito às atividades econômicas dos agricultores. 57 Id., ibid., p. 41. Id, ibid., p. 41. Id., ibid., p. 42. 60 Id., ibid., p. 43. 58 59 166 É interessante, ainda, ressaltar não apenas uma notável diferença de intensidade no que concerne ao alargamento do sistema do Direito Agrário, através da inclusão da normação da disciplina agroalimentar, particularmente urgente entre os partidários europeus da orientação sociológica, mas também uma diversidade de pomos de vista na modalidade de atração pelo Direito Agrário das normas concernentes ao ambiente em que a atividade agrária se desenvolve, que para alguns mais preocupados com a posse das comunidades campesinas, tende a atuar no perfil da conservação dos recursos, e, para os outros avessos a individuar os interesses da produção, baseados na moderação da exploração racional num sistema de organização do fundo.61 Uma longa tradição de consideração do Direito Agrário como ordem normativa atinente ao mundo rural está na base do sucesso da orientação sociológica, encontrável, praticamente, em todos os maiores agraristas franceses do período 1960-1985, neste entendimento se insere a disciplina da atividade econômica agrária ressentida como puramente profissional.62 Entre os autores que podem ser indicados estão Raymond Malézieux, Jean Pierre Moreau, Jean Megret. Há importantes autores que concluem pela impossibilidade da redução dos dados fundamentais em que se apóia o Direito Agrário em esquemas conceituais, em uma sistematização formal; entre os especialistas estão Pierre Voirin, René Savatier.63 Deve ser ressaltada a admiração despertada em Jean Carbonnier pela postura metodológica dos agraristas franceses, principalmente de docentes.64 Louis Lordellec contribuiu de maneira relevante para a corrente sociológica quando assentou que “le droit rural ne peut se passer des instruments de connaissance des faits sociaux et économiques qu'il prétend régler et modifier” onde se resume a dimensão do empenho, os procedimentos a serem adorados na pesquisa e, finalmente, o processo de individuação do conteúdo normativo do Direito Agrário, através dos fatos de que é convocado para regular.65 Agustín Luna Serrano assinala que a indicação das normas a serem consideradas no sistema de Direito Agrário, através dos fatos regulados, é sem dúvida o aspecto mais importante, porque assinala eficazmente qual o perfil característico da orientação sociológica, adestrado para a determinação do conteúdo normativo do Direito Agrário.66 O mestre espanhol conclui que a individuação dos fenômenos sócio-econômicos para a determinação do conteúdo normativo do Direito Agrário gera conseqüências que se posicionam de modos diversos, mas que determinam o alargamento do Direito Agrário. 61 Id., ibid., p. 43. Id., Ibid., pp. 43 e 44 Id., ibid., p. 44. 64 Id., ibid., pp. 44 e 45. 65 Id., ibid., p. 45. 66 Id., ibid., p. 45. 62 63 167 O Direito Agrário passaria a estar tão-comprometido pelos dados econômicos e pelas necessidades da vida econômica que poderia ser considerado como um capítulo do Direito Econômico nos ensinamentos de Farjat, mas também seguido por jusagraristas.67 Muito importante para a reflexão sobre o método dos agraristas é considerar que a determinação do conteúdo normativo reconhecida através da espécie dos fatos resulta numa sistematização toda particular do Direito Agrário, porque o seu conteúdo não é tanto individuado através de normas quanto através dos fatos que são chamados para serem regulados. O Direito Agrário, considerado na medida da orientação sociológica, permite outra conotação, qual seja, de empurrar a matéria agrária para constantes referências econômicas desligadas das conceitualizações caracterizantes e tendendo a provocar o alargamento da matéria agrária, porque o conteúdo normativo do Direito Agrário passa a ser individualizado pelos dados econômicos atinentes à agricultura, objeto de regulamentação.68 Nesta ruptura dos esquemas, que se podem qualificar tradicionais da teoria científica do Direito Agrário, reside não apenas o desafio significativo que a orientação sociológica propõe, mas também o risco de não conseguir apagar as exigências do rigor técnico e sistemático que outros agraristas exigem da construção científica e desviar do quadro tecnicamente homogêneo e conduzível as relações formais conectivas do sistema, ainda que inorgânico, do Direito Agrário.69 Um dos aspectos, por exemplo, da ampliação do conteúdo do Direito Agrário que pode provocar mais perplexidade é o da consideração da conexão com as normas estreitamente agrárias de toda a normação dos problemas agro-alimentares, que se pode aduzir como paradigmático das projeções conseqüências da orientação metodológica denominada sociológica do Direito Agrário moderno.70 A orientação metodológica do Direito Agrário permitiu, contudo, a presença das indicações da ciência econômica que apresentou em proveito dos estudos agrários, mas também a admoestação urgente quanto à necessidade da pesquisa sobre a efetividade das normas agrárias e, finalmente, quanto a inclusão de novos capítulos que eventualmente devem ser introduzidos, talvez com o repensar necessário quanto ao esquema sistemático do Direito Agrário.71 Ademais, a orientação sociológica comprovou a necessidade de se adotar uma impostação interdisciplinar nas pesquisas científicas no Direito Agrário.72 c. Orientação formalista 67 Id., ibid., p. 45. Id., ibid., p. 46. Id.. ibid., p. 46. 70 Id., ibid., pp. 46 e 47. 71 Id, ibid., p. 47. 72 Id., ibid., pp. 47 e 48. 68 69 168 A orientação formalista na determinação do conteúdo normativo do Direito Agrário, que se coloca como antípoda à orientação sociológica, descreve um percurso reconstrutivo de modo inverso em relação à orientação institucional. Enquanto, com efeito, pela orientação institucional a norma resulta da qualificação ontológica do objeto, para a orientação formalista a qualificação do objeto agrário resulta, ao invés, do conteúdo preceptivo da norma. Desta sintética e precisa indicação é possível, talvez, obter os traços fundamentais da orientação formalista, pelo menos, considerando o que já se expôs, nos aspectos essenciais que interessam aos nossos fins de reflexão metodológica. Como todos os critérios de método também o formalista tem suas limitações e suas vantagens.73 Entre as limitações, as de maior relevo são, sem dúvida, falando estritamente sob o ponto de vista do método agrário, a sua conseqüencialidade negatória da eventualidade da individuação do objeto específico e característico, enquanto tal, do Direito Agrário, e de outra parte, a redutividade conseqüêncial da homogeneidade do próprio conteúdo normativo a ser atribuído à disciplina agrária. Uma e outra limitação conformam-se, imediatamente, aos nossos problemas de método, ainda que sob perfis na sua dinâmica não em tudo coincidentes. A primeira limitação porque alcança diretamente a formulação científica de nossa matéria específica. A segunda porque, através da redução do conteúdo que postula, exclui que o Direito Agrário possa superar uma inserção, vez por vez, particularizada nos ramos jurídicos tradicionais e pois, indiretamente, também que se possa alcançar a formulação de um Direito Agrário por si diverso e especial.74 A conseqüência negativa da orientação formalista que se pôs em relevo é a necessária origem do fato de que esta orientação metodológica, dadas as características do perfil lógico do seu processo de qualificação jurídica, deve se apoiar sempre, se não quer se renegar, sobre a mais frágil positividade e a propositura jurídico-agrária deve-se obrigatoriamente referir a uma diversidade de objetos,75 cuja qualificação ocorre, e de outro modo não pode não ocorrer, asceticamente, em relação a eventual coligação do objeto ou a sua simples conexão sob o ponto de vista econômico-social, porque se determina precisamente em base à positividade preceptiva das várias normas qualificantes: para exemplificar de modo ilustrativo, a qualificação jurídica do fundo para destinação econômica e a qualificação jurídica da propriedade dos frutos ao 73 74 75 Id., ibid., p. 48. Id., ibid., p. 48. Id, ibid., p. 48. 169 proprietário verificar-se-ia de modo formalmente, completamente independente, porque derivam justamente de normas diversas e diferenciadas. A coligação eventual entre elas, através da natureza produtiva do bem, prejudicaria, vez que conforme esta qualificação jurídica S8mente se obtém da determinação preceptiva.76 Nas pegadas da orientação formalista, não se poderia sequer pensar na qualificação jurídica de, por exemplo, o estabelecimento, a empresa e a atividade agrária, vez que sua qualificação jurídica por coerência não resultaria do preceituar da norma, que não pode, como é fácil verificar no direito positivo, senão descrever estas objetivações econômicas - mas dever-se-ia sempre estabelecer em relação às várias normas das quais resulta a qualificação dos diversos objetos a elas coligadas através dos inúmeros atos de organização do empresário, e isto advirta-se porque a organização não pode determinar enquanto mero fato e, por si mesma, nenhuma qualificação de classe. 77 Nestas condições, nos informamos da incapacidade do conteúdo normativo do Direito Agrário para conseguir emergir um objeto centralizador da disciplina e compreende-se também como, desta premissa, se alcança a reflexão conclusiva da impossibilidade de adaptar, modelar, a partir das várias normas agrárias, uma formulação científica sistemática, geral e unitária do Direito Agrário.78 A conseqüencialidade redutiva da homogeneidade do conteúdo normativo do Direito Agrário, que postula a orientação metodológica forma lista, deriva da mesma impostação da qualidade preceptiva, que provoca a desagregação não apenas da normação (civil, comercial, administrativa, processual, fiscal, etc) mas até mesmo dos critérios que sustentam a qualificação jurídica que se deve obter, extrair da norma. 79 A propósito do que se afirmou, parece significativa a dificuldade que, sob o ponto de vista formalista, suscitaria a colocação, entre a acomodação normativa agrária e ao lado, por exemplo, a disciplina dos contratos agrários, disposições sobre crédito e seguros agrários, todas mereceriam, sem dúvida, sob o perfil do Direto Positivo, uma consideração agrária mas em tudo desorganicamente diferente e destacada.80 Destas anotações, é fácil discernir a preservação ou a prejudicial que, para a formulação de um Direito Agrário próprio e distinto, deriva da falta de homogeneização do seu conteúdo normativo por obra da corrente formalista do método agrário.81 Para compensar as limitações e defeitos da orientação formalista, Agustín Luna Serrano 76 Id.,ibid., p. 49. Id, ibid, p. 49. Id., ibid, p. 49. 79 Id., ibid., pp. 49 e 50. 80 Id, ibid, p. 50. 81 Id. ibid., p. 50. 77 78 170 aponta vantagens como aquelas consubstanciadas nos conselhos de esmero técnico que, como em todas as concepções doutrinárias que concernem ao formalismo da positividade, emanam das contribuições agrárias inspiradas pela orientação formalista.82 A orientação formalista do Direito Agrário tem em Natalino Irti o seu partidário mais caracterizado. O estudo sobre as “escolas” dos primeiros jusagraristas italianos é um repensar reconstrutivo de sua impostação metodológica.83 O formalismo de Natalino Irti, mesmo mantendo-se fiel ao tecnicismo jurídico, não pode, contudo, ser totalmente “massimalista”, porque mesmo mantendo-se parado nas conclusões encaminhadas pela própria orientação metodológica, não pode não reconhecer, seja mesmo através de uma articulação de todo positiva, e, neste sentido, também, formal a tensão existente entre o Direito Agrário e o Direito Civil e, principalmente, entre o Código e uma legislação agrária especial adaptadora de novos institutos e talvez portadora de novos princípios.84 Deve-se sublinhar que tal tensão, mesmo se formalizada nas normas, procede das exigências da realidade, e, como assinala Natalino Irti, a superação da tensão só poderá ocorrer, talvez, através de referências legislativas à empresa. Esta, como se infere diretamente da própria interpretação lógico-sistemática das normas, não é nada mais senão a cobertura conceitual de referência à atividade agrária do empresário, enfocada sob o perfil organizativo.85 Agustín Luna Serrano conclui que, justamente através da relativização da conceitualização da empresa, se possa não apenas auxiliar o exame analítico do conteúdo normativo do Direito Agrário, mas também qualificar cientificamente o próprio sistema agrário. Lembra, ainda, que o Direito Agrário germina como ramo renovador da árvore civilista. Luna Serrano considera que se possa inscrever, também, na orientação formalista Carlo Alberto Graziani, a despeito das indicações ideológicas que transmitem muitas de suas contribuições apreciadas.86 d. Orientação técnico-jurídica O conhecimento, inicial ou adquirido, das limitações respectivas das orientações metodológicas examinadas levou à formação progressiva de uma corrente de pensamento quanto à pesquisa científica agrária sob a denominação de técnico-jurídica. 82 Id., ibid., p. 50. Id., ibid., p. 50. Id, ibid, pp. 50 e 51. 85 Id, ibid, p. 52 86 Id, ibid, p. 52, nota 48. 83 84 171 Esta orientação se apresenta como mediação entre as outras examinadas, extraindo proveito de seus embargos, redimensionando seus desvios inadequados.87 A orientação técnico-jurídica procura ter presente a realidade técnico-econômica subjacente no equilíbrio normativo dos interesses agrários, desconfiando, porém, de sua virtualidade normativa em substituição da virtualidade dos preceitos e ciente da posição instrumental ou de escudo, com respeito à juridicidade, da individuação dos fenômenos econômicos.88 A orientação técnico-jurídica tende, como a formalista, para a individuação das categorias jurídicas onde encontra expressão a ordem dos interesses organizada por preceitos, mas sem desconhecer a relação profunda que intercorre entre a fattispecie e a solução normativa. A orientação técnico-jurídica postula, finalmente, cena correspondência com a orientação dogmática, uma construção sistemática do Direito Agrário que consinta justificar, senão a autonomia no sentido tradicional impedida pela falta e talvez impossível individuação dos princípios, pelo menos uma especialidade ou especialização suficiente e caracterizada do Direito Agrário como conjunto normativo e como sistema científico.89 A orientação técnico-jurídica, voltada precipuamente para a determinação do objeto do Direito Agrário, tem entre seus seguidores muitos dos jusagraristas conspícuos que no período 1960-1985 a ela aderiram. A formação desta orientação contou com a grande influência dos ensinamentos precisos de Enrico Bassanelli que ressaltou o conteúdo de especialidade do Direito Agrário e a relação da disciplina legislativa com o objeto, consistente na atividade agrária organizada em forma de empresa. A contribuição escrita de Bassanelli no assunto enunciado consubstanciou-se no período 1946 a 1972. Entre seus discípulos, destacaram-se Francesco Milani e Ertore Casadei. Muitas das posições dos jusagraristas que seguem a orientação técnico-jurídica são conexas às indicações autorizadas de Enrico Bassanelli, não mais preocupados, com a intensidade de outros tempos, com os problemas da autonomia e dos princípios, mas sim atentos para com a reconstrução do sistema do Direito Agrário com o escopo de cabência, reavaliação científica e de precípua análise normativa.90 Compreende-se, então, como foi possível acrescer à denominação desta orientação técnico-jurídica - a expressão realista. A extensão da impostação conveniente a uma orientação metodológica individualizada tãogeneticamente permite, também, por causa das exigências menores exigi das por tal individuação, 87 Id. ibid, p 52. Id. ibid, p 52. Id., ibid., p. 53 90 Id, ibid., p. 54. 88 89 172 reunir seguidores que contribuíram enormemente como: Emilio Romagnoli, Antonio Carrozza, Alfredo Massan e Luigi Costato, entre outros, na Itália; Adolfo Gessi Bidan, na América Latina; Juan Jordano e José Luiz De Los Mozos, na Espanha.91 Partindo de generalizações fáceis para determinações precisas, pode-se indicar como linhas concretas de atração da orientação técnico-jurídica realista, quanto aos jusagraristas italianos, uma corrente prevalecentemente sistemática e uma outra corrente de propensão axiológicavalorativa.92 A obra de Antonio Carrozza é o exemplo da orientação técnico-jurídica com inestimável contribuição na determinação do objeto do Direito Agrário, através do reconhecimento de cada um dos institutos agrários.93 O seu programa científico, na avaliação autorizada de Agustín Luna Serrano, revela profunda dimensão metodológica, propondo declaradamente uma revisão na metodologia dos agraristas de sua época e expressa a proposta de novos caminhos para o estudo científico do Direito Agrário. O plano idealizado e o projeto formulado por Carrozza se executaram em sua elaboração básica e nas aplicações fundamentais, permitindo uma avaliação crítica motivada pelos seus sucessos, e também talvez de seus eventuais limites.94 O método de Antonio Carrozza parte da dupla verificação de ineficácia da exigência de princípios gerais específicos e da desorganicidade contínua das pesquisas sobre formulações legislativas de empresa e ainda mais da empresa agrária.95 O plano deste autor constitui na construção sistemática das normas e para tanto procedeu à colheita do material normativo, à sua interpretação, a pesquisa dos nexos e diferenças entre suas várias panes para então ordená-lo como sistema.96 A concepção de Carrozza objetivou através dos institutos agrários contribuir para a compreensão das estruturas típicas do ordenamento jurídico da agricultura e para a sistematização científica do próprio Direito Agrário. Os princípios mais gerais podem ser redimensionados em princípios menos gerais, porque relativos a cada um dos institutos.97 O estudo do Direito Agrário através de institutos recebeu a adesão de Agustín Luna Serrano. Indica serem partidários desta orientação metodológica, na Espanha, também, José Luiz De Los Mozos, Carlos Vattier Fuenzalida.98 91 Id., ibid., p. 54. Id., ibid., p. 54. Id, ibid, p. 55. 94 Id, ibid, p. 55. 95 Id, ibid, pp. 55 e 56. 96 Id, ibid., p. 56. 97 Id, ibid, p. 56. 92 93 173 Antonio Carrozza prosseguiu com contribuição de alto sentido metodológico com escopo de sistematização ao cuidar do tema determinação da agrariedade caracterizadora do objeto de nossa matéria, mas se preocupou com outros fatores, também, de índole fática, como a especificação qualitativa do ordenamento jurídico da agricultura, como, também, os fatores derivados da evolução técnica, e finalmente o ciclo biológico natural em que se deve incluir a atividade agrária como fator específico relevante na sistematização da matéria, também, técnico e metajurídico, que partindo da elaboração de Rodolfo Carrera e Adolfo Gelsi Bidart foi minuciosamente reproposto por Antonio Carrozza, com escopo sistemático e pois metodológico, como critério de determinação do objeto típico da matéria jurídica agrária.99 Alfredo Massart e Luigi Costato se enfileiraram entre os seguidores da orientação técnicojurídica. Agustín Luna Serrano aprova a formulação do critério do ciclo biológico e sua aplicação em sede doutrinária já ocorreu, por exemplo, ao se admitir a falta de arbitrariedade na inclusão no sistema de Direito Agrário de várias atividades produtivas ou quando se preveniu, motivadamente, contra a divisão da matéria agrária em agrária e florestal.100 Dentro da orientação técnico-jurídica da determinação do objeto do Direito Agrário se insere a corrente do pensamento que descritivamente se pode denominar axiológico-valorativa, que não se contrapõe à denominada sistemática, que tem presente os fatores de desenvolvimento técnico e político, mas que repropõe esses fatores de modo particular em apoio da coordenação precípua do próprio sistema agrário.101 Partidário desta corrente é Emilio Romagnoli, com trajetória científica atraída sobretudo pelo estudo das estruturas em que se opera a atividade agrária e pelo significado da disciplina que elas regulam.102 Além disso, preocupou-se com as explicações finalistas do Direito Agrário, também com escopo de determinação do objeto do Direito Agrário divisado na atividade. Agustín Luna Serrano inclui na corrente axiológica-valorativa os civilistas Pietro Perlingieri, Francesco Lucarelli e Pietro Rescigno.103 Luna Serrano conclui seu importante estudo apresentando duas considerações a título de relevo conclusivo de avaliação. A primeira é que em todas ou quase todas as orientações metodológicas examinadas, exceção à orientação dogmática, que não vê como não se encaminha para a falência, podem-se 98 Id, ibid, p. 56. Id, ibid., pp. 57 e 58. Id., ibid., p. 59. 101 Id., ibid., p. 60. 102 Id., ibid., p.60. 103 Id., ibid., p. 61. 99 100 174 colecionar méritos e vantagens inusitados, mas também defeitos e limitações não menos relevantes. Ponderado que a orientação técnico-jurídica se propõe a superar aquelas limitações e aproveitar os méritos das outras orientações, parece que seja a orientação mais apta e mais conveniente para os estudos científicos da matéria, por causa de seu sincretismo metodológico e seu escopo de mediação, e também porque postulando a determinação do objeto do Direito Agrário na atividade agrária e a ordenação dos institutos agrários em sistema, tende precipuamente assegurar, sem pretensões excessivas, uma ordem doutrinária para o Direito Agrário capaz de reavaliar definitivamente os estudos sob o ponto de vista científico, sem contrasensos com o sistema jurídico geral e, pois, também com o sistema particular do Direito Civil patrimonial - ou, talvez, de um direito da economia - com o qual da mesma maneira o Direito Agrário deve estar sempre em contato e em relação não tanto de autonomia quanto de especialização.104 A segunda observação refere-se ao redimensionamento generalizado que se pode perceber, seja de maneira variada ou por aspectos em tudo diversos, nas várias posições metodológicas analisadas, dos conceitos - chaves ou dos pontos imutáveis sobre os quais se pensava há tempo dever se apoiar toda a construção doutrinária do Direito Agrário.105 A degradação, com efeito, dos princípios gerais em princípios mesmo sempre jurídicos, mas não mais gerais, ou mesmo em princípios políticos ou teleológicos, ou também em meras comprovações de organização legislativa; o abandono progressivo das conceitualizações da empresa como fulcro sobre o qual conceituar nossa matéria106 e a correlata assunção crescente da atividade como objeto característico do Direito Agrário; a necessidade de introduzir flexibilizações contínuas com o fim de adaptar o sistema às individuações legislativas de novos arranjos de organização dos interesses agrários; a acentuação dos perfis subjetivos, ou mais exatamente, profissionais nas relações agrárias em prejuízo de impostações formalistas baseadas no nexo econômico que intercorre entre atividades estritamente ou tipicamente agrárias e atividade agrária por conexão, assinaladas com o perfil longo onde se devem proceder nossos estudos seja o da moderação de intenções e redimensionamento dos propósitos. 107 O MÉTODO 1. OPÇÕES DO MÉTODO 104 Id., ibid., p. 62. Id., ibid., p. 62. Id., ibid., p. 63. 107 Id., ibid., p. 63. 105 106 175 Obviamente, não é este o lugar mais oportuno para filosofar sobre método. De método, falar-se-á unicamente o quanto basta para fixar as idéias sobre os aspectos que nos interessam. Seria ocioso, com efeito, estender-se em preâmbulos de caráter geral e colocar-se a discutir as diferenças e enunciar preferências, por exemplo, entre método indutivo e método dedutivo. Antonio Carrozza aponta no que a referência ao método é relevante no estudo do Direito Agrário através de institutos mais do que aquele centrado nos princípios, o mesmo sucedendo ao se examinar o impacto do denominado processo de “constitucionalização” do Direito Agrário e do italiano em particular; refletir sobre a concepção “pura” do Direito Agrário e sobre as concepções “alternativas” que obtiveram alguns seguidores, verdadeiros ou falsos que sejam, e enfim voltar ao mérito da teoria biológica da agrariedade ou teoria do ciclo biológico, com o escopo de avaliar a consistência de certas objeções, vez que cada uma delas pareceria originada de uma posição metodológica diferente no estudo do Direito Agrário.108 2. A INDIVIDUAÇÃO DO DIREITO AGRÁRIO POR MEIO DE SEUS INSTITUTOS A expressão “instituto jurídico” liga-se à noção de Savigny, que considerava dever assentar como fundamento do “sistema” os “institutos jurídicos” em sua conexão orgânica. O nome de “instituto” deveria ser reservado para designar um complexo de determinações normativas coligadas, tendo em vista um escopo superior com relação àqueles escopos de cada norma que compõem o instituto. 109 Em um sistema orgânico de Direito Positivo, não devemos visualizar a disposição isolada, mas o instituto a que ela pertence; o instituto deveria representar a unidade mínima de importância, de “ordenação” de relações, que apenas no conjunto de institutos sistematicamente ordenados forma o organismo do Direito.110 Trata-se de concepção institucional do Direito, de acordo com a qual o sistema de direito deve ser determinado, sobretudo, pelos institutos jurídicos, ou seja, pelo seu conteúdo inteligível, e pelos princípios que se originam em cada um dos institutos e111 justificam o nexo lógico de um complexo mais vasto de normas. A crítica que pode ser feita concerne a uma certa facilidade em degenerar no “normativismo”, isto é, em uma perspectiva que confirma quase exclusivamente a regra impessoal, geral e abstrata, e negligencia o cuidado com a realidade social, que está em baixo do direito vivo.112 108 A avaliação é de Antonio Carrozza segundo Agustín Luna Serrano. Carrozza, Antonio, op. cit., p. 81. Carrozza, Antonio. op. cit., p. 81. Id., ibid., p. 82. 111 Id., ibid., p. 82. 112 Id., ibid., p. 82. 109 110 176 Mas, como notava Larenz, se é verdade que as normas e só elas reconhecem de maneira mais precisa um instituto e podem também modificar-lhes o conteúdo, ela pressupõem também sempre a “idéia”, o “ponto essencial significativo”, o que levou Forsthoff a conceituar que “os institutos jurídicos devem ser compreendídos como criações plásticas que representam a condensação de determinados conteúdos espirituais do direito e em igual medida um fragmento da realidade econômica e social”. 113 Tal noção é verdadeira, também, para o Direito Agrário, pois as normas que entram na composição de cada um dos institutos deste ramo do direito não podem perder de vista dados préconstituídos, tais como: as condições naturais do ambiente, os ciclos das estações do ano, as exigências da técnica relativas aos fatores e a organização da produção, as leis biológicas da criação animal ou vegetal, etc.114 Daí concluir Antonio Carrozza que não tem um caráter necessariamente científico, senão somente técnico, o trabalho de reagrupamento e coordenação das disposições legais no contexto unitário dos institutos. A construção da teoria concernente aos institutos jurídicos é diferente, pois, para o teórico o instituto representa, num certo sentido, um ponto de partida, enquanto para os classificadores empíticos, como o legislador, um ponto de chegada.115 Por exemplo, este foi, sem dúvida, o critério pelo qual procurou se valer M. L Kozyr no agrupamento dos institutos por ele identificados no âmbito do Direito Agrário soviético, quais sejam o status jurídico das empresas e organizações agrícolas; o status jurídico das associações agrícolas e agroindustriais; o status jurídico dos trabalhadores das associações agrícolas e agroindustriais; a administração da atividade das empresas e associações agrícolas e agroindustriais; o direito de uso da terra por parte das associações agrícolas e agroindustriais; a regulamentação jurídica das relações de propriedade na agricultura da Rússia e o regime jurídico do patrimônio de empresas e associações; a regulamentação jurídica da organização, tutela e retribuição do trabalho na agricultura; a regulamentação jurídica da atividade produtiva e econômica das empresas e associações agrícolas e agroindustriais; a regulamentação jurídica da atividade financeira das empresas e associações agrícolas e agroindustriais; os contratos na agricultura; a responsabilidade por danos causados ao patrimônio das empresas e associações agrícolas e agroindustriais; e a regulamentação juridica das aziendas auxiliares pessoais dos cidadãos.116 113 Id., ibid., p. 82. Id., ibid., p. 82. Id., ibid., p. 82. 116 Kosyr, M. I. “L'Oggetto e gli istituti del Diritto Agrario Sovietico nel pensiero dei giuristi dell’URSS”, em Fonti ed Oggelto del Diritto Agrario, 5ª mesa-redonda Ítalo-Soviética, Firenze, Brescia, Sirmione, 9-16 de novembro de 1982, 1ª edição, Milano: Editrice Giuffré, 1986. p. 188. 114 115 177 É necessário, todavia, observar que nos sistemas jurídicos cujos contornos ainda são informes e o conteúdo está, por várias razões, em estado fluido, como o Direito Agrário, o trabalho de classificação acima acenado não poderá ser considerado no confronto com um antecedente nitidamente distinguível da obra de repensamento e de qualificação dos institutos jurídicos com escopo científico, nestes casos por isso aumenta a dificuldade de uma divisão do·trabalho entre tarefa técnica e tarefa teórica, nem se pode julgar o ptimeiro menos meritório e essencial que o segundo.117 Após o que se desenvolveu acerca do significado e da relevância sistemática dos institutos jurídicos, mesmo com relação ao Direito Agrário e ao problema específico da sua reconstrução científica, Antonio Carrozza, com sua reconhecida autoridade, entendeu poder razoavelmente estabelecer: a. A afirmação de um modo autônomo de ser e de operar do Direito Agrário pressupõe descobrir e dispor de um conjunto de institutos jurídicos atuais, próprios e exclusivos de tal setor do ordenamento. Resulta disto evidente, ressalta Carrozza, que os atributos de pertença e exclusividade referem-se não tanto aos princípios - como se costuma admitir - quanto aos institutos. Esta “correção de enfoque” (dos princípios aos institutos) mostra-se hoje impostergável, não-prorrogável.118 Para se dar conta disso é suficiente verificar a frustração até agora da expectativa inerente à determinação concreta de tais princípios gerais e fundamentais da matéria que deveriam, uma vez ressaltados e esclarecidos, ou seja identificados, comprovar a obtenção da autonomia por parte do Direito Agrário.119 Ainda, enfim, resulta válida - à distância de quarenta anos - a verificação negativa expressa pela doutrina cautelosa e autorizada de Enrico Bassanelli: “De tais princípios, até agora, e salvo erro, não se formulou nenhum”120. Diante a falta de objetivação e individuação de tais princípios gerais pela doutrina e jurisprudência, observou-se que o importante não são os princípios atualizados, senão a capacidade potencial da matéria para produzi-los. Porém tal capacidade conserva o caráter de mera hipótese, porque ninguém pôde demonstrar a existência, pelo menos no nível elevado de princípios gerais (melhor geralíssimos, por causa do grau de abstração com que se aludiu a eles), e pois é razoável duvidar de que 117 Carrozza, Antonio, ob. cit., p. 82. Carrozza, Antonio, ob. cit., p. 82 e 83 e Carrozza, Antonio e Zeledón, Zeledón Ricardo, “Teoria General e institutos de derecho agrario”, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1990, p. 91. 119 Carrozza, Antonio, ob. cit., p. 83. 120 Id., ibid., p. 83. 118 178 efetivamente tal capacidade exista.121 Por outro lado, não se compreende por que os cultores de um direito especial, como é o Agrário, deveriam estar e sentir-se obrigados a tipo semelhante de demonstração, quando está provada historicamente a extrema dificuldade em circunscrever e, até mesmo, a impossibilidade de enumerar princípios gerais, que regem os setores normativos detentores de uma autonomia consolidada e indiscutida. 122 A história do pensamento jurídico deveria ensinar que, também, para os ramos maiores do ordenamento não foram tanto os princípios gerais quanto seus produtos normativos (de primeiro grau como de segundo grau: institutos) considerados pertinentes a um ramo determinado do direito e típicos dele, a fornecer a manifestação mais convincente da autonomia alcançada.123 b. Dado o poliformismo dos princípios gerais, nenhuma tentativa de procurar princípios tão especiais a ponto de poder afirmar peculiares do Direito Agrário, porém suficientemente gerais e reconhecidos operantes no âmbito inteiro deste ramo do Direito, poderá obter sucesso sem a determinação prévia dos princípios informadores de cada instituto. 124 Com efeito, se é verdade que a característica mais profunda dos princípios gerais advém da sua função construtiva, isto é, determinante do modo de ser do ordenamento jurídico, o reconhecimento das estruturas do ordenamento necessárias para a reconstrução teórica deve começar por unidades elementares de agrupamento das normas jurídicas, que são precisamente os institutos.125 c. O Direito Agrário moderno possui institutos que se sujeitaram e continuam a se sujeitar à incidência de fatores criativos originais e internos (basta pensar na onipresença “do fato técnico da agricultura”), assim como na incidência dos princípios que provêm aliunde ou que de qualquer maneira cobrem um âmbito que ultrapassa aquele do estreito domínio do direito da agricultura.126 Mas estes grandes princípios, difusos pela área inteira do Direito ou provenientes de outros campos do Direito, uma vez introduzidos no setor específico de direito considerado, apresentamse em tudo ou em parte reelaborados, combinados e amalgamados em modo original e caractetizante, dando assim lugar, sob o influxo das particulares forças criadoras daquele setor, a institutos “diversos”. d. A validade do método que o Direito Agrário deve ser estudado operando por institutos, e que são estes a base natural de início de qualquer afirmação possível de autonomia ou mais simplesmente de especialidade, não pode ser prejudicada pela verificação eventual de um número 121 Id., ibid., p. 84. Id., ibid., p. 84. Id., ibid., p. 84. 124 Id., ibid., p. 84. 125 Id., ibid., p. 84. 126 Id., ibid., p. 85. 122 123 179 não-relevante ou deveras escasso de institutos sobre os quais operar, porque este fenômeno poderse-ia explicar não apenas com o fato, extremamente óbvio, que as colheitas são escassas porque poucos são trabalhadores dedicados à colheita, mas, também, com a falta de completitude que ainda hoje se verifica nas estruturas do Direito Agrário positivo.127 E isto em não menor medida no Direito Agrário italiano se comparado com os direitos nacionais. Vale a este propósito a simples observação do desenvolvimento atrasado em que se encontra até hoje o setor específico do Direito Agrário sucessório ou hereditário, o qual, conforme se pode facilmente comprovar através de comparação com alguns ordenamentos estrangeiros, especialmente os dos países germânicos, já adquiriu um notável nível de especialidade ao não ser considerado como simples parte do Direito Civil.128 A validade do método em exame não pode sequer ser arranhada pela verificação da instabilidade dos institutos de Direito Agrário. Não há dúvida que a mutação contínua e freqüente dos fatores políticos, econômicos e tecnológicos motiva alterações quantitativas e qualitativas sem pausa no conteúdo do Direito Agrário. Ocorre, também, que institutos de Direito Agrário se desagrarizam.129 Sem violentar a história dos dogmas, pode-se considerar que em certo momento, por exemplo, a proibição dos atos emulativos era um critério delimitante da esfera da atuação lícita em matéria de atividade fundiária-agrária.130 E, por muito tempo, a distinção entre servidões “rústicas” e “urbanas” foi algo mais que mero aspecto de nomenclatura, como hoje indubitavelmente o é. No domínio do direito contratual, em seguida, figuras novas se acrescem sem pausa às antigas; e muitas destas últimas desapareceram ou estão em vias de desaparecer, talvez para reaparecer mais tarde: são os altos e baixos da denominada “tipicização” dos contratos agrários. Particularmente neste último setor, a “redução” forçada, “ope legis”, das relações contratuais agrárias em numerus clausus, as “conversões” legais de um tipo de contrato agrário em outro e a contração conseqüente da área de sobrevivência de manifestações da autonomia negocial dos particulares poderiam ser interpretadas como os sinais de um empobrecimento progressivo do conteúdo típico do Direito Agrário, já comprovado pelas tendências aparentemente irreversíveis de um processo econômico que admite a assim denominada “industrialização” das formas clássicas de exercício da empresa agrária.131 127 Id., ibid., pp. 84 e 85. O item d na obra de Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón, aparece sob título Utilidade de método proposto, ob. cit., pp. 84 a 87. Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón, op. cit., p. 85. 129 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 85. 130 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 85. Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón, op. cit., p. 85. 131 Id., ibid., p. 86 128 180 Mas, sob o ponto de vista metodológico que aqui nos interessa, tudo isto demonstra apenas que os institutos de Direito Agrário não se esquivam de caráter de relatividade histórica e de relatividade lógica, não diversamente a nota de relatividade que caracteriza os princípios gerais.132 Do dinamismo com que se operam as transformações dos institutos jurídicos já indicados, e as substituições de um instituto por outro, dinamismo que a observação em escala européia e mundial não pode senão confirmar, dever-se-iam retirar antes argumentos a favor da organicidade e, em definitivo, a favor da vitalidade do setor do direito que estamos considerando.133 Esta concepção do Direito Agrário estudada e reconstruída por institutos e através destes em substância individuada, já transparece em alguma alusão doutrinal permanecido, contudo, sem continuação para os fins de uma sua possível valorização metodológica para o desenvolvimento dos estudos de Direito Agrário.134 Enrico Bassanelli, já em 1946, no conhecido “Corso di Diritto Agrário” incluía entre “as condições essenciais” à autonomia “a presença de institutos peculiares”.135 Destes apresenta uma identificação mais precisa e a título exemplificativo indicava: unidade cultural mínima, recomposição fundiária, crédito agrário, formas típicas de gestão da empresa coletiva tal como a parceria, etc.136 É importante salientar que Enrico Bassanelli, ao estudar eventual identificação de princípios gerais, preferiu abster-se de qualquer referência concreta.137 Demonstrando prudência e cuidados não-exagerados, uma vez que tais tentativas de determinação de princípios gerais muito freqüentemente têm sido objeto de bem fundamentais críticas, que não reconhecem nas formulações geralmente apresentadas força suficiente para se apresentarem como princípios basilares da ciência do Direito Agrário e muito menos a natureza de serem verdadeiramente genéricos, colocando-se, no mais das vezes, circunscritos como expressão de objetivos desejados por quem os formula ou atribuíveis a situações especial e temporalmente muito específicas e particulares. Como exemplo destas limitações, podemos nos referir aos supostos princípios gerais do Direito Agrário soviético, da forma como enunciados por Kozyr, tais como a gratuidade e perpetuidade do uso da terra por parte das empresas agrícolas e agroindustriais socialistas como também pelos cidadãos; a organização da produção agrícola com base na aplicação das conquistas da ciência e do progresso técnico; a autonomia econômica das empresas e associações, combinada com uma gestão planificadora centralizada; o desenvolvimento da produção sobre a base do cálculo econômico; o interesse material das 132 Id, ibid, pp. 85 e 86. Id., ibid., pp. 86 e 87. Carrozza, Antonio, op. cit., p. 86. 135 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 86. 136 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 86. 137 Id., ibid., p. 86. 133 134 181 empresas, associações e respectivos trabalhadores nos resultados das atividades econômicas produtivas e laborativas; a gestão dos negócios das empresas e associações agrícolas e agroindustriais sobre a base do centralismo democrático; a legalidade socialista.138 Salvatore Orlando-Cascio, em seu “Corso di Diritto Agrario” , 1952, manifesta-se no mesmo sentido quanto a identificabilidade, pelos seus caracteres peculiares, de um certo número de institutos agrários e com exemplificação muito vizinha a de Enrico Bassanelli. Tulio Ascarelli também se interessou pelo tema e depois de se ter perguntado até que ponto a especialidade da matéria corresponderia a um complexo orgânico de normas, disciplina que começava a reivindicar a autonomia, exprimiu a opinião de que melhor que uma resposta dada a priori, seria preferível uma a posteriori, isto é, depois do exame concreto dos institutos centrais do Direito Agrário.139 Pode-se citar, a este propósito, passagem de Gaetano Azzariti em trabalho sobre a técnica e sistemática da legislação agrária, quando conclui que “sollo atraverso un lavoro di sapiente revisione potrà sorgere una legislazione organica dell’ agricoltura, nella quale i vari istituti potranno essere inquadrati” ou seja “só através de um trabalho de sábia revisão poderá surgir uma legislação orgânica da agricultura, na qual os vários institutos poderão estar enquadrados”.140 Em seguida, deve ser meditada a reflexão sobre o método mais conveniente para a elaboração do Direito Agrário na Espanha elaborada por Agustín Luna Serrano: “No nosso país o direito agrário se debate ainda em intentos de sistematização, de formulação legal independente e de autonomia, e parece-me que poderemos alcançar estes resultados quando, mediante o estudo de todos os institutos que integram o direito agrário espanhol, teríamos sido capazes de liberar os princípios que o informam. A elaboração do direito agrário deve acontecer de baixo para o alto, a partir de seus diversos institutos concretos, antes que do alto para baixo, partindo de conceitos econômicos e sociológicos de cientificidade dúbia”.141 Ainda: 138 Kozyr, M. I., op. cit., pp. 187 e 188. Carrozza, Antonio. p. 86. Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón, op. cit., p. 88, nota 33, indicam que o pensamento de Salvatore Or1ando Cascio está na p. 48 da obra citada e a conclusão de Gaetano Azzariti, em “Teoria e sistematica nella legulazione”, em “Atti del Terzo Congresso Nazionale di Diritto Agrario. p.370 140 Id., ibid., p. 86. Carrozza, Antonio e Zcledón, Ricardo Zeledón, op cit., p. 88, nota 33, indicam que o pensamento de Salvatore Orlando Cascio está na p. 48 da obra citada e a conclusão de Gaetano Azzariti em “Tecnica e sistematica nella legislazione agraria”, em “Atti del Terzo Congresso Naziollale di Diritto Agrario”, p. 370. 141 Id., ibid., p. 86. 139 182 “Em realidade nós agraristas nos decidimos a adotar uma ou outra posição metodológica conforme a idéia que temos do direito agrário e, mais ainda conforme tenhamos ou não uma idéia preconcebida dele. Se não possuímos esta idéia preconcebida - o que não é freqüente (...) teremos que alcançar a conclusão real (e realista) que o direito agrário não tem, nem hoje por hoje pode ter; um conteúdo formal específico, e orientaremos nosso estudo em direção do conteúdo material do direito agrário. Somente através da consideração dos vários institutos (...) de direito agrário se pode atingir; uma vez negado seu objeto formal, o fundamento da especialidade própria do direito agrário”.142 Com efeito, conclui Agustín Luna Serrano que: “o estudo do objeto material do direito agrário poderá colocar em evidência toda a importância, a complexidade e os caracteres da matéria jurídica-agrária que permitam a especialidade”.143 Antonio Carrozza conclui que, como se pode apreciar, Agustín Luna Serrano desenvolvem com grande precisão a linha metodológica que ele, Antonio Carrozza, apresentou em “Gli istituti del diritto agrário”, tomo I, que Luna Serrano cita, no que concerne ao estudo do que ele chama conteúdo “material” do Direito Agrário, e destacou a conveniência da perspectiva em analisar o Direito Agrário por institutos.144 e. Para encerrar a análise deste tópico deve ser lembrado o relevo crítico de Natalino Irti, o qual observou que para poder individualizar os institutos pareceria necessária uma definição acabada e geral da matéria em toda a sua latitude. A objeção é, certamente, séria, mas não-intransponível, embora encontre um pretexto no fato que a enumeração dos institutos do Direito Agrário, para não falar de suas partes, pode-se dizer ainda hoje está estagnada no estado inicial de uma intuição para ser verificada; o que explica como o Direito Agrário se encontra em condições de inferioridade com relação às disciplinas mais consolidadas, para as quais há resíduo de dúvida de atribuição, na maior parte dos casos, apenas em certas áreas fronteiriças.145 Deve-se considerar, pois, que a primeira incumbência a ser desenvolvida é a de preceder de um “inventário” dos vários institutos e de seus possíveis conteúdos, as especulações sobre a essência geral do Direito Agrário. 146 Só após dir-se-á que um Direito Agrário existe, que é autônomo, somente e apenas somente 142 Carrozza, Antonio, op, cit., p. 86 e Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón, op. cit., p. 88. nota 35. Carrozza, Antonio, op. cit., p. 87. Carrozza, Antonio, op. cit., pp. 86 e 87, continuação da nota 35. Em Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zeledón,op. cit., o item d parece sob título “Adesões doutrinárias a um Direito Agrário estudado e reconstruído por institutos”, pp. 88 e 89, notas 33, 34 e 35. 145 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 87. 146 Id., ibid., p. 87. 143 144 183 quando possuir um certo número (não falaremos de princípios), de institutos que lhes sejam próprios.147 A noção geral de agrariedade que de algum modo se demonstra estar em condições de exercer a função de denominador comum (da agrariedade, precisamente, isto é, de atribuição ao âmbito do direito da agricultura) auxiliará definir quais os institutos ou enquadrá-los no sistema próprio do Direito Agrário, ainda que provisoriamente e em primeira aproximação, ou seja, com reserva de submeter depois cada um deles a verificação separada.148 Ora, não parece possível fixar uma noção idônea de agrariedade sem se referir à “lei” biológica que preside toda atividade de criação de animais ou de vegetais.149 Com base na lei biológica, com efeito, pode-se buscar e encontrar o critério geral da agregação dos institutos entre si, o qual é uma exigência, é uma necessidade.150 coló Rosario e Paolo Vitucci avaliam que é previsível a tendência para estudar a ampla e dispersa variedade de assuntos que constituem a base do Direito Agrário através de institutos.151 3. O PROCESSO DE “CONSTITUCIONALlZAÇÃO” DO DIREITO AGRÁRIO Na experiência italiana contemporânea, plena de “aporias” e de incertezas, mas rica de seivas ideológicas e de pedidos culturais, um desvio significativo da metodologia jurídica deve-se ao movimento que se denomina “diritto civile costituzianale”.152 Por sua vez, o Direito francês, segundo verificação de Louis Lorvellec, não conhece uma jurisdição agrícola, sendo que a competência do Ministério da Agricultura francês varia por força de um simples decreto, e, especialmente, não há de se falar de uma noção constitucional de agricultura naquele país. Situação diferente, contudo, daquela descrita por Z. S. Beljaeva, referindo-se às normas constitucionais de alguma forma relativas ao Direito Agrário soviético. Relata tal autor que a Constituição da Rússia, sendo antes e sobretudo fonte de Direito estatal, estabelecia também as normas fundamentais primárias de outros ramos do Direito. Ao se revelar a importância da Constituição como fonte de Direito Agrário, é necessário distinguir dois grupos de normas: a. normas gerais referentes ao sistema econômico da Rússia, aos direitos e deveres de todos os cidadãos; b. normas especiais destinadas a regular as relações agrárias. 147 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 87. Id., ibid., p. 87. Id., ibid., p. 87. 150 Id., ibid., p. 87. Ver, também, Carrozza, Antonio e Zeledón, Ricardo Zcledón, op. cit., pp. 89, 90 e 91, principalmente p. 91. 151 Rosario, Nicoló e Vitucci, Paolo. “Riflessioni su ‘Didattica e Sistematica del Diritto Agrario’” em Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. n. 52, 1ª parte, 1973, p. 70. 152 Lorvellec, Louis. “Droit Rural”, 1ª edição, Paris: Masson, 1988, p. 8. 148 149 184 Pertencem ao primeiro grupo, segundo o autor, as disposições então presentes no art. 10 da Constituição então vigente naquela Federação de repúblicas, onde se declara que a propriedade socialista dos meios de produção, na forma estatal (de todo o povo) e Kolchoziano-cooperativa, constituíam a base do sistema econômico da Rússia, e o art. 11 da Constituição o qual declarava a propriedade exclusiva do Estado sobre as riquezas naturais, tais como a terra, o subsolo, as águas e florestas.153 Na sua expressão mais original e conhecida, este movimento - que encontrou em Piero Perlingieri o mais convicto propagandista - não se limita a recomendar uma releitura do Código Civil e da legislação ordinária feita à luz da Constituição, mas este movimento se apresenta como critério que supera aquela antítese presumida entre normas jurídicas contidas na codificação e princípios políticos contidos na Cana constitucional, antítese que, às vezes, é reafirmada por alguns civilistas, critério que assim manifesta a sua relevância e fecundidade também em matéria de interpretação.154 Antonio Carrozza transcreve trecho de Piero Perlingieri: “Quais, então, e em que as possibilidades aplicativas de método semelhante? Sem dúvida o seu campo de eleição está representado pelas relações onde emerge a centralidade da pessoa humana e a exigência de seu desenvolvimento livre a respeito de situações patrimoniais tais como a propriedade e a empresa, e pois das relações e das situações que se apresentam em campo dos direitos da personalidade, de direito de família, de direito de trabalho”.155 Todavia - como também se advertiu - a proposta de interpretação constitucional da legislação ordinária pode incidir também na teoria das obrigações e dos contratos, que nãoobstante permanecendo o setor mais comprometedor por tecnicismo e profundidade de especulação, impõe seja estudado de modo “não-histórico e não-estimatório ou avaliável”. 156 Seria uma limitação arbitrária reconhecer a relevância das normas constitucionais e de seu uso hermenêutico “direto” exclusivamente nos setores acima indicados. É de se indagar, ao invés, se a mesma exigência não seja observável e observada também pela ciência do Direito Agrário e se os institutos do Direito Agrário não se prestam a serem investigados e revistos com base na metodologia acenada. 153 Belyaeva, Z. Ç. “Problemi teorici relativi alle fonti del Diritto Agrário” em “Fonti ed Oggello del Diritto Agrário”, 3ª mesa-redonda ítalo-soviética, Firenze, Brescia, Sirmione, 9-16 de novembro de 1982, 1ª edição, Milano: Editrice Giuffrè, 1986, p. 150. 154 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 87. 155 Id., ibid., p. 88. 156 Citado por Antonio Carrozza, op. cit., p. 88. 185 Desde que a resposta a tal pergunta não possa ser senão positiva, o estudo dos institutos de Direito Agrário deve se proceder pressupondo a existência e a exeqüibilidade de um “direito agrário constitucional” ou pelos menos “constitucionalizado”.157 No fundo a resposta já está implícita na impostação perlingieriana do problema, visto que o significado que o citado mestre atribui à expressão “Direito Civil” (do qual “Direito Civil constitucional”) é tendencialmente ampla a ponto de abranger setores na divisão arcaica peremptória entre Direito Privado e Direito Público que poderiam ter sido atribuídos definitivamente ao Direito Público.158 O Direito Civil do qual hoje falam os civilistas não constitui mais o núcleo central e hegemônico do Direito Privado e aparece substancialmente abrangente dos direitos especiais que se formaram no seio do Direito Privado como O Direito Comercial, o Direito do Trabalho, o Direito da Navegação, o Direito Industrial e, precisamente, o Direito Agrário. 159 No Direito Agrário, manifesta·se como em outro setor e às vezes mais que em outro setor como quando se considera a propriedade da terra não por si mesma, mas funcionalizada à empresa agrária o propósito metodológico geral que anima o Direito Civil constitucional em favorecer o perfil funcional (a função sócio-econômica) quanto à estrutura, com o escopo de ativar aqueles valores supremos expressos na Lei fundamental do Estado, valores que regem o sistema jurídico. O intento paralelo de valorizar o interesse mais que a vontade encontra espaço no Direito Agrário: bastará lembrar a metamorfose do contrato agrário de ato de autonomia da vontade do contraente particular para contrato legal, com uma tipicização do conteúdo e da causa impelida ao máximo. 160 No campo do Direito Agrário, também, afirma-se a jurisprudência dos valores, que constitui a continuação natural da jurisprudência dos interesses, consentindo assim antepor a tutela do interesse do cultivador concessionário ao interesse do proprietário concedente, todas as vezes em que isto se torne indispensável, tendo em vista atuar as finalidades constitucionais. As finalidades constitucionais não se limitam à tutela prioritária da pessoa e do trabalho, mas requerem não seja violado, enquanto possível, o princípio da igualdade e também não o seja o princípio da liberdade de iniciativa privada.161 Nesta perspectiva, fixam-se certas linhas de tendência que se podem apanhar na evolução do Direito Agrário. 162 157 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 89. Id., ibid., p. 89. Carrozza, Antonio, op. cit., p. 89. 160 Id. ibid, p. 89. 161 Id., ibid, p. 89. 162 Id., ibid, p. 89. 158 159 186 A tentativa de estender a eficácia da prescrição pelo não-uso para a figura da propriedade não é estranha às preocupações dos cultores do Direito Agrário, por exemplo, o que ocorre no Direito Agrário constitucional, através da figura do usucapião pro labore, que nos vem desde a Constituição de 1937, com supressões e ingressos na Cana Magna. Esta tentativa se justifica porque se quer a situação subjetiva do proprietário caracterizada pela presença de uma função particularmente intensa, é o que ocorre com a propriedade agrária, pois a inatividade do titular do direito concretiza um dano social maior.163 Os pretextos constitucionais do princípio do dever de exploração agrícola da terra legitimam novas formas de limitação do direito de propriedade no interesse público, que, em verdade, é um interesse misto, ou seja, público e privado conjuntamente: o interesse do Estado e o do concessionário.164 A matéria interessa ao Direito Agrário constitucionalizado brasileiro, pois, manifestações se encontram nos arts. 184 a 1.991 da Constituição Federal de 1988. Na Itália, por exemplo, admite-se a privação por ato administrativo, a título de sanção, da faculdade do proprietário de exploração direta e pessoal das capacidades produtivas do fundo com o que se criou um instrumento largamente utilizado na Itália e em outros países, com o escopo de conceder a cooperativas de camponeses ou a cultivadores independentes a utilização de terras abandonadas ou insuficientemente cultivadas.165 Outro aspecto referente ao Direito Agrário “constitucionalizado” consubstancia-se no processo de constitucionalização da jurisprudência, objeto de manifestações favoráveis nos ambientes jurídicos italianos. Um exemplo residiu em se considerar poder extrair da Constituição o princípio da obrigação que grava o arrendador em retribuir para garantir uma indenização conveniente ao arrendatário, cultivador direto, sacrificado no seu direito à prorrogação legal por causa da redução na destinação agrícola do terreno. Tal orientação da Corte Constitucional italiana foi seguida pela magistratura e substituída ao se incorporar na lei através do art. 43, da Lei de 3 de maio de 1982, de n. 203, ao determinar uma “corresponsione” de uma “indenização eqüitativa” em todos os casos de dissolução, resolução antecipada e não-culposa por pane do arrendatário do contrato.166 Carrozza aponta que neste sentido o Direito Agrário confirma-se como “direito de eqüidade” (de remuneração eqüitativa e indenização eqüitativa), ou seja direito alargado na procura de soluções idôneas para realizar a igualdade substancial entre os portadores de interesses contrapostos. 163 Id., ibid, p. 89. Id, ibid, p. 90. Id.. ibid., p. 90. 166 Id., ibid., p. 90. 164 165 187 E conclui que a investida ao critério constitucional na solução dos problemas que se apresentam ao agrarista é visível, também, na elaboração doutrinária do Direito Agrário.167 Antonio Carrozza conclui que a exigência em avaliar os institutos de Direito Civil no sistema dos princípios constitucionais de modo a realizar um “continuum” entre Constituição e regras do Direito Civil encontra-se pois no campo do Direito Agrário, mas com esta particularidade: que os operadores do Direito Civil podem contar com o Código Civil, destinado a funcionar em muitos casos como ponte entre a Constituição e leis especiais, enquanto os operadores do Direito Agrário, quando querem recolher numa unidade sistemática os elementos dispersos na legislação especial confusa e tumultuosa, têm apenas a Constituição como ponto de referência.168 No âmbito das pesquisas de Direito Agrário, adverte-se hoje da necessidade de sair dos esquemas seguidos pelas leis especiais externas ao Código Civil, para enriquecê-las, exatamente com a dimensão constitucional própria.169 Este trabalho de enriquecimento envolve o legislador ordinário não menos que o intérprete, seja prático ou teórico. Quanto à interpretação, tornar-se-á um hábito mental do intérprete - a começar pelo intérprete - juiz - empenhar-se para individualizar entre vários critérios possíveis de resolução das controvérsias, aquele critério que esteja em condições de realizar “leitura”, correta e mais razoável de modo positivo ou negativo, do fundamento constitucional.170 Mas se introduzir na perspectiva de um Direito Agrário Constitucional significa algo mais, significa adaptar a pesquisa científica à referência ao dado constitucional preferencialmente a qualquer outro. Em conclusão, o estudo do Direito Agrário deve começar e terminar na Constituição ou, pelo menos, estudar, ainda que problematicamente, os reflexos constitucionais do objeto do Direito Agrário, pois isto é fazer Direito Agrário.171 Rosario Nicoló e Paolo Vitucci entendem integrar o Direito Constitucional Agrário às partes do Direito Agrário subtraídas originariamente da inserção e menção no Código Civil italiano por causa de sua conotação de Direito Público.172 Para Karl Kreuzer, apontam já no século XIX como institutos de Direito Público a proibição de divisão de bens rurais e as normas sobre recomposição fundiária. Noticia, também, que as constituições da maioria dos estados federa dos contêm normas tendo por objeto a proteção da agricultura, das empresas agrícolas e do solo destinado à agricultura. A propriedade agrária e o 167 Id.. ibid., pp. 90 e 91. Id, ibid., pp. 91 e 92. Id., ibid, p. 92. 170 Id, ibid, p. 93. 171 Id., ibid, p. 93. 172 Rosario, Nicoló e Vitucci, Paolo. Rivista di Diritto Agrario, v. n. 52, op cit., p. 69. 168 169 188 direito fundiário são explicações da disciplina constitucional (geral) para um certo setor. Admitido a possibilidade de intervenções da administração pública no setor das empresas agrárias.173 Aldo Pedra Casella salienta que a inclusão na Constituição de normas atinentes à propriedade e à atividade agrária decorre do “constitucionalismo social”. Utiliza a expressão “direito constitucional agrário”. Admite que quando a constituição negligencia em atribuir à propriedade e à empresa agrária uma disciplina própria e específica, as conotações constitucionais da propriedade e da empresa devem derivar dos princípios gerais da inviolabilidade da propriedade. Isto decorre da “funcionalização” por ordem constitucional dos institutos jurídicos típicos do Direito Privado.174 Casella, citando Natalino Irti, ratifica o entendimento de que para o proprietário da terra o uso conforme sua destinação, a inserção do bem na organização de uma empresa agrária, é um “ato devido”, uma obrigação. Pode-se, pois, sustentar como princípio emergente das constituições modernas que o direito de propriedade sobre a terra, enquanto bem produtivo de interesse social, deve estar conexo à obrigação de destiná-la ao exercício de uma empresa agrária.175 E continua o mestre argentino que a peculiaridade do objeto age em um determinado momento como ponte de ligação entre esses planos jurídicos diferentes, o da propriedade e o da empresa agrária. A estreita ligação da atividade econômica que constitui a empresa agrária, pelo menos, quanto às suas atividades principais, com a exploração produtiva da terra não pode evitar de figurar na disciplina.176 Casella aborda o tema da interpretação dinâmica do texto constitucional ao se referir a importante construção interpretativa da Corte Suprema argentina, no campo do Direito Agrário, como o salientou em estudos conhecidos a que se dedicou, Ricardo R. Carrera.177 No mesmo sentido, Luigi Costato abordou as conseqüências da interpretação antiquada dada pelo legislador ao texto constitucional.178 Agustín Luna Serrano giza o conteúdo constitucional do Direito Agrário espanhol, ressalvando não haver referência direta à atividade agrária, indicando as regras constitucionais que cuidam dos direitos e deveres fundamentais, direitos e liberdade, dos direitos e deveres dos cidadãos, princípios que regulam a política social e econômica.179 Serrano afasta a denominação 173 Kreuzer, Karl. “Fondamenti costituzionaJi della proprietà e dell' impresa agrada nella Republica Federale Tedesca”, in Rivista di Diritto Agrario, v. n. 64, 1ª parte, Milano, 1984, pp. 81, 82, 84 e 85. Casella, Aldo Pedra. “La proprietà e lª impresa agraria nel sistema costituzionale argentino”, em Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. n. 64, 1ª parte, 1985, pp. 32 e 33. 175 Id., ibid., p. 35. 176 ld., ibid., p. 35. 177 ld., ibid., p. 47. 178 Costato, Luigi. “Le basi costituzionali per una soluzione legislativa del problema dell' agricultura”, em Rivista di Diritto Agrario, v. n. 52, 1ª parte, Milano: Editrice Giuffrè, 1973, p. 147. 179 Luna Serrano, Agustín. “Il Diritto Agrario e la costituzione spagnola del 1978: fondamenti coslituzionali della proprietà e dell’impresa agrária”, em Rivista di Diritto Agrario, v. n. 64, 1ª parte, Milano: 1985, p. 53. 174 189 “direito constitucional agrário”, porque tal definição poderia parecer arbitrária e denomina a matéria de moldura constitucional do Direito Agrário espanhol.180 Refere-se à obrigação de cultivar em modo determinado, que pode se estender até a obrigação de melhorar a base territorial da empresa, cujo significado e importância constitui um dos aspectos mais característicos do moderno sistema de Direito Agrário.181 Serrano, salientando a linha limitativa da liberdade da empresa, explica que a restrição ao exercício dos poderes do empresário pode resultar, também, de disposições que conduzam à atividade econômica da produção às exigências da economia geral, a que se refere o art. 38 da Constituição espanhola; isto sucede, por exemplo, para as proibições de implantar determinadas culturas, muito freqüentes na experiência jurídica espanhola; ex.: novas plantações de vinhedos.182 É necessário também observar que (a referência) a inserção da atividade empresarial na economia de mercado pode dizer respeito, ainda que indiretamente, àquelas atividades produtivas agrárias que, quer pelo seu caráter puramente marginal, quer porque objetivam apenas fins de autoconsumo, estão privadas de qualquer tutela ou estímulo indispensáveis para sua continuidade. As empresas familiares que a lei reconhece com os fins de protegê-las, potenciá-las e facilitar-lhes o desenvolvimento são aquelas em que a produção agrícola se realiza ”primordialmente com fins de mercado”, com referência o art. 2° da Lei n. 49 de 24 de dezembro de 1981, sobre “Estatuto de la explotación familiar agraria y de los agricultores jovenes”.183 Há de se falar do direito de preferência sobre a parte cultivada, mediante aquisição preferencial ou direta, ou como condição de retomada do fundo pelo arrendador, interrompendose assim a atividade que, em virtude do contrato agrário, o arrendatário estava realizando no fundo.184 A respeito da atividade agrária, por autonomia, que é a atividade de produção, o planejamento se apresenta com o aspecto dúplice de favorecer a formação de empresas suficientes, eficientes e rentáveis e operar de modo que a produção agrária coincida quanto mais possível com as exigências, as necessidades ou as conveniências da economia ou, sentido mais longo, da economia geral da Nação.185 Referindo-se ao postulado constitucional da exploração racional dos recursos naturais, quanto ao exercício da atividade econômica agrária, deve ser ressaltado essencialmente a preservação dos recursos naturais de caráter renovável (como a terra, a água e o ar), que são 180 Id., ibid., p. 54. Id., ibid., p. 58. Id., ibid., pp. 60 e 61. 183 Id, ibid., p. 61 e nota 17. 184 Id, ibid., p. 61 - Ver Lei n. 83 de 31 de dezembro de 1989. 185 Id. ibid., p. 63. 181 182 190 produtos úteis da produção agrícola, vez que esta se caracteriza, de maneira sem dúvida qualificante, por estar ligada a ciclos biológicos da produção, cultivo e criação de espécies vegetais e animais que se valem essencialmente daqueles.186 4. A CONCEPÇÃO “PURA” DO DIREITO AGRÁRIO E AS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS Para Antonio Carrozza, o passado recente evidenciou certas “inclinações” da literatura agrária estrangeira, especialmente em língua espanhola, em direção ao direito dos recursos naturais, de um lado, e em direção do direito agroalimentar de outro.187 A teoria agrária italiana demonstrou-se bastante indiferente a tais solicitações e parece não muito disposta a se afastar daquela que pode ser denominada a concepção “pura” do Direito Agrário e de seu objeto: pura no sentido que permaneceu, até hoje, imune às contaminações que pudessem imprimir à matéria estudada um curso diverso e estranho às suas raízes.188 Carrozza concluiu que as sugestões daqueles autores que sustentaram que estaria em processamento a transformação do Direito Agrário - admitido como aquele complexo de normas que fundamentalmente disciplinam a produção agrícola e as atividades que lhe concernem - ou em um direito da natureza, dominado pela preocupação ecológica e forjado na medida desta (tanto que se poderia denominar direito ambiental), ou em um direito da alimentação, concebido de modo a abranger todos os fenômenos concernentes à obtenção dos produtos agrícolas e inclusive os produtos de transformação industrial a partir da terra e da criação, devem ser afastadas.189 Louis Lorvellec, por sua vez, identifica, além de um núcleo central do Direito Agrário mais comumente denominado Direito Rural em França - um círculo mais vasto, por uma extensão aos dois principais sistemas, aos quais pertence a agricultura: justamente o espaço rural de uma parte e o agroalimentar de outra. A extensão do Direito Rural no espaço alcançaria assim aqueles que pela localização de suas atividades fazem de qualquer forma parte da família geográfica dos agricultores. A extensão do Direito Rural ao agroalimentar submete, por exemplo, às regras da economia contratual em agricultura ou do mercado comum agrícola os transformadores que não têm ou tiveram jamais relações jurídicas com os agricultores, mas que formam parte de sua família econômica. Para o jurista francês, se a especificidade da atividade agrícola desaparecer um dia, é que a ruptura completa entre as duas agriculturas terá sido consumada. Uma, mais tradicional e defensora do meio ambiente será submetida a um assim denominado Direito do 186 Id. ibid., p. 67 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 93. Id, ibid, p. 93. 189 Id, ibid, pp. 93 e 94. 187 188 191 campo, e a outra, sempre mais intensiva, pertencerá, para Lorvellec, ao Direito do setor alimentar e à bioindústria.190 Antonio Carrozza pondera ou se deve afastar ou pelo menos manter à margem da matéria propriamente agrária o que seria o direito ambiental e o direito agroalimentar.191 O ilustre jusagrarista se posiciona de que convém enfrentar (sob A e sob B) as duas concepções “alternativas” à concepção da agricultura concentrada, movida sobre mecanismos biológicos da criação de animais e de vegetais. a. Direito Ambiental A idéia de um conjunto de normas cuja preocupação prevalecente seja a tutela da integridade do solo e de tudo o que ele contém e que o circunda, a preservação do ambiente nos seus valores estéticos (paisagem) e em todos os seus componentes vitais (verde, ar, água), e portanto a luta contra a poluição de toda espécie, encontra repercussão na imprensa e suscita entusiasmos fáceis na opinião pública.192 Mas qual relação tem com o Direito Agrário o que se denomina direito da natureza e dos recursos naturais ou o Direito Ambiental, na sua acepção unificadora de objetos de tutela separados? A questão pode ser posta em termos diferentes e, primeiramente, com eventual coincidência total com o Direito Agrário. Carrozza aponta que não se hesitou em sustentar que a disciplina jurídica dos recursos naturais “se encontra en el ambito del derecho agrário y, por ende, corresponde a este”, o que equivale dizer que o Direito Agrário apresentar-se-ia presentemente como o direito da natureza ou seja dos recursos naturais, especialmente não-reproduzíveis, no que concerne à sua distribuição, preservação, melhoria e utilização. Tal posicionamento foi sustentado na conclusão n. 2 das “Jornadas ibero-americanas y européias,” realizadas em Zaragoza e lona, em 1976. Carrozza esclarece que tal assimilação não pode ser absolutamente partilhada. É inegável que também o Direito Agrário, como todos os ramos jurídicos interessados pelos fenômenos descritos, é convocado pela necessidade em orientar o desenvolvimento produtivo em direção de um modelo, inclusive no interesse das gerações futuras, que imponha uma gestão idônea dos recursos; e é também inegável193 que a agricultura se mostra abundantemente poluída, isto é, vítima das poluições causadas por terceiros, também, por sua vez, poluente. Basta salientar que a agricultura moderna apresenta uma alta concentração de fertilizantes e pesticidas.194 Todavia, o objeto do Direito Agrário permanece específico, e continua a se circunscrever 190 Lorvellec, Louis, op. cit., p. 10. Carrozza, Antonio, op. cit., p. 93. Id. ibid., p. 94. 193 Id. ibid, p. 94. 194 Id. ibid, p. 95. 191 192 192 essencialmente à organização das relações jurídicas que concernem à exploração agrícola do solo. Não devemos exigir muito do Direito Agrário, mas ao invés devemos atribuir a ele aquilo que lhe pertence. Igualmente criticável querer apresentar o Direito Agrário como regulador do uso competitivo dos recursos territoriais entre a agricultura e a indústria. Manifestar uma disciplina dotada de valência para todos os usos possíveis do território não pode ser o dever exclusivo e nem principal do Direito Agrário, porque uma disciplina assim orientada pertence à função mais elevada de governo do território, confiada ao aparato constitucional administrativo.195 As normas que têm especificamente por objeto as relações agrárias deverão refletir o conteúdo das prescrições gerais e este assunto integra temática diversa daquela constituída pelas relações entre o Direito Agrário de um lado, e respectivamente Direito Ambiental e Direito de território de outro, que são relações entre âmbitos jurídicos diferentes ainda que em alguma parte e em certa medida interferentes.196 Mas há de se perguntar: no que consta esta interferência? O objeto típico do Direito Agrário permanece aquele assim considerado sem que tenha sido desvirtuado pelo impacto do “ambientalismo”.197 A preocupação ecológica, se admitida a integração ao programa de Direito Agrário, adquirirá a forma de novas limitações à propriedade fundiária-agrária e principalmente de novos vínculos para a empresa agrícola. Todavia, estarão consubstanciados novos parâmetros (aqueles de caráter ecológico) para a avaliação de cláusulas gerais como a “boa técnica agrária” nas relações obrigatórias entre particulares e entre a administração pública e particulares.198 Quanto às relações entre Direito Agrário e disciplina do território é oportuno recordar, a título exemplificativo, os ônus concernentes às transformações e às inovações de todo tipo, tendo por objeto as terras destinadas à agricultura. Também merecem atenção as transformações do solo relevantes para os fins da proteção ambiental ou usando a terminologia de uma Diretiva da CEE toda vez que comportem o perigo de um impacto ambiental importante. Deve ser considerado o escopo de prevenir toda forma grave de diminuição da integridade do território como suporte do ambiente. Em conclusão, o que se concretiza é uma ampliação do objeto do Direito Agrário, onde o interesse na produção choca-se com o interesse de freiar a produtividade, quando esta se caracterizar através de formas exacerbadas e nocivas. Portanto, o que ocorre é mais do que transformação da orientação fundamental do Direito Agrário na tutela da atividade e da unidade 195 Id. ibid., p. 95. Id. ibid, p. 95. Id, ibid, p. 95. 198 Id, ibid, pp. 95 e 96. 196 197 193 produtiva.199 Neste sentido, mas só neste sentido, a disciplina criada para a tutela do ambiente não é, certamente, estranha ao campo da análise e pesquisa dos jusagraristas. E isto na medida em que incide sobre a empresa agrícola e em particular sobre o modo como tal atividade deve se desenvolver e sobre as relações entre a atividade e o complexo tecido territorial onde opera.200 É necessário ter presente a noção de espaço rural que se propõe como um continente de recursos naturais e mais genericamente como ambiente a ser protegido na substância e na forma (como paisagem), de modo que se instaure um comprometimento do objeto típico e exclusivo do Direito Agrário na preservação e reconstituição dos recursos naturais, na defesa do solo, etc.201 O comprometimento acima apontado, nos métodos e fins, aparece em uma certa medida irrefreável e responde a uma lógica da publicização crescente do núcleo tradicional do Direito Agrário. A recente explosão da sensibilidade pelos temas e problemas da ecologia e a consciência, o conhecimento difuso da deterioração do ambiente, em todos os seus valores, históricos, estéticos e culturais, inclusive e ainda em todos os seus componentes exigem o comprometimento do Direito Agrário até por causa de sua extrema vizinhança junto à natureza.202 Antonio Carrozza ressalta que não mais se mantém o álibi da “inocência” da atividade agrícola em confronto com a natureza: se a agricultura poluída por fluxos externos (e as indústrias ditas “sujas” são as maiores culpadas) é uma realidade, o é também a agricultura poluente. Deste modo, o Direito Agrário deve ser co-interessado na medida antipoluição no setor em que, por exemplo, as operações agrícolas são causa da deterioração das águas.203 Carrozza, preocupado com a visão ecológica do objeto do Direito Agrário, refere-se a uma documentação instrutiva, relativa às fontes do direito da reforma agrária nos países da América Latina, maior que a oferecida pelos ordenamentos da Europa Ocidental.204 Há normas que exprimem eficazmente o intento de disciplinar organicamente o emprego na agricultura dos recursos naturais, em nome da utilidade pública e do interesse social. Embora possa se apresentar prematuro falar de um capítulo do Direito Agrário, composto por disposições de princípio e de normas de atuação dirigidas a disciplinar organicamente este setor. Trata-se de normas que imprimem uma conformação diversa ao Direito Agrário, ora agindo sobre a propriedade ora sobre a empresa e estes são os dois institutos fundamentais do Direito Agrário.205 199 Id, ibid., p. 96. Id, ibid., p. 96. Id, ibid, p. 96. 202 Id, ibid., p. 321. 203 Id., ibid., p. 321. 204 Id, ibid., p. 321. 205 Id, ibid., pp. 321 e 322. 200 201 194 É necessário evidenciar que não apenas a falta total ou parcial de exploração mas, também, uma exploração contrária à vocação natural do solo constitui - e isso em qualquer lugar - causa de expropriação da propriedade privada ou mesmo a cessação do uso pelos campesinos de terras, objeto de reforma agrária. A Lei de reforma agrária do Equador é particularmente exemplar, quando sanciona com a expropriação dos terrenos em que a atividade produtiva se desenvolva mediante “práticas contrárias à conservação dos recursos naturais renováveis”, como é o caso de “terrenos expostos à erosão eólica, hídrica ou biológica, que não forem protegidos com plantações de bosques ou implantação de bosques ou com outros meios protetivos” (art. 12).206 Prevalecem, contudo, disposições cujo objetivo principal é a tutela dos recursos naturais em função da atividade produtiva, normas que chegam a determinar a preferência por um tipo de empresa com base em uma inocuidade maior presumida no manejo dos fatores naturais.207 Exemplo encontramos nas empresas conduzidas no sistema part-time, especialmente nas economias agrícolas não-prósperas, que não apenas possuem características de funcionalidade, sob o ponto de vista da ocupação das forças de trabalho mas, também, pela contribuição que fornecem à produção, concorrendo, todavia, positivamente na conservação dos recursos naturais e na defesa dos equilíbrios ecológicos.208 Dignas de proteção, também, são as normas que impõem comportamentos de respeito à natureza, no exercício de uma atividade agrícola, a cargo dos produtores. A evolução procede por etapas: cada uma das quais corresponde a um conteúdo diferente da obrigação do cultivador nas relações entre particulares ou com a administração pública. Ao lado da obrigação ou ônus de cultivar transformado em um elemento legal de grande relevo, da obrigação de cultivar bem, em modo determinado, como atualmente, até a obrigação de nãocultivar ou ainda de não-cultivar além de uma certa quantidade, há de se acrescentar o dever de evitar estragos ou prejuízos à natureza seja no exercício ordinário da atividade de cultivo ou na execução de transformações no terreno, obras ou construções de certa natureza e além de um certo limite: este, quando superado, revela um impacto ambiental temível e por conseqüência sancionável.209 Após o que se expôs, impõe-se acrescentar seria mistificador atribuir ao Direito Agrário a vocação institucional para predispor sobre todas as medidas exigidas pela política ecológica, esquecendo-se que o Direito Agrário tem traços específicos, marcados pelo caráter de atividade produtiva, à qual essencialmente se dirige.210 206 Id, ibid., p. 322. Id, ibid., p. 322. Id, ibid., p. 322. 209 Id, ibid., p. 323. 210 Id., ibid., p. 323. 207 208 195 O comprometimento do Direito Agrário com a temática da natureza não pode estender-se ao ponto de comprometer a peculiaridade de seu objeto. Conclui Antonio Carrozza que se deve atribuir aos cultores de outras áreas do ordenamento jurídico - principalmente do “Direito Ambiental” em sentido próprio - a tarefa de estudar tal comprometimento.211 Agustín Luna Serrano assevera que a correlação fundamental e imprescindível entre atividade agrícola e recursos naturais faz com que a norma que lhe diz respeito vá adquirindo relevo sempre mais significativo na legislação especial agrária, de maneira que na reflexão científica a respeito desta e em geral na constituição sistemática do Direito Agrário é objeto de um capítulo independente.212 Disto foram pioneiros alguns juristas agrários latino-americanos, embora, às vezes, suas abordagens tenham o defeito de uma excessiva generalização que gera um desequilíbrio - pelo menos para os juristas europeus - entre o desenvolvimento e o objeto próprio do Direito Agrário. Trata-se, contudo, de empostação interessante principalmente em relação à doutrina do ciclo biológico e pois com relação aos problemas de qualificação da agrariedade (doutrina antecipada por Carrera) e recentemente reformada com grande eficácia por Carrozza, dada a estreita conexão existente entre ciclo de produção e fatores naturais que o provocam e condicionam.213 Os jusagraristas devem se utilizar para refletir conjuntamente para esclarecer de modo definitivo quais as modalidades idôneas para inserir este argumento no sistema do Direito Agrário, face à necessidade de preservar o ambiente e os bens pertinentes.214 O advento da denominada “economia contratual” é o efeito da evolução das relações entre produção agrícola e indústria de um lado e produção e mercado de venda do outro; relações que encontram cada vez mais freqüentemente o seu veículo jurídico em acordos interprofissionais - a nível de entendimento entre associações contrapostas de agricultores e de industriais - e em contratos individuais do tipo agroindustrial ou agrocomercial.215 Ocorre, portanto, que a produção agrícola está condicionada, em quantidade e em qualidade dos produtos agrícolas, objeto de contratação, pelas possibilidades de uma sua aplicação direta na indústria alimentar, conforme compromissos de concessão que concernem aos frutos ainda a serem produzidos ou no estado verde. Fórmulas de “integração vertical” em grau mais avançado alternam-se, portanto, com as fórmulas, já prevalecentes, de agricultura contratual em sentido tradicional, com base nas quais a 211 Id., ibid., p. 323 Luna Serrano, Agustín. “Il Diritto Agrario e la Costituzione spagnola del 1978: fondamenti costituzionali della proprietà e dell’ impresa agrária” em Rivista di Diritto Agrario, v. n. 64, 1ª parte, Milano: 1985, p.67. 213 Id, ibid, p. 67. 214 Id, ibid, p. 68. 215 Carrozza, Antonio, ibid, pp.96 e 97. 212 196 passagem da produção para a comercialização atuava, através das relações contratuais deixadas à iniciativa de cada um e relações intercorrentes, entre empresa agrícola e empresa comercial de intermediação no atacado ou216 empresa de transformação industrial, cada um dos contraentes conservando, na estruturação restrita, um poder próprio de organização e de decisão: aquilo que até hoje permitiu à empresa agrícola manter intacta a sua identidade, talvez com dano à eficiência de coordenação. A adequação das novas fórmulas negociais - ainda na expectativa de uma regulamentação legal, por exemplo na Itália, no Brasil- é devida ao alargar-se do campo operacional da indústria alimentar e à sua importância aumentada, o que induz o industrial (denominado integrador) a uma coordenação negocia!, de pactos, quando não propriamente a uma integração com os fornecedores de matérias-primas, enquanto o agricultor (denominado integrado), mesmo renunciando aos benefícios a um valor acrescido em que, pode-se esforçar através de atividades conexas, o integrado encontra, também, sua conveniência na possibilidade de programar as escolhas produtivas com maior segurança e em vender, praticamente, sob pedido, encomenda.217 Nesta perspectiva de economia de troca programada, coordenada e controlada na cúpula, alguém preconiza a fusão da fase meramente produtiva com aquela da comercialização, de modo a obter como resultante empresas mistas: partindo dos contratos agroindustriais chegar-se-ia enfim às empresas agro-industriais, cada uma colocada em uma cadeia correspondente de fabricação de alimentos; e isto comportaria, em breve - sustenta-se - a absorção do Direito Agrário pelo direito agroalimentar218, em cuja construção os jusagraristas são convidados a se dedicar abandonando os velhos instrumentos conceituais, na reflexão de Antonio Ballarín Marcial, paladino desta corrente.219 Antonio Carrozza conclui que o atual Direito Agrário chega a dissolver-se - pelas razões indicadas ou por outras ainda -, é possível, mas apenas para se recompor depois em outras bases, ressalvada de qualquer modo a tipicidade do seu ciclo produtivo. O expandir-se da indústria alimentar não consegue indiscutivelmente o fim do Direito Agrário. Quanto aos contratos agroindustriais é de se supor que se tornem sempre mais difusos e tomem gradualmente o lugar dos contratos utilizados hoje pelo produtor agrícola para alienar o seu produto, sem, contudo, suplantá-lo de todo e permanecendo sua caracterização como contratos da empresa agrícola, sob o ponto de vista de sua causa genérica. Carrozza lança dúvida quanto à sua causa específica: remanesce muito problemática, ao 216 Id, ibid., p. 97. Id., ibid., p. 97. Id., ibid., p. 97. 219 Id., ibid., p. 98. 217 218 197 invés, a qualificação de sua causa específica: são contratos de venda de coisa futura, contratos de empreitada como sustenta Bivona, e qual outro?220 Crítica de Antonio Carrozza: “a construção criticada, e pois o plano traçado, o prospecto de um direito agroalimentar, revela toda uma série de pontos frágeis, a começar por aquele de caráter terminológico, ou seja, de economia contratual”. Assim, sustentar que a integração vertical comporte uma fusão verdadeira e própria da empresa, enquanto normalmente se aperfeiçoa como coordenação para um fim comum de duas empresas de natureza diversa, sujeitas a estatutos ainda distintos (o agrário e o comercial); supor que todos os produtos agrícolas se destinem à transformação e manipulação pelas empresas industriais negligenciando a quantidade reservada ao autoconsumo do agricultor ou colocada diretamente por obra do agricultor nos mercados de consumo.221 Para compreender o assunto: sigamos, por um instante - com o pensamento -, o produto que, depois de colhido, sai da disponibilidade do agricultor. Uma fração do produto, no entanto, não sai de modo algum e cumpre o breve trajeto que separa o campo (ou o armazém) da mesa do produtor. Outra fração, no mais das vezes constituída por bens perecíveis, dirige-se para os mercados de atacado ou de varejo, de pequena importância, através de uma cadeia de comerciantes intermediários.222 A fração remanescente destina-se à indústria transformadora. Acreditar, inexatamente, que a agricultura seja exclusivamente fornecedora de alimentos, enquanto dever-se-ia ter presente que a agricultura produz, também, e em medida relevante, bens não-comestíveis, exemplos, flores, e das plantas ornamentais às fibras têxteis de toda espécie, vegetais e animais (algodão, cânhamo, linho, lã, seda, etc.) do tabaco às ervas medicinais,223 ao etanol obtido dos cereais para uso de carburante, e assim por diante. Há mais: últimas informações estatísticas sobre biotecnologias avançadas autorizam a previsão de um incremento das produções agrícolas que encontram saída nos mercados de bens não-alimentares. Enfim, se é verdade que o direito alimentar em sentido próprio, assim como é concebido hodiernamente pelos alimentaristas, tem por escopo “proteger a saúde do consumidor e manter a lealdade das transações alimentares”, conforme o entendimento de J. L. Gonzalez Baqué, não se depreende como se possa pensar em conjugá-lo com um Direito como o Agrário em que o interesse genuíno a ser tutelado, dentro dos limites da conservação do ambiente e da preservação da saúde, sempre foi e é aquele concernente à atividade produtiva.224 É necessário distinguir Direito Agrário, Direito Agroalimentar e Direito da Alimentação. 220 Id., ibid., 98. Id., ibid., p. 98. Id., ibid., p. 98, nota 5. 223 Id., ibid., p. 99. 224 Id., ibid., p. 99. 221 222 198 Direito Agroalimentar está mais próximo do conteúdo do Direito da Alimentação. Noções sobre o Direito da Alimentação foram estudadas por Alain Gerard.225 A legislação relativa às mercadorias alimentares rege atividades específicas: as que têm por objeto a produção, o tratamento ou o comércio das mercadorias. A legislação responde a objetivos específicos: a proteção da saúde: a honestidade do comércio destas mercadorias. Cria princípios e métodos de regulamentação que correspondem a aspectos particulares das matérias regulamentadas: normalização das mercadorias, emprego de aditivos, prevenção da contaminação alimentar, etiquetagem das mercadorias liberadas ao comércio, controle da contaminação alimentar. As disposições relativas a estes problemas em desenvolvimento contínuo, constituem “direito da alimentação”, no sentido em que o concebe o jurista.226 O Direito da Alimentação concerne principalmente às relações entre os poderes públicos e os indivíduos (ou as empresas) e não-relações entre particulares vez que destina-se a assegurar a polícia do comércio das mercadorias e a proteção do consumidor. O Direito da Alimentação apresenta, contudo, um caráter essencialmente misturado que permite atá-lo a vários ramos do Direito Público. Por exemplo, na França, Itália e Canadá a disciplina está vinculada ao Direito Penal.227 Relaciona-se com o Direito Administrativo, Direito Social e Direito Econômico. Os efeitos do Direito da Alimentação sobre as atividades de produção e de comercialização das mercadorias alimentares e a influência direta destas ações exercidas sobre a vida econômica permitem considerá-lo em sentido amplo como Direito Econômico.228 O Direito da Alimentação tende a um nivelamento internacional como se comprova com o Codex Alimentatius - ONU, onde se define o que é alimento, o Código Latino-americano de Alimentos, etc. As regras do Direito da Alimentação têm como fim principal a proteção dos consumidores, tanto quanto aos atentados à sua saúde como à boa-fé.229 O caráter de relativa estabilidade que envolve toda regra de Direito parece incompatível com a necessidade de aptidão rápida e constante que caracteriza o Direito da Alimentação.230 Deve ser evitada a confusão entre a noção legal de alimento e o campo de aplicação do Direito de Alimentação. Para excluir a mercadoria alimentar do campo do Direito Agrário basta ter presente a definição proposta pelo Codex Alimentarius da FAO/OMS: 225 Gerard, Alain. “Elements du Droit de l’Alimentation”, em Rivista di Diritto Agrário, Milano: Editrice Giuffrè, v. 54, n.1975, pp. 289-313. Id, ibid., p. 290. 227 Id., ibid., p. 290. 228 Id, ibid, p. 291. 229 Id, ibid., p. 294. 230 Id., ibid, p. 296. 226 199 “a expressão gênero alimentício é toda substância tratada, parcialmente tratada ou em estado bruto, destinada à alimentação humana e engloba bebidas, goma de mascar e todas as substâncias utilizadas. na fabricação, preparação e tratamento dos alimentos, com exclusão de substâncias empregadas unicamente sob forma de medicamentos, de cosméticos ou de tabaco”.231 Existem, também, os códigos nacionais da alimentação. Sujeito ativo do Direito da Alimentação é toda pessoa participante da cadeia da produção desde a utilização de matérias-primas agrícolas ou de produtos de criação, da caça e da pesca, até a obtenção do produto definitivo. São igualmente sujeitos ativos do Direito da Alimentação todos que participam da cadeia da comercialização ou de distribuição, ou seja, de colocar à disposição dos consumidores gêneros brutos ou produtos acabados. Não-integram a categoria de sujeito ativo do Direito da Alimentação aqueles incumbidos de elaborar as regras, de controlar a sua aplicação ou da elaboração de disposições repressivas. Na prática os sujeitos ativos quer se trate de produtores ou distribuidores não são indivíduos, mas empresas.232 Os sujeitos passivos do Direito da Alimentação são os consumidores. A função protetora do Direito da Alimentação se aprecia e se organiza em dois planos muito diferentes pela sua natureza e pelos problemas que suscita: o respeito à saúde e a garantia de honestidade do comércio de outro lado.233 5. A CONCEPÇÃO AGROBIOLÓGICA COMO INVESTIDA METODOLÓGICA: DISCUSSÃO A análise crítica, há pouco efetuada das mais importantes concepções “alternativas”, conduziu Antonio Carrozza, com sua autoridade, à concepção agro-biológica da atividade agrária: uma concepção que pode ser denominada “pura” porque, através de uma elaboração conveniente, permite ao Direito Agrário subtrair-se a qualquer contaminação por pane de normas diferentemente orientadas e de permanecer coerente com suas raízes históricas. Iniciaremos a análise do tema com o estudo da temia biológica da agrariedade quanto a seu fundamento e extensão como introdução a abordagem sob o aspecto da investida metodológica.234 Preliminarmente, deve ser salientado devermos ter presente uma noção extrajurídica do fenômeno agrário. Só assim será possível individual' aquele caráter de “agrariedade” que forma o 231 Id, ibid, p. 299. Id, ibid, p. 302. Id, ibid, p. 304. 234 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 10. 232 233 200 proprium da atividade do agricultor. Antonio Carrozza esclarece que os primeiros acenos nesta direção se devem a estudiosos latino-americanos, com ênfase à escola argentina (Magaburu, Carrera), sendo certo que alguns cultores italianos de ciências agrárias, e em particular Faenza, chegaram a formular a proposição seguinte, que representa o ponto de partida para desenvolver também sob o plano técnico-jurídico a teoria agrobiológica da agrariedade.235 A atividade produtiva agrícola consiste no desenvolvimento de um ciclo biológico concernente à criação de seres animais e vegetais, que resulta ligado diretamente ou indiretamente à exploração das forças e recursos naturais, e que se reduz economicamente na obtenção de frutos (vegetais ou animais) destinados ao consumo, seja como tais, seja como mediante uma ou mais transformações.236 Ressalte-se, ainda, que todas as atividades dependentes de ciclos biológicos ligados à terra, ou mais genericamente à natureza, são submetidas ao império de forças naturais; algumas dessas atividades são influenciáveis e dirigidas pela intervenção organizada do homem, outras não, enquanto nas atividades industriais em sentido estrito os processos produtivos, mesmo quando sejam de caráter biológico, são na totalidade domináveis pelo produtor, em ambientes perfeitamente controlados.237 Daí o corolário de que cada vez que se opera em direção a posições de desimpedimento do ciclo produtivo do domínio das forças ou dos recursos naturais, mesmo se não estreitamente ligados à terra, o caráter agrícola diminui. Portanto, há uma série de atividades que se encontram nos limites que separam a indústria da agricultura, as quais mesmo talvez tendo se submetido a profundas modificações tecnológicas e organizativas, ainda possam ser chamadas agrícolas, ao contrário de outras atividades que, em certo ponto de sua evolução, passaram, assim, a incluíveis no setor secundário da economia.238 Entre as atividades que ainda denunciam os caracteres fundamentais da dependência a um ciclo biológico, mesmo se sob certos aspectos os elementos da natureza tenham sido submetidos a controle, forçados e acelerados, podem ser exemplificadas: culturas em estufa, culturas hidropônicas e similares (cultura fora da terra), ressalte-se que nestas últimas culturas, embora o fator originário “terra” resulte completamente superado e substituído, o êxito da iniciativa depende definitivamente do andamento do ciclo biológico. Pela mesma razão, ainda devem ser inseridas no setor agricultura, não obstante a aplicação eventual de técnicas e estruturas produtivas análogas às encontráveis no setor industrial, certas 235 Id., ibid, p. 10. Id., ibid., p. 10. Id., ibid., pp. 10 e 11. 238 Id., ibid., p. 11. 236 237 201 formas de criação intensiva de animais estranhas à noção clássica de “animais”, porém hoje de grande importância econômica, como avicultura, apicultura, etc.239 Em muitos destes casos trata-se de culturas que podemos chamar “artificiais” para distinguí-las daquelas tradicionais; mas o alcance, a importância da distinção é relativa porque, na lição de Francesco Galgano, também as culturas artificiais “concernem à produção de bens que são em sua natureza intrínseca e para o seu processo genético, bens correspondentes àqueles tradicionalmente retirados do fundo”. Após esta introdução, examinaremos os corolários do princípio biológico. Aceita a impostação da teoria biológica da agrariedade pode·se fixar alguns corolários que disto decorrem e contemporaneamente desacreditar certos lugares comuns da cultura jurídica. a. Primeiramente, a fecundidade do critério proposto se mede frente a casuística de cada uma das produções abstratamente classificáveis dentro ou fora do setor “agricultura e florestas”.240 Existe a classificação das culturas denominadas “artificiais” para distingui-las das “naturais”. Outro setor onde reina uma grande incerteza de qualificação (como atividade agrícola ou, ao contrário, como atividade industrial - comercial) é o das empresas “vivaistiche”, o qual poderia ser recuperado para a agricultura com base na simples verificação que mesmo a atividade do “vivaista” que cultiva flores ou plantas ou árvores apresenta os caracteres fundamentais da criação vegetal, com todos os riscos que isso comporta, não-obstante que, acessoriamente, negocie plantas produzidas em seu estabelecimento, permitindo aos adquirentes de obter delas os frutos ou de usá-los para embelezamento dos próprios jardins, etc.241 Quanto à criação de "outros" animais que não-gado, por exemplo criação de cavalo de corrida, o argumento para a exclusão do âmbito do princípio agrobiológico fundamentou-se, essencialmente, na destinação do produto não ser aquele tradicional do serviço prestado ao fundo (o “gado” no sentido histórico do vocábulo) ou do emprego com escopos alimentares. Mas sob este último ponto de vista é claro o equívoco por que os produtos agrícolas não são todos destinados à alimentação (e por isto, no plano sistemático, é necessário concluir que o Direito Agrário não cuida absolutamente do direito agroalimentar): pense-se, entre outras, nas flores e plantas ornamentais, nas fibras têxteis, no tabaco.242 Na mesma linha de raciocínios na abrangência da criação de animais: reflita-se, além da criação de cavalos de corrida, em cães de corrida, animais cujas peles são destinadas à confecção 239 Id., ibid., p. 11. Id.. ibid., p. 11. Id., ibid., p. 13. 242 Id.. ibid., p. 13. 240 241 202 das peliças, nos pombos viajantes, lombrigas criadas para produzir húmus ou iscas para pescadores e os animais domésticos em geral.243 Ragusa-Maggiore enquadra como não-acolhível a afirmação que sejam suscetíveis de criação em sentido agrário apenas os animais que servem diretamente à satisfação de “necessidades biológicas do homem”. Em todos esses casos, soluciona o impasse a averiguação da presença de uma criação, qualquer seja o tipo, prescindindo tratar-se de espécie zoológica ou botânica o objeto criado, o que é irrelevante para nosso estudo, quer quanto às modalidades e às finalidades da criação, ou mesmo quanto às dimensões (figura, dimensões, etc.) do próprio produto: por exemplo, tratandose de avicultura, também os ovos devem ser considerados como frutos.244 Com o termo “criação”, que representa a palavra-chave de todo o raciocínio, alude-se ao conjunto de cuidados necessários para: fazer nascer, abrigar, vigiar, alimentar, curar de doenças o animal e a planta e, eventualmente, obter que se reproduza.245 O criador segue, vigia e, podendo, guia o desenvolvimento do ciclo biológico do início ao fim, isto é, do nascimento ao estado adulto ou maduro, da seminação à colheita, conforme diga respeito a animal ou vegetal. É inegável a utilidade de descompor a atividade de criação nas várias operações que a integram, porque de tal modo se pode verificar se se lança mão efetivamente de criação, comprovando-se que nenhuma das operações indicadas, presumidas, venha a faltar.246 Mas quais das várias operações podem, em verdade, considerar-se essenciais? Uma resposta precisa, segura, não pode prescindir da ligação de cada operação com o ciclo biológico: só esta união restitui ao termo “criação” o seu significado autêntico. Antonio Carrozza exemplifica: 1. Faltispecie que resultam no limite da agrariedade vez que nelas não-sucedem todas as operações ou fases do ciclo biológico, mas se verificam apenas duas, que, geralmente, são as fases inicial e final, exemplo: criação de peixes de rio, deixados depois livres de “pascer” e sucessiva captura - a distância de tempo - dos exemplares tornados comerciáveis. 2. Pode se configurar, porém, uma única fase intermediária. Uma aplicação assaz interessante desta última situação se encontra na atividade de pré-germinação das batatas que servem de semente, daí aumentar o rendimento. Há exemplo ocorrido em França em que se discutiu a situação de empresa dedicada exclusivamente a esta operação qualificada como agrícola, com a observação que na pregerminação pode-se vislumbrar uma transformação da 243 Id. ibid., p. 13. Id, ibid, p. 14. Id, ibid, pp. 14 e 15. 246 Id, ibid, p. 15. 244 245 203 natureza biológica constituinte de uma fase da vegetação da planta. 3. Coloca-se, ao invés, como obstáculo insuperável à atribuição da natureza agrícola a ausência de todas as fases que precedem a colheita, sem que o produtor tenha estabelecido as premissas para o nascimento e para o desenvolvimento dos frutos: o que sucede com os cogumelos e trufas não: cultivados, para os frutos menores do bosque, para as flores do campo e as plantas selvagens e em geral para todos os produtos assim denominados “espontâneos”, mesmo se possuem propriedades nutritivas ou terapêuticas que os tornem apetecíveis e mantenham a demanda de um mercado.247 Em segundo lugar, há um esclarecimento concernente à vexata quaestio de pertencerem à agricultura as atividades de caça e pesca. Estas atividades não integram absolutamente hipótese de obtenção de produtos agrícolas mediante criação, mas se reduzem em atividades de natureza verdadeiramente extrativa (de caça da selva, peixes de água do mar ou de rio). A favor da inserção da caça e pesca na esfera da agricultura assentam-se unicamente motivos práticos e atitudes tradicionais e tanto uma quanto outra, desenvolve-se normalmente no mesmo ambiente em que atua o empresário agrícola. Após apontar a pesca, devemos indicar como hipótese de criação no sentido autêntico e pois de atividade inserível na agricultura a produção artificial de peixes, enguias, mexilhões, ostras e semelhantes, objeto da moderna piscicultura ou iticultura em bacias de água doce ou salgada, internas ou externas. Há criação de algas nas águas do mar, atividade significativa sob o ponto de vista econômico. É claro que a piscicultura nada tem a haver com a pesca.248 Para Dante Gaeta “a distinção juridicamente relevante a ser efetuada é entre estabelecimentos destinados a captura de espécies migratórias e a exploração de bancos submarinos e estabelecimentos de criação (piscicultura, moluscocultura). Com efeito no primeiro caso os organismos aquáticos se encontram em estado livre e sua apreensão com o escopo de fazê-los próprios constitui aquele modo da aquisição da propriedade que é ocupação, enquanto no segundo caso os organismos aquáticos, enquanto frutos naturais pertencem desde o nascimento ao concessionário do estabelecimento ou a outro sujeito eventualmente 247 248 Id., ibid, p.15. Id, ibid, p. 16. 204 legitimado e sua apreensão por parte de quem não tenha título constitui furto ou delito análogo.”249 Em terceiro lugar, verifica-se que a silvicultura embora indicada separadamente das duas outras formas da atividade agrícola primária (cultivo do solo, criação de animais), não é nada mais senão uma espécie do cultivo do solo ou melhor criação de vegetais. Há, contudo, a extensão do florestal ao agrário em sentido extenso, sob o perfil seja normativo quanto científico.250 A assimilação da silvicultura às outras espécies de atividade agrícola é oportuna principalmente para aquele setor do direito florestal que se apega à empresa de cultivo de bosque. Em quarto lugar, o tema tão discutido da relevância da “terra”, e pois do fundo, recebe uma luz diferente, que é a projeção do terreno no plano jurídico-patrimonial ou jurídico-empresarial. Para a exata compreensão da teoria agrobiológica é fundamental a verificação que o que se cultiva não é a terra porém a planta (esteja ou não inserida na terra), como Alfredo Massart notou com razão.251 Com efeito, a verificação debilita a veracidade da ligação terra-produção agrícola. A conclusão não muda se o fundo terrestre é substituído pelo fundo formado por água (por exemplo: um laguinho artificial alugado para criação de peixes); hipótese que serve para relativizar o conceito de fundo e que desnuda a imagem esteriotipada que o agricultor à velha maneira nos transmitiu.252 Se é válido o argumento que a nota distintiva da agrariedade consista no desenvolvimento de um ciclo biológico que alarga o âmbito na aquisição de frutos animais ou vegetais - sob a ameaça de um risco particular, ligado aos aspectos genéticos e biológicos - é necessário considerar infundada a opinião segundo a qual as atividades agrícolas se distanciaram das comerciais (ou das civis, para quem admite este terceiro gênero) sempre e de qualquer modo por causa da presença do bem terra.253 Não é sequer aceitável a tese debilitada pela qual as atividades de caráter agrícola se distinguiram pela natureza específica do meio produtivo empregado. É verdade que a agricultura tem até agora estado voltada para a terra, tem se desenvolvido com a terra e sobre a terra e requer, por isso, em regra, a presença do fundo.254 Pode-se afirmar, respaldados em Cigarini, que, ao lado desta agricultura tornada “territorial” ou, talvez mais adequadamente “fundiária” estatisticamente prevalecente - exista uma outra, de importância econômica e social cada vez mais crescente, que denominaremos “não- 249 Id, ibid, pp. 16 e 17. Id, ibid, pp. 16 e 17. Id., ibid., p. 17. 252 Id, ibid, p. 17. 253 Id, ibid., p. 17. 254 Id., ibid., p. 17. 250 251 205 territorial” ou “não-fundiária”, a qual prescinda do emprego da terra no significado recebido há séculos, mesmo mantendo em comum com as culturas do tipo tradicional a exploração dos mesmos mecanismos genéticos e biológicos da produção.255 Com as indicações expressivas a respeito da fecundidade do critério agrobiológico da agrariedade pode-se considerar dispensada a tarefa de propor ama interpretação do vocábulo "agricultura" que consista, entretanto, remontar ao conceito de Direito Agrário, oferecendo, igualmente, os pressupostos de uma definição plausível. O critério agrobiológico foi tratado em forma axiomática, isto é, como princípio a ser considerado verdadeiro por sua própria evidência, o que pode ser justificado por razões de oportunidade didática.256 Após esta exposição, devemos passar ao estudo de opiniões críticas expressas a respeito do critério biológico sob o perfil metodológico e conseqüentemente da determinação do objeto do Direito Agrário.257 Voltando com o pensamento à função fundamental que se deve reconhecer à concepção agrobiológica, qual seja a de representar a essência da agricultura com aderência ao real e, pois, em identificar as várias atividades propriamente e intrinsecamente agrícolas, distinguindo-se de outras que tais não são. Sob este ângulo visual, a agrariedade resulta de um modo natural de ser de um determinado tipo de atividade, ou, se assim se desejar, de empresa, por efeito da ação de mecanismos genéticos e características vitais dos seres vegetais e animais.258 É a natureza que cria e faz desenvolver a sua criação, enquanto o homem artifex não faz senão predispor, auxiliar e controlar o desenvolvimento do ciclo biológico.259 A tese agrobiológica da agrariedade arrecadou adesões numerosas e autorizadas na Itália e no Exterior nos últimos quinze anos, mas permitindo também fossem registra das algumas objeções que abrangem, também, questões de método na investida geral do estudo do Direito Agrário, como também em tema de determinação de seu objeto. Examinaremos, rapidamente, opiniões mais favoráveis e benévolas, como a de Giovanni Galloni, de avaliar a tese como “felice” e aquela de Dante Gaeta que, mesmo não escondendo motivos de divergência, fala em concepção “sedutora”.260 Há, também, P.G. Jaeger que considerou fosse limitadora chamá-la simplesmente de tese, vez que “ela tem todas as características de uma teoria, isto é, a sistematicidade, a amplidão da 255 Id., ibid., 18. Id, ibid, p. 18. Id, ibid, p. 18, nota. 258 Carrozza, Antonio, op. cit., p. 99 259 Id. ibid, p. 99. 260 Id, ibid, p. 100. 256 257 206 construção, além do rigor e a particular dignidade formal da exposição”.261 Mas críticas foram articuladas contra a teoria e não-basta examiná-las senão opor-lhes réplicas satisfatórias. As críticas se concentram em admitir que a tese da agrariedade não é acolhível porque “parte de uma noção extra-jurídica da agricultura, que não corresponde à concepção econômico-social e que não coincide ou até contrasta com o Direito Positivo” na lição de Dante Gaeta, de 1984. 262 Esta observação geral deve ser decomposta em uma série de objeções particulares que devem ser examinadas e rebatidas uma por uma: a. Uma primeira objeção é de tipo radical e é própria de quantos excluem aprioristicamente a relevância da tese agrobiológica, dado que lhe contrapõem uma daquelas concepções que são chamadas alternativas e das quais demonstramos a inconsistência. b. Um segundo tipo de objeção está implícito no pensamento de quem afirma que “realmente, para um observador imparcial, resulta incompreensível seja a dificuldade de aceitar, por parte de uns, seja a insistência no sustentar, por parte de outros, a agrariedade de alguma atividade, para exemplificar, como o cultivo de cogumelos ou a avicultura” (Gonzalez Baqué). Tal posição rejeita o valor aplicativo do princípio enunciado mesmo frente uma casuística jurídica (aquela italiana em particular) que suscita continuamente problemas de qualificação e provoca julgados contraditórios.263 c. Enquanto as objeções sub a e b tem obviamente peso escasso, há uma que, a primeira vista, aparece atraente, com fundamento no relevo metodológico preliminar que a concepção em exame parte de uma noção extra-jurídica de agricultura264 A réplica é tanto quanto simples: uma noção jurídica, como tantas vezes se afirmou, não se a encontra, e se por exemplo viesse a existir verificar-se-ia a correlação com a natureza dos fatos e das coisas. O essencial, contudo, não é que se parta de uma noção extra-jurídica ao invés de uma noção jurídica (obviamente baseada em uma expressão normativa em qualquer modo decifrável), mas que prescindindo do ponto inicial, se possa em um determinado momento verificar que as duas noções coincidam substancialmente nos resultados.265 Ora, como Marco Goldoni: notou perspicazmente “se é verdade que a teoria do ciclo biológico se iniciou a partir de insatisfação no confronto com norma julgada inidônea para 261 Id., ibid., p. 100. Id, ibid, p. 100. Id, ibid., p. 100. 264 Id, ibid., p. 100. 265 Id., ibid., p. 101. 262 263 207 fornecer os contornos atuais da agricultura”, nem por isto a teoria do ciclo biológico renuncia a procurar a concordância ou a não-contradição, entre noção extra-jurídica ou extra-legal e noção jurídica ou legal: coincidência que parece, enfim, prestes a se realizar completamente (ver letra g). E isto afasta a força da objeção da origem extra-jurídica ou extra-legal da própria teoria.266 d. Uma observação contrária, não ligada às contingências do direito positivo, provém de Wolfgang Winkler, especialista alemão, e de quantos como ele admitem que a teoria agrobiológica tenha méritos elevados para a sistematização teórica do Direito Agrário, mas, contudo, consideram que a agricultura não seja somente um processo biológico. Mas precisamente a agricultura seria, também, um fenômeno social, pois, a noção que lhe é pertinente estaria sempre “sujeita às opiniões correntes da sociedade”.267 Mas isto não-significa negar a importância, direta ou reflexa, do fenômeno de ordem sociológica. Sabemos que o fato ou fator político concorre para a ação das forças criadoras do Direito Agrário e este sofre, com certeza, do condicionamento da opinião pública.268 e. Outra imputação que é dirigida à tese agrobiológica concerne à desvalorização que implicitamente dela resulta para o fator “terra”. Recrimina a teoria porque descuida do fato de que, na grande maioria dos casos, o exercício da agricultura continua a comprometer o elemento fundiário; nem se pode manter fora da agricultura - acrescenta-se a título de reprovação - tudo aquilo que a ela se prende, como a reforma agrária e a reordenação do território agrícola. É possível responder, a respeito do primeiro aspecto, que está errado acreditar que a teoria em exame postule unicamente a condução e gerência de uma agricultura sem-terra.269 Deve-se apontar, ao contrário, que a teoria agrobiológica não olvida de maneira alguma a agricultura fundiária feita com terra e na terra, ao mesmo tempo em que permite qualificar como agrícolas atividades da agricultura sem-terra as quais de outro modo permaneceriam vinculadas à área da comercialidade se fossem seguidos outros critérios de qualificação.270 Ademais, a propósito da importância conclamada da terra e a ligação da atividade agrícola com a terra e com o fundo, deve ser novamente repetido que não é a terra que se cultiva mas a planta, como o afirmou, com precisão, Alfredo Massart.271 A respeito do segundo aspecto, pode-se afirmar que tudo aquilo que concerne à disciplina do território com o fim de aumentar a fertilidade, introduzir benfeitorias, melhorá-lo, colonizá-lo, planejá-lo, ocupa posição periférica a respeito do núcleo central e ao momento fundamental da atividade agrícola, que é essencialmente dirigida à produção (isto é, na gíria típica da teoria que se 266 Id., ibid., p.l01. Id. ibid, p. 101. Id. ibid., p. 102. 269 Id. ibid, p. 102. 270 Id, ibid., p. 102. 271 Id. ibid, p. 102. 267 268 208 examina, dirigida à criação com fins produtivos).272 f. Crítica muito interessante para a sistemática do Direito Agrário, mesmo se geralmente permaneça não-manifestada ou expressa muito timidamente273 fundamenta-se, porém, em um equívoco. Diz-se que a teoria agrobiológica obtém as peculiaridades do agrário nas atividades agrícolas (agrícolas ex se) como definidas no Código Civil italiano: cultivo do fundo, silvicultura, criação de animais, todas elas que se podem adaptar à tese da agricultura como criação governada por um ciclo biológico. Procura-se fazer notar, que a teoria agrobiológica descuidada das atividades remanescentes que se podem dizer agrícolas por conexão ou acessoriedade e principalmente das atividades de transformação e de alienação de produtos agrícolas por parte do produtor. Então, conclui-se que a teoria em exame pode ser tachada de incompleta. Aqui podemos nos limitar a ressaltar que as atividades de transformação e de alienação são unicamente consideradas (pelo menos na doutrina italiana) como atividades cuja natureza é na origem não-agrícola mas, respectivamente, industrial ou comercial, salvo seja qualificada como civil por alguém.274 É claro, então, que um critério pensado para provar a agrariedade intrínseca de dadas atividades não-coincida com atividades que agrícolas não sejam e que agrícolas podem se tornar apenas se e porque se demonstram conexas às atividades propriamente agrárias (o critério de conexão é no Direito italiano um critério legal). É, pois, inútil levantar o problema se e como nestes casos o critério da agrariedade seja aplicável; nestes casos o critério da agrariedade não tem nenhum significado. Aí está o equívoco.275 Estas atividades, e toda uma série de situações e de relações que pertencem ao Direito Agrário, enquanto se manifestam teleologicamente coligadas a ele, estão fora do âmbito do critério agrobiológico.276 Há, enfim, uma parte do objeto complexo do Direito Agrário para o qual é necessário abstrair - metodologicamente falando - do critério biológico da agrariedade: aplicar este a todo custo não teria sentido.277 g. A objeção que suscita maior reflexão poderia estar ligada ao nome ilustre de Ettore Casadei, o qual encontrou para exprimi-la uma fórmula muito eficaz na sua brevidade. 272 Id., ibid., p. 102. Id., ibid., p. 103. Id, ibid, p. 103. 275 Id., ibid., p. 103. 276 Id, ibid, p. 103. 277 Id, ibid, p. 103. 273 274 209 Fazendo-se porta-voz daqueles colegas que mesmo demonstrando compartilhar da tese agrobiológica têm, porém, reserva mental, Casadei lamenta que o critério da agrariedade, conforme a fórmula aqui discutida, não seja utilizável sempre:278 não é utilizável, precisamente, no plano exegético, enquanto a norma de Direito Positivo não o autorize. Efetivamente, o operador jurídico conta com um certo número de disposições legais que consentem uma leitura esclarecida do critério biológico. Além disso, a perspectiva em que se colocam aqueles que requerem uma verificação da compatibilidade do critério agrobiológico com o Direito Positivo interno e comunitário exigência em si perfeitamente legítima e por outro lado ritual para o jurista - poderia ser derrubada, transformando tal pedido na exortação para submeter o direito vigente ao controle de um juízo de valor frente os dados extrínsecos como aqueles fornecidos pelo critério agrobiológico.279 Postulada a prejuridicidade da noção de agricultura e a sua derivação das ciências biológicas e agronômicas, então as regras reguladoras da agricultura deverão se conformar à essência da agricultura, e não vice-versa. Com o passar do tempo, verifica-se que tanto no plano do direito interno quanto no comunitário as supostas discrepâncias não eram muito numerosas nem conspícuas.280 A adequação às indicações do critério agrobiológico vai se consolidando, ainda que lentamente e com incertezas, tanto que já é possível contar com dois textos eloqüentes: a Lei n. 120 de 5 de abril de 1985, da Itália, pela qual a atividade de cultivo de cogumelos deve ser considerada, para todos os efeitos, atividade agrícola; e a Lei n. 778 de 26 de novembro de 1986, por efeito da qual o reconhecimento legal da agrariedade é estendido, para fins previdenciários, às “atividades de criação das espécies suínas, avícolas, cunículas, itícolas, de animais selvagens com escopo alimentar, além das atividades atinentes à agricultura, criação do bicho da seda e semelhantes”.281 A atividade legislativa na Itália tem se orientado nesta direção. Estas e semelhantes presunções absolutas de agrariedade têm o defeito de se aplicar a várias espécies de criação ao invés de gerar uma declaração de princípio com caráter de generalidade, mas é verdadeiro que, aos poucos, enunciados semelhantes, através da multiplicação dos objetos (de criação) regulados, permitem alcançar resultado equivalente.282 E, também, no campo do Direito europeu comunitário, onde pareciam concentrar-se as maiores discordâncias, assiste-se a uma mudança significativa, que induz a reconsiderar as idéias 278 Id, ibid, p. 103. Id, ibid., p. 104. Id., ibid, p. 104. 281 Id., ibid., p. 106, nota 6. 282 Id, ibid., p. 106. 279 280 210 a respeito das noções comunitárias de agricultura e de produto agrícola.283 Luigi Costato citado por Antonio Carrozza assinala, ao comentar o regulamento n. 797, de 1985, que contém inovações quanto aos instrumentos jurídicos para a atuação da política das estruturas produtivas, que o desenvolvimento da intervenção comunitária “consentiu a formulação de uma noção de agricultura que ultrapassa os produtos elencados no Anexo II do Tratado de Roma, e tende, sempre mais, a identificar-se com a atividade de criação de vegetais e de animais”.284 h. A teoria agrobiológica da agrariedade, desenvolvida em toda a sua extensão lógica, pode conduzir a considerar como agrícolas criações de animais produtores de peles apreciadas, cães-decorrida, cavalos-de-montaria e semelhantes. Mas há quem, mesmo declarando aceitar os postulados gerais, afasta esses resultados definindo-os “distorcidos”.285 Naturalmente, negar a qualidade agrícola para atividades do gênero simplesmente em base ao entendimento comum ou por efeito de adesão acrítica à tradição, este sim, seria um resultado “distorcido” no plano da lógica, seria uma oposição irracional admitir a conseqüencialidade de um raciocínio que deveria resultar válido para todas as criações de animais e vegetais. Para aproveitar esta fácil réplica, Alberto Germanó citado por Antonio Carrozza excogitou um diagnóstico diferente para a pesquisa da agrariedade nos casos dúbios, consistente no recorrer, caso a caso, à análise das características do mercado do produto em questão: este seda relativo à área da agrariedade sob condição que o mercado pertinente resulte submetido às “leis” econômicas não coincidentes com aquelas típicas de um mercado de produtos industriais.286 O critério proposto se refaz, se reconstrói junto à opinião comum a cerca daquelas características diferenciadas do mercado agrícola que constituem matéria da exercitação clássica para os peritos de economia agrária: a rigidez (no breve período) da oferta, a falta de elasticidade da demanda no variar dos preços dos bens agrícolas e da renda de seus consumidores. A literatura agrária a seu tempo dela se apossou, mas unicamente com o escopo de individualizar as causas da fraqueza do produtor agrícola. Giovanni Galloni, em suas “Lezioni”, escreve a propósito deste particular posicionamento da relação entre produção e mercado: “na indústria a produção domina normalmente o mercado e impõe aos consumidores as suas escolhas; na agricultura ao invés é o mercado a dominar a produção e quem organiza a indústria de transformação dos 283 Id, ibid.. p. 106. Id, ibid, p. 106 Id, ibid, pp. 106 e 107. 286 Id, ibid, p. 107. 284 285 211 produtos agrícolas ou quem tem a gestão dos mercados de consumo nas áreas metropolitanas impõe o preço, o tipo e a qualidade dos produtos aos agricultores”. 287 Isto explica as razões de uma intervenção legislativa diversa que, no setor da indústria e das atividades terciárias, dirige-se a limitar as grandes concentrações monopolísticas ou as assim chamadas posições dominantes do mercado; enquanto no setor agrícola encoraja a concentração dos produtores em formas cooperativas ou associativas e intervêm na sustentação dos preços para a produção. Torna-se porém oportuno sublinhar - entretanto - em relação ao mercado a posição de cada agricultor não é igual para todos.288 “O pequeno cultivador direto, em poucos hectares de terra, encontra-se certamente em uma situação diferente do grande proprietário de um estabelecimento moderna mente com fins comerciais”. (Coda Nunziante, Di Sandro)289 Além das anomalias que diferenciam o mercado agrícola, no seu conjunto variam de intensidade de um tipo de produto a outro; em substância pode-se dizer que na economia contemporânea existem tantos mercados quantos são os produtos.290 Deve ser observado, ainda, que as anomalias em foco são geralmente notadas com referência (subentendida) aos bens destinados a satisfazer necessidades alimentares, enquanto é conhecido que aumentaram no tempo as produções de caráter não· alimentar: disto resulta que aquilo que valia para os observadores do século XVII em relação ao pão e outros gêneros de primeira necessidade alimentar não se pode afirmar valha hoje para outros produtos cuja agrariedade é de outros modos garantida.291 Remonta ao século XVII a formulação da assim denominada “lei” de King, conforme a qual o resultado monetário geral da colheita de trigo diminui quando aumenta a produção. Gregory King, Duque de Lancaster, escreveu em 1696 uma obra intitulada “Osservazioni e conclusioni naturali e politiche nello stato e sulle condizioni dell'Inghilterra”. A validade deste axioma elementar está ligada a condições particulares e é obviamente limitada a um mercado fechado (O. Ferro) não é afirmado que valha hoje para outros produtos cuja agrariedade está assegurada.292 Não há, pois, admirar que isto não valha para os animais de pele ou para cães-de-corrida ou para cavalos-de-montaria: para permanecer nos exemplos de produtos para os quais a qualificação de bens agrícolas não parece sobremaneira pacífica.293 287 Id, ibid., p. 107. Id., ibid, p. 107. Id, ibid, pp. 107 e 108. 290 Id, ibid, p. 108. 291 Id, ibid, p. 108. 292 Id, ibid, p. 108. 293 Id, ibid, p. 108. 288 289 212 É importante ressaltar que não é pacífica, porque quem se declara cético sobre sua agrariedade não tem presente que a agrariedade pode apresentar diversas graduações e nuances, com isto oferecendo ao legislador a oportunidade de estabelecer diversas formas de organização de mercado e estatutos jurídicos oportunamente diferenciados para as várias empresas agrícolas produtoras.294 Enfim, não é possível esquecer que “leis” econômicas de um mercado agrícola acima indicadas são válidas para um mercado abandonado às forças espontâneas da demanda e da oferta, mas não quanto a este é aplicado um regime especial de regulamentação “autoritativa” do tipo daquela que os autores do Tratado de Roma conceberam para remediar o desequilíbrio crônico e estrutural que o mercado dos bens agrícolas denuncia em condições de liberdade.295 Para citar um caso sintomático, a partir do momento que o CEE decidiu favorecer e sustentar o cultivo da soja nos Estados-membros assistimos na Itália a uma explosão verdadeira e própria deste cereal, e no giro de cinco anos tornou-se o primeiro produtor europeu.296 Guiada pelo mesmo objetivo da sugestão de Alberto Germanó é a idéia de Luigi Costato que considera, também, possível individualizar um critério seletivo dos objetos da criação que consinta expungir do número destes os produtos julgados de discutível agrariedade, tal como certos animais utilizados para satisfazer necessidades diferentes daquelas nutritivas.297 Tratar-se-ia, pois, de considerar como agrícolas apenas aqueles produtos que correspondam aos que possam ser obtidos, e até agora obtidos, com os métodos naturais com o emprego da terra, prescindindo das modalidades atípicas seguidas hoje para alcançar o cultivo sem-terra. Antonio Carrozza conclui que sequer tal critério seja capaz de resolver todos os problemas de qualificação que a prática suscita: serviria para excluir a agrariedade da produção de bactérias, bioproteínas ou de mofos sem dever recorrer ao argumento de que em todas estas produções o ciclo biológico haveria de ser incluído, atribuindo ao setor secundário porque perfeitamente controlado; não seria, ao invés, tanto quanto eficaz para excluir da área da agrariedade atividades produtivas de animais como cavalos-de-corrida ou para montar, cuja “criação” em si e por si considerado, e para prescindir do uso que após o adquirente, não difere daquele dos cavalos de carne ou de tiro crescidos na herdade.298 Ademais é possível observar que, em substância, com aquele critério o processo de qualificação partiria do tipo de produto antes do que do tipo, de atividade, incorrendo assim, de novo na crítica em seu lugar formulada por tal método.299 Portanto, nem um nem outro dos 294 Id, ibid., p. 108. Id, ibid., p. 108. Id, ibid., p. 109. 297 Id., ibid, p. 109. 298 Id., ibid., p. 109. 299 Id., ibid, p. 109. 295 296 213 conetivos propostos resulta acolhível.300 O OBJETO OU CONTEÚDO 1. AS TEORIAS PESSIMISTAS SOBRE O OBJETO Como se viu, a própria existência de uma ciência do Direito Agrário foi colocada em dúvida; e é mesmo a impossibilidade presumida em determinar um objeto típico para tal ciência, e em determiná-la em modo unitário, que encorajou hoje como ontem, aqueles que rechaçam a idéia de um Direito Agrário que exista por si mesmo.301 As críticas na realidade centravam como alavanca a falta de um objeto definido e definível, mesmo quando na aparência o alvo das críticas era representado pela afirmação da autonomia.302 Examinemos estas teorias pessimistas. Chamá-las teorias é talvez inexato, porque em geral elas se fundamentam em breves afirmações apodíticas, mas é culpa dos fautores do Direito Agrário não tê-las suficientemente impugnado, opondo válida demonstração em contrário.303 A negação de um objeto particular resulta mais ou menos convencida, mais ou menos radical. Fora da Itália, foi afirmado que o Direito Agrário forma “um sistema aberto” (Manfred Welan, com relação à realidade legislativa da Áustria), que a visão da matéria aparece ou aparenta ser “desfocada” (assim ressalta o suíço H. P. Friedlich).304 A verificação de uma multiplicidade (aparente) de objetos induziu um especialista francês, Hudault, a apresentar o Direito Agrário como um Direito “misto” também e, sobretudo, por causa da interferência de elementos de Direito Privado e de elementos de Direito Público.305 Também na doutrina soviética - e aqui com mais razão do que em qualquer outro lugar, por causa da pluralidade de normas dirigidas para a agricultura - aflorou dúvidas sobre a homogeneidade das relações que freqüentam o Direito Agrário, e sobre a conveniência, ou mesmo a possibilidade de desarraigar normas e institutos especiais dos ramos consolidados do Direito, para incluí-los no objeto próprio do Direito Agrário.306 Na Itália, a negação de um objeto particular tornou-se atual pela descentralização das funções legislativas e administrativas do Estado para as várias “Regiões”. O modo mais insidioso de colocar em dúvida a identificabilidade de um objeto típico do Direito Agrário, é, igualmente, sempre aquele de apontar a presença de tantos e tão300 Id., ibid., p. 109. Id., ibid., p. 110. Id., ibid., p. 110. 303 Id., ibid, p. 110. 304 Id., ibid, p. 110. 305 Id., ibid., p. 110. 306 Id., ibid, p. 110. 301 302 214 despropositados componentes de modo a tornar vã, aparentemente, a fadiga de uma “recomposição do saber jurídico” e ilusório todo escopo científico de agregação e de síntese, na lição de Carlo Alberto Graziani.307 Graziani considera probante neste sentido um elenco de partes de objeto assim concebido: “águas, agriturismo, cada uma das culturas, cada produto ou cada um dos produtos, intervenções no mercado, associação dos produtores, melhoria das terras, caça, pesca, fauna, construções rurais, formação profissional, trabalho e previdência, impostos e taxas, ambiente, solo, cada espécie de animais, florestas, calamidades naturais, cadastro. Comunidade Econômica Européia, comunidades montanhosas, consórcios, crédito agrário, cooperação, obras públicas, urbanística, poluição, irrigação, Ministério da Agricultura, peritos agrários, programação, propriedade cultivadora, parques, reservas, serviço sanitário, taxa de câmbio, terras incultas, tratados e conservações internacionais, usi civici, etc”. 308 Todas estas teses que Antonio Carrozza denomina pessimistas - desde aquelas debatidas que há meio século acompanharam o nascimento do Direito Agrário até aquelas atuais que retomam as primeiras freqüentemente acriticamente, sem avaliar aquele tanto ou aquele pouco que os sustentadores das teorias otimistas medio tempore conseguiram demonstrar - operam o inevitável comprometimento de questões de objeto e de questões de método, ou seja de critérios a serem empregados para a análise do objeto.309 Mas nenhuma destas parece irrefutável. Para quem, como Casetta, denuncia a desorganização, a falta de organicidade da matéria se pode, no entanto, recriminar uma certa confusão de planos: uma coisa é averiguar a falta de organicidade da matéria (e com efeito na tese partia da verificação dos caracteres de complexidade e desorganização da matéria). Coisa bem diferente é atribuir a desorganicidade, etc., à disciplina jurídica daquela matéria.310 A doutrina agrarista, pouco convencida de seus meios, não conseguiu evidentemente fornecer uma demonstração exaustiva de uma possível solução e o problema do objeto permanecia não-resolvido, quando não era propositalmente evitado.311 Fala-se, também, na tese não-nova do Direito “misto” (ou também sedimentário), na expressão de Hudault, com a presença simultânea de aspectos de direito público e de direito 307 Id., ibid., p. 110. Id., ibid., p. 110. Id, ibid., p. 110. 310 Id., ibid., p. 111. 311 Id., ibid., p. 111. 308 309 215 privado. Sem contar que um autêntico direito privado pertença ao passado remoto e que a contra posição inicial entre público e privado dilui-se em uma contaminação recíproca e não serve de argumento.312 Os autores soviéticos, anteriores à radical modificação ocorrida na Europa Oriental, que qualificaram o Direito Agrário de ramo “complexo” aproximaram-se da noção de “Direito misto” a que alude a definição francesa, mas a reflexão científica sobre o objeto do Direito Agrário foi considerada por Antonio Carrozza mais avançada na União Soviética que em outros países, o que impõe, sempre, a conveniência da comparação com os desenvolvimentos obtidos por estes últimos.313 A posição sustentada por Graziani coincide com a posição dos jusagraristas soviéticos mais convictos ao patrocinar a noção de agrariedade, como o fez Kozyr. Estes sustentaram um desafio às idéias desagregadoras do Direito Agrário, sejam as velhas como as novas, mas sustentaram inexistir uma disciplina unitária de nossa disciplina, incluindo, ainda, tantos ramos das várias disciplinas que cuidam da agricultura.314 Várias objeções podem ser dirigidas à tese sustentada por Graziani, tese que poderia passar a história de nossa disciplina como a mais brilhante expressão da concepção “atomística” do Direito Agrário.315 Com efeito o elenco de partes do objeto do Direito Agrário adotado na sustentação da tese “atomística” é feita confusamente, desordenadamente, pois abrange pessoas, bens, entes e institutos jurídicos.316 Mais importante é salientar que normas desorgânicas, isto é, em contraste aparente entre elas, encontram-se em toda parte: basta recordar como os civilistas modernos assinalam contínuas contradições entre os aspectos patrimoniais do Direito Civil vigente e os aspectos nãopatrimoniais.317 Mas, a confutação decisiva para uma elencação como a que engloba objetos plúrimos é outra. Esta, com efeito, contém dados não-trabalhados, primitivos, que aguardam serem classificados, ordenados, elaborados e enfim reduzidos a homogeneidade com base em um denominador comum mínimo. E este, como se sabe, é tarefa da doutrina auxiliada pela jurisprudência: cabe a esta, com efeito, encontrar e anunciar o método justo para todas as ligações justas.318 312 Id., ibid., p. 112. Id., ibid., p. 112. Id., ibid., pp. l12 e 113. 315 Id., ibid., p. 113. 316 Id., ibid., p. 113. 317 Id., ibid., p. 113. 318 Id., ibid., p. 113. 313 314 216 2. SOBRE A FORMULAÇÃO DO OBJETO EM TERMOS SUBJETIVOS OU EM OBJETIVOS Um paralelo com a história do Direito Comercial pode ser instrutivo ao se impostar o estudo do objeto do Direito Agrário com O escopo de alcançar e identificar os seus limites. É conhecido como O Direito Comercial apareceu como jus mercatorum, ou seja como o direito que se distinguia do direito comum, porque os mercadores dele foram os protagonistas, seja no sentido que as suas normas se dirigiam aos mercadores (e por reflexo a quem mantinha contatos com eles) seja no sentido de que era um direito elaborado pelos próprios mercadores reunidos em corpo ração e se tratava de uma ordem jurídica concebida para tutelar os interesses particulares da restrita classe mercantil.319 Sucessivamente, nas codificações burguesas do século XIX, o Direito Comercial transformou-se em um sistema concentrado, movido para a identificação dos atos de comércio, seja com o escopo de atribuir a quem os praticava por profissão habitual a qualidade de comerciante e submetê-los a uma jurisdição especial, como em um segundo momento, tornou-se pressuposto direto para a aplicação de um conjunto de normas reservado ao comércio: como no Código Comercial italiano de 1882, que intervém para sancionar o abandono do sistema subjetivo a favor do sistema objetivo.320 O processo de unificação dos direitos privados que o Código Civil italiano, de 1942, consegue impor, apenas aparentemente assinala o retorno a um sistema subjetivo do Direito Comercial, fundamentado, na realidade ao invés em “atos de comércio” do produtor especulador, na figura da atividade de empresa e do sujeito que personifica a empresa-atividade (o empresário, individual ou coletivo). Antonio Carrozza assevera parecer-lhe que Francesco Galgano, refutando a opinião da maioria dos intérpretes do Código Civil italiano de 1942, conseguiu, recentemente, demonstrar na realidade o processo de objetivação do Direito Comercial, basta atentar para a pane essencial dos contratos e das obrigações, alcança com o Código de 1942 o seu cume.321 Carrozza conclui que se experimentarmos transferir esta interpretação - no pressuposto de que seja correta, ainda que até agora minoritária - para o campo do Direito Agrário, verificamos um êxito análogo. Continua sua construção apontando que, também, para o Direito Agrário é opinião comum que - na passagem do Código Civil de 1865 para o Código Civil de 1942 - o centro de gravidade se deslocou do exercício da propriedade para a titularidade e ao exercício da empresa: mas esta 319 320 321 Id., ibid., p. 113. Id., ibid., pp. 113 e 114. Id., ibid., p. 114. 217 titularidade é apenas a forma jurídica de uma atividade que se caracteriza322 pela sua substância, o que depõe, conclui Antonio Carrozza, a favor da objetividade do sistema. Qualidade e posição dos sujeitos (enquanto portadores do fator trabalho na relação contratual, empresários variadamente titulados, participantes de empresas familiares etc.) são relevantes apenas no interno do Direito Agrário.323 Quanto ao externo do Direito Agrário: no externo, ao invés, a agricultura se manifesta como criação de animais ou vegetais governada por “leis” biológicas, e isto independentemente da qualidade e da posição dos sujeitos que funcionam como criadores.324 Em um certo sentido, é mais fácil caracterizar o Direito Agrário sob o perfil objetivo enquanto não seja para o Direito Comercial, cujo objeto é definido tradicionalmente (e discutivelmente) pelos seus cultores de maneira negativa e residual. Ora isto ocorre diferentemente na agricultura.325 O Direito Agrário nunca foi o direito dos agricultores, não o foi no sentido de um direito posto pelo Estado para a tutela exclusiva dos interesses das categorias agrícolas,326 e também não o foi no sentido de um direito criado e elaborado corporativamente no interior destas classes (executa-se aquele tipo de produção espontânea de normas que se procedia, numa margem mais ou menos larga concedida à autonomia da vontade dos particulares por meio dos costumes locais)327 Portanto, diferentemente, do Direito Comercial. Não se pode afirmar que o Direito Agrário tenha sido ou seja o direito dos agricultores, porque foi e continua sendo o resultado da composição do conflito de interesses de pelo menos duas classes sociais contrapostas: aquela dos proprietários de terras não-cultivadores e aquela dos cultiva dores não-proprietários. A lógica da contraposição viveu momentos alternados mas sempre existiu, ainda que em certos períodos permaneceu latente e em outros (como acontece hoje por efeito da sindicalização da tutela) se manifestou em formas também visíveis.328 Se assim for é de se notar que existiram momentos de prevalência dos proprietários fundiários, quando estes tinham acesso mais fácil aos centros do poder econômico e político, enquanto nos últimos decênios a classe emergente é aquela dos cultiva dores diretos e pessoais, seja que cultivem terrenos próprios seja que arrendam terrenos alheios, seja que ajam 322 Id, ibid., p. 114. Id, ibid., p. 114. Id, ibid., p. 114. 325 Id., ibid.,p. 114. 326 Id., ibid.,p. 114. 327 Id, ibid., p. 114. 328 Id. ibid., p. 115. 323 324 218 individualmente, seja que adotem as formas da agricultura de grupo.329 Enfim, a história ensina que os sentidos das relações jurídicas em agricultura precedem de categorias diversas e diversamente importantes, conforme as épocas: por isso o Direito Agrário não pode ser considerado um direito de classe. Certamente, não faltam sugestões nesta direção e ao invés qualquer jurista tenderia a reduzir todos os cultivadores, mesmo se empresários, ao estado de trabalhador subordinado ou parasubordinado, assim a podê-las submeter ao mesmo tipo de tutela determinada em geral pelas posições de trabalho e considerada aplicável também nesta hipótese, por via direta ou analógica. Se o jurista teórico circunscrevesse suas indagações exclusivamente às exigências de tutela do contraente mais fraco ou “mais trabalhador”, caracterizando uma disciplina agrária funcional a tais exigências, concederia contribuição eminente e talvez decisiva para a afirmação de um sistema assegurador em sentido único, que se afastaria talvez para sempre da imagem que nós fizemos do Direito Agrário com fundamento em dados objetivos irrefutáveis e se avizinharia do Direito do Trabalho até se confundir.330 Se acreditarmos dever considerar este êxito infeliz, será oportuno insistir na revelação dos dados objetivos. Pode-se acrescentar que, enquanto a formulação do problema do objeto em termos subjetivos levaria, inevitavelmente, à identificação de um objeto mínimo, tendencialmente sempre mais restrito, vice-versa a formulação do mesmo problema em termos objetivos, consente ressaltar todos os acréscimos do objeto que se apresentam sempre mais numerosos à atenção da doutrina, esta última a formulação em termos objetivos está conforme a uma tendência universalmente difundida e explora o caráter “aberto” do sistema de Direito Agrário.331 3. DETERMINAÇÃO POSITIVA DO OBJETO Afastadas as teorias pessimistas a respeito da determinabilidade do objeto do Direito Agrário e precedida a conveniência de exprimir tal objeto em termos objetivos antes que subjetivos, é o momento de proceder em concreto à sua determinação ou pelos menos enunciar um procedimento útil para determinar o objeto, solucionando assim “in positivo” aquele que foi a seu tempo definido como o problema mais atormentador da ciência do Direito Agrário. Conhecido o critério agrobiológico, se' significado e função como “revelador da agrariedade”, resta aplicá-la às atividades que devem ser reconhecidas como agrárias: atividades de cultivo do solo, com preferência à silvicultura, à criação de animais: desejando seguir a 329 330 331 Id. ibid., p. 115. Id., ibid, p. 115. Id., ibid, pp. 115 e 116. 219 nomenclatura tripartida adotada pelo art. 2.135 do Código Civil italiano, o qual, além disso, refere-se não a três atividades singulares, mas, a três grupos de atividades todas mantendo natureza intrinsecamente agrícola.332 As atividades agora lembradas são aquelas agrícolas por natureza. Mas, além destas existem outras que o critério agrobiológico não está em condições de individualizar vez que se trata de atividades que se podem afirmar agrícolas somente por efeito da conexão e as mais importantes são intrinsecamente de natureza industrial ou comercial, se tornam agrícolas por atração. Uma terceira categoria possível é representada pelas atividades auxiliares das atividades propriamente agrícolas.333 Antonio Carrozza assinala que em seu entendimento uma contribuição fundamental para a identificação do objeto do Direito Agrário pode decorrer da noção de atividade agrícola (por natureza, por conexão, etc.); abandonar a estática da fattispecie, que os civilistas preferem, para seguir a dinâmica da atividade, e conclui o insigne especialista parecer a direção mais profícua.334 Antonio Carrozza ressalta que é necessário, porém, apressar-se para acentuar que a atividade agrícola é considerada por si mesma ainda quando se tratando de um dos elementos constitutivos, melhor dizendo o principal elemento, da noção de empresa agrícola no seu perfil subjetivo.335 A escolha da atividade como termo de referência para a exploração do objeto do Direito Agrário, no lugar da referência à empresa na sua totalidade, não é motivada por um escopo desvalorizador, depreciativo da construção da empresa, mas se justifica sobretudo pelas seguintes considerações: a. a primeira consideração de caráter sistemático, é de aludir à dúvida de que os destinatários das normas do Direito Agrário não são sempre e exclusivamente os empresários agrícolas verdadeiros e próprios; também podem sê-los os produtores não-empresários. b. a segunda, que é consideração de oportunidade, inspira-se pelo temor que uma representação do objeto do Direito Agrário, em termos de empresa, se pode ser oportuno para o Direito italiano, onde o conceito de empresa, embora discutido, é familiar e encontra correspondência na norma, possa resultar inconveniente aos cultores de certos direitos agrários nacionais que se encontram em diferentes condições em sua investida ao direito da empresa.336 Visão dos vários aspectos do Direito Agrário nacional337 encontramos em: para o Direito 332 Id, ibid, p, 116. Id, ibid, p, 116. Id, ibid, p, 117. 335 Id, ibid, p, 117. 336 Id, ibid, p, 117. 337 O estudo foi publicado em “Rivista di Diritto Agrario”, Milano, v. n. 65, n. 1, janeiro-março de 1986, pp, 25-64, obra já largamente referida no texto. 333 334 220 norte-americano, Donald L. Uchtmann,338 para o Direito Agrário alemão, Karl Kroeschell,339 para o Direito Agrário austríaco, Manfred Welan,340 para o Direito suíço H. P. Friedrich.341 Deste autor, há, também o trabalho “Rapporto sulto stato del Diritto Agrario in Europa”, publicado na Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. 62, n. 1, 1983, pp. 184-200. Há, também, o estudo de Rosario Nicoló e Paolo Vitucci, “Riflessioni su Didattica e Sistematica del Dirito Agrário”.342 Relevantíssimo o trabalho de Luna Serrano, “Aspetti Metodologici dello sviluppo dottrinale del Dirito Agrario negli anni 1960-1985”. Já-citado no decorrer deste trabalho. CONCLUSÃO Antonio Carrozza, ao abordar o que seria um programa científico do Direito Agrário a quinze anos de 2000, aponta a dificuldade em conhecê-lo, porque o Direito Agrário é uma matéria ainda fluida que, no concernente a sua unidade, especialidade e organicidade, ainda não-obteve reconhecimento unânime e que ainda encontra suspensa a solução dos problemas de individuação dos conteúdos e limites. Apesar da dificuldade em conhecer um programa científico acredita ser possível mesmo, porque a enunciação de um programa científico tem sentido quando há tarefa a cumprir e se tenha noção de dever iniciar.343 Quanto a um primeiro aspecto a base de reflexão se encontra no material adequado e este se compõe com os institutos que são reconduzíveis ao núcleo do Direito Agrário.344 Convém recordar, uma vez mais, que estudar o Direito Agrário “através de institutos” é uma metodologia que pertence aos instrumentos conceituais do labor científico, e se considera provada a utilidade do recurso a esta metodologia e a sua plausibilidade com relação às aplicações possíveis na teoria geral do moderno Direito Agrário.345 O número de institutos não importa, sendo certo que os institutos vão aumentando em 338 Uchtmann, Donald L., op. cit,. pp, 334 a 340. Kroeschell, Karl. “Il Diritto Agrario sull’ordinamento della Republica Federale Tedesca”, em Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. 62, 1ª parte, 1983, pp. 324 a 331. Também, o trabalho “Rapporto sullo stato del Diritto Agrario in Europa”, publicado na Rivista di Diritto Agrario, MiJano, v. 62, n. 1, 1983, pp. 184-200. 340 Wellan, Manfred. “Il Diritto Agrario in Austria”, em Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. 63, n. 114, 1ª parte, 1984, pp.329-333 341 Friedrich, H. P. “Stato del Diritto Agrario in Svizzera”, em Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. 63, n. 114, 1ª parte, 1984, pp. 470-475. 342 O estudo de Nicoló-Vitucci foi publicado na Rivista di Diritto Agrario, Milano, v. 52, 1ª parte, 1973, pp. 66-72, Objeto de comunicação apresentada nas “Jornadas ilalo-espanholas de Derecho Agrário”, Salamanca - Valladolid, 5-9 de novembro de 1972. 343 Carrozza, Antonio. “Il programa scientifico del Diritto Agrario a quindici anni dal duemila”, em Rivista di Diritto Agrario, n. 65, n. 1, Milano, 1986, p. 65. 344 Id., ibid., p. 66. 345 Id., ibid., p. 67. 339 221 número numa medida proporcional ao desenvolvimento e à difusão da legislação especial: esta se comporta obviamente como um multiplicador de institutos típicos.346 Antonio Carrozza ensina que há uma singularíssima correspondência de institutos entre os principais ordenamentos que costumam ser estudados, referindo-se aos países latino-americanos que contribuíram e contribuem para a formação dos institutos de Direito Agrário, através de fórmulas jurídicas originais.347 Lembra que o conteúdo do Direito Agrário e, portanto, o conteúdo de cada instituto está longe de ser estático e imutável. Ao contrário, os fatores político-social e o econômico-técnico continuam, sem parada, a produzir os efeitos de sua ação combinada sobre o modo de ser e sobre a própria existência dos institutos descritos.348 O Direito Agrário atual manifesta um dinamismo excepcional mesmo em relação a outros direitos especiais. Exemplo encontramos na empresa de criação de animais ou empresa zootécnica, até agora confusa se comparada com aquela destinada ao cultivo do solo. Os institutos estão se consolidando quer como expressão da autonomia individual (os contratos agroindustriais) ou como expressão da autonomia coletiva (como os acordos interprofissionais).349 Antonio Carrozza prevê o Direito Agrário, como o visualizamos hoje, com tendências a se dissolver, mas somente para se recompor em outra base, mantida a possibilidade de controle do fenômeno produtivo.350 As biotecnologias avançadas legitimam previsões de um incremento daquelas produções agrícolas que escoam para mercados não-alimentares.351 O construído chamado “direito da natureza e dos recursos naturais” poderá integrar o programa científico do Direito Agrário, poderá, também, obrigar a introdução de novos parâmetros, os de caráter ecológico, a integrar o Direito Agrário para a avaliação de cláusulas gerais como a de “boa técnica agrária”, nas relações obrigatórias entre particulares e a administração pública. A contribuição de matéria para algum instituto novo será sempre um aspecto marginal da afirmação do interesse dominante no Direito Agrário, que é o interesse da produção, que não se deve confundir com o interesse, ainda que legítimo, sob um ponto de vista bem mais geral, a impor um limite à produtividade enquadrada nas exigências ecológicas.352 346 Id, ibid, p. 67. Id, ibid, p. 69. Id, ibid, p. 69. 349 Id., ibid, pp. 69 e 70. 350 Id, ibid, p. 70. 351 Id. ibid., pp. 70 e 71. 352 Id, ibid., p. 71. 347 348 222 Há o exemplo de culturas emergentes. Apresentar os cogumelos, por exemplo, como produtos espontâneos não é mais exato, visto que as últimas estatísticas no setor da cogumelocultura documentam que na Itália a atividade de distribuição e venda de cogumelos nascidos espontaneamente resulta decisivamente inferior seja em termos de peso seja em termos de valor com respeito a que tem por objeto cogumelos cultivados (ou criados, se assim se quer dizer).353 Eventos semelhantes não tardarão a se verificar para os produtos éticos, vez que a criação de peixes e de crustáceos vai substituindo a passos largos as atividades de pesca, a ponto de se reclamar um estatuto jurídico próprio para a itiocultura. A idéia de Código (ou pelo menos de uma série de textos únicos) postula a prévia identificação de um princípio apegante de caráter e tamanho geral, senão de princípios secundários, aptos a selecionar os institutos, distribuindo-os em tantos reagrupamentos ou ramos, possível de traduzir depois, eventualmente, em outros livros do Código a ser emanado.354 Há ligações entre institutos que se determinam espontaneamente, talvez com base em uma relação genética. Assim, do crédito se gera o crédito especial agrário e deste o crédito agrário “agevolativo”, o qual vem assumindo conotações sempre mais definidas. Freqüentemente, o instituto que leva consigo o atributo de “agrário” deriva do instituto correspondente de direito comum, do qual reproduz a estrutura fundamental com o acréscimo de um número mais ou menos grande de elementos diferenciais: é aqui que se revela com clareza a existência daquela espécie de cordão umbilical que liga o objeto de nosso estudo ora ao Direito Civil, ora ao Direito Comercial, ora ao Direito do Trabalho, etc.355 O Direito Agrário pode ser estruturado num esquema binário propriedade-empresa, que poderia também se interpretar como terciário: propriedade-contrato agrário-empresa. Com efeito, é fácil verificar uma concentração de institutos em volta destes institutos-base, com o escopo de formar três conjuntos de satélites, respectivamente, da propriedade fundiária, do contrato agrário e o da empresa agrícola.356 Propriedade e empresa são geralmente consideradas, de acordo com uma prioridade que varia de ordenamento a ordenamento, as pedras de conta que o construtor adota para reger e delimitar as remanescentes.357 A relação inicial de dependência da empresa à propriedade se inverte, pois a propriedade sempre mais claramente na consciência jurídica se reconhece como instrumental em relação à 353 Id., ibid., p. 71. Id., ibid., p. 75. Id., ibid., p. 75. 356 Id., ibid., p. 75. 357 Id., ibid., pp. 77 e 78. 354 355 223 empresa.358 Outra perspectiva será dividir o Direito Agrário em sub-setores: Direito Agrário administrativo, Direito Agrário tributário, Direito Agrário previdenciário, Direito Agrário penal e Direito Agrário processual. Teríamos ainda o Direito Agrário hereditário, o Direito Agrário securitário (dominado pela presença de risco biológico), um Direito “industrial” (patentes vegetais, marcas coletivas e semelhantes...) e o Direito Agrário falimentar.359 BIBLIOGRAFIA BASILE, Eva Rook e GERMANÓ, Alberto. Lineamenti di Diritto Agrario Francese, 1ª edição, Milano: Dott. A. Giuffrè. BELYAEVA, Z. C. Problemi teorici relativi alle fonti del Diritto Agrario, em “Fonti ed oggetto del Diritto Agrario”, 3ª mesa-redonda Ítalo-Soviética, Firenze, Brescia, Sermione, 9-16 de novembro de 1982, 1ª edição, Milano: Editrice Giuffrè, 1986. CARROZZA, Antonio. Lezioni di Diritto Agrario, I Elementi di Teoria Generale, Milano: Editrice GiuffrÉ, 1988. __________________.Il programa scientifico del Diritto Agrario a quindici anni del duemila, em Rivista di Diritto Agrario, n. 65, Milano: Editrice Giuffre, 1986. ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Teoria General e institutos de Derecho Agrario, Buenos Aires: Editorial Astrea, 1990. CASELLA; Aldo Pedra. La proprietà e l'impresa agraria nel sistema costituzionale argentino, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, v. n. 64, P parte, 1985. COSTATO, Luigi. Le basi costituzionali per una soluzione legislativa del problema dell’ agricultura, em Rivista di Diritto Agrario, v. n. 52, P parte, Milano: Editrice Giuffrè, 1973. FRIEDRICH, H. P. Stato del Diritto Agrario in Svizzera, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, v. 63, n. 114, 1ª parte, 1984. GERARD, Alain. Elements du Droit de l’Alimentation, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice GiuffrÉ, v. n. 114, 1975. KOSYR, M. I. L'Oggetto e gli istituti del Diritto Agrario Sovietico nel pensiero dei giuristi dell’ URSS, em Fonti ed Oggetto dei Diritto Agrario, 5ª mesa-redonda Ítalo-Soviética, Firenze, Brescia, Sirmione, 9-16 de novembro de 1982, 1ª edição, Milano: Editrice Giuffrè 1986. KREUZER, Karl. Fondamenti costituzzionali della proprietà e dell' impresa agraria nella 358 359 Id., ibid., p. 75. Id., ibid., p. 80. 224 Republica Federale Tedesca, in Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, v. n. 64, 1ª parte, 1984. LONGO, Mario. Profili di Diritto Agrario Italiano, 1ª edição, Torino: Editore G. Giappichelli, 1951. LORVELLEC, Louis. Droit Rural, 1ª edição, Paris: Masson, 1988. LUNA SERRANO, Agustín. Aspetti metodologici dello sviluppo dottrinale del Diritto Agrario negli anni 1960-1985, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, v. n. 65, 1986. ________________. Il Diritto Agrario e la costituzione spagnola del 1978: fondamenti costituzionali delta proprietà e delt'impresa agraria, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, V. n. 64, 1ª parte, 1985. KROESCHELL, Karl. Il Diritto Agrario sull'ordinamento delta Republica Federale Tedesca, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, V. 62, 1ª parte, 1983. __________________. Rapporto sulto stato del Diritto Agrario in Europa, publicado na Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, V. 63, 1ª parte, 1984. ROSARIO, Nicoló e VITUCCI, Paolo. Riflessioni su 'Didattica e Sistematica del Diritto Agrario, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffre, V. n. 52, 1ª parte, 1973. WELLAN, Manfred. Il Diritto Agrario in Austria, em Rivista di Diritto Agrario, Milano: Editrice Giuffrè, V. 63, P parte, 1984. 225 A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS REVIDENCIÁRIOS Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho Juíza Federal I - A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA QUESTÃO DOS REAJUSTES PREVIDENCIÁRIOS - DA UNIFICAÇÃO DO TRATAMENTO LEGISLATIVO (edição da Lei Orgânica da Previdência Social - L.3807/60) até a CF de 1988 Para melhor compreensão da questão dos reajustamentos previdenciários, é de bom alvitre analisar o tratamento histórico dado à matéria. Ana Maria Wickert Theisent1, Juíza Federal do TRF da 4ª Região, traça minucioso estudo da evolução dos critérios de reajustamento dos benefícios previdenciários e das principais polêmicas suscitadas a respeito e que podemos resumir na seguinte ordem cronológica como preliminar da proposta que queremos formular: • L.3807 de 26/08/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) - em seu artigo 67, determinou que o reajustamento dos benefícios se desse sempre que os * trabalho apresentado no IV Encontro de Magistrados Federais do TRF da 2ª Região, de 18 a 21 de novembro de 1999, Club Mediterranée de Rio das Pedras - RJ 1 In “Direito Previdenciário - Aspectos materiais, processuais e penais”, 2ª edição, Ed. Livraria do Advogado op. cit. pg.194 226 índices dos salários de contribuição dos segurados ativos ultrapassasse em mais de 15% os do ano do último reajuste. • Decreto-lei 66 de 21/11/66 - alterou o artigo 67 supra vinculando os reajustes dos benefícios previdenciários à variação da Política Salarial, computando o percentual aplicado ao salário mínimo apenas 60 adias após sua alteração; • Lei 5890 de 1973 - altera de novo o artigo para determinar a imediata aplicação da variação da Política Salarial, de forma imediata e não mais diferindo seus efeitos; O Decreto 77.077 de janeiro de 1976 (Consolidação das Leis da Previdência Social) - em seu artigo 30, mantém o critério anterior mesmo após a edição da Lei 6205 de 29/04/75 que descaracterizou o salário mínimo como fator de correção monetária; • Lei 6708 de 30/10/79 - estabelece a correção automática dos salários cujo valor passou a ser corrigido semestralmente pela variação do INPC e dividiu os assalariados em faixas salariais. Por extensão, tal critério aplicava-se também aos benefícios previdenciários. Entretanto, o enquadramento e o reajuste eram feitos de forma errônea pelo INPS gerando prejuízo aos beneficiários. Em primeiro lugar; a autarquia passou a aplicar o critério da proporcionalidade, ou seja, o índice de variação da política salarial era repassado proporcionalmente ao mês da concessão, no que diz respeito ao primeiro reajuste dos benefícios, sem que a lei assim o determinasse. Assim, desde a vinculação dos benefícios à Política Salarial (1966), a autarquia efetuava erroneamente o reajuste proporcional. Em segundo lugar; ainda quanto ao enquadramento, deve-se explicar que os salários eram divididos em faixas salariais às quais eram atribuídos índice de reajuste inversamente proporcionais (quanto mais elevado o nível da faixa, menor o reajuste atribuído). Com isso, uma vez editada a alteração da Política Salarial com a divulgação do novo valor do salário mínimo, a autarquia classificava ou enquadrava os benefícios por faixas de acordo com o valor revogado, fazendo com que muitas vezes os beneficiários mudassem de faixa, percebendo índice menor. Este equívoco veio a ser corrigido com a edição do Decreto-lei 2171/84 que esclareceu que o enquadramento deveria ser feito pelo novo valor do salário mínimo. 227 Em 26/05/87, a L. 7604, reconhecendo o equívoco praticado no passado, determinou a retificação da atualização no período de nov/79 a mai/84, sem efeitos financeiros pretéritos. Os dois equívocos acima mencionados, ensejaram a edição da Súmula 260 do extinto TFR, cuja aplicação, nos dois aspectos, encontra-se de há muito superada. • Decretos-lei 2284 de 10/03/86 (Plano Cruzado) e 2302 de 21/11/86 instituíram a escala móvel de salários e o reajuste automático de salários quando a variação acumulada do IPC no ano atingisse 20% a contar da última data-base. Todo mês era verificada a variação do IPC de forma a constatar ou não o atingimento do patamar referido e o repasse aos benefícios do resíduo nos reajustes seguintes. • Lei 7604 de 26/05/87 - determinou o reajuste dos benefícios de acordo com a Política Salarial e conforme as disponibilidades financeiras do Sistema Nacional de Previdência Social. Em 12/06/87, é editado o Decreto-lei 2335 que extinguiu o gatilho automático pela variação do IPC e instituiu a URP Entretanto, foi assegurado aos beneficiários o repasse de 20% da variação do IPC acumulado no mês anterior, isto é, maio de 1987. O Decreto-lei 2351 de 07/08/87 criou um dúplice regime salarial, instituindo: a) Salário mínimo de referência que correspondia ao antigo salário mínimo e ao qual ficavam vinculados os salários e os benefícios previdenciários, utilizado também na aplicação de índice de atualização monetária; b) Piso Nacional de Salários - que correspondia à contra prestação mínima devida e paga diretamente pelos empregadores aos trabalhadores, com valor mais elevado que a espécie anterior. Este sistema dúplice perdurou até a edição da L. 7789 de 03/07/89. Neste período, por expressa determinação legal, no que pertine a reajustamento de benefícios ou cálculo de correção monetária de liquidação, o certo é utilizar-se o salário mínimo de referência. • Constituição Federal de 1988 - criou o salário mínimo nacionalmente unificado (conceito em que apenas o salário mínimo de referência se 228 enquadrava); vedou vinculação ao salário mínimo para qualquer fim; instituiu no ato das disposições transitórias o critério provisório de reajustamento dos benefícios previdenciários então em manutenção pela equivalência inicial em número de salários mínimos e criou o princípio da manutenção do valor real dos benefícios, que passamos a estudar. II - O PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar sistematicamente da seguridade social, conferindo-lhe um capítulo próprio no Título VIII da Ordem Social. Neste capítulo, encontramos os artigos 194 e 201 que com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 dispõem: Art. 194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: ... IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:... §4° - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.... Note-se que os dois princípios supra referidos (o da irredutibilidade de benefícios e o da manutenção do valor real) já encontravam amparo na Constituição desde sua promulgação, respectivamente no inc. V do art. 194 e no §2° do art. 201, não tendo sofrido alterações com a Reforma Previdenciária. Regulamentando o Capítulo da Seguridade Social, foram editados os Planos de Custeio e o de Benefícios do Regime Comum Previdenciário, respectivamente Leis nº 8212 e 8213 de julho de 1991 que, por sua vez, foram regulamentadas em dezembro do mesmo ano com a edição dos decretos pertinentes. 229 A Lei 8212/91 dispunha: Art.6° - Fica instituído o Conselho Nacional de Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil ... Art. 7º - Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social: VI - estudar; debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e dos salários-de-contribuição, a fim de garantir de forma permanente a preservação de seus valores reais; ... Note-se que este dispositivo encontra-se revogado já que o Conselho Nacional de Seguridade Social foi extinto conforme alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 1911 de dezembro de 1998 na L.9649 de 27/05/98 que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, sem que suas atribuições tenham sido transferidas a qualquer outro órgão da estrutura do Ministério da Previdência e da Assistência Social. O direito subjetivo ao reajustamento do benefício para preservação de seu valor real assegurado na Constituição vem igualmente insculpido na L.8213191, em seu art. 41, inc.I. Vemos, assim, que o constituinte conferiu aos benefícios previdenciários garantias maiores e até então inéditas; ao lado da irredutibilidade de seu valor nominal (garantia igualmente conferida aos salários no art. 7°, inc. VI), tornou obrigatório o reajustamento periódico do benefício sempre que constatada perda de seu valor real. A referida norma é dotada de alto nível de abstração e desde a promulgação da Cana tornou-se um desafio imposto aos aplicadores do Direito a tarefa de definir o que fosse “valor real”. Sem maiores delongas que demandariam uma pesquisa multidisciplinar, envolvendo conceitos até mesmo de Economia, vamos direto ao que hoje parece ser consenso doutrinário endossado pelo Eg. STF. Conforme decisões reiteradas dos Tribunais Superiores, entende-se que o conceito de valor real do benefício previdenciário é indissociável do conceito de valor aquisitivo e, conseqüentemente, indissociável da idéia de preservação do benefício dos efeitos da inflação. Desta forma, o § 4° do art. 201 contém norma programática que impõe ao legislador ordinário a tarefa de estabelecer o reajustamento do benefício toda vez que houver perda do valor aquisitivo inicial ou seja, do valor aquisitivo da renda mensal inicial, perda essa que ocorre através do fenômeno inflacionário. Ao julgar o Mandado de Segurança n.º 1233-DF impetrado para assegurar o reajuste dos benefícios previdenciários em 147,0696 (mesmo índice aplicado para reajuste dos salários-de- 230 conuibuição em setembro de 1991) o Eg. STJ, através do voto do Min. Garcia Vieira, ressaltou dois aspectos de suma importância decorrentes dos princípios constitucionais da manutenção do valor real e da garantia da fonte de custeio: em primeiro lugar, lembrou que o salário-decontribuição deveria ser reajustado na mesma época e com os mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada, conforme dispunha o parágrafo único do art. 20 da L.8212/91, hoje substituído pelo art. 29, § 10. Assim, se um é reajustado, o outro fator também o será. O segundo aspecto merece ser transcrito face à clareza que trouxe à discussão acerca do princípio da manutenção do valor real: “O legislador constitucional assegurou, em suas disposições permanentes a irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 194, N) e seu reajustamento para “...preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”. Ora, é evidente que o legislador ordinário não poderia desconhecer e desrespeitar estes dois mandamentos, o da irredutibilidade e preservação do valor real dos benefícios. Os seus aumentos não poderiam ser inferiores aos índices da inflação. Mesmo após a implantação definitiva dos planos, os benefícios e as contribuições devem ser reajustados, na mesma época e com os mesmos índices, nunca inferiores aos da inflação, para ser respeitada a irredutibilidade e preservar o valor real dos benefícios e garantir a fonte de custeio.” No mesmo sentido é a posição do Eg. STF: “...Com o preceito * objetivou-se cobrir o espaço de tempo até a vigência de nova legislação previdenciária a ser editada em harmonia com os princípios insculpidos no artigo 201 do corpo permanente da Constituição. Ora, constata-se que o § 20 do mencionado artigo é categórico ao assegurar o reajustamento dos benefícios para preservarlhes, em caráter permanente, o valor real, remetendo à lei, enquanto o § 3° dispõe sobre a atualização dos salários de contribuição computados no cálculo do benefício. Evidentemente, a manutenção do poder aquisitivo dos benefícios previdenciários, fez-se, em primeiro lugar e relativamente ao período que antecede a data da aquisição do direito, de acordo com a atualização dos salários de contribuição e, em segundo lugar, relativamente ao tempo posterior; considerada a inflação, havendo, portanto, data-base própria.... 231 *O preceito aqui referido é o art. 58 do ADCT (AI 188298-1, Min Marco Aurélio, in DJ I de 07/04/97, p. 11009) Compete, assim, ao Congresso Nacional dispor sobre o regime de reajustamento dos benefícios, fixando datas, periodicidade e índices. Está, porém, como Poder Constituído, sujeito aos limites constitucionais, dentre os quais situa-se o dever a ele imposto de assegurar aos titulares de benefícios previdenciários a preservação destes últimos contra os efeitos malignos da inflação a qual acarreta perda de valor aquisitivo da moeda. Indo mais além, ainda ANA MARIA WICKERT THEISEN entende que todo reajustamento deverá necessariamente estar amparado em um índice oficial de correção monetária, sob pena de estar sendo fraudada a garantia constitucional: “Ora, se o Texto Maior fala em critérios, o que a lei infraconstitucional deve fazer, no desiderato de regulamentar o dispositivo, é indicar um índice oficial, baseado em indexadores oficiais (os quais obedecem a uma mecânica de cálculo previamente estabelecida, de molde a refletir a variação inflacionária). Não há autorização para que o legislador, livremente, escolha um percentual qualquer, sem lastro no fenômeno inflacionário, de cujos efeitos, aliás, os reajustes procuram precaver os benefícios, assegurando seu poder liberatório.” 2 Desta forma, podemos concluir que ao legislador é dado escolher qualquer índice inflacionário oficial, mesmo o que houver apresentado menor variação no período de apuração Entretanto, uma vez verificada a perda do poder de compra do benefício em manutenção em relação ao seu valor inicial (RMI) e em cotejo com todos índices inflacionários oficiais, o beneficiário passa a ter direito subjetivo à reposição da perda, cabendo ao legislador eleger um índice dentre a gama de índices oficiais existentes. Deve ainda dispor sobre a forma como se dará o reajustamento no que pertine a data e periodicidade. Não cabe ao segurado pretender o índice que mais lhe convenha já que a Constituição outorgou ao Congresso Nacional a tarefa de di por sobre o regime de reajustamento. Entretanto, o poder atribuído ao Poder Legislativo encontra limite no princípio estudado. Como então agir quando no exercício da competência que lhe é atribuída o Legislador infringe o dispositivo constitucional ou ao contrário, se se omite de exercê-la? Tratando-se de norma programática, isto significa que a mesma deve restar indefesa? A questão merece uma digressão. III – EFETIVIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS 2 Op. cit. p. 194 232 É preciso lembrarmos que existência, validade e eficácia dos atos jurídicos são atributos não se confundem. O ato jurídico se diz existente quando presentes seus elementos constitutivos previstos na lei. Uma vez existente, ele será válido se os elementos constitutivos estiverem de acordo com o estabelecido na norma no que pertine, por exemplo, competência para sua edição, observância do processo de criação, etc... Assim, por exemplo, uma lei declarada inconstitucional é existente, porém inválida. O ato válido, por sua vez, será eficaz se idôneo a produzir os efeitos nela previstos. No período de vaccatio legis, por exemplo, uma lei é ineficaz. Especificamente no tocante à classificação das normas constitucionais tradicional estabeleci da por José Afonso da Silva, assegura-se às normas programáticas uma “eficácia mínima”, ou seja, ela produz efeitos independentemente de sua regulamentação no mínimo para revogar a lei que lhe seja contrária e eivar de inconstitucionalidade a norma posterior que seja editada contrariamente a seu sentido. Luis Roberto Barroso analisa ainda um quarto atributo dos atos jurídicos e em especial das normas jurídicas: a efetividade. Efetividade equivaleria em suas palavras à eficácia social ou reconhecimento pela sociedade da existência da norma, operando-a no mundo dos fatos: “A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 3 Podemos dizer assim que, se a efetividade da norma depende de sua aplicação real, pode e deve o Poder Judiciário garantir este atributo. Podemos ainda dizer que a norma constitucional que abriga o princípio da manutenção do valor real do benefício só será efetiva se forem editadas leis que realmente mantenham o poder de compra original do benefício, considerando a Economia inflacionária em que ainda hoje vivemos. Como garantir, então, a efetividade? IV – O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL A - Supremacia da Constituição A Constituição tem histórica e essencialmente a função de limitar os Poderes Constituídos ao lado da função de organizar e instituir o próprio Estado. As edições das primeiras Cartas Constitucionais receberam o nome de Movimento Constitucionalista e foram a fonte e base do chamado Estado de Direito contendo o elenco mínimo de direitos e garantias individuais. A evolução histórica e as novas demandas sociais 3 In “O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da Constituição Brasileira”, 1990, p. 77, Renovar. 233 levaram igualmente à evolução do conceito de Constituição e de sua finalidade. Entramos então no chamado Estado Social, em que os documentos básicos passaram a assegurar não apenas direitos dos indivíduos face ao Estado mas também enquanto trabalhador. Temos assim que a Constituição dá origem ao próprio Estado e que os Poderes que o constituem são Poderes Derivados e, portanto, limitados pela própria Lei Fundamental. É dela que se originam todas as demais normas que nela encontram seu fundamento de validade. Daí comumente falar-se em supremacia da Constituição significando a submissão dos Poderes de Estado e dos atos por ele praticados aos princípios constitucionais. Conseqüentemente, toda norma editada em desacordo com a Constituição, seja quanto ao processo de sua criação seja quanto a seu conteúdo, padece de vício de inconstitucionalidade sendo nula ou inexistente, no dizer de parte da doutrina (ex: Francisco Campos). Também a inércia de qualquer dos Poderes do Estado pode ser eivada de inconstitucionalidade sempre que deixar de editar ato de sua competência exigido pela Constituição e necessário para eficácia plena do dispositivo. Do exposto, surgiu a necessidade de se instituir mecanismos de fiscalização da adequação da conduta dos Poderes Constituídos à Lei Fundamental, o que se deu através do controle de constitucionalidade. B - Modalidades de controle de constitucionalidade Uma norma pode ser inconstitucional por diversos aspectos, gerando pluralidade de modalidades de controle. Há inconstitucionalidade formal ou material segundo o vício esteja relacionado ao processo de formação da norma ou a seu conteúdo. Por outro lado a inconstitucional idade pode dar-se por ação ou por omissão, ou seja, o vício tanto pode surgir da edição de lei ou ato normativo em afronta ao dispositivo constitucional quanto da inércia do Poder Público competente em editar a lei ou ato normativo necessário para a eficácia plena e aplicabilidade da norma; neste caso, é pressuposto desta espécie de controle a inexistência da norma ou a existência de norma que disponha de forma insuficiente sobre a matéria.4 O ordenamento jurídico brasileiro admite, por outro lado, dois sistemas de controle de constitucionalidade: o controle pela via principal (ação direta de inconstitucionalidade que pode assumir a forma interventiva) ou pela via de exceção. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual é prevista no art.102, inc.I, alínea “a” da Constituição: a competência para julgá-la é do Eg. STF, órgão máximo de guarda e interpretação da lei fundamental, e a legitimidade para propô-la é conferida 4 In Clèmerson Merlin Clève, “A fiscalização abstrata de constitucionalidade no Direito Brasileiro”, RT, 1995, p.42. 234 um elenco fechado de pessoas e órgãos contido no art. 103. Embora haja alguma divergência doutrinárias5, a maioria entende que a ação é de cunho declaratório da nulidade da lei ou ato normativo, produzindo efeitos retroativos (ex tunc), e erga omnes. No caso de vir a ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, ao eg. STF compete apenas dar ciência de sua decisão ao poder infrator a fim de que adore as providências necessárias as quais, no caso de órgão administrativo, deverão ser tomadas em 30 dia. Considerando ainda a hipótese de omissão normativa, a Constituição prevê também dois outros instrumentos de fiscalização: o mandado de injunção e a iniciativa legislativa popular. O Mandado de Injunção vem previsto no art. 5°, inc. LXXI da Constituição e a iniciativa popular no art. 61, § 2°, regulamentado pela L.9709/98. O Mandado de Injunção pressupõe uma lacuna legislativa ou ausência de norma e que esta ausência inviabilize o exercício de direito subjetivo constitucionalmente previsto, no que diverge da ação direta de inconstitucionalidade já que esta objetiva o resguardo da Constituição e não de um direito individual específico6. O remédio constitucional, ao contrário da ação direta, não se limita a declarar a mora do legislador. Embora de conteúdo esvaziado pelo Eg. STF que o equiparou em efeitos à ação declaratória de inconstitucionalidade, parece-nos claro que, conforme a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles7, o remédio constitucional somente seria eficaz se ao órgão julgador fosse possibilitado integrar a norma no caso concreto, preenchendo a lacuna de acordo com os princípios gerais de direito, a analogia, costumes e, sobretudo, a eqüidade. Copiando o sistema de controle americano, admitimos ainda o sistema de controle difuso ou incidental pelo qual a qualquer órgão judiciário é dado declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo como questão prejudicial da análise do mérito da ação. A declaração de inconstitucionalidade não integra o dispositivo da sentença e não transita em julgado, operando efeitos apenas entre as partes do processo. Esgotadas as vias recursais ordinárias, a questão pode vir a ser submetida ao Eg. STF através de recurso extraordinário. Neste caso, entendendo a Côrte Máxima pela existência de vício, deverá dar ciência desta decisão definitiva ao Senado Federal que, por sua vez, pode suspender a execução de lei julgada inconstitucional, situação em que a decisão passará a ter efeitos erga omnes e retroativos. No controle incidental o órgão julgador subtrai o caso concreto da órbita de eficácia da norma impugnada como se ela não existisse, nas palavras de Lucio Bittencourt. Voltando à análise dos reajustamentos previdenciários, vemos que desde a edição da Constituição dita Cidadã, inúmeras foram as leis e medidas provisórias editadas para disciplinálos e inúmeras as ações impugnando os critérios adota dos alegando-se, em de forma geral a 5 6 7 Francisco Campos entende que a norma declarada inconstitucional é inexistente e não nula. v. Clèmerson Clève, op. cit. p. 230 in “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação civil pública, Mandado de Injunção e habeas data”, 13ª ed., p. 135, RT 235 infringência do princípio constitucional da manutenção do valor real do benefício. Em 90% das ações propostas, o pedido ou é mal formulado, revelando completo desconhecimento por parte dos patronos acerca do direito previdenciário ou pretendem que seja fixado como critério permanente de reajuste a vinculação à equivalência em número de salários mínimos O que, além de vedado na parte permanente da Constituição não é garantia de efetividade do princípio constitucional. Resta questionar: como proceder ao controle de constitucionalidade das normas que versam sobre reajuste previdenciário de forma a preservar o princípio da divisão de poderes? V - O PODER-DEVER DOS JUÍZES AO JULGAR: LIMITES O exercício da função jurisdicional é regido por alguns princípios basilares que assumem especial relevo quando o juiz se defronta com lacunas legislativas ou com hipóteses em que, dado o vício de inconstitucionalidade da norma (e conseqüente nulidade da norma) a mesma torna-se inaplicável ao caso concreto. Em primeiro lugar cumpre citar o princípio da indeclinabilidade da jurisdição insculpido no art. 126 da lei processual segundo a qual ao juiz não é dado eximir-se de sentenciar ou de decidir alegando lacuna ou obscuridade da lei, caso em que poderá socorrer-se das normas legais e na ausência destas, da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, cabendo ainda o uso da eqüidade nos casos expressamente permitidos por lei. Nas palavras de José Roberto dos Santos Bedaque, Juiz do Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo: “a Jurisdição é a atividade estatal destinada a garantir a eficácia prática do ordenamento jurídico”8. Onde se lê eficácia prática, entenda-se efetividade. Preciosas, nesse sentido, as lições as lições de dois autores franceses, um senador e uma professora de direito, Hubert Haenel e Marie-Anne Frison-Roche autores do livro “Le juge et le politique” (editora Presses Universitaires de France, 1998) em que fazem uma análise do papel do juiz na sociedade moderna e as expectativas da sociedade, em especial a francesa, quanto à sua atuação. Fugindo do positivismo puro que impera e buscando soluções para que a Justiça cumpra seu papel - que é o de fazer Justiça mais do que simplesmente aplicar a lei - trazem eles conclusões que p6demos resumir nos seguintes tópicos: • o juiz deve zelar para que o direito e o justo coincidam; • o direito não é um fim em si mesmo mas um instrumento na busca da Justiça; • atualmente, mais que o legislador, é o juiz quem encarna o espírito de justiça; • a submissão do juiz às leis não pode implicar inferioridade em relação ao legislador notadamente porque este deveria exercer seu poder para realizar a Justiça; • 8 quando o direito positivo excede os limites do Justo, a regra segundo a qual o juiz dever in “Poderes lnstrutórios do Juiz”, 2ª edição, RT, p.20 236 tornar a lei efetiva torna-se ilegítima. É verdade que o juiz não se confunde com o legislador; ambos são agentes políticos cujos atos editados no exercício de suas funções típicas são manifestações de vontade do próprio Estado. Mas, se por um lado o Legislativo edita normas gerais e abstratas, a sentença representa a norma concreta aplicável ao caso submetido ao crivo do Poder judiciário no exercício irrecusável de sua função quando deve zelar pela preservação da Lei Maior: “Cercado de respeito e autoridade, o juiz tem liberdade de pronunciar o Direito segundo as circunstâncias do caso. Nessa tarefa, seu papel é sem dúvida criador. Não chega ao extremo de proferir sentenças contra legem.... Mas há princípios legais que autorizam o emprego dos métodos mais nobres e inteligentes de hermenêutica - o teleológico e o sistemático - , de modo a afastar o literal, para o apelo à eqüidade e à justiça em concreto. Invoca-se, então, a regra basilar do art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 9 Desta forma, não se pode negar a relativa função criadora de Direito de que se reveste a atividade jurisdicional. Diz Athos Gusmão Carneiro10: “Em duas hipóteses, todavia, a Constituição Federal atribui ao Poder judiciário, mais especificamente ao STF e aos Tribunais de Justiça, o exercício, embora sob vestes jurisdicionais, de uma atividade legislativa, porque não vinculada à aplicação do direito a um caso concreto. Referimo-nos, em primeiro inconstitucionalidade.... Em lugar, segundo à ação lugar, direta a de Emenda Constitucional nº 3 de 17/03/93, criou a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal para cujo ajuizamento são legitimados os Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados e o ProcuradorGeral da República (art. 103, § 4°) e de competência do STF.” Ousando ampliar o pensamento do Mestre, entendemos que a atividade criadora ou legislativa do Judiciário é exercida também, no controle de constitucionalidade incidental ou pela via de exceção já que também neste caso, uma vez concluindo o Juízo pela existência do vício, a 9 in “O Judiciário e a Constituição”, artigo do professor Galeno de Lacerda (“O juiz e a Justiça no Brasil”), 1994. p. 129, Saraiva in “Jurisdição e Competência”, 7ª edição, Saraiva, pp. 16/17 10 237 norma inquinada será declarada inconstitucional e nula, retirando-se o caso concreto da órbita de sua eficácia devendo ser aplicada outra norma ou princípio de forma a fim de garantir-se ao litigante o exercício do direito subjetivo que o ordenamento constitucional lhe confere. Vemo-nos, então, diante das seguintes premissas extraídas de nosso ordenamento jurídico: • a Constituição é a lei fundamental que origina O Estado e que constitui o fundamento de validade de todas as demais normas à qual se submetem os Poderes Constituídos no exercício de suas atribuições; • toda norma constitucional é dotada de eficácia mínima que é a de impedir a edição de lei ou ato normativo que a afronte e que, nesse sentido, será inconstitucional e, portanto, nulo; • como forma de assegurar o respeito à Constituição e seus princípios instituiu-se o controle de constitucionalidade; • o controle de constitucionalidade é exercido por qualquer órgão jurisdicional pela via da exceção, caso em que os efeitos de sua decisão serão restritos às partes do processo e ao caso concreto que lhe é submetido; • a afronta aos dispositivos constitucionais tanto pode se dar sob a forma comissiva (edição de norma viciada tanto em seu aspecto formal quanto material) ou omissiva (quando o Poder competente deixa de editar a lei ou ato normativo necessários para a plena eficácia da norma constitucional); • a Constituição confere ao beneficiário do Regime Comum Previdenciário o direito subjetivo a reajustamento que assegure o valor real inicial de seu benefício, o que, segundo os Tribunais Superiores, significa manutenção do poder aquisitivo inicial, resguardando o valor da RMI especificamente dos efeitos da inflação; • a Jurisdição é garantia da efetividade das normas e do exercício dos direitos subjetivos; • ao Juiz não é dado escusar-se de decidir, devendo julgar nos limites da lide que lhe é exposta ainda que se defronte com lei ou ato normativo nulo e se veja obrigado a utilizar-se dos princípios gerais de direito, da analogia e dos costumes para decidir a questão subtraída da órbita de eficácia da norma viciada. Consideradas as premissas supra referidas, como conciliá-las no momento de analisar e julgar as causas trazidas à Justiça Federal que versem sobre reajustamento de benefícios previdenciários postulando a reposição de perdas ocorridas pelo descumprimento do princípio constitucional da manutenção do poder real? VI - UMA PROPOSTA Em primeiro lugar, cumpre verificar no caso concreto se houve lesão ao princípio constitucional da manutenção do valor real. 238 Neste caso - e mais especificamente considerando que os benefícios aos quais aplica o princípio retro são obrigações de trato sucessivo cujo regime de reajustamento pode ser alterado pelo legislador, sendo incabível pretender a submissão a um regime imutável - a primeira obrigação do beneficiário e providência necessária a ser tomada ao redigir a inicial é, não só trazer a prova da titularidade do benefício com a juntada do documento pertinente, como também identificar o período de reajuste que considera equivocado ou o índice cuja aplicação considera errônea por parte do Legislador. Isto não impede que o autor da ação simplesmente demonstre a perda do poder aquisitivo ao longo do tempo desde a concessão sem identificar de pronto o índice impugnado e a lei que o instituiu, mas a inicial de· verá ser apta a permitir ao Juiz (que conhece do Direito) identificar a(s) norma(s) impugnada(s), possibilitando a análise de sua constitucionalidade. Entretanto, neste último caso, a perda do poder aquisitivo deverá ser verificada entre cada novo reajustamento, pois cada novo regime instituído com base em uma nova lei deverá ter sua constitucionalidade analisada de per si, cotejando-se esse novo diploma com a Carga Magna. Explico-me. É claro que uma lei que estabeleça um reajustamento inferior à inflação apurada dentro da periodicidade do regime, além de inconstitucional, provoca perdas cujos reflexos vão se verificar nos reajustes seguintes. Entretanto, nem por isso uma lei futura que estabeleça um novo regime e índice de reajustamento baseado na variação inflacionária poderá ser impugnada de inconstitucional pelo só fato da existência daqueles reflexos. O juiz tem sua atuação limitada, por isso exige a lei adjetiva que a inicial contenha pedido certo e causa de pedir determinada. É também a única forma pela qual a parte pode obter algum sucesso em sua demanda. Assim, a juntada dos comprovantes de recebimento do benefício é indispensável para a verificação de perdas e, consequentemente, da procedência do pedido. Não é necessária desde logo a indicação de um percentual determinado de perdas nem mesmo a indicação de um índice previamente escolhido pelo autor para reger o reajustamento de seu benefício. Ao contrário, se não existe direito subjetivo a de· terminado índice inflacionário, mas sim e apenas à manutenção do poder aquisitivo, a escolha de um medidor específico pelo autor (como, por exemplo, o índice de maior apuração no período) pode acarretar a improcedência do pedido já que o Juiz deve julgar nos limites da lide e não pode desconsiderar a faculdade de o legislador optar pelo índice que considerar melhor para o reajustamento no novo regime. Uma vez proposta corretamente a ação, e considerado o teor do princípio constitucional em cotejo, temos que, face à natureza da causa, a realização de perícia contábil é indispensável e pode ser determinada pelo Juízo independentemente do pedido da parte11 não apenas com base no 11 “Poderá ainda determinar a audiência de ofício de qualquer das partes ou de testemunhas referidas, ou a realização de perícias ou de inspeções, embora não requeridas pelas partes.”, Galeno de Lacerda, op. cit. p.132 239 princípio do livre convencimento e da busca da verdade material (arts. 130 e 131 do CPC) mas também considerando a hipossuficiência, em regra, dos beneficiários da Previdência. Considerando o significado do princípio da manutenção do valor real conforme a interpretação dada pelos Tribunais Superiores, parece-nos indispensável nas perícias contábeis o cotejo do reajustamento concedido no período considerado (ou seja, tomado a partir do último reajustamento ou da data de início do benefício, caso se discuta o primeiro reajustamento) com a variação, dentro do mesmo período, de todos os índices oficiais de inflação. Não olvidamos que um dos princípios fundamentais do Estado Brasileiro é o da separação e independência dos poderes. Note-se que a leitura hodierna é outra: o princípio é o da separação harmônica dos poderes, garantida através de um sistema de freios e contrapesos pelo qual um poder controla o outro evitando abusos. Como pane desse sistema está o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. O Legislador pode, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo Constituinte, aplicar no reajustamento dos benefícios previdenciários qualquer índice inflacionário oficial: pode conferir o de maior variação ou o de menor variação; aquele apurado com base nos gastos de uma família de uma das principais cidades metropolitanas que perceba até três salários mínimos OU aquele baseado na variação do mercado atacadista. Não importa. Em que pese a distorção que a escolha possa aparentar, o Legislador teria optado por algum dos índices inflacionários oficiais, exercendo sua atribuição no campo mínimo de discricionariedade que o Constituinte lhe atribuiu. O que não pode fazer é conferir reajustamento abaixo de qualquer índice inflacionário. Concluindo-se pela inconstitucionalidade da norma, o que fazer? Aplicar o anterior regime de reajustamento já que em regra a nulidade da norma inconstitucional faz revigorar a eficácia da lei por ela anteriormente revogada? Esta não é necessariamente a opção a ser adotada. Considerando que cada reajustamento visa a repor perdas ocorridas em um determinado período anterior à sua edição, a lei que o determina sempre vai estar relacionada com um momento histórico e econômico pretérito. Um novo período se aproxima e cumpre verificar neste novo interregno a ocorrência de perdas e seu o montante. Uma lei dita inconstitucional e conseqüentemente nula não enseja automaticamente a aplicação do critério de reajustamento revogado dada a especificidade de sua edição. Do contrário, o prejuízo que se quer afastar do beneficiário pode ser mantido ou mesmo ampliado. Considerando que do leque de índices inflacionários existentes, o Legislador poderia ter optado por qualquer deles, desde o de maior variação ao de menor, parece-me ser este o mínimo assegurado ao beneficiário cuja aplicação pelo Juiz no caso concreto não implica invasão de competência. Nesse sentido, socorre-nos o princípio geral de direito traduzido pelo brocardo jurídico: “quem pode o mais, pode o menos”. 240 Evidentemente, não pode o Juiz ao julgar a questão determinar que o índice escolhido para ser aplicado ao caso concreto seja permanentemente aplicado ao benefício. Em primeiro lugar, porque a lei teve sua constitucionalidade questionada para verificar-se a reposição de perdas em período pretérito. Há uma delimitação temporal de análise da questão. Em segundo lugar, haveria invasão de competência se o Juiz, substituindo-se ao legislador, fixasse um regime de reajustamento imutável. Não podemos nos esquecer que o objeto da ação é uma relação jurídica continuativa ou de trato sucessivo e que o estabelecimento do regime a discipliná-la é de competência do Poder Legislativo, submisso porém ao princípio constitucional. A decisão judicial apenas integra a lacuna uma vez verificada a inconstitucionalidade da norma que, de forma insuficiente, não repôs as perdas passadas e, consequentemente, não preservou o valor real do benefício12 Conforme lição da Procuradora do INSS, Dra. Patrícia Gomes Teixeira, “a superveniência de lei nova “instituindo novo critério de reajuste” demarca a extensão do julgado nas ações revisionais de benefício”. Especialmente na hipótese em que, decorrido lapso de tempo que ultrapasse a periodicidade de reajustamento anteriormente fixada, não tenha sido editada norma a respeito e uma vez verificada perda em relação a todos os índices inflacionários estamos não mais diante de inconstitucionalidade comissiva mais sim omissiva, passível inclusive de proteção pela via do Mandado de Injunção. Esta via, porém, apresenta-se inútil face ao esvaziamento do remédio promovido pelo Eg. STF O Juiz não pode ser tímido no exercício de seu mister nem eximir-se de exercê-lo. Para suplantar eventuais barreiras criadas no mais das vezes por qualquer dos Poderes Constituídos, deve ele agir com as armas que o sistema jurídico lhe assegura com a finalidade última de garantir aos indivíduos o exercício dos direitos previstos na própria Lei Fundamental, armas essas que hoje são inúmeras. Estas, portanto, são as considerações que trago baseadas em raciocínio lógico e nos princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico que aqui formulo com O intuito único de buscar a efetividade da norma constitucional, especialmente em atenção aos já por demais espoliados beneficiários da Previdência. Em última análise, porém, trata-se da defesa de toda a Sociedade já que a todo cidadão interessa a preservação, aplicação e efetividade da Constituição. Os direitos assegurados na Lei Fundamental não podem estar jamais submetidos à mera vontade de qualquer Poder Constituído. 12 vide “Ação revisional de benefícios: aspectos da coisa julgada”, de Patrícia Gomes Teixeira, in Revista da Procuradoria Geral do INSS, vol. 5, p. 82/86 241 ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO TRABALHADOR AIDÉTICO: POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO Mauro Cesar Martins de Souza Advogado licenciado, Professor Assistente de Direito na UESP - Presidente Prudente/SP, Mestre em Direito pela UEL/PR, Doutorando em Direito do Trabalho pela PUC/SP, Juiz do TRT da 15ª Região, juiz Convocado do TST de 17/08/1999 a 09/12/1999, Autor do livro “Responsabilidade civil decorrente do acidente do trabalho” (Ed. Agá Juris), Professor Titular de Direito Administrativo da UFPE, juiz do TRF – 5ª Reg., Doutor em Direito AAIDS, abreviatura do inglês acquired immunological deficiency syndrome, síndrome de imunodeficiência adquirida (segundo os lexicólogos) é uma virose transmissível mediante relações sexuais, sangue introduzido por meio de transfusão ou acidentalmente, fornecimento de produtos hemoderivados, transplante de tecidos ou órgãos, reprodução humana assistida, uso de drogas endovenosas, ou de mãe para filho (durante a gravidez, parto ou amamentação), dentre outras formas menos comuns, e que, levando à séria deficiência do sistema imunológico, propicia o desenvolvimento de doenças, viroses e/ou graves infeções, oportunistas ou não, comprometendo sistema nervoso, pulmões, esôfago e diversos órgãos mais, e de neoplasias malignas (como sarcoma de Kaposi, linfomas), além de notável comprometimento do estado geral (febre, diarréia, importante perda de peso, etc.). O que em princípio seria apenas um tema relacionado às ciências médicas tem implicações no direito do trabalho (e outros ramos do direito em geral, que fogem do tema ora abordado). O empregado portador do vírus HIV (Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida· SIDA), isto é, soropositivo acometido da AIDS, pode ser dispensado sem justa causa ou a dispensa do mesmo é caracterizada como preconceito, tendo o trabalhador direito à reintegração? Trata-se de assunto que tem trazido divisão nas decisões dos Pretórios Trabalhistas. 242 Antes de adentrar-se na discussão dos contrários e dos favoráveis à reintegração do trabalhador aidético dispensado imotivadamente segundo o ordenamento jurídico vigente, é necessário registrar que o Colendo TST já decidiu, mantendo cláusula em dissídio coletivo que assegurava estabilidade provisória a trabalhador portador do vírus da AIDS, litteris: “Dissídio coletivo. Estabilidade. Cláusula asseguradora de estabilidade no emprego ao portador do vírus da SIDA (AIDS). A despedida por força de preconceito do paciente da SIDA deve ser evitada, para que mantenha suas condições de vida, trabalhando, até eventual afastamento pela previdência.” (TST, no RODC n° 89574/1993, ac. da SDC, rel. Min. Almir Pazzianotto Pinto, in DJU de 10/02/1995, p. 2023); “Dissídio coletivo...Jurídica a cláusula de estabilidade provisória no emprego ao empregado portador do vírus da AIDS até seu afastamento pelo lNSS salvo na hipótese de falta grave ou mútuo acordo entre empregado e empregador, com assistência do sindicato da categoria profissional.” (TST, no RODC n° 113850/1994, ac. da SDG, rel. Min. Almir Pazzianotto Pinto, in DJU de 18/08/1995, p. 25192). Analisada a questão no que diz respeito à negociação coletiva, passamos a abordá-la segundo o ordenamento jurídico em vigor. A corrente que entende ser possível a dispensa do trabalhador aidético sem justa causa funda-se na inexistência de legislação específica (CF, art. 50, II). Já se decidiu que “carece de ação reclamante que pretende sua reintegração no emprego alegando ser portador do vírus da AIDS, por impossibilidade jurídica do pedido” (TRT 2ª Reg., no RO n° 02950400757, ac. da 1ª T. na 02970090370, rel. Braz José Mollica, in DOE-SP de 20/03/1997), bem como que a “AIDS é uma doença que está causando grande impacto na humanidade, e os portadores desta enfermidade sofrem, sem dúvida, discriminação e dificuldade muitas vezes até para sobreviver. Preocupa-me o aspecto de que é cada vez maior o número de infectados por esta enfermidade no mundo todo. Porém, há outras enfermidades que também têm o mesmo impacto, não tanto quanto está observando-se hoje com o problema da AIDS - Este, sem dúvida, muito mais pelo tratamento que vem sendo dispensado ao tema pela mídia do mundo todo - Entendo que, a se conceder estabilidade ao portador do vírus HIV, teremos que reconhecer, por questão de pura justiça, idêntica estabilidade a todos os portadores de outras doenças infectocontagiosas que ainda hoje são consideradas infamantes, isto é , enfermidades cujos portadores dos vírus são segregados e discriminados pela humanidade. Dessas, a mais conhecida é a lepra (hanseníase). É difícil, do meu ponto de vista, sustentar a concessão desta estabilidade ao portador 243 do vírus HIV. Reconheço que se trata de situação muito delicada, que exige uma dose de humanismo muito grande para o reconhecimento desta estabilidade. Revista conhecida parcialmente, e desprovida” (TST, no RR n° 287010/1996, ac. da 5ª T., rel. Min. Nelson Antônio Daiha, in DJU de 24/09/1999, p. 294). Há julgados do TRT da 15ª Região que negaram reintegração pelo obreiro “não ter avisado a empresa acerca de ser portador do vírus HIV” (RO n° 20.345/1999-3, ac. da 5ª T. n° 8.063/200, rel. desig. Juíza Eliana Felippe Toledo, in DOE-SP de 13/03/2000), ou, ainda por não ter sido provada discriminação no ato da dispensa. Vejamos: “EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS DA AIDS (HIV) - DISPENSA IMOTIVADA - INEXISTÊNCIA DE DISCRIME POR PARTE DO EMPREGADOR - VALIDADE. A despedida por força de preconceito do paciente da AIDS deve ser evitada, para que mantenha suas condições de vida, trabalhando, até eventual afastamento pela Previdência. Entretanto, em que pesem os aspectos humanitários que envolvem a questão em exame, a prova dos autos não corrobora a tese de despedida por discriminação do empregado portador do vírus HIV, não havendo como fundamentar o pleito de reintegração apenas em virtude dessa contaminação. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente a ação” (RO n° 2.597/2000-3, ac. da 1ª T. n° 27.769/2000, rel. juiz Antônio Miguel Pereira, in DOE-SP de 31/07/2000); “REINTEGRAÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS HIV DESPEDIDA NÃO ARBITRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. É certo que os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (arts. 1°, JII, 3°, N, e 5°, caput), bem como a Lei n° 9.029/95, impedem que o empregado portador do vírus HIV ou aquele que já manifestou a doença - AIDS - seja despedido arbitrariamente, na esteira do que vem decidindo os Tribunais pátrios e defendendo a doutrina nacional. Porém, a prova da alegada arbitrariedade cometida pelo empregador cabe ao obreiro, nos moldes dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC, sendo improsperável o pleito de reintegração quando não atendidos citados dispositivos” (RO n° 4.896/2000-4, ac. da 2ª T. n° 40.751/2000, rel. juiz Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, in DOE-SP de 06/11/2000). Entretanto, a douta maioria dos julgados tem sido no sentido de considerar presumida a discriminação na dispensa imotivada do trabalhador aidético, desde que o empregador tenha ciência da contaminação. Com efeito, a Carta Magna em vigor tem como fundamentos, dentre outros, “a dignidade da 244 pessoa humana” e “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1°, incs. III e IV), além do que constitui objetivo fundamental “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3°, inc. IV), onde “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, sendo punida “qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (art. 5° caput e inc. XLI). Ademais, o “trabalho” humano é princípio geral da atividade econômica (CF, art. 170), bem como base da ordem social (CF, art. 193). Havendo prova de que o trabalhador é portador da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - SIDA (HIV reagente), ou seja, soropositivo acometido da AIDS e, que o empregador tinha prévio conhecimento de tal doença, o mesmo não pode ser dispensado imotivadamente, sob pena de caracterizar-se discriminação. Os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho, levam à presunção de que qualquer dispensa imotivada de trabalhador contaminado com o vírus HIV é discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais invocados alhures. Não se pode modificar ou restringir a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou ocupação, discriminando nas relações de emprego o portador da AIDS, eis que tal isonomia do trabalhador é assunto de interesse público, por tratar-se de direitos humanos e de exercício da cidadania. Os direitos reconhecidos à pessoa humana decorrentes de atributos que formam a essência de sua personalidade devem ser tutelados, independentemente do estado de saúde. Trabalhador portador do vírus da AIDS não perde seus direitos inerentes à personalidade, mantendo sua cidadania e liberdades públicas, sem distinções. A regra da igualdade formal condena a discriminação baseada nas condições de saúde do trabalhador, objetivando valorizar o ser humano, em respeito aos seus direitos fundamentais. Com efeito, “a discriminação que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo, como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é inconstitucional. Precedente do STF: Ag 110.846 (AgRg)-PR, Célio Borja, RTJ 119/465. Fatores que autorizariam a desigualização não ocorrentes no caso. R. E. conhecido e provido” (STF, no RE n° 161.243/DF, ac. da 2ª T, rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/1997). É vedada qualquer atitude que denote marginalização, desigualdade ou discriminação com o trabalhador portador do vírus da AIDS apto para o labor, pois este já sofre com os problemas relacionados à saúde em si e dos estorvos de ordem psicológica, e na maioria das vezes monetários, além de outros dissabores inerentes aos infectados com o HIV. 245 A vida, a saúde e o trabalho são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. A dignidade da pessoa humana é a fonte das fontes do direito. O trabalhador, desde que em condições de suportar as tarefas relacionadas a sua função, não pode sofrer discriminação, ainda que aidético. Neste caso, o obreiro faz jus à estabilidade no emprego enquanto apto para trabalhar, eis que vedada a despedida arbitrária (art. 7°, inc. I, da Constituição Federal). Salvo justo motivo, o emprego ficará assegurado enquanto o trabalhador estiver habilitado para tanto. Caso a evolução da doença impossibilite o labor no futuro, os encargos, por óbvio, serão da Previdência Social, através do benefício próprio devidamente solicitado ao órgão público competente, mesmo porque compete ao INSS constatar e declarar a inaptidão laboral do aidético. Inadmissível, entretanto, a dispensa arbitrária. Nesta linha de raciocínio, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995 (publicada no DO-U de 17/04/1995), em seu art. 10, estipula de forma cogente e peremptória que “fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do artigo 70 da Constituição Federal”. Ora, a Lei n° 9.025/1995 protege todos os empregados, sem distinção, de práticas discriminatórias limitativas do acesso à relação de emprego, ou a sua manutenção. Referido texto legal deve ser interpretado no contexto protetivo ao hipossuficiente, princípio que dá suporte e é a própria razão do Direito do Trabalho. Assim, embora omissa a legislação em específico aos aidéticos, tendo em vista os princípios invocados, aplica-se por extensão e analogia (CLT, arts. 8° e 852-1 § 1° c/c CPC, arts. 126 e 335 c/c LICC, art. 4°) o quanto disposto no art. 4°, inc. I, da invocada Lei na 9.029, de 13 de abril de 1995: “o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, faculta ao empregado ... a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais”. Neste sentido o voto que relatei no RO n° 4.205/1999-9, acórdão n° 29.060/2000 da 3ª T., com a seguinte ementa: “AIDS. PORTADORA DE HIV TEM DIREITO À ESTABILIDADE NO EMPREGO. DISPENSA IMOTIVADA PRESUMIDA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. Os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho, levam à presunção de que qualquer dispensa imotivada de trabalhadora contaminada com o vírus HIV é discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais insculpidos nos arts. art. 1°, incs. III e IV, 3° inc. IV, 5° caput e inc. XLI, 170, 193. A obreira faz jus à estabilidade no emprego enquanto apta para 246 trabalhar, eis que vedada a despedida arbitrária (art. 7°, inc. I, da Constituição Federal). Reintegração determinada enquanto apta para trabalhar. Aplicação dos arts. 1° e 4° inc. 1, da Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995 (cf CLT, art. 8° c/c CPC, art. 126 c/c LICC, art. 4°). Os riscos da atividade econômica são da empresa empregadora (CLT, art. 20), sendo irrelevante eventual queda na produção, pois a recessão é um mal que atinge todo o país” (in DOE-SP de 15/08/2000). Igualmente, invocáveis ainda os seguintes julgados do Pretório Campineiro (TRT-15ª Reg.): • RO n° 5.505/2000-0, ac. da 1ª T. n° 34.031/2000, rel. Juiz Dagoberto Nishina de Azevedo, in DOE-SP de 18/09/2000; • RO n° 35.697/1998-6, ac. da 1ª T. n° 34.078/1999, rel. Juiz Luiz Antônio Lazarim, in DOE-SP de 23/11/1999; • RO n° 9.183/1998-7, ac. da 2ª T. n° 25.264/1998, rel. Juiz Antônio Tadeu Gomieri, in DOE-SP de 27/07/1998; • RO n° 1.346/1999-8, ac. da 2ª T. n° 2.747/2000, rel. Juíza Maria da Conceição Silveira Ferreira da Rosa, in DOE-SP de 01/02/2000; • RO n° 14.453/1998-0, ac. da 4ª T. n° 14.574/2000, rel. Juiz Laurival Ribeiro da Silva Filho, in DOE-SP de 02/05/2000; • ROS n° 5.275/1999-3, ac. da 4ª T. n° 19.866/2000, rel. Juiz Laurival Ribeiro da Silva Filho, in DOE-SP de 12/06/2000. De forma idêntica, vem sendo este o entendimento dominante do Colendo TST, verbis: “REINTEGRAÇÃO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PORTADOR DE AIDS. Tratando-se de dispensa motivada pelo fato de ser o empregado portador da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA e sendo incontestável a atitude discriminatória perpetrada pela empresa, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, a despedida deve ser considerada nula, sendo devida a reintegração.” (TST, nos ERR n° 217791/1995, ac. da SBDI 1, rel. Min. Vantuil Abdala, in DJ-U de 02/06/2000, p. 168); “Reintegração. Empregado portador do vírus da AIDS. Não obstante inexista no ordenamento jurídico lei que garanta a permanência no emprego do portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, não se pode conceber que o empregador, munido do poder potestativo que lhe é conferido, possa despedir de forma arbitrária e discriminatória o empregado após tomar ciência de que este é portador do vírus HIV - Tal procedimento afronta o princípio fundamental da isonomia insculpido no caput do artigo quinto da Constituição Federal.” (TST, nos 247 ERR n° 20535911995, ac. da SBDI 1, rel. Min. Leonaldo Silva, in DJ-U de 14/05/1999, p. 43); “AIDS - REINTEGRAÇÃO - DESPEDIDA ARBITRÁRIA E DISCRIMINATÓRIA A aplicação da Lei n° 9. 029195 de maneira analógica não tem o condão de atritar com as normas constitucionais garantidoras dos direitos 'mínimos' dos trabalhadores, na medida em que, aqui, não se vislumbra simples despedida arbitrária, mas sim despedida arbitrária e discriminatória. Equivoca-se a embargante ao considerar que a decisão turmária lesiona preceito de ordem constitucional, uma vez que este órgão julgador tão-somente cuidou, e de forma bastante cautelosa, para que a Carta Magna deste país restasse devidamente observada e respeitada. Logo, tem-se que é a própria Constituição Federal que proíbe de maneira inequívoca, no caput do seu art. 5°, qualquer espécie de discriminação. Depreende-se, pois, daí, que a supracitada norma também, alcança as relações de trabalho.” (TST, no ED-RR n° 217. 791/1995-3, ac. da 2ª T., rel. Min. Valdir Righetto, in DJ-U de 22/05/1998); “REINTEGRAÇÃO - EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS DA AIDS CARACTERIZAÇÃO DE DESPEDIDA ARBITRÁRIA - Muito embora não haja preceito legal que garanta a estabilidade ao empregado portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, ao magistrado incumbe a tarefa de valer-se dos princípios gerais do direito, da analogia e dos costumes para solucionar os conflitos ou lides a ele submetidas. A simples e mera alegação de que o ordenamento jurídico nacional não assegura ao aidético o direito de permanecer no emprego não é suficiente a amparar uma atitude altamente discriminatória e arbitrária que, sem sombra de duvida, lesiona de maneira frontal o princípio da isonomia insculpido na Constituição da República Federativa do Brasil. Revista conhecida e provida. (proc: rr num: 0217791 ano: 95 acórdão num: 0003473 ano: 97 data: 14.05.1997 relator: ministro Valdir Righetto). Recurso de revista conhecido em parte e desprovido.” (TST, no RR n° 205359/1995, ac. N° 12269/1997 da 2ª T., rel. Min. José Luciano de Castilho Pereira, in DJ-U de 19/12/1997, p. 67927); “REINTEGRAÇÃO - EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS DA AIDS CARATERIZAÇÃO DE DESPEDIDA ARBITRÁRIA - Muito embora não haja preceito legal que garanta a estabilidade ao empregado portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, ao magistrado incumbe a tarefa de valer-se dos princípios gerais do direito, da analogia e dos costumes para solucionar os 248 conflitos ou lides a ele submetidas. A simples e mera alegação de que o ordenamento jurídico nacional não assegura ao aidético o direito de permanecer no emprego não é suficiente a amparar uma atitude altamente discriminatória e arbitrária que, sem sombra de duvida, lesiona de maneira frontal o princípio da isonomia insculpido na Constituição da República Federativa do Brasil. Revista conhecida e provida.” (TSr, no RR n° 217791/1995, ac. N° 3473/1997 da 2ª T, rel. Min. Valdir Righetto, in DJ-U de 06/06/1997, p. 25270). Mas a questão não pára por aí. Por oportuno, traz-se à baila a frase de Ruy Barbosa no sentido de que “Justiça que tarda, falha”, contrapondo-se ao ditado popular de que a Justiça “tarda, mas não falha”. É necessária a manifesta efetividade do processo do trabalho a fim de que a decisão judicial não se torne inócua. Trata-se de dever estatal outorgar a tutela jurisdicional o quanto antes, empenhando-se em compor o conflito com presteza, de forma justa, para que gere efeitos positivos e reais. O processo é simples instrumento para dar efetividade à prestação jmisdicional diante de um litígio, cabendo ao julgador assegurar, da melhor forma ou da forma possível, a concretização do direito material. No caso do trabalhador aidético, que é dispensado sem motivação, arbitrariamente, tem-se admitido a reintegração liminar em reclamatórias, inclusive com antecipação de tutela jurisdicional. Vejamos: “Inexistindo recurso específico no Processo do Trabalho, a decisão concessiva de tutela antecipada poderá ser questionada por mandado de segurança, cujos contornos se restringirão à análise dos pressupostos do art. 273 do CPC, ao possível dano irreparável ou a aberração decisória. O direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser harmonizados com o do próprio acesso ao Poder judiciário, cuja intervenção preventiva (ameaça de lesão) autoriza sejam tomadas decisões sem ouvir a parte adversa. A jurisdição tem compromisso com a efetividade das suas atuações, tendo o próprio legislador percebido que até o sagrado direito de defesa pode ser exercitado de forma abusiva ou protelatória. Descabe, outrossim, nesta ação especialíssima, aprofundada cognição ou exaurimento probatório da matéria de fundo, sob pena de usurpação da competência do juízo de primeiro grau. O mito da busca da coisa julgada material, ou seja, depois de esgotados todos os inúmeros recursos, possíveis e imaginados, parece prestigiar a certeza jurídica, quando, no entanto, as condições do mundo moderno, exigem, preponderantemente, mais Segurança e justiça nas relações 249 humanas. Entre o constrangimento de uma reintegração forçada liminar e sua possível reversão posterior, deve-se prestigiar a primeira, seja porque atende à finalidade de sobrevivência do trabalhador, de sua família e de sua dignidade, seja porque é moralmente mais justo trabalhar e ganhar do que só auferir a indenização compensatória, exclusivamente monetarista. Ação improcedente.” (TRT 15ª Reg., no MS na 356/1999, acórdão n° 113/2000-A da Seção Especializada, rel. Juiz José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, in DOE-SP de 11/02/2000, p. 5); “Mandado de segurança. Tutela antecipada. Reintegração. Estabilidade. Doença profissional. Tutela antecipativa de mérito concedida liminarmente, determinando a reintegração imediata de empregada, portadora da estabilidade decorrente de doença profissional (art. 118, da Lei n° 8213/91). Presentes os requisitos constantes do art. 273, do CPC, autorizadores da concessão liminar, ante a razoabilidade do direito subjetivo material, tendo em vista o disposto no art. 118, da Lei na 8213/91, aliada ao escopo de conjurar o perigo de dano irreparável advindo do retardamento da solução definitiva da reclamatória. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (TST, no ROMS n° 458240, ac. da SBDI 2, rel. Min. João Oreste Dalazen, in DJ-U de 07/04/2000, p. 35); “Reintegração. Antecipação da tutela. Deferimento liminar em autos de reclamação trabalhista. Demissão sem justa causa. Empregado portador de doença profissional. Estabilidade. A antecipação de tutela não se caracteriza como abuso de poder, ou ato ilegal,. porque prevista e permitida pelo artigo 273 do CPC. A decisão de reintegrar o trabalhador portador de doença profissional, com estabilidade amparada na Lei na 8213/91, não prejudica direito líquido e certo do empregador, haja vista que o objetivo da demanda, na ação trabalhista, é, exatamente, definir se a impetrante tinha, ou não, o direito de despedir. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.” (TST, no ROMS n° 414614, ac. da SBDI 2, rel. Min. Francisco Fausto, in DJ-U de 12/05/2000, p. 225); “Reintegração. Estabilidade no emprego. Previsão em acordo coletivo. Deferimento de liminar de reintegração em ação reclamatória. Sendo o reclamante portador do vírus HIV e tendo sido dispensado, em desrespeito à cláusula de acordo coletivo, diante de sua situação, tem-se que plenamente admissível a sua reintegração imediata, não caracterizando o periculum in mora, requisito indispensável para a concessão da segurança.” (TST, no ROMS n° 394582/1997, ac. da SBDI 2, rel. Min. Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo, in DJ-U de 250 19/03/1999, p. 127); “AIDS. Reintegração. ‘Mandado de segurança. Sendo o trabalhador portador de doença que pode leva-lo à morte, estando prestes a adquirir o direito à estabilidade no emprego, havendo sido demitido de forma obstativa e sendo absolutamente necessário o exercício de sua atividade profissional no combate ao mal que o aflige, o transcurso do tempo é imprescindível para que se evite restar prejudicado o seu direito. O 'periculum in mora' é o própria risco do perecimento da vida do trabalhador. De que adiantaria ao empregado sagrar-se vencedor numa ação trabalhista após a sua morte? O direito deve ser ágil e ser aplicado no momento certo, sob pena de tornar-se inócuo, mormente neste caso concreto, onde mais importante que os eventuais valores monetários em discussão é a própria vital necessidade de o empregado exercer suas funções enquanto apto para tal’.” (TST, no ROMS n° 197134/1995, ac. da SBDI 2, rel. Min. Cnea Moreira, in DJ-U de 28/02/1997, p. 4380); “Portador do vírus HIV (AIDS). Reintegração. Efeito devolutivo ao recurso ordinário. Relevância maior da saúde e da vida ante a particularidade do caso.” (TST, no ROMS n° 209272/1995, ac. da SBDI 2, rel. Min. Cnea Moreira, in DJ-V de 11/10/1996, p. 38731); “Mandado de segurança. Sendo o trabalhador portador de doença que pode leválo à morte, estando prestes a adquirir o direito à estabilidade no emprego, havendo sido demitido de forma obstativa e sendo absolutamente necessário o exercício de sua atividade profissional no combate ao mal que o aflige, o transcurso do tempo é imprescindível para que se evite restar prejudicado o seu direito. O ‘periculum in mora’ é o próprio risco do perecimento da vida do trabalhador. De que adiantaria ao empregado sagrar-se vencedor numa ação trabalhista após a sua morte? O direito deve ser ágil e ser aplicado no momento certo, sob pena de tornar-se inócuo, mormente neste caso concreto, onde mais importante que os eventuais valores monetários em discussão é a própria vital necessidade de o empregado exercer suas funções enquanto apto para tal.”(TST, no ROMS n° 110056/1994, ac. da SDI, rel. Min. Armando de Brito, in DJ-U de 31/03/1995, p. 7907). Assim, embora existam teses opostas quanto à dispensa sem justa causa do obreiro aidético ser discriminatória ou não, é certo que vem sobrepondo-se o entendimento de que o empregado em condições de trabalhar tem direito à reintegração quando tiver avisado a empresa de que é portador do vírus da AIDS, inclusive liminarmente e/ou antecipadamente, visando-se à efetividade do processo e, pois, da jurisdição. 251 CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATOS AFINS: COMPARAÇÕES E DISTINÇÕES* Maurício Godinho Delgado Doutor em Filosofia do Direito (UFMG) e Mestre em Ciência Política (UFMG), Juiz do Trabalho em Belo Horizonte, Professor da área de Ciência Política da UFMG (1978-1992) e da área de Direito do Trabalho (graduação e pós-graduação) da Faculdade de Direito da UFMG (1993-2000) e, hoje, da Faculdade de Direito da PUC-MINAS (desde fevereiro de 2000). 1. INTRODUÇÃO Há, no mundo sociojurídico, inúmeros contratos que têm como elemento central ou relevante de seu objeto a prestação de serviços a alguém. O enfoque nesse elemento central permite a classificação de tais pactos em um grupo próprio e distintivo, o grupo dos contratos de atividade. Contratos de Atividade Em distintos segmentos do direito, há exemplos marcantes de contratos de atividade. No Direito Civil, as figuras contratuais da prestação de serviços (locação de serviços), da empreitada e ainda do mandato; no Direito Agrário/Direito Civil, as variadas figuras de parceria agrícola e pecuária; no Direito Comercial, a figura da representação mercantil. No plano do Direito Civil e Comercial, em conjunto, pode-se ainda mencionar a figura contratual da sociedade. A área jurídica trabalhista apresentaria, ainda, contratos de atividade diferenciados entre si: o mais relevante é o contrato empregatício, embora se possa mencionar também o contrato de trabalho avulso. 252 Os contratos de atividade situam-se, pela semelhança do objeto, em uma fronteira próxima à seara do contrato empregatício. Embora seja evidente que com ele não se confundem, guardando pelo menos uma ou algumas distinções essenciais; essa diferenciação nem sempre é claramente visível no plano do cotidiano sócio-jurídico concreto. A recorrência prática de tais situações fronteiriças torna prudente o exame comparativo de algumas dessas figuras contratuais similares.1 II . CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Prestação (ou locação) de serviços é o contrato mediante o qual uma (ou mais) pessoa(s) compromete(m)-se a realizar ou mandar realizar uma ou mais tarefas para outrem, sob a imediata direção do próprio prestador e mediante uma retribuição material especificada. O contrato de prestação de serviços (locação de serviços, segundo o CCB - art. 1216 e seguintes) corresponde ao tipo legal previsto para a pactuação da grande maioria de relações de prestação autônoma de serviços que se conhece no mundo moderno. Com raízes na antiga locatio conductio operarum romana, a figura expandiu-se no mundo atual, regendo distintas modalidades de prestação autônoma de trabalho, quer efetuadas por pessoas naturais, quer prestações de serviços efetuadas por pessoas jurídicas. Anteriormente ao surgimento do Direito do Trabalho, consistia ainda no tipo legal em que a ordem jurídica buscava enquadrar a novel relação de emprego despontada na sociedade industrial recente. O prestador autônomo de serviços é, em geral, um profissional no tocante às tarefas para a qual foi contratado. esse sentido, tende a ter o mínimo de conhecimento técnico-profissional para cumprir suas tarefas de modo auto-suficiente. Essa circunstância não reduz, porém, esse tipo de contrato apenas a profissionais especializados, uma vez que é viável a prestação autônoma de serviços com trabalhadores não qualificados (por exemplo, limpeza de um lote ou lavagem de trouxas de roupas). O fundamental é que, nesses casos de trabalhadores não qualificados, o rudimentar conhecimento do obreiro seja bastante para que ele cumpra seus singelos serviços contratados sob sua própria condução e análise - portanto, de modo autônomo. A locação de serviços pode ser pactuada com ou sem pessoalidade no que tange à figura do prestador laboral. Caso a infungibilidade da pessoa natural do prestador seja característica àquele contrato específico firmado, ele posicionar-se·á mais proximamente à figura da relação de emprego. Pactuado sem pessoa lida de, o contrato de locação de serviços distanciar-se-á bastante do pacto empregatício por acrescentar um segundo elemento essencial de diferenciação em contra * o presente texto é extraído do capítulo VI do recente livro deste autor Contrato de Trabalho - caracterização, distinções, efeitos, LTR, São Paulo, 1999. 1 Sobre o tema, consultar o excelente estudo “Contratos de Trabalho. Contratos Afins. Contratos de Atividade” do Professor Manuel Cândido Rodrigues, in Barros, A.M. (Coord.), Curso de Direito do Trabalho - Estudos em Memória de Célio Goyatá, Vol. 1, 3ª ed., LTR, São Paulo, pp. 426-462, 253 ponto ao tipo legal do art. 3°, caput, CLT - a pessoalidade. Contudo, a diferença essencial a afastar as duas figuras é a dicotomia autonomia versus subordinação. A locação de serviços abrange, necessariamente, prestações laborais autônomas, ao passo que o contrato empregatício abrange, necessariamente, prestações laborais subordinadas. As duas figuras, como se sabe, manifestam-se no tocante ao modo de prestação dos serviços e não no tocante à pessoa do trabalhador. Autonomia laborativa consiste na preservação, pelo trabalhador, da direção cotidiana sobre sua prestação de serviços; subordinação laborativa, ao contrário, consiste na concentração, no tomador de serviços, da direção cotidiana sobre a prestação laboral efetuada pelo trabalhador. No plano concreto, nem sempre é muito clara a diferença entre autonomia e subordinação. É que dificilmente existe contrato de prestação de serviços em que o toma dor não estabeleça um mínimo de diretrizes e avaliações básicas à prestação efetuada, embora não dirija nem fiscalize o cotidiano dessa prestação. Esse mínimo de diretrizes e avaliações básicas, que se manifestam principalmente no instante da pactuação e da entrega do serviço (embora possa haver uma ou outra conferência tópica ao longo da prestação realizada) não descaracteriza a autonomia. Esta será incompatível, porém, com uma intensidade e repetição de ordens pelo tomador ao longo do cotidiano da prestação laboral. Havendo ordens cotidianas, pelo tomador, sobre o modo de concretização do trabalho pelo obreiro desaparece a noção de autonomia, emergindo, ao revés, a noção e realidade da subordinação. III – CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE EMPREITADA Empreitada é o contrato mediante o qual uma (ou mais) pessoa(s) compromete(m)-se a realizar ou mandar realizar uma obra cena especificada para outrem, sob a imediata direção do próprio prestador e mediante retribuição material predeterminada ou proporcional aos serviços concretizados. A empreitada tem raízes na antiga locatio conductio operis romana, abrangendo as modalidades de contratação de prestação laboral autônoma que enfatizem como objeto a obra resultante do trabalho pactuado. A noção e realidade da obra contratada (opus) e não exatamente da prestação laboral em si é o que distingue esse pacto de trabalho autônomo do contrato de locação de serviços. Contrato civil regulado pela lei comum (art. 1237 e seguintes, CCB), a empreitada pode abranger apenas o fornecimento, pelo empreteiro (pessoa física ou jurídica), do trabalho necessário à consecução da obra (empreitada de lavor) ou o conjunto do trabalho e respectivo material (arts. 1237 a 1240, CCB). 254 Na empreitada, a figura contratual constrói-se vinculada à obra resultante do trabalho (opus) e não segundo o mero desenvolvimento de uma atividade. Em virtude dessa característica, a retribuição material ao trabalhador empreiteiro se faz por um critério de concentração da unidade de obra (valor da obra produzida) e não por um critério de referência à unidade de tempo (tempo dispendido). As diferenças entre o contrato de empreitada e o contrato empregatício são marcantes. Em primeiro lugar, há a distinção quanto ao objeto do pacto: é que na empreitada enfatiza-se a obra concretizada pelo serviço, ao passo que, no contrato de emprego, emerge relativa indeterminação no que tange ao resultado mesmo do serviço contratado. Embora o empregado esteja vinculado a uma função (isto é, um conjunto orgânico e coordenado de tarefas), recebe distintas e intensas orientações ao longo da prestação laboral, que alteram o próprio resultado alcançado ao longo do tempo. Essa diferença quanto ao objeto não é, contudo, essencial - embora seja comum e recorrente no cotidiano do mercado de trabalho. É que pode existir contrato empregatício cujo objeto seja a prestação de serviços vinculada a uma obra específica e determinada, efetuada, porém, com os elementos fático-jurídicos da relação de emprego (trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade). Em segundo lugar, surge o elemento diferenciador da pessoalidade. É comum que a empreitada seja pactuada sem cláusula de infungibilidade do prestado r ao longo do contrato, substituindo-se esse prestador, reiterada mente, no transcorrer da concretização da obra. Caso não se evidencie a infungibilidade da pessoa física do empreiteiro, não se pode confundir a situação fático-jurídica com a relação de emprego, por falta do elemento pessoalidade. Contudo, a diferenciação pela pessoalidade não é absoluta, dado que é viável a contratação de empreitada com pessoa natural em que a cláusula e prática da pessoalidade sejam integrantes do contrato civil celebrado. Nesse quadro, a diferença de caráter absoluto reside no binômio autonomia versus subordinação. Sendo autônoma a prestação contratada, isto é, preservando o empreiteiro a direção sobre a concretização cotidiana da obra pactuada, não se está perante o tipo legal do art. 3°, caput, CLT, mas diante da figura civilista examinada. Realizando, contudo, o aparente empreiteiro a obra sob a incidência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, inclusive com seus serviços cotidianamente dirigidos pelo tomador, passa a se tipificar como empregado, descaracterizando-se o contrato civil tácita ou expressamente celebrado. Pequena Empreitada na CLT 255 A CLT faz referência a uma modalidade de empreitada. No art. 652, “a”, III, dispõe que “compete às juntas de Conciliação e julgamento (...) conciliar e julgar (...) os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice”. Dois problemas esse artigo suscita, um de natureza material, outro de natureza material/processual. O primeiro problema, de caráter essencialmente material, diz respeito à tipificação de tal empreiteiro (ou de tal empreitada). A CLT utiliza-se de expressão dúbia: fala em “empreiteiro operário” (ora, se o trabalhador for operário, isto é, empregado, não será, a princípio, empreiteiro) e acopla, ainda, à primeira expressão a disjuntiva “ou artífice”. O que pretendeu a norma jurídica em exame, afinal? Parece certo que a intenção da CLT (manifestada em linguagem tecnicamente imprópria, como tão recorrente a diversos textos celetistas) foi inquestionavelmente delimitar a figura da empreitada a ser trazida ao Juízo Trabalhista àqueles contratos concernentes a pequenas obras, cujo montante não seja economicamente significativo e cuja realização se faça com o simples concurso do trabalhador empreiteiro. A teor desta vertente interpretativa (dominante nos tribunais, a propósito), excluir-se-iam do tipo legal do art. 652, “a”, III, CLT, as grandes obras contratadas por empreitada e mesmo aquelas pequenas obras que se realizem com procedimentos empresariais e não mediante o simples labor pessoal do empreiteiro mesmo. Tratando-se, pois, de contrato de empreitada realizado com o concurso de diversos trabalhadores não se tipifica a figura objetivada pela CLT, que apenas quis franquear ao profissional simples os mecanismos mais singelos e econômicos de acesso ao Judiciário existentes no processo trabalhista. O segundo problema, que transita entre a fronteira material e a processual, concerne aos efeitos do próprio texto celetista: serão eles estritamente processuais (a CLT teria ditado regra de competência imprópria, portanto) ou serão repercussões processuais e materiais, estendendo ao contrato de pequena empreitada todos os direitos empregatícios existentes e compatíveis? A jurisprudência dominante tem se posicionado em direção à primeira vertente, enxergando no dispositivo efeitos meramente competenciais (a chamada competência imprópria). De fato, o artigo 652, em sua integralidade, fixa a competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, reportando-se em seu parágrafo único à ordem preferencial de algumas lides que menciona. Portanto, é norma estritamente processual, situada, a propósito, no Título VIII da Consolidação, que trata da estrutura, composição, funcionamento e competência da Justiça do Trabalho, na seção que estabelece a “jurisdição e competência das Juntas”. Neste quadro, torna-se difícil sustentar-se, portanto - ao menos se respeitado certo rigor técnico-jurídico - que o referido preceito processual tenha também incorporado em seu comando a determinação de extensão de direitos trabalhistas ao contrato civil que menciona (abarcando também, desse modo, norma de 256 natureza material). A interpretação largamente extensiva, neste caso, estaria alterando a própria natureza da norma jurídica interpretada, lançando-lhe um substantivo conteúdo de caráter diverso (direito material) daquele que lhe seria próprio (direito processual). É evidente que a interpretação dominante não elimina a possibilidade fática da relação civil pactuada encobrir real vínculo empregatício. Se a pequena empreitada for meramente simulatória, conferindo aparência civil à relação jurídica do tipo empregatício (inclusive com a subordinação do prestador de serviços e não sua autonomia perante o tomador), evidentemente que a matéria será trabalhista (por força da incidência dos artigos 2° e 3°, caput, da CLT e não do art. 652, “a”, III). IV – CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE MANDATO Mandato é o contrato mediante o qual uma pessoa “recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses” (art. 1288, CCB). A procuração é instrumento de exteriorização desse tipo de contrato. Há autores que chegaram a perceber no mandato a própria natureza jurídica do contrato empregatício (por exemplo, Troplong)2 Nessa linha, o empregado seria o mandatário e o empregador o mandante. Embora haja evidente exagero em tamanha assimilação de figuras, é também inquestionável que existem semelhanças tópicas entre as duas modalidades de contrato. De um lado, sabe-se que ambos são contratos de atividade; de outro lado, parece haver relativa subordinação do mandatário perante o mandante, já que aquele não pode extrapolar os poderes outorgados por este. Acresça·se a isso a circunstância da representação - inerente ao mandato - poder também verificar-se no contrato empregatício. Finalmente, aduza-se que a onerosidade, elemento atávico ao contrato de emprego, também pode comparecer ao contrato de mandato. Porém, muito mais significativas que as semelhanças são as diferenciações existentes entre o contrato de mandato e o de emprego. Em primeiro lugar, embora sejam ambos contratos de atividade, é sumamente distinta a natureza da atividade englobada pelos dois contratos: enquanto o mandatário realiza atos jurídicos, o empregado essencialmente volta-se à prática de atos materiais (apenas os altos empregados é que tendem também a realizar, como parte do contrato empregatício, atos jurídicos em nome do empregador). Em segundo lugar, a subordinação é elemento fático-jurídico essencial ao contrato de trabalho, ao passo que ela não é da essência do contrato de mandato. Na verdade, a relação mandante/mandatário é francamente dúbia, uma vez que.ao mesmo tempo em que o mandatário 2 A respeito, Amauri Mascaro Nascimento , Curso de Direito do Trabalho, Saraiva, São Paulo, 1989, pp. 271-272 257 está jungido às fronteiras dos poderes lançados pelo mandante, este também fica comprometido com o exercício de poderes concretamente realizado pelo mandatário. De todo modo, não parece próprio até mesmo falar-se em subordinação no mandato: o que ocorre, tecnicamente, é uma especificação prévia de poderes e não exatamente subordinação. Efetivamente, ao contrário do contrato empregatício, no mandato o mandante não pode exercer um contínuo e repetitivo número de ordens sobre o mandatário· ao lhe outorgar o mandato já estabelece os limites máximos e mínimos dos poderes transferidos, deixando ao mandatário a direção sobre o real exercício desses poderes. Em terceiro lugar, a representação é nota característica indissociável do mandato ao passo que é elemento meramente circunstancial do contrato empregatício. Nestes, ela tende a comparecer apenas nos contratos envolventes a altos empregados, sendo estranha à larga massa de contratos de emprego que caracteriza o mercado de trabalho. Em quarto lugar, a onerosidade é elemento fático-jurídico essencial ao contrato de trabalho, sem cuja presença esse tipo contratual sequer se forma no mundo sociojurídico. No mandato, ao contrário, a onerosidade surge como elemento circunstancial do pacto celebrado, não comparecendo em um largo universo de mandatos pactuados no contexto social. Além de todas essas decisivas diferenças, cabe ainda enfatizar-se que no mandato a relação jurídica é tríplice (mandante, mandatário e terceira pessoa), enquanto que no contrato de trabalho é essencialmente dúplice a relação jurídica formada. O mandato, por fim, é sempre revogável; a revocabilidade é-lhe inerente. Já o contrato empregatício tende à permanência (princípio da continuidade da relação de emprego), sendo que, às vezes, sequer pode ser extinto, validamente, pela só vontade do empregador (estabilidade e garantias de emprego). V – CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE PARCERIA RURAL Parceria rural é o contrato mediante o qual uma (ou mais) pessoa(s) compromete(m)-se a realizar ou mandar realizar uma ou mais tarefas agrícolas ou pecuárias, em área rural ou prédio rústico, para um tomador de serviços rural, sob a imediata direção do próprio prestador e mediante uma retribuição especificada. Pode a parceria rural ser agrícola ou pecuária (art. 1410 e seguintes, CCB). Na parceria agrícola, o trabalhador recebe do tomador rural um imóvel rural ou prédio rústico para ser cultivado pelo obreiro ou sob sua ordem, dividindo-se os resultados do cultivo entre as partes, na proporção por elas fixada. Trata-se, desse modo, de uma modalidade de contrato societário, em que uma das partes comparece necessariamente com o trabalho principal 258 da lavoura, enquanto a outra, com o imóvel em que será concretizado esse trabalho. O tipo contratual admite variações relativamente extensas, em que as partes repartem entre si os ônus da utilização de maquinário, de implementos agrícolas e outras necessidades ao cultivo pactuado. Filiando-se à modalidade de contratos de sociedade, a parceria agrícola não prevê remuneração periódica para o parceiro trabalhador, que recebe sua retribuição econômica calculada sobre o resultado final da colheita, sofrendo, portanto, inclusive os reveses eventualmente ocorridos no montante da safra. Na parceria rural, o trabalhador recebe do tomador rural um ou mais animais para, pessoalmente ou sob sua ordem, pastoreá-los, tratá-las e criá-los, dividindo-se os resultados do criatório entre as partes, na proporção por elas fixada. Trata-se, como visto, também de uma modalidade de contrato de sociedade, em que uma das partes comparece necessariamente com o trabalho principal da criação e pastoreio, enquanto a outra, com o lote de animais em que será desenvolvido esse trabalho. Este tipo contratual, à semelhança da parceria agrícola, também admite variações relativamente extensas, em que as partes repartem entre si os ônus da oferta do imóvel rústico ou prédio rural em que será concretizada a parceria, assim como da utilização de maquinário, de implementos agrícolas e outras despesas correlatas. A situação econômico-social dos parceiros - em geral muito próxima à dos empregados fez com que a Lei 5.889/73 determinasse a aplicação das normas justrabalhistas a tal categoria, no que fosse compatível (art. 17). A jurisprudência, contudo, não tem retirado conseqüências largas desse preceito da Lei de Trabalho Rural. De todo modo, é evidente que o trabalhador parceiro que celebre contratos como verdadeiro empresário rural, também ele próprio arregimentando força de trabalho, para cumprir suas obrigações de cultivo ou pastoreio nesse tipo de sociedade, não se enquadra no tipo legal objetivado pela norma extensiva do art. 17 da Lei de Trabalho Rural. Ao lado da possibilidade de aplicação extensiva das normas trabalhistas ao trabalhador parceiro, no que couber, a jurisprudência tem sido rigorosa na aferição do efetivo contrato civil/agrário de parceria. Desse modo, emergindo traços de um direcionamento acentuado do tomador sobre o efetivo cumprimento da parceria pelo obreiro, desfaz-se o envoltório agrário/civil formulado, enquadrando-se a relação jurídica como contrato empregatício rural típico (arts. 2° e 3°, caput, Lei 5889/73). As diferenciações principais que separam a parceria rural do contrato empregatício rural residem essencialmente na pessoalidade e na subordinação. Não é incomum uma parceria rural que seja cumprida sem pessoalidade no tocante à figura do prestador de serviços; não sendo infungível a pessoa do obreiro na pactuação e prática do contrato de parceria, não se pode considerar simulatório o pacto formado, não surgindo, desse modo, o contrato de emprego entre 259 as partes. A subordinação, porém, é o elemento definitivo e absoluto de diferenciação. Mantendo-se com o trabalhador parceiro a direção cotidiana dos serviços de parceria contratados, surge clara a autonomia na prestação firmada, inexistindo contrato de emprego entre as partes. Contudo, caso o tomador produza repetidas ordens no contexto da execução da parceria, concretizando uma situação fático-jurídica de subordinação do trabalhador, esvai-se a tipicidade da figura civilista/agrária, surgindo a relação de emprego entre os sujeitos envolvidos (observados, evidentemente, os demais elementos fático-jurídicos da relação empregatícia). VI – CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE SOCIEDADE Contrato de sociedade é o pacto mediante o qual duas ou mais pessoas “mutuamente se obrigam a combinar seus esforços ou recursos, para lograr fins comuns” (art. 1363, CCB). Esse tipo de pacto bilateral ou plurilateral dá origem a direitos e obrigações recíprocas entre os sócios, propiciando também o surgimento de um feixe de direitos e obrigações entre tais sócios e o ente societário surgido em face do negócio jurídico celebrado Há, evidentemente, pontos de aproximação entre o contrato empregatício e o contrato de sociedade. Tais pontos já foram, inclusive, acentuados por certas vozes doutrinárias (Chatelain, Villey, dentre outros) com o fito de apreender no contrato de sociedade a suposta natureza jurídica da relação de emprego e seu contrato propiciador.3 O argumento construía-se no sentido de que, em ambos os pactos examinados, despontaria uma comunhão de esforços das partes contratuais em prol de um objetivo comum - o desenvolvimento das relações laborais e da empresa, em benefício de todos. A noção e realidade da colaboração (presente em qualquer dos dois tipos contratuais enfocados) assumiria o primeiro plano do cotejo comparativo entre as duas figuras sócio-jurídicas, justificando a assimilação do instituto empregatício ao modelo geral oriundo do Direito Comum. Embora se possa compreender a relevância do aspecto colaborativo enfatizado por tal vertente doutrinária - aspecto que tende a se acentuar com a maior democratização das relações de trabalho -, é tecnicamente insustentável a confusão entre as duas figuras de contrato. De fato, as distinções entre o contrato de sociedade e o contrato empregatício são substantivas. Em primeiro lugar, os sujeitos de um e outro contrato são distintos, com posição jurídica distinta. A contraposição de interesses jurídicos (veja-se a dualidade salário versus trabalho; ou a dualidade interrupção do contrato versus salário) é a marca central das obrigações 3 A respeito, consultar a obra deste autor, Introdução ao Direito do Trabalho, 2ª ed., São Paulo: LTR, 1999, em seu capítulo VIII (“Relação de Trabalho e Relação de Emprego”). 260 decorrentes do contrato de trabalho, ao passo que a confluência de interesses jurídicos em função da idéia e realidade da sociedade é a marca central das obrigações decorrentes do contrato societário. Em segundo lugar, há marcante diferença quanto ao objeto contratual. O objeto principal do contrato empregatício é a prestação de serviços por uma das partes subordinada mente à parte tomadora, em troca de contraprestação econômica. Já na sociedade o objeto principal do contrato é a formação de um terceiro ente e a obtenção dos efeitos oriundos da existência e atuação deste (inclusive lucro, se for o caso), relacionando-se os sócios em posição de igualdade entre si, conforme sua participação no capital social, inexistindo a noção e realidade de subordinação entre eles. Em terceiro lugar, na sociedade, prepondera - e é essencial - o elemento especial da affectio societatis, que faz convergir os interesses dos sócios para o mesmo fim. No contrato de trabalho; embora haja a noção e realidade de uma confiança mínima entre as partes contratuais, inexiste o elemento subjetivo da affectio societatis no relacionamento entre as partes, podendo prevalecer, inclusive, sem prejuízo do tipo contratual empregatício, um frontal choque de interesses entre os sujeitos contratuais. Em quarto lugar, os sócios participam, em conjunto, da formação da vontade social; essa confluência vontades é parte integrante da idéia, estrutura e dinâmica próprias à figura societária. o contrato de trabalho, ao revés, o poder de direção concentrado no empregador e a subordinação jurídica a que se sujeita o empregado levam à formação unilateral da vontade no contexto empregatício. Evidentemente que a democratização das relações de trabalho poderá atenuar, cada vez mais, essa dissincronia de vontades no âmbito da relação de emprego; mas tal atenuação não será apta a romper os limites básicos de poder firmados pela própria existência da propriedade desigual entre os sujeitos contratuais. Em quinto lugar, os riscos do empreendimento, na figura societária, necessariamente recaem sobre os sócios, embora a legislação admita uma gradação variável em sua responsabilidade efetiva. No contrato de trabalho, ao revés, os riscos, como regra, não podem ser imputados ao empregado, admitindo a ordem jus trabalhista apenas algumas poucas hipóteses de atenuação de sua regra geral. A tudo isso, pode acrescentar-se, finalmente, nova distinção, vinculada à retribuição material dos sujeitos contratuais. Na sociedade, a retribuição dos sócios é incerta, aleatória, podendo jamais se concretizar. É o que se verificaria em sociedades sem fins econômicos, por exemplo, ou em sociedades em constante situação de prejuízo. Já na relação empregatícia, é impensável a ocorrência desse tipo de repercussão jurídica. Seja pelo fato de ser a onerosidade elemento fático-jurídico constitutivo da relação de emprego, 261 seja pelo caráter forfetário4 do salário (que mantém a obrigação empresarial de pagamento da parcela mesmo em situação de insolvência da empresa), não há como se pensar, juridicamente, em contrato empregatício sem um mínimo de retribuição material ao sujeito empregado. Registre·se que mesmo com respeito ao empregador será muito remota a hipótese de existência de um contrato de trabalho sem um mínimo de efetiva prestação laboral em favor da empresa (embora, neste caso, tecnicamente isto seja viável: art. 4°, CLI). VII - CONTRATO EMPREGATÍCIO E CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Contrato de representação mercantil é o pacto pelo qual uma pessoa física ou jurídica obriga-se a desempenhar, em caráter oneroso, não eventual e autônomo, em nome de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para os transmitir aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.5 1 – Representação Comercial: Dinâmica Jurídica A) Caracterização O representante comercial não é tido como simples mandatário, uma vez que sua função não se restringe à prática de atos jurídicos conclusivos que comprometam o representado. Na verdade, ele próprio provoca a ocorrência dos atos jurídicos, dos quais pode em seguida participar. Nesse quadro, constitui parte nuclear de suas funções também tarefas envolventes a atos materiais concretos, como a divulgação, o convencimento em favor do negócio e outras condutas próprias à atividade mercantil. Por tais razões é que a doutrina o tem prevalentemente qualificado como um colaborador jurídico (ao invés de um mero mandatário). Deve ser esclarecido, ainda, que o representante comercial não presta serviços mediante contrato de locação de serviços, fazendo-o através de um contrato típico específico, regulado pela Lei 4886/65 (com alterações da Lei 8420/92). De todo modo, as duas figuras tipificadas não poderiam ser efetivamente confundidas, dado que o objetivo do contrato de representação mercantil - ao contrário do pacto de prestação de serviços - é o resultado útil do trabalho e não o serviço como um valor em si. 4 Neologismo oriundo da expressão francesa à forfait, presente, por exemplo, na obra de Orlando Gomes e Elson Gottsehalk, Curso de Direito do Trabalho, Rio de Janeiro: Forense, 1972, pp. 212-214. A respeito ver também José Augusto Rodrigues Pinto, Curso de Direito Individual do Trabalho, São Paulo: LTR, 1995, pp. 278-279. 5 Nesta linha, o art. 1° da Lei 4886/65, a que se reporta a definição exposta. Ressalte-se que a Lei 4886/65 sofreu nova redação, em diversos de seus dispositivos, com acréscimo inclusive de novos artigos, pela Lei 8420, de 08.05.92. 262 B) Remuneração A retribuição material do representante mercantil é estipulada à base de comissões. Essa modalidade de retribuição é a que melhor corresponde ao objetivo contratual enfocado no trabalho útil e não no serviço como valor em si. As comissões calculam-se, em geral, percentualmente ao valor dos negócios agenciados. À falta de ajuste expresso a seu respeito, as comissões serão fixadas conforme usos e costumes do lugar onde se cumprir o contrato. É oportuno repisar-se que, segundo o modelo do contrato comercial aqui analisado, as comissões não constituem retribuição pelo trabalho prestado, mas contraprestação resultante da utilidade decorrente da mediação feita. Elas somente serão devidas, em conseqüência, com a conclusão do negócio ou à proporção de sua efetuação pelo interessado. Devem, porém, ser quitadas com periodicidade máxima mensal, salvo ajuste ao contrário (art.33, § 2°, Lei 4.886/65, com redação da Lei 8420/92). C) Rescisão Contratual O Direito Comercial tipifica um rol de motivos justos para o representado rescindir O contrato: a) desídia do representante; b) prática de atos que importem descrédito comercial do representado; c) descumprimento de obrigação; d) condenação definitiva por crime contra o patrimônio; e) força-maior (art. 35, Lei 4.886/65). Não serão devidos, em todos esses casos, indenização e aviso-prévio (parágrafo único do art. 40, Lei 4886/65). Da mesma maneira, tipifica o Direito Comercial um rol de motivos justos para o representante comercial rescindir o respectivo contrato: a) redução da esfera de atividade do representante; b) quebra, direta ou indireta, da exclusividade prevista no contrato; c) fixação abusiva de preços na zona do representante, com o fito de lhe impossibilitar o regular exercício de seu mister; d) não pagamento de sua contraprestação na época devida; e) força-maior (art. 36, Lei do Representante Comercial Autônomo). Nesses casos, exceto a força-maior (alínea “j” do art. 27, Lei 4886), o representado pagará ao representante uma indenização e um aviso-prévio (art. 34 e parágrafo único do art. 40, Lei 4886/65). A verba indenizatória está fixada em montante não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, “j” e parágrafo único do art. 40, Lei 4886, com alterações da Lei 8420/92). Já a figura do aviso prévio equivalerá a 30 dias ou 1/3 das comissões dos últimos 3 meses - se o contrato for superior a 6 meses (art. 34, diploma citado). 2 - Representação Mercantil versus Contrato Empregatício: Contrapontos 263 O contrato regido pela Lei 4886/65 (com redação dada pela Lei 8420/92) refere-se a uma relação jurídica não empregatícia, caracterizada pela autonomia do representante comercial perante o representado. Portanto, a primeira diferença que afasta tal tipo legal mercantil do tipo legal dos artigos 2° e 3° caput, e 442, CLT, é o elemento autonomia, em contraponto ao elemento subordinação inerente ao contrato de trabalho. A relação mercantil de representação é necessariamente autônoma, ao passo em que é necessariamente subordinada a relação trabalhista de emprego. Ao lado da autonomia (importando, pois, na ausência de subordinação), o presente contrato comercial tende também a se caracterizar pela impessoalidade da figura do representante, que pode agenciar os negócios através de prepostos por ele credenciados. Embora não seja um elemento atávico e imprescindível à figura da representação mercantil, é comum, na prática, a fungibilidade da figura pessoal do representante no cotidiano ela representação comercial. É que o credenciamento de prepostos potencia, significativamente, a capacidade laborativa e de produção do representante, tornando-se quase que um imperativo de lógica e sensatez nesse tipo de atividade. De todo modo, não obstante essas duas importantes diferenciações, são também muito recorrentes, nessa área, casos de relações sociojurídicas turvas, imprecisas, cujos elementos fático-jurídicos constitutivos não transparecem com clareza em sua estrutura e dinâmica operacional. Nesses casos, a relação de trabalho em sentido lato de representação mercantil aproxima-se da relação de emprego, podendo com ela confundir-se. Desfaz·se, em conseqüência, o envoltório mercantil que encobre a relação socioeconômica concreta, emergindo o caráter empregatício do pacto efetivamente formado. o operador jurídico, porém, em tais situações fronteiriças deve examinar, topicamente, os elementos que compõem a relação sociojurídica efetiva, para apreender se está diante de uma relação mercantil ou meramente empregatícia. Trata-se, na verdade, de um exame da matéria fática, que deve ser verificada a partir das provas trazidas a juízo e das presunções incidentes sobre o tema. Duas grandes pesquisas sobrelevam-se nesse contexto: a pesquisa sobre a existência (ou não) da pessoalidade e a pesquisa sobre a existência (ou não) da subordinação. Tipifica a pessoalidade a circunstância de a prestação do trabalho concretizar-se através de atos e condutas estritamente individuais do trabalhador mesmo. O prestador laboral não pode, em síntese, cumprir o contrato mediante interposta pessoa, devendo fazê-lo pessoalmente. No plano da subjetividade do prestador de serviços, prevalece, portanto, a regra da infungibilidade. A fungibilidade do prestador laboral - afastando, inexoravelmente, a possibilidade de configuração da relação de emprego - desponta em situações nas quais o trabalhador contrata 264 outros obreiros (ditos prepostos, na linguagem mercantil) para cumprimento concomitante da representação contratada. Nesse caso, o representante organiza-se como um pequeno empresário, cumprindo frações mais ou menos significativas do pacto efetivado através de agentes credenciados seus. Inexistindo, porém, essa prática de delegação de funções entre o representante e outros trabalhadores (por realizar o representante mercantil, pessoalmente, todas as funções decorrentes do contrato), não há como se desconhecer a presença da pessoalidade na relação socioeconômica formada. A subordinação, por sua vez, é elemento de mais difícil aferição no plano concreto da relação entre as partes. Ela se tipifica pela intensidade, repetição e continuidade de ordens do tomador de serviços com respeito ao obreiro, em direção à forma de prestação dos serviços contratados. Se houver continuidade, repetição e intensidade de ordens do tomador de serviços com relação à maneira pela qual o trabalhador deve desempenhar suas funções está-se diante da figura trabalhista do vendedor empregado (art. 2 e 3, caput, CLT; Lei 3207/57). Inexistindo essa contínua, repetida e intensa ação do tomador sobre o obreiro fica-se diante da figura comercial do representante mercantil. Há certos traços concretos que tendem a caracterizar a subordinação, isto é, a concentração no tomador da direção central e cotidiana da prestação de serviços efetivada pelo obreiro. Em situações fronteiriças, quanto mais global for a reunião desses traços mais inequívoca será a presença de uma relação de subordinação entre as partes. Despontando apenas um ou outro de tais traços, deverá o operador jurídico aferir, no conjunto dos demais elementos do vínculo sociojurídico existente, a tendência preponderante conferida à relação pactuada (seja a tendência pela subordinação, seja a tendência pela autonomia). São estes os traços usualmente identificados, cuja convergência tende a configurar o nexo subordinante entre tomador e prestador laborativo: reporte cotidiano do trabalhador ao tomador de serviços, descrevendo o roteiro e tarefas desempenhadas; controle cotidiano, pelo tomador, das atividades desenvolvidas pelo obreiro; exigência estrita de cumprimento de horário de trabalho; existência de sanções disciplinares. Ressalte-se, contudo, que há outros traços que, mesmo despontando no plano concreto, não têm a aptidão de traduzir, necessariamente, a existência de subordinação. É que são aspectos comuns quer ao contrato de representação mercantil (Lei 4886/65), quer ao contrato de vendedor empregado (CLT e Lei 3207/57). São estes os traços fronteiriços usualmente identificados: remuneração parcialmente fixa; cláusula de não concorrência; presença de diretivas e orientações gerais do representado ao representante ou planos tópicos de atividade com respeito a certo produto. 265 Finalmente, é oportuno ponderar-se sobre uma dualidade curiosa: é que não obstante a exigência de horário conduzir à conclusão de existência de relação de emprego entre as partes, isso não significa que a ausência de horário prefixado e controlado elimine a possibilidade fática de ocorrência de relação de emprego. É que, afinal, a lei trabalhista prevê, expressamente, a figura do empregado vendedor externo, não submetido a qualquer controle de jornada laborativa (art. 61, I, CLT). Caso desconstituído o envoltório mercantil da relação socioeconômica formada entre as partes, tipificando-se a relação de emprego, afasta-se, em conseqüência, a incidência das normas da legislação mercantil específica (Lei 4886/65 e 8420/92), aplicando-se aos contratantes as normas juslaborais próprias aos empregados vendedores viajantes ou pracistas (Lei 3207/57 e arts. 62, I, e 466, CLT) e demais regras gerais justrabalhistas. 3 - Empregado Vendedor - Regras Próprias O empregado vendedor tem sua situação jurídica regulada por lei trabalhista especial (nº 3207, de 1957). Além desse diploma, recebe incidência de outros preceitos celetistas, reguladores da modalidade preponderante de sua remuneração, o comissionamento (arts. 457, 478 §4°, 142 §3° e 466 da CLT). Caso exerça labor externo não submetido a controle de horário, sofre efeitos ainda do disposto no art. 62 da CLT. Ao empregado vendedor não se aplica, como já visto, a lei comercial nº 4886/65. Os problemas principais regulados por essas normas jurídicas trabalhistas especiais dizem respeito à remuneração por comissões; à data regular para pagamento da comissão devida; à presunção de data de ultimação da transação; à distribuição do risco relativo ao negócio referenciado pela comissão; ao trabalho de inspeção e fiscalização pelo vendedor; à exclusividade da zona de labor; à viabilidade (ou não) do estabelecimento da cláusula star del credere no contrato de trabalho respectivo.6 A) Comissões - Estrutura e Dinâmica Jurídicas A modalidade de pagamento salarial via comissões é usualmente utilizada no cotidiano dos profissionais vendedores, sejam os que laboram no próprio estabelecimento (como padronizado no comércio urbano), sejam os que laboram externamente à planta empresarial (caso dos vendedores viajantes, por exemplo). O sistema comissionado pode, licitamente, corresponder ao mecanismo exclusivo de remuneração contratual (“comissionamento puro”) ou associar-se a uma parcela salarial fixa 6 A respeito da presente figura de empregado consultar Marly A. Cardone, Viajantes e Pracistas no Direito do Trabalho, 4ª ed., São Paulo: LTR, 1998. 266 (“comissionamento misto”). a) Conceito e Natureza As comissões consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de uma produção alcançada pelo obreiro no contexto do contrato, calculando-se variavelmente em contra partida a essa produção. Têm elas evidente natureza jurídica de salário, já que retribuem o empregado pela existência do contrato ou, pelo menos, pelo resultado alcançado na concretização de seu trabalho. A doutrina, contudo, diverge no tocante à modalidade de parcela salarial que elas configuram. Duas são as principais posições existentes a respeito. A primeira classifica as comissões como tipo salarial por unidade de obra. A segunda posição entende que as comissões consubstanciam modalidade de percentagens. A primeira vertente (salário por unidade de obra) é a que melhor se harmoniza ao real sentido e dinâmica do instituto. De fato, não obstante a comissão em geral seja calculada à base percentual sobre o valor do negócio levado à frente pelo obreiro em nome da empresa, nada obsta que ela seja calculada à base de uma tabela diferenciada de valores fixos e não percentuais. Contudo, o seu caráter de verba aferida segundo o montante produzido pelo trabalhador (salário produção, portanto) permanece como uma constante em sua estruturação e funcionamento concretos. b) Dinâmica Comissional O empregado comissionista puro não sofre segregação no tocante a outras verbas salariais (repouso semanal remunerado e horas extras, por exemplo): apenas possui fórmula de cálculo dessas verbas compatível com a especificidade da dinâmica da figura da comissão. Assim, no caso do repouso semanal (Enunciado 27, TST), o cálculo faz-se na forma da Lei 605/49: o montante do reflexo corresponderá ao quociente da divisão por seis da importância total das comissões percebidas na semana (art. 7°, alíneas “c” e “d”, Lei 605/49). No caso das horas extras, o cálculo faz-se pela aplicação do respectivo adicional de sobrejornada sobre o valor das comissões referentes a essas horas (Enunciados 56 e 340, TST). Sendo a comissão salário, sujeita-se à regra da irredutibilidade, “salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo” (art. 7°, VI, CF/88). Evidentemente, que a irredutibilidade aqui se adequa ao caráter variável da parcela salarial. Isso significa que o empregador não poderá diminuir o parâmetro de cálculo das comissões ou, se alterar esse parâmetro, terá que garantir que a média apurada final não traduza efetiva redução dos ganhos salariais obreiros. Sujeitam-se também as comissões à regra da integração ao conjunto salarial obreiro. Desse 267 modo, elas produzirão reflexos sobre quaisquer parcelas que se computem com suporte no parâmetro salarial. Assim, irão repercutir, consideradas em sua média, em verbas de FGTs, férias com 1/3, 13° salário, repouso semanal remunerado e até mesmo recolhimentos previdenciários. É a comissão, como visto, modalidade de salário variável. Por essa razão ela se sujeita à regra protetiva fixada tanto pelo art. 78, CLT, como pelo art. 7°, VII, CF/88 (a par de art. 1°, Lei 8716/93): garantia de salário nunca inferior ao mínimo aplicável para qualquer empregado comissionista. B) Pagamento da Comissão Como regra geral, a quitação da comissão ao vendedor deve ser efetivada mensalmente (caput do art. 4° da Lei 3207). Contudo, autoriza a Lei 3207/57 que, mediante acordo meramente bilateral, proceda-se ao pagamento até três meses após a aceitação do negócio (parágrafo único do art 4°). Como se vê, surge aqui uma destacada exceção à regra celetista de pagamento salarial no lapso temporal máximo de um mês (art. 459, caput, CLT). Nas vendas a prazo, o pagamento das comissões pode ser efetuado proporcionalmente às ordens de recebimento das prestações devidas pelo adquirente (art. 5°) - observados os lapsos temporais básicos do mês ou trimestre, conforme estipulado pelo art. 4° da Lei dos Vendedores Comissionistas. Ressalte-se que, mesmo no caso de cessação, por qualquer fundamento, do contrato empregatício ou de não consumação do negócio por ato ou omissão do empregador, preserva-se o direito obreiro às comissões relativas às vendas já ultimadas, por se tratar de trabalho já concretizado (art. 6°, Lei 3207). A partir dessa regra, pode-se concluir que o negócio efetivamente agenciado pelo vendedor e não aceito no prazo - mas posteriormente realizado - tende a gerar o direito à comi são ao vendedor que pactuou a venda. C) Ultimação do Negócio - Data Presumida A ultimação do negócio não se confunde com sua efetiva realização - muito menos com seu pagamento. Por ultimação, considera-se a aceitação do negócio pelo comprador, nos termos em que ele lhe foi apresentado. Considera-se, desse modo, ultimada a transação, para os fins legais, quando aceita pelo comprador nos termos em que lhe foi proposta. A princípio, a comissão é devida em função da ultimação do negócio e não em vista de seu efetivo cumprimento concreto. Por essa razão, é que é relevante determinar-se a data de ultimação do negócio agenciado pelo vendedor comissionista. A Lei 3207/57 tem como ultimada (e não exatamente liquidada, isto é, paga) a transação nos seguintes prazos: a) após 10 dias da apresentação da proposta ao comprador, caso esta 268 proposta não seja recusada, por escrito, no referido prazo, isto se a transação tiver ocorrido dentro do Estado-membro (art. 3°, Lei 3207/57); b) após 90 dias da apresentação da proposta ao comprador - prazo prorrogável por tempo indeterminado, mediante comunicação escrita ao empregado -, caso esta proposta não seja recusada, por escrito, no referido prazo, isto se a transação ocorrer com comerciante ou empresa estabelecida fora do Estado-membro ou no exterior (art. 3°, Lei 3207). D) Risco Concernente às Vendas O princípio justrabalhista da alteridade coloca, como se sabe, os riscos concernentes aos negócios efetuados em nome do empregador sob ônus deste (art. 2°, caput, CLT). A Lei 3207 atenua, porém, essa regra geral. É que o art. 7° do diploma estatui que “verificada a insolvência do comprador, cabe ao empregador o direito de estornar a comissão que houver pago”. Esse preceito, que reduz vantagem obreira clássica, deve ser, entretanto, interpretado restritamente: desse modo, somente a insolvência do adquirente - e não seu mero inadimplemento - é que autoriza o estorno mencionado pela lei especial. E) Inspeção e Fiscalização pelo Vendedor A atividade profissional definitória do vendedor empregado é a intermediação com o objetivo da mercancia - para tanto ele é, a princípio, contratado e remunerado. Isso significa que a atividade de cobrança, por exemplo, não é função tida como inerente a essa espécie de contrato empregatício. Por essa razão, estipula a Lei do Vendedor Comissionista um adicional específico pelo exercício de função suplementar à de simples intermediação para mercancia. Determina o art. 8° do referido diploma que quando “...for prestado serviço de inspeção e fiscalização pelo empregado vendedor; ficará a empresa vendedora obrigada ao pagamento adicional de 1/10 (um décimo) da remuneração atribuída ao mesmo”. F) Exclusividade de Zona de Trabalho A exclusividade de área de atuação profissional não é imperativa no conjunto das regras sobre a categoria do vendedor empregado, mas apenas uma vantagem adicional que pode ser prevista pelo contrato empregatício. Entretanto, se estipulada a vantagem, a esse vendedor empregado serão devidas todas as comissões sobre vendas efetuadas na correspondente zona, sejam as ultimadas diretamente por ele, sejam as ultimadas diretamente pela empresa ou outro seu representante ou preposto (art. 2°, Lei 3207/57). 269 Autoriza a lei que o empregador amplie ou reduza a zona de trabalho do vendedor. Nesses casos, porém, deve respeitar a irredutibilidade da correspondente remuneração obreira (art. 2°, § 1°). Autoriza ainda a lei a transferência unilateral de zona de trabalho do vendedor, mesmo “com redução de vantagens”: nesse caso, contudo, deverá ser assegurado ao vendedor, “como mínimo de remuneração, um salário correspondente à média dos 12 (doze) últimos meses, anteriores à transferência” (§2° do art. 2° da Lei 3207/57). G) Cláusula Star del Credere Essa cláusula teria o condão de tornar o trabalhador solidariamente responsável pela solvabilidade e pontualidade daqueles com quem pactuar por conta do empregador. Noutras palavras, autoriza a cláusula examinada a divisão dos risco concernentes aos negócios ultimados. Através da cláusula star del credere, pagaria o empregador uma sobre-comissão ao vendedor (ou uma comissão especial suplementar), assegurando-se, em contrapartida, de que este iria lhe ressarcir uma percentagem sobre o montante da venda não cumprida. A ordem justrabalhista é silente acerca da aplicabilidade de semelhante c1áu· sula ao Direito do Trabalho e, em especial, ao vendedor comissionista empregado. O silêncio da CLT e da Lei 3207/57 é, contudo, inquestionavelmente, eloqüente. Ele está a sugerir a inviabilidade de se incorporar tal cláusula de acentuado risco, envolvente a expressivos valores, no interior do contrato empregatício - por conspirar essa incorporação contra as garantias básicas da prestação alimentícia salarial e o estuário normativo e de princípios inerente ao núcleo definitório essencial do Direito do Trabalho. O máximo possível de assunção de riscos pelo vendedor empregado já foi absorvido pela legislação especial da categoria, através da autorização de estorno das comissões pagas em caso de insolvência do comprador (art. 7°, Lei 3207). Caminhar-se além de tais fronteiras importaria ou na descaracterização completa do ramo trabalhista especializado ou na assunção de que a figura de trabalhador aqui examinada não se confunde com a do empregado, assimilando-se melhor a um profissional autônomo, gerenciador da sorte e dos riscos de seu empreendimento pessoal. Não obstante, já houve posições doutrinárias em sentido contrário. Sustentava-se que poderia ser válida essa inserção da cláusula star del credere no contrato empregatício, desde que efetuada expressamente e acompanhada ainda de uma autorização expressa de realização de descontos no salário obreiro vendedor, sob alegação de dano (art. 462, -§1) - forma de se evitar a vedação genérica a descontos, inserta no caput do art. 462, CLT7 Tal posição doutrinária, contudo, não recebeu, ao longo dos anos, resposta positiva da jurisprudência trabalhista hegemônica. Após 1992, com o surgimento da Lei 8420 (que deu nova 7 Nesta última direção, Délio Maranhão, Direito do Trabalho, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987, p. 177. 270 redação à antiga Lei dos Representantes Comerciais Autônomos, de nº 4886/65), proibindo expressamente a cláusula star del credere mesmo em contratos referentes àqueles profissionais autônomos (art. 43, Lei 4886, após redação da Lei 8420/92), deixou de existir, efetivamente, qualquer mínima viabilidade jurídica à incorporação de tal dispositivo em contratos empregatícios. Se a cláusula é vedada até para o profissional autônomo - que pode assumir, em geral, certos riscos concernentes a seu trabalho - muito mais inassimilável será para os contratos empregatícios (onde o empregado não pode, por definição, assumir semelhantes riscos).8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CARDONE, Marly A., Viajantes e Pracistas no Direito do Trabalho, 4ª ed., São Paulo: LTR, 1998. DELGADO, Mauricio Godinho, O Contrato de Trabalho e seus Efeitos, São Paulo: LTR, 1999. __________, Introdução ao Direito do Trabalho, 2ª ed., São Paulo: LTR, 1999. GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson, Curso de Direito do Trabalho, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1972. MARANHÃO, Délio, Direito do Trabalho, 14ª ed., Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1987. NASCIMENTO, Amauri Mascaro, Curso de Direito do Trabalho, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 1989. PINTO, José Augusto Rodrigues, Curso de Direito Individual do Trabalho, São Paulo: LTR, 1995. RODRIGUES, Manuel Cândido, “Contratos de Trabalho. Contratos Afins. Contratos de Atividade”, in Barros, A.M. (Coord.), Curso de Direito do Trabalho - Estudos em Memória de Célio Goyatá, Vol. I, 3ª ed., São Paulo: LTR, 1997, pp. 426-462. 8 Para a análise das diversas modalidades de contrato empregatício (individual e plúrimo, tácito e expresso, a termo e a prazo indeterminado, inclusive os diversos tipos de contratos a termo, consultar os capítulos II e III do livro deste autor, O Contrato de Trabalho e seus Efeitos, São Paulo: LTR, 1999 271 O JUIZ SUBSTITUTO À LUZ DE UMA NOVA INTERPRETAÇÃO AO INCISO I, DO ART. 93, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88 Francisco das Chagas Fernandes Juiz Federal da 7ª Vara/CE No presente trabalho, não temos a pretensão de sugerir nada de inusitado ou de impossível realização; pelo contrário, o nosso principal objetivo é chamar a atenção para o óbvio, para que aqueles que ocupam os mais elevados cargos da magistratura nacional encampem a idéia e, quem sabe, possam fazer algo, a fim de tornar a magistratura mais atrativa para aqueles que se iniciam ou pretendam ingressar na carreira, em qualquer um de seus ramos. O nosso trabalho versa principalmente sobre a possibilidade de ser dada interpretação ao inciso I, do art. 93, da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que o “ingresso na carreira da magistratura será no cargo inicial de juiz substituto...”, análoga à que foi dada pelo Código de Organização Judiciária do Ceará. Mesmo tendo conhecimento da diferença existente entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, entendo que o eg. Conselho da Justiça Federal tem condições de suprimir este degrau a mais, o qual já havia sido extinto da magistratura federal pela Emenda Constitucional nº 7, de 13.4.77. Posteriormente, a lei nº 7.595, de 8 de abril de 1987, que cuidou da reestruturação da Justiça Federal de 1ª Instância, restabeleceu a categoria de Juiz Substituto na Justiça Federal, criando 30 (trinta) cargos, sem que este número representasse naquela oportunidade um cargo de Juiz Substituto para cada vara existente no país. O último concurso de âmbito nacional organizado pelo extinto Tribunal Federal de 272 Recursos e Conselho da Justiça Federal, realizado no ano de 1987, teve por objetivo o provimento de cargos tão-somente de Juízes Federais, no total de 68 (sessenta e oito) cargos, criados pela Lei na 7.583, de 06.01.87, mais 38 (trinta e oito) cargos de Juízes Federais Auxiliares, remanescentes, criados nos termos do art. 123, § 20, da EC na 1/69, com a nova redação dada pela EC nº 7177 e Lei na 7.007, de 29 de julho de 1982, os quais apesar de exercerem funções de auxilio percebiam os mesmos vencimentos dos juízes federais titulares de varas e, no caso de vaga de juiz federal, o juiz federal auxiliar era simplesmente titularizado, de acordo com a sua classificação na lista de antigüidade. Portanto, entendo que não se justifica a diferença de remuneração entre juízes titulares de varas, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar, e seus respectivos juízes, ou auditores substitutos, uma vez que estes, a rigor, não são substitutos, porque a partir do momento em que são latadas entram no exercício permanente de suas funções, com competência idêntica à dos juízes titulares, de acordo com o art. 14 da Lei na 5.010, de 30.5.66 e art. 22, §§ 10 e 20 da Lei Complementar nª 35, de 14.03.79 (LOMAN), cabendo aos juízes federais substitutos metade dos processos da vara, sendo a matéria regulada no âmbito do TRF da 5ª Região, nos termos da Resolução nº 10/92. Ademais, após haver o juiz substituto cumprido o estágio probatório de 2 (dois) anos, e de se encontrar investido nas garantias constitucionais a que se reporta o art. 95, incisos I, II e III, da CF de 1988, não se justifica permanecer o magistrado na condição de juiz substituto, indefinidamente, porque tal designação não condiz com o seu desempenho, que no dia a dia corresponde à metade dos processos em andamento na vara em que porventura estiver latada. Por outro lado, não vislumbro qualquer óbice que possa impedir que o juiz substituto seja guindado à condição de juiz federal, juiz do trabalho, ou juiz auditor, como ocorre na Justiça dos Estados, que após decorridos dois anos, e uma vez confirmado no cargo, o juiz substituto passa automaticamente à condição de juiz de direito, designação que o distingue daquele, que ainda não se encontra no gozo das garantias constitucionais, conforme se pode constatar do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. O Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, Lei n 12.342, de 28 de julho de 1994, em consonância com a Constituição Federal, estabelece em seu art. 82 - O juiz Substituto é nomeado dentre Bacharéis em Direito concursados e, durante o transcurso do estágio probatório destinado à obtenção da vitaliciedade, tem a mesma função, atribuição e competência conferidas aos juízes de Direito e, como tal, ambos percebem os mesmos vencimentos, sendo que a diferença vencimental fica por conta do tempo de serviço público de que cada for um for detentor. Por sua vez, o art. 90 do mesmo Código estabelece: “As atribuiçõese competência dos juízes de Direito do interior do Estado são as mesmas dos juíies 273 Substitutos”. Como se observa, no Estado do Ceará, da mesma forma como deve ocorrer nos demais Estados da Federação, a permanência do magistrado na condição de juiz substituto é transitória, sendo que após decorridos 2 (dois) anos de exercício no cargo, e uma vez aprovado no estágio probatório é confirmado no cargo como juiz de direito, o que significa que, daí em diante, ele passa a ser detentor das garantias constitucionais da magistratura, sem qualquer vantagem de ordem salarial, porque referidos cargos são remunerados com salários idênticos. A interpretação dada pelos Tribunais de Justiça dos Estados nos parece bastante coerente, em primeiro lugar porque o juiz substituto, nos Estados, a rigor não significa que se trata de um juiz substituto do juiz de direito, ou titular, mas tão somente que dito magistrado ainda se encontra cumprindo o estágio probatório, ao passo que o juiz de direito propriamente dito é aquele que cumpriu o referido estágio e que se encontra no gozo das garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, de que cuida o art. 95, incisos r, II e III, da Carta Magna de 1988. Com efeito, entendo que o cargo de juiz substituto deveria ser apenas uma condição transitória para ingresso na magistratura, como ocorre na Justiça Estadual do Ceará e de outros Estados, em obediência ao que determina a CF de 1988. Porém, tal condição, como já afirmamos anteriormente, jamais poderia ser definitiva, nos moldes adotados pelas três Justiças da União (Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Militar), ainda que nestas, ao contrário da Justiça Estadual, cada Vara ou C.J.M. seja composta por dois magistrados. Mesmo assim, com pleno conhecimento da distinção existente, continuamos sustentando que o ingresso na magistratura federal, na magistratura do trabalho e na magistratura militar, que igualmente ocorre no cargo de juiz substituto, conforme estabelece a CF de 1988, também poderia ter tal condição limitada a 2 (dois) anos, como ocorre na Justiça dos Estados, com o período de dois anos correspondendo ao estágio probatório, e da mesma forma as designações dos cargos de juiz federal substituto, juiz do trabalho substituto e juiz auditor substituto, também serviriam para distinguir do juiz federal, do juiz do trabalho e do juiz auditor, respectivamente, estes portadores das garantias constitucionais, conforme esclarecimentos supra, sem que houvesse qualquer distinção salarial entre ambos, salvo em razão do tempo de serviço público de cada magistrado. A título apenas de curiosidade, podemos afirmar que, na Justiça Estadual, jamais um juiz substituto poderá se aposentar por tempo de serviço, por ser tal condição temporária limitada a 2 (dois) anos. Todavia, o mesmo já não ocorre na Justiça Federal, devido à condição de definitividade com que foi interpretado o art. 93, inciso I, da CF, que resultou na instituição de mais um degrau na magistratura federal, daí, se um candidato ingressar na Justiça Federal como juiz federal substituto, e, se porventura contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço público, ou 274 mais, depois de 5 (cinco) anos de serviço como magistrado poderá requerer a sua aposentadoria, por tempo de serviço, na condição de juiz federal substituto. De outra parte, com a edição da EC nº 7, de 13.4.77, que extinguiu o cargo de juiz Federal substituto na Justiça Federal, sem dúvida a intenção do legislador era; naquela oportunidade, tornar a magistratura federal mais atrativa, para despertar o interesse, inclusive de grandes profissionais do direito, fato que até hoje não se concretizou, porque alguns colegas dos grandes centros se aposentam cedo para voltar à advocacia, sendo que, às vezes, até mesmo depois de aprovados em concurso para o cargo de juiz federal, alguns candidatos sequer tomam posse no cargo e, como se não bastasse, a CF de 1988, além de ter restabelecido o cargo de juiz federal substituto, instituiu mais um degrau na carreira, com a criação dos 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais, sendo que, em termos financeiros, ficou assim, o juiz federal com seus salários mais achatados, passando, a rigor, a perceber menos. Daí, não é sem razão que, devido à defasagem salarial, decorre o fenômeno da deserção dos juízes, sendo que, dos 1.100 cargos de juízes existentes na Justiça Federal de primeiro grau, apenas cerca de 700 (setecentos) estão preenchidos, conforme declaração do em. Ministro Paulo Costa Leite, presidente do STJ, publicada no Jornal Diário do Nordeste, edição do dia 15 de maio de 2000. Com relação à criação dos Tribunais Regionais Federais, não se pode negar que em termos de carreira foi excelente, até porque muitos juízes federais que não tinham a menor possibilidade de chegar ao Tribunal Federal de Recursos, cuja composição contava com 15 (quinze) membros oriundos da Justiça Federal de primeiro grau, para o País todo, de repente viram ampliadas as suas possibilidades de acesso a um Tribunal Regional Federal, principalmente os que se encontravam lotados nas Seções Judiciárias subordinadas aos grandes Tribunais Regionais, cujo acesso aos mesmos vem ocorrendo cada vez mais cedo, até mesmo jovens com pouco mais de 30 (trinta) anos de idade, e menos de 10 (dez) anos de magistratura, estão chegando aos Tribunais Regionais, máxime depois do recente aumento de vagas, decorrentes da Lei nº 9.967, de 10 de maio de 2000, que em seu art. 1° , aumentou o número membros dos Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões, que passaram a ser compostos: I - vinte e sete Juízes, na 1ª Região; II . vinte e sete Juízes, na 2ª Região; III - vinte e sete Juízes, na 4ª Região; IV - quinze Juízes, na 5ª Região, e de acordo com a Lei nº 9.968, de 10 de maio de 2000, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região passou a ser composto por quarenta e três Juízes. Todavia, o mesmo não ocorre com os colegas juízes federais lotados em Seções Judiciárias subordinadas a Tribunal Regional com pequeno número de integrantes, como era o caso do eg. TRF da 5ª Região, que só contava com 8 (oito) magistrados da carreira, cujo número foi recentemente aumentado para 15 (quinze) juízes, em razão da Lei nº 9.967, de 10 de maio de 2000, sendo 12 (doze) da carreira, sendo que, devido ao reduzido número de Juízes do TRF, bem 275 como de varas na Região, um colega lotado na Seção Judiciária de Pernambuco passou quase 8 (oito) anos como Juiz Federal Substituto, pior ainda ocorreu no TRT da 7ª Região, Estado do Ceará, com apenas 4 (quatro) Juízes da carreira, alguns Juízes do Trabalho Substitutos, que ingressaram através do concurso realizado em Fortaleza, no ano de 1973, permaneceram nessa condição até o ano de 1986, ou seja, mais de 13 (treze) anos. Porém, a pior situação é a dos Juízes Auditores da Justiça Militar, cuja carreira é a mais penosa, com os magistrados, na sua grande maioria, exercendo todo o seu mister no primeiro grau, devido ao difícil acesso ao Superior Tribunal Militar, cuja composição conta com a presença de 10 (dez) ministros militares (CF, art. 123), destinando apenas uma vaga, para Juízes Auditores, magistrados da carreira e outra para membros do Ministério Público da Justiça Militar, mesmo artigo (inciso II). A CF de 1988 bem que poderia ter tornado a magistratura militar menos dispendiosa e mais atrativa para os oriundos da carreira, através da diminuição de 4 ( quatro) cargos de ministros militares, e reduzido a composição militar para apenas 6 (seis) ministros, sendo 2 (dois) dentre oficiais-generais da Marinha; 2 (dois) dentre oficiais-generais do Exército; 2 (dois) dentre oficiais-generais da Aeronáutica, independentemente do tamanho do efetivo de cada uma das “Armas da República”, permanecendo a parte relativa à representação civil em 5 (cinco), distribuída da seguinte maneira: 3 (três) dentre os juízes auditores da carreira e 2 (dois) dentre membros do Ministério Público da Justiça Militar e Advogados, estes últimos relativos ao quinto constitucional. Acredito que seria uma boa composição com 11 (onze) ministros devido ao pequeno número de feitos que sobem em grau de recurso, e considerando principalmente que o Supremo Tribunal Federal com suas inúmeras atribuições, inclusive a de controle da constitucionalidade das leis (art. 102, da CF/88), conta apenas com 11 (onze) ministros. O sistema adotado pelos Tribunais de Justiça Estaduais em nada foi alterado com o aludido dispositivo constitucional, porque o ingresso na magistratura nos Estados, mesmo antes da Constituição de 1988, já ocorria no cargo de Juiz Substituto. Ao contrário, a Justiça Federal que foi restabelecida pelo Ato Institucional nº 2, de 27.10.65, e organizada nos termos da Lei nº 5.010, de 30.05.66, previa um juiz federal substituto para cada juiz federal, mas no ensejo da promulgação da Carta Magna de 1988, em algumas varas, além do juiz federal havia um juiz federal auxiliar, uma espécie de juiz federal (2), condição na qual o autor do presente trabalho foi nomeado com outros colegas de concurso latados em várias Seções Judiciárias do País. Todavia, em razão do art. 28 do ADCT da CF de 88, o TRF da 5ª Região criou quatro varas na Região, através do desmembramento das varas em que os juízes federais auxiliares se encontravam lotados, com a simples titularidade dos mesmos. De outra parte, quando da edição da Lei nª 8.235, de 19.09 91, que reestruturou a Justiça Federal de Primeiro Grau, com base no art. 93, inciso I, da CF de 88, criando 186 (cento e oitenta 276 e seis) cargos de Juízes Federais Substitutos, bem que esta poderia ter aproveitado e seguido a EC nº 7/77 supra, a fim de evitar que fosse estabelecido mais um degrau na carreira do Juiz Federal, além do degrau que passou a existir com a criação dos Tribunais Regionais Federais, inclusive para efeitos vencimentais, ficando condicionada à promoção, por antigüidade ou merecimento, o que não passa de uma simples titularidade, uma vez que, a rigor, inexiste o Juiz Substituto, posto que ao serem latadas em uma vara, ou auditoria militar, têm a mesma competência jurisdicional dos juizes titulares. Portanto, melhor seria ter deixado os juizes federais substitutos, após os dois anos destinados ao cumprimento do estágio probatório, na condição de juiz federal (2), até porque na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e na Justiça Militar os Juizes Substitutos, antes, como depois da atual Carta Magna, sempre exerceram funções permanentes, e não de meros substitutos, independentemente de os juízes titulares estarem, ou não, em pleno exercício de suas funções judicantes. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, ao longo do tempo, procurou tornar a carreira mais atraente, extingüindo gradativamente os cargos de Procurador da República de 3ª e, em seguida, os de 2ª categoria, passando a existirem, tão-somente, o cargo de Procurador da República, como cargo inicial, equivalente ao cargo de Juiz Federal, sem cargo correspondente ao de Juiz Federal Substituto; o de Procurador Regional da República, criado em função da criação dos Tribunais Regionais Federais pela Carta Magna de 1988, e Subprocurador-Geral da República, correspondente ao final da carreira do Ministério Público Federal, equivalente, em termos vencimentais, ao cargo de Ministro do STJ, sendo que as mesmas modificações ocorreram igualmente na carreira de Procurador da Justiça do Trabalho. Com efeito, entendemos que se houver apoio por parte dos Tribunais Regionais Federais e das diversas associações de classe que representam as categorias envolvidas, como a AJUFE, a ANAMATRA e a ANAJUM, as quais, através de seus presidentes, poderão sensibilizar os membros do eg. Conselho da Justiça Federal, bem como os membros dos tribunais superiores (STF, STJ, TST e STM), no sentido de estudarem a possibilidade de adoção da idéia que ora defendemos, para que a condição de juiz substituto nas três Justiças da União passe a ser temporária, conforme amplamente esclarecido no presente trabalho, sem que disso resulte qualquer desrespeito ao Estatuto Supremo. A propósito da paridade de vencimentos entre os juízes do trabalho titulares de varas e os juizes do trabalho substitutos, a própria CLT, ainda que de forma temporária concedeu a paridade vencimental entre os Juizes do Trabalho Substitutos e Juizes do Trabalho, então Presidentes de Juntas, ao estabelecer no art. 656, § 30, que: “Os juízes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes-Presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes”. O certo é que os juízes do trabalho substitutos, atualmente, só no ensejo de suas próprias 277 férias, não percebem os mesmos vencimentos dos juizes do trabalho titulares de varas. Porém, a nossa sugestão não se restringe à paridade vencimental temporária, nos moldes previstos na CLT, mas na paridade vencimental tatal e definitiva, além da mudança da designação dos cargos de juiz federal substituto, juiz do trabalho substituto e juiz auditor substituto, os quais, após os dois anos iniciais de exercício, independentemente de promoção, passariam a ser designados tão-somente: Juiz Federal, Juiz do Trabalho, ou Juiz Auditor, de acordo com o ramo da magistratura de cada um. Atualmente, com relação a vencimentos, os juízes federais substitutos, os juízes do trabalho substitutos e os juízes auditores substitutos, quando no exercício temporário da titularidade, por motivo de férias, licenças e impedimentos eventuais dos juízes titulares, igualmente, percebem os mesmos vencimentos destes. Todavia, a nossa sugestão é no sentido de que haja a paridade total de vencimentos, independentemente de se encontrar o juiz substituto respondendo pela titularidade, ou não, com a única distinção vencimental ficando por conta do tempo de serviço público de cada um. Todavia, a presente sugestão não cuida tão-somente de vencimentos, como já fez o eg. TST, mas de suprimir definitivamente um degrau na magistratura federal, para que o juiz federal substituto, após aprovado no estágio probatório, possa ser guindado ao cargo de juiz federal, mesmo não sendo ainda titular de vara, uma espécie de juiz (2), assinando as suas decisões como juiz federal, apenas apondo, após a sua assinatura, em auxílio à 7ª vara, ou em exercício na 7ª vara, caso esteja auxiliando ou respondendo pela titularidade, por férias ou impedimento do titular, até que surja uma vaga em sua Região para que possa ser titularizado. A vantagem da adoção desse sistema, passaria a ser a maior facilidade para a remoção de um juiz federal de uma Região para outra, e, por sua vez, a Justiça Federal voltaria a ter uma unidade nfcional, quase como antes. Naturalmente que, na nova Região, o juiz federal removido seria classificado em último lugar na lista de antigüidade, como já vem ocorrendo atualmente, podendo exercer inicialmente as funções de juiz federal em auxílio a determinada vara, independentemente de já ter sido juiz federal titular de vara em sua Região de origem, principalmente considerando que é muito difícil a remoção de um juiz federal titular, nesta condição, para outra Região, como já ocorreu com os colegas Paulo Cordeiro e Ricardo Mandarino, baianos, juízes federais da 5ª Região, os quais gostariam de ter retomado à bela Salvador e não conseguiram. Por sua vez, com a adoção do juiz federal, em auxílio, nada impediria que um juiz federal titular de vara em uma Região fosse removido para outra Região na condição de juiz federal, para exercer funções de auxílio, até ser oportunamente titularizado, de acordo com a sua classificação na lista de antigüidade de sua nova Região, aí se poderia falar em unidade nacional da Justiça Federal, como era antes, com muitos magistrados nordestinos retomando à Região onde fica a sua 278 cidade natal, sem a necessidade de rejeitar a promoção ao cargo de juiz federal titular, para permanecer anos na condição de juiz federal substituto, como ocorreu com o colega Augustino Lima Chaves, o qual foi Juiz Federal Substituto na 1ª Região e só foi titularizado, com quase 6 (seis) anos de magistratura, após ter sido removido para a Seção Judiciária do Estado do Ceará, subordinada ao TRF da 5ª Região, caso tivesse sido titularizado na 1ª Região, dificilmente teria conseguido a sua remoção. BIBLIOGRAFIA Código de Divisão e Organização Judiciária do Ceará – Lei nº 12.342, de 28.07.1994, Organizador – Francisco Barbosa Filho, 2ª Edição, 1996; Emenda Constitucional nº 7, de 13.4.77; FERREIRA FILHO, MANOEL GONÇALVES – Comentários à Constituição Brasileira de 1988, volumes 2 e 3; Lei nº 5.010, de 30.5.66 – Organiza a Justiça Federal de primeira instância; LOMAN – Lei Complementar nº 35, de 14.3.79; Poder Judiciário – Conselho da Justiça Federal – Legislação – Brasília – 1993. SILVA, José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª edição, 3ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 1993; SOBRINHO, Osório Silva Barbosa, Constituição Federal vista pelo STF, São Paulo: Juarez de Oliveira 1999. 279 EFICÁCIA E DEMOCRACIA NA ATIVIDADE JUDICANTE Ivan Lira de Carvalho Juiz Federal em Natal (RN), Professor da Universidade Federal do RN 1. INTRODUZINDO O TEMA Traçar um paralelo entre a atividade do educador popular e a atividade funcional contemporânea do juiz brasileiro. Este foi o desafio apresentado e acatado, a ser desenvolvido através de uma espécie de recensão do livro “Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa”, de Paulo Freire, construindo um comparativo, quanto possível, entre o magistério e a judicatura. O matiz ideológico do trabalho e da ação de Paulo Freire estão claros já nas “Primeiras Palavras” (fl. 17), onde afirma que a ética por ele pregada é a que “condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal.” 280 A liberdade de exprimir as suas idéias, torna próxima - respeitadas as diferenças óbvias - a linha de agir do Prof. Paulo Freire, da ação funcional do magistrado independente, esclarecendose que este último fulcra a sua atividade em diversos princípios éticos e jurídicos. Testemunho o que agora digo através da transcrição de trecho de artigo que publiquei sob o título “A propriedade, o Judiciário e os Sem-Terra”: Louvo a feliz inserção do princípio do livre convencimento no CPC pátrio (art. 131), por constituir irrespondívellição aos juspositivistas ortodoxos, de que até mesmo no seio das correntes doutrinárias mais tradicionais há vaga para a expressão da tendência ideológica do Magistrado, caldeada pela opinião pública e pelo posicionamento da jurisprudência. Não acredito que haja Justiça sem ideologia. E se existisse tal “Justiça”, nela eu não acreditaria. (...) É de uma atualidade atemporal a observação feita pelo Prof. Raimundo Nonato Fernandes, verbis: “Os tempos novos, entretanto, começam a abalar os alicerces dessas concepções tradicionais. O conceito de justiça parece impregnar-se de um sentido político, que se traduz na procura de novas soluções para os problemas do homem e da sociedade. ... Existe a preocupação de imprimir à justiça um conteúdo definido, de identificá-la com uma aspiração de reforma social e política, de dar-lhe, enfim, uma diretiva ideológica. (Justiça e Ideologia, in Revista do Tribunal de justiça do Rio Grande do Norte, vols. XIX a XXIV, tomo 1, Natal, 1965, p. 12).”1 2. JURISDICIONADO: SEM ELE NÃO HÁ JUDICATURA 2.1 - A explicação Interação e complementação. São estas as idéias aferi das do texto de Paulo Freire, rotulado “Não há docência sem discência”. Exemplifica o educador: “A prática de velejar coloca as necessidade de saberes fundantes como o do domínio do barco, das partes que o compõem e da função de cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, de sua força, de sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do motor e da combinação entre motor e velas. Na prática de velejar se confirmam, se modificam ou se ampliam.”2 E arremata dizendo que “ensinar não é transferir 1 “O judiciário, a propriedade e os sem-terra”, Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 96, S. Paulo: Vellenich, 1993, págs. 16 e 17. Pedagogia da Autonomia, 4ª Edição, Rio de Janeiro: Paz e Terra, página 24. 2 281 conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.”3 A transferência dos ensinamentos de Paulo Freire, originalmente destinados à formação de uma consciência crítica e democrática no meio educacional, tem adequação, também, à atividade judicante, especialmente ao Poder Judiciário brasileiro. Com efeito, a prestação da tutela jurisdicional não pode ser enxergada apenas como a desincumbência, por um dos componentes do Estado-tripartite, de uma tarefa que lhe é ínsita. É muito mais que isso. Além de perseguir a pacificação social, ao instante em que diz a quem pertence o direito, tem a atividade jurisdicional um plus deveras salutar: a pedagogia de mostrar aos jurisdicionados como deve ser a conduta destes nas suas relações interpessoais e interinstitucionais. Mas, apesar da cogência que timbra os editos judiciais, estes ficam expostos ao descrédito e à desobediência se não estiverem em sintonia com o querer social. Padecerão de ineficácia, e pior, de efetividade, apesar de dotados de validade e forma. Mais tempo, menos tempo, terão o mesmo destino das leis que enfrentam divórcio com o querer social e por isso mesmo “não pegam”, como diz o vulgo4. Assim, ao prolatar uma sentença, é imperioso que o juiz tenha consultado, além do que friamente está posto nos autos, os anseios dos destinatários da sua decisão e a carga de valores individuais e sociais por estes comportadas. A inserção do julgado nesse conjunto deverá ser, quanto possível, evitadora de traumas desnecessários ou inúteis. E é dever do juiz acompanhar os resultados práticos advindos do seu pronunciamento, para daí tirar lições que permitam, se possível, a revisão ou a readequação de uma nova decisão para o mesmo caso ou, pelo menos, uma mais apurada adequação das suas próximas decisões, em casos semelhantes. Em resumo, ao julgar o magistrado não “põe uma pedra” sobre o caso. Mesmo que o seu pronunciamento tenha o timbre da coisa julgada para aquela situação concreta, é preciso que seja aferida a eficiência da intervenção estatal. Essa eficiência pode ser retratada, por exemplo, na modificação da conduta dos atores sociais mais afetados pela decisão. Assim, por exemplo, se uma empresa é condenada por atirar substâncias poluentes a um rio, é mais eficiente o redirecionamento das suas políticas ambientais, bem assim de outras empresas sediadas no local, do que propriamente a multa ou a indenização marcadas na sentença. 2.2 - Judicatura e método 3 Mesma obra, página 25. Vale aqui, por pertinente, o comentário de LUIS ROBERTO BARROSO sobre “A efetividade das normas constituocionais,em O DIREITO CONSTITUCIONAL E A EFETIVIDADE DE SUAS NORMAS: Limites e Possibilidades da Constituição Brasileira, Rio de Janeiro: Renovar, 1990, pág. 77: “A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de suafunção social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser nonnativo e o ser da realidade social.” 4 282 Ao se pensar em uma judicatura democrática, pode saltar, de pronto, a idéia de uma negação da função jurisdicional do Estado ou pelo menos uma atrofia desse setor. Vizinhanças do anarquismo. Não bastassem os movimentos no meio jurídico por uma maior identidade entre prestação jurisdicional e necessidades sociais, como é o caso do “direito achado da rua” e do “direito alternativo” (e aqui não nos cabe oferecer juízo valorativo a esses movimentos, apenas para não fugir do objeto principal do presente ensaio), vem da Pedagogia, pela voz de Paulo Freire, uma afirmação que pode ser transposta, como lição, aos operadores do Direito. Diz o lente, na obra citada, pág. 28, que o educador democrático “não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”. Isso ajuda a sepultar a equivocada máxima, muitas vezes invocada com claras cores de demagogia e oportunismo, de que “decisão judicial não se discute, mas se cumpre”. No meu pensar, longe está o tempo do magistrado de decisões e opiniões intocáveis. A discutibilidade das sentenças nos foros formais (tribunais recursais) é o óbvio. É preciso, entretanto, ampliar-se o questionamento das decisões judiciais em instâncias não-estatais e, quem sabe por isso mesmo, mais legítimas. Lembro, só para exemplificar, de experiência que tive nesse sentido em minha atividade de juiz. Prolatei sentença, em ação civil pública que objetivava remover parque de tancagem da Petrobrás de um bairro residencial de Natal (RN). Julguei parcialmente procedente o pedido, e com base no permissivo de variação entre o pedido e a prestação da tutela, previsto na Lei da Ação Civil Pública, ao invés de mandar fossem removidos os tanques de combustível, ordenei a adoção de várias medidas de segurança, notadamente no campo do treinamento e equipamento de pessoal, assim como a realização de obras civis, tudo objetivando a segurança e a tranqüilidade da população circunvizinha à área5. Pois bem. Apesar de ter o processo subido à superior instância, em grau de apelação e de reexame necessário, fui convidado pela Petrobrás e pelo Município de Natal (partes condenadas no processo), bem como pelo Sindicato dos Distribuidores de Combustível do Estado (formalmente alheio à demanda, mas significativamente afetado, para melhor ou pior, pelos termos da decisão), para uma reunião/palestra com os dirigentes dos órgãos ambientalistas oficiais, com a participação dos anfitriões acima lista dos e da Federação do Comércio, onde eu tive a incumbência de traduzir, para linguajar não-jurídico, os limites da minha decisão, já que todos queriam conhecer fielmente o que deviam e o que podiam (sobretudo o que podiam) fazer para antecipar o cumprimento da decisão, máxime naqueles pontos que não foram questionados na apelação. Enfrentar uma bateria de técnicos de formação absolutamente distanciada da jurídica foi para mim um desafio 5 O inteiro teor da sentença está publicado na Revista de Direito Ambiental, nº 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, págs. 243 a 248. 283 estimulante, onde mais recebi do que dei, em termos de conhecimentos. Guardei também, daquele contato, um inescondível sentimento de que a minha sentença teria, além de eficácia, eficiência, pois aferi os indícios da sua exeqüibilidade (pelo menos parcial) na vontade política dos agentes e na disposição de recursos para a realização das obras e serviços ordenados no decisum. As manifestações de irresignação de setores da sociedade com o teor ou o alcance de certas decisões judiciais precisam ser absorvidas, pela Magistratura, como fruto da visão crítica das pessoas que se sentem atingidas pelo pronunciamento estatal. Nada de “perdoai, eles não sabem o que fazem”. A menos que a manifestação de desapreço a um ato do Estado se transforme em gratuita e desrespeitosa agressão pessoal, o que é tão intolerável quanto o registro, em sentença, de expressões pejorativas ou que afrontem à dignidade pessoal da parte. 2.3 - Juiz e jurisdicionado se completam A horizontalidade das ligações juiz/jurisdicionado não enfraquece o Poder Judiciário. Pelo inverso, tende sempre a enobrecê-Io, conferindo a este um maior grau de legitimidade. É bom aqui ser lembrado, como lição, pensamento de Mário Moacyr Porto, notável civilista, para quem não existe espaço, no Judiciário contemporâneo, para o magistrado “locatário de torres de marfim”. Assim, essa postura, horizontal, que deve ser assumida pelo juiz moderno, tem encontro marcado com o que preconiza Paulo Freire, ao afirmar que o mister do educador exige deste a consciência do inacabamento, o reconhecimento de ser condicionado e exige respeito à autonomia de ser do educando.6 2.4 - Outros traços do magistério democrático presentes também na judicatura moderna Fala o Prof. Paulo Freire que ensinar reclama bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos trabalhadores7. Nova meada de união entre magistratura e magistério. O bom senso é ingrediente indispensável para quem quer ser um juiz útil à sociedade que paga, via tributos, pelos seus serviços. É de ser lembrada a história do serviçal romano que, ao chegar para o seu mister de limpar o chão do forum, perguntou a um iniciado de que se tratava aquela ferrenha discussão entre os doutores, que já atravessava dias, obtendo resposta mais ou menos assim: “Estão tentando definir o que é o Direito”. Com ingenuidade e mais sapiência do que todo aquele conglomerado de estudiosos, o plebeu não conteve a exclamação: “E eu pensava que Direito era bom senso”. Estava certo o pobre romano como estão certos os que buscam no equilíbrio do bom senso a razão de distribuir justiça. Está certo também o professor que usa do bom senso para fazer com 6 7 Obra citada, págs. 55, 59 e 65. Opus, págs. 67 e 74. 284 que o aprendizado seja eficaz. A humildade e a tolerância são predicativos que devem norte ar a tarefa do professor. Também são imprescindíveis à ação funcional do juiz. “Carranca não é autoridade”, explicava o Senador Pedro Simon, ao tempo em que o regime político brasileiro não primava pelas regras da. democracia. Vale a máxima para os bolsões de autoritarismo lamentavelmente ainda detectados no seio do Judiciário. Saber escutar e saber falar nos momentos e nos locais oportunos devem ser quase-vinudes de mestres e de julgadores, que em suas respectivas atividades devem sempre ter portas abertas ao diálogo. 3 – A CONCLUSÃO Para os magistrados de formação e de prática mais afeitas ao modelo clássico, quase imperial, do exercício da judicatura, pode parecer inconciliável o ideário sabidamente popular do Professor Paulo Freire, com a postura “asséptica” das atividades inatas ao Poder Judiciário. Já para os juízes de formação política mais próxima dos ideais democráticos, é mais fácil a compreensão dos traços comuns que existem entre uma prestação jurisdicional comprometida com o senso de justo, de equânime. Para uns e para outros, a leitura do livro “Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa” tem a inegável importância de iniciar ou clarificar a certeza de quão juntas andam a educação popular e a oferta da tutela jurisdicional. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade das suas normas: limites e possibilidades da Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1990. CARVALHO, Ivan Lira de. O judiciário, a propriedade e os sem-terra. In Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 96. São Paulo: Vellenich, 1993 FERNANDES, Raimundo Nonato. Justiça e Ideologia. In Revista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, vols. XIX a XXN, tomo I. Natal: Tribunal de Justiça do RN, 1965. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 285 PARECER 286 287 A HIPÓTESE DE IMPOSIÇÃO DO ICMS NAS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA – PECULIARIDADES NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – PARECER Ives Gandra da Silva Martins Professor Emérito da Universidade Mackenzie, em cuja Faculdade de Direito foi titular de Direito Econômico e Direito Constitucional CONSULTA Formula-me, a consulente, as seguintes questões com respectivas justificativas: “Informamos, inicialmente, que a empresa é empresa geradora de energia elétrica, com sede no país e Usinas Geradoras localizadas em diversos Estados. Com exceção de um dos Estados, a empresa possui contratos de venda de energia com as empresas distribuidoras dos demais Estados e com outra geradora de outro Estado, denominados “Contratos Iniciais”. A nova sistemática de comercialização de energia elétrica introduzida no Setor Elétrico Brasileiro, permite que uma geradora venda energia para 288 qualquer concessionária distribuidora conectada ao Sistema Elétrico Interligado. Com o surgimento da figura de “consumidor livre” poderá, também, vender energia a empresas não integrantes do setor elétrico, como já ocorreu com a recente assinatura de contrato com uma empresa de produção de papel e celulose. As questões a que nos referimos e para as quais solicitamos o parecer de V. Sª. são as seguintes: (l) Está prevista no art. 155, parágrafo: 2ª, inciso X, letra “b” da Carta Magna a não-incidência do ICMS sobre a saída de energia elétrica destinada a outro Estado. Por sua vez, o art. 3º, inciso III, da Lei Complementar 87/96, condiciona a não-incidência do imposto somente na hipótese de a energia elétrica ser destinada à industrialização ou comercialização. Desta forma, as seguintes questões se apresentam: a) O citado artigo da Lei Complementar 87/96 é inconstitucional? b) Independentemente da constitucionalidade referida no item acima, qual a interpretação jurídica que a empresa deverá dar à expressão “energia elétrica destinada à industrialização ou comercialização?” No que se refere à comercialização, parece-nos claro que se trata de venda de energia a empresas que a adquirem para revendê-la. Quanto à expressão “industrialização”, podemos entender que se trata de venda de energia a empresas industriais que a adquirem para utilização como insumo de sua produção? (2) Pelos critérios adotados no Setor Elétrico Brasileiro, o Gerador, ao colocar sua unidade de geração em funcionamento, deve providenciar um contrato de conexão com a concessionária de Transmissão/Distribuição, no qual o gerador assume o compromisso de entregar a energia na qualidade estabelecida pelo Poder Concedente (representado pela ANEEL). Se a usina estiver conectada na Rede Básica celebra, também, um contrato de uso do Sistema de Transmissão com o Operador Nacional do Sistema (ONS), caso contrário, o contrato de uso é celebrado com a concessionária local. Em assim procedendo, o Gerador tem a garantia de que a energia disponibilizada pela sua usina tem trânsito garantido no submercado ao qual está conectado. Deverá assinar, também, o Acordo de Mercado, o que lhe garante usufruir 289 dos benefícios da operação otimizada do Sistema Elétrico. O Gerador poderá, então, comercializar a energia assegurada de seu parque gerador hidráulico (montante fixado pela ANEEL) e a disponibilidade líquida de seu parque térmico. O comprador, por sua vez, ao firmar um contrato de compra, e venda de energia com o Gerador, assina, também, o contrato de uso do Sistema de Transmissão com o ONS para ter a garantia que as quantidades contratadas serão disponibilizadas no ponto de conexão. Cumpridas essas formalidades, o comprador sempre receberá do Sistema a energia contratada e o Gerador sempre receberá o valor correspondente, já que tem obrigação de entregar energia ao Sistema nos níveis estabelecidos pela operação otimizada do ONS. Quando não o fizer, outras usinas do Sistema Elétrico o farão sob a coordenação do ONS e, se for o caso, com a penalização por parte do MAE. Vê-se, então, que é impossível identificar qual é a origem da energia que está suprindo determinado comprador, já que todos os geradores entregam a energia ao Sistema Elétrico e os compradores recebem a energia deste mesmo sistema. O Gerador receberá pela energia contratada independentemente do nível de geração de suas usinas. Pode vender até o limite de sua energia assegurada, o qual é estabelecido, como direito, pela ANEEL. Isto é, o Gerador vende um direito e não um produto físico efetivo. Ao obter o direito, tem como contra partida a obrigação de gerar de acordo com o programado pelo ONS. Como o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria, pressupõe um bem produzido em um determinado ponto e entregue num ponto definido, ou seja, a circulação física da mercadoria. No caso da energia elétrica, é possível identificar fisicamente quanto foi produzido e quanto foi entregue ao Sistema, que não são necessariamente iguais, mas não é possível identificar qual a produção de cada usina que foi entregue a determinado comprador. A energia para atender ao contrato que assinamos com a empresa industrial, por exemplo, poderá estar sendo fisicamente gerada pela geradora do Estado, ou por qualquer outra geràdora de outro Estado que esteja conectada ao Sistema. Desta forma, existirá o fato gerador jurídico, decorrente da assinatura dos contratos, e um fato gerador físico caracterizado pela circulação da mercadon·a. 290 Neste contexto, é correto afirmar que, para efeito de fato gerador do ICMS, devemos considerar o local da disponibilidade ao comprador da energia de acordo com o ajustado nos contratos, para definirmos o tratamento de circulação interna ou interestadual? (3) A empresa vem analisando algumas oportunidades na área de cogeração de energia elétrica, onde o cliente, como autorizatário para construção, operação e manutenção de usina termoelétrica, irá ajustar com a empresa, por exemplo, a construção, operação e manutenção da usina. Desta forma, questionamos: a energia elétrica produzida pela termoelétrica ao ser disponibilizada para a fábrica do cliente ficará sujeita à incidência do ICMS? Qual tratamento deverá ser adotado, com relação ao ICMS, na hipótese de a termoelétrica ser localizada dentro do estabelecimento industrial do cliente ou fora? Podemos defender a não-existência de circulação de energia elétrica entre estabelecimentos do mesmo contribuinte?” RESPOSTA Umas poucas considerações iniciais fazem-se necessárias para compreensão das respostas que ofertarei às três questões formuladas pela consulente. A primeira delas diz respeito à função da lei complementar, no sistema tributário nacional, definida em três vertentes, à luz da Constituição de 1988. Está o artigo 146 da Constituição Federal assim redigido: “Art. 146 Cabe à lei complementar: I. dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II. regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III. estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies,. bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias; c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 291 sociedades cooperativas”, deixando claro que as limitações constitucionais ao poder de tributar, a eliminação de conflitos entre os poderes tributantes e o estabelecimento de normas gerais, para que as 5.500 entidades comjus impositivo exerçam-no dentro de um único sistema, conformam o espectro do veículo legislativo eleito pelo constituinte1. Afora tais funções, pode a lei complementar instituir empréstimos compulsórios, facultar à União a utilização da competência residual para a instituição de impostos e de outras fontes de custeio da Seguridade Social, definir a lista de serviços, o imposto sobre grandes fonunas, além das atribuições contempladas no inciso XII do § 2° do artigo 155, cuja dicção segue: “XII. cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição tributária; c) disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar; para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior; serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, “a”; 1 Escrevi: “Em direito tributário, como, de resto, na grande maioria das hipóteses em que a lei complementar é exigida pela Constituição, tal veículo legislativo é explicitador da Carta Magna. Não inova, porque senão seria inconstitucional, mas complementa, esclarecendo, tornando clara a intenção do constituinte, assim como o produto de seu trabalho, que é o principio plasmado no Texto Supremo. É, portanto, a lei complementar nonna de integração entre os principias gerais da Constituição e os comandos de aplicação da legislação ordinária, razão pela qual, na hierarquia das leis, posta·se acima destes e abaixo daqueles. Nada obstante alguns autores entendam que tenha campo próprio de atuação - no que têm razão -·, tal esfera própria de atuação não pode, à evidência, nivelar-se àquela outra pertinente à legislação ordinária. A lei complementar é superior à lei ordinária, servindo de teto naquilo que é de sua particular área mandamental. O ordenamento jurídico dos países civilizados hospeda nonnas de principias, de integração, de organização de comportamento e sancionatórias. As primeiras são aquelas plasmadas na Constituição. As de integração são nonnas que permitem a fluição do sistema constitucional vinculada à pratico das nonnas comportamentais. As de organização dizem respeito àquelas produtoras, executoras e fiscalizadoras da ordem jurídica e as sancionatórias aquelas aplicadas a punir ou premiar comportamentos legais. Os direitos individuais são nonnas superiores que exteriorizam princípios constitucionais. Apesar da resistência de certos atores à expressão “normas constitucionais”, a matriz da expressão autoriza sua utilização. As leis de organização judiciária ou que conformam o Poder Público, habilitando-o a exercer as funções que lhe são próprias, estão entre as nornas de organização, sendo de comportamento as que permitem, proíbem ou se omítem a regular a ordem. São sancionatórias aquelas que punem o descumprimento ou premiam (sanções premiais) determinados comportamentos. A utilização no campo do direito das nonnas de integração, em escala intermédia, permite que o sistema plasmado na Constituição tenha contextura capaz de dar estabilidade à exação dos diversos poderes tributantes. É, pois, a lei complementar uma garantia de estabilidade do sistema, não permitindo que cinco mil Municípios, vinte e seis Estados, o Distrito Federal e a União tenham sistemas próprios, assim como do pagador de tributos, que na Federação pode livremente viajar ou alterar seu domicílio, à luz dos mesmos princípios gerais que regem o sistema” (Comentários à Constituição do Brasil, 6° volume, Tomo I, Saraiva, 1990, p. 73/75). 292 f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior; de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”, estabelecendo os limites de atuação dos Estados para as figuras enunciadas.2 O que a lei complementar não pode é alterar a Constituição. Pode explicitá-la, esclarecer os pontos obscuros, “desimplicitar” -- perdoem-me o neologismo -- o que implícito estiver na lei suprema, mas não poderá mudar, alterar, modificar a Constituição.3 Quando o constituinte declara, “nos termos da lei” ou “definidos em lei complementar” ou qualquer outra expressão semelhante, não está dizendo que o legislador complementar possa definir, conformar os institutos dependentes daquele veículo legislativo, da forma que desejar, mas apenas esclarecer, explicitar, tornar executável os comandos da lei maior. Jamais poderá normar, a seu livre alvedrio. O “complementar” não tem o condão de “agregar” novidades, mas de “auxiliar” a compreensão dos preceitos constitucionais, desventrando a intenção do constituinte. Entender de forma diversa, é admitir que o constituinte esteja sujeito ao legislador infraconstitucional, e não este ao legislador supremo4. 2 Os artigos 148, 153, inciso VII, 154, inciso I ,156, § 3°, incisos I e II, 195, § 4° da Constituição Federal têm a seguinte dicção: “Art. 148 A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: I. para atende,. a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; II. no caso de investimento público de caráter,. urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no an. 150, III, b. § único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição”; “Art. 153 Compete à União instituir impostos sobre: ... VII. grandes fortunas, nos termos de lei complementar”, ...; “Art, 154 A União poderá instituir: I. mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição”; “Art. 156 - § 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III, cabe à lei complementar: I. fixar as suas alíquotas máximas; II. excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior”; “Art, 195 - § 4° A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art, 154, I”. 3 Gustavo Miguez de Mello esclarece: “Complementar é um termo que se distingue de “suplementar”, “adj. 2g. Relativo a suplemento, 2. que serve de suplemento, 3. que amplia, adicional ...”, como diz o Dicionário Aurélio. Suplementa-se algo que já se encontra completo, ampliando-se ou adicionando-se algo. Nem se diga que esta distinção entre complementar e suplementar não foi feita no texto constitucional: ela cons·ta do parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição. O Legislador Constituinte, no artigo 146 caput e inciso III se exprimiu de tal forma a indicar que havia instituído competência para que algo fosse completado, algo que estava incompleto. A lei complementar completa, pois, no caso, a própria Constituição. Cabe salientar que aquilo que se deve complementar não são propriamente os conteúdos intelectuais dos dispositivos que outorgam competência tributária, mas sim a proteção dos direitos individuais que poderiam ser atingidos no exercício da mesma, proteção esta que o Legislador Constituinte considerou indispensável para o exercício da competência e parte integrante dela” (grifos meus) (Caderno de Pesquisas Tributárias nº 15, Co-ed. Resenha Tributária/CEU, 1989, 349/350). 4 José Eduardo Soares de Mello preleciona: “A Lei Complementar constituiu-se no instrumento normativo necessário para explicitar e operacionalizar o comando constitucional. Determinadas normas superiores só terão condição de projetar efeitos juridicos (“eficácia”) na medida em que haja aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional (art. 69 da CF). A validade e a eficácia (legitimidade) da lei complementar só estarão asseguradas uma vez observados os requisitos de “forma” (quorum especial), e de “fundo” (matéria constitucionalmente prevista como objeto de lei complementar). 293 Neste sentido, leia-se, de palestra de José Carlos Moreira Alves, o seguinte trecho: “E, a meu ver, está absolutamente correto. Porque não é possível se admitir que uma lei complementar, ainda que a Constituição diga que ela pode regular limitações à competência tributária, possa aumentar restrições a essa competência. Ela pode é regulamentar. - Se é que há o que regulamentar em matéria de imunidade, no sentido de ampliá-la ou reduzi-la. Porque isso decorre estritamente da Constituição. Quando se diz, por exemplo, “para atender às suas finalidades essenciais” não é a lei que vai dizer quais são as finalidades essenciais. Quem vai dizer quais são as finalidades essenciais é a interpretação da própria Constituição. Porque Constituição não se interpreta por lei infraconstitucional, mas a lei infraconstitucional é que se interpreta pela Constituição. De modo que, obviamente, tanto fazia ser lei complementar, como ser lei ordinária, como ser decreto-lei, enfim, qualquer tipo de norma infraconstitucional. O Ministro Soares Mufíoz não estava dizendo: “Não. Não pode, porque não é lei complementar”. Mas dizia: “Esse decreto-lei impõe uma restrição que não está no texto constitucional” (grifos meus)5, não permitindo qualquer interpretação “conveniente” ou “conivente” para reduzir as forças da Lei Suprema. O legislador complementar - ou o ordinário - pode dizer menos do que lhe é autorizado, mas não pode dizer mais. O segundo aspecto diz respeito à natureza jurídica do ICMS, que é um imposto incidente sobre “operações” relativas à “circulação” de “mercadorias” e também sobre dois tipos de prestação de serviços (comunicação e transportes intermunicipais e interestaduais). Para efeitos constitucionais, o fornecimento de “energia elétrica” é uma “operação” de “circulação” de “mercadorias”, e não uma “prestação de serviços”. O III Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensãó Universitária definiu o fato gerador do imposto estadual, na época restrito a operações relativas à circulação de mercadorias - que é o que interessa no caso presente - cujo aspecto material foi alargado pela E, nesse passo, sublinhamos tratar-se de lei nacional, um autêntico produto do Estado total (global), que inspira, fundamenta e determina a edição de normas federais, estaduais e municipais (ordens parciais do Estado). Não se cogita de norma superior ou intercalar, mas diploma jurídico que colima complementar ou desenvolver princípios consubstanciados no sistema normativo fundamental” (Caderno de Pesquisas Tributárias - vol. 15, ob. cit., p. 113). 5 Pesquisas Tributárias Nova Série - 5, Co-ed. CEU/Revista dos Tribunais, 1999, p. 29/30. 294 Constituição Federal de 1988 para alcançar os serviços acima indicados - nos termos seguintes: “A hipótese de incidência do ICM tem como aspecto material fato que implique na movimentação econômica ou jurídica, de bens identificados como mercadorias, da fonte de produção até o consumo”6, definição também aceita pelo I Congresso de Direito Tributário organizado pelo saudoso Geraldo Ataliba com a alteração da expressão “fato gerador” por “hipótese de incidência” (preferiria às duas expressões, adotar aquela que me parece mais adequada: “hipótese de imposição tributária”). Como se percebe pela definição, a significação e densidade ômica dos três vocábulos hão de ser levados em conta para se compreender a natureza jurídica do ICMS. Não se trata de um imposto que incide sobre a “compra e venda de bens móveis”, mas sobre as operações relativas a sua circulação, o que vale dizer, o perfil jurídico é mais abrangente, de um lado, e menos abrangente de outro, do que aquele da simples “compra” de um bem.7 A palavra “mercadoria” implica uma relação negocial, em que um dos pólos, necessariamente, exerce com habitualidade a atividade de alienar bens com intuito negocial, ou seja, de obter lucros. A venda que um cidadão faz a outro, esporadicamente, de um bem, como um armário velho, por realizar-se entre não “comerciantes”, na expressão do Código Comercial, não configura a compra e venda de “mercadoria”, mas compra e venda de um “bem”. “Mercadoria” é o “bem” destinado ao comércio, em que um dos pólos é necessariamente “comerciante”, para usar a terminologia do vetusto Código Comercial. Toda mercadoria é um bem, mas nem todo bem é uma mercadoria.8 6 Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 4, 2ª Tiragem, co-ed. Resenha Tributária/CEU, 1990, p. 647. Bernardo Ribeiro de Moraes lembra que: “b) mercadoria é uma das categorias dos bens móveis e corpóreos, Não entram nesta categoria de mercadorias, portanto, os bens imóveis (não são bens móveis) e nem os bens imateriais (não são bens corpóreos). Assim, um prédio (bem imóvel) ou um serviço prestado (bem material), não podem se apresentar como mercadoria; c) mercadoria é um bem móvel, ou semovente, corpóreo, mas objeto de circulação econômica, O bem, para ser mercadoria, deve ser objeto de comércio, isto é, estar em fase da produção-circulação-consumo, fazendo o trajeto econômico da empresa produtora, passando para o comerciante revendedor até chegar ás mãos do consumidor ou usuário final. Assim, um sapato será mercadoria quando estiver pronto (produto acabado) para venda, no estabelecimento industrial, ou quando estiver para revenda no estabelecimento comercial, até que o consumidor final o adquira, Nesse momento, depois que o último comprador o adquire, o sapato passa a ser um bem de consumo, não mais mercadoria; d) a mercadoria, como objeto de circulação econômica, está destinada ao comércio. Trata-se de um bem que alguém, com o propósito deliberado de lucro, produz para vender, ou compra para revenda. Mercadoria é coi· sa que se compra e vende, com intuito de lucro ou especulação” (Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 3, 2ª Tiragem, Co-ed., Resenha Tributária/CEU, 1991, p, 82), 8 Hamilton Dias de Souza ensina: ”A doutrina dominante inclina-se por aceitar o conceito encontrado no direto comercial, pois a discriminação constitucional de competências impositivas é rígida, não podendo as ordens parciais de governo alargar o campo de incidência de um tributo, alterando a definição de institutos já conceituados pelo direito privado e utilizados na Constituição, Tal colocação deriva, de resto, da norma do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Ressaltese, porém, que nada impede que os conceitos de direito privado sejam deformados pela Constituição, isto é, pode ela alterálos completamente ou então parcialmente para determinados fins. 7 295 Se é menos abrangente neste aspecto, a hipótese de imposição do ICMS é mais abrangente no que concerne ao conceito de “operação” e de “circulação”, admitindo incidência mesmo antes de realizada a operação (substituição tributária antecipada) ou, apesar de consumada, com postergação da incidência, em face do fenômeno da não-cumulatividade (substituição tributária diferida)9 Embora o intuito mercantil seja a característica da imposição de ICMS, as modalidades de operações transcendem a mera compra e venda de uma mercadoria. O terceiro e último aspecto diz respeito a circulação de mercadorias sem transferência de titularidade, ou seja, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados, dentro do mesmo Estado, mas em distintos lugares. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a movimentação de mercadorias dentro do mesmo estabelecimento do contribuinte, ainda que implique movimentação entre divisões da mesma unidade produtiva situadas em lugares distintos, não constitui fato gerador do ICMS.10 É de se lembrar que o fato de a cana de açúcar ser plantada e colhida nas fazendas de propriedade das usinas, ou por elas arrendadas, implica movimentação de cana da plantação para o estabelecimento fabril, localizado a distâncias que podem chegar a 50 ou 60 quilômetros do local de plantio, tendo a Suprema Corte entendido que tal movimentação, por verificar-se “dentro” da área de atuação da usina, não está sujeita ao ICMS. Neste sentido, leiam-se algumas decisões: No que respeita ao ICM, a Constituição utilizou o termo mercadorias no sentido em que é empregado no direito comercial, introduzindo, porém, uma deformação, Com efeito, estabeleceu que produtores, bem como outras categorias instituidas por lei complementar, fossem equiparados aos que realizam operações relativas à circulação de mercadorias. Sob outro ângulo. poder-se-ia dizer que tais categorias foram equiparadas ao comerciante que é aquele que realiza operações com bens identificáveis como mercadorias. justifica-se a equiparação feita em face da identidade de situações entre todos aqueles que destinam bens móveis à venda com babitualidade” (Caderno de Pesquisas Tributárias, vol. 3, ob. cit., p. 247). 9 O artigo 150, § 7°, introduzido pela E.C. n. 3/93 admite a antecipação da incidência mesmo sem fato gerador, estando assim redigido: “§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”. 10 “REPRESENTAÇÃO N° 1394-4 Alagoas Representante: Procurador-Geral da República Representado: Governador e Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas EMENTA - Representação. Inconstitucionalidade da Lei n° 4418, de 27/12/82, do Estado de Alagoas, que define fato gerador de ICM, de modo a determinar a sua incidéncia em razão de simples deslocamento de insumos destinados à composição do produto, na mesma empresa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Representação n° 1.181, do Pará; Representação n° 1355, da Paraíba; Representação n° 1.292, de Mato Grosso do Sul. Inconstitucionalidade do § 20 do art. 264, da Lei n° 4.418/82, e do art. 375 e seu § único do Decreto n° 6.148/84, por violação do art. 23, inciso II, da Lei Magna. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, à unanimidade de votos e na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, julgar procedente, em pane, a Representação e declarar a inconstitucionalidade do § 20 do art. 264 da Lei n° 4.418/82 e art. 375 e seu § único do Decreto 6.148/84, do Estado de Alagoas. Brasília, 2 de setembro de 1987. Rafael Mayer - Presidente Djaci Falcão – Relator” (Advocacia Empresarial- Pareceres, Depto. Editorial da OAB/SP, 1988, p. 92). 296 “Representação. Inconstitucionalidade. a) Parágrafo único do art. 2° da Lei na 5106/83; b) locução na parte final do § 70, do art. 10 do Decreto na 2393/82, na redação do Decreto n° 3124/83; c) § 2° do art. 10 do Decr. n° 2393/83; d) locução na segunda parte do item 2 do § 1° do art. 14 do Decr. 2393/83, na redação do Decr. n° 3124/83, todos do Estado do Pará. Preceitos da legislação estadual que definem como fato gerador do ICM momento do processo produtivo no interior de uma mesma empresa agroindustrial, representando o simples deslocamento físico dos insumos destinados à composição do produto. Contrariedade ao art. 23, II da Constituição e legislação complementar. Representação julgada procedente. Representação n° 1181-Pará (Tribunal Pleno) - RTJ 118. Representação. Decreto-lei n° 66/79, art. 16, § 4°, na Redação da Lei n° 425/83, e Decreto n° 2822/84, art. 6°, todos do Estado de Mato Grosso do Sul. Inconstitucionalidade. A legislação estadual que determina a incidência do ICM sobre a saída de matéria-prima da fase de produção para a de industrialização, dentro de um mesmo estabelecimento, é inconstitucional, face ao art. 23 – II da Carta da República. Representação procedente. Representação n° 1292-MS (Tribunal Pleno) RTJ-118. Representação. Inconstitucionalidade do art.do Decreto n° 11.222, de 5/2/1986, do Estado da Paraíba. Ao declarar estabelecimento autônomo para autorizar a incidência do ICM estabelecimentos -engenhos, sítios e demais divisões fundiárias-- da mesma usina --unidade econômica-- contrariou o art. 23, II da CF., pois taxa o simples deslocamento físico de insumos destinados à composição do produto final da mesma empresa. Representação procedente. Representação n° 1355-PB (Tribunal Pleno)-RTJ Representação. Inconstitucionalidade da Lei n° 4418, de 27/12/82, do Estado de Alagoas, que define fato gerador de ICM, de modo a determinar a sua incidência em razão do simples deslocamento de insumos destinados à composição do produto, na mesma empresa. 297 Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Representação n° 1181, do Pará; Representação n° 1355 da Paraíba; Representação n° 1292, de Mato Grosso do Sul. Inconstitucionalidade do § 2° do art. 264, da Lei n° 4418/82, e do art. 375 e seu parágrafo único do Decreto n° 6148/84, por violação do art. 23, inc.II, da Lei Magna. Representação n° 1394-AL (Tribunal Pleno) RTJ 122/932”11. Desta forma, apenas as operações com intuito mercantil, que impliquem transferência de titulatidade da mercadoria, ou a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em diferentes unidades da Federação é que configuram circulação de mercadorias estando sujeitas ao ICMS, na parte da imposição que cuida, não de prestação de serviços, mas de fornecimento deste tipo de bens.12 Isto posto, posso passar a responder às três perguntas, subdivididas em subquestões. A primeira delas diz respeito à constitucionalidade do artigo 155, § 2°, inciso X, letra “b” da Constituição Federal, combinado com o artigo 3°, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96, ambos assim redigidos: “Art. 155...§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:... X. não incidirá: ... b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica”; “Art. 3° O imposto não incide sobre:... III. operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubnficantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização”. 11 A última das decisões foi publicada na RTJ 122/932. Escrevi: “Como se percebe, o novo e pretendido fato gerador de ICM (movimentação interna de mercadorias dentro de um estabelecimento) não mereceu acolhida doutrinária de nenhum dos 200 tributaristas presentes ao 3° Simpósio (1978), nem dos 500 presentes ao 1° Congresso Brasileiro de Direiro Tributário (1981). É que a hipótese não é prevista legalmente e por força do princípio da estrita legalidade e da tipicidade fechada, apenas se constitui fato gerador do ICM efetiva saída de mercadorias. O tipo tributário é bem claro e não admite interpretações extensivas, impossiveis por força do em, ou exegeses analógicas, também vedadas em face da nonna com eficácia de complementar que é a Lei 5.172/66. O tipo fechado no caso é a saída efetiva. A legalidade estrita apenas admite como saída a mercadoria que ultrapasse as soleiras do estabelecimento, por documento ou faticamente. Sem documento e sem saída efetiva, não é possível aceitar-se como fato gerador do ICM a simples movimentação interna, nos páteos de um mesmo estabelecimento, de mercadorias e um setor para o outro” (Direito Constitucional Tributário, 2ª ed., CEJUP, 1985, p. 174). 12 298 Como se percebe da comparação dos dois textos, a lei complementar introduziu uma “restrição” não constante da lei suprema13. O dispositivo da Carta Magna torna imune todas as operações relativas à circulação de energia elétrica (mercadoria) entre Estados, enquanto a disposição infraconstitucional reduz a imunidade apenas àquelas operações destinadas à industrialização e comercialização.14 Nitidamente, a lei complementar mutilou o texto constitucional, reduzindo a imunidade constitucionalmente concedida de forma ampla a todas as operações --inclusive as não destinadas à comercialização e industrialização-- com o que alterou o preceito constitucional, amputando o espectro da desoneração desejado pela lei suprema e tornando-a menor do que a ofertada pelo constituinte. Não vejo como possa ser tida por constitucional lei complementar modificadora da Constituição, que praticou, na linguagem médica, uma “imunotomia”, sem ter poderes para tanto.15 É de se lembrar que as imunidades estão entre os direitos individuais assegurados como cláusulas pétreas, não podendo, sequer, serem alterados por emenda constitucional, à luz do artigo 60, § 4°, inciso IV, da lei suprema, assim redigido: "Art. 60 ... § 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 13 Sacha Calmon Navarro Coelho condena a restrição: “A Lei Complementar n° 87/96 não é emenda à Constituição - regular limitações ao poder de tributar não implica presumir o minus dixit no dizer constitucional. O diploma referido dispás em seu artigo 3°, III o que segue: “Art. 3° - O imposto não incide sobre: (...) III- operações interestaduais relativas a energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização”. É dizer; se as operações interestaduais se destinaram a consumidor final (uso e consumo), serão tributadas no Estado onde ocorrer a saída. Noutras palavras, as operações interestaduais com combustíveis e enelgia elétri ca a consumidor final são tributadas. A título de regular limitação ao poder de tributar, tal é a imunidade constitucional, o legislador da lei complementar presume que o constituinte disse menos do que quis dizer e instaura a imposição tributária onde há vedação de incidência, clara e inequívoca. A solução da lei complementar é plausível, mas só pode ser feita por emenda constitucional. Se o Judiciário condescender com esta violência, estará derruindo todo o arcahouço constitucional, pondo em risco a sua, a dela, superioridade, imperatividade e intangihilidade” (O ICMS e a LC 87/96, Dialética, 1997, p. 125). 14 Misabel Derzi considera também a redução violadora da lei maior ao dizer: “Entretanto, a Lei Complementar 87/96, ao recuperar o princípio da não cumulatividade, reduzido e deformado anteriormente, por legislação inconstitucional, contém outros vícios como a limitação da imunidade da energia elétrica, petróleo e combustíveis, às operações interestaduais entre contribuintes (art.3°, III)” (O ICMS e a LC 87196, 00. cit., p. 95). 15 Não se pode esquecer a lição de Hugo de Brito Machado que sobre as imunidades hospedou concepção ampla e finalística: “Por outro lado, o elemento teleológico é de fundamental importância na preservação da supremacia da Constituição. A concepção estreita dos conceitos albergados na norma da Constituição não pode ser obstáculo na busca de realização da finalidade desta. Aliás, o elemento finalístico parece ser o de maior importância na interpretação das normas da Constituição, que a não ser assim não terá efetiva supremacia no sistema. Em se tratando de normas instituidoras de imunidade tributária, tem-se de considerar que toda imunidade tem por fim a realização de um valor prestigiado pelo constituinte, e sorte que o elemento teleológico é sempre o caminho para a efetiva realização dos valores supremos que o constituinte prestigiou” (Pesquisas Tributárias - Nova Série 4, Co-ed. CEU/Revista dos Tribunais, 1998, p. 82). 299 abolir: ...IV. os direitos e garantias individuais”.16 Ora, a parte “abolida” da imunidade pela lei complementar n. 87/96, nitidamente, representa violação ao direito individual à imunidade constitucional, lembrando-se que os direitos e garantias individuais, a que faz menção, o constituinte, abrange aqueles das pessoas jurídicas, meras instituições detidas por pessoas físicas. O próprio artigo 150 principia seu discurso fazendo referência às garantias individuais, entre as quais algumas das imunidades do inciso VI, e outras “garantias”, entre as quais se incluem as imunidades específicas (artigo 155, inciso X, 195, § 7°, por exemplo)17. Nitidamente, violadora da lei maior a restrição imposta por legislador menor, não constante do texto constitucional, razão pela qual, a meu ver, a expressão “quando destinados à industrialização ou à comercialização da L.C. n. 87/96, é de manifesta inconstitucionalidade”. À primeira sub-questão, respondo afirmativamente. Se constitucional fosse, que não é, a “amputação”, por via de lei complementar, do direito à ampla imunidade do artigo 155, § 2°, inciso X, letra “b”, haver-se-ia de entender por “comercialização” a venda de energia para todas as empresas que têm por objeto igualmente a sua "comercialização", ou seja, como interpreta - e corretamente - a consulente, aquelas empresas que têm por objeto mercantil o fornecimento de energia, com lucro, para terceiros. Todas as empresas que praticam atos mercantis com a energia, recebendo-a da consulente e “vendendo-a” a terceiros, são empresas que podem, nas operações interestaduais, adquitir energia imune, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 87/96.18 16 Comentei assim o dispositivo: “Em posição diversa, entendo que os direitos e garantias individuais são aqueles direitos fundamentais plasmados no texto constitucional--e apenas nele-o afastando-se, de um lado, da implici tude dos direitos não expressos ou de veiculação infraconstitucional, assim como restringindo, por outro lado, aqueles direitos que sâo assim considerados pelo próprio texto e exclusivamente por ele. Assim sendo, o artigo 150 faz expressa menção a direitos e garantias individuais, como tais conformados no capítulo do sistema tributário. Tal confonnação, à evidência, oferta, por este prisma, a certeza de que está ela no elenco complementar do artigo 150 e, por outro, que é tido pelo constituinte como fundamental. Por tal perfil, apenas os direitos e garantias individuais expressamente expostos no artigo da Constituição, seriam cláusulas pétreas. O Supremo Tribunal Federal parece ter hospedado tal exegese no momento em que não acatou como cláusula pétrea, o díreito individual do contribuinte a estar assegurado por um sistema tributário inelástico, com a válvula de escape decorrente da competência residual da União, visto que não era expressa a cláusula. Na ocasião, a E. C. n° 3193, entretanto, foi tisnada por aqueles que defendiam que os direitos individuais não seriam cláusulas pétreas, pois o STF acatou as cláusulas expressas. Assegurou, pois, o Pretória Excelso, os contribuintes, ao reconhecer a prevalência do explícito princípio da anterioridade, ou seja, o direito de não ser tributado no mesmo exercício, apesar de a exigência ser decorrente de emenda constitucional” (Comentários à Constituição do Brasil, 4° volume, Tomo I, 2ª ed., Ed. Saraiva, 1999, p. 414). 17 O artigo 195, § 7°, está assim redigido: “São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em Lei”. 18 Suprema Corte já decidiu que a Constituição desonera apenas através de imunidades. Leia-se trecho de emenda de questão patrocinada por meu escritório em que fica clara a exegese do Pretório Excelso: “EMENTA: MANDA DO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7°). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 300 Na mesma linha de raciocínio, há de se entender - como o fez a consulente - que todas as empresas que, mediante operações interestaduais, “adquirem” energia elétrica para utilização como insumo em sua produção, fazem jus à imunidade do ICMS. Apesar de o texto constitucional usar a expressão “não incidência” trata-se de verdadeira imunidade porque as desonerações constitucionais tipificam essa figura, não se confundindo com a da “não incidência”. A lei complementar, por força de repetição do texto constitucional, que não utilizou a expressão correta, também fala de não-incidência, não tendo porém esse equívoco na utilização da terminologia adequada, o condão de alterar a natureza da desoneração. É pacífica a jurisprudência da Suprema Corte em entender que as desonerações constitucionais são sempre imunidades, ou seja, vedação absoluta ao poder de tributar, ao contrário das outras formas desonerativas, deixadas à livre opçãó do poder tributante.19 Por outro lado, se constitucional fosse --que não é-- o dispositivo da L.C. n. 87/96, ainda assim haver-se-ia de entender imune a operação interestadual de fornecimento em que a energia elétrica é destinada a estabelecimentos industriais, para ser utilizada como insumo na fabricação de seus produtos, como é o caso das indústrias produtoras de alumínio. Tal imunidade para essas empresas, todavia, termina representando, apenas, uma postergação do pagamento do ICMS, visto que, pelo princípio da não-cumulatividade, o crédito do que foi pago na “aquisição” de energia elétrica deve ser compensado com o débito do imposto incidente na saída das mercadorias de sua produção para terceiros. Por fim, entendo que, mesmo as indústrias que adquirem apenas a energia necessária para pôr em funcionamento bens de seu ativo permanente, gozam de imunidade, na medida, em que, pelas Leis Complementares n. 87/96 e 102/2000, o ICMS incidente nestas operações, é compensável nas subseqüentes. Desta forma, pelo perfil que o ICMS tem na lei suprema e que foi conformado pela Lei Complementar, tudo o que gera crédito para ser compensado nas operações - A Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por qualificar-se como entidade beneficente de assistência social - e por também atender, de modo integral, às exigências estabelecidas em lei - tem direito irrecusável ao benefício extraordinário da imunidade subjetiva relativa às contribuições pertinentes à seguridade social. - A cláusula inscrita no art. 195, § 7° da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. - A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7°, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965” (grifos meus) (RMS 22.192-DF, Temas de Direito Público, Ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 140). 19 Escrevi: “A Corte Suprema tem igualmente atalhado as tentativas de, em prol do aumento da arrecadação, restringir-se o alcance da norma do art. 195 § 7° da CF por atos normativos infra-constitucionais, como demonstra a decisão prolatada no RMS 22192-9, de que se extrai o seguinte trecho: “ ...tratando-se de imunidade· que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional·revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7°, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à ora recorrente, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado plano normativo” (negrito nosso). Embora a questão debatida no acórdão acima transcrito versasse sobre ato administrativo, a conclusão se aplica também à lei infra-constitucíonal que, da mesma forma que aquele, deve conformar-se ao estatuto supremo” (Temas de Direito Público, Ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 141). 301 subseqüentes, é mercadoria destinada à industrialização, mesmo que não integre diretamente o produto.20 De qualquer forma, na interpretação mais limitada atribuída pela consulente, parece-me correta sua asseniva que a energia elétrica destinada à industrialização de produtos que a têm como insumos é imune, quando forneci da em operações interestaduais. 2) A resposta que Vv. Ssª ofertam à questão parece-me a mais adequada, na medida em que 1 - o contrato é feito com um comprador determinado, para fornecimento de energia; 2 - o gerador, que se comprometeu, no contrato, a fornecer a energia, só poderá fazê-lo por 20 Escrevi ao comentar o direito a compensação do ICMS incideme sobre bens do ativo permanente que: “O atentado à Constituição perpetrado pela Lei Complementar n° 102/2000 salta à vista, na medida em que se nega, no tempo, aplicação ao princípio da não-cumulatividade, exposto com clareza no texto supremo, nos termos seguintes: “Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: ... § 2°. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I- será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal” (grifos meus), à luz de uma conveniente, deletéria e corrosiva interpretação do artigo 155 § 2º inciso XII letra “c”, cuja dicção é a seguinte: “Art. 155 .... § 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: .... XII - cabe à lei complementar: ... c) disciplinar o regime de compensação do imposto”. É relevante perquirir, de início, o sígnificado do vocábulo “disciplinar”. Nos diversos dicionários, a sinonímia é a seguinte: “Novo Dicionário” de Silveira Bueno: “Fazer obedecer”, p. 219; Dicionário Aurélio: “submeter à disciplina”, p.122; Dicionário Ilustrado da Academia Brasileira de Letras, vol. II: “fazer obedecer”, p. 553. Disciplinar não é alterar. Disciplinar não é retirar direitos. Disciplinar não é conceder privilégios. Disciplinar não é suprimir. Disciplinar não é adulterar: Disciplinar não é violar direitos. Disciplinar não é transigir pro domo sua. Maria Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, assim explica o verbete: “Disciplinar: 1 - Relativo a disciplina. 2 - Sujeitar-se a uma disciplina. 3. - Fazer obedecer 4 - Estabelecer normas” (p. 189, volume 2, Editora Saraiva). À evidência, no caso das normas constitucionais, supra transcritas, salta aos olhos de qualquer intérprete de mediana cultura jurídica, que o princípio da não-cumulatividade opera-se por mecanismos de compensação que, em suas linhas mestras, estão no próprio texto supremo. Diz, claramente, a Carta Magna que o que for devido se compensará com o montante cobrado nas operações anteriores. Tal enunciado não necessita de explicitação. A disciplina legal possível, quanto aos períodos de apuração, nitidamente, não admite a postergação do direito, visto que o direito é de compensação, em cada operação, do tributo devido com o cobrado nas anteriores. Assim determina a Constituição. A disciplina dos prazos não estimula a dilatação do próprio direito, pois se os tributos anteriores são compensados na operação posterior e se o prazo for muito distendido, deixará o governo de receber o ICMS no período alargado. Por outro lado, em nenhum momento, o constituinte, declara que o tributo poderá ser compensado na proporção de 1/48 ou de 1/100 ou de um milésimo nas operações posteriores, mas impõe que o que “for devido em cada operação”, gerará o direito de compensação com montante cobrado (incidente) nas operações anteriores. Autorização para que o poder tributante possa reduzir o direito do contribuinte de integral aproveitamento, a percentuais, “pro domo sua”, ou seja, quando do interesse ou conveniência de governos geradores de “déficits” públicos -- apesar dos 33% da carga tributária em relação ao PIS -- não consta do texto constitucional e não pode ser objeto de qualquer disciplina legal. Em outras palavras, o que se pode definir no exercício da competência para “disciplinar” é a “forma”' da compensação e não o “percentual”, visto que o inciso I do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal em nenhum momento referiu·se a percentuais, mas sim a compensação integral do imposto incidente em cada operação com o cobrado nas operações anteriores. Se a lei determinar que o recolhimento do imposto é mensal, também a compensação deverá dar·se mensalmente, recolhendo o contribuinte o saldo devedor que eventualmente resultar da compensação. Ora, a Lei Complementar nº 102/2000, que altera o artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 e das inconstitucionais leis complementares 92 e 99, não pode determinar; ao alvedrio do legislador, que apenas parte do imposto devido pode ser compensado de imediato, devendo o saldo ser diferido por 48 meses. Quem diz 48, poderá no futuro dizer 100, 1000 ou 10.000 meses!!! Se se admitisse que o “ato de disciplinar” pudesse significar a anulação de um princípio constitucional, à evidência, cairia por terra o princípio da supremacia constitucional, pois a Constituição é que estaria subordinada à lei e não a lei à Constituição. Teriamos a inversão da pirâmide normativa, restando a lei ordinária ou complementar no topo da pirâmide legislativa e a Constituição subordinada às duas”(O ICMS e a LC 102, Dialética, 2000, p. 108/111). 302 meio do Operador Nacional do Sistema (ONS), nos termos regulados pela ANEEL; 3 - o ONS, segundo o contrato, fornece a energia recebida de todos os lugares e de todos os geradores, ao comprador; 4 - a geradora, à evidência, só poderá recolher o ICMS em decorrência do seu relacionamento com o comprador, à luz dos termos do contrato com este firmado, pois vende aquela energia e a entrega ao Sistema (ONS) para que seja repassada à empresa contratada; 5 - o modus operandi da ONS, que repassa a energia, de seu “estoque energético”, independente da origem, a meu ver, é matéria alheia à relação “geradora-comprador”, que devem considerar como fato gerador do ICMS o local da disponibilidade de energia, de acordo com o ajustado nos contratos.21 Nada obstante, a minha convicção de ser esta a única interpretação possível para a questão, sugiro consulta ao Estado ou Estados em que os contratos serão executados (operações internas ou interestaduais), juntando-se, inclusive, o presente parecer. Qualquer resposta diversa da que aqui apresento, ensejará recurso ao Judiciário que, na minha opinião, tenderá a hospedar a exegese ora exposta. 3) A Suprema Corte já tem decidido que a movimentação de mercadorias dentro do estabelecimento do mesmo contribuinte não está sujeita ao ICMS, tendo, inclusive, considerado como de circulação interna a colheita e remessa de cana das fazendas próprias ou arrendadas por usinas para seus estabelecimentos fabris.22 A operação descrita é, portanto, uma operação que se considera como realizada dentro do próprio estabelecimento, pois a geração se dará numa usina termo-elétrica situada na própria unidade fabril, que a utilizará. Nesta hipótese, não há circulação tributável por parte do Fisco Estadual, à luz da jurisprudência da Suprema Corte e do STJ. 21 A interpretação que oferto, baseia·se na linha exegétíca sugerida por Carlos Maximiliano, ao dizer: “Não se encontra um princípio isolado, em ciência alguma; acha·se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não é um conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico de normas coordenadas, em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio. De princípios jurídicos mais ou menos gerais deduzem corolários; uns e outros condicionam e restringem reciprocamente, embora se desenvolvam de modo que constituem elementos autônomos operando em campos diversos. Cada preceito, portanto, é membro de um grande todo; por isso do exame em conjunto resulta bastante luz para o caso em apreço” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª ed., Forense, 1979. p. 128). 22 A Súmula 166 do STJ tem a seguinte dicção: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 303 É de se considerar, pois, operação interna corporis, não sujeita ao ICMS. S.M.J São Paulo, 05 de março de 2001. IGSM/mos PGERASUL2001-6publ 304 305 NÚCLEO DE PESQUISA DOCENTE 306 307 HABEAS DATA E O CONCEITO DE REGISTRO OU BANCO DE DADOS* Conrado Rodrigues Segalla Advogado, membro do Instituto Bauruense de Direito Público, Professor de Introdução ao Estudo do Direito na ITE/Bauru, membro do Núcleo de Pesquisa Docente da ITE/Bauru, mestre em Direito Constitucional Por se tratar de inovação no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, criado com o advento da Constituição Federal de 1988, o habeas data ainda é um instrumento pouco conhecido e, por via de conseqüência, pouco utilizado, muito embora seja de suma importância para a consolidação de direitos fundamentais dos indivíduos. Para que este desconhecimento seja superado e o remédio constitucional seja aplicado em sua plenitude, torna-se necessário o deoenvolvimento de temas específicos voltados para esta garantia inclividual, fazendo com que se torne mais familiar aos que dele necessitam ou um dia necessitarão. Em razão desta situação, um dos assuntos mais relevantes e, lamentavelmente, maltratados do instituto é o de sua incidência. Inúmeras dúvidas surgem em relação a que tipo de informações pode o habeas data alcançar. Seria ele amplo e irrestrito? Ou sofre limitações no próprio texto constitucional? . São as respostas a estas indagações que buscaremos esclarecer, ainda que de maneira sucinta. Trata o artigo 5º, inciso LXXII da Constituição Federal de 1988: 308 “Art. 5° (...) LXXII - conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para retificação de dados, quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.” Da leitura da norma instituidora, nota-se que questão de extrema relevância para a formação de uma precisa opinião sobre a efetividade da utilização do habeas data é a análise dos temas referentes aos bancos de dados e das entidades governamentais. Tal afirmação é feita considerando-se o texto constitucional, que teve a preocupação em explicitar, não permitindo quaisquer dúvidas, a restrição de tal remédio a estas duas situações, dando ao instituto em questão limites claramente definidos. Compete-nos, pois, neste momento, debruçarmo-nos sobre o estudo do que seja “registro” ou “banco de dados”, já que o remédio constitucional enfocado tem como finalidade primordial a obtenção de dados pessoais do impetrante, presentes nestas duas situações, desde que pertencentes a entidades governamentais ou tenham caráter público. Nossa preocupação neste trabalho é identificarmos o conceito, alcance e abrangência de tais arquivos de consumo, para que possamos delimitar o campo de incidência do habeas data. Não se mostra tarefa fácil. Poucos doutrinadores se preocuparam com tal aspecto, sendo que encontramos maiores subsídios para nossa realização em estudos e obras voltados para o campo das relações de consumo. Tal situação ocorre porque a lei que disciplina referidas relações de consumo, conhecida pela denominação Código Brasileiro de Defesa do Consumidor1 traz, em seus artigos 43 a 45, dispositivos específicos para a matéria. Para melhor ilustrar este raciocínio e facilitar a identificação dos pontos a serem abordados, apresentamos o teor do artigo 43 do citado Código, in verbis: SEÇÃO VI - DOS BANCOS DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá acesso * o presente trabalho foi desenvolvido com a colaboração discente de Isabela Lopes Salomão Cury Segalla, aluna do 4° ano noturno da Faculdade de Direito de Bauru. 1 Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990. “Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” 309 às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1°. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. § 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. § 3°. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. § 4°. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. § 5°. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Conforme podemos perceber pela apresentação do artigo 43 da Lei 8078/90, inclusive pela própria denominação da seção VI (Dos bancos de dados e cadastros de consumidores), os cadastros elaborados e arquivados são o objeto específico da preocupação legislativa. A comparação entre estas normas legais infraconstitucionais e a estabelecida no inciso LXXII do artigo 5° da Constituição Federal nos levará à conclusão de que ambas se completam e se fortalecem, pois estão em harmonia plena. Devemos dar início, portanto, a estas divagações, com a apresentação do conceito do que venha a ser banco de dados, para, a partir de tal construção, verificarmos as demais implicações do assunto. Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin2 nos fornece um conceito de banco de dados, fazendo, entretanto, distinção entre banco de dados e cadastro de consumidores, colocando-os como espécies do gênero “arquivo de consumo”. Este é o conceito formulado pelo autor para 2 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover ... [et al]. 5ª ed .. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 329. 310 banco de dados: “O vocábulo “banco de dados” carreia a idéia de informações organizadas, arquivadas de maneira permanente em estabelecimento outro que não o do fornecedor que lida diretamente com o consumidor; ali ficam, de modo latente, à espera de utilização. A abertura do arquivo no banco de dados nunca decorre de solicitação do consumidor: Muito ao revés, é inteiramente feita à sua revelia. Finalmente, não é o arquivista o destinatário das informações armazenadas, mas, sim, terceiros, sendo ele mero veículo para a circulação destas. Já os cadastros assim não são entendidos. A organização e permanência não são suas características necessárias. Via de regra, o cadastro do consumidor é feito por ele próprio junto ao seu fornecedor atual ou futuro. Mas nada impede que a empresa acrescente a ele informações suas. Daí sua equiparação aos bancos de dados, uma vez que podem se tornar inexatos.” Defende, desta forma, o autor, a existência de divergência entre o que seja banco de dados e o que seja cadastros de consumidores, muito embora admita uma equiparação entre as duas espécies de arquivos de consumo, quando os cadastros receberem informações acrescidas pela empresa. Veremos, no decorrer do estudo, a peninência ou não de tal distinção para os fins da proteção dada pelo habeas data. Outro conceito para banco de dados é fornecido por Bertram Antônio Stürmer3, nestes termos: “A reunião de informações sobre uma pessoa, feita com um determinado fim ou não - concessão de crédito em lojas ou bancos, cadastramento de membros de uma classe econômica ou profissional, anamnese de consultórios médicos ou hospitalares e registros de tratamentos e evolução de doenças, dados estatísticos de institutos de pesquisa e IEGE, etc. - feito sob a forma de fichas manuais ou por processamento eletrônico, as quais, reunidas, armazenadas e ordenadas alfabeticamente, destinadas a consulta do próprio organizador ou de terceiros, constitui o que é chamado de banco de dados ou cadastro.” 3 STÜRMER, Bertram Antônio. Banco de Dados e “Habeas data” no Código do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, vol. I, p. 61 e ss. 311 Neste conceito formulado, não mais existe a distinção entre bancos de dados e cadastros de consumidores, muito pelo contrário, há um tratamento de isonomia, sendo, para o autor, sinônimos. Este mesmo pensamento é compartilhado por Antônio Janyr Dall’Agnol Júnior4, que repudia tal distinção, tratando como sinônimos tanto o banco de dados quanto o cadastro de consumidores. Saulo Ramos5, quando Consultor Geral da República, manifestou-se sobre os registros de dados, por ele enquadrados como elementos de ordem objetiva, exarando a seguinte posição: “Estes - os registros de dados - representam elementos, isolados ou agrupados, veiculadores de informações que são passíveis de processamento, manual ou automaticamente. Os bancos de dados, que podem conter várias bases de dados, constituem um sistema - a que se vincula um programa adequado de recuperação um sistema que opera o depósito ou armazenamento de elementos oriundos de diversas fontes, destinados ao múltiplo acesso dos usuários autorizados. As bases de dados, que os compõem, representam um conjunto de elementos (data), imprescindível à eficácia daquele sistema.” A questão que se apresenta é: seria pertinente a distinção entre banco de dados e cadastro de consumidores? Quais destas duas correntes traduz o melhor entendimento? Sendo eles distintos, mostra-se necessário estudá-los em separado? Seriam eles elementos um do outro? Ou seriam apenas sinônimos? Importante se mostra a resposta a esta questão, para se definir o alcance do habeas data. A resposta não está clara nas produções científicas jurídicas, por uma única razão. O Direito nunca se preocupou com tais questões, posto que estavam elas mais afetas à área de Administração de Empresas, Marketing, Estrutura de Vendas e, por último, à Informática. Os juristas sempre passaram distante destas perguntas, pois não carregavam significativa carga que justificasse a preocupação deste ramo da Ciência. Esta situação se modificou com o advento da atual Carta Magna que, ao instituir de maneira inovadora o habeas data como instrumento de proteção dos direitos da personalidade, fê-la visando a coibir os abusos praticados por meio de registros ou bancos de dados. A conseqüência desta atitude foi o despertar dos juristas para a importância das relações 4 5 Dall’Agnol Júnior, Antônio Janyr. Cadastros de Consumidores. Revista Ajuris, v. 51, p. 196. RAMOS, J. Saulo. Parecer nº SR - 71. DOU, v. 126, nº. 194, seção I, de 11 de outubro de 1988, p: 19810. 312 advindas entre os organizadores de informações pessoais de terceiros e as pessoas que têm suas informações reunidas, com ou sem a permissão para tanto. Não somente os juristas “descobriram” este mundo obscuro e carente de proteção, também os legisladores federais se deram conta da relevância do tema, inserindo no texto final da lei nº. 8078190, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, seção específica para tal tema. Posteriormente, nova produção legislativa foi realizada, para regulamentar o direito de acesso a informações e disciplinar o rito processual do habeas data. Trata-se da lei 9507/97, que entrou em vigor na data de 13 de novembro de 1997. Qual foi a preocupação do constituinte originário quando escolheu os bancos de dados para serem protegidos pelo habeas data? Teria sido consciente tal escolha, com o conhecimento das divergências existentes acerca de banco de dados e cadastro de consumidores? Teria ele querido dizer “arquivo de consumo” ao invés de banco de dados? Queremos crer que, para os fins maiores da Constituição Federal, não se deva restringir a garantia constitucional por questões de terminologia estranha ao mundo jurídico. Não se pode exigir do legislador profundo conhecimento dos meandros do mercado, nem se pode esquecer que, antes de legisladores, são eles também consumidores, acostumados, portanto, a tratar genericamente as informações organizadas como bancos de dados. Entretanto, tal opinião deve ser fundamentada, sob pena de não se revestir de credibilidade. Vejamos as razões que nos levaram à conclusão apontada. A distinção feita por Vasconcellos e Benjamin não consegue, em termos práticos, apontar significativa diferença entre banco de dados e cadastro de consumidores no que tange às suas relações nocivas envolvendo os indivíduos. O fato de serem obtidos por terceiros ou fornecidos pela própria pessoa não impede a incidência do remédio constitucional. Isto porque, se a alínea “a” do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição Federal menciona a possibilidade de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados, também é verdade que a alínea “b” do mesmo dispositivo garante a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ora, a retificação de dados pode ser necessária tanto para aqueles arquivos formados pela pesquisa de terceiros ou para aqueles formados com o auxílio do próprio impetrante. O mesmo se diga em relação à exclusão de dados, que se socorre das mesmas razões apontadas no parágrafo anterior. Valemo-nos, ainda, das características do banco de dados e dos cadastros de consumidores para defender a sua semelhança, ao menos para os fins da proteção constitucional. Stürmer6, ao estudar tais meios de informação, atesta que ambos possuem, em relação a 6 STÜRMER, Bertram Antônio. Banco de Dados e “Habeas data” no Código do Consumidor.Revista de Direito do Consumidor, voI. 1, p. 66 313 quem deles se utiliza, os mesmos destinatários, dividindo-se para uso do próprio proprietário do banco de dados, para uso dos associados do banco de dados, para venda a terceiros e para uso público e publicação. Ainda, quanto à natureza dos dados contidos, podem ser de informações gerais ou de informações sobre débitos. Ainda, dividem-se igualmente em relação à forma de cadastramento, que pode ser voluntário ou requerido, não voluntário ou não requerido. Podemos, ainda, usar para os mesmos argumentos a natureza do órgão de cadastramento e a finalidade dos dados do banco Outra razão a amparar este entendimento diz respeito às espécies de direitos protegidos pelo habeas data. Nos termos da lição de José Afonso da Silva, um dos idealizadores deste remédio constitucional, os direitos garantidos pelo habeas data são aqueles que ele denomina de sensíveis, ou seja, aqueles que dizem respeito ao mais íntimo do indivíduo, sua dignidade. Este é o ensinamento aludido: “...Esse amplo domínio dos sistemas de informação gera um processo de esquadrinhamento das pessoas que ficam com sua individualidade inteiramente devassada. O perigo para a privacidade pessoal, é tanto mais grave quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão de fichários com a possibilidade de formar grandes bancos de dados que desvendam a vida dos indivíduos, sem sua auton'zação e mesmo sem seu conhecimento. É fácil perceber que daí decorrem atentados à intimidade das pessoas pelo uso abusivo e ilícito desses registros...pela introdução de dados sensíveis (assim chamados os de ôrdem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.), pela conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei ...” Sendo os direitos de que se preocupa o habeas data tão imponantes e valiosos, a ponto de receberem a denominação de sensíveis, seria razoável desprezá-las pela única e simples razão de terem sido obtidos mediante cadastro de consumidores? Existem diversas formas de se interpretar a norma jurídica, seja ela de que natureza for. Com relação à extensão de seu alcance, a interpretação pode ser restritiva, extensiva ou declarativa. No presente caso, impõe-se como medida inquestionável que o texto constitucional, no que tange à específica lacuna “registros ou bancos de dados”, seja realizada uma interpretação extensiva, concordando com a precisa lição de Michel Temer7, que expressamente faz esta defesa, 7 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, 13ª edição, p.212. 314 ao afirmar que: “...No preceito referente ao habeas data não se verifica essa restrição. Não há como, em matéria de direito individual, utilizar-se de interpretação restritiva. Ela há. de ser, nessa matéria, ampliativa.” Estamos lidando com direitos fundamentais, protegidos por garantias fundamentais. O destinatário de tais direitos e garantias é o indivíduo, formador do povo, aquele que a Constituição Federal, logo em seu artigo 1º, parágrafo único8, atesta ser detentor do poder. Se o destinatário da norma é o indivíduo interessado, é em seu favor que a norma deve ser interpretada, aquilo que se denomina chamar interpretação in bonan partem. Não por outra razão apontam Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior9 a existência de duas espécies de bancos de dados, sem fazer menção a divergência em relação aos cadastros de consumidores. Para os autores, deve-se considerar, para a finalidade do habeas data, as informações organizadas pelo Poder Público e as organizadas por particulares, desde que estas últimas sejam “terceirizáveis”. Percebe-se, claramente, que a grande e única preocupação do legislador constituinte, quando da elaboração da atual Carta Magna, acolhendo as ponderações formuladas por José Afonso da Silva à Comissão Afonso Arinos, foi a de inserir uma forma de proteção a todos os meios de obtenção de informações. Desta forma, defendemos que a expressão banco de dados, constante no texto constitucional, não deva, jamais, ser interpretada restritivamente, sob pena de se descaracterizar por completo o instituto. Não se vislumbra, em qualquer estudo isolado ou comparativo com outros dispositivos presentes na Constituição Federal, qualquer pretensão à limitação da concessão do habeas data em razão de versar, estritamente, sobre registros ou bancos de dados. O desconhecimento do legislador acerca de termos técnicos deve ser considerado, por amor à Justiça, sendo que a terminologia em questão deve ser interpretada sempre em favor do particular, estendendo-se a proteção do habeas data também às violações cometidas em sede de cadastro de consumidores. 8 art. 1°, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. ARAUJO, Luiz Alberto David & NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 124. 9 315 OS TRUSTS - SECURITIZATION EM DIREITO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA1 Daniel Freire e Almeida Pós-Graduado e Mestrando em Ciências Jurídico-Comunitárias (Direito da União Europeia) na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Portugal, Advogado, Professor de Direito Internacional e Pesquisador do Núcleo de Pesquisa Docente da Faculdade de Direito de Bauru. I. INTRODUÇÃO O creditum como fenômeno econômico, importa num acto de confiança e, desenvolveu-se, buscando maior utilidade, produtividade, bem como maneiras que permitissem a produção de riquezas. Esta busca infindável, possibilitou a criação dos títulos de crédito, simplificando a circulação de capitais e, aperfeiçoou-se, tornando o seu estudo num dos pontos altos nos países da common law. Seus vários tipos e espécies procuraram institutos que permitissem vantagens com custos mínimos. Hodiernamente, a titularização de créditos norte-americana encontrou nos Trusts a resposta Ad causam. Em princípio, confessamos a dificuldade em abordar um tema que se encaixa no Direito das Coisas, é utilizado no Direito das Obrigações, Sucessões, Direito de Família, Comercial, pressupondo conhecimentos no Direito Financeiro e Bancário. Entretanto, é na condição de investigador, numa perspectiva de máximo interesse, que nos dedicaremos ao estudo dos Trusts, nos contornos da Securitization nos Estados Unidos da América, antecipando, desde já, tratar-se de um instituto que por sua flexibilidade e eficiência económica reveste-se como melhor opção em relação aos diversos institutos da civil law, mas 1 Trabalho apresentado na disciplina de Direito das Finanças Privadas, ministrada pelo Professor Doutor Diogo Leite de Campos, no âmbito do Curso de Mestrado em Ciências Jurídico-Comunitárias (União Europeia) na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em Portugal. Por conseguinte, as normas seguidas encontram-se em consonância com o regime do Direito Português. 316 possuidores de objectivos semelhantes. De facto, verifica-se a presença do Trust mais acentuadamente nos sistemas de tradição jurídica anglo-americana. Nestes, seu funcionamento é susceptível de diversas aplicações, solucionando problemas, além de exercer um papel renovador, clamado pelas novas exigências sócio-económicas. Seu estudo justifica-se face à sua adaptação às variadas finalidades, com relevância sobremaneira em matéria financeira. Desde a administração de bens, gestão, transmissão e administração de empresas, protecção da família, até para fins de interesse público. Em continuidade, como já antes explicitado, procederemos à adequação do Trust nos domínios da titularização de créditos nos Estados Unidos da América. Para este fim, dividimos a presente exposição em três partes. Ab initio, ao estudo do Trust, com prosseguimento à Securitization, culminando, à guisa de conclusão, à in· tegração dos temas referidos. Tudo, pois, na esfera espacial norte-americana. II. OS TRUSTS Uma única definição para o instituto do Trust pode reduzi-lo a uma única categoria de finalidade, o que não é verdade. Sua larga utilização permitiria-nos encontrar vários conceitos. Além disso, nos Estados Unidos da América, como um país de sistema federativo que são, existem diferentes paradigmas para este quadro jurídico, variando de Estado para Estado. No entanto, poderíamos afirmar, como primeira ideia, que o Trust é uma relação jurídica na qual uma pessoa recebe a propriedade sobre alguns bens, sendo obrigada a administrá-ios em benefício de outra. Mais especificamente, (REUTLINGER, 1993)2 define: “fiduciary relationship with respect to property, in wich one person (the trustee) holds property (the trust res) for the benefit of another person (the beneficiary), with specific duties attaching to the manner in wich the trustee deals with the property.” Os personagens citados por esta prima definição3 (Iruslee e beneficiary), em conjunto com o settlor envolvem a estrutura subjectiva do Trust anglo-americano, onde temos: o settlor como fundador do Trust, transferindo ao trustee os bens ou direitos (Res), e este, a partir daí, administra-os em favor do beneficiário. 2 Cfr. REUTLINGER, M., Wills, Trusts, and Estates, Essential terms and Concepts, Boston, New York, Toronto, London, Little, Brown and Company, 1993, p. 143, in LEITE DE CAMPOS, D. e VAZ TOMÉ, M.J., A Propriedade Fiduciária (Trust), Estudo Para A Sua Consagração No Direito Português, Almedina, Coimbra, 1999, p.19. 3 Outras definições do Trust vide in: TRIPET, E, Trusts Patrimoniaux Anglo-Saxons Et Droit Fiscal Français, Litec, 1989, p. 3-4; SALVATORE, v., Il Trust, Profili di Diritto lnternazionale e Comparato, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1996, p. 3-17; US MASTER TAX GUIDE 1980, par. 401, CCH Ed.: Convenção de Haia, 1985, art. 2º. 317 Neste passo, algumas regras básicas devem ser seguidas nesta estrutura. Primeiramente, quanto ao seulor, o Trust só pode ser constituído com a sua declaração de vontade, e este ser realmente o titular (ou estar para isto autorizado) dos bens ou direitos que se deseja transferir. No acto constitutivo, deve o seulor transferir estes bens ao trustee (que terá o legal tittle) para geri-lo em benefício de outrem (que terá o beneficial tittle). Com este quadro, inicia-se o Trust, com o trustee numa posição de domínio absoluto sobre a Res, alertando-se para o facto de que à medida que crescem seus poderes, aumentam seus deveres, bem como as sanções que pode vir a sofrer no caso de violar a confiança a si depositada pelo settlor. Neste sentido, (BEILFUSS, 1997)4 discorre sobre as três certezas que devem ocorrer para que seja constituído um Trust: “Para que esto ocurra es necesario, en primer lugar; que el settlor tuviera la voluntad de crear un trust (certainty of intention)... Junto a la certainty of intention o primera certeza es necesario que los bienes objeto de trust hayan sido transmitidos al trustee y sepa exactamente cuáles son (certainty of subject matter) y que se pueda determinar quienes son los beneficiarios pues sólo ellos pueden controlar el trust (certainty of object).” Ocorre, a título de ilustração que, ao contrário das disposições legais, os norte-americanos têm preferido esta confiança em terceiros para administrar bens para outrem, in casu, o beneficiário (Cestui que Trust). É este quem adquire o beneficial tittle sobre a Res. O chamado credor do trustee pode ser também o settlor ou o próprio trustee, devendo-o ser determinado com exactidão, por vontade do settlor. Em continuidade, este quadro jurídico que tem sido usado nos EUA. para a administração de bens, pode levar-nos, inconscientemente, a compararmos com figuras jurídicas conhecidas pelos sistemas da civil law, como a Fiduciae do Direito Romano, a Treuhand do Direito Alemão5, Il Negozio Fiduciário6 no ordenamento jurídico Italiano ou La Fiducie do Direito Francês. Mas, assim como a fidúcia possui realidades diferentes nestes sistemas, a situação não é diferente em relação ao Trust. As dificuldades existentes na integração do Trust aos sistemas jurídicos continentais anunciam suas peculiaridades, mas não devem oferecer óbice eterno à sua adopção, definitivamente.7 Neste mesmo sentido, é a afirmação de (LEITE DE CAMPOS E VAZ TOMÉ, 1999): “O trust foi adaptado em diversos sistemas de tradição não anglo-americana. Em virtude de razões 4 Cfr. BEILFUSS, C. G., EI Trust, La Instituición Anglo-Americana Y El Derecho Internacional Privado Espanõl, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1997, p. 32-34. Cfr GRUNDMANN, S., Trust and Treuhand at the End of the 20th Century. Key Problems and Shift of Interests, The American Journal of Comparative Law, Volume 47, Number 3, Summer, 1999, p. 401-428. 6 Crf. CARBONE, S. M., Autonomia Privata, Scelta della Legge Regolatrice Del Trust e Riconoscimento dei suoi Effetti nella Convenzione dell’aja Del 1985, Rivista di Direitto Internazionale Privado e Processuale, N. 4, Ottobre-Dicembre, Padova, 1999, p. 773-788; Crf. SALVATORE, V. Il Trust, Profili di Diritto Internazionale e Comparato, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1996, p. 33-48. 7 Vide GUILLAUME, E, Incompalibilité du Trust avec le Droit Suisse? Un Mythe s' effrite, Schweizerische Zeitschrift fur lnternationales und Europaisches Recht/Szier, 1/2000, 10. Jahrgang, p. 1-36. 5 318 derivadas de acidentes sofridos pela história do direito, a perspectiva dos sistemas continentais relativamente às relações juridicas análogas àquela dos trusts baseia-se, essencialmente, nos contractos, enquanto a anglo-americana se fundamenta nos direitos reais. Ainda por razões de natureza histórica, nos sistemas jurídicos da common law o trust funciona como um instituto susceptível de ter inúmeras aplicações, diferentemente dos ordenamentos jurídicos da civil law onde se recorre a uma pluralidade de institutos para resolver problemas que o trust soluciona de um modo substancialmente mais simples. Todavia, estes institutos não representam um sucedâneo idóneo e cabal do trust. Por isso se tem manifestado a vontade de introdução do trust como um instituto de vocação geral.”8. Com uma origem longínqua, baseada na justiça, onde o titular do direito de propriedade exerce-o em benefício de outra pessoa, o Trust foi passado dos ingleses aos none-americanos assim como sua cultura jurídica e social. Hoje, praticamente todos os Estados none-americanos prevêem os Trusts, com a divisão da propriedade entre o trustee e o beneficiário constituindo o traço diferenciador do Trust. Para (CHALHUB, 2000):9 “Na dinâmica desse negócio, o trustee é investido dos poderes de proprietário, mas só nominalmente (nominal propierty), pois, na verdade, recebe a propriedade somente para administrar em proveito do cestui que trust, ou do próprio settlor, estes, sim, os destinatários do conteúdo económico dessa propriedade (equitable propierty). Com efeito, o trust é, por excelência, instrumento de administração de bens e direitos pelo qual é possível “isolar” os bens-objeto de determinado negócio e com ele constituir património autônomo, que não se comunica com o património da instituição administradora do investimento e é inteiramente independente, de modo que eventuais insucessos dessa instituição não atingem os direitos dos investidores. A utilização do trust para esse fim (investiment trust) começou na Inglaterra na segunda metade do século passado e dali se estendeu aos Estados Unidos e Europa.” Integrado ao Direito das Coisas, o Trust encontra-se nos E.U.A. com uma estrutura jurídica e legal. Alguns Estados adoptaram Trust Codes, tais como New York (seguido em muitos aspectos por Michigan, Wisconsin e Minnesota), California (seguido por Montana, North Dakota e South Dakota), Georgia, Indiana, Louisiana, Pennsylvania, Texas e Washington. Trust acts análogos foram consagrados em Illinois, Maryland, Missouri e Oklahoma. Exemplos de uma tentativa de codificação de parte do Direito dos Trusts são o Uniform Fiduciares Act, o Uniform Principal and Income Act, o Uniform Trusts Act, o Uniform Trustees `Accounting Act, o Uniform Common Trust Fund Act, o Uniform Testamentary Additions to Trusts Act, o Model Prudent Man 8 Cfr. LEITE DE CAMPOS, D. e VAZ TOMÉ, M. J., A Propriedade Fiduciária (Trust), Estudo Para A Sua Consagração No Direito Português, Almedina, Coimbra, 1999, p. 297-299. Vide LANGBEIN, J.H., The Secret Life of the Trust: The Trust as an Instrument of Commerce, The Yale Law Journal, Volume 197, Number 1, October, 1997, p. 165-189. 9 Cfr. CHALHUB, M.N., A Regularização do Trust no Direito Brasileiro, Artigo in Gazeta Mercantil, 30.03.2000 319 Investment Act, o Uniform Trustee `Power Act e o Uniform Probate Code. No mesmo passo, em 1935, o American Law Institute terminou a elaboração do Restatement of the American Law of Trusts, que estabelecia as regras respeitantes à constituição e à administração do Trust. Em 1957, a revisão deste resulta no Restatement of Trusts, Second, que, por sua vez, se encontra em processo de modificação que terminará no Restatement of Trusts, Third. Por seu turno, o Restatement of Restitution contém normas relativas ao constructive Trust tracing Trust property remedy. Finalmente, o Restatement of Property compreende regras sobre a constituição do Trust e os direitos do trustee e do beneficiário (LEITE DE CAMPOS E VAZ TOMÉ, 1999).10 Em prosseguimento, nos termos da classificação dos Trusts, os Charitable, são aqueles que visam a beneficiar a comunidade (fins religiosos, hospitalares, aos idosos, incapazes, entre outros), sendo, nos E.U.A., uma alternativa à fundação. Já os Private Trusts, vistos na perspectiva do beneficiário, diferem dos Charitable, pois naqueles (Private) os beneficiários são personas que têm legitimidade para executar o settlor e com ele guardam alguma relação. Os Private, aplicando-se o critério “da autonomia da vontade à constituição do Trust”, dividem-se em Express11, Resulting e Constructive Trusts. Sendo que se temos uma vontade expressa do settlor em criar um Trust, estamos diante de um Express Trust. Se esta vontade é presumível, faltandolhe o animus donandi e se promova a transmissão da Res a título gratuito, temos um Resulting Trust. Já aqueles Trusts criados pelos Tribunais, como “remédio” imposto pela eqüidade, são denominados de Constructive Trusts. Há, ainda, outras classificações dos Trusts, nomeadamente: Legal, Illegal, Passive, Active, Testamentary, Inter vivos, Revocable, Irrevocable, Spendthrift, Protective, Support, Discretionary, Blended, Funded, Unfunded Life Insurance, Land, Massachusetts Business, Illinois Land, Unit, Totten, Farkas v. Williams e Family Trusts.12 Pari passu, pode-se concluir a flexibilidade deste instituto, sua multiplicidade de funções como bem definem (LEITE DE CAMPOS E VAZ TOMÉ, 1999)13: “o trust é pois usado para a realização de uma multiplicidade de fins, sendo considerado como o instituto anglo-americano mais flexível em virtude de ser susceptível de desempenhar um papel em quase todas as esferas da vida. O recurso ao trust dá origem a relações fiduciárias, a relações que surgem da confiança que um sujeito deposita noutro.” Enfim, o Trust funciona como uma forma de elevar os rendimentos de um capital que constitui um património separado do daquele do seu titular legal. Nas palavras de (SILVA 10 Cfr. LEITE DE CAMPOS, D. e VAZ TOMÉ, M. J., A Propriedade Fiduciária (Trust), Estudo Para A Sua Consagração No Direito Português, Almedina, Coimbra, 1999, p. 29-30. Os Express Trusts podem ainda ser Executed, Completely, Constituted e lncompletely Constituted. 12 Vide LANGBEIN, J,H., The Secret Life of the Trust: The Trust as an Instrument of Commerce, The Yale Law Journal, Volume 197, Number 1, October, 1997, p. 165-189. 13 Cfr. LEITE DE CAMPOS, D. e VAZ TOMÉ, M. J., A Propriedade Fiduciária (Trust), Estudo Para A Sua Consagração No Direito Português, Almedina, Coimbra, 1999, p. 31-32. 11 320 PEREIRA, 1999)14 “...separados do patrimônio e afectados a determinado fim, são tratados como bens independentes do patrimônio geral do indivíduo.” Em síntese, por ser o Trust um quadro jurídico de relações simples, abre espaços para diferentes combinações, podendo ser criado em decorrência de uma transferência de propriedade inter vivos ou causa mortis. Os seus bens (Res) podem ser de qualquer classe. O settlor pode ser o trustee ou um dos trustees. Este, por sua vez, pode possuir direitos como beneficiário. Por fim, os beneficiários podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Portanto, como afirma (BEILFUSS, 1997)15 “…en el Derecho angloamericano el trust es una instituición universal que se utiliza en múltiplos contextos y para las más diversas finalidades.” Neste passo, ressalta-se o papel crescente que desempenham os departamentos de Trusts dos bancos e companhias de seguros norte-americanas, bem como das companhias gestoras de Trusts. Verifica-se que estas entidades administram eficientemente os patrimônios de terceiros que preferem um profissional que realize esta função.16 Com este fim, estes “terceiros” transferem o legal tittle de determinados bens para estes profissionais e podem até autodenominar-se (ou alguns familiares) como beneficiários. Ao que completa (CHALHUB 2000)17: “De facto, além dos investment trust, que são o exemplo mais comum, são inúmeras e cada vez mais frequentes as situações em que se torna necessária a actuação profissional para a administração de patrimónios, nas quais a transmissão da propriedade de bens ao administrador se torna necessária, para melhores resultados das aplicações. Nos mercados financeiro e capitais, por companhias administradoras que dispõem de profissionais tecnicamente habilitados. Além disso, sabe-se que para melhor aproveitamento do potencial econômico dos bens é conveniente que sua exploração seja racionalizada, em carteiras administradas por profissionais, com a utilização de tecnologia que, em regra, é inacessível ao homem comum.” A seguir arremata: “Para essas modalidades de negócio é essencial delimitar riscos mediante segregação de patrimônios, e isso o trust oferece com a máxima eficácia.” Hoje, o Trust é um importante instrumento nos negócios norte-americanos, na medida em que potencializa a chance de auferir lucros e a redução dos custos em comparação a outros institutos jurídicos. Com esta ideia é que finalizamos esta parte da exposição. III. SECURITIZATION 14 Cfr. SILVA PEREIRA, CM., Instituições de Direito Civil, Forense, vol. 1, Brasil, 1999, p. 251. Cfr. BEILFUSS, C G., El Trust, La instituición Anglo-Americana Y EI Derecho internacional Privado Espanõl, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1997, p. 42. 16 Vide LANGBEIN, J.H., The Secret Life of the Trust: The nust as an instrument of Commerce, The Yale Law Journal, Volume 197, Number 1, October, 1997, p. 165-189. 17 Cfr. CHALHUB, M.N., A Regularização do Trust no Direito Brasileiro, Artigo in Gazeta Mercantil, 30.03.2000. 15 321 Passamos agora à Securitization. Primeiramente, cabe-nos destacar a razão da utilização deste vocábulo. Enquanto que Portugal adoptou o uso da expressão Titularização, na Espanha utiliza-se Titulización, em França La Titrisation, na Inglaterra Securitisation, no Brasil Securitização, e na Bélgica La Tittrisation. No entanto, preferiremos a designação norteamericana: Securitization, por ser neste espaço jurídico o objectivo de nosso estudo. Sendo assim, igualmente, neste espaço geográfico deu-se seu surgimento18, nos idos de 19 1930 , durante a “grande depressão”20, para, progressivamente, atingir nos anos oitenta o modelo ao qual nos reportaremos, de financiamento de empresas a crédito. A partir daí, com a adopção da Securitization, as instituições financeiras tiveram seus tradicionais domínios substituídos pelos agentes financeiros que passaram a financiar as empresas. Assim discorre (CMARA, 1998)21: “No contexto norte-americano, a forma embrionária de titularização implicava uma aquisição de créditos por bancos. Ulteriormente, o processo passou a ter como característica o facto de envolver transmissões de créditos do seu detentor originário (na giria designado por originator ou sponsor) para uma outra entidade, que funcionaria como “veículo” da operação de financiamento (special purpose vehicle ou special purpose entity) através da emissão de valores mobiliários.” Dessa forma, pode-se perceber a Securitization quando o dono de bens (activos) financeiros angaria dinheiro (capital) pela conversão daqueles bens em empréstimo, representando-os por valores mobiliários negociáveis no mercado. Ao lado do cedente (originator) figura o cessionário (SPV) que emite os valores mobiliários com base nos créditos cedidos.22 Neste passo, a Securitization define-se pela conversão de créditos em títulos colocáveis no mercado. (DICHTER, 1998)23 define: “Securitization, also known as structured financings, raise money for an owner of “financial assets” by coverting thase assets into securities. “Financial assets” are assets that represent payment abligatians af third parties” De bom alvitre destacar que a estrutura de transacção jurídica dos bens securitizados é isolada dos efeitos de uma eventual falência do criador destes activos.Exceptuando-se o risco pelo não pagamento das obrigações, afigura-se o que os norte-americanos chamam de “fire wall” entre os bens securitizados e todos os riscos. Assim, o originator cede os créditos não ficando responsável perante os compradores pelo cumprimento das dívidas. Os credores do originator não 18 A Securitization tinha por base a emissão de valores mobiliários garantidos por direitos de crédito com garantia hipotecária, nos contornos do mercado hipotecário (mortage·backed securities). Cfr. NORTON, J.J., DUPLER, M.S., SPELLMAN, International Asset Securitisation, London, 1995, p. 2·10. - Sobre a crise de 1929 vide GALBRAITH,.J. K., The Great Crasb 1929, Boston, 1979. 20 Cfr. CMARA, P., A Operação de Titularização, in Conferência proferida no Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998 21 Sendo o que ocorre na maioria das vezes. 22 Cfr. DICHTER, B.J., Titularização nos Estados Unidos, in Conferência proferida no Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998 23 Crf. DICHTER, B.J., Titularização nos Estados Unidos, in Conferência proferida no Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998. 19 322 podem atacar a transacção, para possibilitar a segurança em relação aos investidores. Em prosseguimento, a indústria ou empresa que deseja adquirir um capital hábil à prossecução de seus negócios, cede os seus créditos ao público na forma de títulos e o público, por sua vez, passa a correr o risco do financiamento, em troca de rendimentos mais vantajosos. Nesta linha, a operação de Securitization pressupõe a realização de determinadas fases que podem ser sintetizadas com o seguinte esquema: 1º Fase de selecção e avaliação dos créditos para a Securitization, através da notação de risco (rating)24. 2º Fase de cessão de créditos para a Securitization, a favor do emitente de valores mobiliários. 3º Fase de emissão de valores mobiliários para introdução no mercado. Por conseguinte, o mercado de títulos é aquecido, além de que há uma nova possibilidade de rotatividade económica para as empresas. A seu turno, os investidores são agraciados por uma forma mais segura de rentabilizar seu capital25;. Com efeito, a Securitization nos moldes praticados nos Estados Unidos da América, tem sido responsável pelo crescimento e desenvolvimento da economia norte-americana26. Com certeza, está entre os principais factores. Inúmeros negócios têm sido possibilitados devido a esta forma de financiamento. Com isso, a circulação de capitais é elevada e ganhos gerais são computados. Há uma ilimitada utilização prática naquele país. Bens passíveis de serem titularizados vão de créditos futuros (recebíveis) a créditos presentes. Como exemplos: recebíveis de cartões de créditos, alugueres de automóveis, financiamento de automóveis, alugueres de equipamentos, recebíveis de hospitais privados, royalties de artistas, recebíveis de passagens aéreas, financiamento de aviões, alugueres de aviões, recebíveis de películas de cinema, financiamento de navios, entre muitos outros. A partir daí, pode-se constatar o aumento de rotatividade financeira e os ganhos econômicos para o país. Em continuidade, nos E.U.A., há instituições exclusivas para o fim da Securilization, que são as Special Purpose Vehides - SPV. Estes agentes da Securitization são os fundos de investimentos, as sociedades de investimentos e também os Trusts.27 Tanto os fundos de investimentos como as sociedades de investimentos em Securitization são instrumentos mais conhecidos e melhor constituídos em países de origem não anglosaxónica28 Porém, nos EUA., o Trust é o principal guia da Securitization. 24 Sobre o rating vide in STANDARD & POOR'S NEW ASSETS, New York, 1996. Recorde-se o fire wall. Cfr. DICHTER, B.J., Titularização nos Estados Unidos, in Conferência proferida no Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998 27 Vide SMETTERS, K., Three Key Design Issues in Analyzing the Trust Fund Investment Policy, National TaxJournal, Vol. LII, nº 3. 28 Sobre Securitization na Europa vide in BAUMS, T., Asset-Backed Securitization in Europe, 1996. 25 26 323 IV. CONCLUSÃO – INTEGRAÇÃO TRUSTS E SECURITIZATION A existência dos Trusts nos E.UA possibilitou, por sua rápida e acessível constituição, tornar-se a Special Purpose Vehicle mais largamente adaptada para a Securitization, sendo a ideia que tomamos como referência. Lá, o cessionário estruturase como Trust. Como exemplo, o settlor transfere a propliedade de seus bens ao trustee, que os administra de acordo com as especificações designadas, sendo em benefício do próprio settlor (ou de pessoas por ele indicadas) que recebem a renda gerada, bem como os bens ao fim do Trust. Mais explicativo é o exemplo de (LEITE DE CAMPOS, 1998)29 ao demonstrar a flexibilidade permitida pelo Trust integrado à Securitization: “O banco pretende alienar cem milhões de “euros” da sua carteira de crédito à habitação. Constitui em “trust”, proprietário desses créditos, que os coloca no mercado representados por títulos, recebendo o banco a referida quantia. O banco continua a gerir os créditos e as respectivas garantias, mas agora por conta do “trust” (embora não necessariamente em seu nome). O banco melhorará a gestão da sua carteira de crédito à habitação, melhorando a “rácio” e os seus riscos. Mantém, a título de comissão pela gestão, uma certa parte (suponha-se 2%) dos juros. Os adquirentes dos títulos, que passam a assumir o risco do não cumprimento, receberão um rendimento de 5% (suponhase) em vez dos 3% que receberiam se depositarem o seu aforro no banco. O banco substitui, nas suas receitas, juros por comissões.” Esta integração aos Trusts permite o slicing das carteiras, e estas podem ser disponibilizadas no mercado com variados vencimentos e diferentes rendimentos, de acordo com a procura dos investidores. A Securitization tem alcançado um grande impacto no mercado de capitais norteamericano. Portanto, o sucesso tanto dos Trusts quanto da Securitization nos Estados Unidos da América revela-nos como exemplo a ser adoptado e adaptado, o quanto antes, pelos sistemas jurídicos da civil law. BIBLIOGRAFIA BEILFUSS, C.G., El Trust, La Instituición Anglo-Americana y El Derecho Internacional Privado Español, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1997. CARBONE, S. M., Autonomia Privata, Scelta della Legge Regolatrice Del Trust e 29 Cfr. LEITE DE CAMPOS, D., A Titularização de Créditos (“Securitização”), in Conferência proferida no Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998 324 Riconoscimento dei suoi Effetti nella Convenzione dell' aja Del 1985, Rivista di Direitto Internazionale Privado e Processuale, N. 4, Ottobre-Dicembre, Padova, 1999. CMARA, P., A Operação de Titularização, in Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998. CHALHUB, M.N., A Regularização do Trust no Direito Brasileiro, in Gazeta Mercantil, Brasil, 30.03.2000. DICHTER, B.J., Titularização nos Estados Unidos, in Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998. GRUNDMANN, Stefan, Trust and Treuhand at the End of the 20th Century. Key Problems and Shift of Interests, The American Journal of Comparative Law, Volume 47, Number 3, Summer, 1999. GUILLAUME, F., Incompatibilité du Trust avec le Droit Suisse? Un Mythe s' effrite, Schweizerische Zeitschrift fur Internationales und Europaisches Recht/Szier, 1/2000, 10. Jahrgang. LANGBEIN, J.H., The Secret Life of the Trust: The Trust as an Instrument of Commerce, The Yale Law Journal, Volume 197, Number 1, October, 1997. LEITE DE CAMPOS, D., A Titularização de Créditos (“securitização”), in Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 30.06.1998. LEITE DE CAMPOS, D. e VAZ TOMÉ, M.J., A Propriedade Fiduciária (Trust), estudo Para a Sua Consagração no Direito Português, Almedina, Coimbra, 1999. MEIRELLES,J.C.J., Securitização, in Colóquio Internacional “Titularização de Créditos”, Lisboa, 1998. NORTON, J.J., DUPLER, M.S., SPELLMAN, International Asset Securitisation, London, 1995. REUTLINGER, M., Wilts, Trusts, and Estates, Essential terms and Concepts, Boston, New York, Toronto, London, Little, Brown and Company, 1993. SALVATORE, V., Il Trust, Profili di Diritto Internazionale e Comparato, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova, 1996. SILVA PEREIRA, C.M., Instituições de Direito Civil, Forense, vol. 1, Brasil, 1999. STANDARD & POOR’S NEW ASSETS, New York, 1996. TRIPET, F., Trusts Patrimoniaux Anglo-Saxons Et Droit Fiscal Français, Litec, 1989. 325 ESTUDOS JURÍDICOS 326 327 ASTREINTES: ESSA GRANDE DESCONHECIDA Francisco Antonio de Oliveira Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 1. O vocábulo astreintes é de origem francesa e tem sido mantido nos outros idiomas, porque “no es de traducción fácil; por otra parte, el uso de la misma se há generalizado en nuestro léxico jurídico”, como observa Santiago Cunchilios Y Manterola, tradutor da obra de Josserand. Couture também não conseguiu vocábulo na língua castelhana: Astreintes - Definición: Voz francesa que se usa como sinônimo de compulsión, constricción - Traducción – “Omissis”.1 2. Desde o início do século XIX que a jurisprudência francesa criou as astreintes, apesar da hostilidade da doutrina, sob a alegação de que, tratando-se de uma pena, era violado o clássico preceito nulla poena sine lege. Ensina Liebman que realmente no Direito francês não existe dispositivo legal expresso que autorize a imposição e a cobrança da referida pena pecuniária. Sua origem é, tipicamente, “pretoriana”. Mas alastrou-se e consagrou-se definitivamente na França.2 3. As astreintes correspondem a uma coação de caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor, psicologicamente, para que cumpra a prestação a qual se nega a cumprir. Pode-se dizer que consiste na combinação de tempo e dinheiro. À medida que o devedor retardar a solvência da obrigação, mais pagará como pena. Daí a conceituação de Enrico Tullio Liebman: “Chamam-se astreintes a condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a obter do devedor o 1 2 Mendonça Lima, Aleides de. Comentários ao Código de Processo Civil, Edição Forense, vol. VI, tomo II/773, 1.974. Mendonça Lima, Aleides de. Ob. cit., p. 774. 328 cumprimento da obrigação de fazer pela ameaça de uma pena suscetível de aumentar indefinidamente”.3 E mais adiante, arremata o mestre: “Caracterizam-se as astreintes pelo exagero da quantia em que se faz a condenação, que não corresponde ao prejuízo real causado ao credor pelo inadimplemento, nem depende da existência de tal prejuízo.”4 Constitui, na realidade, uma pena imposta com a finalidade cominatória, tendo como objetivo primeiro o cumprimento da obrigação no prazo fixado pelo juiz. 4. Segundo informações colhidas na maioria dos autores, esse sistema foi assaz criticado pela doutrina francesa, uma vez que não encontra supedâneo na lei e porque, encarado como forma de indenização, contrária o princípio da correspondência entre o dano e o ressarcimento. Mas a verdade é que a jurisprudência permaneceu firme em dar-lhe aplicação. Por outro lado, nada há que possa por em dúvida a real eficácia das astreintes como meio de coação ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter executório e visa ao cumprimento da obrigação pelo próprio executado. 5. Em que pesem as seriedades das objeções e a autoridade dos seus autores, o certo é que as astreintes jamais deixaram de ser aplicadas, fato que vem em abono da assertiva de que o uso constante ou a aplicação de uma medida que venha a mostrar-se benéfica faz vôo de pássaro grande, pairando acima das teóricas restrições da sua legitimidade. Além do mais, não obstante bem lançado o argumento, não convence de todo que a sanção em exame arrepia o princípio de que, sem lei anterior, não se qualifica ou legitima a pena. A verdade é que a sanção se circunscreve aos bens do devedor, não se constituindo, ademais, uma coação à sua pessoa. 6. Não há negar que no poder conferido ao juiz de ordenar, condenar, impor, está implícita a faculdade ou imperium de fazer cumprir a ordem, a condenação, ressalvadas, naturalmente as coações que envolvam direta ou indiretamente a pessoa do credor. Afigura-se-nos, por outro lado, que as astreintes independem da iniciativa do interessado ou prejudicado. Ao juiz incumbe dirigir o processo de modo que assegure andam ente rápido à lide. Por outro lado, não há negar que o pronto e justo desfecho da demanda constitui interesse que extrapola a vontade das partes para constituir-se em propósito superior do Estado. Não se enxergue nessa iniciativa do magistrado uma resolução extra petita, eis que a sanção cominada ao devedor recalcitrante não tem por escopo acautelar o interesse do credor, mas tornar efetiva a prestação jurisdicional que o Estado deve ao indivíduo. 3 4 Liebman, Enrico Tullio. Processo de Execução, São Paulo: Saraiva, 1.968, p. 169. Liebman, Enrico Tullio. Ob. cit., p. 170. 329 7. Entre nós, a CLT no seu art. 729 dispõe: “O empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 315(três quintos) a 3 (três) valores-de-referência por dia, até que seja cumprida a decisão”. Não obstante as modificações introduzidas pela Lei na 5.889, de 8.6.1973, em seu an. 18, elevando a multa de 1/10 a 10 salários mínimos regionais, segundo a natureza da infração e a sua gravidade, não se conseguiu ainda tirar aquele dispositivo da sua completa timidez. Entre os juslaboralistas pátrios que maior contribuição têm oferecido sobre o assunto, sem dúvida, há de ser incluído o mestre Mozan Victor Russomano. Assim é que no art. 538 do anteprojeto de sua lavra, elaborado em 1.970, introduziu preceitos mais agressivos e consentâneos com a realidade atual.5 “Se a obrigação de fazer implicar a reintegração ou readmissão de empregado estável, o empregador, nos autos da própria execução, será condenado a pagar-lhe salários de conformidade com a seguinte progressão, a partir da data em que escoar o prazo previsto no art. 534, deste Código: “I - durante o primeiro trimestre de afastamento do trabalhador, o salário contratual será pago com acréscimo de 50%; “II - a partir do segundo trimestre, inclusive, o salário contratual passará a ser pago em dobro. “Parágrafo único. Se, no fim do semestre, o executado insistir na recusa, o trabalhador poderá optar pela conversão da reintegração ou readmissão em indenizações por tempo de serviço, acrescidas do valor do aviso prévio. Nessa hipótese, tomar-se-á como referência, no cálculo das indenizações, o salário do último mês de vigência do contrato individual de trabalho, na forma dos incisos I e II deste artigo”. 8. Em se cuidando de estabilitário, reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período de suspensão. Importa, pois, a estabilidade na perda pelo empregador do direito de resilição unilateral do contrato. Segundo ensinamentos de José Martins Catharino, a “perpetuidade” unilateral do contrato de emprego é uma constante preocupação do legislador 5 Russomano, Mozart Victor. Ed. LTr 34/909 330 contemporâneo, visando a beneficiar o empregado.6 Ainda de conformidade com preceitos ditados pelo art. 496 do diploma laboral, tornando-se desaconselhável a reintegração do empregado estável, dado o grau de incompatibilidade entre ele e o empregador, resultante do litígio, e especialmente quando for o empregador pessoa física, poderá o juiz converte-la em indenização em dobro. Ensina Délio Maranhão que essa norma, de caráter excepcional em relação à própria natureza da estabilidade, não lhe infringe, todavia, a garantia, porque não se trata de reconhecer ao empregador o direito de substituir, pela indenização, o direito de reintegrar, mas de faculdade atribuída ao juiz, em caso de incompatibilidade evidente e insanável entre as partes, e a qual usará de acordo com o seu prudente arbítrio.7 Russomano, comentando o assunto, ensina que a reintegração é o corolário final, relevante e lógico da estabilidade, definida como direito de permanência na empresa.8 E mais adiante, comentando os dizeres do art. 496, coerente com seus ensinamentos, pondera que “não obstante, na elaboração do Projeto do Código de Processo do Trabalho que nos fora encomendado pelo Coverno da República, atrevemo·nos a ir mais adiante, na defesa da reintegração: usando, em larga escala, pela primeira vez no nosso Direito Positivo, o sistema das astreintes, criamos um regime em que a recusa do empregador em cumprir a sentença de reintegração determinava, automaticamente, o aumento do salário, em progressão crescente e proporcional ao prazo da recusa. Em poucos meses, a situação se tornaria intolerável para o empregador e este se veria forçado a obedecer à ordem do juiz, reintegrando o trabalhador”.9 9. É de se notar que as astreintes não se confundem com as perdas e danos que decorrem do inadimplemento da obrigação pelo devedor. Enquanto as perdas e danos são fixadas em valor exato e são, assim, definitivas, as astreintes não têm limites e se apresentam em caráter precário e provisório, cessando no momento em que o devedor haja por bem de cumprir a obrigação. Por outro lado, podem ultrapassar o valor da obrigação, enquanto as perdas e danos não devem superá-la, sob pena de enriquecimento sem causa. 10. Vamos encontrar nas lições de Orlando Gomes que fere os princípios da liberdade individual 6 Catharino, José Martins. Em Defesa da Estabilidade, Ed. LTr, p.63. Maranhão, Délio. Direito do Trabalho. Fundação Getúlio Vargas, 1974, p. 296. Russomano, Mozan Victor. Estabilidaâe do Trabalhador na Empresa. Konfino, 1970, p. 74. 9 Russomano, Mozan Victor. Ob. cit., p. 76. 7 8 331 e da dignidade humana obrigar-se alguém a cumprir em forma específica uma obrigação de fazer. A execução forçada de um facere é condenada pelo Direito, entre homens livres, desde as suas mais remotas origens, como está expresso no brocardo Nemo ad factum precise cogi potest. Continuando, diz o mestre baiano, citando Josserand, que o Direito moderno, entretanto, conhece métodos legais de compelir alguém à execução de uma obrigação de fazer. Para tanto, formulouse a teoria denominada das astreintes, que consiste em uma condenação pecuniária, pronunciada à razão de “tanto” por dia, por semana, por mês ou por ano de atraso, e que visa a vencer a resistência do devedor de uma obrigação de fazer, exercendo pressão sobre sua vontade. E arremata: não há fortuna que possa resistir uma pressão contínua e incessantemente acentuada.10 11. Cuidando do assunto, o Min. Arnaldo Sussekind cita trecho do Min. Oscar Saraiva, quando no exercício do cargo de Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho: “Nem se diga, quanto à reintegração, que se trata de uma obrigação meramente pessoal que, na forma do art. 1.060 do CC, se pode resolver em perdas e danos por seu inadimplemento. Não só a legislação do trabalho é de ordem pública, e seus preceitos não podem ser derrogados, pela vontade do obrigado, como hoje, no próprio campo do Direito Privado, encontramos várias modalidades de cumprimento compulsório de obrigações pessoais por determinação de autoridade judicial; assim, a renovação das locações comerciais, a venda de terrenos adquirido a prazo”. E finalmente, referindo-se ao art. 729 da CLT, arremata Sussekind que para tornar efetiva a reintegração do empregado, uma vez determinada pela Justiça do Trabalho, prevê a lei brasileira a aplicação de multa ao empregador que descumprir essa obrigação.11 12. Abordando a matéria, Alcides de Mendonça Lima informa que o Direito processual civil brasileiro desconhecia as astreintes até o vigente Código. O art. 1.005 do diploma revogado não as configurava, porque a cominação pecuniária se achava subordinada a uma condição indispensável: “que não exceda o valor da prestação”.12 Contrariamente, a característica das astreintes é poderem ser ilimitadas. 10 11 12 Gomes, Orlando e Gottschalk, Elson. Curso de Direito do Trabalbo. São Paulo: Ferense, 1.971, p. 368. Sussekind, Arnaldo.Instituições de Direito do Trabalho. Freitas Bastos, 1.974, vol. II/524. Mendonça Uma, Alcides de. Ob. cit., p. 777. 332 Em interessante artigo, o Desembargador paraibano Mário Moacyr Porto mostra a aplicação das astreintes também no campo da Administração. Assim comenta: “Aparentemente, o campo de astreintes se limitaria à execução das obrigações de fazer, em face da circunstância de, no tocante às obrigações de dar, ser sempre possível ou viável o cumprimento direto in natura das mesmas. Por outro lado, pareceria, ao primeiro exame, que a medida não alcançaria o Estado, em face dos privilégios que desfruta. Este último aspecto apresenta particular interesse, sabido que a Administração Pública é, via de regra, pagadora impontual. Se entendermos as astreintes como uma pena privada, aplicá-la ao Estado recalcitrante suscita dúvidas sérias quanto à sua viabilidade ou legalidade”. E conclui, estribado em Frejaville: “Se entendermos a astreintes como uma rigorosa apreciação do prejuízo tout court, não vemos como subtrair a Administração do salutar constrangimento da sanção pecuniária”.13 13. Josserand, em síntese perfeita, dá-nos as principais características das astreintes14: a) A indenização do dano visa a substituir a execução in natura, enquanto as astreintes visam a assegurar ao credor a execução; b) a indenização pressupõe a existência de um dano sofrido pelo credor, ao qual o tribunal deverá referir-se na decisão, enquanto, em relação às astreintes, não se faz mister a constatação de qualquer dano; c) as astreintes, ao contrário da indenização do dano, não é fixada de acordo com o prejuízo sofrido pelo credor, mas, o que é bem diferente, consoante a fortuna, os bens do devedor recalcitrante. A medida deverá adequar-se ao fim desejado e o juiz não precisa demonstrar, em sua decisão, que a sanção pecuniária imposta corresponde exatamente ao dano que para o credor, resultou da demora no cumptimento da obrigação; d) as astreintes têm uma eficácia transeunte, o que também assinala uma diferença fundamental com a indenização do dano; a decisão que a impõe não é passível de execução provisória. Seu fim é assegurar a execução; quando o resultado é alcançado, desaparece a sua razão de ser; é suprimida ou reduzida. Poderá ser modificada pelo tribunal. É de natureza cominatória; se o devedor cumpre a obrigação, por nada mais responde. 13 14 Porto, Moacir Mário. RT 394/29. Porto, Moacyr Mário. Ob. cit., pp. 30-31. 333 14. O novo diploma processual, conforme preleciona Amauri Mascaro Nascimentol15 “generaliza a pena pecuniária para todo e qualquer tipo de obrigação de fazer ou não fazer”. E complementa o festejado juslaboralista: “Assim, se o autor pede na reclamação trabalhista a concessão de um intervalo que a empresa não concede, cabe a pena pecuniária no pedido inicial para o caso de descumprimento da sentença. Eis por que o Código aumenta a amplitude da pena pecuniária no processo trabalhista. Se ela antes era restrita e limitada, agora é ampla, genérica para toda e qualquer obrigação de fazer ou não fazer, desde que pedida na petição inicial”. 15. As astreintes substituem com vantagens a manu militari do Estado que recai diretamente sobre a pessoa do devedor, atentando contra a sua liberdade. A vantagem que oferece é a de não criar ambiente de violência física, ainda que se articule contra a vontade e se reflita sobre o patrimônio do devedor. Os artigos 287, 644, 645 do Código de Processo Civil cuidam do tema. Antes da modificação trazida pela Lei n° 8.953, de 13.12.1994, havia exigência expressa no sentido de que o autor formulasse o pedido na petição inicial. Embora a exigência ainda permaneça no art. 287, os artigos 644 e 645 foram redimencionados, dando poderes ao juiz para aplicar as astreintes de ofício, se omissa a sentença. O valor também poderá ser modificado pelo juiz na execução, verificado que se tornou insuficiente ou excessivo. A timidez do Código Buzaid, antes da reforma de 1.994, resultara no pouco uso do instituto, uma vez que o juiz ficava à mercê da parte ou do advogado que deveria pedir para que a sentença condenasse. Relegava-se ao oblívio a obrigação de o Estado tomar todas as providências para que a prestação jurisdicional se completasse de forma mais rápida possível (arts. 125, II e III, 599 e 600 do CPC). Por outro lado, o art. 798 ampliava os poderes do juízo para agir de ofício. Em artigo de doutrina publicado em fevereiro/78 na Revista dos Tribunais, v. 508/35, sob o título “As astreintes e sua eficácia moralizadora”, já defendíamos a sua aplicação de ofício pelo juiz da causa em sede trabalhista, tendo em conta o comando contido no art. 765 da CLT. Antes do Código atual, a aplicação das astreintes era possível com base no Direito comparado (art. 8° da CLT). 15 Nascimento, Amauri Mascaro. LTr 39/485. 334 16. A aplicação das astreintes tem caráter facultativo. O juiz poderá acolher ou não o pedido do autor, como poderá concedê-las de ofício. Tudo dependerá, naturalmente, das circunstâncias que cercam o caso concreto. Por oportuno, lembre que o novo instrumento processual civil, subsidiariamente aplicável no processo trabalhista ex vi, do art. 769 do diploma consolidado, veio ampliar os preceitos contidos no art. 729 da CLT, de modo a torná-la mais consentâneo com a realidade atual. 17. As astreintes e o gizamento do art. 920 do CC. O tema foi objeto de Orientação Jurisprudencial n° 54 da Seção de Dissídios Individuais do Colendo Tribunal Superior do Trabalho: “Multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior ao principal corrigido. Aplicação do art. 920 do Código Civil.” O art. 920 do Código Civil por seu turno dispõe: “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação do principal.” Todavia, o dispositivo sobre o qual o Precedente busca suporte tem natureza jurídica de “cláusula penal”. A Lei de Usura (Decreto n° 22.626, de 07.04.1.933) assim define: “As multas ou cláusulas penais, quando convencionadas, reputam-se estabelecidas para atender as despesas judiciais e honorários de advogados, e não poderão se exigidas quando for intentada ação judicial para a cobrança da respectiva obrigação” (art. 8°). “Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida” (art. 9°). Claro está que os requisitos que implementam a cláusula penal, também denominadas multas, não são os mesmos que consubstanciam as astreintes. Daí ser inarredável a conclusão de que o tecido primero que deu alento ao art. 920 do Código Civil, não pode imiscuir-se em regência sobre “multas” previstas em acordos, convenções, dissídios, ou acordos em dissídios coletivos, pelo simples fato de que de multa não se cuida, mas de astreintes. Evidente o lapso ao utilizar o nomen juris. É o uso do termo “multa” no seu sentido vulgar, não jurídico, à calva de primor terminológico. A cominação pecuniária prevista em norma coletiva tem natureza conceitual de astreintes, embora utilizada a terminologia “multa”. Do que resulta que, na hipótese, não se permite a intromissão da norma civilista prevista no art. 920 do CC. Estar-se-ia fazendo malabarismos exegéticos com o objetivo de neutralizar cláusula moralizadora. 335 ATUALIZAÇÃO PENAL: CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ANOTADA, AGORA É CRIME! Luíz Flávio Borges D'Urso Advogado Criminalista, Presidente da Associação Brasileira dos Advogados CriminalistasABRAC, Presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal - ABDCRIM, Conselheiro e Diretor Cultural da OAB/SP, Mestre e Doutorando em Direito Penal pela USP, Membro da Associação Internacional de Direito Penal, Presidiu o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária de São Paulo e é Membro do Conselho Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Parece mentira, mas grande parte da população brasileira está cometendo este novo crime, pois a partir da Lei n° 9.983 de 14 de julho de 2000, deixar de fazer o registro de empregado na carteira de trabalho é crime. E o legislador foi extremamente severo, pois fixou a pena para este novo crime, como sendo de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, quando inseriu o parágrafo 4° ao art. 297 do Código Penal brasileiro. Sabemos que o alvo será, como sempre, aqueles mais modestos, os empregadores médios ou pequenos, além das pessoas físicas que empregam alguém, por exemplo, a empregada doméstica, levando sua patroa, que não efetivou o registro em carteira, a responder criminalmente podendo ser condenada e perder a primariedade! Essa lei nova propiciou diversas modificações no Código Penal pátrio, foi ela que estabeleceu o crime de apropriação indébita previdenciária, que criou o novo tipo penal de 336 inserção de dados falsos em sistema de informação, estendendo ao crime as modifIcações ou alterações não autorizadas desse sistema, a sonegação de contribuição previdenciária, etc. e ainda, sorrateiramente, criou o tipo penal que comentamos. O fim almejado pelo legislador desse diploma legislativo foi o de aumentar a arrecadação previdenciária, procurando salvar dessa forma, o sistema de seguridade social do país, jamais pretendeu melhores condições ao trabalhador ou garantir os direitos previdenciários deste. Essa intenção fica clara, pois caso pretendesse que os empregadores fossem compelidos a registrar seus funcionários, fazendo as anotações na carteira de trabalho e previdência social, bastaria aumentar a multa a que estava sujeito aquele que negasse o registro, porquanto trata-se de irregularidade, ou até ilícito administrativo, jamais penal, até o advento da lei nova, que arrastou para o campo penal essa irregularidade administrativa. O art. 40 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que para os casos em que haja falsificação da carteira de trabalho, que a conduta seja enquadrada no art. 299 do Código Penal, caracterizando, assim, o crime de falsidade ideológica, o qual estabelece uma pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, todavia tal dispositivo não contemplava a omissão do registro em carteira. Outro dispositivo penal de ampla aplicação nas relações trabalhistas é o art. 203 do Código Penal, que visa a coibir as condutas que frustem, mediante fraude ou violência, os direitos assegurados pela legislação trabalhista e mesmo que se entendesse que este artigo fosse aplicável à omissão do registro, focando-se a pena cominada que é de detenção de 1 (um) mês a l(um) ano, aplicar-se-ia a Lei n° 9.099/95, em seu aspecto processual, a qual possibilita a conciliação, a transação penal, ou ainda, a suspensão condicional do processo, mecanismos que afastam o processo criminal e consequentemente, uma condenação e a perda da primariedade. Na verdade, a omissão do registro em carteira de trabalho passa, a partir da Lei 9.983/00, a constituir, indiscutivelmente, um crime, com pena severíssima, pois não é delito de menor potencial ofensivo, muito menos pode-se pleitear a suspensão condicional do processo, permanecendo o interesse público na demanda, que uma vez revenida em denúncia recebida, do Ministério Público, aguardar-se-á, a absolvição ou a condenação. É lamentável que tenhamos de assistir a essa ânsia punitiva estatal, pela qual o legislador pretende aumentar a arrecadação, em detrimento das vidas perturbadas ou destruídas, de empresários que lutam com muita dificuldade para permanecer trabalhando, ou daquelas criaturas físicas que, diante da gigantesca carga tributária, encontram somente na informalidade, um meio de trabalho digno, inclusive gerando emprego, informal é verdade, mas que dá pão aos filhos famintos dos desprezados pela sorte. Antes, para qualquer enquadramento penal, sempre se verificava o dolo, per· quirindo-se o 337 fim pretendido, caso fosse de sonegação, de apropriação, etc., todavia, com a nova lei, nada disso é necessário para caracterizar o crime, sendo bastante omitir o registro na carteira de trabalho do empregado, Será que diante da grave crise de segurança pública que assola a nação, ao lado da falência do sistema prisional brasileiro, caminhou certo nosso legislador em mirar sua caneta penal, naqueles que trabalham e dão trabalho, - embora no espaço da antiga irregularidade administrativa da ausência do registro em carteira -, para taxar esses brasileiros de criminosos, punindo-os com penas de reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos? Estou convencido que o legislador errou. Mas, a lei está vigente e para que ninguém seja surpreendido, até porque não se pode realizar defesa, argüindo desconhecimento da lei, é que resolvi escrever este artigo, objetivando, antes de tudo, a protestar, bem como prevenir, para que os tribunais não sejam entupidos de processos criminais dessa natureza. ATUALIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL Atualmente, mais se fala em acabar ou minimizar o Inquérito Policial, sob alegação de que a polícia civil não tem conseguido investigar a contento. Mas este argumento, como veremos, não pode persistir, porquanto, após realizarmos uma rápida análise da real situação de nossa polícia, ohserva-se que o problema enfrentado pela polícia judiciária é que dificulta o resultado das investigações, jamais o Inquérito Policial. Hoje, o que temos visto são Delegacias de Polícia servindo como presídios para condenados cumprirem suas penas, celas superlotadas, presos em completa ociosidade, em condições subhumanas, em total desacordo com a Lei de Execução Penal, bem como não podemos falar em ressocialização do preso, mas reservamos para Autoridade Policial a fiscalização desses presos, desviando a função precípua do Delegado de Polícia, e sua equipe, que deveriam investigar o crime, para serem zeladores de presos. Então, como podemos falar em acabar com o Inquérito Policial, se estes profissionais, vocacionados e muitos deles abnegados, não possuem condições para bem realizar suas funções, existindo aí um desvio grave, e, apesar dessa situação adversa, a polícia ainda realiza sua tarefa. Registre-se uma esperança, quando se verifica a Secretaria da Administração Penitenciária empreender esforços na criação dos Centros de Detenção Provisória, com a finalidade de retirar os presos dos Distritos Policiais, removendo-os para os CDP, como, aliás, já vem ocorrendo. É a chamada operação “derrubada de grades”, com o desativação das carceragens dos Distritos Policiais 338 Cremos que a situação deva melhorar, possibilitando que a polícia civil possa exercer melhor sua função e, dessa forma, a solução não é acabar ou minimizar o Inquérito Policial, devemos sim falar em aprimorar este procedimento para que a Autoridade Policial possa ter melhores condições de investigação, até porque, na sua essência, o Inquérito Policial tem previsão legal no Código de Processo Penal. A expressão “Inquérito”, segundo o Prof. Marcus Acquaviva, somente existe na língua portuguesa; sua origem vem do latim quaerere, inquirere, que significa fazer perguntas, inquirir, procurar, buscar informações sobre algo ou investigar. A legislação brasileira conheceu o termo “inquérito policial” com o advento da Lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, no seu artigo 42, o qual estabelecia: “O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias, e de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito”. Desde então, o Inquérito Policial permanece em nossa legislação. Ao tomar conhecimento de um delito, o Estado deverá exercer seu poder de polícia, investigando o caso, objetivando descobrir o eventual autor do fato, bem como sua responsabilidade no delito. O conjunto das diligências realizadas é reunida num suporte material que chamamos de Inquérito Policial. A notícia de um ilícito penal pode chegar à Autoridade Policial de forma espontânea ou provocada é a chamada Notitia Criminis, por meio de qualquer pessoa, pela imprensa, ou qualquer outra forma. O delito poderá ser noticiado por escrito ou verbalmente ao Delegado de Polícia e a comunicação da infração penal promovida pelo próprio ofendido denomina-se delatio criminis. O Inquérito Policial é um procedimento administrativo investigatório, realizado de forma escrita e seu caráter é inquisitorial, pois não admite o contraditório, é presidido pela Autoridade Policial que tem por finalidade reunir provas, indícios de autoria e sobre a materialidade do delito, fornecendo subsídios suficientes para que o promotor possa formar sua convicção. Vale comentar que o Inquérito Policial não é peça essencial para oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Nos crimes de ação pública, o Inquérito Policial poderá iniciar pelo Auto de Prisão em Flagrante, de ofício por Portaria do Delegado de Polícia, por requisição do Ministério Público ou do Judiciário, a requerimento do ofendido ou de seu representante; todavia, quando o crime for de ação privada, o inquérito só poderá se iniciar requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Caso a Autoridade Policial se recuse a proceder à instauração do Inquérito Policial, indeferindo o pedido da vítima, esta poderá recorrer da decisão ao chefe de Polícia, entendendo-se aqui a Secretaria da Segurança Pública, conforme disposto no artigo 5, parágrafo 2 do CPP. 339 O Delegado de Polícia, ao verificar a existência de fortes indícios de autoria contra o acusado, poderá proceder ao chamado indiciamento, segundo o artigo 239 do CPP, definido indícios, como a “circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Assim, após realizadas diligências, se caso hajam indícios razoáveis de autoria e, existindo provas suficientes da materialidade, a autoridade poderá proceder ao seu indiciamento. Quando o inquérito policial for iniciado pelo auto de prisão em flagrante, existe um documento obrigatório que deve ser entregue ao preso, trata-se da Nota de Culpa, que deverá conter o motivo da prisão, a identificação do condutor, as testemunhas e ter a assinatura da autoridade que o preside. O preso, ao receber a Nota de Culpa, deverá assinar o seu recebimento, caso se recuse a assinar ou for analfabeto, deverá ser colhida assinatura de duas testemunhas. A ota de Culpa deverá ser entregue ao preso no prazo de vinte e quatro horas da prisão, sob pena do relaxa· mento do flagrante. Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o indiciado que for identificado civilmente não será obrigado a submeter-se à identificação criminal, a chamada identificação datiloscópica, salvo quando houver suspeita sobre a autenticidade do documento. É bom salientar que não é possível a Autoridade Policial arquivar o Inquérito Policial. Tal situação só poderá ocorrer se o Ministério Público requerer e o Juiz determinar o arquivamento. Mas se o Magistrado não estiver convencido de que é o caso de arquivamento, poderá encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça que designará um promotor para oferecer a denúncia ou insistir no arquivamento. Neste caso, o juiz terá de arquivar. O despacho que determinar o arquivamento não faz coisa julgada, motivo pelo qual, havendo novas provas, poderá ser desarquivado a qualquer tempo, des· de que não tenha ocorrido a extinção da punibilidade. O prazo para conclusão do inquérito policial, caso o acusado encontre-se preso, é de dez dias a contar do dia da prisão; mas, se liste estiver solto, este prazo será de trinta dias, prorrogável por autorização do magistrado. A legislação estabelece outros prazos em leis especiais. O inquérito policial será encerrado com o relatório da Autoridade Policial e conterá o relato do que foi apurado nos autos, de forma minuciosa, sem que o Delegado de Polícia emita juízo de valor, devendo ser encaminhado os autos ao juiz competente. Para busca da verdade, o inquérito policial é peça de importância, pois existem provas que são possíveis de se realizar somente durante a fase administrativa. Embora o inquérito seja um procedimento considerado informativo para eventual propositura da ação penal, seu valor é incontestável. Ao advogado, é garantido consultar em qualquer repartição policial autos de inquérito 340 policial, ou autos do flagrante delito, mesmo não possuindo procuração, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Novidade foi a introdução da dispensa do inquérito policial, substituindo·o pelo Termo Circunstanciado previsto na Lei 9.099/95, que estabelece o procedimento para os delitos de menor potencial ofensivo; todavia, tal não tira a importância do inquérito policial que, mesmo em alguns casos onde se lavraria o T. C., instaura-se o I. P. para melhor apurar o fato. Por fim, vários estudos estão sendo levados a efeito para nova dinâmica e roupagem ao Inquérito Policial. Não importa o que se faça, desde que este importante instrumento permaneça e seja aperfeiçoado, para o interesse da própria investigação policial. D'URSO APRESENTA PROPOSTAS AO MINISTRO DA JUSTIÇA Privatização dos Presídios, um Serviço de Inteligência/Informação, mais cautela da Mídia, aplicação das Penas Alternativas e severa reação do Governo, estas são algumas propostas apresentadas na reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, presidida pelo Ministro da Justiça José Gregori, realizada no dia 13 de março, sugeridas pelo conselheiro Prof. Luíz Flávio Borges D'Urso, um dos representantes de São Paulo, objetivando uma reação ao problema prisional enfrentado pelos governos estadual e federal. O ponto central de sua proposta está na Privatização dos Presídios, sua tese de Mestrado na USP, na modalidade da terceirização, seguindo o modelo da França, que resolveu seu problema de superlotação, com a construção e administração, pela iniciativa privada, de 12 mil vagas no sistema. Proposta amplamente aceita pela opinião pública brasileira, verificada em recente pesquisa. O Brasil já tem duas experiências dessa parceria, uma no Paraná iniciada há mais de um ano e outra no Ceará, iniciada há dois meses aproximadamente, ambas apresentando resultados satisfatórios, embora algum ajuste ainda seja preciso realizar. Uma novidade nessas experiências é o fato de se colocar em prática tudo o que se vem pregando, ao longo dos anos, para o sistema prisional, que pela forma digna com que o preso é tratado, quer pela disciplina imposta na unidade. A comida é de boa qualidade, o preso passa a ter higiene, sendo-lhe fornecidos produtos para tal, além de todos trabalharem e estudarem, objetivando sua ressocialização. A assistência jurídica tão reclamada, ao lado da assistência médica, são também um diferencial naquelas unidades que passam para a iniciativa privada tais responsabilidades, as quais são cumpridas satisfatoriamente, segundo os próprios presos. 341 O dado que mais chama a atenção é exatamente a inexistência de fugas ou tentativas, rebeliões ou indisciplina interna, aliás, a sensação que se tem ao adentrar a penitenciária do Paraná, é de se estar entrando numa grande fábrica, segundo Prof D'Urso, que também é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas - ABRAC. O professor ressaltou que o grave problema prisional brasileiro é resultado do descaso ao sistema, por décadas, e que não existe mecanismo mágico que possa solucioná-lo; todavia, o governo e a sociedade podem empreender iniciativas para melhorá-lo. Dessa forma, outras sugestões também foram elencadas pelo Prof D'Urso, insistindo que, ao lado do melhor tratamento ao preso, inclusive assistindo-o quando sair da cadeia, uma melhor preparação ao agente penitenciário, formando-o para delicada e importante missão de recuperar homens que cometeram crimes, precisam estar ao lado e no contexto da criação de um Serviço de Inteligência, que passe a obter informações, para que o governo possa se antecipar às iniciativas dos presos, neutralizando ações nocivas e motins. As reivindicações tradicionais, pela melhora da assistência jurídica e médica, superlotação, visitas etc., estão dando lugar às reivindicações políticas, de forma que a mega rebelião, na avaliação do professor, tem fundo ideológico e precisa ser tratada de forma diferente das reivindicações que reclamam melhores condições para os presos, concluindo que estamos diante do novo e o governo precisa se preparar para isso. Uma das formas é investir em tecnologia para monitoramento eletrônico, tanto nas unidades prisionais como fora delas. Isto serve para observar o preso enquanto na cela e nos pátios, por meio de filmadoras, câmeras etc, e também quando estes estiverem fora do alcance das lentes, observando-os pelo monitoramento de sinais emitidos por braceletes e tornozeleiras instalados nos presos que saem às ruas. Com essa tecnologia há de se interromper as comunicações facilitadas pelo advento do celular, que propiciam uma forma simples e ágil de articulação. Outra preocupação reside no fato de a mídia amplificar as iniciativas das facções criminosas que se organizam nas unidades prisionais brasileiras, sugerindo que o governo federal encontre meios de regular essas coberturas para que a mídia não esteja, ingenuamente, à serviço do crime organizado, fazendo, sem saber, um verdadeiro marketing dessas facções. Por fim, encerrou o Prof. D'Urso, reiterando sua confiança no Plano Nacional de Segurança, desde que o mesmo seja concretizado em suas metas penitenciárias, as quais avaliou como adequadas, para que o governo possa construir mais unidades prisionais, de segurança máxima e unidades no regime semi-aberto, bem como para que a sociedade possa ser conscientizada da necessidade da aplicação de penas alternativas. Quanto às penas alternativas, o Prof. D'Urso que é um dos autores da lei que aumentou tais penas, além de ser doutorando pela USP com essa tese, enfatiza sua necessidade para afastar da 342 cadeia quem precisando ser punido, que o seja por meio de prestação de serviços à comunidade, da interdição de direitos, pelo pagamento de pena pecuniária à vítima, dentre outras formas que não levem ao cárcere, reservando a cadeia somente para quem é perigoso e, dessa forma, punindo todos, enfrentando-se assim a sensação de impunidade que vive o país. 343 LEI 10.035/2000: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS José Pita Juiz do Tribunal do Trabalho de Campinas, professor da Universidade de Franca e Membro da Academia Francana de Letras I – INTRODUÇÃO 1. A Lei 10.035, de 25 de outubro de 2000, fez alterações na CLT, particularmente no “capítulo” da Liquidação de Sentença, sob a justificativa de regulamentação do § 3° do art. 114 da Constituição Federal, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, coerentemente com sua função e com o disposto no caput do art. 114 “bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças”. 2. Nas relações humanas, quando algo é paradoxalmente indispensável e indesejável, se diz que se trata de “mal necessário”. Acho que esta é a mais singela expressão que o eufemismo pode atribuir à referida lei. 3. A Escola da Magistratura do TRT da 15ª Região, sob a coordenação do jovem juiz JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, Diretor do Fórum de Jundiaí-SP e Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho local, iniciou no dia 26 de janeiro de 2001 ciclo de estudo, entre os juízes da região, da indigitada Lei 10.035/200. 4. A tese-premissa aprovada consistiu no fato do reconhecimento da constitucionalidade da lei e de sua legitimidade sob o estrito entendimento de que sua eficácia pressupõe “o custo mínimo de sua aplicabilidade”, que quer dizer, os juízes deverão aplicar a lei, com o cuidado absoluto de que seus efeitos não comprometam “o espírito do Direito do Trabalho” que o acessório não seja mais importante que o principal; que a lei não se constitua entrave à celeridade da satisfação do direito do trabalhador. 5. A propósito do tema, é importante ressaltar a posição divergente apresentada pelo dinâmico Juiz Marcus Barberino, que propugnou pela inconstituciodade da lei, grosso modo sintetizados abaixo: a) ofensa ao tradicional princípio da divisão dos poderes, porque não se pode conceber que 344 o responsável pela jurisdicio também seja o responsável por uma atribuição que se deve exigir do Poder Executivo o ex officio, indevidamente presente na Constituição Federal; b) ofensa à igualdade constitucional de tratamento entre devedores, tal que os executados pela justiça Federal Comum beneficiam-se dos procedimentos administrativos da inscrição da dívida ativa para constituição do título executivo; enquanto os devedores previstos na Lei 10.035/200, não. Por conseguinte, aceitando-se a competência da justiça do Trabalho, dever-se-á adotar, para a execução das contribuições sociais o critério da Lei 6.830, de 22.9.80 (CLT, 889). 6. Ao lado da opinião do juiz Marcus Barbarino, é oportuno e muito importante refletirmos sobre o enérgico, moderno e revolucionário parecer da juíza Tereza Aparecida Asta Gemignani, que, apressadamente, refere e à seguinte proposição: Gente, é equivocada, data venia, a postura mágica (anti-lógica) de compreensão do processo através das eternas e imutáveis fórmulas tradicionais. Mesmo o mundo do ser o mundo físico não é fixo: a dinâmica é a essência da existêcia. Por semelhante fundamento, a Inteligência exige do operador do Direito a sensibilidade e discernimento para se fazer uma releitura dos tradicionais modelos de direito. Você acha que o conceito tradicional de coisa julgada; substituição processual; e outros, resistirão, sem qualquer mutação, às novas exigências do Mundo Moderno? 7. Concluída esta reflexão inicial, e sob a ótica vitoriosa do reconhecimento da constitucionalidade da lei, aplicável sob o entendimento da eficácia restrita ao custo mínimo do Direito do Trabalho, vamos tentar interpretar as inovações de Lei 10.035/2000. II - COMENTÁRIOS SOBRE AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 10.035/2000 Art. 1º - A CLT passa a vigorar com as seguintes alterações: a. “Art. 831............................................................ “Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas” COMENTÁRIOS: 345 Perante a lei, até então, se alguém quisesse impugnar uma sentença homologatória um termo de conciliação: redação anterior do parágrafo único do art. 83l da CLT só o poderia fazer, mediante ação rescisória porque a sentença homologatória equivalia, integralmente, à sentença com trânsito em julgado. Agora, com a alteração feita pela Lei 10.035/200, se a Previdência Social quiser impugnar uma sentença homologatória, poderá fazê-lo, mediante Recurso Ordinário, em relação à matéria relativa às contribuições sociais. b. “Art. 832.........................................................” § 3° - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso” COMENTÁRIOS: Nada de novo ou de extraordinário nesta disposiçâo, porque alguns juízes, antes desta lei, para prevenir conflitos na execução, procediam desta forma. O que se pode comentar, como fato relevante, é a observação dos preceitos legais que disciplinam a natureza jurídica das verbas, objeto da sentença e os preceitos que definem a responsabilidade e limite do respectivo devedor: a) natureza jurídica: examinar o capítulo IX - Do Salário-de-Contribuição art.28 da Lei 8.212, de 24. 7.91], complementado pelo capítulo VIII - com o mesmo título - art. 37 do Decreto n. 2.173, de 5 de março de 1997; b) responsabildade e limites: examinem-se: art. 33 § 5° da Lei 8.212/91 responsabilidade do empregador em caso de omissão e art.20 da mesma lei. c. “§ 4° - O INSS será intimado, por via postal, das decisões homologatórias de acordos que contenham parcelas indenizadas, sendolhe facultado interpor recurso relativo às contribuições que lhe forem devidas.” COMENTÁRIOS: Este dispositivo complementa o novo parágrafo único do art. 831, que retirou da sentença homologatória sua natureza antiga de semelhança integral à coisa julgada e determina a comunicação do INSS, para eventual impugnação de todas as sentenças homologatórias em que haja alguma parcela excluída 346 da incidência da contribuição social, por sua natureza indenizatória. O bem que o legislador, aqui tutela, diz respeito exclusivamente à submissão ao crivo da Previdência da interpretação que outrem, sem ser a Previdência, venha fazer da natureza jurídica de parcela de indenização. Confira o que dispõe o § 10 do art. 37 do Decreto 2.173/97: “As parcelas referidas no parágrafo anterior (‘não integram o salário-de-contribuição’), quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.” d. “Art. 876......................................................” “Parágrafo único. Serão executados ex officio os créditos previdenciários devidos em decorrência de decisão proferida pelos juízes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo.” COMENTÁRIOS: Nada estranho e nada inconstitucional nesta previsão legal, introduzida pelo acréscimo do parágrafo único ao art. 876 da CLT. O art. 876 da CLT inaugura seu capítulo V Da execução. Este novo parágrafo, penso, poderia, tecnicamente, ter sido incluído numa nova redação a ser dada ao art. 878 da CLT, que prevê, como peculiaridade do Direito do Trabalho, a execução ex officio. O art. 878 confere ao Juiz a faculdade da execução ex officio, enquanto o parágrafo em exame determina-lhe a competência obrigatória. Contudo, na essência, não há diferença. E nem por isto há comprometimento com a necessidade de divisão dos poderes; e, outrossim, nem pela competência de iniciativa da execução o juiz se equipara à parte interessada. Trata-se de peculiaridade do Processo do Trabalho e da necessidade de se preservar um interesse que é de todos. e. “Art. 878-A - Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio.” COMENTÁRIOS: Este dispositivo não é estranho ao Direito. Sempre se reconheceu ao devedor a faculdade e a excelência de reconhecimento do débito f “Art. 879 –..............................................................................................” “§ 1º - .......................................................................................................” 347 “§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.” COMENTÁRIOS: As disposições do § l°-A e l°-B apresentam a principal modificação na liquidação de Sentença Trabalhista. Tenha·se em mente que o procedimento da liquidação de Sentença consiste, em princípio, apenas numa etapa complementar de mero desdobramento do título executivo judicial que agora inclui verbas reconhecidas pela sentença com natureza de salário-decontribuição. g. “§ 1°-B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.” COMENTÁRIOS: Este vem a ser o “pior e nervoso nó górdio” que a polêmica lei 10.035/200 introduziu no Processo do Trabalho. Por quê? Porque o trabalhador, agora, deverá, também, fazer o “cálculo de liquidação do crédito da Previdência Social” decorrente da sentença trabalhista. Questões: 1ª - o ‘cálculo de liquidação’ do crédito previdenciário não é mera dedução dos dados da sentença, pois, ele implica além dos limites previstos na sentença (empregados: 8,9, 11%; empregador: 20%), a verificação da alíquota acidentária que varia de empregador para empregador empresa comercial: 1°; industria em geral: 2%; construção: 3%, assim como implica os descontos relativos a terceiros (5,8% ?) SENAC/SENAI, SESI/SESC, INCRA, SEBRAI, SALÁRIO EDUCAÇÃO, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES RURAIS; 2ª - em casos de débito contínuo, como de horas extras, o trabalhador vai ter que fazer o cálculo mês a mês da incidência da previdência? E vai ter que fazer, também, a atualização do crédito pelo critério próprio previsto nesta lei “§ 4° do art. 879: A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”? 4ª - o que acontecerá, na prática? A liquidação se tornou mais complexa. Porque, apresentada a conta pelo trabalhador, tanto a empresa, quanto o INSS terá interesse processual para impugnação. Poderá haver maior dilatação da demora da execução? Como poderá fazer o juiz 348 para que este entrave não ocorra em relação aos créditos do trabalhador? 5ª - Penso que com a familiarização da conta das contribuições sociais e atuação do INSS, não haverá maior prorrogação da execução, exceto um caso ou outro, em relação ao qual o Juiz haverá de tomar precauções para não comprometer a identidade do Processo do Trabalho. Exemplo: autos apartados para discussão de pontos controvertidos com a Previdência. h. “§ 3ª- Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação por via postal do INSS, por intermédio do órgão competente, para manifestação, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.” COMENTÁRIOS: Esta disposição constitui conseqüente adaptação da inclusão do crédito previdenciário na Liquidação de Sentença, sem colisão, nem alteração do procedimento previsto no § 2° do ano 879 da CLT. Foi acrescentada a intimação da conta ao INSS por meio de sua procuradoria local (que nada impede que o juiz da execução opte pela homologação, in limine, da conta, remetendo-se, tacitamente, a discussão do crédito previdenciário, por ocasião dos Embargos à Execução, § 4º. Não foi, outrossim, alterado o prazo de dez dias para eventual impugnação à conta apresentada. Convém, também, que não se exclua a possibilidade de aplicação da segunda parte do art. 775 da CLT. i. “Art. 880 - ...................................................” COMENTÁRIOS: O Legislador deu nova redação ao art. 880 da CLT para, em coerência à Lei 10.035/2000, apenas acrescentar no dispositivo ... em dinheiro, “incluídas as contribuições sociais devidas ao INSS,”... Convém ressaltar que o Legislador perdeu a oportunidade de corrigir o erro técnico de redação, neste artigo, qual seja, o de que, sistematicamente, constata-se que o legislador se esqueceu de colocar após a expressão requerida a execução, a expressão: ou iniciada ex officio (parágrafo único do art. 876 e art. 878 da CLT). j. “Art. 884 – .........................................................................................” “§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhistas e previdenciários” 349 COMENTÁRIOS: Data venia há erro técnico de redação aqui. Pois, o § 4° nada inova a não ser acrescentar que, também, o INSS poderá impugnar, por ocasião dos Embargos à Execução, o crédito previdenciário. Bastaria para isto que acrescentasse no § 3° do ano 884 da CLT, este permissivo. Questão: já não foi dada vista do ‘cálculo de liquidação’ ao INSS, por que este permissivo? Acredito que, essencialmente, nenhuma diferença há em relação ao crédito trabalhista. Aqui se trata, apenas, de peculiaridade do Processo do Trabalho, pela qual a sentença de liquidação que foi homologada após a vista da conta, tecnicamente, não pode ser impugnada, por Agravo de Petição, diretamente, à instância superior, sem que passe antes pela instância inferior (§§ 3° e 4°). k. “Art. 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às contribuições sociais, serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil SA., por intermédio de documentos de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do processo.” COMENTÁRIOS: Nada a comentar neste artigo. Trata-se de procedimento burocrático de depósito do crédito previdenciário. l. “§ 1º - Sendo concedido parcelamento do débito previdenciário perante o INSS o devedor deverá juntar aos autos documento comprobatório do referido ajuste, ficando suspensa à execução da respectiva contribuição previdenciária até final e integral cumprimento do parcelamento” COMENTÁRIOS: Trata-se de fato exceptivo, pelo qual o juiz está autorizado a suspender a execução. Nada de extraordinário. m. “§2º- As varas do trabalho encaminharão ao órgão competente do INSS, mensalmente, cópias das guias pertinentes aos recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento” COMENTÁRIOS: 350 As varas já observavam procedimento administrativo de encaminhamento ao INSS de relação relativa às contribuições sociais incidentes nos processos. O artigo acima nada especial oferece a comentar, a não ser que o legislador determinou, agora, que as Secretarias das Varas encaminhem as cópias das guias dos respectivos recolhimentos previdenciários. Do que se deduz que ou se entreguem nas varas duas cópias dos recolhimentos, ou se certificando, nos autos, a guia seja encaminha ao INSS. n. “Art.897.- ............................................................................................” “§ 3º - Na hipótese da alínea ‘a’ deste artigo (Agravo de Petição), o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se se tratar de decisão de juiz do Trabalho de 1ª Instância ou de juiz de Direito, quando o julgamento competirá a uma das Turmas do TRT a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no art. 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença.” COMENTÁRIOS: Nada a comentar. Trata-se apenas de nova redação com alteração meramente gramatical. o. “§ 8º Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o § 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta”. COMENTÁRIOS: Nada a comentar. Se o legislador não o dispusesse, por interpretação inevitável, os juizes do trabalho adotariam este procedimento. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação (DOU, 26.5.2000) 351 A COLETIVIZAÇÃO DO DIREITO Fernando Polito Professor da Faculdade de Direito de Bauru - ITE O homem convive em sociedade de forma organizada, convivência esta que não é pacífica, pois a todo momento surgem conflitos~seja entre os membros desta sociedade ou entre os próprios agrupamentos, que necessitam ser resolvidos, resolução esta pelos próprios interessados na forma da acomodação ou renúncia ou outro meio, que é a intervenção da entidade estatal. Conflitos, entretanto, que eram restritos ao campo individual, em decorrência da própria evolução social, passaram a tomar corpo e não a se limitar mais ao conflito de um indivíduo em relação a outro, passando a ocorrer entre vários indivíduos ou grupos ou e entre eles e a instituição estatal; todavia, extrapolando a esfera individual, mas ainda com a necessidade de resolução. Esta, todavia, deve ser diferenciada, pois a forma individual de solução dos conflitos muitas vezes não pode ser aplicada ao conflito de “massas”. Mesmo com a existência dos conflitos coletivos ou de “massas”, outra instituição a não ser a estatal, é qualificada para impor a vontade do ordenamento jurídico, e o Estado, que tutelava o interesse meramente individual, passou também a tutelar os interesses desses grupo, visando à sua proteção na forma coletiva, alterando a visão da proteção do ordenamento, vez que o direito passa a abranger não apenas o “homem” como foco central, mas também a coletividade, o é observado sempre em decorrência das transformações econômicas ocorridas na sociedade. Notadamente, a partir do final do século XVIII, as transformações sociais propiciaram o surgimento de novos grupos que antes, em função de uma visão individualista trazida pelo iluminismo francês, estavam relegados a segundo plano e eram até desestimulados. Em função de sua representatividade, se transformaram em verdadeiros grupos intermediários ou sociedades 352 intermediárias, expressão utilizada por Cappelletti1, com interesses que fugiam ao interesse meramente individual. A existência de tais “sociedades intermediárias” decorre do nascimento de novos interesses, os quais são provenientes de grupos que tinham sua existência relegada, minimizada ou até expurgada pelo Estado. Padecendo dos resquícios trazidos pela revolução francesa, a formação de sociedades intermediária foi desestimulada e relegada2 diante do fato de que sua presença remetia ao antigo regime e mais ainda, ao regime feudal que o iluminismo pretendia apagar. Esta aversão aos “corpos intermediários”, a partir do final do século XVIII foi sendo modificada não pelo estímulo estatal, mas até em contra posição a este e inegável que a razão fundamental do crescimento e nascimento das sociedades intermediárias está intimamente ligado ao fato de que, individualmente, os direitos e interesses dos que são parte dessas sociedades não são respeitados, ou se atendidos, o são de forma deficiente. O início desta mudança se deu com o movimento operário no século XVIII, onde o interesse comum foi a base para a aglutinação de pessoas, ocorrida de forma voluntária ou conseqüente, mas não limitou-se a ele. Transformações econômicas e culturais ocorreram, criando novos “corpos intermediários”, a exemplo os consumidores, ou ainda a própria sociedade ou uma comunidade específica quando o meio ambiente de qualquer forma é violado, ou leitores de determinado jornal ou revista, quando é veiculada matéria ofensiva, ou ainda as nebulosas relações existentes entre usuários da “internet”, onde não existe apenas o interesse individual violado, mas o coletivo. Violado o interesse coletivo este não pode ser tutelado pelo Estado na forma individual, o que gerou a necessidade de serem estabelecidas normas de caráter material e instrumental para a solução de tais conflitos, ou até dar às normas de caráter individual nova interpretação para resolver tais conflitos. É certo que, o interesse “coletivo” protegido não é o interesse público, mesmo que seja até com ele coincidente, nem o interesse meramente privado, fugindo a regra trazida por Kelsen3 de equiparar os sujeitos em um mesmo nível de direito ou em posição de igualdade para o privado e em níveis distintos ou sujeito supraordenado e sujeito subordinado para o direito público, caracterizando no último relação de subordinação. Difere, pois pertence à coletividade. 1 Cappelletti, M. (1977) Revista de Processo. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. (05) 129-159. Max Rheinstein - The family and the law in International Encyclopedia or Forporative Law, vol. IV - Persons and Family, A Chorus Editor, Tubingen/The Hage, Mohr/Mouton, 1974, p.13, coloca nos seguintes termos: “Com o iluminismo do século XVII, a visão individualista da sociedade começou a prevalecer: Na Revolução Francesa, a nova ideologia torna-se oficial. A Nação deveria ser une et indivisible. O Estado era claramente concebido como um composto de cidadãos enquanto grupos intermediários foram varridos, a mesma municipalidade transformou-se em mera subdivisão do governo estatal. Apenas um grupo intermediário entre o Estado e os cidadãos foi deixado intacto: a família” 3 Kelsen, H. (1984). Teoria pura do direito. Coimbra: Armênio Amado, 6ª Ed., pp 378-379. 2 353 A formação das novas sociedades intermediárias gera, em conseqüência, conflitos e litígios, onde a presença do Estado se faz necessária para a resolução. Esta resolução, dentro do “estado de direito”, se dá necessariamente pela elaboração de normas de direito material e, em decorrência, normas de direito processual para a aplicação quanto ocorre a provocação do Estado para a solução dos conflitos. Outra possibilidade existe, a de que sejam criadas normas que possibilitem a solução dos conflitos pelos próprios envolvidos ou por alguém por eles indicado, capacitando as próprias “sociedades intermediárias” à resolução dos conflitos, O que hoje exclusivamente está nas mãos do Estado. Este posicionamento, entretanto, possui seu revés4 que é o nascimento, dentro dessas sociedades, de novas formas de poder, com o claro risco de desvio de finalidades, pois se no próprio Estado, dentro dos princípios de um sistema de pesos e contrapesos o desvio existe, afastando-o da finalidade de zelar pelo bem comum, quanto mais em uma sociedade intermediária com finalidade diversa, que protege interesse de determinada categoria ou classe. Optou o Estado, em decorrência disso, pelo conttole de atuação das sociedades intermediárias na defesa de seus interesses pelo meio de regras trazidas pelo ordenamento jurídico e especificamente, o ordenamento jurídico brasileiro, e que hoje traz como matéria constitucional a tutela dos interesses tidos como coletivos. Atento às transformações, o legislador estabelece regras de direito material para dentro do ordenamento, regrar as novas relações surgidas, é o que se observa com a Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 8078/90 que é o Código de Defesa do Consumidor, normas relativas ao meio ambiente, à proteção do patrimônio público e erário público e até movimentação legislativa no sentido de regrar as relações trazidas pelas novas formas de comunicação, que afetam e alteram as relações existentes de venda e compra, direitos autorais, privacidade e outros direitos já estabelecidos. Mas de nada adiantariam as regras de direito material, sem as disposições previstas para a provocação da tutela jurisdicional quando violado o chamado interesse ou direito coletivo. Também atento às transformações, o legislador estabeleceu normas de caráter processual para a defesa desses interesses e direitos o que se observa do artigo 5º inciso XXXV da Constituição Federal, no tocante às regras e garantias do direito de ação, que tutela a defesa dos 4 Para Cappelletti, obra citada, pp.l48/149 “novos abusos, novas tiranias podem surgir dessas imponentes transformações. Sindicatos, partidos políticos, sociedades comerciais, nacionais e multinacionais, corporações profissionais, podem transfonnar-se, por sua vez, em temível centro de poder e opressão, pelos sócios ou por terceiros, mesmo ao nível de reagrupamentos inferiores são notados abusos perpetrados por exemplo, por certa associação de consumidores operando mais por interesses egoísticos e até chantagistas que por interesses válidos e reais da coletividade em si. É por isso que o grande movimento, inclinado a reconbecer às sociedades intermediárias sua própria capacidade de ação jurídica - tanto no campo do direito Substancial quanto no do Direito Processual - deveria acompanhar-se por um conte:xtual movimento de freio, de limite, de controle”. 354 interesses tidos como coletivos, surgidos em função dos conflitos também coletivos5, o que se faz em reconhecimento à existência de tais interesses e da necessária tutela jurisdicional. É de se destacar a técnica utilizada pelo legislador na tutela coletiva, não pelas ações a serem promovidas, o que tornaria inviável a tutela jurisdicional e, mais, remetetia aos primórdios do processo civil nos moldes da actio romana, uma vez que estabeleceria as ações a serem promovidas. Utiliza o legislador a técnica do interesse ou direito tutelado, se o interesse for individual, a ação é individual, mesmo que considerado o litisconsórcio. Se coletivo, aí se considerando o interesse e não o número de litigantes, a ação se caracterizaria como uma ação coletiva. Partindo desse pressuposto, vários institutos processuais existem e podem ser utilizados especificamente na tutela de interesses ou direitos. coletivos, que são estabelecidas de forma normativa pelo ordenamento, dentre elas a ação popular, ação civil pública, o mandado de segurança coletivo, a ação civil coletiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Dentro dos princípios estabelecidos para a tutela dos interesses ou direitos coletivos, e dentro do que prevê a legislação processual civil, e mais especificamente o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 83 que em função do próprio artigo 1º do mesmo dispositivo legal abrange todo o ordenamento jurídico, qualquer espécie de ação pode ser admitida para a efetiva e adequada tutela coletiva. De forma lenta, mas contínua, o que se observa nos dias atuais é a mudança das relações na sociedade, pois a cada momento surgem novos anseios e se fortale· cem as sociedades intermediárias, seja pela formação natural ou pela formação em conseqüência às relações existentes. Também o que se observa é que de forma gradual, também os conflitos se modificam e cada vez mais conflitos individuais dão lugar a conflitos coletivos, cabendo ainda ao Estado a resolução de tais conflitos outorgando e efetivamente entregando esta tutela pretendida. Calcado no individualismo, o sistema jurídico se viu e cada vez mais se vê diante de problemas surgidos, com a agravante de que se observa uma total desagregação do Estado moderno, que não traduz de forma correta os anseios sociais seja em que área for, educação, saúde, transporte, comunicação, onde o que se observa é cada vez mais o afastamento da instituição estatal pela sua ineficiência ou ausência de controle no cumprimento das funções que tomou para si, tendência esta também existente no direito, onde se preocupa o Estado com a tutela, mas não com a efetiva tutela. 5 Grinover, A .P. (1990) Novas tendências de direito processual. São Paulo: Forense Universitária, p. 50 ensina: “...tais conflitos são próprios da civilização pós·industrial, desenvolvida sobretudo em países de economia arvançada, não se podendo reconhecer a especial importância de que sua solução se reveste nos países em desenvolvimento, or significar não apenas a institucionalização de novas fonnas de participação na administração da justiça e gestão racional dos interesses públicos e privados, mas por assumir também papel promocional de conscientização política” 355 Resta aceitar essas mudanças e, dentro do ordenamento jurídico, buscar meios para tutelar tais interesses, seja o Estado ou até mesmo os próprios interessados, com as ressalvas trazidas por Cappelletti6 pois o que se observa é perde o “indivíduo” espaço na sociedade, prevalecendo o interesse de toda uma coletividade, tendência esta seguida pelo direito. 6 Cappelletti, M. (1977) Revista de Processo. Obra Citada. pp. 129-159. 356 357 ATIVIDADE PROFISSIONAL DE RELEVO 358 359 AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, REPARAÇÃO DE DANO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPOSTA Paulo Afonso de Marno Leite Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de Bauru - ITE Mestrando na ITE - Bauru EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAURU. Proc. nº 996/00 EDUARDO DE TAL, brasileiro, corretor, insciito no CPF/MF sob nº yy, RG nº xx-SSP/SP e sua mulher, MARIA DE TAL, brasileira, economista, portadora do CPF/MF nº yy, RG nº xx, ambos, residentes e domiciliados nesta cidade à rua Vital Brasil, nº 3-83, por seu advogado e procurador que esta subscreve (proc. junta·- doc. 01 e 02), com escritório também nesta cidade à rua Rio Branco, nº 5-38, 2° andar, conjunto 21-23, onde recebe as intimações, nos autos do processo de número à epígrafe, atinente à ação de nulidade de ato jurídico, reparação de dano e reintegração de posse, que lhes promove ROSALINA DE TAL, já qualificada, vêm, tempestivamente, ao abrigo do art. 297 e ss. do CPC, oferecer sua RESPOSTA, articulando·a seguinte forma. 360 I – PROÊMIO 1. Narra a peça vestibular, em síntese, que os co-Réus, nela mencionados, mediante instrumento particular, firmado em 29/julho/96 e acostado às fls. 36/45, prometeram vender à Autora, duas áreas de terras, sem benfeitorias. A primeira, matriculada sob nº 43.099, contendo 1.571,07 metros quadrados, e a segunda com 60.289,35 metros quadrados, matriculada sob nº 57.282, ambas localizadas nesta comarca. 1.1. Não obstante, os co-Réus, mediante escritura pública lavrada em 27/06/97, no Primeiro Cartório de Notas desta cidade, alienaram os mesmos imóveis a Eduardo de Tal e sua mulher, ora RRs. nesta demanda, cuja escritura foi levada a registro no respectivo Serviço Registrário. 1.2. Contudo, entende que esta alienação foi realizada de forma simulada, vez que Eduardo de Tal pagou pelas duas áreas o valor de R$ 250.000,00, bem inferior ao mercado, juntando, para tanto, cotação de imobiliárias, estimando, pro domo sua o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) como sendo o real dos referidos bens. 1.3. Assim, sentindo-se prejudicada, na qualidade de primitiva compromissária- compradora, invoca a tutela jurisdicional objetivando, mediante sentença judicial, a anulação da escritura de venda e compra já mencionada, reintegração na posse dos imóveis, perdas e danos, e a condenação de verba honorária advocatícia, bem como as custas processuais. 1.4. Em síntese, estes são os fatos articulados no libelo inaugural. II - PRELIMINARMENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 267-VI INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - ART. 295-III E PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS, DO COD. PROC. CIVIL. 2. Verificar-se-á, mais adiante, a dispensabilidade de se prolongar a relação jurídica processual, posto que, de plano, inviável se torna o provimento da tutela invocada pela Autora. Dito em outras palavras, não se faz necessário o prolongamento da relação processual, conforme dispositivos legais já invocados, o que desde já fica requerido. 361 2.A) CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELA AUTORA - POSSIBIUDADE DE SE INVOCAR NA PEÇA DEFENSÓRIA. 2.A.1. Assevera o Cód. Civil, em seu ano 76 verbis: “para propor; ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico ou moral”. E, o ano 3º do CPC, reza: “Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.” 2.A.2. Notória é a falta de interesse de agir da Autora na exata medida em que o elemento sobre a qual repousa sua pretensão (compromisso de compra e venda), padece de liceidade (art. 82 CC). Como corolário lógico, falta-lhe o interesse de obter a providência invocada na peça vestibular. 2.A.3. Segundo a sistemática de nosso ordenamento jurídico formal, o interesse de agir é secundário e instrumental. Secundário porque, à luz do ano 76 do C.C., esse interesse depende, necessatiamente, da existência de um direito matetial que assegure e permita ao interessado o exercício do direito formal. Este não existe sem aquele. 2.A.4. Dito em outras palavras, o interesse de agir decorre da necessidade lógica e imediata de se obter, através do processo, a proteção de seu direito material ou substancial. 2.A.5 Estando, como efetivamente está, viciado seu direito matetial - à vista da simulação de seu contrato - desaparece, de conseguinte, o interesse processual, até porque, o Estatuto dos Ritos, impõe a sanção de litigante de má-fé àquele que “...alterar a verdade dos fatos” “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (art.17, incs. II e III, CPC). 2.A.6. O litigante de má-fé é aquele que, sendo parte ou interveniente, atua com dolo ou culpa, causando dano processual e material à contra parte, é o improbus litigator, aquele que se utiliza de procedimentos escusos para vencer a demanda ou, sabendo ser difícil ou impossível superá-la, tenta de todas as formas procrastinar o andamento do feito. Atenta contra a dignidade da justiça porque, utilizando-se de expedientes nebulosos, descompromissa-se com a verdade e se selve do processo como meio de atingir objetivo ilícito e não para a realização da justiça, tal como ocorre no caso telado. 2.A.7. Possível de se invocar, como matéria de defesa, a simulação praticada pela 362 contraparte. Irrespondível é a lição que nos empresta o saudoso, mas sempre referenciado Washington de Barros Monteiro “in Curso de Direito Civil”, Saraiva, 1º vol., 1997, pág. 218, que assim preleciona: “Entretanto, a simulação pode ser alegada não só em ação especial, mas também como matéria de defesa, inclusive em embargos à execução.” 2.A.8. Conforme se verá mais adiante, a Autora, no instrumento de venda e compra figurou apenas e tão somente como testa-de-ferro, ou “homem de palha”, no dizer de Orlando Gomes (in Tradução ao Direito Civil, Forense, 1.983, pág. 375), de seu pai, Sr. Ariovaldo Jesus Corrêa. 2.A.9. De fato. Alega na peça vestibular que a venda e compra que os co-RRs. fizeram a Eduardo de Tal e sua mulher, realizada em 27/junho/97, o foi de forma simulada porque o preço de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) pago pelas duas áreas, é bem inferior ao valor real das mesmas, por ela estimado em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 2.A.10. Entretanto, Excelência, a Autora, na mais pura simulação, tanto que na exordial, proposital e maliciosamente omite o preço, pelos mesmos bens, teria pago: a) pela área matriculada sob na 43.099, a singela importância de R$ 45,32 e a área maior matriculada sob na 57.282, o preço de R$1.739,10, perfazendo, assim, o montante de R$ 1.784,42 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). 2.A.11 Ora, se enfática e candentemente, afirma que a venda e compra feita a Eduardo de Tal e sua mulher é simulada porque o preço por eles pagos de R$ 250.000,00 é bem inferior ao valor real de tais bens, o que dizer, então, da importância de R$ 1.784,42, por ela pago, pelas mesmas áreas em 29/julho/96? 2.A.12. Demonstrando uma inocência juvenil, em sua petição de fls. 26, in fine afirma que a empresa AAA, em 15/outubro/96 (docs. de fls. 54/55), aos primitivos proprietários, interessou-se pela compra de área oferecendo-lhes R$ 23,00 o metro quadrado. E, como a área total é de 61.860,42 metros quadrados, segue-se que a mesma tem o valor de R$ 1.442.789,66 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). 363 2.A.13. Daí indagar-se. É aceitável ou ao menos crível que a Autora tenha se tornado promitente compradora em julho/96, dessa mesma área, pela simbólica importância de R$ 1.784,42 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)? 2.A.14. Até mesmo o maior dos desavisados não acreditaria nesse conto de fado para dizer o mínimo, o que bem evidencia que a mesma não foi além de interposta pessoa de seu pai no documento em que se tornou promitente-compradora. 2.A.15. Com a clareza de sol a pino, Fulano de Tal, pai da Autora, às fls. 28/30 da exordial, confessa, especialmente à fl. 29, que o citado compromisso de venda e compra foi firmado por ela, como “COMPENSAÇÃO” pela escritura de dação e permuta que seu pai fez com os demais co-Reús. 2.A.16. De forma evidente, o Sr. Fulano de Tal, às fls. 28/30, mais especialmente à fl. 29, confessa que 90% (noventa por cento) dessas áreas eram de sua propriedade. Mas, convencido pelas pessoas ali mencionadas, de que poderia perdê-las, como decorrência de demandas judiciais contra o mesmo aforadas, resolveu, então, lavrar as escrituras de dação em pagamento, de permuta em frações ideais de fls. 60 e seguintes dos autos, ficando com outras áreas cujos valores correspondem a 1/10 (um décimo) da área permutada. “Trocou dez por um”. 2.A.17. À fl. 29, no segundo parágrafo, confessa, de forma indubitável que, no mesmo dia da lavratura da referida escritura, ou seja, em 29 de julho de 1.996, “...como COMPENSAÇÃO, os RRs. prometeram em venda a Autora (doc. 02), alegando que assim o fazendo haveria mais segurança com relação à propriedade, mesmo com a possibilidade de Sicrano sair vitorioso em suas pretensões judiciais, os bens objeto desta ação e deram, como já constou desta inicial, ampla, geral e irrevogável quitação de pagos e satisfeitos ...”(g.n). 2.A.18. Como prova inequívoca da simulação feita pela Autora, que serviu, como se disse, no interesse de seu pai, apenas e tão-somente para dar cunho de aparente legalidade ao compromisso de venda e compra de fls. 37/45, confessa, às fls. 29 da exordial, verbis: “DIANTE DAS EXPLICAÇÕES DADAS PELOS PROCURADORES DOS RÉUS E DA APARENTE BOA VONTADE DEMONSTRADA PELOS MESMOS, A AUTORA E SEU PAI CONCORDARAM COM A PROPOSTA FEITA” (os grifos e destaques são nossos). 364 2.A.19. Claro está, pois, que o citado compromisso de compra e venda de fls. 37/45, no qual a Autora figura como promitente-compradora, nada mais representa do que uma simulação feita para garantir, como COMPENSAÇÃO - termo por ela mesma usado - ao Sr. Fulano de Tal pela permuta das áreas que fez com os RRs. 2.A.20. Dito em outras palavras, o Sr. Fulano de Tal, temeroso de que a permuta pudesse frustrar com a conseqüente perda das áreas, através de sua filha, pretendeu garantir, via canhestra, a titularidade de tais bens. 2.A.21 E tanto é verdade que o próprio Sr. Fulano de Tal figura como promitente- vendedor no aludido instrumento (fl. 37) e, na expectativa de que, realmente estivesse seguro, ele mesmo confessa às fl. 29, que: “a escritura de venda e compra seria, por eles, promitentesvendedores, outorgada à promissária compradora ou a quem ela indicasse quando fosse solicitada.” Logo, a Autora estaria alforriada de outorgá-la a seu próprio pai. 2.A.22. Eis aí a razão de ser do instrumento particular de fls. 37/45. O Sr. Fulano de Tal, temeroso de que viesse perder a propriedade dos terrenos em razão de ações propostas contra si, especialmente o Sr. Sicrano, sócio majoritário da ZZZ S/A que teve a concordata e falência decretadas, maliciosamente, com inegável propósito de fraudar terceiros, firmou a referida escritura de permuta de sua parte ideal nas referidas áreas e recebeu em dação em pagamento outras, que afirma não valer um décimo da área permutada. E várias ações efetivamente foram-lhe aforadas, conforme se vê da inclusa certidão, o que confirma seu temor e explica sua intenção (doc. 03). 2.A.23. Ora, como pode alguém, na mais sã consciência, permutar uma área por outra de valor dez vezes menor? Resposta racional não há. Somente a simulação é que poderia explicar. 2.A.24. Daí porque o próprio Sr. Fulano de Tal confessa à fl. 29 que o referido com· promisso de venda e compra foi firmado em nome de sua filha, Autora, como COMPENSAÇÃO, ou seja, para garantia de que não se afastaria da titularidade dos terrenos permutados. 2.A.25. Destaque-se que o Sr. Fulano de Tal não é nenhum inexperiente ou inculto. Ao reverso, é pessoa com longa experiência de vida, principalmente no comércio e indústria. Foi diretor e gerente com poderes de administração na extinta ZZZ S/A., da qual foi sócio e deteve o controle acionário da mesma nessa condição. 365 2.A.26. Mencione-se, por oportuno, que a Autora não possui patrimônio algum, muito menos condições financeiras para fazer esta ou outra modalidade de transação imobiliária. Sequer, ao que consta, possui emprego fixo, o que bem demonstra sua condição de presta manus no aludido instrumento e para atender aos interesses de seu pai. 2.A.27. Se o ato jurídico decorre de dolo e o mesmo serviu apenas para mascarar a promessa de venda firmada pela Autora e os demais co-Réus, nenhum pode cobrar do outro indenização ou anular o ato jurídico, nos termos do art. 97 do Cód. Civil, verbis: “Se ambas as partes procederam com dolo, nenhuma pode alegá-lo, para anular o ato, ou reclamar indenização.” 2.A.28. No dizer de Maria Helena Diniz – Cód. Civil Anotado, Saraiva, 1.995, pág. 105: “Ter-se-á uma neutralização do delito porque há compensação entre dois ilícitos; a ninguém caberá se aproveitar do próprio dolo. Se ambas as partes contraentes se enganaram reciprocamente, uma não poderá invocar contra a outra o dolo, que ficará paralisado pelo dolo próprio (dolus inter utram qui partem compensatur).” 2.A.29. Verdadeiramente, o que a mesma deseja é servir-se de sua própria torpeza para obter, mediante esta ação, objetivo ilegal - qual seja, a anulação da venda e compra feita pelos RRs. com base em um contrato simulado, no qual figura como interposta pessoa. 2.A.30. O Prof. Silvio Rodrigues - Dos Vícios do Consentimento - Saraiva, 1.983, pág. 163, a respeito do dolo recíproco, assim preleciona: “Não se trata, de acordo com a lei deste país, de compensação de dolos, mas sim de desprezo do poder judiciário pelo clamor daqueles que, baseados em sua própria torpeza, querem obter a proteção do ordenamento jurídico”. “... Esta questão seria de relevo, não fosse como a maneira como o legislador redigiu a regra. A lei não permite seja ventilado o problema, nem cogita de saber qual das partes vai sofrer prejuízo mais sensível. Ela dá validade ao ato, por não admitir que a vítima do dolo - que por sua vez também agiu dolosamente - o argua.” 366 2.A.31. Assim, sobejamente demonstrado se encontra que o documento sobre o qual a Autora baseia sua pretensão jurídica não lhe serve de arrimo algum. Não goza de amparo do direito material e, por conseguinte, do direito formal, motivo pelo qual deve a mesma ser julgada carecedora do direito de ação, com elastéreo nos dispositvos legais já invocados. B . INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INÉPCIA . IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO PODE, DIREITO PESSOAL SOBREPOR-SE AO DIREITO REAL, MORMENTE QUANDO O PRIMEIRO VEM FUNDADO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO EM CARTÓRIO·- NO CONFRONTO ENTRE DIREITOS OBRIGACIONAIS E, PORTANTO, PESSOAIS (DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR) COM A SITUAÇÃO DAQUELE QUE É TITULAR DE DIREITO REAL. ESTE MERECE MAIOR TUTELA, PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO ÀQUELE. 2.B.1. Como é sabido, no Direito brasileiro, diferentemente do que ocorre no Direito francês, a compra e venda, como qualquer outro contrato, não transfere o domínio (v. art. 1.122 CC), vez que o contrato contenta-se apenas em outorgar para o adquirente como para o alienante, nada além de obrigações e direitos. Se para o vendedor, a de entregar a coisa e para o comprador, o de pagar o preço. O domínio, porém, somente se transfere após o regular registro no Serviço Registrário competente (art. 530-1 CC). 2.B.2. O compromisso de compra e venda - no caso, se válido fosse - geraria para a Autora apenas efeitos pessoais, ou seja, o de exigir dos promitentes vendedores o cumprimento do contrato preliminar consistente na outorga da escritura definitiva de compra e venda. 2.B.3. Não sendo isto possível, pois os promitentes vendedores alienaram o bem a Eduardo de Tal e sua mulher, por escritura pública levada a registro em cartório, só restará a ela a propositura de ação de perdas e danos fincado no art. 1.056 do Cód. Civil. Jamais, porém, a nulidade de tal escritura e de seu respectivo registro, porque o direito pessoal não pode direta e imediatamente, sobrepujar o direito real. 2.B.4. De fato. Se a lei declara em seu art. 134-II CC. que é da substância do ato jurídico, a escritura pública, em se tratando de alienação de bem imóvel, claro está que o compromisso de compra e venda - desde que não registrado em cartório, como é o caso vertente -, não possui a carga ofensiva de anular ou invalidar a escritura de venda e compra, constitutiva de 367 direito real, porque os direitos em litígio não são da mesma natureza, nem do mesmo pórtico jurídico. 2.B.5. Esta desigualdade de tratamento jurídico, segundo nossa sistemática legal, decorre, dentre outros fundamentos, da maneira pela qual ocorre a transmissão da propriedade imóvel (art. 530-1, CC). Como conseqüência lógica, vigora entre nós, de maneira absoluta a afirmação de que, o direito não registrado é inoponível ao direito registrado, e, por isso mesmo, o direito pessoal não pode sobrepor-se ao direito real. Até mesmo em se tratando de concurso de credores o crédito real prefere ao pessoal (art. 1.560, CC). 2.B.6. Não há dúvida de que o título no qual a Autora embasa sua pretensão jurídica, mesmo que não padecesse de liceidade alguma - não constitui um direito real, mas pessoal, cujo conteúdo, no máximo, consiste na prerrogativa de exigir dos promitentes vendedores e ora RRs., nesta demanda, o cumprimento de uma obrigação de fazer ou seja: a de outorgar-lhe a escritura definitiva de compra e venda, jamais, porém, o desfazimemo Je uma compra e venda feita mediante escritura pública, levada a registro em cartório e respectivo cacelamento registrário. 2.B.7. Mas, como tal, não será possível porque os bens já foram alienados a Eduardo de Tal e sua mulher e estes, por sua vez, igualmente alienaram-nos a terceiros, conforme se vê das inclusas matrículas, caberá, quando muito, à Autora, pleitear as perdas e danos correspondentes. 2.B.8. Tanto é verdade que, se determinada pessoa efetuar no mesmo dia, duas vendas do mesmo imóvel, proprietário será aquele que registrar em primeiro lugar, o que vale a dizer que a outra venda é como se não existisse. A razão está em que, no sistema brasileiro, conforme dito em linhas anteriores, os contratos não transferem o domínio - existe apenas a obrigação da prática desse ato - cuja transferência somente ocorre pela tradição ou registro, conforme seja o bem móvel ou imóvel, respectivamente. 2.B.9. A questão pode ser resumida na seguinte indagação. No confronto entre direitos obrigacionais e, portanto, pessoais, do compromissário comprador, com a situação daquele que é titular de direito real, qual deles deve prevalecer sobre o outro, ou seja, qual prefere do legislador maior tutela, preferência ou proteção jurídica? 2.B.10. À evidência que é o direito real, porque as regras que o disciplinam são consideradas como cogentes, imperativas e de ordem pública. Sob este enfoque de normas de ordem pública é 368 que se deve estudar e compreender os princípios que norteiam os direitos reais, suas consequências e seus efeitos em confronto com outros direitos não reais. Assim, por exemplo, são eles absolutos e de eficácia erga omnes, ao passo que os pessoais são relativos e de eficácia inter partes, refere-se ao outro obrigado. 2.B.11. Conclusão: salvo lei expressa em contrário, prevalece, sempre, a situação do direito real frente ao direito pessoal. 2.B.12. Tanto em doutrina como na jurisprudência é unânime o entendimento segundo o qual, o compromisso de compra e venda somente produz efeitos de direito real, portanto, eficácia contra terceiros, descie que registrado regularmente no Serviço Registrário de Imóveis. 2.B.13. A propósito, confira-se a lição de Darcy Bessone – “Da compra e Venda - Promessa e Reserva de Domínio” - Saraiva, 1.988, pag.143, verbis: “...sem a inscrição a promessa de compra e venda, mesmo com a renúncia do direito de arrependimento, se malograria pela possibilidade da transmissão do imóvel a um terceiro, contra o qual não poderia ela ser oposta, não se encontrando inscrita. Mas ousamos observar que é precisamente por isso que o registro é essencial à garantia real contra as alienações ou onerações posteriores (dec. lei nº 58, art. 5º).” 2.B.14. Os arestas abaixo transcritos igualmente perfilham do mesmo entendimento que de resto, como se disse, é pacífico em nosso ordenamento jurídico. RT647/102 COMPRA E VENDA - Imóvel- Pretendida anulação da escritura por promitentes compradores que firmaram compromisso anteriormente à venda - Inadmissibilidade - Compromisso que não se encontra inscrito no Registro Imobiliário, não podendo o compromissário opor o seu direito a terceiros - Hipótese ademais, em que a escritura de compra e venda encontra-se devidamente registrada - Inexistência de fraude, dolo ou simulação - Ato jurídico válido. O contrato preliminar de promessa de compra e venda, tal como o definitivo de compra e venda, gera apenas obrigações. Assim como este não transfere a propriedade, aquele não confere direito real ao 369 compromissário, servindo apenas como título à sua constituição, que se verifica pela inscrição no Registro Imobiliário. A inscrição pode ser feita a qualquer tempo, e antes disso o direito real não estará constituído. Mesmo que se admita a validade do contrato entre as partes contratantes, o promitente-vendedor não ficará privado dos direitos de alienar e onerar a coisa, porque a privação desses direitos só se verifica quando o promitente-comprador adquire, pela inscrição do contrato, o direito real. Por conseguinte, não poderá opor o seu direito a terceiros, permanecendo inócua a cláusula de irretratabilidade. Ap. 124.577 - 5° C. - j. 28.9.89 - rel. Des. Ralpho Waldo. 2.B.15. Do sobredito acórdão, extrai-se os seguintes trechos porque bastante elucidativos ao caso telado: “De se frisar; a propósito, que o promitente vendedor somente está impedido de vender o imóvel compromissado a terceiros se o compromissário comprador passa a ter o direito real de promessa de venda, o qual apenas se constitui com o registro imobiliário do contrato respectivo. Só nessa hipótese o seu direito à escritura definitiva de compra e venda é oponível a terceiros, como ressalta Orlondo Gomes na seguinte passagem de sua festejada obra: “...o contrato preliminar de promessa de venda, tal como o definitivo de compra e venda, gera apenas obrigações. Assim como este não transfere a propriedade, aquele não confere direito real ao compromissário, servindo, apenas, de título à sua constituição, que se verifica pela inscrição no Registro Imobiliário. Seu objeto, portanto, não é senão a obrigação de realizar o contrato definitivo de compra e venda (Direitos Reais, 1ª ed., Forense, p. 451). O mesmo renomado autor, aliás, resolve expressamente a questão posta nos autos pelas partes: “As inscrição pode ser feita em qualquer tempo, mas, antes que se faça, o direito real não estará constituído. Mesmo que se admita a validade do contrato entre as partes contratantes, o promitente-vendedor não ficará privado dos direito de alienar e onerar a coisa, porque a privação desses direitos só se verifica quando o promitente-comprador adquire, pela inscrição do contrato, o direito real. 370 Por conseguinte, não poderá opor o seu direito a terceiros, permanecendo inócua a cláusula de irretratabilidade” (ob. cit, p. 453) É no mesmo sentido o magistério de Miguel Maria Serpa Lopes: “Sem a proteção da inscrição, a promessa de compra e venda, mesmo com a renúncia ao direite de arrependimento, se malograria, pela possibilidade da transmissão do imóvel a um terceiro, contra o qual não seria oponível” (Curso de Direito Civil, v. III Freitas Bastos, 3ª ed.)” RT 705/176 COMPRA E VENDA - Escritura pública e registro imobiliário - Anulação pretendida por anterior adquirente do imóvel, cuja escritura não foi levada a registro - Inadmissibilidade - Falta de legítimo interesse de agir Carência decretada Ementa Oficial: O adquirente do imóvel cuja escritura não foi levada a registro é carecedor da ação para pleitear a nulidade da matrícula da segunda venda por faltar a ele o legítimo interesse em agir. Ap. 32.199-9 – 3ª T. – J. 22.9.93 – rel. Dês. Hamilton Carli 2.B.16. O precitado acórdão, embasou-se na lição de Washington de Barros Monteiro “in Curso de direito Civil” - Direito das Obrigações, Saraiva, 3ª ed., vol. II, pág. 81, que abaixo se transcreve: “Nesse sentido é a lição do Prof Washington de Barros Monteiro: “estabelece realmente o art. 620 do CC que “o domínio das coisas não se transfere pelos contratos antes da tradição”. Do mesmo modo, preceitua o art. 533 que “os atos sujeitos à transcrição não transferem do domínio, senão da data em que se transcreverem”. Por sua vez, ajunta o art. 860, parágrafo único, que “enquanto se não transcrever o título de transmissão, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, e responde pelos seus encargos”. Conseqüentemente, não se considera dono aquele que, embora demonstre haver concluído o contrato e pago o preço, não obteve todavia, a entrega da coisa. Se o vendedora aliena posteriormente de novo a terceira pessoa, não pode o primeiro reivindicála, mas tão-somente, reclamar do vendedor a indenização das perdas e danos” (in Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações, Saraiva, 1962, 3ª ed., 2°/81). 371 2.B.17. Desta forma, a impossibilidade jurídica do pedido é manifesta, não podendo a Autora anular a escritura pública de venda e compra regularmente registrada, motivo pelo qual impõe-se o indeferimento da exordial, visto que a ação cabível, se fosse o caso seria de perdas e danos. 2.B.18. À vista do exposto, aguarda-se pelo acolhimento das preliminares invocadas, extinguindo-se desde logo o processo, bem como condenando-se a Autora ao pagamento de verba honorária advocatícia e demais consectários legais. III – SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO 3. Na hipótese improvável de superação das preliminares invocadas, no mérito, a ação não merece prosperar. 3.1. Jamais existiu por parte de Eduardo de Tal e sua mulher a apregoada simulação que resultou na compra e venda que aqui se pretende nulificar. 3.2. De início, cabe ressaltar que os terrenos não apresentam os valores comerciais que a Autora pretende atribuir-lhes. Sua comercialilação sempre foi difícil, tanto que por longos anos estiveram nas mãos dos vendedores, mas jamais conseguiram qualquer interessado. 3.3. A razão está em que os mesmos pertenciam à empresa ZZZ S/A., que teve a concordata e posterior falência decretada nesta comarca, sendo que o sócio majoritário da mesma foi o Sr. Sicrano. Este, por seu turno, igualmente foi sócio majoritário, com poderes de gerência e administração nas empresas KKK e MMM S/A. 3.4. Pois bem. Estas duas últimas foram à bancarrota, resultando na lesão de centenas de correntistas e aplicadores desta cidade, os quais promoveram ações de indenização não só em face das pessoas jurídicas, mas também, de seus sócios, cujas ações ainda se encontram tramitando pela justiça. 3.5. De conseguinte, todos os bens, direitos e ações dos quais Sicrano e seu irmão Beltrano eram titulares, estão sujeitos às conseqüências destas demandas, razão pela qual os aludidos imóveis, anteriormente pertencentes à ZZZ S/A., não encontravam interessados na sua compra. 372 3.6. Eram, por assim dizer, na praxe imobiliária, terrenos micados, com a conseqüente desvalorização. Mencione-se, ainda, que os terrenos adquiridos por Eduardo, bem antes, foram arrematados pelos primitivos proprietários - mais de uma centena deles - nos autos da reclamação trabalhista aforada contra a ZZZ S/A. Diante do rumoroso caso havido com a KKK, ZZZ S/A, de notório conhecimento da cidade bauruense, além do grande número de proprietários de tais bens, claro que dificilmente poderia aparecer interessados na compra da área pelo seu real valor de comércio. A desvalorização foi uma conseqüência lógica e imediata pela insegurança que o negócio jurídico representava. 3.7. Os aludidos terrenos foram oferecidos a Eduardo em sua imobiliária, por procurador legalmente habilitado interessando-se pelos mesmos, pelo valor mencionado na ,escritura posto que, como se disse anteriormente, existia, como até hoje existe, receio de se comprar qualquer bem móvel e imóvel direta ou indiretamente ligados a Sicrano e Beltrano, ou ZZZ S/A. 3.8. O próprio co-Réu Eduardo encontrou.grande dificuldade na comercialização dos mesmos, pois os adquiriu em 1.997, e somente conseguiu revendê-los por partes a partir de julho/99, conforme se vê das inclusas matrículas. 3.9. Ressalte-se, ainda, que a compra e venda foi realizada dentro dos parâmetros legais, sendo certo que Eduardo agiu na mais límpida boa-fé. Tanto é verdade que cuidou de incluir tal compra regularmente em suas declarações de imposto de renda, cujas cópias seguem em anexo (docs. 04 a 09), pedindo que doravante este processo corra em segredo de justiça (CPC, art. 155, I). 3.10. A Autora apega-se ao preço do negócio jurídico para invocar a simulação, por entendê-lo bem inferior ao mercado imobiliário. Mas seu engano é manifesto pelas razões acima já explicitadas. 3.11. Demais disso, Eduardo e sua mulher já se desfizeram de parte dos bens, mediante venda de uma parte e permuta de outra, por preços que correspondem àquilo que pagaram. Com isso, pretendem demonstrar não só a boa-fé mas a ausência da referida simulação. 3.12. Mencione-se, por oportuno, que os aludidos terrenos foram desmembrados em 10 (dez) áreas distintas, recebendo as matrículas sob nº 69.093 a 099 e 69.101, as quais foram 373 objeto de permuta com FFF, em dezembro/99, antes mesmo de qualquer ato de citação, pelo valor de R$ 200.000,00; a de número 69.100, foi objeto de venda e compra para GGG e sua mulher, em 29/julho/99, pelo valor de R$ 70.000,00; e finalmente a de número 69.100, foi alienado à HHH e sua mulher, em 30/12/98, pelo valor de R$ 15.800,00, tudo conforme se vê das certidões das sobreditas matrículas que seguem acostadas (docs. 10 a 19). 3.13. O valor global de tais alienações importa em R$ 285.800,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), portanto, pouco mais acima daquele pelo qual os RRs. Eduardo e sua mulher pagaram pela aquisição, fato que bem demonstra que os preços são compatíveis, tendo em vista as circunstâncias especiais de tais terrenos pelas razões já articuladas em linhas anteriores, inexistindo, daí, a pretensa simulação. 3.14. Não se vislumbra o descompasso entre o negócio jurídico tido como simulado pela Autora, com o negócio jurídico real de compra e venda, mesmo porque, é de se indagar: quais as vantagens que teriam auferido os pretensos simulantes? Nenhuma. 3.15. Ora, se os promitentes vendedores eram proprietários dos terrenos que alienaram, fazendo-o no exercício regular de seus direitos (art. 524, Cod. Civil), na forma legal (art.134, Cod. Civil). Nessa qualidade, a isso não estavam impedidos, mesmo que, anteriormente, já houvessem compromissado à venda os mesmos bens à Autora. Resta a esta, apenas e tãosomente a postulação de perdas e danos decorrentes. 3.16. Mesmo que tivesse ocorrido a simulação - o que se diz apenas a título de epítrope - ainda assim, o compromisso de compra e venda no qual a Autora se sustenta, não possui a força, a carga jurídica ofensiva para desconstituir a escritura de venda e compra devidamente registrada - dado o seu caráter pessoal em confronto com o direito real - mesmo porque os terrenos já foram alienados a terceiros que sequer figuram nesta relação processual. 3.17. Jamais houve das partes qualquer intuito de mascarar o negócio jurídico, menos ainda emitiram, espontaneamente, declaração divergente de suas vontades com o objetivo de enganar terceiros, mesmo porque Eduardo e sua esposa desconheciam que os terrenos, anteriormente, foram compromissados à venda para a Autora. 3.18. ao caso telado. Em conclusão, a improcedência da demanda é a exata medida a ser aplicável 374 III – B – SOBRE AS PERDAS E DANOS 3.B.1. Não se sabe a que título, menos ainda o fundamento legal, a Autora deseja a condenação dos RRs. às perdas e danos. Segundo a nossa sistemática processual o valor das perdas e danos deve ser quantificado na exordial, não podendo sê-lo de forma genérica, nem se permite, salvo as exceções legais, sua remessa à liquidação de sentença. 3.B.2. A não ser assim, estar-se-á ferindo frontalmente os art. 282, V, e 286 e incisos do Cod. Proc. Civil, que encerram o princípio da liquidez do pedido. 3.B.3. A respeito do assunto, com o magistério que lhe é peculiar, assevera Wellington Moreira Pimentel (in Comentários ao Código de Processo Civil- Editora RT, vol. III, 1.979, pág. 173): “A determinação diz respeito à qualidade e quantidade do objeto mediato do pedido, vale dizer, do bem jurídico sobre o qual recai a pretensão de direito material. Para ser certo o pedido deverá ser expresso. Não há pedido tácito, exceção feita ao dos juros que, por disposição legal, estão compreendidos no pedido principal (art. 293) e também o de custas e honorários, diante do princípio da sucumbência consagrado no art. 20.” 4. À vista do exposto, os RRs. aguardam pela inteira improcedência da ação, condenando-se a Autora ao pagamento de custas processuais, verba honorária advocatícia e demais consectários legais. 5. Protestando provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, sem exceção, especialmente pelo depoimento pessoal da Autora, oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente ofertado, juntada de documentos, perícia e outras que se fizerem necessários e que desde já ficam requeridos. Termos em que, P. Deferimento. Bauru (SP), 12 de fevereiro de 2.001. Paulo Afonso de Mamo Leite OAB/SP 36.246 375 ACÓRDÃOS 376 377 ACÓRDÃO N° 29.060/2000 - SPAJ EM 15/08/2000 – 3ª TURMA PROCESSO TRT/15ª REGIÃO N° 00420S/1999·RO RECURSO ORDINÁRIO RECORRENTE: LUCIMARA MARIA DOS SANTOS RECORRIDA: INDÚSTRIAS ROMI S/A ORIGEM: VARA DO TRABALHO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE EMENTA AIDS. PORTADORA DE HIV TEM DIREITO À ESTABILIDADE NO EMPREGO. DISPENSA IMOTIVADA PRESUMIDA DISCRIMINATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. Os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho, levam à presunção de que qualquer dispensa imotivada de trabalhadora contaminada com o vírus HIV é discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais insculpidos nos arts. art. 1°, incs. III e IV, 3° inc. IV, 5° caput e inc. XLI, 170, 193. A obreira faz jus à estabilidade no emprego enquanto apta para trabalhar, eis que vedada a despedida arbitrária (art. 7°, inc. I, da Constituição Federal). Reintegração determinada enquanto apta para trabalhar. Aplicação dos arts. 1° e 4° inc. I, da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995 (cf. CLT, art. 8° c/c CPC, art. 126 c/c LICC, art. 4°). Os riscos da atividade econômica são da empresa empregadora (CLT, art. 2°), sendo irrelevante eventual queda na produção, pois a recessão é um mal que atinge todo o país. 378 Inconformada com a r. sentença de fls. 136/138 complementada em decorrência de embargos de declaração às fls. 144/145, cujo relatório adoto e que julgou improcedente a reclamatória, recorre ordinariamente a reclamante, consoante razões de fls. 149/155, onde pleiteia o cancelamento da despedida arbitrária, com a conseqüente reintegração no emprego e recebimento de indenização correspondente ao período de afastamento com reflexos, além da indenização por dano moral. A reclamada apresentou contra-razões às fls. 159/163. O Ministério Público manifestou-se às fls. 167/169, pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório VOTO Conheço do recurso, eis que interposto pela parte legítima e processualmente interessada, com perfeita representação (fls. 14 e 128), sendo tempestivo, observada a alçada e devidamente preparado (custas processuais à fl. 156), estando, pois, regularmente processado. AIDS: dispensa/reintegração/danos materiais Prospera em parte o apelo autoral. Com efeito, a Carta Magna em vigor tem como fundamentos, dentre outros, “a dignidade da pessoa humana” e “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1°, incs. III e IV), além do que constitui objetivo fundamental “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3°, inc. IV), onde “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, sendo punida “qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (art. 5° caput e inc. XLI). Ademais, o “trabalho” humano é princípio geral da atividade econômica (CF, art. 170), bem como base da ordem social (CF, art. 193). É incontroverso nos autos de que a reclamante é portadora da Sindrome da Deficiência Imunológica Adquirida - SIDA (HIV reagente), ou seja, soropositivo acometida da AIDS (fls. 22/23 e 25/27) e, que a empresa reclamada tinha prévio conhecimento de tal doença, isto é, desde janeiro/1998 (fl. 37). Os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho levam à presunção de que qualquer 379 dispensa imotivada de trabalhadora contaminada com o vírus HIV é discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais invocados. A obreira faz jus à estabilidaue no emprego enquanto apta para trabalhar, eis que vedada a despedida arbitrária (art. 7°, inc. I, da Constituição Federal). Salvo justo motivo, o emprego ficará assegurado enquanto a trabalhadora estiver habilitada para tanto. Caso a evolução da doença impossibilite o labor da obreira futuramente, os encargos, por óbvio, serão de encargo da Previdência Social, através do benefício próprio devidamente solicitado ao órgão público competente. Inadmissível, entretanto, a dispensa arbitrária. Nesta linha de raciocínio, a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995 (publicada no DO-U de 17/04/1995), em seu art. 1°, estipula de forma cogente e peremptória que “fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal”. Ora, a Lei nº 9.025/1995 protege todos os empregados, sem distinção, de práticas discriminatórias limitativas do acesso à relação de emprego, ou à sua manutenção. Referido texto legal deve ser interpretado no contexto protetivo ao hipossuficiente, princípio que dá suporte e é a própria razão do Direito do Trabalho. Assim, embora omissa a legislação em específico aos aidéticos, tendo em vista os princípios invocados, aplica-se por extensão e analogia (CLT, art. 8° c/c CPC, art. 126 c/c UCC, art. 4°) o quanto disposto no art. 4°, inc. I, da invocada Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995: “O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, faculta ao empregado ... a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais”. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial: “AIDS - REINTEGRAÇÃO - DESPEDIDA ARBITRÁRIA E DISCRIMINATÓRIA - A aplicação da Lei nº 9.029/95 de maneira analógica não tem o condão de atritar com as normas constitucionais garantidoras dos direitos “mínimos” dos trabalhadores, na medida em que, aqui, não se vislumbra simples 380 despedida arbitrária, mas sim despedida arbitrária e discriminatória. Equivoca-se a embargante ao considerar que a decisão turmária lesiona preceito de ordem constitucional, uma vez que este órgão julgador tão-somente cuidou, e de forma bastante cautelosa, para que a Carta Magna deste país restasse devidamente observada e respeitada. Logo, tem-se que é a própria Constituição Federal que proíbe de maneira inequívoca, no caput do seu arf. 5°, qualquer espécie de discriminação. Depreende-se, pois, daí, que a supracitada norma também, alcança as relações de trabalho.” (TST, no ED-RR nº 217.791/1995-3, ac. da 2ª T., rel. Min. Valdir Righetto, in DJ-U de 22/05/1998); “PORTADOR DO VÍRUS HIV - DESPEDIMENTO INJUSTO PRESUNÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO - REINTEGRAÇÃO - O despedimento injusto de empregado portador do vírus HIV, ainda que assintomático, presume-se discriminatório e, como tal, não é tolerado pela ordem jurídica pátria, impondo-se, via de conseqüência, sua reintegração. Referências: Constituição Federal, arts. 3º, IV, e 7°, XXXI”. (TRT 3ª Reg., no RO nº 16.691/1994, ac. da 3ª T., rel. juiz Levi Fernandes Pinto, in DJ-MG de 05/09/1995). Registre-se que os riscos da atividade econômica são da empresa empregadora (CLT, art. 2°), sendo irrelevante eventual queda na produção, pois a recessão é um mal que atinge todo o país. Desta forma, reforma-se o decisório de primeira instância, para julgar parcialmente procedente a reclamatória, determinando a reintegração da suplicante no emprego e na mesma função que exercia, enquanto apta para trabalhar, com pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas que teria direito como se na ativa estivesse (férias + 1/3, 13° salários e depósitos fundiários em conta vinculada), vencidos e vincendos até efetiva reintegração, computando-se todos os aumentos salariais concedidos de forma genérica aos demais funcionários, sejam eles legais, convencionais e espontâneos, como se apurar em regular liquidação, descontando-se o pago a título de verbas rescisórias (fl. 16), a fim de que não ocorra emiquecimento sem causa. Deverão ser observadas, ainda, as vantagens que eventualmente seriam adquiridas pela reclamante durante o período, para todos os fins de direito (cf. CLT, arts. 495, 543 parágrafo 3° e 381 855). Juros, correção monetária e contribuições fiscais e previdenciárias, acaso incidentes, na forma de lei. Danos morais No particular, improspera o apelo autoral. Inicialmente, convém consignar que o dano moral é indenizável, pois atinge a esfera íntima e valorativa da lesada (enquanto que o dano material, também passível de indenização, constitui reflexo negativo no patrimônio alheio). Vem de encontro desta concepção o que constou do brilhante voto do eminente Desembargador Milton dos Santos Martins, em 29/10/1981, na apelação cível nº 38.677, da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, verbis: “Sempre atribuímos mais valores às coisas materiais do que as coisas pessoais e de espírito. Não se indenizam as ofensas pessoais, espirituais, e se indenizam os danos materiais. Quer dizer; uma bicicleta, um automóvel, tem mais valor do que a honra e a boa fama do cidadão. Não se mediria a dor; esta não tem preço, indigno até cobrar. (...). Tem-se de começar a colocar no ápice do tudo não o patrimônio, mas os direitos fundamentais à vida, à integridade física, à boa fama, à privacidade, direitos impostergáveis da pessoa. O direito é feito para a pessoa. Não se concebe se queira discutir ainda hoje se indenizável ou não o chamado ‘dano moral’.” (in RJTJRGS 91/320). Igualmente a lição do professor e magistrado paranaense Clayton Reis, no sentido de que: “... os bens de um modo geral devem ser objeto da tutela do Estado, e dentre eles, como é notório, o patrimônio moral. Afinal, o império da paz social, fruto da fraternidade individual entre os seres humanos, não foi apenas uma mera promessa do juiz dos juízes, mas uma sentença definitiva.” (in Dano Moral, Forense, 1997, 4ª ed., p. 137). No presente caso, entretanto, quanto ao dano moral, por ceno que este não ocorreu, uma vez que a reclamante não foi ofendida em sua honra. Embora dispensada imotivadamente, estando doente com AIDS, a empresa agiu sem 382 excessos e sem qualquer alarde da situação da obreira, utilizando em tese do poder potestativo que entendeu aplicável e que somente através do presente julgado foi presumido discriminatório. O dano moral não restou evidenciado na espécie, diante do conjunto fático probatório existente nestes autos. Nada a deferir à reclamante. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante e dou-lhe provimento parcial, para julgando parcialmente procedente a reclamatória, determinar a reintegração da reclamante no emprego, observada a mesma função que exercia, enquanto apta para trabalhar, com condenação da reclamada no pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas do período em que esteve afastada com os devidos aumentos e observadas as vantagens que também seriam adquiridas no período, vencidos e vincendos até efetiva reintegração, compensando-se o valor pago na época da rescisão, tudo nos expressos termos, forma e limites da fundamentação que a esse dispositivo integra. Juros, correção monetária e contribuições fiscais e previdenciárias, acaso incidentes, na forma de lei. Arbitro o valor da condenação em R$9.000,00 (nove mil reais). Custas pela reclamada no importe de R$180,00 (cento e oitenta reais). MAURO CESAR MARTINS DE SOUZA Juiz Relator 383 ACÓRDÃO N° 40.586/2000 - SPAJ EM 19110/2000 – 3ª TURMA PROCESSO TRT/15ª REGIÃO N° 015171/2000-REO-7 RECURSO EX OFFICIO E RECURSO ORDINÁRIO RECORRENTE: JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE ASSIS E MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA RECORRIDO: ELIAS JOSÉ DA SILVA ORIGEM: 2ª VARA DO TRABALHO DE ASSIS EMENTA ADICIONAL NOTURNO. A base de cálculo do adicional noturno tem como parâmetro a remuneração do trabalho diurno, pressupondo que o trabalhador desenvolva suas funções em condições normais. Cumptida a jornada de trabalho no período noturno, compreendido entre 22h00 e 05h00, devido é o adicional, sendo computada a hora noturna como de 52 minutos e 30 segundos, consoante exegese do quanto disposto no an. 73 da CLT. Inconformado com a r. sentença de fls. 53/57, cujo relatório adoto e que julgou parcialmente procedente a reclamatória, recorre o reclamado, consoante razões de fls. 60/62, alegando que houve julgamento extra petita com relação à condenação em horas extras defetidas 384 em quantidade superior ao pedido inicial, afirma que são indevidas, por. comprovada integralmente pagas, insurge-se, ainda, contra o deferimento de honorátios advocatícios. Há também remessa ex ofticio. Contra-razões apresentadas às fls. 65/68 pelo reclamante. O Ministério Público, no parecer de fls. 71/72 subsctito pelo Procurador Alex Duboc Garbellini, opina pelo conhecimento do recurso e da remessa ofiCial, pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos para reconhecer a concessão do intervalo para repouso e alimentação de 1 (uma) hora e para excluir da condenação os honorários advocatícios. É o relatório. VOTO Conheço do recurso ordinário, eis que interposto pela parte legítima e processualmente interessada, com representação regular (fl. 18), sendo tempestivo, observada a alçada e isento de preparo, estando, pois, regularmente processado. Outrossim, nos termos do Decreto-lei na 779/69, conheço da remessa de ofício. Por retratar em parte o entendimento deste Relator acerca do caso vertente, adoto como minhas razões de decidir a parte convergente do parecer da Douta Procuradoria, pedindo vênia para transcrevê-lo, in verbis: “PRELIMINAR DE NULIDADE Não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, até porque, no decisum da r: sentença, a MM Junta condenou o reclamado a pagar ao reclamante “os direitos constantes das alíneas ‘a’ a ‘c’” do pedido formulado na petição inicial. MÉRITO Em face da correlação de matérias, serão analisados conjuntamente o recurso voluntário e a remessa de ofício. Horas extras As horas extras estão devidamente anotadas nos cartões de ponto, o reclamado confessa que o reclamante trabalhava no horário das 12 às 13 horas, portanto, durante parte do intervalo previsto 385 e pré-anotado nos cartões de ponto (das 11 às 13 horas) e as fichas financeiras comprovam que o pagamento das horas suplementares não foi feito corretamente no período em que se declarou a competência da Justiça do Trabalho. A pré-anotação do intervalo intrajomada no cartão de ponto se refere a duas horas (das 11 às 13 horas). Portanto, presume-se usufruído, salvo prova em contrário, já que a Portaria nº 3.626/91 do Ministério do Trabalho autoriza tal forma de assinalação do intervalo. Porém, o reclamado confessou o labor apenas no período das 12 às 13 horas e o reclamante não fez prova de que trabalhasse também das 11 às 12 horas. A r: sentença merece reforma para que seja considerado o intervalo de uma hora para repouso e alimentação.” Adicional noturno A base de cálculo do adicional noturno tem como parâmetro a remuneração do trabalho diurno, pressupondo que o trabalhador desenvolva suas funções em condições normais. Cumprida a jornada de trabalho no período noturno, compreendido entre 22h00 e 05h00, devido é o adicional, sendo computada a hora noturna como de 52 minutos e 30 segundos, consoante exegese do quanto disposto no ano 73 da CLI. Assim, ante a incontrovérsia da existência de labor no horário supra, devido o adicional noturno deferido pela r. sentença, o qual fica mantido. “Honorários advocatícios O último salário declinado na petição inicial (R$44,33) é superior à dobra do mínimo. Por outro lado, o autor não juntou declaração de próprio punho, sob as penas da lei, de que era pobre, como exige o art. 1º da Lei nº 7115/83. Assim, não preenche os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 5.584/70 para a concessão da assistência judiciária.” Assim, impõe-se a reforma da r. sentença de origem para excluir da condenação o pagamento de l (uma) hora extra diária pela concessão de intervalo intrajornada, conforme restou provado nos autos, com base nos cartões de ponto colacionados, e afastar a condenação em honorários advocatícios por não preenchidos os pressupostos legais. 386 Ante o exposto, conheço da remessa ex officio e do recurso ordinário interposto pelo reclamado, e dou-lhes parcial provimento para reconhecer a existência de intervalo intrajornada de 1 (uma) hora e excluir da condenação os honorários advocatícios, nos termos, forma e limites da fundamentação, que a esse dispositivo integra. Rearbitro o valor da condenação em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Custas processuais pelo reclamado, no importe de R$ 30,00 (trinta reais). MAURO CESAR MARTINS DE SOUZA Juiz Relator 387 INFORMAÇÕES AOS COLABORADORES A RIPE, editada pela Instituição Toledo de Ensino, tem como objetivo a publicação de artigos de natureza científica, resultantes de estudos, pesquisas e trabalhos que venham a contribuir para o desenvolvimento do universo jurídico, elaborados por professores e profissionais desta ou de outras Instituições, que se enquadrem no Regulamento para a apresentação dos trabalhos. São aceitas monografias, artigos, ensaios, decisões de relevo especial, acórdãos, jurisprudência comentada e resenhas, inéditos ou não, para a publicação, desde que atendam aos objetivos de divulgação de produção da Ciência Jurídica. Normas editoriais Os artigos encaminhados à revista são submetidos a um Conselho Editorial. A apreciação verificará o ineditismo, a relevância, a oportunidade, além do mérito e outras características. Os artigos não serão devolvidos e, de acordo com a análise, poderão ser programados para publicação. Uma vez selecionado o artigo, seu autor deverá encaminhar, para a Instituição Toledo de Ensino, uma autorização para publicação do mesmo na revista, que é impressa e eletrônica, sem qualquer ônus para a revista ou para a Instituição, tendo em vista o seu caráter científico. Ao Setor de Revisão reserva-se o direito de efetuar alterações de ordem editorial (formal, ortográfica, gramatical) nos originais, respeitados o estilo e as opiniões dos autores, com a fmalidade de manter a homogeneidade e a qualidade da revista. Os autores receberão três exemplares pelo trabalho publicado na revista. As colaborações deverão ser enviadas para o seguinte endereço: Instituição Toledo de Ensino RIPE - Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos Praça 9 de julho, 1-51, Vila Pacífico 17050-070 - Bauru – SP Endereço eletrônico: [email protected] Telefone: (14) 220-5000 Coordenador de comunicação: Bento Barbosa Cintra Neto 388 Normas para a apresentação de trabalhos Para facilitar a elaboração da revista, são apresentadas algumas normas para o encaminhamento de trabalhos. Meios - os originais deverão ser encaminhados em duas vias impressas, em papel A4, com margens de 3 centímetros, fonte 14 e em disquete de 3,5 polegadas com etiqueta que indique nome do autor e do artigo (arquivo no formato Word para Windows ou compatível), ou mediante correio eletrônico. Original - deve se desenvolver na seguinte seqüência: título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es) e respectivo(s) currículo(s), resumo e palavras-chave, corpo do trabalho e referências bibliográficas. Título - deve ser breve, específico e descritivo, contendo as palavras representativas do seu conteúdo. Destaques - o uso de negrito deve ficar restrito aos títulos e intertítulos; o de itálico, apenas para destacar conceitos ou palavras em língua estrangeira. Currículo - devem constar informações quanto à formação do(s) autor(es), títulos, atividades que desempenha(m), endereços residencial, profissional e eletrônico completos, incluindo telefones. Resumo - com, no máximo, dez linhas ou cento e cinqüenta palavras. Citações - devem ser acompanhadas por uma chamada para o autor, com o ano e o número da página. A referência bibliográfica da fonte da citação virá em lista única ao final do artigo. A exatidão e a adequação das citações e referências a trabalhos consultados e mencionados no texto são de responsabilidade do autor. Siglas - devem vir acompanhadas do nome na primeira menção; posteriormente, a critério do autor. Referências Bibliográficas - devem constituir uma lista única no final do artigo, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou com as seguintes informações: em ordem alfabética por sobrenome de autor em maiúsculas, nome do autor, título da obra em itálico, edição, local da publicação: editora e ano da publicação; no caso de periódicos, em ordem alfabética por sobrenome de autor em maiúsculas, nome do autor, título, nome do periódico em itálico, local onde foi publicado, número do exemplar incluindo mês e ano ou data da publicação, páginas inicial e final do artigo. Obs.: não se usa a palavra “Editora”. Faculdade de Direito de Bauru Escritório de Aplicação de Assuntos Juridicos Rua Antonio da Silva Souto, 2-06 - Vila Pacífico. Tel.: 238-6071. CEP 17050-510. Bauru/SP
Download