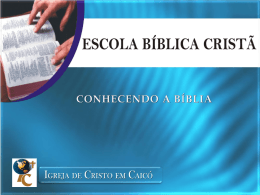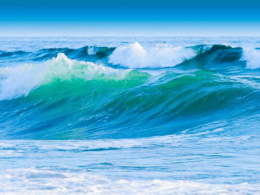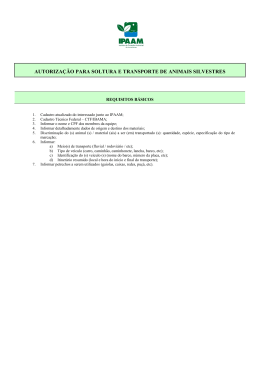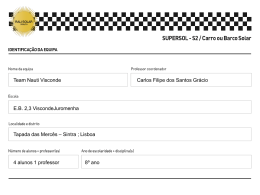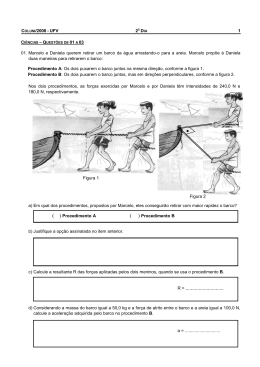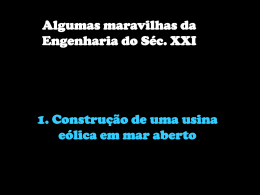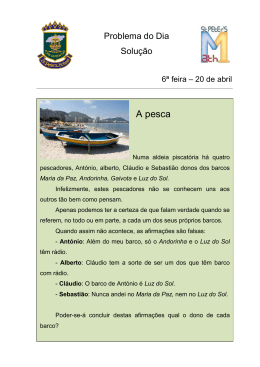Índice
1.
Um enigma, duas respostas, nenhuma conclusão
2.
Porquê um barco de cana?
3.
Ao encontro dos índios na Floresta dos Cactos
4.
Com beduínos e budumas no coração da África
5.
Com os monges negros na nascente do Nilo
6.
No mundo dos construtores de pirâmides
7.
Em pleno Atlântico
8.
Descendo a costa africana até ao cabo Juby
9.
Dominados pelo mar
10.
Rumo à América
11.
Seis mil quilómetros num barco de papiro
Epílogo
CAPÍTULO 1 --- Um enigma, duas respostas, nenhuma conclusão
Uma cana tremula ao vento. Apanhamo-la.
Flutua. Aguenta o peso duma rã.
Duzentas mil canas tremulam ao vento. Um enorme prado ondula, tal como os campos de trigo, ao
longo da costa.
Ceifamo-lo. Atamos as canas em feixes, como espantalhos de trigo. Os feixes flutuam. Vamos para
bordo. Um russo, um africano, um mexicano, um egípcio, um americano, um italiano e eu, um
norueguês, com um macaco e algumas galinhas a cacarejar. Largamos em direcção à América.
Estamos no Egipto. Areia movediça, secura e calor, é o Sara.
0 nosso amigo Abdullah garante que as canas flutuarão até lá. Lembro-lhe que a América fica
bastante longe. Em sua opinião, os Americanos não gostam de pessoas de pele escura, mas eu
tranquilizo-o dizendo-lhe que está enganado. Ele não sabe onde fica a América, mas havemos de lá
chegar, se o vento continuar favorável. Estaremos seguros sobre as canas enquanto as cordas não
cederem. E ele repete, enquanto as cordas aguentarem. Mas aguentarão?
Senti que me sacudiam o ombro e acordei. Era Abdullah. «São três horas», disse. «Vamos
recomeçar o trabalho.» O sol queimava através da lona da tenda. Levantei-me e espreitei por uma
abertura na porta de entrada. O calor seco e a luz deslumbrante do sol chegaram até mim. Sol, sol,
sol. A extensão de areia empapada de sol encontrava-se com o mais bonito azul que Deus criou, um
céu limpo de nuvens descobrindo-se na tarde soalheira sobre aquele mar de areia cinzento-dourada.
Contra o céu erguia-se uma fila de três pirâmides grandes e duas mais pequenas que mais pareciam
dentes de tubarão. Estavam ali, imóveis e inalteráveis, desde o tempo em que o homem fazia parte
da natureza e era produto dela. Em frente, numa baixa de terreno, jazia qualquer coisa sem tempo
definido, construída ontem, construída há dez mil anos, um barco no meio da areia, uma espécie de
arca de Noé encalhada no deserto do Sara, longe das algas e da rebentação. Ao lado, dois camelos
tasquinhavam. Que tasquinhavam eles? Enfeites do barco, talvez. «O barco de papel.» Era feito de
papiro. As canas douradas estavam atadas em molhos, que, unidos uns aos outros, tomavam a
configuração dum navio, com proa e ponte à popa, erguida no céu azul como a Lua em quarto
crescente.
Abdullah já se dirigia para lá. E dois buduma, negros como carvão, de vestes brancas a flutuar ao
vento, trepavam para bordo, enquanto os egípcios de trajos coloridos batiam os molhos de canas de
papiro. Havia muito trabalho a fazer. «Bot! Bot!», gritava Abdullah. «Mais canas!» Cambaleei para
fora, para a areia quente, como se tivesse despertado dum sono de mil anos. Afinal, eles
trabalhavam para mim; fui eu que tive a ideia absurda de reviver a arte de construir os navios que o
faraó Quéope e a sua geração começaram a abandonar. Nessa época foram construídas as
poderosas pirâmides que ali se erguiam como uma cadeia de montanhas, escondendo o nosso
inoportuno estaleiro do maelstròm do século XX que deslizava pelas ruas da turbulenta cidade do
Cairo, ao fundo, no outro lado do verde vale do Nilo.
Fora das tendas, o nosso mundo reduzia-se a areia. Areia quente, pirâmides, mais areia e
gigantescas pilhas de canas, secas pelo sol, canas quebradiças e combustíveis que os homens
agora arrastavam até aos negros de pele oleosa, sentados à luz do luar, a atar vergastas de corda
com a ajuda das mãos, dos dentes e dos pés nus. Estavam a construir um barco - um barco de
papiro. Chamavam-lhe, em língua buduma, um kaday e faziam-no seguros de si. Os dedos e dentes
ágeis apertavam os nós à volta das canas como só grandes peritos seriam capazes. «Um barco de
papel» - diziam os membros do Instituto do Papiro, no vale do Nilo. Nessa zona, punham as canas
dentro de água e batiam-nas até se transformarem em papel rugoso, para mostrar aos turistas e
cientistas o material onde os eruditos mais antigos do mundo pintavam as suas memórias
hieroglíficas.
Uma cana de papiro é o caule maleável duma planta cheia de seiva que qualquer criança pode
dobrar e esmagar. Depois de seca, quebra como um fósforo e arde como papel. No chão, a meus
pés, estava uma cana de papiro, seca como uma mecha, barbaramente torcida e partida em
ziguezagues. De manhã um velho árabe, indignado, arremessara-a ao chão, depois de a passar
várias vezes entre os dedos, cuspindo e apontando com desdém. «Essa coisa», disse ele, «isso nem
segura um prego; como se poderia fixar um mastro numa coisa assim?» O velho era um construtor
naval experiente que chegara de autocarro de Port Said para fechar connosco o contrato para os
mastros e restante equipamento para o barco que estávamos a construir. Ficou tão furioso que
apanhou o autocarro seguinte e foi para a costa. Estaríamos a fazer troça de um homem experiente
e honesto, ou as pessoas agora ignoravam por completo o que é necessário para construir uma
embarcação decente? Foi inútil tentar explicar-lhe que víramos muitos barcos iguais ao nosso
pintados nas paredes das câmaras funerárias dos antigos construtores de pirâmides, aqui no
deserto. No fim de contas, nessas sepulturas também havia pinturas de homens com cabeças de
pássaros e serpentes com asas! Qualquer pessoa percebe que uma cana é uma haste maleável
onde não é possível espetar pregos, nem parafusos. Óptimo para uma meda de feno! Um barco de
papel. Obrigado pelo bilhete de regresso.
E esta? Os barcos precisam de mastros. Os nossos três amigos negros do lago Chade, em pleno
coração da África, afirmavam que o construtor era um idiota; com certeza nunca vira um kaday a
valer, pois são sempre feitos com aquelas canas. Por outro lado, nunca tinham visto mastros nos
kaday... e para quê? Quando se pretende deslizar sobre a água usam-se remos. O lago Chade era
grande, o mar não podia ser maior, afirmavam eles. Estoicamente imperturbáveis, continuaram a
bater e a juntar os papiros em molhos. Era a sua especialidade. O árabe de Port Said era um
gabarola ignorante que nunca vira um kaday!
Subi novamente para a tenda e procurei na pasta os desenhos e fotografias dos modelos de barcos
do antigo Egipto e as pinturas de parede. Não havia espigões nos barcos de papiro. Uma placa
grossa e larga estava amarrada por cordas, no topo dos feixes de canas onde o mastro seria
colocado. A base do mastro estava enfiada no bloco de madeira sólida e fixa também por meio de
cordas. Afastei os desenhos para o lado e deitei-me de costas sobre um montão de cordas e lonas
empilhadas a todo o comprimento de um dos lados da tenda. Ali estava mais fresco e eu podia
pensar. Em que estava eu realmente empenhado? Que motivos tinha para pensar que aquela
embarcação poderia ser utilizada fora do delta do Nilo? Queria convencer-me de que as minhas
suspeitas se baseavam tanto na intuição como em factos concretos.
Os meus argumentos eram completamente diferentes quando decidi construir a jangada Kon-Tiki,
com cepos de balsa. É verdade que nunca vira madeira de balsa até então, nunca manobrara uma
embarcação, nem largara uma jangada, mas conhecia a teoria e as provas científicas irrefutáveis. A
partir daí chegara a conclusões lógicas. Desta vez não tinha nada disso. Antes de me aventurar a
navegar com a Kon-Tiki conseguira acumular dados suficientes para encher um volumoso
manuscrito. Esses dados, para minha grande satisfação, eram a prova evidente de que um ramo da
mais antiga civilização do Peru chegara às ilhas da Polinésia antes de os viajantes da Ásia terem
alcançado a costa leste do Pacífico. A jangada de balsa era a embarcação mais parecida com os
barcos conhecidos no Peru e por isso eu concluí que era navegável. Se assim não fosse, como
teriam os Peruanos chegado à Polinésia? Não tinha qualquer outro motivo para acreditar nas
possibilidades da jangada de balsa, mas provou-se que a conclusão estava certa.
Agora o problema era diferente. Não se conhecia qualquer teoria acerca da hipótese de os antigos
egípcios terem levado a sua civilização até ilhas distantes ou continentes. Outros, além de mim,
aceitavam e defendiam a tese de que a avançada cultura dos construtores de pirâmides egípcios
chegara à América tropical muito antes de Colombo. Eu não conhecia esta teoria: nunca descobrira
provas concludentes a seu favor, mas não tinha, por outro lado; provas em contrário. Sentia-me
fascinado pelo dilema, mas não descortinava solução adequada. Faltavam muitas peças ao puzzle
descoberto pela ciência. O estudo sério sobre a possível ligação entre as antigas culturas do Egipto e
do México revelava muitas lacunas quanto a cronologia, contradições inexplicáveis e a passagem
dum oceano dez mil vezes maior que o Nilo.
Em tempos primitivos, os antigos egípcios serviam-se apenas de barcos feitos de feixes de canas de
papiro para as viagens por mar. Mais tarde, começaram a construir navios maiores, de pranchas de
madeira atarraxadas umas às outras, vulneráveis no alto mar, mas adequados ao transporte e ao
comércio nas águas calmas do Nilo. A umas centenas de metros da minha tenda, o meu amigo
egípcio, Ahmed Joseph, entretinha-se a reconstruir um dos magníficos barcos de madeira do faraó
Quéope. Os arqueólogos descobriram que, de cada um dos lados daquela enorme pirâmide, estava
soterrado um navio: quatro grandes navios, ao todo, jaziam ali, hermeticamente preservados.
Estavam em câmaras vedadas ao ar, cobertas por grandes blocos de pedra. Aberto o primeiro fosso,
apareceram centenas de troços de madeira de cedro, empilhados uns sobre os outros, em tão bom
estado como quando ali foram colocados, há quatro mil e seiscentos anos, cerca de dois mil e
setecentos anos a. C. Agora, o curador-chefe do Egipto, Ahmed Joseph, enfiava corda nova nos
milhares de buracos por onde dantes passava fio de cânhamo. Resultado: um barco com quarenta e
três metros de comprimento, de linhas perfeitas e elegantes. Nem os Viquingues foram capazes de
imaginar um navio tão gracioso e proporcionado quando, alguns milénios mais tarde, começaram a
aventurar-se pelo mar alto.
Nota-se uma diferença essencial entre os dois tipos de barcos: os Viquingues construíam os seus
navios para suportar os embates da calema dos oceanos, enquanto que os barcos de Quéope
serviam só para as cerimónias de pompa nas águas calmas do Nilo. Mas a madeira usada e gasta,
onde as cordas fizeram sulcos, indicava que o barco de Quéope navegara de facto e não tinha sido
apenas o «barco do Sol» construído para a derradeira viagem do faraó. E, no entanto, o seu casco
de linhas próprias para as correntes oceânicas ter-se-ia desintegrado ao primeiro encontro com as
ondas do mar. Isto era, na verdade, surpreendente. O traçado do navio fora executado com toda a
perfeição para viagens através do oceano. O casco curvando graciosamente para cima, de proa e
popa muito altas, possuía todas as características dos navios para travessia oceânica, desenhados
para se manterem quer na rebentação quer nas vagas mais gigantescas. Este o enigma. Talvez a
chave dum mistério ainda não desvendado. Um faraó que viveu há cerca de cinco mil anos nas
praias calmas do Nilo construiu um navio que na prática só suportava o encrespado sereno do rio,
segundo linhas arquitectónicas nunca ultrapassadas pelos países mais avançados na arte da
navegação. O seu frágil navio de rio era igual ao modelo criado por construtores navais oriundos de
povos com vastas e sólidas tradições marítimas.
Nesta altura surgiram as hipóteses. Só podia haver duas. Ou este modelo transatlântico fora
aperfeiçoado por marítimos egípcios da brilhante geração que desenvolveu a escrita, a construção
de pirâmides, as múmias, a cirurgia do cérebro e a astronomia; ou os construtores navais do faraó
treinaram em outros países. Os factos convergem para esta última possibilidade. Não há cedros no
Egipto; o material do barco de Quéope veio das florestas de cedros do Líbano. No Líbano viviam os
Fenícios, construtores navais experimentados que velejaram no Mediterrâneo e parte do Atlântico.
Biblo, porto principal e a mais antiga cidade do mundo, importava o papiro do Egipto porque foi o
maior centro de produção de livros em tempos remotos. Donde a palavra Byblos, ou Bíblia, que
significa livro. Durante a construção da pirâmide de Quéope as trocas comerciais entre o Egipto e
Biblo eram frequentes. Por isso, os construtores navais de Quéope poderiam ter-se inspirado lá para
a execução daquele desenho tão bem delineado. Talvez.
Contudo, sabemos pouco ou nada sobre o aparecimento dos barcos de madeira fenícios. A única
coisa certa é que não era provável terem a forma de papiro, visto o papiro ser importado do Egipto,
porque não existia no Líbano. E assim chegamos ao nó do problema. O barco do faraó Quéope era a
cópia fiel dum barco de papiro. Tal como todos ou outros grandes navios de madeira representados
no tempo dos faraós do Egipto. Feito de papiro, com todas as propriedades características dos
grandes navios, proa e popa lançadas para cima, mais altas que as do modelo viquingue, para
aguentar a rebentação e o mar encapelado, além da pequena ondulação do Nilo. Por consequência,
foi o barco de papiro que serviu de modelo para os barcos de madeira e não o contrário. O desenho
do barco de papiro já era muito conhecido quando os primeiros faraós mandaram pintar nas paredes
das sepulturas os seus míticos antepassados, os deuses. O deus-sol e os homens-pássaros,
lendários antepassados do primeiro faraó, não aparecem representados como passageiros, nos
navios de madeira dos Fenícios, nem nas jangadas, nem nas barcaças de rio, mas sim nos barcos a
remo, feitos de papiro, exactamente do mesmo estilo em que os construtores do faraó Quéope os
imitaram nos mais minuciosos pormenores, incluindo a popa curva, com a forma de cálice da flor do
papiro, à ponta.
Para se construir um barco como o dos Egípcios, no tempo em que a cultura mediterrânica se
alicerçava nas margens do Nilo, não eram necessários o machado, nem a habilidade dum
carpinteiro. Bastavam uma faca e algumas cordas. Por esse processo trabalhavam os meus amigos
africanos, Mussa, Omar e Abdullah, ali perto, no sopé das pirâmides de Quéope, Quéfreme e
Miquerino. Estavam a fazer o barco de papiro com o mesmo desenho dos que havia pintados nas
paredes das sepulturas à nossa volta, no sítio que escolhêramos para nossa construção, em pleno
deserto de areia.
Porquê? Que pretendia eu demonstrar? Nada. Não pretendia provar coisa alguma. Estava muito
mais interessado em descobrir. Descobrir se um barco como aquele poderia navegar no mar.
Descobrir se era verdade, como diziam os peritos, que os Fenícios vieram até ao Nilo colher o papiro
porque os Egípcios não sabiam como sair do delta do Nilo em barcos de cana. Descobrir se os
antigos egípcios teriam sido marítimos antes de se tornarem escultores, faraós e múmias. Descobrir
se um barco de cana resistiria a uma viagem por mar de duzentas e cinquenta milhas, a distância do
Egipto ao Líbano, e se poderia ir mesmo mais longe, de um continente a outro. Em resumo, queria
saber se um barco assim chegaria à América.
E porquê? Porque ninguém sabe quem primeiro alcançou ,a América. Colombo, dizem os livros da
escola. Mas Colombo não descobriu a América. Ele redescobriu-a. Colombo era um homem muito
inteligente e corajoso que navegou para o desconhecido porque tinha a firme convicção de que a
Terra é redonda e, portanto, nunca encontraria o fim. Colombo marca uma reviravolta na história;
modificou o tipo de vida do mundo inteiro, fez nascer nações poderosas e foi responsável pela
proliferação de arranha-céus onde antes só havia matas e plantas enfezadas. Mas não descobriu a
América. Foi o primeiro a mostrar ao mundo o caminho para a América, mas só lá chegou no ano
1492 d. C.
Quando se descobriu a América? Ninguém sabe. O primeiro homem que chegou a terras americanas
não conhecia os métodos de calcular o tempo. Não tinha calendário. Não sabia escrever. Os seus
conhecimentos geográficos eram tão reduzidos que não se apercebeu de ter atingido um continente
novo, onde nenhum ser humano aparecera até àquele momento.
O primeiro representante da Homo sapiens a dar à costa na América era caçador e pescador
nómada, sem pátria, que ocupava o tempo, como os seus antepassados, a percorrer as costas
geladas da Sibéria setentrional. Um belo dia encontrou-se na margem leste do estreito de Béringue,
coberto de gelo, sem suspeitar que só as feras tinham errado por ali antes dele. Não sabemos se o
descobridor da América atravessou a pé as águas geladas, ou se a remo, com os toscos apetrechos
de pesca numa jangada, através da desértica planície de gelo ou das passagens de neve. Sabe-se
apenas que o primeiro homem a morrer em solo americano nasceu na Ásia setentrional. Também se
sabe que o descobridor da América desconhecia a agricultura e a arquitectura; não sabia da
existência dos metais, nem da tecelagem. Cobria-se com peles de animais selvagens ou cortiça
descascada; as suas armas e ferramentas eram ossos e pedras; era um autêntico homem da idade
da pedra.
A ciência nada sabe de concreto acerca da época em que os descendentes dos primeiros
descobridores da América se expandiram para sul, através do Alasca, e para norte, centro e sul da
própria América. Uns pensam que a colonização do Novo Mundo começou por volta dos quinze mil
anos a. C, enquanto outros defendem, com a mesma convicção, que esse espaço de tempo deveria
ser o dobro, pelo menos. Porém, todos estão de acordo em que o primeiro passo dado em direcção à
América veio da parte norte do Árctico e que só instrumentos rudimentares da idade da pedra eram
usados pelos bandos desorganizados de selvagens, cujos numerosos descendentes se tornariam
conhecidos no mundo actual através das diversas tribos dos aborígenes índios americanos.
A estreita passagem entre a Ásia setentrional e o Alasca esteve sempre aberta para o homem a
atravessar e muitas das recentes descobertas indicam que os primitivos grupos de famílias se
movimentavam para trás e para diante, nas duas direcções, entre a Sibéria e o Alasca. A cadeia das
ilhas Aleutas e a corrente do Japão, para sul, serviram de ponte aos barcos que largavam para o
mar. Dentro da América, desde o Alasca, a norte, até à terra do Fogo, ao
sul, as novas gerações instalavam-se em cabanas de gelo, wigwams, choupanas ou cavernas,
conforme o clima e a natureza variavam, à medida que caminhavam para o sul. Grande número de
tribos de índios, muito diferentes entre si, começaram a aparecer como consequência dos
casamentos entre componentes de grupos isolados e novas migrações. Não só se diferenciavam
pelo tipo de cara e pela constituição física, como falavam línguas não aparentadas e praticavam
estilos de vida nada semelhantes.
Depois chegou Colombo. Em 12 de Outubro de 1492 desembarcou em S. Salvador, nas índias
Ocidentais, com o estandarte e a cruz e, na sua esteira, seguiam Cortês, Pizarro e todos os outros
conquistadores espanhóis. Ninguém pode roubar a Colombo a glória de ter revelado a América aos
povos que ainda não se tinham arriscado pelo Árctico dentro. Mas os Europeus esquecem com
facilidade que havia milhares de não-europeus à espera deles, em terra. E no continente, atrás das
ilhas onde ele fundeou, impérios capazes de grandes proezas esperavam, igualmente, a visita vinda
do outro lado do oceano. Os eruditos contaram aos Espanhóis que, em tempos idos, ali tinham
chegado homens de pele branca e barba, portadores dos segredos da civilização. A chegada dos
Espanhóis não causou surpresa no México, nem no Peru; não foram recebidos como
«descobridores», mas sim como protagonistas de mais uma travessia sobre o oceano. Travessia
essa que se sabia já ter sido efectuada por homens cultos que visitaram os seus antepassados nos
alvores da história tradicional.
Na verdade, esta parte da América já não estava habitada por caçadores e pescadores primitivos,
como os que desceram dos campos gelados da Sibéria. Pelo contrário, naquelas zonas tropicais,
nada estimulantes, cujos ventos alísios e fortes correntes oceânicas levaram os Espanhóis a terra,
havia homens instruídos que possuíam livros de papel feitos por eles próprios e estudavam história,
astronomia e medicina. Inventaram um sistema para ler e escrever. Tinham escolas e observatórios
científicos. Os seus conhecimentos de astronomia e geografia eram tão espantosos que calculavam
com precisão os movimentos dos corpos celestes, as posições do equador, da enclítica e dos
trópicos e distinguiam as estrelas fixas dos planetas. O sistema de calendário era muito mais perfeito
do que o usado na Europa no tempo de Colombo e começavam a sua cronologia perfeitíssima, ano
Maia no 0, pelo ano 3113 a. C. do nosso calendário. Os médicos convertiam em múmias pessoas
importantes com a destreza de profissionais, onde o clima permitia essa conservação, e, tal como os
antigos egípcios, praticavam a trepanação, ou cirurgia do crânio, sem matar o doente, operação
desconhecida dos cirurgiões europeus até muito depois de Colombo. Escribas e leigos viviam lado a
lado, em sociedades urbanas
17
bem planeadas, onde havia estradas empedradas, aquedutos e esgotos, mercados, campos para
desporto, escolas e palácios. A população urbana não vivia em tendas, nem em choupanas;
fabricava blocos em forma de tijolos feitos de argila seca misturada com palha, exactamente o
processo usado na Mesopotâmia e no Egipto, para a construção de casas funcionais, de dois ou
mais andares, dispostas em ruas bem traçadas. Os edifícios principais tinham vestíbulos com
colunatas que suportavam o tecto, e as paredes eram decoradas com artísticos relevos e frescos,
pintados a cores duradouras e de rara beleza. O tear era aparelho de uso comum; a fiação e a
tecelagem tão bem aplicadas que os Espanhóis encontraram tapeçarias e capotes muito mais bem
executados que os conhecidos na Europa. Habilidosos oleiros, modelavam cântaros, travessas,
jarros e canecas, onde figuravam animais e pessoas dedicadas a toda a espécie de actividades.
Este trabalho igualava, para não dizer que ultrapassava, o melhor património da cultura clássica do
Velho Mundo. Os joalheiros locais já trabalhavam o ouro e a prata em filigrana e embutidos, de tal
maneira que os Espanhóis, extasiados, puxaram da espada e perderam o domínio de si e a
consciência do que faziam, perante o que tinham «descoberto». Pirâmides em andares, de tamanho
descomunal; templos construídos sobre pilares e gigantescos monumentos monolíticos de reissacerdotes erguiam-se acima dos telhados de tijolo, enquanto estradas rectilíneas, condutas de água
feitas pela mão do homem e grandes pontes suspensas davam um cunho especial à paisagem.
Viam-se muitos terrenos irrigados artificialmente e muitas eiras cheias de inúmeras variedades de
raízes cortadas, cereais, vegetais, frutos, ervas medicinais e outras plantas de cultivo. Até a planta
do algodão tinha sido transformada, do seu estado selvagem inaplicável, numa espécie de aspecto
semelhante ao do linho e cultivada em grandes quantidades. A lã e o algodão eram fiados, tintos e
tecidos em fios mais finos e rede mais fechada que os de qualquer fábrica da Europa anterior às do
séculoXX.
Ao chegarem, os Espanhóis pensaram ter circum-navegado o mundo e terem atingido alguma das
assombrosas civilizações da longínqua índia. Todos os povos que os receberam, sem atender ao
aspecto físico ou à cultura, passaram a ser conhecidos, daí em diante, por «índios», nome que se
manteve para sempre nas línguas europeias, mesmo depois de os Espanhóis reconhecerem o seu
erro e terem percebido que entraram na corrida para um mundo novo.
Quem descobriu quem? Os que estavam de pé a assistir à chegada dos navios do lado oriental do
horizonte ou os que estavam nos conveses e, à medida que a terra emergia da neblina, reconheciam
as pessoas na praia? Informado da chegada dos Espanhóis pelos seus mensageiros e escuteiros, o
rei sacerdote 101 receber os recém-chegados num elegante liteira com leques e chapéu de sol.
Também ele, como os espanhóis acabados de chegar, tinha ideias confusas e preconcebidas sobre
aqueles que ia conhecer. O povo acreditava que ele descera do Sol, trazido por homens brancos
barbudos, iguais aos que acabavam de repetir a visita àquelas terras. O acontecimento merecia ser
festejado. Os músicos tocavam flautas e trombetas, batiam em tambores e badalavam campainhas
de prata. Chegou com escolta e um exército de muitos milhares de homens. Os seus escuteiros
encontraram um punhado de espanhóis, que, da praia, se dirigiam para a capital.
A cena foi a mesma à chegada ao poderoso reino dos Astecas, no México, e ao gigantesco império
dos Incas, na América do Sul. Um punhado de espanhóis, de pele branca e barba, venceu dois
grandes impérios sem disparar um único tiro. E tão-somente porque os escribas e sacerdotes das
praias onde eles fundearam possuíam registos hieroglíficos, uns, e tradições religiosas verbais, os
outros, que contavam que homens brancos, de barbas, limam trazido a civilização aos seus
antepassados antes de partirem, levando a nova cultura para regiões desconhecidas. Mas
prometeram voltar. Em nenhuma das tribos de índios americanos havia homens com barbas. Esta
característica peculiar era comum a todos os descendentes da raça de cabelo castanho-dourado,
oriunda do norte do Áctico. Os espanhóis «descobertos» pelos índios de terra que tinham barbas e
pele branca; eram em pequeno número e foram calorosamente recebidos, ao regressarem ao México
e ao Peru, pelos poderosos monarcas do seu tempo.
O resto do mundo mal vislumbrou o conteúdo das grandes civilizações do Novo Mundo antes de elas
desaparecerem tão abruptamente como se tornaram conhecidas. Importantes centros culturais
pegavam uns com os outros, como pérolas de um colar, entre os reinos dos Astecas e dos Maias, a
norte, e o reino Inca, a sul, mas nunca se expandiram além dessa área geográfica. A civilização
aborígene americana nunca passou além-trópicos para zonas da América onde o clima tem incitado
os homens dos nossos dias a grandes empreendimentos industriais. Cristóvão Colombo levantou a
cortina aos contemporâneos, mas os seus descendentes depressa a tornaram a descer. Passadas
algumas décadas, as palpitantes civilizações da América esfarelavam-se em ruínas, deixaram de
exercer o seu poder e, de certo modo devido à destruição e à integração, por outro lado, foram
adquirindo novos aspectos. Isso levou os Europeus a acreditarem tacitamente que são eles os
autores de tudo quanto é positivo cheire a cultura, enquanto os aspectos exóticos e obscuros são a
herança da era pré-colombiana. Todos ganhámos esta convicção porque os conquistadores,
famintos de ouro, com a cruz por álibi, desceram a cortina tão depressa que ninguém teve tempo
para avaliar, em toda a sua extensão, o que tinha sido descoberto do outro lado do globo.
Que se passava, de facto, no México e no Peru antes de Colombo e seus continuadores apareceram
na América? Seria o homem da idade da pedra, ignorante e selvagem, originário da tundra do
Árctico, o único responsável pelas plantações encontradas pelos Espanhóis? Ou teriam os seus
descendentes, que habitavam as costas, sido visitados por viajantes desconhecidos que navegavam
no Atlântico sem bilhete de regresso, talvez na aurora dos tempos, muito antes de a civilização se ter
expandido da África e da Ásia Menor até às costas da Europa não civilizada?
Era este, sem dúvida, o enigma. A resposta, um não. Com certeza, não. Possivelmente, não.
Possivelmente... Senti um rolo de corda a magoar-me as costas e pus-me de pé, pouco à vontade,
na tenda. Possivelmente... A pergunta atormentava-me. Instalei-me melhor sobre as cordas. Não
encontrava uma saída e não servia de nada magicar. Simplesmente, os mesmos pensamentos
voltavam-me ao espírito. Se as antigas civilizações da América se tinham desenvolvido no México e
no Peru, os arqueólogos poderiam localizar os sítios por onde, a pouco e pouco, elas passaram. Mas
as escavações efectuadas no México e no Peru levaram à descoberta de centros de civilização já em
avançada maturidade, que mais tarde variaram conforme as influências locais. Não se descortinava
um início claro em todo este emaranhado. Portanto, a resposta era óbvia: importação. Se a
civilização começou de repente e sem sofrer evolução local, não podia ter deixado de ser importada.
Infiltração pelo mar. Sem dúvida nenhuma. Porém, ao tempo em que as grandes civilizações
começavam a progredir no Novo Mundo, talvez alguns séculos antes de Cristo, culturas
correspondentes estavam, desde há milhares de anos, extintas nas zonas relevantes do Velho
Mundo. No Egipto, por exemplo. Considerado este aspecto, a resposta não me parecia tão evidente.
Sentia os pratos da balança parados.
Então, construir um barco de papiro, para quê? Os meus pensamentos flutuavam de novo, via
América, e penetravam no Pacífico. Lá, sentia-me em terreno conhecido. Naquelas paragens,
dedicara todo o meu tempo a investigar e a trabalhar no campo. Só há quatro anos, durante uma
visita turística ao Egipto, descobri os barcos de cana pintados nas paredes do Vale dos Reis.
Reconheci logo aquele tipo de barco. Em linhas gerais, era semelhante aos que os construtores de
pirâmides, do norte do Peru, pintavam nos potes de cerâmica quando a sua civilização nasceu na
América do Sul, muito antes de a Polinésia ser habitada. Os barcos de cana grandes, representados
no Peru, tinham dois conveses. No primeiro, viam-se muitos cântaros para água e outras cargas, e
bem como filas de pessoas de pequena estatura. No segundo, via-se, normalmente, a representação
terrestre do deus-Sol e o sacerdote-rei, maior que os seus companheiros, rodeado de homens de
cabeça de pássaro, que, em certas pinturas, puxavam por cordas para ajudar o barco a deslizar na
água. Nas sepulturas do Egipto estavam, também, pintados o deus-Sol, o sacerdote-rei, conhecido
por faraó, imponente no seu barco de canas, acompanhado por pessoas minúsculas, enquanto os
míticos homens de cabeça de pássaro rebocavam o barco.
Os barcos de cana e os homens de cabeça de pássaro apareciam sempre juntos, por qualquer razão
inexplicável. Já os encontrara, também, no longínquo Pacífico, na ilha da Páscoa, onde a máscara
do deus-Sol, os barcos de cana com velas e homens de cabeça de pássaro constituíam um trio
inseparável nas pinturas de parede e nos baixos -relevos da antiga aldeia de Orongo, local das
cerimónias de gala e onde até existia um observatório solar. Ilha da Páscoa, Peru, Egipto. Três
estranhos paralelos tão longe uns dos outros. Eram a prova evidente de que os homens devem ter
chegado, independentemente, às mesmas coisas em lugares muito afastados entre si. Notámos com
estranheza que o povo aborígene da ilha da Páscoa chamava Ra ao Sol. Ra era o nome do Sol nas
centenas de ilhas da Polinésia. Não podia ser simples coincidência. No antigo Egipto, o Sol
chamava-se, também, Ra: Era a palavra mais importante na antiga religião egípcia: fia, o Sol, o deusSol, o ascendente dos faraós. Aquele que navegava em barcos de cana, acompanhado por homens
com cabeça de pássaro. Na ilha da Páscoa, no Peru e no antigo Egipto construíam -se gigantescas
estátuas monolíticas, da altura de prédios, em honra dos sacerdotes-reis do deus-Sol na Terra.
Naqueles três lugares cortavam-se blocos de pedra do tamanho de vagões de caminho de ferro, em
talhadas que se sobrepunham umas sobre as outras, formando pirâmides em degraus cujos
desenhos eram fundamentados na astronomia, de acordo com os movimentos do Sol. Tudo isto em
honra de um comum antepassado, o Sol, fia. Haveria alguma ligação, ou seria pura coincidência?
Antigamente, quando as velas ainda dominavam o mar, era do conhecimento geral que os povos
civilizados mais amigos se deslocavam com uma facilidade quase impossível de imaginar. E porque
não, se Magalhães, o capitão Cook e tantos outros velejaram à volta do mundo uma vez ou duas, só
com a ajuda do vento? Depois inventámos os motores e os jactos. À medida que o mundo se tornava
mais pequeno para as gerações em crescimento, ganhámos a impressão de ele ter sido, outrora,
muito maior e os oceanos intransponíveis, antes de Colombo.
Para todos nós, o ano 1492 foi um ano mágico. Colombo descobre a América. O mundo torna-se
redondo. Até essa data, a Terra era direita e o mar plano, portanto, tudo o que flutuasse ao sabor das
correntes ou fosse impelido pelo vento deveria necessariamente atingir a extremidade. Sabemos
hoje que o mundo já era redondo antes de Colombo, não perfeitamente redondo, mas um pouco
como um ovo. Em qualquer caso, todo e qualquer objecto transportado para longe, ao sabor das
correntes oceânicas, desapareceria da nossa vista.
Nem sequer uma cana podia flutuar sobre as águas e penetrar no desconhecido, antes de 1492.
Depois de Colombo ter arredondado o nosso planeta, nada podia despenhar-se nas margens. Tudo
aquilo que flutuasse através do Atlântico apareceria em terra do outro lado, em novas costas que iam
surgindo, ou nas ilhas onde o próprio Colombo fundeara, ou na longa costa tropical mesmo atrás
delas. Colombo navegou como um S. Pedro, de Chaves na mão para abrir o Novo Mundo. Depois
apareceram milhares de caravelas e outras embarcações à vela mais pequenas e muitos
aventureiros do século XX até têm atravessado o Atlântico em pequenos barcos de borracha,
anfíbios e caiaques. Colombo patenteou o Atlântico. Antes dele, só se chegava à América a pé
descalço ou de mocassinas, através do gelo coberto de neve que se estende pela aridez interminável
da Sibéria e do frio agreste do Árctico. Ali, ninguém podia semear algodão ou construir cidades de
casas de tijolo. Contra isto não havia argumentos. Que razão teria impelido os emigrantes vestidos
de peles a cultivar o algodão, a fiá-lo e tecê-lo, à medida que desciam para o clima sereno e quente
dos trópicos, quando folhas de palmeira bastariam para esse efeito? Como é que, naquela zona
tórrida, lhes ocorreu misturar palha com argila para fazerem construções de tijolo e viverem em casa
boas? Aqui divergem as opiniões. Aqui nasceu o cisma entre os que procuram respostas.
O inglês Percy Smith defende, sem reservas, que os povos da antiguidade deram a volta ao mundo.
Verificou que o tipo de culturas do México e do Peru tinham tanto em comum com a civilização do
antigo Egipto que não pode haver dúvidas quanto a possíveis contactos transoceânicos. Quando
descobriu as mesmas semelhanças na ilha da Páscoa e nas da Polinésia, que ficavam mais ao
alcance da costa do Peru, pegou na régua e no planisfério e traçou uma linha começando no Egipto,
via mar Vermelho, oceanos Índico e Pacífico, até à Polinésia e sul da América. Por este trajecto,
escreveu ele, chegaram os adoradores do Sol à América. Via ilha da Páscoa.
Outros investigadores consultaram o globo e abanaram a cabeça. A viagem do Egipto à ilha da
Páscoa não significava nada. A ilha da Páscoa ficava mais perto do Egipto rumo à América do que
rumo à índia. O globo representa o pacífico como um hemisfério completo, abrangendo metade da
circunferência. Logo, se os Egípcios navegassem duas mil e quinhentas milhas para leste,
dificilmente chegariam à índia e ainda teriam metade do mundo para atravessar até à ilha da Páscoa.
Por outro lado, se os antigos sul-americanos tivessem navegado duas mil e quinhentas milhas para
oeste da costa, já teriam certamente descoberto a ilha da Páscoa. Com a jangada Kon-Tiki,
construída pelo antigo modelo inca, nós fizemos quatro mil e trezentas milhas para oeste da costa sul
da América e atingimos a ilha da Páscoa a meio caminho da nossa viagem.
Ilha da Páscoa. A ilha habitada mais isolada do mundo. Avista-se da costa do Peru, mas não do delta
do Nilo. Ilha da Páscoa. Naquela massa informe de lava, rodeada pelo mar, quase um milhar de
pedras colossais, representando figuras humanas, erguiam as cabeças ao céu quando os Europeus,
eventualmente, chegaram àquelas praias e «descobriram» a ilha em 1722. Chama-se «ilha da
Páscoa» porque um holandês que viajava da América do Sul tropeçou nela num Domingo de
Páscoa. Alguns séculos antes, os Polinésios, ao chegarem lá nas suas canoas côncavas,
chamaram-lhe o «umbigo do mundo». Encontraram a ilha habitada por marinheiros antigos que já
tinham esculpido barcos de cana, com mastros e velas, no peito de algumas das gigantescas
estátuas de pedra ali existentes. Aqueles barcos em forma de foice também estavam representados
nas paredes da aldeia onde se realizavam as cerimónias mais antigas, juntamente com símbolos do
Sol e homens de cabeça de pássaro. No local dessas cerimónias, adoravam e admiravam o Sol,
conhecido por Ra. Toda a população da ilha se reunia anualmente para o culto do homem -pássaro.
Nadavam para ilhotas de pássaros afastadas da praia, acompanhados por pequenos barcos de
cana. Esta tradição manteve-se até os missionários começarem a cristianização, em 1868.
Barcos de cana na ilha da Páscoa. Neste ponto os meus pensamentos deixaram de vaguear. Uma
coisa era certa. Para mim, os barcos de cana nasceram ali. No entanto, geograficamente falando, foi
talvez lá que a sua história terminou.
Muito antes de visitar a ilha da Páscoa, já eu os conhecia. Servira-me deles para me deslocar no
lago Titicaca, nos altos Andes, quando estive a estudar os monólitos de pedra com formas humanas,
abandonados nas planícies à volta daquele grande mar interior, pelos Sul-Americanos.
Impressionou-me a sua capacidade de carga. Talvez tivessem sido utilizados para transportar blocos
de muitas toneladas, através do lago até Tiahuanaco, cidade em ruínas. Mas estudara aquele tipo de
barcos por mera curiosidade. Quem, como eu, já leu a história do Império Inca, sabe que os barcos
de cana do lago Titicaca são o remanescente das embarcações pré-colombianas que percorriam as
costas do Peru, no Pacífico, quando os Espanhóis lá chegaram. De facto, nesse tempo, eram vistos
mais para norte, no México e na Califórnia. O mais pequeno tinha o desenho duma tromba de
elefante. Só aguentava o peso de um único homem, que apoiava o peito sobre ele enquanto nadava.
O maior que os Espanhóis encontraram levava uma tripulação de doze homens. Os colonos uniamnos, dois a dois, para o transporte, por mar, de gado e cavalos. No Peru, os barcos de cana eram tão
antigos como as jangadas de balsa; tão antigos como a civilização pré-inca, pois os primeiros
construtores de pirâmides da costa do Peru, o povo Mochica, já os incluíam na sua arte pictórica
versátil.
Quando resolvi construir a jangada Kon-Tiki tive por onde escolher. No antigo Império Inca havia três
tipos de barcos para navegação marítima. Jangadas de barrotes de balsa vindos das selvas do
Equador; barcos de cana feitos de totora, uma cana selvagem que crescia nos lagos das montanhas
e era cultivada, por irrigação, ao longo de toda a costa deserta do Pacífico; e barcaças flutuantes
formas por dois sacos de pele de foca, entumecidos e unidos por meio de barras cruzadas como um
arado.
Não me foi difícil optar. O ar tinha tendência a escapar através dos sacos de pele de foca depois de
estarem no mar alguns dias. índios acompanhavam-nos a nado para os assoprarem, a intervalos
regulares. Não me senti tentado. Mas também não tinha muito fé nos barcos de cana. É normal
pensar-se que as canas e a palha são muito frágeis. Recorremos a elas, em sentido figurado,
quando tudo o resto falhou. Ninguém se aventura pelo mar fora, sobre canas ou qualquer outro pé de
flor, de livre vontade. Assim raciocinei naquela altura e todos concordaram. Se estávamos dispostos
a tentar a aventura, teria de ser numa jangada de balsa, uma prancha sólida, de madeira leve e lisa.
Foi o que fizemos. Para grande surpresa nossa, descobrimos que a jangada era espantosamente
boa para navegar: O barco de canas ficou posto de lado e esquecido por algum tempo.
CAPÍTULO 2 --- Porquê um barco de cana?
Passou-se na ilha da Páscoa. Sentia-se a ressaca na costa leste. Quatro irmãos velhos, de pele
enrugada como folhas de tabaco, deslizavam aos solavancos pela praia e transportavam para á
rebentação um pequeno barco com o feitio duma banana. O sol dançava sobre as ondas do oceano
azul e coloria de dourado o barco-banana. Os quatro homens empurraram, com ligeireza, o barco
sobre as cristas espumosas e saltaram para bordo, rodopiando os remos, mesmo a tempo de evitar
uma onda a desfazer-se. Hoop-la! Como um see-saw, balançou sobre a onda seguinte e mais outra,
até chegar à calema, em pleno mar. Por dentro, estava tão seco como antes de as ondas lhe
passarem por cima. Toda a água que saltou para dentro, escoou imediatamente através das
inúmeras fendas do fundo. À popa e à proa, o barco curvava, formando duas pontas semelhantes a
dois focinhos, para cortar melhor a água. Os homens pareciam transportados por um cisne dourado.
Era a primeira vez, desde há cem anos, que um barco de cana era lançado ao mar na ilha da
Páscoa. Foi feito pelos mais velhos da ilha para conhecermos o tipo de barco usado pelos seus
antepassados para a pesca no mar alto. Era uma miniatura de outros maiores, copiados das
ilustrações de épocas auras passadas. Mas era incomparavelmente maior que os barcos para um só
homem, em forma de colmilho, os pora, usados pelos ilhéus para as competições entre homenspássaros até ao aparecimento do cristianismo, no fim do século passado. Foi um momento solene
para os nativos da ilha. Os quatro pescadores batiam os remos fora da enseada num barco que ali todos eles sabiam pelas histórias mais antigas - significava o mesmo que o Mayflower para o
americano médio ou o viquingue para nós, os do Norte. A pequena embarcação balançou sobre a
onda como uma rede de descanso A tripulação, sempre seca, mantinha-se em equilíbrio e aparecia
mais abaixo, mais acima ou de lado, conforme a direcção das ondas. Enquanto os quatro corpos
escuros, sobre o barco dourado, rodeavam o ponto onde estávamos a reconstruir a primeira das
gigantescas estátuas derrubadas na ilha da Páscoa, muitas pessoas em terra murmuravam,
emocionadas, que o passado começava a ressuscitar.
Para mim, porém, o que ressurgiu foi o barco outrora usado muito para além do lado oriental do
horizonte. Havia uma semelhança impressionante entre estes barcos e os do lago Titicaca, e ainda
mais com os barcos de cana, de forma de lua em quarto crescente, dos tempos pré-incas, que o
antigo povo Mochica pintava com tanto realismo na cerâmica descoberta na costa do Pacífico da
América do Sul. Eu próprio já fora impelido para fora, numa jangada, por causa daquela massa de
água sempre em circulação. Uma suspeita nasceu.
Lá em cima, na cratera do extinto vulcão Rano Raracu, seis homens enfiavam um tubo de aço de
sete metros e sessenta de comprido na orla do pântano. A nossa volta, no alto das paredes da
cratera, jaziam muitas pedras gigantescas inacabadas, testemunhas do trabalho interrompido pelo
escultor. Algumas tinham sido minuciosamente restauradas, excepto a parte de trás, que esta ainda
inserida na rocha que constituía a parede da cratera. Estavam deitadas com os olhos fechados e as
mãos cruzadas sobre o peito, numa petrificada e gigantesca versão da Bela Adormecida. Outras
tinham sido separadas da parede e postas em pé para o escultor poder aperfeiçoar as costas
rugosas, que deviam ficar arqueadas, airosas e elegantes como tudo o resto. Estas estátuas
enormes erguiam-se espalhadas ao acaso à volta das galerias rochosas, algumas cobertas até ao
queixo por terra desmoronada.
Lábios finos cerrados, estendiam-se em todas as direcções, como se estivessem a apreciar o que os
seis anões de carne e osso pretendiam fazer com o tubo de aço, na margem do lago de cratera.
O espigão de aço penetrou, pouco a pouco, na lama encharcada. A chuva e milhares de anos de
sedimentação tinham transformado o fundo a profunda cratera morta num lago azul espelhado onde
o céu se reflectia de tal maneira que pequenas nuvens brancas impelidas pelo vento pareciam
deslizar à superfície e desapareciam por entre as canas verdes, num movimento contínuo de leste
para oeste. Três destes lagos de cratera, cheios de água da chuva e cercados por canas altas, eram
os únicos depósitos de água daquela ilha. Deles bebiam os ilhéus desde que, depois de queimarem
as primitivas florestas, cobriram as encostas com ervas e fetos, por onde os regatos, pouco a pouco,
deslizavam e desapareciam, penetrando no solo de lava porosa.
Muito aprendemos a partir dessa lama extraída com o tubo de aço, sobre a destruição de outros
tempos. O tubo comprido tinha na ponta uma lâmina giratória e uma pequena cavidade com uma
tampa que abria para permitir a entrada de lama, barro ou areia, conforme o tipo de solo que
queríamos estudar. Quanto mais funda era a sondagem, mais penetrávamos no passado. A orla do
pântano era como um livro fechado, com a primeira página no fundo e a última no cimo. A camada
mais baixa era de lava solidificada e resíduos das lavas vulcânicas do tempo em que a ilha surgiu do
fundo do oceano como um jacto de fogo. Acima desse leito estéril, havia argila e lama que foram
penetrando pela borda da cratera do vulcão extinto. Com o andar dos tempos, quantidades sempre
crescentes de pó de flores, o pólen, vieram misturar-se à lama dos leitos superiores. Estudando a
estratificação dessas diferentes qualidades de pólenes, um perito seria capaz de nos dizer qual a
ordem por que a erva, os fetos, os arbustos ou as árvores apareceram na ilha recém-nascida,
trazidos pelas correntes, pelo vento, pelos pássaros ou pelo homem.
As características dos pólenes variam de planta para planta. Vistos ao microscópio, assemelham-se
a fruto raros e a bagas de desenhos e tipos pouco vulgares.
O investigador esconde-se atrás de muitos nomes: alguns dizem-se paleobotânicos para escapar à
curiosidade das outras pessoas. Classificam grãos de pólen com a mesma perfeição com que outros
identificam impressões digitais. Enchemos tubos de vidro numerados com pequenas amostras do
solo, para seguirem para o investigador de plantas no laboratório de Estocolmo. Assim, viemos a
saber alguma coisa sobre o passado da ilha da Páscoa, sobre a origem dos primitivos, misteriosos
escultores que construíram os gigantescos monumentos da ilha, sem serem vistos, a coberto da
escuridão da história.
A sondagem dos pólenes revelou que a ilha - «descoberta» pelos Europeus, árida e estéril, onde só
selvagens viviam em campos de batata-doce, no meio de pedreiras e monumentos descomunais do
passado - estivera, outrora, coberta por florestas e palmeiras dançarinas, onde, actualmente, estão
crateras em forma de cone. Nesta verdura virgem desembarcaram pedreiros habilidosos muitos anos
antes de os Europeus conhecerem o Pacífico. Os pedreiros pegaram o fogo às florestas. O fumo e
as partículas de fuligem caíram sobre os lagos de antigos vulcões e depositarem-se no fundo
juntamente com o último pólen de palmeiras e árvores florestais, que começaram a desaparecer. Os
recém-chegados queimaram a floresta para semear grandes campos de batata-doce americana, o
seu regime alimentar básico. Queriam espaço para construir casas de pedra e grandes praças para
templos erigidos em plataformas sucessivas de blocos trabalhados, parecidos com as estruturas
religiosas do antigo Peru e as mastabas do Egipto. Destruíram as palmeiras e romperam a turfa e a
terra das encostas vulcânicas, para terem acesso à rocha firme que o escultores converteram em
blocos polidos, próprios para construção e para estátuas monolíticas de falecidos reis-sacerdotes.
Ninguém pensou em aproveitar as árvores caídas como material de construção. Os primeiros
povoadores da ilha da Páscoa estavam acostumados a trabalhar com a rocha, mas não com a
madeira. A pedra era a matéria-prima tradicional. Blocos pesadíssimos, da altura de casas, eram
transportados de um lado ao outro da ilha e esculpidos em monólitos ou içados uns sobre os outros e
meticulosamente ajustados às paredes megalíticas orientadas para o Sol, como nunca no mundo se
viu igual, excepto no Peru, no México ou entre os antigos povos adoradores do Sol, do Mediterrâneo,
no lado oposto do globo.
Mas os investigadores que perfuraram o solo ainda tinham mais para conta. Os primeiros
povoadores não só destruíram a vegetação natural da ilha como substituíram algumas das espécies
exterminadas por plantas de cultivo que só podiam ter atravessado o oceano pela intervenção
humana. A batata doce americana veio do Peru para a ilha da Páscoa e para a vizinha Polinésia,
antes de Colombo chegar à América. Nós já sabíamos isto porque, até hoje, aquela planta foi a
alimentação básica dos ilhéus da Páscoa, que lhe chamam kumara, nome dado à mesma planta na
Polinésia e entre as populações aborígenes de vastas áreas do antigo Império Inca. Mas nas nossas
amostras de terra havia indícios de outra planta muito mais importante para uma nação marítima.
A cana. A cana de totora.
As camadas superiores de lama, depois de queimadas as florestas, ficaram amarelas do pólen das
canas de totora, misturado com uma rede de pedaços rijos de pés de cana. Quantidades
surpreendentes de fibras de canas definhadas constituíam um tapete flutuante sobre quase todo o
lago da cratera. O pólen de uma planta aquática estava misturado com esta borraceira nas camadas
baixas, contendo lama e cinza - sinal indiscutível da chegada do homem. Antes disso não havia
pólen de plantas de água fresca. Até à vinda dos escultores de pedra, nada fora semeado nos lagos
de cratera da ilha da Páscoa: os vulcões extintos estavam cheios de água da chuva.
Outra indicação para os investigadores: impressões digitais na lama. Não era difícil compreender que
as duas plantas de água fresca tivessem sido trazidas pelo homem. Ambas eram espécies úteis:
uma, um dos principais materiais para construção; a outra, uma planta medicinal. Nenhuma delas
pode ser transplantada pelas correntes oceânicas, pelos pássaros ou pelo vento; só pelos seus
próprios rebentos. Pegaram e desenvolveram-se nos três lagos vulcânicos daquela ilha tão isolada
porque alguém trouxe os bolbos vivos, atravessando o oceano salgado, e ali os plantou. Agora
estávamos na pista. Qualquer daquelas espécies crescia unicamente no continente americano. A
cana totora (Scirpus totora) era uma das plantas mais importantes para as populações aborígenes,
fixadas ao longo da costa deserta do Império Inca. Era cultivada pelos povos do litoral do Peru em
campos de regadio e utilizada para a construção de barcos pequenos, ou grandes, e para a
manufactura de telhados de casas, de mastros, cestos e corda. A outra planta de água - Polygonum
acuminatum - era um remédio muito usado pelos índios da América do Sul. Os habitantes da lha da
Páscoa serviam-se de uma e de outra para os mesmos fins.
Com um pedaço de totora leve e seca pelo sol, na mão, eu observava os quatro velhos polinésios
balanceando sobre as ondas, no mar alto, com a mesma indiferença com que andariam a trote, em
terra, na sua ilha rochosa. Desde há muito, eu sabia que um dos grandes mistérios da botânica do
Pacífico era descobrir como esta planta americana aparecera em três lagos de cratera, escondidos
na mais isolada e distante ilha do mundo Encontrei uma solução muito simples. Talvez que os
antigos viajantes do Peru não tivessem chegado às ilhas do Pacífico em jangadas de balsa. Pelo
menos, dois ou três tipos mais antigos de embarcações marítimas poderiam ter cruzado o oceano.
Talvez tivessem importado também o processo de construir barcos de cana e até tubérculos vivos
para continuarem as velhas tradições, servindo-se dos mesmos materiais.
Enquanto arrastávamos o barco com a forma de lua em quarto crescente para a praia, as minhas
dúvidas dissiparam-se. Estava certo de que as mais antigas populações da ilha da Páscoa tinham
herdado dos velhos construtores de pirâmides do Peru, terra-mãe das suas canas, a arte de construir
aqueles barcos tão curiosos.
Cinco anos mais tarde, participei no congresso mundial da Universidade do Havai, sentado em frente
de uma grande mesa-redonda, com os mais proeminentes arqueólogos do Pacífico. Cinco anos
durante os quais colegas especialistas nos mais diversos ramos da ciência analisaram todo o
material recolhido das escavações efectuadas na ilha da Páscoa. Esqueletos e ferramentas de
pedra, amostras de sangue, pólen e carvão das fogueiras, todos tinham a sua história para contar
aos cientistas espicaçados pela curiosidade de saber o que acontecera na ilha: quem ali estivera,
quando e donde, muito antes de os que seguiram a esteira de Colombo terem indicado, aos da
nossa raça, o caminho para estas ilhas remotas do Pacífico, via América.
Os resultados da expedição à ilha da Páscoa foram apresentados pelos meus colaboradores
presentes no congresso. Todos nós, sentados àquela mesa, estávamos dispostos a assinar um
documento científico, chamado conclusão do congresso. O texto declarava que, juntamente com o
Sudoeste asiático e ilhas adjacentes, a América do Sul fora a primeira pátria dos mais antigos povos
e culturas das ilhas do Pacífico. Não me repugnava assiná-lo. Na realidade, foi para chamar a
atenção para a praticabilidade deste conjunto misto de colonos que me aventurei a navegar do Peru
até às ilhas polinésias numa jangada de balsa. Muito antes de tentar a minha viagem na Kon-Tiki, já
eu suspeitava desta origem bilateral da cultura polinésia. Adquiri essa ideia vivendo um ano, como
um polinésio entre polinésios, na solitária ilha Fatou-Hiva, do grupo das Marquesas. Ali, a ressaca
batia as costas de leste e, nuvens e mar, dia e noite, corriam e rolavam sempre na mesma direcção,
vindos da América do Sul. A conclusão foi lida aos três mil estudante do Pacífico reunidos no
plenário e aprovado por unanimidade. Deixei o X Congresso Científico sobre o Pacífico com o
mandato de prosseguir as escavações nas ilhas do Pacífico, visando concretamente a América do
Sul. Pela primeira vez, toda a costa da América do Sul foi incluída como zona arqueológica de
interesse no conjunto da arqueologia oceânica. Abriu-se a passagem entre o Peru e a Polinésia. O
Pacífico passou a ter dois lados.
Porém, o barco de cana caiu, mais uma vez, no esquecimento. Tempos depois tornou a vir a público
inesperadamente e por motivo imprevisto. Um conhecido antropologista da Universidade da
Califórnia declarava na revista técnica Antiguidade Americana (Janeiro de 1966) que os barcos de
cana do antigo Peru eram muito parecidos com os do antigo Egipto. Dizia, ainda, que o barco de
cana não era a única característica comum às duas civilizações. O artigo continha uma lista de nada
menos que sessenta características importantes, de natureza pouco vulgar, comuns à cultura do
antigo Egipto e à da costa leste do Mediterrâneo e que, por outro lado, figuravam nas civilizações
pré-colombianas do Peru. O barco de cana era só uma das sessenta rubricas incluídas na lista.
Ora, é norma, entre os cientistas, interpretar uma característica, duas ou mesmo três, que surgem
em zonas muito afastadas, como simples coincidência resultante da livre evolução ao longo de linhas
paralelas. Os seres humanos são tão semelhantes em qualquer parte do mundo que é normal terem
noções equivalentes. Mas, se aparece um grupo de muitas e variadas semelhanças de natureza tão
especial que não haja equivalentes fora de duas zonas geográficas bem definidas, então pode
admitir se a hipótese de contactos entre esses dois centros culturais. A lista de sessenta confrontos
culturais específicos pertencia à última categoria. Nesta conformidade, soou o alarme: caminhar com
prudência. Não fui o único a. ficar surpreendido. Não porque a lista não tivesse valor e interesse.
Tinha, com certeza. Mas fora elaborada por um isolacionista. O autor defendia, com insistência, a
teoria a favor do total isolamento da América antes de Colombo: só o gelo, a norte, poderia ter
proporcionado a passagem a seres humanos. Contudo, era ele quem acabava de publicar uma lista
que faria inveja a Percy Smith e aos difusionistas da sua escola: sessenta semelhanças culturais
invulgares entre o antigo Peru e o Egipto.
Esta lista iria provocar conclusões. Era isso o que se pretendia. O autor do artigo concluía que,
estando o Egipto situado na África e o Peru na América, há dois continentes e todo o oceano entre
eles. Duas culturas onde as canas serviam para a construção de barcos não podiam ter comunicado
entre si através do oceano porque os barcos de cana não navegavam no mar alto. Por
consequência, as sessenta semelhanças entre as duas culturas teriam surgido independente umas
das outras e não resultavam, necessariamente, de contactos mútuos. A lição para o leitor: os
difusionistas que acreditavam que a América recebera inspiração do outro lado do oceano antes de
1492 deviam desistir de procurar mais semelhanças, porque aquela lista atestava bem que, em
última análise, elas nada provavam.
Os difusionistas reagiram energicamente. Não podiam engolir o raciocínio. Continuavam convencidos
de que o México e o Peru tinham recebido impulso pelo mar. Mas que mar? Em que navios? Não
concordavam com a tese exposta. A discussão não estava terminada. Não se encontrara ainda
resposta satisfatória.
No mesmo ano, os organizadores do trigésimo sétimo congresso pró americano resolveram
convidar representantes das duas doutrinas contendentes para um duelo científico. Todos os anos
este congresso reúne estudantes de todo o mundo, dedicados ao estudo da população aborígene
americana. Desta vez, ia realizar-se na Argentina e pediram-me para convidar oradores para o
simpósio, pró e contra o contacto transoceânico com a América antes de Colombo.
A assembleia estava reunida. As portas fechadas. O autor dos sessenta pontos semelhantes foi
convidado, mas não apareceu. Difusionistas defensores do contacto apresentaram-se em força, com
oradores dos quatro continentes. Os isolacionistas estavam também em grande número, mas só na
assistência. A táctica deles foi deixar os outros falar, para, a seguir, apresentarem os seus
argumentos. Mantiveram se sempre na defensiva; na atitude deliberada de deixar aos que
acreditavam na travessia do oceano antes de Colombo, a responsabilidade das provas. Os
difusionistas possuíam fortes argumentos, mas poucas provas. Logo, afirmavam os isolacionistas,
nunca se cruzaram os oceanos.
As sagas islandesas, muito bem descritas pelos historiadores viquingues anteriores a Colombo,
foram um dos temas de discussão. Ninguém pode negar que os viquingues noruegueses se fixaram
na Islândia e, mais tarde, em toda a costa sudoeste da Gronelândia, onde viveram continuamente
durante cerca de quinhentos anos antes de Colombo içar a vela. Da sua passagem ficaram um sem
número de quintas com anexos, cemitérios, dezasseis igrejas, dois mosteiros e uma residência
episcopal que mantinha ligação com o trono papal, via comunicações marítimas com a Noruega.
Esta colónia pré-colombiana da Gronelândia pagava taxas ao rei da Noruega.
A distância, pelo Atlântico Norte, desde a Noruega até às colónias escandinavas na Gronelândia, era
tão grande como a que vai da África ao Brasil pelo Atlântico Sul. Desde a Gronelândia até à costa do
continente americano, era um pulo sem importância de quase duzentas milhas, mas ainda ninguém o
tentara - argumentavam os isolacionistas.
Porém, as antigas sagas dos Viquingues falam disso como um facto consumado. Dizem que Bjarni
Herjolfsson foi o recordista da travessia total do Atlântico porque o navio se desviou da rota devido
ao nevoeiro. Em vez de desembarcar em qualquer porto da costa onde foi parar, virou por de avante
e regressou à Gronelândia. O barco dele foi comprado por Leif Ericsson, filho do descobridor da
Gronelândia, Eric, o Vermelho, que cerca do ano 1002 se fez à vela, partindo das colónias da
Gronelândia para o sudoeste, com trinta e cinco homens. Leif e os seus homens foram os primeiros a
pôr os pés na nova costa, a que deram o nome de Vinland, lá construíram casas e passaram o
Inverno até regressarem novamente à Gronelândia. O irmão,
Thorvald Ericsson, tez a mesma travessia no ano seguinte e instalou--se nas casas abandonadas por
Leif. Dois anos mais tarde foi morto pelos nativos, que o atingiram com uma flecha quando fazia uma
viagem de reconhecimento do mato. Os trinta homens que o acompanhavam enterraram-no em
Vinland e voltaram para a Gronelândia.
Thornfinn Karlsefni e sua mulher, Gudrid, fizeram outra tentativa acompanhados de grande número
de pessoas que enchia dois navios. Freydis, a filha de Eric, o Vermelho, ia com eles e desta vez os
emigrantes levavam também algum gado. Snorri, o filho de Gudrid, nasceu lá, mas os crescentes
ataques dos índios, os Skraelings, tornaram a vida insuportável naquelas paragens. Depois de
muitas lutas sangrentas, os colonos abandonaram as suas quintas e voltaram para a Gronelândia e
para a Europa. As sagas manuscritas relatavam factos prosaicos sem conta. Continham descrições
pormenorizadas das costas e das derrotas das viagens. Não havia dúvidas. Os Viquingues
descobriram Vinland e lá tentaram fixar-se durante os primeiros dez ou quinze anos depois do ano
1000.
Mas onde ficava a Vinland? Como se poderia ter a certeza de que Vinland ficava no continente
americano? Estas as perguntas formuladas, desde há anos, pelos isolacionistas. Então apareceu a
notícia sensacional. O congresso podia apresentar provas.
Em Lanse aux Meadows, no extremo norte da Terra Nova, encontraram-se provas irrefutáveis de que
os Viquingues aportaram e permaneceram lá durante algum tempo cerca do ano 1000. Debaixo da
turfa, descobriram se as terraplenagens das fundações de um grupo de casas de estilo
característico. Foi possível identificar as datas das diferentes épocas dos fragmentos de madeira
carbonizada e conferiram-se os resultados por meio de análises radiocarbónicas. Exactamente como
referiam as sagas dos Viquingues, as casas tinham sido habitadas por volta do ano 1000 a. C. Os
índios nada sabiam sobre o ferro. Contudo, encontraram se pregos de ferro, de portas, naquela zona
e ferro de forjas primitivas. Os índios do Norte não conheciam a tecelagem. Debaixo da turfa
apareceu, ainda, uma roda de tear, de esteatite, típica da Escandinávia.
Estas descobertas foram efectuadas pelo notável norueguês, perito sobre a Gronelândia, Helge
Ingstad, que previu onde elas estariam situadas, estudando, sob o ponto de vista geográfico e
prático, os antigos documentos islandeses. As escavações foram orientadas por sua mulher, a
arqueóloga Anne Stinge Ingstad, coadjuvada por eminentes arqueólogos americanos. Estes os
factos científicos. Contra eles ninguém poderia protestar. E, de facto, não apareciam mais objecções.
Os Viquingues estiveram na Terra Nova. Alcançaram a América atravessando o Atlântico e
descreveram esses acontecimentos antes de mais ninguém. Mas, diziam os isolacionistas, chegaram
e partiram, sem deixar outros traços que não fossem algumas muralhas cobertas de erva. A sua
visita não influenciou o curso da história, foram repelidos pelos índios selváticos do Norte, cujo tipo
de vida ancestral nem sequer chegou a ser influenciado. Contavam as sagas que os Viquingues se
limitaram a dar-lhes faixas de pano vermelho antes de as lutas e as matanças acabarem com o
comércio.
Os Viquingues nunca estiveram livres de perigo na América. Mas é inegável que, pelo Norte do
Árctico, ela foi alcançada, tanto a partir
de leste como de oeste, antes de Colombo ter atravessado as latitudes tropicais.
Relativamente à cintura tropical, os isolacionistas tinham a batalha ganha. Ela era o ponto nevrálgico
do campo de batalha. Não se conheciam provas tangíveis de portagens no México anteriores às dos
Espanhóis. As descrições, escritas ou verbais, do povo aborígene do México foram tomadas menos
a sério que as sagas dos Viquingues. As igualdades culturais, sempre em número crescente,
identificadas pelos difusionistas continuavam a ser rejeitadas com impressionante leviandade.
Defendia se que as afinidades culturais nos dois lados do oceano eram, sem dúvida, estudos com
interesse, mas não provas. Os isolacionistas continuavam cépticos quanto ao mar, quando acabou o
duelo sobre a cintura tropical. Dois grandes oceanos defendiam a sua posição. Tinham um
argumento importante a seu favor. A travessia do oceano exigia uma embarcação navegável.
Parecia lógico que quem quer que tivesse vindo da África, por mar, e permanecido na América o
tempo suficiente para ensinar os índios a construir com tijolos e a escrever sobre papel lhes tivesse
também ensinado a construir embarcações marítimas. Nenhum marinheiro atravessava o Atlântico
com arquitectos e astrónomos capazes de edificarem pirâmides sem trazer, ao mesmo tempo, as
suas tradições na construção naval. Dois mil e setecentos anos a. C. já os Egípcios construíam
barcos de madeira, de casco côncavo, conveses e cabinas, feitos de pranchas trabalhadas, mas os
índios nunca tinham ouvido falar em cascos feitos de pranchas. Na América, até Colombo lá chegar,
só se construíam barcos de cana, vários tipos de barcaças flutuantes, jangadas e canoas feitas de
peles ou de troncos de árvores escavados. Isto era tão evidente como indiscutível.
Barcos de cana, jangadas e pirogas era tudo quanto a velha América possuía. Outra insistência. A
jangada de balsa provou ser navegável, mas só partindo da América, pois antes dos Espanhóis
chegarem não havia árvores de balsa em mais parte nenhuma do mundo. Canas, canas das mais
variadas espécies, cresciam por toda a parte, até no Nilo.
«Ivone, temos de voltar aos Andes e observar outra vez os barcos de cana dos índios», disse para a
minha mulher. Os Ingstads foram connosco, para provarem que não só os Viquingues sabiam
construir barcos elegantes. No dia em que o congresso terminou, seguimos de avião para La Paz, na
Bolívia, e no dia seguinte estávamos perto do azulíssimo lago Titicaca, no telhado do mundo, 3812 m
acima do nível do mar, rodeados por cumes cobertos de neve que se erguiam ainda a mais 1800 ou
2700 m de altitude contra o infinito azul. Atrás de nós, no planalto, jaziam as ruínas da mais poderosa
capital pré-inca da América do Sul, o antigo centro cultural de Tiahuanaco, que englobava a pirâmide
Acapana, já devastada, paredes megalíticas e estátuas gigantescas de sacerdotes-reis esculpidas
em pedra.
No lago, alguns índios aimarás manobravam para diante e para trás, enquanto pescavam,
aproveitando a brisa forte. À distância, só se viam as velas enfunadas. Quase todos os barcos
tinham velas de lona esfarrapada, mas alguns, mais fiéis à tradição, serviam-se de uma esteira
grande, de canas de totora dourada, presa em dois mastros separados que uniam no topo. Três
navegavam suavemente na nossa direcção e, quando se aproximaram, pudemos ver os índios de
barretes às riscas multicolores a espreitar por detrás da vela, à medida que ia aparecendo por sobre
as ondas o desenho do barco. Soberbo. Que perícia de construção! Cada palha estava colocada
com tal precisão que a simetria e a elegância de linhas eram perfeitas. Os molhos, muito bem
azorragados, davam a ideia de barcaças inchadas ou barrotes dourados dobrados como os bicos
dos tamancos, a vante e a ré. Cortaram a água a grande velocidade e avançaram por uma clareira,
entre as canas, direitos à praia, onde ficaram encalhados enquanto os índios passavam a vau para
terra com o peixe pescado.
Neste mar interior constroem-se ainda hoje centenas de barcos deste tipo característico. Já os pais e
os avós dos índios aimarás e quechuas os construíam com a mesma perfeição. Eram exactamente
assim há quatrocentos anos, quando os Espanhóis chegaram e descobriram as ruínas abandonadas
de Tiahuanaco - plataformas em degraus, pirâmides e colossos de pedra -, vestígios que os antigos
aimarás diziam ter sido abandonados na alvorada dos tempos pelo povo Viracocha. Este povo era
constituído por homens brancos, de barba, cujo rei se chamava Contici-Viracocha e era o
representante do Sol na Terra. O povo Viracocha fixou-se, primeiro, na ilha do Sol, no lago Titicaca.
Diz a lenda que foram eles os primeiros construtores de barcos de cana. Os homens brancos
barbudos apareceram com uma flotilha de barcos de cana aos índios nativos, que, naquela época,
desconheciam o culto do Sol, a arquitectura e a agricultura. Estas lendas, escritas pelos Espanhóis
há quatrocentos anos, ainda são conhecidas dos índios que vivem nas margens do lago. Muitas
vezes me chamaram «Viracocha», palavra que ainda hoje significa «homem branco».
Não sabia em que acreditar. Olhava, estupefacto, os blocos enormes, de cinquenta a cem toneladas
de peso, esculpidos com maestria e unidos até à fracção de milímetro, ao mesmo tempo que
admirava, lá em baixo, os elegantes barcos de cana navegando sobre as ondas, tal como quando
carregavam os gigantescos blocos vindos de Capia, o extinto vulcão na praia do lado oposto. Não via
motivo para duvidar de que esta civilização desaparecida estivesse, de certo modo, relacionada com
os outros centros culturais mais antigos da América, descobertos pelos Europeus em estado de
abandono, cobertos de vegetação, espalhados pelas florestas tropicais desde o México até este
planalto ventoso e partilhado, actualmente, pelo Peru e pela Bolívia. Antes das descomunais
estruturas pré-incas de Tiahuanaco terem desabado em ruínas, aqui estivera instalada a capital de
um dos mais poderosos impérios do mundo, cuja influência abrangeu toda a extensão geográfica
desde o Peru até ao Equador, Bolívia, Chile, Brasil e Argentina. A arte e a religião da capital do
interior, perto do lago da montanha, irradiaram pelas mil e quinhentas milhas da costa e fragmentos
de cerâmica, provenientes da cabotagem em Tiahuanaco, foram encontrados nas ilhas Galapos, a
seiscentas milhas da costa. Enquanto efectuavam as descobertas da ilha da Páscoa adquiri a
certeza de que a cultura ali existente veio daqui, em eras pré polinésias.
Mas onde estavam as canas? Aqui, na América? Ou no outro lado do Atlântico? Quem tinha razão,
os isolacionistas ou os difusionistas? Nem os argumentos de uns, nem os dos outros, foram
convincentes durante o congresso. Como líder do simpósio, tomei uma posição neutral. Mas
apercebi-me de que, uns e outros, subestimavam as possibilidades do antigo barco, que continuava
a navegar sobre as ondas azuis do lago Titicaca. O barco de cana não teria sobrevivido ao contacto
com as culturas europeias durante quatrocentos anos, se fosse de qualidade inferior.
Admite-se que os barcos de madeira só eram conhecidos num dos lados do Atlântico, mas os de
cana eram vistos nos dois. Não era esta uma das sessenta semelhanças recolhidas? A arte de
construir barcos de cana era herança tão antiga do Egipto como do Peru. E só destes dois lugares do
globo? Não. Assim descobri uma brecha na lógica: os barcos de cana hão estavam tão isolados
como os outros cinquenta e nove pontos comuns da lista. Ninguém tentou estudar a sua distribuição.
Mas eu captei alguns indícios. Por exemplo em tempos, os marítimos do México, os das ilhas do
Mediterrâneo e os da costa marroquina do Atlântico, abaixo de Gibraltar, navegavam neles. O salto
de Marrocos ao México não era tão assustadoramente absurdo como a distância entre os outros dois
pontos, Egipto e Peru.
Decidi construir um barco de cana.
CAPÍTULO III --- Ao encontro dos índios na Floresta dos Cactos
A costa. Vislumbrei o mar por entre gigantescos cactos. Um mundo imaginário. Sentindo-me
minúsculo, inclinei a cabeça para trás para observar os cactos verdes e pontiagudos, que se
elevavam muito acima de mim e mais Pareciam tubos de órgãos e braços de castiçais, num mundo
vegetativo densíssimo e cheio de protuberâncias. Denso e altíssimo.
Caminhava sobre uma crosta de areia calcinada e seca, sem ervas, sem outras flores além das
vermelhas e amarelas, que apareciam por entre as copas tecidas com os tendões dos cactos. Estava
no mundo dos cactos. No terreno, intercaladas com estes gigantes, enxameavam todas as espécies
de plantas de picos: globulares, tubiformes e articuladas. À luz do sol-poente algumas davam a ideia
de pratos e talheres fazendo prestidigitação; outras assemelhavam-se a solas de sapatos velhos
cravejadas de pregos; outras, pontas de arame farpado ou caudas de gatos a abanar. Uma floresta
calma e silenciosa. Nem se ouvia o sussurrar das folhas das árvores de pau-ferro, cheias de nós,
retorcidas, como que a evitar o contacto com as puas dos seus ubíquos vizinhos, espalhadas aqui e
além, nas alamedas de cactos.
Uma lebre do deserto saltou, silenciosa, das sombras dos cactos para o sol da tarde, ergueu as
orelhas compridas e olhou à sua volta antes de dar novo salto e desaparecer. Cruzando o rasto da
lebre, apareceu precipitadamente uma tâmia listrada e fina, parou, ficou imóvel, de cauda no ar,
depois rebolou outra vez como uma bola de picos e penetrou na floresta encantada. Na bifurcação
mais alta de uma planta, com o feitio de um candelabro de três braços, erguida acima de todas as
outras, descobri uma águia imóvel. Não se mexeu até eu me aproximar do tronco. Então abriu as
asas sem fazer o menor ruído, e deslizou suavemente sobre a floresta. Não foi a águia que se
mexeu, eu e a floresta é que resvalámos para trás, enquanto ela ficou suspensa na abóbada azul do
céu antes de desaparecer da minha vista. Só a andar, eu ouvia as minhas solas de cabedal
estalarem a crosta da terra e penetrarem nos buracos invisíveis feitos na areia pelos ratos, cobras e
outros bichos do deserto.
De repente, a perturbar aquela quietude sepulcral, apercebi-me de um som muito fraco, mas que
exerceu sobre mim o efeito ameaçador do rugido de um leão. Era como se ouvisse fósforos
sacudidos dentro de uma caixa meio cheia. Pareceu-me um aviso de terror hipnótico, feito pelo
esperanto da natureza. Mesmo que nunca tivesse visto uma cobra cascavel, aquele ruído discreto
ter-me-ia posto de sobreaviso. Pronto para atacar, língua pendida e olhos fulminantes, o animal
chocalhava a cauda, de ponta retorcida e erecta. Era um tremor seco e em frenesi, que mais parecia
o bater de argolas de plástico. Na esperança de sair vitorioso do campo de batalha, olhei com
desespero à minha volta, à procura de um pau ou um ramo de árvore. Mas naquele lugar só havia
cactos, de ramos carnudos e espinhosos, que quebravam como pepinos, quando eu batia no animal
flexível e escorregadio. Por fim, com um cacto seco, fibroso e rijo, consegui que a cobra ficasse
insensível e, antes de ela voltar a si, a batalha estava ganha, embora a ponta da cauda continuasse
a rabear durante algum tempo.
O nosso objectivo era descobrir construtores de barcos naquela terra de cactos. Nem uma árvore
onde pudéssemos trepar para descortinar o caminho. O meu amigo mexicano, Ramon Bravo, virou à
esquerda e enfiou por entre os cactos, esperando descobrir alguns pedregulhos donde avistássemos
melhor o panorama, enquanto a mulher dele, Angélica, e Germano Carrasco ficaram sentados no
jipe, lá em baixo no vale, onde, pela vigésima vez, perdemos o trilho das rodas que vínhamos
seguindo. Do ponto onde me encontrava agora, consegui ver, pela primeira vez, o mar. No lugar de
observação havia Um marco: um cacto monumental, em forma de tridente de Neptuno, cujo tronco
era tão grosso que me tapava completamente. Aqui estava a águia empoleirada. Lá do alto, podia
com certeza verse toda a extensão de costa e os cumes das montanhas vermelhas do interior,
através dos quais nós perseguíamos, aos solavancos, os rastos de rodas que ramificavam e
desapareciam na floresta dos cactos. Porém, eu apenas via um lampejo prateado do sol a brilhar
sobre a água e montanhas matizadas de azul, no lado oposto. Mas era o suficiente para nos fixar o
caminho. Por isso, os quatro entrámos novamente, p sempre às sacudidelas, pela floresta
encantada, na tentativa de chegarmos antes de o Sol se pôr.
Inesperadamente, a floresta abriu-se, apareceu no chão erva muito verde e diante de nós espraiavase o mar, de ondulação sussurrante e uma grande extensão de praia. Cinco caudas de baleias
pretas emergiram à superfície da água, direitas a nós, e, quando mergulhavam e desapareciam,
surgia diante delas, como uma cascata, um cardume de peixes pequenos que, próximo da costa,
brilhavam por um momento, antes de dispersarem e desaparecerem.
Ali, estávamos em plena natureza não adulterada. Diante de nós, o golfo da Califórnia e, atrás, de
um lado e do outro, estendia-se o deserto Sonoro. Numa extensão de seiscentas milhas, alinhavamse, do outro lado, as montanhas azuladas da deserta península mexicana da Baja Califórnia, a Baixa
Califórnia. Tivemos de voltar outra vez à floresta dos cactos, porque não havia uma única cabana,
nem qualquer sinal de vida humana, na praia. Fomos obrigados a continuar até ao golfo.
Quando o Sol começava a afundar-se atrás da cadeia de montanhas, no lado oposto, e o mar
escurecia, encontrámo-nos diante da aldeia dos índios. Rigorosamente, poder-se-ia dizer que este
remanescente da antiga tribo dos Seris se converteu em estilo arquitectónico romântico ao contacto
com o homem branco e sua cultura. Meia vintena de famílias, totalizando cerca de sessenta adultos
e crianças, instalaram-se aqui na areia da árida Punta Chueca, onde o chefe de cada família
construiu a sua barraca de chapas onduladas e tábuas alcatroadas. Dentro, mal havia espaço para
dormir completamente estendido no chão arenoso. Os materiais de construção e a chusma de
bocados de objectos amontoados nas paredes traseiras, cravejadas de vidros e latas, eram o
resultado das vendas de tartarugas, que os índios apanhavam vivas e punham a rastejar num
pequeno redil, à borda de água.
Os índios não reagiram grandemente à nossa chegada. Muitos deles continuaram seu trabalho,
sentados em pequenos grupos ou a andar despreocupadamente por entre as barracas, numa
miscelânea de coloridas fitas de cabeça, enfeites manufacturados e vestes compridas e faustosas
compradas aos ciganos, os homens usavam rabichos, pretos e compridos, pendurados até ao meio
das costas. As mulheres faziam pinturas simétricas na cara, por meio de riscos e pontos, que as
tornavam barbaramente atraentes e inoportunas. Moda antiquíssima, que pode aflorar de repente
como a mais recente das novidades. Uma mulher bonita, de saia pelo tornozelo, estava sentada com
as outras à sua volta, a misturar cores naturais com óleo, em pequenos potes, enquanto uma delas,
com um batom que comprara, desenhava linhas verticais no queixo. Acenou com autoridade à
mulher de Ramon, que a observava, enfeitiçada. Fê-la sentar se na areia para lhe pintar a cara. Um
ou dois velhotes e um bando de crianças juntaram-se a nós e logo reconheceram Ramon. Os miúdos
dispararam como setas, direitos à barraca de Chuchu e sua família. Fora ele o intérprete de Ramon
quando aqui estivera pela última vez, a filmar focas e outros animais do golfo. Por fim, deu-se o
encontro, no meio da alegria geral.
Ramon trazia um amigo que queria ver os barcos de cana? Mas os índios Seris não construíram
askam presentemente. Onde estava o que Ramon vira há dois anos? Foi o último que fizeram. Nem
nas outras aldeias Seris, mais a norte, havia já askam, porque o Governo comparticipava na
construção de barcos de madeira com motor fora da borda. Um garoto nu desapareceu como um raio
e regressou radiante, com um barquinho na mão. Era um torpedeiro de plástico amarelo.
À nossa volta, a noite começava a cair. Emprestaram-nos cartões grossos, que dobrámos, para
dormirmos sobre eles, debaixo de um alpendre onde estavam arrumados os apetrechos de pesca.
Durante toda a noite, ouvimos o tagarelar monótono e incompreensível dos índios. Numa semisonolência, apercebia-me disso cada vez que me voltava para mudar de posição. Sentavam-se à
volta de pequenos borralhos, a discutir, e a maior parte deles só se deitou uma hora antes de nós
nos levantarmos, quando as estrelas começavam a desaparecer.
Ainda antes de o Sol começar a avermelhar as grinaldas dos cactos, já nós os quatro estávamos
sentados, com alguns índios à nossa volta, a admirar a serenidade do golfo. Ninguém falou. Ninguém
se mexeu. Chuchu foi o primeiro a levantar se, vagarosamente, e a passo travado desceu até à praia
silenciosa, onde deitou à água uma pequena rede redonda. Depois de dois arremessos, pescou
quatro excelentes peixes, ali mesmo, na nossa frente. Dois rapazinhos muito magros dobraram a
parada num instante, com forcados -de três dentes. Assim se arranjou comida suficiente para todos.
Toda a gente se sentou. Foi como se nada mais estivesse para acontecer naquele dia.
- Serão capazes de me construir um askam? - perguntei, a medo.
- Mucho trabajo - responderam todos em coro. «Muito trabalho». Era o somatório do seu vocabulário
em espanhol. Para tudo o resto precisavam de intérprete. Chuchu era o intermediário.
- Serão pagos - prometi. - Em géneros ou em pesos.
- Mucho trabajo - repetiam sem se alterar.
A oferta aumentou. Silêncio. Tornou a aumentar.
- As canas ficam muito longe - disse Chuchu, sentido se entalado.
- Nós vamos com vocês - respondi eu, pondo-me de pé. Quatro índios levantaram se. Estavam
desejosos de ir. Eram
Chuchu, dois irmãos e um sobrinho. Só o irmão mais velho, o Caitano, conhecia o sítio onde havia
canas. Ficava perto dum lago, na isla Tiburón, ilha de Shark, cujos perfis escarpados mal se
avistavam, ao nascer do Sol, no lado oposto ao do som.
O barco a motor do Governo entrou em serviço. Dali a pouco saltávamos sobre as ondas em
direcção ao horizonte. Fiquei surpreendido por não haver canas mais perto.
- São canas de água doce - explicou Capano. - Não se desenvolvem aqui nesta praia deserta. O lago
de água doce ainda fica longe.
A ilha de Shark, semeada de montanhas bravas, assomou ao longe. Não era pequena. Com a
superfície de quatrocentas milhas quadradas, aproximadamente, vem indicada no mapa-múndi.
Quando saltámos para terra, numa praia de areia branca, encontrámos uma extensa planície coberta
de arbustos rasteiros, intercalados com algumas árvores de cactos, antes de chegarmos às
montanhas do interior. Na praia, olhando-nos sem se mexer, estava um único veado berrendo, de
hastes muito afastadas no alto da cabeça. As máquinas escondidas apareceram a imortalizar o bicho
antes de ele fugir. Mesmo assim, continuou imóvel e nós aproximámo-nos. Mais e mais. Avancei e fui
também fotografado. Fizeram-me sinal de precaução. O veado começou a andar. Devagar. Alargou o
passo para diante, com decisão e altivez, curvou a cabeça, que me atingiu o estômago com amigável
determinação e cada uma das hastes enfiou por um sovaco. Em vão tentei empurrar o veado para
trás, para a fotografia ficar decente. Mas nada, ele queria ser imortalizado assim. Foram inúteis todos
os meus puxões e esforços para sair daquela posição humilhante. Com mansidão, o veado
continuou, ora para a frente, ora para trás, segurando-me entre os chifres, sem marrar ou me fazer
mal. Senti-me ridículo. Só depois de lhe fazerem cócegas no pescoço e atrás das orelha é que
ergueu a cabeça e ficou pasmado a olhar nos, enquanto eu, cautelosamente, recuei para junto dos
que me acompanhavam.
Arrastámos o barco para o areal e iniciámos a caminhada através do terreno plano. Esperava a toda
a momento ver aparecer o lago interior onde as canas cresciam. Mas não, só via areia seca e um
labirinto de sempre-verdes, silvas e cactos. Não havia caminho. Só descobríamos traços de veados,
lebres, lagartos, cobras e roedores. Desde que Caitano era criança, quando os índios seris foram
obrigados a evacuar para o continente, nunca mais a ilha de Shark foi habitada por seres humanos.
A custo, íamos penetrando para a direita, para a esquerda ou em frente, onde encontrávamos
abertas no terreno escarpado, mas sempre visando as montanhas do interior.
- Onde fica o lago? - perguntávamos por turnos.
- «Mais ali» - respondia Caitano, fazendo sinal com o nariz, sem levantar a mão. Caminhámos
durante muito tempo. Aos poucos, uma vasta extensão de terra começou a estender-se entre nós e o
mar. As montanhas aproximaram-se e depressa chegámos ao seu sopé. Percorrêramos metade do
caminho, o Sol estava a pique sobre as nossas cabeças e não tínhamos água nem provisões.
- Onde fica o lago? Tenho sede - murmurou Germano.
- Mais ali - repetiu Caitano, apontando com o nariz. Começámos a trepar o amontoado pedregoso
que se estendia por uma fenda do flanco avermelhado da montanha. Até ali só víramos lagartos e
lebres, mas aqui começámos a encontrar rebanhos de ovelhas e veados, que se assustavam e
fugiam para os socalcos rochosos que nos rodeavam. Pretendiam dar-nos as boas-vindas, como o
nosso amigo solitário lá em baixo na praia.
Uma ou duas vezes, topámos com fragmentos de vasos manufacturados pelos índios. Antigamente,
os índios deviam parar aqui para se reabastecerem com a água do lago. Subimos sempre e cada vez
mais alto. Parecia inacreditável poder existir algum lago nesta encosta escarpada e árida da
montanha, só onde agora cresciam cactos.
De repente, Caitano parou. Desta vez apontou com a mão. Estávamos sobre enormes blocos de
pedras de minas, onde se avistava um desfiladeiro rochoso. No topo, do outro lado da montanha, a
rocha lisa avermelhada fendia, para formar um ramal do desfiladeiro que nascia no planalto
arredondado. Lá no alto, o sol brilhava sobre uma passagem verde e fresca, mais fértil e fresca no
seu verde alegre de Primavera que qualquer cacto ou planta do deserto. Canas!
A terra baixa, com a planície e o mar, já tinham ficado muito para trás. Cansados e crestados pelo
sol, subimos as rochas a correr, desejosos de nos atirarmos ao lago para sorvermos grandes goles
de água. Descobri alguns abrigos na rocha suportados por trabalhos toscos de cantaria. Este sítio
fora certamente habitado em tempos. Quando chegámos à zona verde, Caitano pegou na faca e
começou a abrir caminho, até que o seu rabicho de cabelo preto desapareceu por entre as canas
mais altas que nós. Segui-o.
- Onde fica o lago? - perguntei, quando consegui alcança-lo. Só víamos até à distância de um braço
estendido. Caitano ficou a contemplar o chão onde tinha pousado os pés e apontou com o nariz.
Terra húmida e preta. Nós avançámos, ansiosos por atingir o lago. Mas ele arrastou-se, hesitante,
para dentro de um túnel escuro feito nas canas pela passagem dos animais que ali iam beber. O
túnel terminava numa caverna coberta de vegetação, tão grande que, bem chegados uns aos outros,
cabíamos lá todos. Aqui o terreno era pantanoso. As pedras cobertas de musgo pareciam cogumelos
e no meio delas havia uma lagoa baixa, mais ou menos do tamanho de uma bacia de lavatório,
coberta com espirogira verde. Ia baixar-me para me refrescar, quando uma suspeita me veio ao
pensamento e parei sem tocar na água.
- Onde está o lago? - perguntei.
- Ali - respondeu Caitano, e apontou para o sítio onde eu pensava sentar me.
Ninguém dizia nada. Cautelosamente, arrancámos a verdura flutuante e filtrámos com os dedos das
mãos fechadas a água suficiente para molharmos as gargantas secas. Salpicámos os resíduos sobre
o corpo a escaldar e enterrámos os pés na lama, para aproveitar o resto de humidade.
Apesar de tudo, dentro daquela caverna sombria sentíamo-nos frescos e reanimados. A vida parecia
outra vez maravilhosa. Dos grandes contrastes nascem as mais fortes sensações: alguma lama e
boa sombra, depois de uma caminhada estafante, deram nos maior prazer do que um almoço com
champanhe depois de uma viagem de autocarro. Os índios olhavam de soslaio para o Sol, que se
vislumbrava através do espesso telhado de canas que nos cobria. Pensavam no caminho de
regresso para casa e dois deles rastejaram para o exterior. Com as facas enormes começaram a
cortar as hastes mais compridas pela raiz, enquanto os restantes ficámos ociosamente a dormitar.
Esta viagem ensinou-me uma coisa. Como a maioria dos peritos, eu achava natural que os índios
seris construíssem barcos de cana. Presumia que o faziam por, praticamente, não haver madeira no
deserto Sonora, enquanto a costa devia estar repleta de canas. Ora eu acabava de verificar que a
realidade era muito diferente. Os índios seris não construíam barcos de cana por terem fácil acesso
às canas. Pelo contrário, vieram de muito longe até aqui às montanhas, para descobrir uma
minúscula gota de água doce onde pudessem semear as canas e assim terem a matéria-prima para
os seus barcos. Se construí-los não fosse uma tradição arraigada entre os seus antepassados que a
trouxeram de qualquer outra parte do mundo, ou a aprenderam com os marinheiros que aportavam
naquela costa, nunca eles pensariam em descobrir esta lagoa para semear as canas. Antes fariam a
armação dos barcos com os ramos fortes da árvore pau-ferro e cobri-la-iam com peles de animais. A
pele de foca é ideal para construir caiaques e os rochedos da costa sul da ilha de Shark estavam
cobertos de focas. Portanto, os índios seris aprenderam a construir barcos de cana com outros
homens. Com quem?
Dali a pouco, descíamos o desfiladeiro da montanha. Os quatro índios à frente, cada um com o seu
molho de canas ao ombro; nós com os tripés das máquinas fotográficas e demais material. À medida
que descíamos, reparei que os índios largavam uma cana aqui, outra ali. No terreno plano, os índios
começaram a dispersar e passado algum tempo nós estávamos na frente, eles atrás. Para não nos
perdermos, antes de o Sol se pôr do outro lado dos montes, procurei seguir os rastos que fizéramos,
enquanto os índios se mantinham na retaguarda. Não me surpreendeu, pois eles vinham muito mais
carregados, embora tendo percebido que os pesos diminuíram alguma coisa durante a descida.
O Sol desaparecia quando chegámos novamente ao barco. Sabíamos que, mesmo de noite,
descobriríamos Punta Chueca pelos fogos do campo, de modo que esperámos, com paciência, os
quatro índios. Apareceram na praia, cada um por sua vez e por veredas diferentes. Chuchu foi o
último, sorria acanhadamente a trazia três canas às costas. Rigorosamente, três. Os outros
nenhuma.
- Mucho trabajo - murmurou um deles, aplaudido pelo segundo, que secava a cara com o rabicho,
enquanto Chuchu punha as canas no barco. O quarto já estava a bordo, aguardando a viagem de
regresso.
Os meus três amigos mexicanos ficaram profundamente desapontados e desaprovaram em termos
duros os resultados obtidos. Três canas, depois de todo um dia de caminhada numa ilha, sem comer
nem beber. Esperávamos encontrar canas na praia. Senti um misto de surpresa e satisfação. Três
canas não chegavam para construir um barco, mas foram o bastante para eu descobrir uma coisa
fundamental. Esta não era, de certeza, a pátria dos barcos de cana.
Na aldeia, Chuchu e os seus ajudantes foram alvo do escárnio dos mais velhos quando encostaram
as três canas contra a parede da barraca. Uma mulher idosa de rosto encarquilhado vociferava,
irada. Por fim, dirigiu-se a passos pesados para a barraca, curvou-se e gritou à entrada. Passados
alguns minutos, apareceu um índio velho, de cara cheia de rugas, que a mulher arrastou para fora.
Era quase cego e usava óculos azuis. Quando se endireitou, percebemos que devia ter sido uma
bela figura de homem, muito alto, de feições distintas. Os índios seris eram muito diferentes das
outras tribos do México. Os Espanhóis descreviam os nativos da ilha de Shark como gigantes. O
velho deu uma volta à barraca, a coxear atrás da mulher, e, entre o lixo, apareceu um barco de cana.
As canas finas como bambu tinham se tornado escuras e frágeis com o tempo, as cordas
apodrecidas, mas as Tinhas do barco estavam intactas. Ajudámos a rebocá-lo até à porta da frente,
pois o velho pretendia provar que um autêntico índio seris era capaz de construir um askam.
O velho gigante fora o primeiro chefe da tribo. Ao amanhecer do dia seguinte apareceu com um
novelo de corda caseira e uma agulha comprida de madeira, lisa e polida pelo uso. Tacteou o
caminho e com a agulha enorme começou a coser a embarcação, tentando dar à proa descaída a
primitiva e elegante linha curva. Apesar de tudo, a sorte estava a nosso favor. No monte de lixo
encontrámos o que procurávamos.
Depois de reparado, o último barco de cana feito pelos índios seris, talvez de todo o México, foi
transportado para água e Caitano e o filho saltaram para bordo. Instalaram-se com um par de remos
velhos e um arpão com linha de correr. Remaram com destreza e depressa as costas negras e os
rabichos desaparecerem na ondulação, em cima do barco delgado e comprido. Quando voltaram
traziam uma tartaruga enorme que batia com as patas no fundo do barco. As canas secas e velhas
tinham absorvido muito água, as ondas sacudiam o barco, que, apesar disso, continuava a flutuar.
Aquilo era o México. Onde teriam os antepassados dos índios seris aprendido esta construção de
barcos tão peculiar? De alguma das tribos vizinhas? Outrora, viam-se barcos de cana desde o
Império Inca até ao norte da Califórnia e também nos lagos do interior do México. No princípio do
século passado, o pintor francês L. Choris pintou três índios num barco de cana remando ao longo
da costa, coberta de mato, perto de S. Francisco. O Dr. Eric Thompson , notável autoridade maia, diz
que nos lagos de, pelo menos, oito estados diferentes do México se encontram barcos de cana
idênticos aos do Peru.
Pesaroso, vi Caitano atirar a sua presa para o redil das tartarugas e o último askam dos seris,
destruído e velho, para o monte de lixo atrás da barraca. Ali ficou, como ponto final do último capítulo
de um livro, que nunca chegou a ser escrito, sobre a história dos barcos de cana, esquecido para
sempre na região central da América.
( 1 ) Journal of the Royai Anthropological Institute, Londres, 1951, vol. 79.
CAPÍTULO IV --- Com beduínos e budumas no coração da África
África. Nenhum outro continente tem um nome tão evocativo. Aqui, temos diante de nós a palavra e a
terra. Uma muralha de selva verde e enormes folhas tropicais são afastadas pelas filas de
carregadores negros de cargas à cabeça, que avançam para a lente da nossa máquina. Girafas e
macacos saltam devagar diante da objectiva. Tocam tambores. Rugem os leões. Na realidade, nunca
estivera no interior da África; apenas a vislumbrara, como que através de uma janela, na escuridão
duma sala de cinema ou impressa nas páginas de um livro.
Mas naquele momento estava no interior da África. No coração da África central, no quarto de um
pequeno hotel de Fort Lamy, capital da república de Chade. Não podia estar mais longe do mar.
Paradoxalmente, pois esta visita pretendia ser a primeira etapa de uma projectada viagem num barco
de canas através do Atlântico. A única água nas redondezas era a de um rio que corria tranquilo. Viao da minha janela: paisagem verde, margens de argila vermelha, água turva da selva. Sob o sol
intenso, as cores pareciam mais vivas. De pé, com a água até aos joelhos, um grupo de pescadores,
cujas peles oleosas molhadas luziam ao sol, puxavam uma rede, num banco de argila. Tinham fixado
uma mata espessa de vergônteas de bambus no leito do rio para barrarem a passagem ao peixe. No
dia anterior, vira sete hipopótamos vadiando noutra margem do rio, um pouco mais acima. Aqui, na
capital, estavam sob protecção. Os crocodilos foram totalmente exterminados. A sua pele era uma
das exportações mais importantes do país. Naquela estação do ano, o tráfico só se fazia por meio de
pirogas. Desde a estação das chuvas, há seis meses, nunca mais tinha chovido; a água estava muito
baixa para permitir a navegação de barcos a motor.
O rio Chari corria suavemente em direcção ao norte, mas a água que desde o mato ele arrastava
consigo nunca atingia o mar distante. Nascia na vasta floresta perto da fronteira sul do Congo e
passava pela savana e pelo semideserto, a caminho do grande lago Chade, na fronteira sul do Sara.
Ali, o calor era tão intenso que a água evaporava à medida que provinha da corrente. O lago Chade
tinha muitos afluentes, mas uma única saída: a abóbada azul de um céu sem nuvens que cobria a
superfície do lago e, insaciável, lhe absorvia todo o vapor.
Este o lago que eu queria visitar. Fácil de descobrir no mapa, mas difícil de se alcançar. Em todos os
mapas vem indicado mesmo no coração da África. Porém, não há dois onde ele tenha a mesma
configuração. Ora é redondo como um prato, ora curvo como um anzol ou ainda dentado com as
folhas de carvalho. Nos mapas mais exactos, o seu perfil é irregular. O seu formato é muito variável.
Milhares de ilhas flutuantes deslizam à superfície, sempre em direcção a pontos diferentes do lago.
Colidem, misturam-se, flutuam até às margens e transformam-se em penínsulas. De tempos a
tempos, tornam a soltar-se e dirigem-se a destinos desconhecidos. Assim, o lago, que, em certas
alturas, cobre uma área de dez mil milhas quadradas (o lago Léman, junto à cidade de Genebra, tem
cerca de duzentos e vinte e cinco), chega a evaporar para metade, variando a profundidade entre um
e quatro metros e meio. A profundidade é de cerca de seis metros. A norte, a água está por vezes
tão baixa que há muitas zonas cobertas por canas de papiro. O papiro cresce também nas ilhas que
flutuam de um lado para outro, numa regata interminável.
A república de Chade não tem caminho-de-ferro. Nem tem estradas transitáveis durante todo o ano.
É um paraíso para os desportistas e para quem quiser conhecer um lugar do mundo que não seja o
reflexo da nossa ubíqua existência. A capital tem hotéis de 1.' classe, farmacêuticos, bares e muitas
repartições administrativas ultramodernas, cheias de empregados pretos, cujas origens tribais se
distinguem pelas cicatrizes paralelas do queixo ou das faces. As avenidas largas e asfaltadas que
separam os jardins dos bangalós franceses da época colonial, finda em 1960, tornam-se escarpadas
e exóticas à medida que desembocam na areia, por entre as filas de casas árabes nos subúrbios, até
se transformarem, no meio da paisagem, em caminhos de caravanas serpenteando à volta das
cabanas redondas dos nativos. Quando as chuvas começam, os percurso para fora da capital têm de
se fazer a cavalo ou de avião. Mas, nessa altura, o rio torna-se navegável para barcos pequenos, até
aos armazéns comerciais situados nos pântanos, por onde ele corre em direcção ao lago Chade.
Três dias antes, atravessara o Mediterrâneo e o Sara num avião francês que faz escala uma vez por
semana em Fort Lamy, a caminho de zonas mais a sul da África. Todos os carregamentos com
destino àquela republica impróprios para várias semanas de transporte em
camelos vinham por avião: carros, trituradoras a vapor, frigoríficos, gasolina. Sim, tudo isto e...
lagostas e bifes tenros para o governador de La Tchadienne... vinha por avião.
Saímos do avião com três homens carregados com o equipamento para as filmagens e géneros para
negociarmos com eventuais construtores navais africanos. O meu grupo compunha-se de dois
fotógrafos para filmagens, o francês Michel e o italiano Gianfranco. Queríamos estudar e filmar o
sistema local da construção de barcos. Encontrei, por acaso, uma fotografia a elucidar um artigo
sobre a África central. Nela se viam alguns negros, em pé dentro de água, junto de uma
embarcação"muito semelhante aos barcos de cana com os quais me familiarizara na América do Sul
e na ilha da Páscoa. A fotografia fora tirada no lago Chade e o próprio autor acentuava a analogia
impressionante entre este barco do interior africano com os que, desde tempos imemoriais, eram
construídos pelos índios do lago Titicaca, em plenas elevações peruanas. No Egipto, este tipo de
barco tão antigo desaparecera há muito, mas aqui, no coração do continente, conseguira sobreviver.
Um antigo caminho de caravanas percorria toda a distância desde o alto Nilo, pelas montanhas fora,
até Chade. Mais recentemente, era conhecido pelo caminho trans-africano de escravos. Os
antropologistas descobriram que uma parte da população de Chade veio do vale do Nilo. Chade era
o cadinho africano; o sol tropical queimava uma mistura indecifrável de tipos humanos. Só um
especialista seria capaz de diferenciar as muitas tribos e línguas. Porém, uma coisa era evidente, até
para um simples amador. Chade é a passagem para quem vem do deserto do Sara, cujas dunas
movediças se acumulam nas fronteiras do norte, através das extensas áreas de mato que, do Sul,
alastram por toda a cintura tropical. No Norte a população é constituída por beduínos e outros
árabes; a parte sul é habitada quase exclusivamente por negros.
Mas todos se encontram nas planícies centrais e na capital, Fort Lamy, onde, num esforço comum,
estão a forjar uma futura nação daquilo que a sorte, em tempos, demarcou como colónia francesa.
Depois de tomarmos um duche no hotel, onde tínhamos ar condicionado, me temo nos num táxi que
queimava e dirigimo-nos à repartição oficial de turismo. Na avenida principal fervilhavam carros,
bicicletas e peões. Aqui e ali viam se algumas caras brancas no meio de africanos. Eram oficiais
franceses e colonos que ficaram na cidade depois da libertação. O chefe do turismo era um destes.
Perguntámos qual o melhor caminho para o lago Chade, pois no mapa não havia indicação de
caminho de ferro ou estrada. O chefe desdobrou um mapa colorido e ofereceu nos vários escritos
sobre leões e toda a espécie de caça grossa. Poderíamos caçar por preço razoável, mas teríamos de
ir para sul, no sentido oposto ao do lago. Esclarecemos que pretendíamos ir até ao lago ver os
barcos de papiro. O chefe dobrou o mapa e, impávido, respondeu que, se não queríamos ir onde ele,
o entendido, nos aconselhava, mais nada tinha a dizer. Com a mesma calma, apontou a barriga para
um quarto interior e para lá se dirigiu. Vi me obrigado a tirar do passaporte uma carta de
recomendação do Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês e mandar lha por um empregado.
A barriga do chefe tornou a aparecer à porta e, desta vez, explicou com delicadeza que era
impossível ir ao lago Chade antes de o rio atingir nível mais elevado. Em todo o caso para encontrar
o papiro teríamos de circundar a aldeia de Boi pela praia nordeste, e isso só era possível de avião.
Queríamos fretar um?
Respondi que sim, se não havia outra alternativa.
O homem pegou no telefone. Os dois monomotores estavam nos hangares em reparação. O bimotor
precisava de cerca de oitocentos metros para aterrar. A pista de aterragem de Boi só tinha
seiscentos metros de comprimento. Filmar era proibido, excepto com licença das autoridades.
Além disto, verificava se um certo mal estar de momento. A população árabe que ocupava a área da
aldeia de Boi era maometana e tinha-se revoltado contra os negros cristãos que detinham o poder.
Seria, portanto, muito arriscado aventurarmo-nos para o norte do país. Como prova das suas boas
intenções, pôs à nossa disposição o carro e o motorista da repartição de turismo. Poderíamos dar
uma volta por Fort Lamy para falarmos com quem quiséssemos e indagarmos as condições do lago.
Deu nos a direcção de um francês musculoso e sorridente, de braços tatuados, que fora designado
para estudar as possibilidades de aumentar os stocks de peixe e modernizar os processos de pesca
no lago Chade. Explicou nos que a única maneira de chegar aos pântanos onde crescia o papiro,
perto de Boi, era atravessar de jipe o deserto que ficava a leste do lago. Um médico francês,
treinador de animais e caçador entusiasta, perfeitamente identificado com aquelas paragens,
confirmou a informação. Ambos repetiam o aviso do chefe do turismo: a sublevação dos
maometanos daquela zona. Disse ainda que havia, de facto, um barco grande que percorria o rio
periodicamente para comprar o cereal local, mas naquele momento era impossível localizá-lo.
Poucos países sentiram a necessidade de ter embaixada na república de Chade, excepto a França,
que manteve uma na sua antiga colónia Michel conduziu nos lá, mas o embaixador só lá estivera um
mês e, do pessoal que ficou, nunca alguém fora ao lago.
Estávamos no terceiro dia passado em Fort Lamy e não fizéramos mais que andar de gabinete em
gabinete, de bangaló em bangaló, visitando pessoas simpáticas que nos ofereciam café, cerveja
fresca ou uísque, mas sempre nos remetiam para outros que talvez pudessem dar uma solução
concreta. Fechámos o círculo, voltando à direcção indicada pelo chefe da repartição de turismo e às
pessoas contactadas no primeiro dia. Decidimos tentar ir a Boi, de jipe e pelos nossos próprios
meios. Tínhamos o «visto» das autoridades. A única linha telefónica de toda a zona do lago estava
instalada em Boi e, como medida de segurança, o ministro do Interior informaria o xerife de Boi da
nossa chegada. Faltava-nos apenas um documento do ministro da Informação autorizando as
filmagens. Quando lá fomos, só encontramos pretos - nenhum árabe -, como em quase todos os
postos públicos. O ministro passou os dedos pelo cabelo ondeado e soltou uma gargalhada, ao ler o
documento que ele ditara para a secretária escrever.
- O homem é um arqueólogo, ar-que-ó-lo-go - disse, devolvendo-lhe o papel. - Escreva arqueólogo,
de contrário os maometanos cortam-lhe a cabeça quando atavessar a zona para onde vai.
Disfarçadamente, espreitei por cima do ombro da beldade de cabelo ondeado. O francês era a língua
oficial da república, a única comum a todas as etnias. No papel era dado como archevêque, em vez
de archeologue. Assim passava a arcebispo, em vez de arqueólogo.
O erro foi rectificado e o ministro garantiu que, pelo que respeitava ao Governo, não nos veríamos
implicados na controvérsia religiosa.
Na manhã seguinte, muito antes de nascer o Sol, partimos de Fort Lamy com os preciosos
documentos e dois motoristas negros. Um deles, Baba, conhecia bem o caminho até Boi. Prevendo
possíveis acidentes no deserto, formámos dois grupos que dividimos pelos dois jipes. Mal
imaginávamos que a decisão fora acertada. No carro da frente levávamos um mapa amarelo sem
contornos onde estavam sublinhados a vermelho os nomes Fort Lamy, Massakory, Alifair, Kairm,
Ngouri, Isseirom e Boi. Não tivemos dificuldade em encontrar as primeiras aldeias. Estavam muito
bem sinalizadas e as estradas de areia eram tão rijas que andámos a 100 Km hora por campo
aberto, cobertos pelas nuvens de poeira que à nossa passagem rodopiavam até ao céu estrelado.
Durante o percurso para norte, vimos trituradoras a vapor e ranchos de trabalhadores, ocupados em
aterrar a estrada, para Ficar a nível mais elevado que os terrenos laterais e se manter transitável na
estação das chuvas. Tínhamos percorrido os primeiros cento e setenta quilómetros quando o Sol
nasceu na planície. A partir daí as estradas começaram a diminuir e depressa o século XX
desapareceu no horizonte. Logo à saída da capital, os edifícios foram substituídos por grupos
isolados de cabanas de nativos, redondas e cobertas de palha, quase todas desertas. A pouco e
pouco, encontrámo-nos a atravessar grandes extensões inabitadas do deserto, onde, aqui e além, os
trilhos das rodas seguiam os caminhos de caravanas. Atravessámos aldeias de casas baixas
construídas com barro seco ao sol. Ali coabitavam, na mais completa miscelânea, árabes, cabras,
macacos e camelos.
Estávamos em pleno deserto. No limite sul do Sara. O último termómetro observado registava 50°C
(122°F) à sombra. Mas onde nos encontrávamos agora não havia nem termómetro nem sombra. Nas
nossas costas ficava a savana, salpicada de palmeiras em leque e árvores secas e de pequenas
áreas de vegetação genuína, onde as gazelas, os porcos selvagens e bandos de macacos saltavam
livremente, na companhia de pomposos pássaros tropicais. As galinhas da índia, pesadas e gordas,
nem se incomodavam em sair do caminho. Naquele sítio a areia cobria as encostas polidas das
montanhas como se fosse neve, cobria os desfiladeiros e as dunas, cobria as cristas baixas e
arredondadas. Nesta paisagem, só algumas plantas enfezadas dispersas quebravam a infinidade de
areia embebida de sol. Sol. A pique sobre as nossa cabeças, brilhando nas partes metálicas do jipe,
tão quentes que nem lhes podíamos tocar. O calor espesso entupia as nossas narinas - ar quente do
deserto, saturado de poeiras ondulantes.
Continuamente, ficávamos presos em dunas de areia. Prendíamos um jipe ao outro por um cabo de
aço e colocávamos grandes chapas de metal debaixo das rodas para poderem deslizar sobre
superfície sólida. Com breves intermitências, o aquecimento excessivo do motor obrigava, ora um
jipe ora o outro, a parar. Mas Baba e o seu companheiro eram bons mecânicos e servindo-se das
chaves-inglêsas e de parafusos tudo solucionavam. Quando a areia estava firme, rolávamos a uma
velocidade vertiginosa. Várias vezes perdemos o rasto das outras rodas e era Baba quem tornava a
descobrir o caminho. No meio de todas estas peripécias, chegámos a uma aldeia isolada,
desconhecida de Baba, que não estava assinalada no nosso mapa. Numa curva, ao passarmos ao
lado das primeiras choças de lama, os dois jipes enterraram-se na areia e fomos obrigados a sair.
Pela primeira vez sentimo-nos pouco à vontade. De todos os lados, a passo vagaroso sintomaticamente vagaroso -, começaram a convergir até nós árabes embrulhados em farrapos
pardos e albornozes brancos, de caras inexpressivas e olhos fixos. Nunca afastaram o olhar do
nosso, mas não nos cumprimentaram nem mostraram desejo de nos ajudarem a libertar os jipes.
Ficaram de pé, encostados ombro a ombro, fixando nos com olhar de águia, sem corresponderem às
nossas saudações ou aos nossos sorrisos. Nem uma mulher. Eram de pele tão escura como a dos
nossos dois pretos-corvo. No entanto, as feições afiadas, os narizes aduncos e os lábios finos
denunciavam a sua origem árabe. A vida austera do deserto fizera cicatrizes indeléveis, tanto no
corpo como no espírito. Ali não havia caridade, nem compreensão. Nem telefone. Só os nossos dois
jipes, afundados na areia, simbolizando o mundo que ficara para trás das dunas.
Colocámos chapas de metal sobre a areia, em boa posição, enquanto Baba e o companheiro,
sentados ao volante, carregavam no acelerador e faziam a areia saltar. Os árabes permaneceram
quietos como se esperassem alguma coisa ou nos reservassem uma surpresa. O ambiente estava
tenso; aqueles olhos faziam lembrar uma matilha de lobos em guarda, prontos para atacar ou fugir,
ao primeiro movimento. Impunha se tomar a iniciativa. Dirigi me ao que me pareceu ser o chefe e,
com gentileza, entreguei-lhe duas das nossas pás para lhe dar a entender que devia escolher mais
dois homens que ajudassem a cavar. Surpreendido, hesitou, mas depois pegou nas pás e começou
a dar ordens, gritando como um sargento irascível. Acenámos aos restantes do grupo e, entretanto, o
ombro do chefe estava junto ao meu. Quase fomos esmagados pela turba que se acotovelava â
procura de lugar para ajudar a cavar. Apertos de mãos, agradecimentos e deixámos a aldeia
encoberta por nuvens de pó para seguirmos a pista de um camelo cansado.
A meio da tarde, passámos por outra aldeia isolada, onde o acolhimento foi semelhante. Fomos
forçados a passar por entre uma multidão de pessoas, rebanhos de camelos deitados com as cargas
presas às costas, macacos e cobras, amontoadas numa praça de mercado. Os árabes, zangados, de
olhar furioso, não respondiam às nossas saudações. Era como se perscrutassem os nossos
pensamentos na tentativa de descobrir se éramos representantes do Governo, enviados para impor o
cristianismo ou receber impostos. Que outra coisa poderiam fazer estranhos ali, nos seus domínios
desertos? Como era óbvio, a nossa visita não era bem-vinda e, por consequência, largámos a toda a
velocidade direitos ao deserto.
Era quase noite, mas o calor continuava sufocante. Baba sentia grande dor de cabeça e os nossos
dois companheiros do segundo jipe desfaleceram, completamente saturados de pó. A água do
cântaro estava tão quente que em vez de nos refrescar queimava nos lábios. Não encontrámos
qualquer espécie de fruta nas aldeias por onde passámos; unicamente vasos de barro e cabaças
cheios de água barrenta dos oásis ou leite sujo de cabra. Ao longo do trajecto percorrido naquele dia
nunca descobrimos garrafas vazias, latas ou pedaços de papel. Logo à saída da cidade é que
encontrámos fragmentos de garrafas partidas. Tudo aqui era de fabrico caseiro: as casas, as roupas,
os arreios. O tráfico era constituído por caravanas de burros pequenos, muito carregados, árabes
oscilando no alto dos camelos e mulheres descalças, caminhando atrás, com potes ou cestos à
cabeça. Aquilo que não era necessário à vida de cada um vendia-se no mercado da aldeia mais
próxima. Era um mundo à parte do nosso, auto-suficiente, inalterado, independente. A nossa
civilização poderia afundar-se; eles, imperturbáveis, com simplicidade e modéstia, continuariam o
seu caminho, firmemente agarrados à tradição e à terra.
Por fim, apareceu o lago. Azul, brilhante, reflectindo o céu do deserto, escondido atrás de uma faixa
de canas verdes, cheias de seiva - canas de papiro. Víamo-lo do alto de uma duna de areia, como
uma miragem irreal. Despertou em nós a tentação de sairmos dos Jipes e nos atirarmos à água azul
transparente, para saciarmos a sede, refrescarmo-nos e vermo-nos livres da crosta de areia que nos
tapava os ouvidos, as narinas e as cavidades dos olhos. Lavarmo-nos e... beber, beber até fartar.
Havia treze horas que estávamos sentados nos jipes, imóveis e ofuscados pela luz. Quando saímos,
a cambalear, Baba fez sinal para não avançarmos. «Não podemos deixar aqui os jipes», disse. «É
mais prudente esperar até chegarmos a Boi.» A aldeia ficava junto a uma praia; se não perdêssemos
tempo, estaríamos lá antes do anoitecer. É perigoso atravessar o deserto à noite.
Aceitámos a sugestão com dificuldade, mas controlámo-nos. Água tão perto, tão azul, tão
enganadoramente bela na sua refrescante nudez, atrás da cortina de canas. Voltámos aos nossos
lugares com o pó na boca, e sentimo-nos assados ao contacto com o metal quente do jipe. Baba
virou as rodas na direcção oposta e, rasgando a duna, penetrou mais e mais pela areia, sempre pela
areia, sempre pelo deserto.
Mas... mais tarde ficámos-lhe gratos. Justamente antes do pôr do Sol, quando os jipes encontraram a
superfície firme do caminho das caravanas que liga Boi às aldeias do deserto e atravessámos o
mercado, direitos à praia onde pensámos mergulhar com as roupas vestidas, ouvimos um grito de
alarme. Na nossa frente surgiu um francês barbudo, apático, que um grupo de investigadores que
trabalhava num barco de controlo do lago deixara em terra. «Vão para aí e serão perfurados pela
bilhárzia em poucos minutos», disse ele, friamente. «O lago está cheio dela.» Vimos Baba
estremecer e sentar-se outra vez, coberto de pó, no jipe.
Aquele lago tão maravilhosamente belo... cheio de bilhárzia, um dos parasitas mais insidiosos de
toda a África. É um verme quase invisível, com um milímetro de comprimento, tão fino que se
desloca a grande velocidade por entre a pele duma pessoa, onde põe os ovos. Em pouco tempo a
pessoa fica coberta de vermes, que a roem por dentro.
Agradecemos o aviso do jovem francês e perguntámos-lhe onde nos poderíamos lavar. Abanou a
cabeça com ar triste. Ali, toda a água provinha do lago e, portanto, devia ser fervida ou ficar em
repouso durante um dia ou dois antes de ser utilizada.
Os aldeões não se aproximaram. Por fim, saiu de uma casa branca, a passos largos e seguido de
pequeno cortejo, um grande negro que se nos dirigiu. Aquele homem enorme tinha todo o ar de
chefe. Era xerife em Boi durante a ausência de um outro homem. Ninguém na aldeia recebera o
aviso da nossa chegada. Dissemos quem éramos e apresentámos os nossos papéis. Mas o xerife
Adoum Ramdan estava com dor de dentes e, por consequência, muito maldisposto. Além disso, tinha
toda a população de Boi a seu cargo, duas mil pessoas, entre árabes e negros, dos quais duzentos
chefes de aldeias. Não tinha tempo para perder. Michel deu-lhe uma dose de aspirina e explicou que
procurávamos onde pernoitar. Desde a partida de Fort Lamy, na noite anterior, que não
descansávamos. «Então vieram a andar bem», disse o xerife, afectando não atingir o que
pretendíamos. Tornou a perguntar por que razão Fort Lamy não o prevenira da nossa chegada.
Tivéramos muita sorte em chegar até ali sãos e salvos. Disse-nos que, só naquele mês, os árabes
pegaram fogo a cinco jipes vindos de Fort Lamy com destino a Boi. No mês anterior, sessenta
rebeldes tinham sido mortos na zona que acabáramos de percorrer. Duas cabeças de negros
decepados foram encontradas na estrada e as autoridades exibiram-nas, para serem identificadas.
Recebemos ordem explícita para ficarmos em Boi até podermos sair sem termos de atravessar o
deserto.
O homem com a dor de dentes mandou que um dos da sua escolta nos indicasse o caminho até uma
cabana de cimento, isolada na praia, e ele desapareceu na escuridão com o seu séquito silencioso.
Na cabana havia uma passagem para quartos muito pequenos, em forma de cubículos abertos, onde
já dormiram muitos homens e mulheres. Aquela era a casa dos hóspedes de Boi, onde todo e
qualquer viajante, podia entrar e dormir. As caras que nos observavam enquanto abríamos caminho
não tinham nada de angélico. A um canto estava um chuveiro, mas só havia água numa "poça de
oito pés de fundura. Tentámos dar à bomba, mas desistimos quando verificámos que o tubo vinha do
lago. Conclusão: dormimos cobertos pelo pó do deserto.
Baba estava a varrer o chão onde íamos colocar os nossos sacos-camas quando o xerife entrou,
desta vez, sorrindo, amável. A dor de dentes passara. Se lhe déssemos outra dose de remédio,
teríamos à nossa disposição três das suas camas. Dormimos com redes sobre as cabeças e pistolas
debaixo das almofadas. Durante toda a noite, estranhos invisíveis vaguearam pela escuridão, negra
como piche, e muitas vezes senti respirar junto ao meu ouvido.
Quando o Sol começava a elevar-se sobre o mar, despertámos com o murmúrio de uma fila de
árabes ajoelhados junto a uma parede, para rezarem na direcção de Meca. Outros ferviam o chá,
sentados em silêncio à volta de pequenos fogos, onde ardiam pedaços de canas secas. Nós fomos
convidados a comer com o xerife que, de óptima disposição, não consentiu que tocássemos nas
nossas provisões. Enquanto estivéssemos no distrito de Boi comeríamos sempre à sua mesa.
Embora de características próprias, a culinária era bastante boa. Simplesmente, se nos
descuidávamos a fechar completamente os dentes, triturávamos areia do deserto.
Naquele dia vi o meu primeiro barco de papiro. Deslizou diante de mim sobre a água transparente
daquele lago encantado, cujo aspecto era completamente diferente do do dia anterior. À chegada,
reparei que diante da nossa cabana estava uma ilha bastante grande. Agora, em vez dela, estavam
três. Enquanto eu as observava, a mais pequena deslizou para a direita, deixando um leve rasto à
esquerda. Assemelhava-se a um grande cesto de flores, ornamentado com um ramalhete de flores
de papiro douradas, corolas arrogantes e delicadas ao centro e, dos lados, algumas mais pequenas,
graciosamente pendentes, reflectiam as corolas amarelas e os caules verdes na água azul celestial.
Completavam o conjunto pequenas plantas trepadeiras, outros tipos de flores e folhas. A ilha, de solo
de turfa de raízes entrelaçadas e plantas fibrosas, deslocou-se, imponente, sem a ajuda de remos ou
motor. O barco de papiro navegava devagar e passou em frente do cesto de flores flutuante. A bordo
viam-se dois africanos muito altos, vestidos de branco e aprumados como dois soldadinhos de
chumbo que impeliam o barco com varapaus. O barco amarelo e os corpos pretos espelhavam-se no
lago. A sua imagem reflectida, deslizando ao contrário, trouxe-me à memória os barcos de cana que
naquele momento navegavam em sentido oposto ao nosso por se encontrarem no outro lado do
globo, no lago Titicaca, na América do Sul. A semelhança entre os barcos do lago Titicaca e este era
tão notável que aqueles poderiam substituir a imagem deste.
Só pensava em experimentar um daqueles barcos depois de saber como eram construídos. Um
simples amador não seria capaz de produzir um barco de forma tão peculiar. A intuição e algumas
chicotadas nas canas de papiro não bastavam.
O xerife acompanhou-nos a uma visita ao sultão M'Bodou M'Bami, chefe religioso do distrito e o
homem com mais poderes naquela zona. O xerife e seus colaboradores eram africanos do Sul,
enviados para defenderem os interesses do governo cristão de Fort
Lamy. O sultão, por sua vez, pertencia à tribo local buduma e toda a população maometana estava
ao lado dele.
O xerife, espadaúdo e forte como um gorila; o sultão, uma fava mirrada, um pouco mais alto que o
normal. Tinha a cabeça e a parte inferior da cara cobertos por um pano, sobreposto ao manto que
caía até ao tornozelo, de tal maneira que só se viam o nariz adunco e os olhos vivos. Os chefes das
aldeias descalçaram as sandálias antes de entrarem na antecâmara da casa de tijolo do sultão onde
se realizou a recepção. Terminada esta, seguimos para um grande terreiro de chão de areia no
centro da cidade, a praça da parada, onde o sultão apareceu montando um puro-sangue branco em
honra dos seus hóspedes. Dois homens seguravam as rédeas e picavam o macho, para o obrigar a
empinar-se sobre as patas traseiras. Um grupo de raparigas, envergando fatos coloridos e sacudindo
os véus transparentes, rodopiavam à volta do sultão.
Quando a parada acabou e os tambores e as trombetas se calaram, uma fila compacta de cavaleiros
surgiu à entrada da praça, passou por nós como um tropel, espadas desembainhadas, vociferando e
gesticulando. Um deles foi mais agressivo. De vez em quando passava por nós como uma fúria, os
cascos do cavalo roçavam as pontas das nossas botas, fazia uma vénia, gritava e fazia gestos
bruscos, brandindo a espada assustadoramente sobre as nossas cabeças. Perguntei, a medo, ao
xerife o que significava aquela atitude. Respondeu que era só para se tornar notado. Porém, Baba
explicitou: está a manifestar a sua alegria por nós não sermos muçulmanos. O sultão, pelo contrário,
não parecia satisfeito. Só reagiu e evidenciou um certo interesse ao saber que queríamos aprender a
construir barcos de papiro. Então, mandou nos ao seu parente, o magnificente Buduma Omar
M'Bulu, que vivia numa grande cabana de palha, com a aparência de uma colmeia, tal como todas as
cabanas do bairro dos budumas do distrito principal de Boi. Só o xerife e o seu delegado habitavam
em bungalós próprios, pintados de branco, de paredes cobertas por buganvília vermelha. Todas as
outras casas da população árabe eram cabanas muito baixas, feitas com argila seca, moldada à
mão. Distinguiam-se das de palha, redondas, características das tribos buduma e canembu.
Omar era um homem digno, alto, muito direito, negro como o carvão, de cara grande e bem
barbeada, dentes e olhos sorridentes. Falava baixo, em árabe ou em buduma, num tom de voz
amigável, e terminava as frases com um sorriso. Era pescador. Quando Baba lhe pediu, em árabe,
para nos ensinar a construir um barco de papiro, pegou, sem hesitar, numa faca que estava
pendurada na parede de palha é à nossa frente, dirigiu-se para o lago, de manto azul pendurado
sobre um dos ombros. Os músculos negros vergaram quando ele se inclinou e lançou a faca à raiz
das canas altas. A pouco e pouco foi crescendo o monte de caules compridos e leves na margem do
pântano. O meio-irmão de Omar, Mussa Bulumi, ofereceu-se para ajudar. Era mais velho e mais
baixo, igualmente bem barbeado, mas não tinha a dignidade de Omar. Só entendia o dialecto
buduma, mas resolvia o problema rindo, quer fosse Baba a falar-lhe em árabe, Michel em francês,
Gianfranco em italiano ou eu, em norueguês. Mas era muito mais rápido que Omar a cortar as canas.
Os molhos de papiro verde foram transportados para longe daquele terreno pantanoso. Finalmente,
íamos aprender a construir um barco. À borda de água, estavam amarrados dois grandes barcos de
cana com capacidade para uma tripulação de doze homens cada um. Explicámos, fazendo o
desenho na areia, que pretendíamos um de cerca de doze pés de comprimento, para ser
transportado em cima do jipe. Foram chamar mais dois homens buduma. Instalaram-se na areia,
debaixo de uma árvore, e começaram a raspar a polpa das folhas de palmeira doum até aparecerem
as fibras rijas e finas como linhas de costura. Rolavam-nas com as palmas das mãos nas coxas até
se transformarem numa espécie de cordel que, por sua vez, era torcido e se convertia num tipo de
corda resistente. Então, Omar e Mussa começaram o barco enquanto os outros, trabalhando a
contra-relógio, lhes forneciam cordas.
A cana de papiro tinha o comprimento mínimo de seis pés e cerca de duas polegadas de espessura
na raiz. A secção transversal era tricórnia. Não era oca como o bambu, mas compacta e esponjosa a
todo o comprimento, semelhante a espuma branca de borracha, envolvida por uma vagem fina e
mole. Omar começou por pegar numa única cana, que rachou em quatro, no sentido do
comprimento, até uma certa altura e deixou unida a ponta mais grossa. Nas bifurcações espetou
quatro caules inteiros, com a raiz para baixo e, com força, atou os com uma ilhó, até as pontas
esponjosas ficarem bem comprimidas. Entre estas tornou a enxertar mais canas, que ele azorragava
com bocados de corda até o feixe se tornar gradualmente mais grosso como a cabeça de um
projéctil. Mussa veio ter com ele e, com a boca, cada um segurou numa das pontas de uma corda.
Apertaram os nós, sincronizando a força dos dentes e dos dedos, até que os músculos dos braços e
das gargantas negras ficaram inchados. A ideia era espremer a ponta esponjosa de tal maneira que
os poros fechassem. Quando a grossura atingiu cerca de dezoito polegadas, fizeram o mesmo a todo
o comprimento, mantendo sempre igual diâmetro. Fez-me lembrar um lápis enorme. A seguir
amarraram a ponta a um tronco de árvore e os dois construtores começaram a saltar e a calcar aos
pés o feixe de canas para adquirir a linha curva de tromba de elefante. Assim adquiriu a proa o
formato definitivo e dois molhos de canas foram acrescentados ao primeiro, um em cada ponta, por
meio de uma cadeia de aselhas. Colocaram só uma cana de cada vez, para os molhos ajustarem
perfeitamente.
Quando o comprimento chegou ao sinal que tínhamos feito no chão, o barco atingira uma simetria
inexcedível, excepto quanto à popa, onde as canas de papiro continuavam espetadas como os pêlos
de uma vassoura. A partir dali, poder-se-ia aumentar indefinidamente o comprimento do barco. Omar
e Mussa resolveram o problema de delinear a popa por um sistema muito simples. Pegaram na faca
mais comprida e cortaram os caules de cana mais salientes como se faz para acertar a ponta de uma
salsicha. Ao fim de um dia de trabalho o barco ficou pronto para ser lançado à água: proa erguida e
pontiaguda; popa espessa e chata; elegante como um cisne.
- Kaday - disse Mussa, acariciando a sua obra, de dentes arreganhados. É a palavra buduma para
barco de cana. Ninguém sabe desde quando a existência dos budumas daquele lago depende dos
barcos de papiro. Ninguém sabe quem foram os primeiros mestres. Talvez eles mesmos. Talvez os
seus longínquos antepassados vindos do vale do Nilo, pelos caminhos das caravanas. Mas, em todo
o caso, o barco perdurou ali, onde as canas crescem junto ao lago e também em praias mais
distantes que pertencem às repúblicas do Níger e da Nigéria. Em toda esta vasta zona, os barcos de
papiro eram construídos pelo mesmo processo tradicional, variando apenas em comprimento e
largura. Porém, no sítio para onde transportámos o kaday estavam ancoradas quatro canoas de
madeira, feitas de troncos ocos de enormes árvores da floresta. Tinham vindo ali parar quando da
enxurrada do rio Chair. As canoas serviram de ponte para irmos para bordo sem molhar os pés.
Omar apontou desdenhosamente para aqueles barcos frágeis, semelhantes a selhas mais alongadas
que o usual, quase repletas de água. Eram os barcos dos Canembu. Não sabiam construir barcos
como os Buduma.
Ao saltar para bordo do nosso kaday novinho, que flutuava como um pepino, vi Abdullah pela
primeira vez. Apareceu no momento exacto, qual génio da lanterna de Aladino.
- Bonjour, Monsieur - disse, com à-vontade. - Chamo-me Abdullah e falo francês e árabe. Precisa de
intérprete?
Na realidade, sem ele como me teria eu entendido com Omar e Mussa quando estivéssemos só os
três no barco, em pleno lago?
Abdullah parecia um homem educado, enrolado numa túnica branca que caía até aos pés, altivo
como um César. Cara escura como a noite, bem barbeado, tal como Omar e Mussa. Uma grande
cicatriz vertical atravessava-lhe a testa e terminava no osso do nariz. Por mais estranho que pareça,
achei aquela marca tribal mais grosseira do que chocante. Olhos inteligentes, lábios encrespados
num sorriso ou dentes abertos num sorriso alegre, Abdullah Djibrine era uma autêntica criança
selvagem. Mas foi um ajudante sempre atento e um companheiro bem disposto. Já tinha arranjado
dois remos toscos, um dos quais me entregou.
Enquanto os quatro saltávamos para bordo do nosso barco esguio, um após outro, e a máquina
fotográfica zumbia para levar o acontecimento até à posteridade, testemunhámos uma cena singular.
Era dia de mercado em Boi e uma multidão colorida de alguns milhares de homens e mulheres viera
do deserto e das ilhas do lago. O mercado transbordava de vida. Não havia uma polegada de chão
arenoso livre: homens, mulheres e crianças acotovelavam-se para abrirem caminho com potes,
cestos e grandes tabuleiros em cima das cabeças. Aqueles recipientes estavam cheios de vegetais
frescos, palha, peles, nozes, avelãs, castanhas, raízes secas e milho africano. Viam-se faces
cicatrizadas e peitos nus, olhos vivos, sorrisos resplandecentes e olhares irados. Ouviam-se gritos de
crianças. Sentia-se a fragrância das especiarias misturada com o cheiro do esterco de burros, do
peixe seco, dos bodes, do suor e do leite azedo. O sol brilhava sobre todos eles. O zumbido das
moscas era abafado pelas vozes humanas que tagarelavam, murmuravam ou apregoavam as
mercadorias regateadas nas três diferentes línguas do deserto. Alguns animais mugiam, milhares de
burros, cabras e camelos zurravam ou baliam inutilmente contra o ritmo das pancadas dos martelos
dos ferreiros nas chapas de metal ressonante. Agora, um grupo pitoresco de figuras escuras
encaminhava-se para o lago. Com gritos e pancadas obrigavam o gado a tomar a dianteira - gado
africano, grande, de chifres curvos. Quando chegaram à praia despiram-se e fizeram trouxas de tudo
quanto possuíam. Encaminharam o gado para dentro de água e, de trouxas à cabeça, começaram
também a nadar. Ao contrário dos Europeus, pareciam imunizados contra a bilhárzia, embora a
doença fizesse muitos estragos nos habitantes do lago e muitos acabassem completamente
destroçados.
Apoiaram-se em flutuadores com o formato de dentes de elefante, alguns de madeira semelhante ao
balsa, outros de papiro exactamente iguais aos que eu vira no Peru e na ilha da Páscoa. Dali a
pouco só se viam cabeças pretas com pesadas cargas em equilíbrio, bicos dos flutuadores fora de
água, precedidos por um chafurdar de cabeças de animais coroadas de chifres compridos, dirigindo
se para uma grande ilha, do outro lado da angra. Abdullah explicou que se tratava de uma família
buduma que viera ao mercado comprar gado e agora regressava à sua ilha. Uma praia de areia
muito branca e palmeiras doum espalhadas pela ilha indicavam que esta estava fixa no fundo do
lago. Duas outras ilhas cobertas de flores de papiro, mas sem areia, desciam para a enseada.
Enquanto nós remávamos, Omar explicou e Abdullah traduziu, que muitas famílias buduma
habitavam nas ilhas flutuantes. Ele e Mussa tinham nascido numa delas e Mussa ainda lá vivia. Viera
até Boi trazer peixe. Havia muito peixe no lago, os maiores de tamanho superior ao de um homem.
Havia também crocodilos e hipopótamos, mas não muitos, presentemente. Aquelas ilhas deslocavam
o gado e outros animais domésticos, assim como os seus donos, de tal maneira que se levantavam
grandes problemas nos postos alfandegários da Nigéria quando alguma família buduma vinda de
Chade se dirigia para aquela república com rebanhos e outros produtos da terra, sem deixar a
indicação da sua cabana. Normalmente, efectuavam a troca de pastagens entre uma ilha e outra a
nado, mas, se queriam pescar ou deslocar se para praias mais distantes, utilizavam barcos de
papiro. Em Boi ouvíramos dizer que alguns eram tão grandes que aguentavam com quarenta
toneladas e até mais. Mussa garantiu que já ajudara a construir um kaday para transportar oitenta
cabeças de gado através do lago. Outro navegara com duzentos homens a bordo.
As histórias sobre a capacidade de carga dos kaday pareciam incríveis. Porém, quando saltei para
bordo do nosso pequeno barco de choque, acompanhado de Mussa, Omar e Abdullah, comecei a
acreditar nelas. O barco era tão estreito que só me podia sentar escarranchado. No entanto,
cabíamos todos dentro dele, oscilando ao sabor da ondulação, sem que o papiro desse mostras de
vacilar ou vergar. A água, tão azul vista à distância, não era nada límpida e eu não tinha interesse
em soçobrar numa sopa de vermes. Ali, na margem, era muito mais perigoso, porque os vermes
saíam dos caracóis que se desenvolviam nas próprias canas. Os dois construtores de barcos
mudaram de lugar e, balançando de um lado ao outro, encostaram-se a nós para nos segurarem e
não cairmos pela borda fora. Mas a embarcação continuou, imperturbável, a flutuar sobre a água
como um barco de borracha. No meio das canas da ilha maior encontrámos, à deriva e ao nível da
água, um barco de papiro velho e apodrecido. As cordas estavam muito deterioradas, mas, mesmo
assim, aguentou com o meu peso, quando, com cautela, arrisquei ir a bordo. Quanto tempo teria?
Talvez um ano, disse Omar. Em todo o caso, não podia ter a certeza. Mas não era, com certeza,
barco recém-constituído e ali estava, ainda a flutuar no lago.
Durante todo o dia remámos por entre as maravilhosas ilhas de papiro. Os outros seguiram nos num
dos kaday que estavam ancorados junto às canoas de madeira. A breve trecho andavam por ali
quatro barcos a brincar com as linhas de uma rede de pesca, enquanto grandes peixes capitaine
chapinhavam na água. Chegou a noite e com ela terminou o nosso primeiro dia a bordo de um barco
de papiro.
Nós, os três europeus, não entrámos na casa dos hóspedes para ficarmos a contemplar o brilho das
estrelas. Os outros viajantes nativos já dormiam no chão. Tínhamos ido a uma cabana onde vivia um
jovem solitário, Bill Hallisey, que pertencia ao Exército da Paz americano e nos obsequiou com um
chuveiro de fabrico caseiro, com um bocal perfurado suspenso de uma lata de gasolina. Bill era um
dos raros homens que atravessou o deserto sozinho e a sua ajuda teve óbvios resultados na guerra
religiosa. Perfurou poços de água onde as condições eram aterradoras e nas aldeias onde a água
brotava os maometanos deixavam de trucidar os cristãos. Naquela altura dedicava se a sondagens
de água, quer em bairros de negros quer nos dos árabes.
Depois da cerimónia do banho em casa de Bill, sentíamo-nos outros. Por isso, ali ficámos durante
alguns momentos a apreciar o ar fresco e puro antes de penetrarmos na cabana sufocante. Teríamos
preferido dormir sobre a areia, ao ar livre, mas era arriscado, por causa das cobras venenosas, que,
de noite, fazem as suas incursões pelo deserto.
Estava uma daquelas noites tropicais, quentes, escuras, sem lua. As estrelas proclamavam a
aventura e o amor. Só se ouvia o zunir das cigarras e o coaxar das rãs escondidas entre as canas de
papiro. No deserto tudo parara; na aldeia, a escuridão e o silêncio da noite. Olhámos pela última vez
as estrelas e íamo-nos agachar, para entrarmos na cabana e dormir, quando senti qualquer coisa
que me fez agarrar os outros dois pelo braço. Ficámos â escuta. Do lado do deserto chegava até
nós, distante e quase imperceptível, o toque de tambores e o som de um instrumento de sopro. Todo
o Oriente parecia estar naquele som, feito da própria areia do deserto, tocado pelo ar suave da noite
e transportado através da escuridão. Nem uma luz se via. Não podia ir para a cama sem presenciar
as cenas associadas àquele concerto nocturno, misterioso e quase inaudível. Convidei os outros a
acompanharem-me, mas não se sentiram tentados. Preferiram dormir. Peguei na pilha mais pequena
e metia no bolso. Só devia usá-la em caso de emergência: a coisa tinha de fazer-se com discrição,
se queria ver sem perturbar e sem ser perturbado. Não me sentia muito seguro depois de ouvir
tantas histórias. A pilha podia ser-me útil num sítio mais difícil.
Estava, de facto, muitíssimo escuro. Fixei o aspecto das estrelas, para, no regresso, encontrar a
cabana, que desapareceu por completo mal adiantei os primeiros passos. Tinha de levantar muito os
pés e com cautela, para não tropeçar. Assim, não se ouviam as minhas passadas na areia. Já
andara durante algum tempo, mas o som dos tambores parecia à mesma distância, quando bati de
encontro a uma parede de adobe. A aldeia. Uma casa árabe. Foi fácil seguir a parede até à esquina
e virar em direcção ao som. Tudo correu bem até que os meus dedos apalparam uma barreira de
canas. Nem uma cabana iluminada. Depois, uma estrada larga de areia, entre duas barreiras de
canas, conduzia à música, já mais nítida. Conseguia distinguir os contornos dos telhados cónicos no
céu estrelado, mas daí para baixo tudo era escuridão. Apressei o passo. De repente, tropecei numa
coisa grande, peluda e móvel, que soltou um guincho estrangulado e me atirou de cabeça para a
frente sobre a areia. Um camelo que jazia no chão, acordou, assustado. As articulações secas
rangeram quando começou a andar, sempre invisível.
Fiquei imóvel. Dentro das casas nem uma luz, nem um som. Só música, que agora se ouvia muito
bem. Tambores e gaitas de madeira ou, até talvez, trombetas. Continuei a tactear o caminho,
atravessando a aldeia, até que cheguei ao sítio donde vinha a música. Apareceu a luz frouxa de uma
candeia de azeite. Via uma corrente contínua de pessoas passarem diante da luz, sempre na mesma
direcção. Estava num grande largo, talvez no início da planície do deserto. Novamente tacteei o
caminho, passei a última barreira, que era de argila, onde me encostei, sem fazer ruído. Comecei a
distinguir cada vez melhor figuras em pé e espectadores sentados. Tropecei em duas crianças
acocoradas na mesma parede, que assistiam, hipnotizadas, ao que se estava a passar no local
iluminado. Ninguém se apercebeu da minha presença, mas estava tanta gente que preferi ficar
quieto junto ao muro. Por toda a parte havia pessoas envoltas em roupas, fixando a procissão que
passava diante da luz.
Não era uma procissão. Era uma roda de pessoas a dançarem à volta da luz. Muitos homens,
rodopiando os pés, curvando se para a frente e para trás, batendo no chão ou erguendo a cabeça e
os braços ao céu, desenhavam um grande círculo, enquanto os tambores e os instrumentos de sopro
projectavam o som do Oriente, tão sedutor,
para a escuridão da noite. Os músicos estavam no centro do circulo. Passava-se lá qualquer coisa
que eu não conseguia ver. Duas figuras femininas apareciam de vez em quando na roda dos
dançarinos. Às vezes pareciam títeres sentados em cadeiras, outras vezes alguém as arrastava para
trás, pelos cabelos. Quando fui espreitar, para ver melhor, uma cena despertou a minha atenção. Um
dançarino saiu da roda e, sempre ao ritmo, avançou direito a mim, balançando uma pequena espada
enquanto dançava.
Pura coincidência, pois ele não me podia ter visto na escuridão. Mas continuava na minha direcção;
disso não tinha eu dúvida nenhuma. Por fim, a espada brilhava e girava mesmo diante do meu nariz.
Fiz um sorriso forçado ao homem, para me mostrar capaz de apreciar uma partida, mas os dentes
brancos não apareceram na face negra. Sombrio e impenetrável, o árabe continuou a dança rítmica,
a zombar de mim num desafio. Ao fundo, via os outros dançarinos fazendo a roda; todos, menos
aquele sujeito diabólico. Após várias tentativas de sorrisos amigáveis, apercebi-me de que a situação
não era para sorrisos. 0 homem estava a ser descarado e ofensivo, os gestos tão agressivos que
atirava a espada â parede, ora de um lado ora do outro da minha cabeça.
Sentindo-me perdido, procurei uma saída. Se agarrasse a espada, cortava-me os dedos. Não
conseguia atingir o corpo do homem sem ser apanhado pela espada. Reparei que não se firmava
bem nas pernas, dando a sensação de um sonâmbulo. Estaria bêbado? Não vi álcool em parte
nenhuma. Estaria drogado? Não descortinava a resposta, mas tinha a certeza de que, se não agisse
com rapidez, a espada me atingiria a cara.
Intuitivamente, comecei a fazer uma coisa que me levou a perguntar a mim mesmo se teria perdido o
juízo. Pensei que, se as pessoas da minha terra me vissem, diriam que estava completamente louco.
Desatei a dançar, acompanhando a espada do bandido, marcando os tempos, para não tocar com o
nariz na ponta afiada. Se o árabe teve alguma reacção, foi de surpresa com certeza. Perdeu o
compasso por um segundo, mas logo prosseguiu, e os dois dançámos, ele para trás, eu para diante,
ao mesmo ritmo, até ao círculo que rodeava a luz. Como autómatos, os outros afastaram-se para nos
darem lugar. Nenhum se mostrou surpreendido ou alterou o ritmo. Estava tão entretido a tentar fazer
o mesmo que eles que esqueci o homem da espada que me convidara à dança. Readquirindo o meu
poder de observação, notei que só havia quatro tocadores muito perto da luz. E eu era uma das
peças do anel de dançarinos constituído por negros: árabes, budumas e canembus, tão negros à
noite como de dia. A dança era bastante simples: saía naturalmente se acompanhasse o ritmo com
passos irregulares, pulos e vénias.
Só passado muito tempo reparei que o círculo diminuíra. Alguns iam saindo sem serem notados.
Ficámos apenas uma dúzia de homens a rodopiar à volta da luz e dos músicos. O trombeteiro
começara certamente a praticar em criança, pois as faces já estavam inchadas como as dos
querubins. Quando soprava na trombeta de madeira dava a ideia de que aquelas bochechas de
borracha preta dilatavam até ficarem castanhas. Ou talvez fosse o efeito da luz. O suor cobria-lhe a
testa e, mais de perto, verifiquei que escorria também pelas faces de todos os outros, sobretudo dos
dançarinos. Dali a pouco captei outro pormenor. Os dançarinos seguravam uma moeda entre os
dedos, que erguiam no ar ou baixavam e acabavam por atirar ao trombeteiro, quando, depois de
caírem exaustos, se esgueiravam para a escuridão. Tive de ser igualmente generoso, para tudo
aquilo acabar em bem. Peguei numa nota de banco da república de Chade e dancei com ela entre os
dedos. Imediatamente o trombeteiro se levantou, seguido pelos tamborileiros, e, com entusiasmo,
começou a bater o instrumento junto à minha cara. O compasso apressou, a roda diminuiu.
Por fim, ficámos reduzidos a quatro, mas, como é óbvio, os músicos concentravam-se no que tinha
mais dinheiro. O suor cobria todos os outros, que, para meu grande espanto, se mostravam
exaustos, como se estivessem numa prova de resistência, embora aquilo não desse ideia de ser pior
do que o nosso twist. Ainda que numa simples brincadeira, os cavaleiros do deserto pareciam menos
habituados aos exercícios físicos do que os esquiadores do norte. Ou estariam eles ali há muitas
horas e eu acabava de chegar? Poderíamos ter mantido indefinidamente aquele roda-roda-salta-
dobra-endireita, mas os músicos queriam acabar e por isso batiam cada vez mais rapidamente. Um
homem caiu, depois outro e outro. Na realidade, foi uma competição que acabou dançando eu
sozinho. O trombeteiro agarrou a minha nota. Foram chegando pessoas de todos os lados: olhos
extasiados, um misto de expressões indecifráveis. Todos queriam certificar-se do sucedido.
Respirei fundo o ar fresco da noite, cansado mas feliz por me ter livrado do homem da espada.
Nunca mais o vi, mas um outro, forte e pesado, dirigiu-se-me, arrastando duas imponentes figuras
femininas. Não eram novas, nem bonitas, comparadas com as mulheres elegantes que vira na praia
durante o dia. Além disso, a pele negra brilhava coberta de suor. Deduzi que seriam as mulheres que
estavam no meio da multidão que dançava quando eu cheguei. Colocou-as mesmo ao meu lado
como um troféu. Centenas de árabes e negros olhavam nos à luz pálida da candeia. E agora? Como
fugir a esta situação cada vez mais embaraçosa, livrar-me da populaça e voltar para donde viera?
Como resposta, senti uma palmada forte no ombro. Era Omar, cara reluzente como o Sol.
- Monsieur, brave tamtam - disse, mostrando os dentes em sinal de aprovação. Aquelas palavras
esgotaram o seu stock de francês. Omar foi a minha salvação. Uma cara conhecida. O que eu
presenciara fora um acontecimento para as multidões, pois nem o sultão, nem o xerife estavam
presentes. Ora, Omar era respeitado por aquela gente. Quando os espectadores verificaram que eu
era conhecido e amigo do parente do sultão, as filas desfizeram-se e nós voltámos juntos para a
música das cigarras.
No dia seguinte, em Boi, a consideração por mim aumentara. Circulavam rumores acerca da minha
proeza como dançarino e sobre a quantia avultada que pagara aos músicos. O xerife, por seu lado,
fora avisado de actividades terroristas e revoltas dos árabes no interior. Portanto, insistiu para
continuarmos seus convidados até podermos sair de avião, sem perigo. Não havia hipótese de
contactar com Fort Lamy pelo radiotelefone, mas o telegrafista podia mandar um telegrama e pedir
um táxi aéreo.
Já tínhamos muitos amigos em Boi e passámos os dias a passear em barcos de papiro no lago.
Assim decorreu uma semana, ao fim da qual se ouviu o barulho de um motor que sobrevoou as ilhas
flutuantes. Uma avioneta rasou as canas de papiro e os telhados das cabanas da aldeia e aterrou na
faixa de areia plana, onde, uns minutos depois, cumprimentávamos o piloto francês. Disse nos que
podia levantar voo imediatamente, mas só levando-nos a nós os três e a roupa indispensável. A
avioneta não aguentava com o peso do material das filmagens. O barco de papiro foi içado para cima
do jipe e o material arrumado lá dentro, para serem transportados por Baba. Tanto o sultão como o
xerife nos garantiram que ninguém atacaria dois motoristas negros, se eles atravessassem sozinhos
o deserto e não fossem acompanhados por brancos.
Os últimos de quem me despedi foram os construtores Omar e Mussa e o intérprete Abdullah,
Perguntei .ao sultão e ao xerife se eles poderiam ir encontrar-se comigo no Egipto, caso viesse a
precisar de peritos na construção de barcos. Com prazer não dissimulado, ambos afirmaram que
sim. Abdullah traduziu a minha pergunta do francês para árabe, dirigindo-se a Omar, e este tornou a
traduzir do árabe para buduma, a fim de Mussa perceber. Os dois irmãos ficaram tão contentes que
desataram a rir e a fazer vénias, sacudindo a minha mão entre as deles, para manifestarem o seu
entusiasmo.
- Eles dizem que sim - explicou Abdullah solenemente - e eu também vou como intérprete!
Já estávamos sentados na avioneta, que não arrancava. Nem reparei na minha resposta, mas
Abdullah fixou-a. Atámos uns cabos ao avião, que ligámos ao jipe de Baba. Só com essa ajuda
arrancámos e começámos a subir sobre as cabanas dos budlimas, os kadays e os pântanos de
papiro. Atrás de nós via-se com nitidez a extensão infinita de areia dourada que atravessáramos aos
solavancos para chegarmos a Boi. Debaixo de nós, na vertical, o reino ilhéu mais maravilhoso do
mundo, o lago Chade. Visto de Boi, dava a ideia de um puzzle de manchas verdes a quem alguém
tivesse dado um empurrão para se pôr em movimento sobre o fundo azul. As ilhas flutuantes eram as
peças verdes, de contornos sempre diferentes uns dos outros, que desenhavam uma confusão de
canais estreitos à sua volta, quais separações do puzzle desintegrado. Sobre algumas dessas peças
viam -se pequenas cabanas redondas de nativos e rebanhos de gado a apascentar. Aqui e além, nas
esteiras azuis, flutuavam pequenos kadays amarelos. Depois o lençol azul foi aumentando até
atingirmos a foz do rio Chari. Levámos apenas uma hora a atravessar o lago e a chegar a Fort Lamy.
Esperámos pelos jipes um dia, dois dias, três dias. O radiotelefone ligava para Boi e o xerife
confirmava terem saído havia muito tempo.
Conseguimos que o dono da garagem de Fort Lamy nos dispensasse um jipe, que fez metade do
caminho até Boi sem descobrir outras pistas senão os traços das rodas deixados por nós à ida para
lá. Depois, mandámos a avioneta fazer um voo de reconhecimento. Sobrevoou os caminhos e a
estrada durante três horas sem encontrar jipes atolados na areia. Os cientistas que se dedicavam
aos estudos no lago mandaram outro jipe de Boi a Fort Lamy e vice-versa. O motorista regressou
sem mais informações.
Apelámos para as autoridades. Responderam que nada podiam fazer. O chefe da polícia esclareceu
que não se tratava de roubo, mas de guerra civil. Perdemos o avião que escalava Fort Lamy só uma
vez na semana. Os dois homens das filmagens tinham outro trabalho marcado na Etiópia, a que
faltaram por não o poderem efectuar sem o. valioso material desaparecido.
De súbito, ocorreu-nos uma ideia. Com Michel como porta voz, dirigimo-nos ao quartel-general das
forças militares francesas. Chade era actualmente uma república independente. Os Franceses foram
afastados, discretamente, das repartições oficiais, onde já não se viam brancos. Porém, não era
difícil encontra-los quando precisávamos deles. O chefe militar francês talvez soubesse o processo
de localizar os dois jipes roubados. Para controlo das amotinações entre as tribos árabes do Norte e
de Leste, os Franceses mantinham patrulhas militares estacionadas nos pontos estratégicos do
deserto. Essas patrulhas estavam equipadas com postos de rádio, móveis, para chamarem as tropas
pára-quedistas francesas se o terrorismo se transformasse em rebelião organizada. O que
aconteceu, de facto, algumas semanas depois. Passadas algumas horas, o chefe militar informou
que os dois jipes roubados estavam escondidos à sombra de uma árvore, numa aldeia abandonada.
Os nossos dois motoristas fugiram, para ficarem com os valores que lhes confiáramos e tentarem
vendê-los aos árabes. O barco de papiro, tão importante para nós, nada significava para eles.
Descartaram-se dele em pleno deserto. Ficaram profundamente desapontados por ninguém lhes
querer comprar o equipamento de filmagem, portanto o negócio ficou reduzido à gasolina, que
tiveram a habilidade de extrair dos dois depósitos até à última gota. A patrulha que apanhou os dois
fugitivos avisou que teríamos de mandar gasolina, se estivéssemos interessados em reaver os jipes.
Nunca soubemos o que aconteceu ao desleal Baba e ao seu companheiro de conspiração. Não
estavam no jipe, que encostou aos degraus do avião para descarregar o material roubado. Por tudo
isto, o avião saiu com uma semana de atraso para a Europa. E, como estes contratempos não
bastassem, Abdullah, o nosso intérprete e fiel amigo, foi preso pelas autoridades locais por suspeita
de ser meu agente em Boi para o comércio de escravos negros com destino ao Egipto. Mas naquela
altura ainda não tínhamos conhecimento disto.
Assim, desapareceu debaixo das nossas asas aquele fascinante ponto de encontro das mais
diversas facetas da África central; as florestas e o deserto, negros e árabes, o sol escaldante e o
nosso gigantesco avião deixando à sua passagem veloz sobre o Sara infinito, em vez de sulcos na
areia, vestígios do século XX.
Au revoir, África.
CAPÍTULO V --- Com os monges negros na nascente do Nilo
Para construir um barco de papiro são indispensáveis canas. Portanto, eu precisava de as descobrir.
Mas onde? Em Chade, no Iago do deserto? Simplesmente, não há artérias do coração da África para
o mundo circundante: nem rios, nem estradas, nem caminho-de-ferro. A quantidade de canas de que
eu necessitava não era transportável em camelos. Os construtores do barco poderiam vir de avião,
mas não o papiro suficiente para o construir. Era impensável transporta-lo dos pântanos de Boi para
o campo de aviação perto da capital.
No Egipto? Claro! Nas pedras do túmulo do faraó estão pintados barcos de cana. Pedras e canas.
Pedra do deserto; canas das praias do Nilo. Dádivas da natureza aos antigos povos do Nilo. E lama,
a deslizar pelas vertentes das montanhas da Etiópia até às margens do rio. O aldeão assenta o seu
modo de vida na lama, o pescador faz o seu barco com as canas, o faraó utilizou a rocha a pensar
nas gerações seguintes. Sobre papel de cana de papiro, escreveram os eruditos egípcios alguns
capítulos da história primitiva da humanidade. A pedra foi transportada sobre papiro e o barco de
papiro imortalizado na pedra. A flor do papiro aparece constantemente na arte do antigo Egipto. Era
o símbolo nacional do Alto Egipto e na mitologia passou a ser representada juntamente com a flor do
lótus do Baixo Egipto pelo homem pássaro Horu, filho do deus-Sol, Ra, quando o Egipto se tornou
num reino unificado.
Para construir uma jangada de balsa foi preciso seguir o processo dos Incas: penetrar nas florestas
húmidas do equador e descobrir as árvores frescas do mato, cheias de seiva. Para fazer um barco
de papiro teríamos de imitar os construtores do faraó: passar a vau os grandes pântanos de papiro
que acompanham as praias do Nilo e colher canas frescas. Quando um faraó mandava construir um
barco não tinha grandes problemas. Os construtores de navios daquela época conheciam bem o
papiro e, quanto aos barcos, tinham a experiência adquirida através de muitas gerações. A mão-deobra não tinha limite e os materiais cresciam em abundância, mesmo à porta do palácio. Em ambas
as margens do Nilo, os pântanos de papiro estendiam-se por muitas milhas, desde a costa do
Mediterrâneo até ao deserto do Egipto.
Mas isto foi há muito tempo.
- Não há papiro no Egipto, agora - garantiu George Sourial. George era um homem-rã egípcio que
conhecia bem o Nilo. - Há muita pedra para construir pirâmides, mas não há papiro suficiente para
fazer um carrinho-brinquedo - acrescentou, e dirigiu o barco a motor onde estávamos sentados para
a margem, para eu a poder observar melhor.
No Nilo, um comboio de mastros e velas deslizava, para cima e para baixo, por entre palmeiras,
margens de areia e campos cultivados. Nem uma cana de papiro apareceu a curvar a cabeça
dourada e a espelhar-se na água turva. O papiro desapareceu do Egipto no século passado.
Ninguém sabia porquê. Os deuses tiraram -lhe uma das suas dádivas mais antigas, como quem a
arranca pela raiz. Continuava a haver muita pedra, nas montanhas e nas pirâmides, mas até a lama
quase desapareceu, porque os actuais governantes do país refrearam o seu curso com as paredes
brutais de Aswan Dam. Quando o papiro deixou de existir nas margens do Nilo, o último construtor
de barcos eclipsou se também para sempre.
Em cima de camelos, a cavalo, de carro, de comboio e de barco, subimos e descemos o pitoresco
curso do Nilo. Fomos convidados a andar em cargueiros e em velhos barcos de pesca. Sentados,
nos conveses escaldantes e sujos, comemos pão árabe e queijo feito com o leite azedo, que
raspávamos com os nossos dedos de um grande bocado que havia no convés. Sempre na
esperança de colhermos informações dos barqueiros andrajosos que nunca calçavam sapatos e
poucas vezes, se alguma mesmo, passavam um dia em terra.
As mulheres, os filhos, os animais domésticos e os produtos da terra estavam com eles a bordo. Eles
próprios tinham nascido a bordo. O barco de madeira remendada, com uma tenda no cimo, era a
casa do pescador do Nilo, a sua aldeia, o seu mundo. Aprendemos muito sobre a maneira como os
homens podem viver amontoados e executar todas as actividades indispensáveis à vida num convés
mínimo. Constatávamos que a comida pode ser cozinhada em fogareiros de barro em cima de
conveses inflamáveis, que víveres secos suportam o sol escaldante a pique sobre um barco sem
coberta. Mas sobre o papiro foram os pescadores que aprenderam connosco. Nunca tinham visto
uma flor de papiro, nem sequer o ramo plantado em honra dos turistas na fonte situada em frente à
escadaria do Museu do Cairo. Nunca tinham visto o interior de um túmulo de faraó. Nunca os seus
antepassados lhes falaram noutro tipo de barco, ali do Nilo, excepto os de tábuas de madeira como
aqueles onde eles habitavam.
Mas o Nilo é muito comprido. Percorre todo o Egipto, atravessando o Sudão, até chegar às suas
nascentes longínquas no Uganda e na Etiópia. Aí, nos lagos da nascente do Nilo, o papiro continuou
a existir, tal como no lago Chade.
Os antigos povos civilizados devem ter tido que percorrer grandes distâncias, pois muitos dos velhos
faraós que governaram o Egipto eram oriundos da Etiópia, onde o Nilo tem a sua nascente. Porém,
durante a Idade Média o percurso do Nilo deixou de interessar e as suas fontes lendárias foram
transferidas para as desconhecidas e misteriosas «montanhas da Lua». Mais tarde, os Italianos e os
Portugueses descobriram os troços superiores do rio, quando, no tempo de Colombo, os Europeus
se começaram a movimentar. Então, pela primeira vez, os homens da actualidade souberam que o
fluxo azul do Nilo partia do lago Tana, situado no maciço central da Etiópia, muito acima do nível do
mar.
Relativamente aos faraós, tivemos o handicap de ser obrigados a percorrer o Nilo até à nascente
para obtermos o papiro. O Nilo é o segundo rio do mundo em comprimento. Há papiro em Marrocos
e na Sicília, mas não em quantidade suficiente para a construção de navios. No Sudão as lutas
internas sucediam-se. O ambiente era de desconfiança. As autoridades não nos dariam o visto nem
acreditariam que éramos turistas interessados apenas em construir um barco de papiro. A Etiópia,
pelo contrário, estava a desenvolver o turismo. Por essa razão, aterrámos em Adis Abeba, a capital,
oito mil pés acima do nível do mar, num verdejante planalto da montanha, salpicado de flores bravas
amarelas, centro daquele altivo império.
Tosi, o meu companheiro de viagem, era um italiano muito magro, debutante em filmagens. Mas de
altura tão superior ao normal que só todo enroscado conseguimos que coubesse no táxi aéreo que
nos levou ao lado Tana. A bagagem dele consistia essencialmente em latas de spray insecticida. Dali
a pouco dançávamos, impelidos pelas rajadas de vento, sobre as montanhas da Etiópia, cobertas de
verdura. Por baixo, espelhadas em grupos pelas cristas dessas montanhas, distinguíamos as
cabanas redondas, feitas de verdura, características da região. A paisagem era como que uma pista
de golfe ondulante, em diversos tons de verde. De um momento para o outro, apareceram os
precipícios agrestes e as ravinas das montanhas por onde deslizavam torrentes de espuma branca.
Mais tarde, chegámos à parte superior da extensão rectilínea do Nilo. Aí a água castanhaavermelhada, comprimida entre as rochas a pique, descrevia ziguezagues numa garganta muito
profunda. Quais hieróglifos da montanha, aqueles jorros de água contavam como, desde sempre, o
rio escava o seu percurso através das montanhas rochosas, corroendo com os dentes inexoráveis do
tempo milhares de toneladas de rocha da Etiópia. Rocha que se arrasta até às planícies do Sudão e
do Egipto, transformada em lama e detritos triturados. Desde o tempo dos faraós até hoje, o Nilo
alimenta se das montanhas e com as substâncias que extrai delas fertiliza os campos de cereais do
Egipto. Os sulcos profundos efectuados nas rochas pela passagem do Nilo têm a sua história. Por
eles veio a terra fértil que fez desabrochar um dos primeiros e basilares rebentos da cultura mundial.
As nossas considerações foram abruptamente interrompidas. O avião picou direito aos cumes, o
piloto puxou com força a alavanca, a ponta de uma asa passou rente às copas das árvores no alto de
uma crista e atravessou o nó de uma garganta. O Nilo desapareceu; só se viam rochas e as copas
das árvores.
Nessa altura ouvimos um barulho ensurdecedor vindo de todos os lados, que abafava por completo o
som do motor do nosso aparelho. O meu estômago colou-se às costas, agarrei-me com força ao
assento e sustive a respiração. A garganta do Nilo abriu-se num ápice diante de nós como um caos
infernal. O rio, imponente, alastrou a toda a largura e lançou se, espumando e formando uma parede
vertical intransponível, contra o nosso pára-brisas. Massas turbulentas de água corriam das cristas
das montanhas em frente, para os lados, para cima, para baixo, na vertical, horizontalmente.
Semeavam brancura, trovejavam, espumavam. O Sol desapareceu atrás dos precipícios que nos
rodeavam. Por fim, o piloto puxou de novo pela alavanca, outra vez nos agarrámos aos assentos,
enquanto os lemes, com a ajuda do vento forte, obrigaram o aparelho a subir de encontro a um
maravilhoso arco íris pintado no céu azul. A seguir, sobrevoámos, com elegância e leveza, a borda
do caldeirão espumoso onde suaves torrentes de água deslizavam direitas a nós, formando quedas
que se desfaziam nos abismos. Como que ao toque de varinha mágica, o Nilo estava agora,
novamente, debaixo das nossas asas, mas numa versão diferente; lamacento, silencioso e
deslizando com suavidade no alto de um planalto verdejante, sem ravinas ou desfiladeiros. No
panorama havia montanhas ondulantes, água a brilhar e sempre verdes tropicais.
- Querem ver mais uma vez? - perguntou o piloto. Sem esperar a resposta, virou o avião sobre um
dos lados e voltou para trás, voando baixo sobre a mesma cordilheira. Sentimos a mesma exaltação
enquanto mergulhávamos na garganta fumegante que se escondia atrás.
- As quedas Tissisat - explicou o piloto, com vivacidade, quando solitárias dos grandes lagos Tana e
Zwai, para escaparem às perseguições que sofreram por causa da sua fé. Desde há setecentos anos
que os monges negros que se esconderam no lago Tana ali permanecem. Recrutam adeptos jovens
no continente e trazem-nos até às ilhas em barcos de papiro.
Para irmos visitar os monges e obtermos informações quanto à eventual hipótese de haver papiro em
quantidade, alugámos um velho barco a motor, de ferro. Um italiano de espírito comerciante levou
dois barcos iguais àquele para o lago Tana, para competir com os barcos de papiro que
transportavam o cereal dos pequenos molhes da praia para os dois grandes mercados, um a norte, o
outro a sul do lago.
Na primeira ilha que abordámos, árvores florestais enormes cresciam mesmo à borda de água e as
paliçadas e os entrelaçados das suas raízes estavam muito debaixo de água. A bordo do barco de
papiro, percorremos o nosso caminho por entre os caules de canas. Na praia, encontrámo-nos sob a
sua folhagem. Atrás dos primeiros troncos de árvores havia um pequeno caminho onde dois monges,
imóveis, estavam à nossa espera, como se chegássemos por ordem deles. Envergavam hábitos
compridos, com capuzes, e estavam descalços. Faces escuras, barbas negras. Tocavam com os
dedos nas cruzes coptas que traziam penduradas ao peito. Saudaram-nos em silêncio e com um
gesto elegante indicaram o caminho que, pelo monte acima, ia dar ao santuário. Ao chegarmos lá,
vimos barcos de papiro encostados à parede onde batia o sol e havia canas secas amontoadas em
feixes. No ponto mais alto ficava a igreja: a maior residência dos monges. As outras distribuíam-se
pela encosta. Eram todas circulares, as paredes feitas de estacas perpendiculares e os tectos
cónicos de palha espessa. Alguém bateu numa pedra grossa e polida, suspensa como os gongos.
Ouviu-se um toque intenso e melodioso. Alguns monges apareceram. A maior parte eram homens
altivos e de boa figura, como a maioria dos etíopes: pele escura, feições correctas, nariz adunco e
barba escura pontiaguda. Porém, alguns evidenciavam subalimentação e desmazelo. Naquele grupo
havia rapazes muito novos, homens em pleno desenvolvimento, e velhos veneráveis de barbas
brancas. Mas todos impressionavam pela sua austeridade: hábitos simples, pés descalços ou
apenas de sandálias abertas. Alimentavam-se dos produtos dos pequenos pedaços de terra que
possuíam ou de peixes do lago. Rezavam, cantavam, meditavam.
Fomos bem acolhidos. Sentimos que ali encontraríamos as preciosas informações que
pretendíamos. Velhos de turbantes pegavam em tambores de pele que mais pareciam barris,
começaram a bater o ritmo com as palmas das mãos, enquanto cantavam em voz baixa e
desafinada. Música sacra estranha e muito antiga, herdada das velhas comunidades cristãs da
Etiópia. Assim deviam cantar os seus antepassados eclesiásticos quando, no primeiro êxodo,
fugiram em barcos a remos do reino de Axum para o lago.
A ilha chamava-se Covran Gabriel. E foi o anjo Gabriel, de espada desembainhada, quem nos
recebeu quando os monges nos convidaram a entrar na igreja de telhado de palha. Estava pintado
em tamanho maior que o natural, rodeado de coloridos ornatos bíblicos que decoravam os lados de
um relicário central, uma espécie de altar que ocupava o centro da igreja e se erguia do chão até ao
tecto. Só ficava livre uma pequena passagem circular que o rodeava, onde se viam várias portas.
Todas as igrejas coptas do lago Tana são similares. Aquelas pinturas coloridas narravam, em estilo
ingénuo e encantador, toda a história bíblica. Os monges garantiram-nos que eram obras com
duzentos ou trezentos anos, possivelmente mais. Uma delas representava o faraó e o exército
egípcio a afogarem-se no mar Vermelho. Só os elmos prateados dos comandantes e as armas dos
soldados sobressaíam da superfície da água.
Por amabilidade, permitiram que entrássemos calçados, mas, à saída, trazíamos connosco umas
centenas de pulgas dos tapetes velhos da igreja. Eu livrei-me delas facilmente, mas os gestos
violentos e grotescos do fotógrafo denunciavam que a vanguarda já passara das pernas para os
sovacos e para o cabelo. Retirou a correr para o barco, onde, perante os monges horrorizados,
realizou um strip-tease nada discreto, para se encher de spray insecticida.
Entretanto, eu já conseguira obter dos monges o pouco que sabiam sobre o poder de flutuação do
papiro. Apesar de o barco de papiro ser para aqueles ilhéus o que os cavalos e os camelos são para
os cavaleiros do deserto, nenhum deles experimentara o seu tempo de flutuação por mais de um dia
de cada vez. Depois de utilizado, arrastavam o barco para a praia e erguiam-no sobre uma das
extremidades, para secar. De contrário, nunca deixaria de absorver água. O papiro encharcado não
vai ao fundo, diziam os monges, mas perde toda a sua capacidade de carga. Quanto maior for o
barco maior é o tempo de flutuação. Porém, não vale a pena construir barcos grandes, porque se
tornam difíceis de pôr a secar. Como se vê, não tivemos muita sorte. A ilha que visitámos a seguir
chamava-se Narga. Era plana e o papiro crescia nas suas enseadas baixas. Mas por isso mesmo os
monges renovavam os barcos com regularidade. «O papiro apodrece», diziam eles. «Temos de fazer
barcos novos, pelo menos uma vez por ano, mesmo secando-os depois de cada viagem». No alto de
uma torre antiga de pedra, estava sentado, em silêncio e imóvel, um monge. A torre foi mandada
construir pela imperatriz Mentuab há duzentos e cinquenta anos. Há uns quantos anos, o monge
sentou se no último andar, ao ar livre, e fez o voto ao seu Deus de permanecer ali, imóvel, o resto da
sua vida, até morrer. Os seus irmãos monges olhavam no, cá de baixo, corno um santo vivo,
enquanto a sua silhueta se estampava nas nuvens em deslocação.
Apressámo-nos para a ilha seguinte, que assomava ao longe e cujos montes cobertos de arvoredo
se destacavam no céu azul. Daga Stefano é a mais santa de todas as ilhas do lago Tana. Tão santa
que nenhuma mulher, nem mesmo uma imperatriz, pode pôr os pés nela. A última mulher que tentou
lá ir foi justamente a imperatriz Mentuab e a sua corte, há dois séculos e meio. Chegou num grande
barco de papiro e tentou desembarcar, mas, embora com toda a delicadeza, foi obrigada a retirar.
Vista do lago, a ilha parecia maravilhosamente fresca. Apercebemo-nos de um telhado de erva,
encimado por uma cruz entre as copas das árvores que cobriam a cordilheira. Um monge todo
esfarrapado, sofrendo de adiantada elefantíase do escroto, fazia vigia no único sítio de desembarque
da ilha. Em fila, pequenos barcos de papiro assentes numa das extremidades estavam inclinados
contra as árvores atrás dele. Movidos pela curiosidade e pela precipitação, saltámos sobre as rochas
e desembarcámos na ilha santa. O frade deixou-nos observar os barcos e nem sequer nos impediu
de subirmos ao alto do monte por uma pista larga de lama. Árvores gigantescas, cabanas de palha,
frades. Saudações em silêncio, orações murmuradas, pequenas cruzes entre os dedos. Papiro?
Todos apontavam na direcção do grande mar interior, único local onde existia em quantidades
inesgotáveis e o colhiam eles também. Tempo de flutuação? Oito dias. Talvez quinze. Se não se
afundava com a carga, apodrecia e partia se de encontro às ondas. O papiro tem de se manter seco,
nada mais sabiam.
Não entrámos no templo. Parecia em ruínas; paredes ovais de pedra, bambu e palha. Mas ao lado
havia uma caverna debaixo da rocha, cheia de relíquias sagradas. Dois monges sorridentes
convidaram nos a penetrar na escuridão, para uma espécie de câmara de torturas. Pilhas de crânios
brancos, cruzes antigas e bens pessoais de prelados falecidos. Os maiores tesouros eram compridos
esquifes, em vidro, cobertos por panos. O pano estava dobrado num dos lados e a meia luz deixava
ver as múmias definhadas e contraídas de quatro imperadores etíopes embalsamados. Jaziam de
braços engelhados e mãos cruzadas sobre o peito, para passarem a eternidade naquela ilha santa.
Os cortejos fúnebres atravessaram o tormentoso lago Tana com aquelas múmias em barcos de
papiro, tal como também outrora as múmias dos faraós navegaram em procissão silenciosa pelo Nilo
abaixo, para serem sepultadas.
Uma vez cá fora, fizemos uma surpresa aos monges: pusemos a funcionar um pequeno gravador,
para eles ouvirem as suas próprias vozes. Ficaram perplexos. Todos queriam falar. Todos queriam
cantar. Dali a pouco espalharam-se sobre vários degraus largos e cantaram, em coro, antigos hinos
coptas. Eu acocorei-me em frente deles para gravar. Atrás de mim, o fotógrafo, altíssimo, filmava,
todo dobrado sobre os instrumentos. De repente, ouviu-se um berro e uma praga tão forte que a
agulha do gravador deslizou e depois foi parar a zero. Os monges continuaram sentados, imóveis,
boca fechada, os olhos esgazeados. Voltei-me e vi o fotógrafo a dançar a dança guerreira. Atirou o
tripé ao chão e, freneticamente, levantava a camisa até à cabeça. Tirou-a e depois agarrou o cinto
das calças.
- Pare - gritei-lhe, aterrado, e estava de facto furioso -, você endoideceu?
Nem me ouviu. As calças caíram ao chão e, sempre a gesticular, arranhava as ancas com ambas as
mãos.
- Uma vespa - uma vespa nas minhas calças!
Apesar de o sofrimento do fotógrafo ter sido grande, a ponto de não se poder sentar no barco
quando regressámos, não me foi fácil perdoar-lhe aquela desairosa despedida de Daga Stefano.
Poucos monges estavam nos degraus quando me fui despedir, mas os que ficaram foram simpáticos
e agradeceram a pequena contribuição que oferecemos em reconhecimento da sua ajuda e como
propiciação pela atitude do fotógrafo.
O contacto com os monges deixou-nos a penosa sensação de que o mais importante da construção
de um barco de papiro era fazê-lo muito pequeno, para se pôr a secar ao fim de cada dia de uso.
Mas como seria isso possível durante a travessia do Atlântico? Os maiores barcos de cana do lago
Tana estavam a ser construídos em duas partes, que eram rebocadas para terra separadamente: a
primeira era um casco fino em forma de concha, com proa e popa curvas e dentro desse casco um
colchão espesso e chato, de papiro, moldado de maneira a encher a parte côncava.
Os barcos de negros buduma do lago Chade eram mais resistentes. Portanto, poder-se-ia concluir
que, enquanto os monges do lago Tana davam mais importância à leveza do barco, sem alterar a
configuração externa tradicional, os budumas do lago Chade concentravam se, sobretudo, na
capacidade de carga e resistência.
A caminho da praia do lado oposto passámos por umas pequenas ilhotas baixas e abandonadas,
onde alguns hipopótamos se passeavam, mergulhavam e tornavam a aparecer ao cimo de água. A
tripulação do barco garantiu-nos que aqueles animais odeiam os barcos de papiro, e, sempre que
podem, os viram, porque de barcos
como aqueles vinham, antigamente, os arpões que os exterminavam. Ouvimos a mesma história
repetidas vezes em Chade e na Etiópia. Pusemos o nosso barco de papiro e deslizar, vazio, mas os
hipopótamos só assomaram as cabeças, curiosos, sopraram pelas narinas e ficaram a olhar,
impávidos.
Mais para sudoeste, a costa de areia do lago mal se erguia acima do nível do mar. Foi lá que,
finalmente, apareceram os pântanos cobertos de papiro. A tripulação do barco preveniu que aquela
zona era perigosa, estava cheia de bandidos. «Eles dizem que defendem a liberdade», disse Ali, o
capitão do barco a motor. «Mas, de facto, não passam de ladrões», explicou. «Deixam-nos em paz
desde que lhe paguemos alguma coisa.» Um dos piores, que provocara grandes perturbações no
lago, durante vinte e três anos, fora morto a tiro pelas autoridades há pouco tempo. Eles próprios não
tinham problemas porque Ali pagava-lhes o tributo exigido.
Chegámos ao local onde a corrente de lama deslizava por entre os caules do papiro, para ir ter ao
lago, abrindo e espraiando-se numa manta vermelho-castanha. Não podia deixar de ser a saída de
algum ribeiro. E era, na realidade, um pequeno afluente, cuja embocadura ficava escondida entre as
canas. Chamam-lhe o Pequeno Nilo porque corre para o lago Tana, nascente do Nilo Azul. Pássaros,
das mais diversas variedades, estavam pousados sobre as canas mais altas. Por regra, o Pequeno
Nilo está tão baixo que só é navegável em barco a motor durante umas centenas de milhas. Naquela
altura, porém, estava invulgarmente alto e nós percorremos cerca de cinco milhas daquele rio
vermelho e estreito até uma aldeia de cabanas cobertas com palha. Ali habitava a tribo abaydar.
Homens e mulheres amontoaram-se na margem para observaram, pasmados, o barco de metal. Ali
esclareceu que no lago Tana só havia aquele e um outro um pouco maior. Ambos pertenciam ao
patrão italiano e nenhum deles chegara até ali, senão naquele dia.
Vários barcos pequenos de papiro saíram das paredes das cabanas. Uns deslizavam por meio do
chapinhar de braços, outros eram impelidos por varas e vinham direitos a nós. Os mais pequenos
resumiam-se a bóias com o feitio de dentes de elefante, como já víramos antes. Chamam-se koba.
São executados pelo mesmo processo e têm a mesma utilidade dos do lago Chade, na África
central, dos do lago Titicaca, no Peru, e dos da ilha da Páscoa. O tamanho a seguir, que comportava
apenas uma pessoa sentada, chama-se marotcha. O mais vulgar, dividido em duas partes e
estruturado para dois, ou mais, remadores, chama-se tanqua. O maior tanqua que vimos levava nove
homens a bordo, mas ouvimos dizer que há alguns que carregam duas e três toneladas de cereal
através do lago. De tempos a tempos, um tanqua anda à deriva durante uma semana, ou mais, até a
tripulação conseguir chegar à praia com o cereal, que nessa altura já está germinado. Exactamente
como os monges, o povo abaydar acreditava que, ao fim de duas semanas, um tanqua ficaria tão
encharcado que iria ao fundo. A parte arqueada e oca do tanqua era tão fina que o barco ondulava
como uma lombriga.
A minha suspeita confirmava-se: ainda que, esteticamente, o desenho dos tanqua do lago Tana se
aproximasse das linhas dos barcos do antigo Egipto, faltava-lhes a rigidez e a resistência que
caracterizava os kaday do lago Chade. A solução seria, por consequência, colher o papiro no lago
Tana, aproveitar a experiência dos construtores de Chade e seguir os modelos das pinturas de
parede do velho Egipto para reconstruirmos um barco com as características que pretendíamos.
A zona que ficava para lá da aldeia era despovoada. Encontrava-me sozinho na praia quando um
etíope que muito me impressionou saltou de um cerrado de canas. Vestia um manto sem mangas e
trazia sobre o ombro um arpão comprido, como se fosse uma cana de pesca. De porte altivo, barba
preta pontiaguda e perfil correcto, fazia lembrar o imperador Hailé Selassié. O filhito apareceu com
um cesto de peixe pendurado às costas e, entusiasmado, fi-los pousar em primeiro plano para
complemento da série de fotografias que o fotógrafo estava a fazer às canas de papiro. Agradecido,
dei ao homem algumas moedas e ia saltar de novo para bordo quando ele me sorriu com subtil
complacência e, delicadamente, deu a entender que nos queria acompanhar. Assim, ele e o filho
integraram-se na nossa expedição rio abaixo, por entre pântanos de canas, até ao lago. Chegamos
lá, ambos agradeceram com correcção e iam desembarcar quando Ali, muito inquieto, me obrigou a
tirar a carteira do bolso de trás. Sem cerimónias tirou uma nota etíope equivalente ao salário de uma
semana, que entregou ao homem. Este sorriu, fez uma vénia em grande estilo e desapareceu,
seguido do filho, por entre as canas.
- É o maior salteador deste lado do lago -, explicou Ali, aliviado. - Dou lhe sempre alguma coisa para
ele me deixar em paz.
Nessa noite uma tempestade imponente desabou sobre nós. Atámos o barco a uma árvore que
estava perto da margem e fizemos do nosso taqua de papiro um telhado para nos cobrir as cabeças.
O estampido dos trovões era tão forte como só acontece quando as nuvens estão muito baixas,
mesmo sobre a água. O barulho estonteante, acompanhado pela luz deslumbrante do relâmpago,
indicava que a trovoada estava mesmo sobre o sítio onde nos encontrávamos. Os relâmpagos
projectavam-se no lago e na floresta. De repente, um trovão e um relâmpago juntos. Sentimos uma
explosão. Uma árvore enorme da floresta rachou em duas ao cair na praia, mesmo junto ao nosso
abrigo. Jactos de chuva esguichavam das goteiras de jardins distantes. Tudo o que lavávamos
connosco flutuava à volta do barco, bem como a pesca do dia. O fotógrafo dormia. Com um tempo
assim não tinha necessidade do spray insecticida.
No ponto mais a sul da Etiópia, o vale Rift estende-se de norte a sul, atravessando duas cadeias de
montanhas, em direcção ao Quénia. Os geólogos descobriram que aquele vale, paralelo ao mar
Vermelho, se formou devido à deslocação lenta da África para oeste, durante milhões de anos. No
fundo do vale existe uma série de lagos grandes, como um rosário de contas. Num deles, o lago
Zwai, ainda hoje se constroem barcos de papiro. Uma belíssima estrada percorre todo o vale e os
outros lagos são refúgios muito procurados pelos turistas que da capital, Adis Abeba, ali vão caçar,
pescar, tomar banho. Só não vão ao lago Zwai, o mais bonito de todos eles. Para esse não há
estrada e nele cresce o papiro, onde se esconde o caracol que contém o verme da bilhárzia. Por isso
não se pode tomar banho naquele lago lindíssimo.
Em Adis Abeba estavam dois suecos que nos falaram do lago e das suas ilhas inabitadas. Um tinha
lido muito sobre os ilhéus porque era etnólogo; o outro conhecia as praias porque vivia na Etiópia e o
seu modo de vida era apanhar pássaros. Munidos de provisões e de material para acampar,
alugámos um jipe, deixámos a nossa base, na capital, e percorremos estradas de 1ª classe, boas,
menos boas e, por fim, péssimas, até que encontrámos pousada para a noite numa missão sueca
hospitaleira que ficava no alto de um monte a leste do vale Rift. Na manhã seguinte, auxiliados pelos
conhecimentos do professor etíope, Aseffa, que serviu de intérprete, e um jovem negro gala que
«conhecia o caminho», largámos de jipe para o lago Zwai. Um barranco profundo por onde passava
uma torrente em cachão impedia o acesso às planícies que ficavam entre nós e o lago. Para lá
chegarmos fomos obrigados a percorrer quinze milhas para sul por uma estrada em construção,
coberta de lama. Depois disso, deixámos a estrada, atravessámos uma imponente ponte de pedra e
andámos mais trinta milhas para noroeste, a corta-mato, sem nunca encontrarmos sinais de rodados
de carros. Orientámo-nos por pequenos carreiros, rastos de animais e clareiras abertas, com
algumas árvores aqui e além. Ora virávamos para um lado ora para outro. Constantemente, éramos
obrigados a sair do jipe e, a pé, abríamos passagem. O nosso «guia», sempre sentado e de
semblante estólido, nunca abriu a boca. As poucas vezes que indicou o caminho, perdemo-nos.
Naquelas paragens não vimos animais selvagens; pelo contrário, encontrámos muitas elevações de
terra cobrindo antigas sepulturas e vimos muitos negros gala a caçar nas florestas, de arpão ao
ombro, seguidos pelos cães. Um rapazinho assustou-se e apontou-nos o arpão quando
pretendíamos pedir-lhe indicações sobre o caminho. Depois fugiu e desapareceu no meio das
acácias.
A tarde caía quando chegámos a um promontório rochoso que se projectava sobre o lago Zwai e
donde se alcançava uma vista linda do lado leste da praia e de duas ilhas ao longe. No local ficava a
clínica da missão sueca, que se compunha de uma cabana muito pequena feita de madeira e uma
tenda de campanha grande. A única enfermeira que ali trabalhava estava a passar férias na Suécia,
mas um guarda da tribo gala vivia com a família numa cabana ali perto e emprestou-nos a tenda. De
um lado e do outro, charcos de canas espraiavam-se para norte e para sul do sopé da escarpa.
Muito abaixo de nós, o sol poente pousou num ponto amarelo que atravessava o lago: um barquinho
de papiro dirigindo-se vagarosamente para a ilha mais próxima.
A luz obscureceu depressa, como é normal a oito graus do equador. Nesse momento começou a
festa. Macacos cavaqueavam em cima dos ramos das árvores que nos rodeavam. Os hipopótamos
começavam a arrastar-se para a praia para irem mascar o milho dos campos dos nativos. Gritos e
gemidos de hienas ouviam-se cada vez mais perto. Sobre o lago, mas muito ao longe, distinguia-se o
som dos batuques e brilhavam as luzes dos acampamentos nas ilhas. Aseffa disse-nos que os
Coptas estavam a celebrar as vésperas da grande festa Maskal. Ia a sair da tenda para ver o
panorama quando deparei com duas figuras escuras, quase invisíveis na escuridão, de pé diante da
abertura da tenda. Eram o guarda e um parente a perguntar se gostaríamos de ver as hienas.
Encontraram a mula morta e as hienas estavam a comê-la. Imperceptivelmente, dirigimo-nos para o
bosque. Para diante ouviam-se gritos de partir o coração, rosnaduras e latidos. À volta do matagal,
os olhos das hienas brilhavam quais luzes de estacionamento. Quando acendíamos o archote
desapareciam todas, sem ruído, como que ao toque de varinha mágica. Só lá estava a mula, cheia
de sangue e toda esquartejada. Apagávamos o archote e esparávamos em silêncio. Outra vez os
olhos brilhavam, aos pares, e os bichos começavam a roer ao mesmo tempo que uivavam e gemiam.
Ouvimos estalar moitas e arbustos. Tornámos a acender o archote. Metade da mula era tudo o que
restava. Dividiram na em duas partes e não havia vestígios dos quartos traseiros. Andámos à
procura no meio das moitas que tinham rastos de sangue, mas metade do corpo e as pernas de trás
tinham-se dissipado para sempre na escuridão.
Na manhã seguinte descemos até ao lago. Uma parte do campo de milho situado no sopé dum
penhasco fora todo calcado por um único hipopótamo que tragara centenas de espigas de milho
durante a noite. Um vizinho entretinha-se a perseguir os macacos que pretendiam apanhar os restos
deixados pelo gigante do lago. À distância, viam-se barquinhos de papiro a aproximar-se, vindos das
diversas ilhas por ali espalhadas. Do sítio onde nos encontrávamos partia uma passagem por entre
as canas que terminava no local de desembarque da margem lamacenta e escorregadia. Era o único
caminho por onde se podia ir a pé até ao lago. esperámos munidos de machados, cordas e dois
troncos de árvores, que cortámos à pressa, da grossura do braço de um homem e duas vezes a sua
altura. Trazíamos um plano estabelecido e agora precisávamos apenas que os barcos de papiro
chegassem aterra.
Ei-los que surgem. Diferentes dos usados pelos monges do lago Tana, mas semelhantes aos do lago
Chade. De popa aparada e só a proa curva, terminando em bico, mas tão pequenos que só cabia um
homem em cada.
Os dois primeiros que chegaram vinham fazer a permuta de géneros com os negros gala de terra.
Um trazia levedura de cerveja castanho-acinzentada num cântaro de barro e na casca seca de uma
abóbora. O outro, peixe fresco. Logo a seguir apareceu um terceiro, que arrastou o barco para a
praia. Fomos ao encontro dos três homens para negociarmos o aluguer dos barquinhos. Colocámolos lado a lado, unimo-los com a corda e reforçámo-los com os dois troncos, que atámos em cruz.
Assim se concretizou o nosso plano. Sabíamos que só por aquele processo conseguiríamos atingir
as ilhas do lago, cujos habitantes eram os únicos a possuir barcos, ali no lago Zwai. Por remota
tradição faziam-nos tão pequenos que nenhum pacóvio de terra sabia servir-se deles para se
intrometer nos remansos seculares dos ilhéus.
O povo laki não se relacionava com os negros gala que viviam nas praias circundantes do lago. Os
homens da tribo gala eram africanos genuínos que viviam exclusivamente da agricultura e da criação
de gado. Firmemente agarrados ao solo africano, nunca experimentaram construir barcos ou
jangadas para se aventurarem pela água dentro. Mas os laki dependiam em grande parte dos barcos
de papiro, pois não só cultivavam a terra como eram pescadores e comerciantes. Apesar da pele
escura, os laki não eram negros, como a maioria dos etíopes, as suas feições eram finas e correctas
e os perfis faziam lembrar os do povo da Bíblia. Tal como os monges do lago Tana, a norte, tinham
emigrado da zona da nascente do Nilo e, como eles, mantinham a tradição de se servirem de barcos
de papiro para se deslocarem por entre aquelas ilhas isoladas. Entre 1520-1535 iniciaram a
caminhada para o vale Rift, tendo-se estabelecido nas ilhas do lago Zwai com os seus tesouros
religiosos e antigos manuscritos coptas. Os manuscritos ainda lá devem estar, pois, muito embora a
inimizade entre os laki e os gala dure há séculos, os lapuzes de terra nunca conseguiram vencer os
ilhéus. Ultimamente a inimizade abrandou, a permuta de géneros atingiu as terras altas e algumas
famílias laki fixaram-se em terra. Contudo, sempre fiéis à tradição, continuam a construir barcos só
para um passageiro, além do remador. E, mesmo para esse passageiro, o espaço é tão estreito que
o barco se volta, se não for quieto como um rato, equilibrando-o apenas com o balançar ritmado ora
de uma perna, ora de outra, dentro de água.
Quando acabámos o trabalho, olhámos a embarcação reforçada, com um prazer triunfal. Reunimos o
material e íamos embarcar para iniciar a viagem quando descobrimos que um dos laki estava a
desatar os nós para saltar o barco dele. Explicou a Aseffa que viera da sua ilha buscar madeira para
o fogo da festa Maskal e se lembrou, de repente, que havia melhor madeira noutro sítio. Saudou nos
e lá foi ele com o terço da nossa embarcação.
Só muito mais tarde, um laki que andava a lançar a rede perto da praia, correspondeu aos nossos
sinais. Via-se uma faúlha de prata saltar cada vez que ele puxava a rede. Comprámos-lhe a pesca,
vinte e um esplêndidos peixes tulumu, grelhámos um para cada um de nós sobre as brasas e
oferecemos os restantes ao pescador. O negócio incluía o aluguer do barco e, desta vez, apressa
monos a empurrar a embarcação para a água logo que a terminámos. Flutuava lindamente,
carregando o nosso peso e o do equipamento de filmagem.
Por isso, com cautela, Aseffa saltou também para bordo para continuar como intérprete.
As margens estavam cobertas de juncos pequenos, mas nada de papiro. Havia mareta. Remámos o
mais depressa que pudemos até que as montanhas verdes da ilha mais próxima se ergueram diante
de nós. Aproximámo-nos tanto que distinguíamos nitidamente as cabanas redondas de palha
espalhadas no meio da folhagem que revestia as encostas. Um barquito de papiro apareceu de trás
de uma ponta de terra e remou direito a nós. Escarranchado em cima do papiro, com as pernas
penduradas dentro de água, vinha um homem sério e digno, vestindo um uniforme de caqui. Deu
uma volta com o barco e parou mesmo na nossa frente. Aseffa explicou-nos que o homem era uma
espécie de chefe da ilha, que se chamava Tadecha e pedia para ver os documentos antes de nos
autorizar a desembarcar. Com o indicativo de funcionário pendurado num ramo de papiro, o traseiro
encharcado, as calças do uniforme dentro de água até aos joelhos, o efeito da cerimónia era
inegavelmente cómico. Aseffa perguntou-me se tinha documentos: qualquer servia. Tirei da algibeira
da camisa um carta em francês, passada pelo Ministério dos Negócio Estrangeiros norueguês, para
apresentar na república de Chade. Aseffa não sabia uma palavra de francês, mas, de pé na nossa
embarcação, leu em voz alta um discurso em gala, do qual eu só percebi o nome do imperador Hailé
Selassié, que repetiu várias vezes.
O que Aseffa maquinou só ele e o xerife ficaram a saber, mas o último ergueu a mão em sinal de
anuência, inverteu o seu frágil barco e desapareceu ao virar o cabo donde surgira. Entretanto nós
navegámos para a enseada da ilha coberta de verdura.
Era uma ilha linda, abundante em verdura fresca, prados ondulantes e campos de milho bem
tratados. Rapazinhos nus pescavam na angra; mulheres com trajos tecidos à mão dirigiam-se, de
ânforas à cabeça, para o sítio de desembarque; um homem subia a encosta com o barco de papiro
às costas; galinhas e uma miscelânea de pássaros lindíssimos voavam alvoroçados por toda a parte.
Na crista do monte um grupo de cabanas constituía uma aldeia. Os telhados eram cónicos, cobertos
de palha; as paredes, baixas, formadas por anéis de pedra e meias vigas, unidos com greda e
ornamentados de pinturas toscas. Encostados a cada cabana, um ou dois barcos de papiro secavam
ao sol. Um casal muito simpático e educado convidou-nos a entrar e ofereceu-nos uma caneca de
aidar acabada de fermentar, ou seja, cerveja de milho. O homem chamava -se Dagaga e a mulher
Helu. O chão da cabana era de barro batido e estava muito limpo. Encostados à parede estavam o
mocho para a tecelagem e muitos cântaros grandes, de cerâmica, ainda fechados, de conteúdo
desconhecido. Penduradas das traves toscas das paredes viam se vasilhas com a forma de cabaças
e algumas ferramentas feitas à mão. Peles de animais serviam de cama e a almofada era o mesmo
apoio feito de madeira com uma pequena curva para o pescoço, como o usado no antigo Egipto.
Dagaga e Helu não tinham preocupações: Possuíam poucas coisas, mas dispunham de muito tempo
para as gozar. Não tinham frigorífico, nem contas de electricidade. Não tinham automóvel, nem
emprego que lhes exigisse deslocação rápida. Tudo aquilo que eles não possuíam far-nos-ia falta a
nós, mas a eles não. Obtinham o que lhes era indispensável.
Tinham tudo por quanto nós lutamos por desfrutar durante as desejadas férias, longe do escritório.
Quando, num futuro próximo, o mundo moderno lá chegar, terão muito que aprender connosco, e
nós, nada com eles. Mas isso será trágico para ambas as partes, pois nós presumimos que, porque
temos mais, somos mais sábios, mais célebres, mais felizes. Seremos?
Sentado à sombra da porta de entrada, deixei o pensamento filosofar enquanto a graciosa Helu, de
olhos inteligentes, servia os seus convidados. Pele escura, perfil correcto, lábios finos, gestos
nobres. Dagaga, com uma criança ao colo, parecia encantado por nos poder oferecer cerveja e milho
assado, ainda quente. Era delicioso, de facto. Da porta, seguindo as montanhas verdes, avistava-se
um panorama deslumbrante. Como teria apreciado poder ficar ali deitado sobre as peles, a observar
o jogo das cores sobre o lago, até o Sol de pôr e os últimos barcos de cana regressarem a casa. M
as, de súbito, vi um relâmpago no horizonte e ouvi um ruído surdo. Nuvens escuras acumulavam-se.
0 material de filmagem! E todas as nossas coisas espalhadas pela tenda, no outro lado. Se
queríamos chegar à outra praia antes da trovoada desabar, teríamos de nos apressar. O Sol já
estava baixo. Os nossos relógios de pulso assustavam-nos. Na casa donde saíramos não havia
relógios: o tempo não precisava ser calculado, tinham-no pela medida grande. Descemos o monte a
correr e empurrámos com força a embarcação tripartida. A ilha ficou para trás; a luz do crepúsculo
mal deixava perceber os seus contornos. A última coisa que vimos, antes de as pingas de chuva
obscurecerem toda a visibilidade, foram alguns pontos de luz no alto da crista do monte. Os nossos
amigos laki estavam a salvo, sentados dentro das cabanas quentes e, sem pressa, começavam a
acender as torcidas das candeias de azeite.
No dia seguinte realizou-se a festa Maskal copta. É o dia mais importante do ano para todos os
etíopes cristãos. Celebram o que eles chamam «a descoberta da Verdadeira Cruz». Da ponta de
terra onde nos encontrávamos víamos fogos em todas as ilhas. Quisemos aproveitar para fazer mais
algumas perguntas aos lakis sobre os barcos de papiro, mas sofremos uma desilusão. Nem um único
barco apareceu no lago naquele dia. E, no dia seguinte, só um ou dois andavam à pesca, mesmo no
centro do lago, mantendo-se a grande distância. Chegámos a pensar se não seria o xerife que, por
aquele sistema, queria evitar novas visitas.
Carregámos o jipe e iniciámos a viagem de regresso, que decorreu sem incidentes. Embora tivesse
chovido, percebiam-se ainda os sinais do nosso rodado. Já tínhamos percorrido quase toda a
planície quando descobrimos outro jipe no meio das árvores. Vinha em direcção a/nós, seguindo a
pista que tínhamos deixado à vinda, cheio de etíopes escuros, entre os quais se destacava um
enorme, robusto, muito mais alto que os outros. Desceu do jipe e trocámos apertos de mãos. Vestia
uma túnica bonita e bem bordada, que, no peito, desaparecia sob a barba alva e espessa, e trazia
uma cruz copta pendurada até à cintura. Aseffa beijou a cruz e explicou que aquele gigante era o
bispo Luke, chefe da igreja etíope. Ia a caminho do lago Zwai visitar os seus irmãos na fé, o povo
laki. Gentilmente, disse-nos que dispunha de meio de transporte especial até à ilha e convidou-nos a
irmos, na semana seguinte, a Devra Zion, a mais importante de todas as ilhas, onde teria muito gosto
em nos receber. Explicou que teríamos de ir até ao lago pelo outro lado do vale, onde havia uma
pequena leprosaria que tinha um barco de plástico.
Voltámos para Adis Abeba. Alguns dias depois, com o jipe carregado com mais material,
percorremos a estrada principal que liga com o sul, sempre pelo lado oeste do vale Rift. Por ali foi
fácil chegar ao lago, mas não vimos nem papiro, nem ilhas. A leprosaria estava fechada. Um homem
da tribo dos Galas, que sofria de elefantíase numa perna, estava sentado nos degraus da escada.
Por ele soubemos que o barco de plástico estava a consertar em Adis Abeba. No lago Zwai só
existiam os pequenos yevella de papiro, dos lakis que habitam as ilhas.
Tentámos meter para norte, através da praia. Impossível. Para sul, por um carreiro coberto de erva,
encontrámos um convento. Também estava fechado e deserto. Dali para diante a passagem estava
bloqueada por um rio que terminava em perigosos rápidos. Um
monge, sentado sobre a relva de uma das margens, observava um hipopótamo que dormitava com a
cabeça acima da água, à sombra da folhagem de uma árvore muito grande, na margem oposta.
Barco? Não havia nenhum. Ninguém construía barcos naquelas margens, onde tantos hipopótamos
foram feridos pelos caçadores dos barcos de cana. No ano anterior, um europeu e alguns lakis
tinham sido apanhados pelos hipopótamos. Rodados de jipes? Nenhuns; pelo menos naquele lado
do lago.
Voltámos à estrada principal e seguimos para sul. O lago Langana apareceu no centro da paisagem;
pedra, cascalho, nenhuma ilha, nada de papiro, nem bilhárzia - piscinas, hotéis, cerveja e música
pop. Um letreiro indicava o sítio onde poderíamos encontrar o barco de plástico. Pretendíamos alugálo para irmos até ao lago Zwai. Como resposta, ouvimos mil desculpas, mas... também estava a
arranjar em Adis Abeba. Mais uma vez regressámos pelo mesmo caminho. Noite e explosões de
nuvens tropicais. Encontrámos alojamento na aldeia de Adamitullu. Uma mulher gala tinha uma
hospedaria onde vendia cerveja e panquecas etíopes recheadas de especiarias apimentadas ou de
carne. No pátio de trás ficavam os dois quartos de cama feitos de tábuas e chapa de ferro ondulada;
uma vala funda no terreno para uso comum; um barril com água e uma selha vazia para quem se
quisesse lavar.
O fotógrafo abriu uma greta da porta do quarto, enfiou um braço e deitou spray insecticida. Quando
abriu a porta, varreu uma autêntica colecção de museu de insectos mortos. Dormiu em cima da
roupa da cama com o spray na mão. Eu contratei um negro gala, a quem dei um archote, para ficar
de guarda ao jipe. Depois, tirei tudo do quarto, excepto os quatro pés da cama de ferro, e fiz um lume
no chão com a madeira de incenso da dona da casa, que ardeu lentamente durante a noite, fazendo
nuvens de fumo de cheiro agradável. Assim consegui livrar-me da bicharada que saía pela janela
aberta. Mas pouco depois ouvi, no quarto ao lado, uma praga e um grito. O fotógrafo saiu porta fora e
desapareceu na noite. Na manhã seguinte estava deitado, todo enroscado picado pelos percevejos,
em cima da carga do jipe. Disse -me que quase não conseguira dormir porque um negro qualquer
estivera toda a noite com a luz do archote sobre a cara dele. O meu guarda declarou depois, com
orgulho, que tinha sido ele - estivera vigilante, para que o desconhecido que saíra da cama a meio da
noite não roubasse nada do jipe.
O guarda foi um achado. A tribo dele vivia no lado sul do lago e garantiu-nos que seria fácil lá chegar
se ele pudesse ir também. Com o guia e o intérprete atravessámos, aos solavancos, pequenos
bosques de árvores e terrenos desertos, até que chegámos ao prolongamento, para o lado sul, da
corrente do rio que nos vedara o caminho no dia anterior. Alguns troncos de árvores, cobertos por
pedras e terra, formavam uma espécie de ponte para o gado atravessar o rio. Pouco a pouco e muito
devagar, conseguimos que o jipe passasse. A partir daí seguimos pegadas de quadrúpedes,
enseadas, clareiras de bosques e campos argilosos semeados de milho, para irmos de aldeia em
aldeia gala, qual delas a mais idílica. Durante muito tempo éramos seguidos por bandos de crianças
das aldeias, que brilhantemente nos abriam o caminho, para passarmos toda a espécie de barreiras
feitas pelos homens, e enchiam os barrancos mais fundos com pedras e ramos de árvores. A
paisagem era variada e maravilhosa; os pássaros, exóticos, como num jardim zoológico. As tribos
galas a sul do Zwai vivem vida própria, num mundo muito seu. Nada pedem, pouco obtêm, quase
nada precisam. Vida impassível, sem entraves, sem alterações, intacta. Gente que vive agarrada à
terra e por isso não se sente tentada a construir barcos.
À tarde, já tínhamos andado tanto que avistámos, do outro lado, a maior ilha laki. Os montes eram
muito mais altos que os picos que encontrámos ao longo da costa. Só uma extensa angra nos
separava de Devra Zion, onde o bispo Luke devia estar. Fomos a uma aldeia gala que ficava num
planalto. Ninguém tinha barco, mas todos sabiam que o bispo estava naquele momento na ilha. Fora
para lá num grande obolu, a palavra laki para barco de papiro. Aquele era maior porque tinha sido
acrescentado com um molhe de canas de cada lado. Até então, só víramos pequenas embarcações,
tão estreitas que se viravam ao mais pequeno movimento irreflectido. Em laki chamavam-se shafat
mas os galas chamavam-lhes yevella.
Agradecemos a informação e descemos de jipe por carreiros que ziguezagueavam até à praia. Tanto
gritámos e tantos sinais fizemos que um laki, curioso, atravessou a enseada no seu pequeno shafat.
Não chegava a duas milhas a distância entre a ponta de terra e a ilha. Pedimos ao homem que fosse
lá dizer que é ramos convidados do bispo Luke e precisávamos de um obolu. Pouco depois, o
fotógrafo, o intérprete e um remador laki estavam sentados no grande barco de papiro do bispo. Eu,
por minha vez, fui num shafat vulgar, sentado de costas, encostado às costas de um laki que
balanceava o barco com os remos. Ensinou-me a sentar de joelhos para fora e costas com costas,
para não nos voltarmos. O material fotográfico seguiu num shafat de um terceiro laki.
O papiro do nosso shafat estava muito mal atado com tiras de cortiça já velha e deteriorada. A meio
caminho, tentei apoiar as mãos no papiro para levantar um pouco o meu assento, que se ia
afundando na água cheia de bilhárzia. Duas tiras de cortiça partiram se e imediatamente o shafat
começou a desmembrar-se. Os remadores dos outros três barcos mostraram se alarmados, davamnos ordens que não entendíamos e falavam entre si em laki. Remaram em formatura para nos
auxiliar se o barco se desintegrasse. Tentámos manter as canas unidas com os braços e os pés. Era
evidente que, se nos afundássemos, seria inútil tentar subir para os outros barcos, pois voltar-se iam
imediatamente.
A ilha, que ainda há pouco parecia tão perto, agora dava a ideia de se ter distanciado mais. Continuei
sentado, imóvel, equilibrando os dois lados do feixe de papiro, para evitar que outras tiras de cortiça
se partissem. Sentia a parte de trás das calças cada vez mais dentro das ondas tépidas - terreno de
caça dos vermes insidiosos. Talvez já viessem a caminho pelo caqui das calças. Nunca, até àquele
dia, vinte minutos me pareceram tão longos.
Assim acabou o nosso shafat, cujos destroços arrastámos para a relva quando chegámos à outra
margem. Mas conseguimos desembarcar em Devrazion e valeu a pena o risco. Atrás da cortina de
canas espraiava se, até à cadeia de montanhas, um prado verdejante, salpicado de árvores enormes
e velhas. Mais para o interior, erguiam -se rochedos húmidos como pilares esculpidos e terraços de
um castelo em ruínas cobertos de sempre-verdes floridas, trepadeiras, cactos e árvores estranhas. A
passo ligeiro, percorremos um carreiro rochoso, quase imperceptível, sem encontrarmos outros
sinais de vida que não fossem os de macacos e pássaros. Circundámos quase todo o lado sul da ilha
sem vermos campos cultivados, cabanas ou homens, quando demos connosco em pé, à borda de
um penhasco que deitava para um vale profundo, em forma de ferradura. Lá em baixo, o terreno
pantanoso estava coberto por canas de papiro e outras, onde proliferavam pássaros e monos de
cauda comprida.
N a margem de areia seca avistámos o bispo Luke, à frente de uma vintena de lakis, numa casa de
construção invulgar. Mais de perto assemelhava-se a uma grande gaiola, de dois andares, feita de
ramos recém cortados. O bispo saudou nos com um misto de espanto e cordialidade. Depois,
explicou que, quando os vigamentos estivessem cobertos com argila, aquela seria a casa onde os
lakis receberiam os visitantes vindos do continente. Olhámos, surpreendidos, aquele vale pantanoso,
deserto, inabitado. Ao longe, distinguia se o vapor a sair duma fonte de água quente que corria para
o lago.
O bispo apressou-se a abrir o farnel e colocou nos numa situação delicada, pois insistiu para que
comêssemos os melhores biscoitos e a fruta que trouxera. Entretanto, foi-nos avisando que, acabada
a refeição, teríamos de regressar, porque os hipopótamos eram perigosos à noite. Respondemos
que gostaríamos de dormir na ilha, mas ele declarou que isso não era possível e, ainda que com
delicadeza, manifestou o desejo de se ver livre de nós.
E os pergaminhos, não os poderíamos ver?
O bispo dirigiu-se a um homem alto, magro, nariz e barba pontiagudos, olhos inteligentes. Fizeram
sinais um ao outro. Num pulo, podíamos ir ao templo com o homem e voltar logo para os barcos.
Trocaram-se despedidas apressadas, mas calorosas. O nosso guia de pernas compridas foi-nos
apresentado como Bru Machinjo, chefe de todo o povo laki, que contava 2500 indivíduos nas cinco
ilhas do lago Zwai. Com o chefe Bru à frente e um comboio de lakis atrás, galgámos a encosta,
passando por entre seixos e cactos, e chegámos ao pico mais alto da ilha completamente exaustos.
O panorama abria -se numa paisagem soberba sobre o lago, as ilhas, as praias e as montanhas ao
fundo. Muito abaixo, cerca de trezentos metros acima do nível do lago, víamos os telhados de palha
das cabanas de uma aldeia, construídas nos socalcos da vertente. Um pouco acima do local onde
nos encontrávamos, pintada a azul e verde, estava uma barraca muito pequena, quadrada,
construída em madeira. Bru disse nos que aquilo era o novo mosteiro, onde o bispo Luke se
instalava durante as suas visitas. Um monge mandou nos entrar para um quarto quase vazio. Sobre
uma prateleira de madeira carcomida, estavam, em grande desordem, manuscritos antiquíssimos e
livros feitos de pergaminho amarelecido pelo tempo, uns encadernados, outros não. Com orgulho,
Bru contou que tinham sido trazidos, há muitos séculos, pelos antepassados do povo laki quando
emigraram do Norte. Ao acaso, tirei de uma pilha o maior livro que lá estava. As páginas tinham
sessenta e um centímetros, eram de pele de cabra curtida, decoradas com magníficas iluminuras de
antigos padres da igreja, envergando mantos coloridos e cujos pés chamavam a atenção por serem
notoriamente pequenos. 0 texto, só por si, já era um maravilhoso trabalho artístico: escrita etíope
incompreensível, com decorações delicadíssimas a preto e vermelho. Em qualquer livraria do mundo
aqueles tesouros insubstituíveis estariam colocados entre vidros.
O frade mostrou duas travessas de prata antiga cinzelada com as figuras dos Apóstolos no fundo. E,
depois disso, pediram-nos que nos dirigíssemos ao local de embarque, porque o Sol começava a
desaparecer no horizonte. Mas, como queríamos passar lá a noite, demorámo-nos acintosamente.
Sugerimos que um shafat fosse ao jipe buscar comida e sacos-cama. Impossível. Nenhum laki se
aventuraria depois do escurecer. Tínhamos de ir dormir ao continente com os galas e voltar no dia
seguinte.
Senti a curiosidade espicaçada. Por que razão ninguém, excepto o bispo Luke, podia passar a noite
na ilha? Caía o crepúsculo. Murmurei umas palavras ao fotógrafo e, quando todos se dispersaram
para descerem a correr o monte, escondi-me atrás de um bloco de pedra. Esperei, sentado, que
todos desaparecessem. Fez-se o silêncio. Só o vento sussurrava nos topos das árvores. Ali fiquei
sozinho, como se estivesse sentado sobre o telhado da África. Ao longe vi os nossos dois barcos de
papiro afastando-se da ilha, enquanto as suas sombras se projectavam nas terras baixas. O grande
lago engoliu o Sol e a superfície da água brilhou, por momentos, como o metal quente antes de
arrefecer. A seguir passou a azul escuro, depois a preto e a escuridão alastrou, começando na praia,
passando pelas florestas, pelas montanhas e pelos vales, numa ondulação contínua, até ao fim do
mundo. África à noite. Já não distinguia os telhados redondos da aldeia a meus pés. Nada conseguia
ver. Mas ouvia trinados excepcionais e coros religiosos, algures na aldeia. Não era possível descobrir
um caminho naquela escuridão tão cerrada. Resolvi ficar e captar sinais com os ouvidos e o nariz.
Morcegos. Ruídos na selva. E, de repente, uma mão poisou no meu ombro. Era o chefe Bru. Em
silêncio, agarrou me por um braço e fez sinal para o seguir. Segurou -me com delicadeza, e, como se
eu fosse cego, guiou-me por um carreiro invisível, entre seixos e rochas. Não falámos, porque não
conhecíamos idioma comum. Desaparecido o intérprete, fiquei sem poder trocar uma palavra com
qualquer ser humano da ilha. O chefe conhecia bem o caminho e fez tudo para eu não me magoar.
Comecei a perceber que, tendo ficado com o povo laki, ia ser tratado como convidado de honra.
Passámos as primeiras cabanas, repletas como colmeias, e descemos mais alguns socalcos, até
que chegámos a uma barraca maior que as outras, onde estava muita gente reunida. Vi luz debaixo
da porta e percebi que ali se cantava o coro que ouvira momentos antes. Bru apresentou-me aos
mais velhos da tribo, que estavam sentados em bancos baixos, de madeira gravada ou em troncos
de árvores, perto da porta. Uma torcida embebida em azeite ardia numa tigela a projectava nas
paredes de adobe as sombras tremulantes e enormes das figuras dos homens. Mais para dentro,
raparigas jovens, vestidas de branco, faziam vénias e batiam palmas, enquanto outras cantavam
uma música monótona e sem acompanhamento. Atrás das ninfas e, na meia luz, descobri alguns
potes redondos, tão grandes que, em cada um cabiam, à vontade, dois homens. Um fogareiro de
barro fumegava, mas não se via fumo concentrado no tecto, bastante alto, seguro por uma viga
donde divergiam vários troncos como os espigões de um guarda-chuva. Bru, um homem de cabeça
de Moisés e eu fomos convidados a instalar-nos no centro de um semicírculo de outros homens
sentados em bancos muito bem entalhados. À nossa frente colocaram uma mesa de tampo de vime,
à moda antiga etíope. Debaixo dela estavam grandes wat apagadores tão grossos como se fossem
de borracha de espuma, em duas camadas, intercalados com bocados de peixe frito. No meio, um
montão de pó da cor do coqueiro, que, comparado com a pimenta, parecia doce. Destinava-se a
temperar os bocados já partidos. Todos lavavam as mãos antes de iniciarem a refeição comum, que
foi comida à mão. Bru escolheu os melhores bocados e colocou-os diante de mim. Enquanto o coro
feminino continuava o cântico de salmos, um homem, em silêncio, encheu as canecas, primeiro com
cerveja e depois com aguardente doce, muito forte. À medida que os efeitos das bebidas se
começaram a sentir, os homens trocavam breves monólogos em laki. Eu mantive -me sentado, mudo
e quedo, até que me lembrei do gravador que trazia pendurado ao ombro. Maravilhados, durante o
intervalo as mulheres ouviram os cânticos e os homens as conversas. Ganhei a noite. 0 gravador foi
o meu ventríloquo, falou com todos em laki, soltando gargalhadas como se percebesse as piadas e
tudo quanto se cantou e se disse naquela pequena cabana.
Por fim, o mais velho dos homens levantou se e ficou de pé, como para dizer que era chegado o
momento de terminar o encontro. As mulheres saíram em fila indiana, deixando atrás de si trinados
de mocho, que só esmoreceram à medida que cada uma delas entrou na sua cabana. O chefe
agarrou-me pelo braço e levou-me para casa dele, igual à cabana redonda onde se realizou a
reunião, mas mais pequena. À luz ténue da candeia, percebi que alguém pegou num monte de
roupas, que transportou lá para fora, a fim de eu poder utilizar a única cama que ali havia. Inútil
recusar. Bru sentou-me na cama, cujo desenho era igual às dos antigos faraós do Egipto existentes
no museu do Cairo. As pernas de madeira trabalhada suportavam uma rede aberta feita de tiras de
cabedal entrelaçadas. Bru e a família levaram os colchões e os apoios de cabeça para outra cabana,
onde dormiram no chão. Estenderam peles limpas e uma cobertura tecida à mão sobre a cama deles
e fizeram sinal para me deitar. Descalcei as botas altas enquanto o chefe mandou o filho buscar uma
bacia com água para me lavar os pés. Depois de muito bem lavados e secos, o rapaz curvou-se e
beijou-os antes de sair, seguido de todos os outros. Ali, em Devra Zion, a passagem bíblica
continuava a ser uma realidade.
Completamente vestido, mas de pés descalços, bem limpos, deitei-me, sem descortinar a razão por
que Bru e a mulher continuavam a falar baixo, aos pés da cama. Trocavam palavras e olhavam para
mim, irresolutos, como se não tivessem a certeza se deviam fazer mais alguma coisa. De repente
percebi que não estavam sós. Na outra extremidade da cama distingui, de pé na escuridão, uma
figura indefinida. O pavio da lâmpada, pendurada da estaca do tecto, ardia tão suavemente que os
seus contornos mal se viam. Era uma rapariga muito nova. Quando se virou e a luz a iluminou de
perfil, verifiquei que era bonita. Devia ser uma das filhas do meu amigo Bru. Durante algum tempo os
três mantiveram animada conversa, até que os pais saíram. A luz era tão fraca que fiquei indeciso se
ela ainda estaria aos pés da cama ou não. Mas, passados momentos, vi outra vez a sua silhueta. Ali
ficou, sem fazer o mais pequeno movimento. Que situação bizarra! Eu, deitado na cama do chefe, o
filho lava-me os pés e a filha, qual anjo da guarda, vigia o meu sono. Nesta altura, a voz do fotógrafo
interrompeu o curso dos meus pensamentos e chamou por mim. Não respondi, para não quebrar o
encanto. Mas ele não desistiu e os gritos aproximaram se até que apareceu à porta da cabana com
Bru e a mulher. Explicou que ficara preocupado comigo e, como tal, ele e o intérprete voltaram à ilha
no obolu do bispo. Os dois recém-chegados foram então obsequiados com cerveja e bocados de
peixe c dormiram sobre peles estendidas no chão.
No dia seguinte, ajudados pelo intérprete, conseguimos as informações que desejávamos. O papiro
do lago Zwai crescia na encosta mais difícil de atingir e, por consequência, não era viável o seu
transporte em grandes quantidades. Logo, a única resposta eram os pântanos circundantes do lago
Tana. Mas aprendemos ainda outra coisa com o povo laki. Os shafat e obolu eram mais memorativos
dos barcos de cana de Chade, do México e do Peru que os tanquas do lago Tana, construídos pelos
seus parentes etíopes. Não era por falta de madeira que os lakis construíam barcos de cana.
Faziam-no apesar de a madeira ser muito mais acessível que as canas. 0 facto de ninguém das
tribos galas, instaladas à volta do lago, nos poder transportar até às ilhas provava que nem todos os
que viviam no mesmo lago sabiam construir barcos de cana. Donde se concluía que a construção
daqueles barcos fora importada: não fora inventada no lago Zwai, mas com certeza herdada de
antepassados oriundos da nascente do Nilo, tal como acontecera com os monges do lago Tana.
Aparentemente, o barco de papiro fazia parte integrante das tradições que acompanhavam os povos
migratórios.
Porém, os lakis confirmaram o dito dos frades do lago Tana. O papiro tinha de ser posto a secar
depois de um dia de trabalho. Se um obolu ou um shafat ficassem, dentro de água, ao fim de oito,
dez, no máximo, catorze dias estaria inutilizado.
Regressei ao Egipto com as ideias confusas. Valeria a pena tentar o Atlântico?
CAPÍTULO VI --- No mundo dos construtores de pirâmides
- Você pretende isolar com cordas alguns metros quadrados de deserto atrás da pirâmide Quéope
para construir um barco de papiro?
O ministro egípcio ajustou os óculos e olhou-me com um sorriso inquiridor. Olhou de soslaio e
semiduvidoso o embaixador norueguês, que lhe correspondeu com um sorriso, como para afiançar
que estava em meu perfeito juízo.
- O papiro afunda-se passadas duas semanas. Não sou eu que o digo, mas sim o presidente do
Instituto Egípcio do Papiro - disse o ministro. - E os arqueólogos dizem que os barcos de papiro
nunca podem ter navegado para além da foz do Nilo, porque o papiro se decompõe na água do mar
e quebra contra as ondas.
- Exactamente por isso, queremos fazer a prova prática - retorqui.
Não tinha mais objecções a contrapor à teoria, de tantos especialistas em papiro. Os ministros da
Cultura e do Turismo fizeram tudo quanto puderam para corresponder ao pedido do embaixador da
Noruega. Apelaram para as mais destacadas autoridades. Acabámos sentados à volta de uma
grande mesa-redonda, em presença de directores de museu, arqueólogos, historiadores e peritos em
papiro. O presidente do Instituto do Papiro dera antecipadamente o seu veredicto, que confirmou ali,
diante de todos. Eu era o único que tinha visto barcos de papiro na vida real, logo - anuiu com um
sorriso - estaria disposto a apoiar a ideia se eu mantivesse a resolução de tentar a experiência.
Um barco de papiro a navegar no oceano era ideia perfeitamente absurda para o director do Museu
do Cairo. Ele sabia que o Egipto exportara, outrora, papiro para Biblo para a manufactura de livros,
que os Fenícios coleccionavam, mas estava convencido de que só barcos de madeira haviam
conseguido atravessar aquele recanto .interior do Mediterrâneo. Um barco de papiro cruzar o
Atlântico era tão inconcebível agora como naquela época. Qualquer técnico poderia provar que um
barquinho daqueles não ultrapassava a foz do Nilo.
Desencadeou-se interminável discussão técnica sobre papiro, pirâmides e hieróglifos, dum e do outro
lado do Atlântico. Por fim, o Dr. Gamai Mehrez, director geral das Relíquias Arqueológicas do Egipto,
tomou a palavra e disse: - Penso que reconstruir um barco de papiro copiado das pinturas das
nossas antigas câmaras funerárias e experimentá-lo na prática seria precioso contributo. - E foi tudo.
O ministro da Cultura autorizou o vigia da pirâmide de Gize a deixar-nos demarcar com cordas a área
de que necessitávamos para o nosso acampamento e para a construção do barco. Porém, impôs
uma condição - não fazermos escavações na areia, pois estávamos mesmo sobre o cemitério dos
faraós.
Os degraus do edifício do Governo terminavam por barricadas de tijolos, tão frequentes no Cairo.
Sacos de areia estavam empilhados contra todas as janelas. Despedimo-nos do ministro delegado
para o Turismo, Adel Taher, que me estendeu a não, com um sorriso franco, antes de desaparecer
outra vez pelos degraus acima.
- Você tem de construir esse barco - disse-me ele. - Estamos todos interessados na sua experiência.
Queremos lembrar ao mundo que o Egipto não faz só a guerra.
Fiquei só com o embaixador, a quem apresentei os meus agradecimentos muito sinceros pela sua
inestimável ajuda. Desde a primeira hora, Peter Anker mostrou-se um bom amigo. Muitos anos de
trabalho no Médio Oriente, como delegado das Nações Unidas ou como embaixador da Noruega cujo passatempo predilecto era a história da antiguidade -, fizeram dele uma enciclopédia ambulante
sobre problemas comerciais e culturais.
- Você conseguiu o local para a construção - disse-me ele -, mas ninguém partilha a sua fé no barco
de papiro!
- Se não houvesse controvérsia, não teria necessidade de efectuar a experiência - respondi.
Mas, já no quarto do hotel, sentado na borda da cama, senti-me indeciso. De facto, tinha o local para
a construção. Mas ainda não pusera todas as rodas em marcha. Ainda estava a tempo de recuar.
Teria de decidir naquele momento: avançar a todo o pano, em todas as direcções, ou desistir para
sempre do projecto, aqui e agora. Um aspecto pesava na minha decisão: tudo quanto eu possuía
não chegava para a realização de uma experiência tão dispendiosa. Esperava que os meus editores
estivessem dispostos a jogar no êxito final. Mas se não houvesse êxito? Com os dedos segurava
uma pequena folha de papel. Os monges, os lakis, os cientistas e os peritos em papiro não davam
mais de catorze dias para um barco navegar em água fresca e calma. Muito menos em água picada
e salgada. Eu próprio já estivera sentado durante algumas horas em kaday, tanqua ou shafat e já
fizera a experiência desagradável de ver um feixe de canas a desintegrar-se. Sabia que a cana de
totora da América aguentava as viagens por mar e que tinha a vagem exterior fibrosa e o centro
celular esponjoso muito semelhante aos do papiro. Mas este, sem dúvida, absorvia a água mais
depressa que a totora.
Desdobrei o pedaço de papel. As letras toscas e a escrita infantil diziam:
Querido Thor na Itália
Lembra-se do Abdullah de Chade? Estou pronto a ir ter consigo e construir um grande kaday, com
Omar e Mussa. Esperamos as suas ordens. Sou carpinteiro do Pastor Eyer, em Fort Lamy.
Cumprimentos, Abdoulaye Djibrine
Diante de mim apareceu a cara negra e sorridente de Abdullah, com a cicatriz tribal na testa e no
nariz, e não pude deixar de sorrir perante aquelas palavras comoventes. Aquele iletrado da África
central que tomou a iniciativa de levar a minha direcção a um copista de Fort Lamy foi quem me
impeliu para a acção. Porquê hesitar? Abdullah estava disposto a vir, com Omar e Mussa. Sabiam
construir grandes barcos de cana para os fretes do gado no lago Chade. Maiores que aqueles onde
os cristãos fugiram, para se refugiarem nas ilhas da Etiópia. Sabiam muito mais sobre a capacidade
de flutuação do papiro que todos os eruditos do mundo. Acreditavam no seu kaday. Sentiam -se
desejosos de construir um suficientemente grande para flutuar durante meses. Queriam navegar
nele, conhecer terras diferentes, que eu só conseguia descrever-lhes em termos do número de dias e
luas que se levava a lá chegar, pois eles não possuíam a mínima noção de geografia.
Foi a carta de Abdullah que pôs termo às minhas hesitações. Resolvi confiar nos homens de Chade.
Naquela mesma tarde mandei um telegrama para Adis Abeba, dirigido ao italiano dono dos dois
barcos em ferro do lago Tana. Tínhamos combinado que logo que ele recebesse o meu telegrama
mandaria Ali, e outros, para os pântanos que se estendem pelas praias do lago, a fim de colherem
cento e cinquenta metros cúbicos (cerca de cinco mil pés cúbicos) de canas de papiro. Depois
mandá-las-ia secar e atar em molhos, na ponta norte do lago. O comendador Mário Buschi era um
negociante ultradinâmico, de meia-idade, corpulento e faces rosadas. Ele próprio estudou a maneira
de transportar os seus dois barcos de metal pesadíssimo desde o mar Vermelho até ao lago Tana.
Foi também ele quem conseguiu transferir o monólito Axum, de cento e oitenta toneladas, das
montanhas da Etiópia para Roma, em 1937. Na altura em que me encontrei com ele, aguardava
ordens para efectuar novamente a troca, visto que o imperador da Etiópia insistia com o Governo
italiano para que lhe devolvesse o célebre monumento.
A minha primeira ideia foi mandar o papiro pelo Nilo abaixo, mas teria sido muito arriscado, por causa
das quedas de água e das restrições impostas pela República Sudanesa. Buschi aceitou
desportivamente o desafio de se encarregar do transporte de quinhentos feixes de papiro através das
quatrocentas e cinquenta milhas de montanhas etíopes que vão desde o lago Tana até ao mar
Vermelho, porque, embora a meda de canas soltas aparentasse o volume de uma casa pequena,
pesavam apenas cerca de doze toneladas.
Não havia tempo a perder. Aproximava se o Natal. Para atravessarmos o Atlântico antes de começar
a estação dos furacões, na outra costa, teríamos de largar de África em Maio. Receava mandar
cortar o papiro cedo de mais, pois quanto mais antigas menos resistentes são as canas. Porém, se
esse trabalho não começasse já, nunca estaríamos prontos para largar em Maio. Naquela época do
ano ia ser difícil e moroso cortar duzentos a trezentos mil pés de papiro, porque a água do lago
estava alta. As canas deviam ter cerca de três metros de comprimento, logo os caules teriam de ser
cortados debaixo de água. Depois, precisava contar com o tempo de secagem. Caso contrário,
apodreciam quando atadas em feixes. Por fim, havia que ter em conta a viagem difícil pelas
montanhas e a travessia do mar Vermelho. A zona do Suez estava em guerra e o tráfico parado.
Teria de remover muitos obstáculos até conseguir autorização para desembarcar a carga naquela
área. Uma vez no Suez, as canas inflamáveis ainda teriam de ser transportadas por estradas
constantemente obstruídas até atingirem o Nilo, perto do Cairo. Antes de a carga de papiro chegar às
pirâmides, um acampamento com tudo quanto era indispensável, incluindo cozinheiro e provisões,
teria de ser instalado no deserto, para alojar os guardas e o pessoal de trabalho. A construção do
navio ia ser chefiada por negros buduma do lago Chade, que viviam ainda hoje um tipo de vida
ancestral em ilhas flutuantes, no mais retirado canto da África central. Mas, depois de resolvidos
estes aspectos e antes de se iniciar a construção, ainda teríamos de enfrentar o longo processo de
atar milhares de finos caules de papiro até se transformarem numa embarcação marítima de quinze
metros de comprimento e cinco metros de largura. Por fim, havia que preparar, com antecedência, o
transporte do barco, depois de acabado, para um dos portos africanos da costa do Atlântico. Vela e
armação; maquinismo de leme igual aos do antigo Egipto; cabina de vime; potes para água
mandados fazer de propósito e comida de bordo como a dos antigos marinheiros - uma infinidade de
coisas para planear.
Mas, até ali, tudo se reduzia a um telegrama para a Etiópia. Sentei-me outra vez na cama, a contar
pelos dedos: Dezembro a Maio. Sentia o coração a bater. Comecei a passear de um lado para o
outro, sempre mais depressa. Papel e lápis. Tinha de pôr as rodas em movimento, já e
simultaneamente. O mais importante era descobrir a tripulação que quisesse participar na expedição.
Como não podia deixar de ser, pensei nos meus companheiros de cento e um dias na jangada KonTiki. Encontrávamo-nos, sempre que possível, para reviver as recordações desse tempo. Mas Knut
Hangland, que já tinha a seu cargo o museu Kon-Tiki, de Oslo, acabava de ser designado pelo
Governo para organizar, também, a montagem do Museu da Resistência Norueguesa. Herman
Watzinger, durante muito tempo perito em pescarias, nomeado pela F. A. O. para o Peru, aceitou a
responsabilidade de chefiar a sede do mesmo departamento em Roma. Bengt Damielsson, o único
sueco entre cinco noruegueses, que, acabada a expedição, se instalou no Taiti como etnólogo de
pulso livre, era à data o director do Museu Etnográfico de Estocolmo. Erik Hesselberg continuava a
ser o mesmo boémio crónico, viajando pelo mundo com a viola e a paleta. Esse diria logo «sim»! M
as Torstein Raaby, que sem demora respondeu «vou» ao convite para se integrar no grupo da KonTiki, acabou a sua vida de aventuras no deserto gelado da Gronelândia, como radiotelegrafista de
uma expedição de esquiadores que tentou a travessia do Pólo Norte.
A tripulação da Kon Tiki era constituída por cinco noruegueses e um sueco - seis escandinavos.
Desta vez sentia-me tentado a reunir no barquinho de canas tantas nações quantas o espaço
permitisse. Com jeito, talvez fosse possível levar sete homens. Sete homens de sete países
diferentes. Eu era oriundo do país mais a norte da Europa, um do ponto sul oposto estabeleceria o
contraste. Portanto, pensei num italiano. Visto que os Europeus são «brancos», pareceu-me lógico
que a escolha de companheiros «de cor» se fizesse entre os peritos em papiro do lago Chade. Levar
um egípcio e um mexicano seria um símbolo do que a expedição pretendia provar: a possibilidade de
contactos entre as antigas civilizações da África e da América. Personificando ideologias
contrastantes naquele grupo internacional, iriam um americano e um russo. Todas as outras nações
do globo, excluídas unicamente por falta de espaço, estariam representadas na bandeira das Nações
Unidas, se nos dessem licença para a içarmos.
O momento exigia que nos empenhássemos no lançamento de pontes de união entre as nações.
Sobre as esfinges e as pirâmides soava o estampido dos jactos militares; os canhões trabalhavam no
canal do Suez, impedindo a navegação. Soldados dos cinco continentes do globo faziam a guerra
em diversos países estrangeiros. E, onde não havia guerra, o homem sentia-se manietado pelos
botões da energia atómica, prontos a entrar em acção, com medo das outras nações. Num barco de
cana só poderia haver lugar para pessoas capazes de estenderem as mãos uns aos outros. A
viagem propriamente dita pretendia ser o estudo e experiência de tudo aquilo que pode ter
acontecido ao romper da civilização. Mas uma experiência dá lugar a novas experiências.
O estudo sobre os comportamentos humanos no mundo superpopuloso do futuro. A televisão, os
jactos e os astronautas diminuem de tal forma a dimensão do globo que as nações já não
conseguem viver lado a lado. O mundo dos nossos antepassados acabou. O mundo, outrora
ilimitado, pode hoje ser circundado numa hora e quarenta minutos. As nações já não estão
separadas por cordilheiras de montanhas intransponíveis ou golfos oceânicos. As raças não são
independentes, não vivem isoladas, mas, pelo contrário, inter-relacionam-se e superpovoam-se.
Enquanto centenas de milhares de técnicos estudam a desintegração nuclear do átomo e os raios
laser, o nosso globo caminha a velocidade supersónica para um futuro onde todos estamos
embarcados numa demonstração técnica sem precedentes e onde teremos de trabalhar em
conjunto, se não quisermos perecer debaixo do peso do fardo comum.
Um barco de papiro navegando sob a acção dos elementos poderia ser um micromundo; uma
tentativa prática para provar que os homens podem trabalhar juntos e em paz, independentemente
do seu país de origem, da religião, cor ou ideias políticas, desde que descubram que, no seu próprio
interesse, devem lutar por uma causa comum.
Peguei na caneta e escrevi a Abdullah. Confirmei a vinda de Omar e Mussa e que o queria a ele
como intérprete. Perguntava lhe se queria que os fosse buscar ou se conseguiria chegar sozinho a
Boi, encontrar -se com os outros e juntos fazerem o caminho até Fort Lamy. Aí, encarregava-me eu
de lhes arranjar os bilhetes de avião para o Cairo, onde os iria esperar.
Recebi, por intermédio de um escriba de Fort Lamy, a resposta sucinta de Abdullah, que me
surpreendeu. Precisava de certificados de emprego para os três poderem sair do país; precisava de
três bilhetes de avião para o Egipto e precisava, também, de cento e cinquenta mil francos da
república de Chade. Só assim me pouparia a viagem a Chade.
Era uma quantia considerável. O Banco Nacional de Itália nem sequer sabia exactamente qual a taxa
de câmbio dos francos Chade. E quantas dificuldades não surgiriam até aqueles fundos chegarem, a
salvo, às mãos de Abdullah? A salvo? Confiara num homem perspicaz e que me pareceu sincero,
mas não sabia absolutamente nada acerca de Abdullah Djibrine, excepto que surgiu vestido de
branco, nunca soube donde, e desapareceu outra vez depois de servir de intérprete como voluntário.
Carpinteiro de profissão, se ele não me enganasse, eu poderia poupar tempo e dinheiro. Se não
fosse obrigado a ir buscar os negros buduma a Boi, teria tempo para uma última e decisiva visita aos
índios do Peru, já que não podia deixar de ir ao México e aos Estados Unidos da América recrutar
companheiros de viagem.
Entretanto, dois preciosos colaboradores estavam em acção. Buschi encarregara-se das canas;
Abdullah dos construtores. Estes últimos e as canas deviam chegar ao Egipto na mesma altura, c até
lá o acampamento no deserto, perto do Cairo, teria de estar pronto. Confiei essa tarefa a um grande
amigo e professor italiano, Angelo Corio. O Ministério da Educação de Roma concedeu-lhe seis
meses de férias para o estudo das diferentes línguas faladas pelos elementos da nossa equipa
internacional reunida no Egipto. Corio chegou às pirâmides com todo o aspecto de um turista; mala
de viagem e máquina fotográfica ao ombro. Foi apanhado por um cortejo de dragomanos que lhe
queriam mostrar a Esfinge e ensina-lo a andar de camelo. Para escapar àquele ambiente oriental
precisou de alguém que conhecesse as leis e os costumes locais e o encaminhasse nos passos a
dar. O ex coronel Athia Ossama foi esse alguém. Devido á guerra, a sua actividade, relacionada com
a península do Sinai, ocupada por Israel, estava envolta em mistério. Homem muito sociável, tinha o
dom de obter sempre o que queria. Todas as portas se lhe abriam. Encarregou-se de servir de
intermediário junto das autoridades para obter a indispensável autorização para o papiro
desembarcar na zona de guerra do Suez.
As rodas do mecanismo começavam a rodar de um país para o outro. Telegramas e telefonemas em
línguas estrangeiras, cartas-expresso com selos exóticos e tudo no maior segredo para o trabalho se
efectuar sem perturbações e estar concluído antes de sermos apanhados pela estação dos furacões.
Descobri participantes de sete nações. Um italiano, um possível candidato egípcio e pensava
escolher o homem de Chade entre os construtores, depois de eles chegarem. Aguardava uma
resposta da Rússia e tinha de ir â América. Assim decorreu o mês de Dezembro; seguiu se Janeiro.
Faltavam três meses. Em Nova Iorque .conheci o americano Frank Taplin. No Cairo, o meu amigo
Corio esperava que chegasse a carga de papiro, que, entretanto, secara sob o sol das praias do lago
Tana. Abdullah ia a caminho de Boi encontrar-se com os outros dois companheiros. Frank Taplin era
homem de negócios, enérgico, veterano da paz e membro activo da Associação Mundial dos
Federalistas. Esta organização propunha se desenvolver a cooperação entre as nações e a
actividade das Nações Unidas. Norman Cousins, célebre editor de Nova Iorque e presidente da
mesma associação, era amigo pessoal do secretário-geral U Thant, que nos recebeu, aos três, no
último andar do imponente edifício de vidro das Nações Unidas.
Sete nacionalidades, brancos e pretos, de Leste e de Oeste, atravessando juntos o Atlântico em cima
de um feixe de papiro? Claro que poderíamos hastear a bandeira das Nações Unidas, se
mantivéssemos a regra: todas as bandeiras do mesmo tamanho e penduradas à mesma altura.
Sugeriu que hasteássemos as sete bandeiras nacionais em fila e, em cada ponta, uma das Nações
Unidas. U Thant manifestou toda a sua boa vontade e desejo de nos ajudar. Donde pensávamos
partir?
- Talvez de Marrocos.
- Então, vão conhecer o meu amigo Abmed Benhima, embaixador de Marrocos nas Nações Unidas,
que vive quinze andares abaixo, no décimo terceiro.
Sua Excelência era um homem alto, distinto, o último descendente de uma das mais antigas famílias
de Marrocos. Recebeu nos com a amabilidade rotineira daquelas cerimónias e nós sentámo-nos nas
cadeiras de braços. Ouviu-nos numa compostura imperturbável.
- Vão então largar do meu país num barco de papiro? - foi tudo quanto disse, enquanto nos oferecia
cigarros.
- Obrigado, não fumo.
- De que porto?
- Safi.
- Safi! É a minha cidade natal. Porquê Safi?
O seu interesse despertou. Levantou se, manifestando surpresa e curiosidade ao mesmo tempo.
- Porque Safi é um dos mais antigos portos africanos para além de Gibraltar. Casablanca é um porto
moderno, mas Safi é conhecido desde as eras mais remotas. Penso que seria a partir de Safi que os
marinheiros que navegavam junto à costa, vindos do Mediterrâneo, seriam empurrados para o mar.
Depois de Safi, a corrente das Canárias e os ventos alísios obrigam tudo o que flutue ao de cima de
água a tomar o rumo da América.
- Os meus pais vivem em Safi. O paxá de Safi é meu amigo. Vou escrever-lhe, assim como a meu
irmão, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos.
Nem queria acreditar em tanta sorte. Partimos contentíssimos.
Em Nova Iorque arranjei um candidato para a viagem. Tudo parecia correr bem até a parte mais
importante entrar nos planos secretos. Nessa altura, os três concordámos que precisávamos de mais
um elemento. Mal tivemos tempo de almoçar com mais um possível candidato antes de o avião partir
para Lima, no Peru.
Alguns dias depois estava sentado no meio dos índios Uru, a fritar peixe numa ilha flutuante do lago
Titicaca. A ilha era uma rede de canas flutuantes, canas empilhadas umas sobre as outras, formando
medas espessas. À medida que as camadas do fundo apodreciam e começavam a afundar, os
índios cortavam canas de totora frescas, que sobrepunham às primeiras. Aquela zona do lago era,
toda ela, constituída por ilhas artificiais feitas de canas, separadas por canais estreitos. Canas
frescas cresciam por toda a parte, até onde a nossa vista alcançava. Mas, para além daquela terra
pantanosa onde os índios Uru passavam a sua existência entre o peixe e as canas, só víamos picos
brancos contra o céu azul. As casas e as camas eram de cana. Os barcos também. As velas
quadradas eram tecidas com pés de canas. A lenha dos fogos eram as canas. As que apodreciam
eram misturadas com a terra, onde, em pequenos canteiros, cultivavam a tradicional batata-doce. Na
sua existência não havia ponto fixo. O terreno balouçava debaixo dos seus pés, quer estivessem
dentro da cabana ou fora, no canteiro semeado de batatas. Fui até lá para confirmar uma suspeita.
Os índios Uru, como os Quechua e os Aimarás nas outras praias do mesmo lago, e os negros
Buduma de Chade, não punham os barcos a secar ao fim de um dia de uso. Apesar disso, os barcos
mantinham se navegáveis durante mais de quinze dias. Era evidente que a cana submergia
gradualmente. Provavam nos as novas camadas que os índios constantemente tinham de
acrescentar às suas ilhas. Mas os barcos jaziam, elegantes, junto às ilhas, sem necessidade de
acréscimos. O mesmo acontecia com os do lago Chade. A explicação deste facto era óbvia. Ali, na
América do Sul, tal como em Chade, os barcos de cana eram atados com cordas muito resistentes,
feitas à mão. Os nós eram de tal maneira apertados que fechavam os canais das células interiores
da cana, enquanto os barquinhos da Etiópia mal ficavam unidos por meio de tiras de cortiça, ou fibra
de papiro. A cana porosa não era suficientemente comprimida, evitando desse modo a absorção da
água.
Faltavam doze dias para Abdullah e os outros construtores chegarem ao Cairo. Tinha bilhetes para o
avião do dia 20 de Fevereiro, data aproximada da prevista para o papiro chegar ao Suez. Ainda havia
muito para fazer nesse espaço de tempo. Deixei as ilhas dos índios Uru e, com o meu amigo Thorleif
Schjelderup, conhecido filósofo, escritor e fotógrafo norueguês, parti para o deserto, na costa norte
do Peru. Queríamos observar de perto a pirâmide mais bonita e famosa da América do Sul construção descomunal, simétrica, em tijolos de adobe. Escondida atrás de montanhas de arenitos,
erguia-se, quase ignorada, na planície desértica do vale Chicama, inexplorado pelos cientistas, mas
completamente saqueado por ladrões de sepulturas, que foram escavando uma cratera até à base e
transformaram a pirâmide numa espécie de vulcão quadrado. Os habitantes do vale chamam lhe
cerro Colorado, «monte Colorado», por causa da sua altura incalculável. Só muito perto se
distinguem os degraus perfeitamente simétricos dos lados e o muro de pedra. Topámos, então, com
uma maravilhosa composição de milhões de tijolos secos ao sol, operada pela mão do homem.
Quem, como eu, estivera no Egipto a semana anterior, não pôde evitar a sensação provocada pela
semelhança de estilo arquitectónico, orientação astronómica, dimensões e material de construção
daquela pirâmide com a mais antiga das do Nilo. O cerro Colorado foi mandado construir por um
desconhecido sacerdote rei da antiguidade quando as mais poderosas civilizações começaram a
prosperar no Peru. Muito antes de a cultura inca suceder à cultura chimu, que, por sua vez, se seguiu
a predecessores desconhecidos, a quem a ciência, por falta de melhor designação, chamou o povo
«Mochica». Eles foram os primeiros a erguer as mais sumptuosas pirâmides daquela costa. Quem
eram os Mochicas? A ciência tem vindo, cada vez mais e mais, a adquirir provas concretas dos
contactos havidos entre os detentores da cultura da costa norte do Peru e os construtores de
pirâmides do antigo México. Para além disto, pouco ou nada se sabe quanto às suas origens. Nos
auto-retratos, por sinal com um realismo impressionante, estampados na sua cerâmica, encontramos
homens de barba e indivíduos de feições mediterrânicas. Alguns não se distinguem dos indivíduos
da actual raça berbere de Marrocos.
Ainda me foi possível dar um salto ao México, onde o meu companheiro de visita aos índios seris,
nadador olímpico, Ramon Bravo, não pensava senão em embarcar num barco de cana. Ultimamente
estivera doente do estômago, mas tinha a certeza de que estaria em forma antes de partir de
Marrocos, dentro de dois meses e meio.
Uma avioneta, um passeio de automóvel e alguns passos a pé levaram nos até à selva mexicana,
onde, debaixo de chuva, olhávamos uma pirâmide. Uma pirâmide sob a chuva. Chuva que tanto
desejamos e que caiu mesmo. Thorleif, encharcado até aos ossos, só em camisa, o casaco a tapar a
máquina e o filme, fotografou a chuva tropical caindo em catadupas e escorrendo de bloco para
bloco, através da imponente pirâmide de Palenque. As nuvens muito baixas cobriam as copas das
árvores da floresta que alastrava pela cordilheira atrás de nós. As árvores mais gigantescas
espalhavam-se pela base da pirâmide.
Abandonadas ao acaso nas clareiras que rodeavam a pirâmide, viam-se muitas ruínas de edifícios
do Governo, cobertos de musgo, para todos os gostos. Estávamos naquele sítio apenas com o
objectivo de vivermos um pouco aquilo que teria acontecido na América antes de Colombo; por isso
tivemos de dominar a onda de entusiasmo e admiração que nos invadiu. Sentámo-nos e tentámos
perscrutar e interpelar o que havia detrás daquele impressionante complexo de ruínas. Perpassava
ali uma onda de mistério, qualquer coisa que não se podia descrever, nem contar, mas que atraía a
atenção, a conjectura. Naquele momento não nos bastava as ideias preconcebidas. Nem nos
podíamos deixar absorver pelos pormenores mais atraentes, ou cair em êxtase diante das
dimensões, da beleza, da ingenuidade da técnica. Prendemo-nos a um facto incontestável: aquele
complexo em ruínas, composto por pirâmides, templos e palácio, era uma relíquia legada por seres
humanos iguais a nós, nem superiores, nem inferiores. Milhares de anos antes de Colombo, ali
viveram como exploradores e abriram, em plena selva, espaços para as suas casas, quintas e
edifícios religiosos. Aquelas pirâmides e aqueles templos espectaculares foram desenhados e
calculados por bons arquitectos - espantosamente bons, comparados com os índios que viviam, e
ainda vivem, na mesma floresta, em cabanas feitas de troncos e folhas. Nem sequer lhes ocorre
trabalhar em cantaria os blocos de pedra e a rocha sólida da natureza que os rodeia. Um dia tentei
dar a forma rectangular a uma pedra redonda. Não consegui e tinha aço para esculpir. Ora, os índios
só dispunham de ferramentas de pedra. Só alguém muito hábil consegue transformar a pedra tosca e
rija em blocos polidos. Nem eu, nem qualquer dos meus amigos, quer que seja residente na cidade
ou no campo, nem nenhum dos índios que conheci até hoje. Não é trabalho para ser feito por
qualquer pessoa.
Qual seria, então, a história verosímil daquelas ruínas da floresta de Palenque?
De súbito, atravessou o meu espírito uma ideia disparatada. Teriam os arqueólogos, ao reconstruir o
que desconheciam, sido influenciados por consultores da polícia criminal, por alguém sem
terminologia arqueológica e sem técnica de escavação, mas que tivesse a complexa intuição do
detective, conhecimentos práticos profundos, bom olfacto e alguma experiência em cálculos de
probabilidades. O facto é que em plena floresta erguia-se uma pirâmide enorme. Teriam sido os
índios a colocá-la ali? Ou teriam outros povos, diferentes dos primitivos caçadores da Sibéria, vindo
misturar se às populações aborígenes das mais antigas florestas do México?
Todos os que acreditavam que até à época colombiana os povos civilizados não se deslocavam, mas
tão-só selvagens de pés descalços, defendiam a teoria de que normalmente seres humanos "em
condições ambientais semelhantes criam coisas parecidas. Portanto, nada mais natural que os
habitantes do Egipto e do México se entretivessem a colocar pedras sobre pedras até formarem uma
pirâmide.
Começou a chover torrencialmente. Abrigámo-nos debaixo de umas folhas grandes.
Condições ambientais semelhantes! Mas poderá haver contraste maior que o deserto do Egipto e as
florestas do México? A vida das plantas carregava de humidade o ar quente que ali se respirava,
como se estivéssemos numa estufa. Só folhagem orvalhada, lianas, troncos e húmus muito rico. Não
se via uma pedra, excepto aqueles blocos cinzelados, trazidos pelo homem e que agora ali se
encontravam amontoados em ruínas. Seria normal fazer fosse o que fosse colocando pedra sobre
pedra em plena floresta do México? Então, porque não nas florestas africanas, nas savanas, nos
prados ou nos pinhais da Europa?
Onde teriam os arquitectos da pirâmide de Palenque encontrado o material? Debaixo das raízes das
árvores descomunais da floresta? Ou tê-lo-iam extraído de alguma vertente de montanha que lhes
ficasse mais à mão? Em qualquer caso, os peritos chegaram à conclusão de que, ali em Palenque, a
ideia da construção chegou primeiro e só depois se encontrou o material adequado.
E no Peru? Seria normal que os seus habitantes se sentissem atraídos pela construção de pirâmides
de pedra? Ao longo da extensa costa deserta do Peru, onde as pirâmides estão espalhadas sobre a
areia, não há pedra utilizável. Só muito para o interior, já nos Andes, existem pedreiras.
No vale Mochica, donde nós acabávamos de vir, a pedra era de qualidade tão inferior que os
construtores de pirâmides se viram obrigados a fabricar cerca de seis milhões de grandes blocos de
tijolos de adobe para conseguirem edificar a sua pirâmide, que cobria uma área de três mil metros
quadrados e atingia a altura de trinta metros. No Peru encontraram pirâmides de tijolos de adobe
maiores que o cerro Colorado.
Encharcado, ao frio, debaixo daquelas folhas enormes, a olhar a pirâmide a escorrer água e com
tudo quanto vira no Peru e no Egipto ainda fresco na memória, era inevitável que os pensamentos se
encadeassem. No Egipto é normal a construção em pedra, porque as falésias que se erguem no
deserto de areia são o único material natural. Mas, no México, onde existe pedra na natureza? Sabese que os astecas do planalto do México e os maias das selvas de Iucatão aprenderam a construir
pirâmides com os seus predecessores. A arqueologia revelou que a primeira civilização do México
que impulsionou tudo o resto começou na costa tropical do golfo do México, onde a corrente
oceânica, depois de atravessar o Atlântico, se encaminha para terra. Seria mais natural construir-se
pirâmides lá? Pelo contrário. Naquelas paragens, os fundadores da primitiva cultura do México
tiveram que ir muito longe até descobrirem pedreiras. Casos houve em que blocos gigantescos de
vinte e trinta toneladas foram transportados de pedreiras situadas a noventa quilómetros de distância
do local de construção. Actualmente desconhece-se a identidade desses dinâmicos pedreiros e
arquitectos que efectuavam construções em plena floresta, mas sabiam muito mais sobre a pedra do
que acerca da madeira. Por mera conveniência, deu se lhes o nome de Olmecs. Admitindo que as
esculturas dos seus monumentos abandonados são auto retratos, verifica se que uns eram
indivíduos de cara chata, arredondada, nariz largo e lábios grossos como os negros, enquanto outros
tinham feições ovais, nariz adunco, bigode e barba espessos, como os semitas. Os Olmecs eram a
chave do mistério. Qual o seu nome verdadeiro? Quem eram eles? Porque extraíam a pedra de
pedreiras para erguerem pirâmides?
as os Olmecs também fabricavam tijolos no meio da selva. Porquê? Uma das suas pirâmides - trinta
metros de altura - foi feita com tijolos de adobe seco ao sol, tal como a maior das do Peru, como as
da antiga Mesopotâmia e como algumas das do vale do Nilo. O adobe não é material de construção
natural da floresta.
A construção salpicada de gotas de água que tínhamos na nossa frente viera estabelecer a confusão
nos resultados a que se chegara até agora. Alguns anos antes, em 1952, uma descoberta efectuada
naquela pirâmide abalou o mundo da ciência e deitou por terra um dogma nunca antes refutado.
Descobriu-se a entrada para uma Passagem secreta com uma escadaria de pedra, em caracol, que
descia até ao centro da pirâmide. Conduzia a uma porta de pedra muito pesada que comunicava
com uma sepultura imponente, onde jazia um caixão, também em pedra, contendo o corpo de
importante rei sacerdote exactamente igual aos do antigo Egipto. Nas pirâmides do México nunca se
encontraram câmaras-ardentes. Este, um dos fortes argumentos a favor dos não contactos
transoceânicos. A semelhança entre as pirâmides era superficial, dizia-se. As pirâmides dos dois
lados do Atlântico não só tinham funções diversas como eram de arquitectura diferente. No México e
no Peru as pirâmides tinham os lados em degraus; no Egipto os lados são suavemente inclinados.
Contudo, aquela distinção simplista nunca foi totalmente exacta. Quem alguma vez atravessou a vale
do Nilo sabe que no Egipto também há pirâmides com degraus. São as mais antigas, na sua forma
original, e não só no Egipto, como na Mesopotâmia. Os vizinhos do Egipto, mais civilizados do Antigo
Mundo - os Babilónicos, construíam as suas pirâmides em escadas e no topo colocavam um templo,
precisamente como no antigo México. E agora até se sabia da existência de um rei-sacerdote
sepultado num caixão, mesmo no centro de uma pirâmide mexicana. A sua família também se dizia
descendente do Sol, e como tal colocou um deus-Sol de jade no túmulo. O arquitecto, conhecedor da
astronomia, planeou a base da pirâmide de acordo com a passagem do Sol, exactamente como no
Egipto. Além disso, o sarcófago onde foi colocado era em pedra e cobria lhe a cara uma múmia
sumptuosa, como era costume no Peru e no Egipto. Aquela máscara não era de ouro, mas sim de
mosaico de jade, os olhos de conchas e as pupilas de obsidiana. Também ele acreditava numa outra
vida depois da morte e, portanto, tinha ao lado cântaros para as bebidas e travessas para comida. A
cabeça ostentava uma coroa, nas orelhas enfeitos, à volta do pescoço um maravilhoso colar e nos
braços e nos dedos pulseiras e anéis de pérolas naturais e de jade. Por dentro, o caixão fora pintado
com cinabre vermelho, de forma que bocados de tecido vermelho estavam agarrados aos ossos e às
jóias. À maneira egípcia, o sarcófago fechava com um bloco de pedra entalhada, pesando toneladas,
tão largo como a altura de um homem e de duas vezes a sua altura. Na tampa e nas paredes do
túmulo viam-se baixos -relevos de sacerdotes ou sacerdotes-reis, todos de perfil. Em alguns,
exactamente como no Egipto, as barbas postiças significavam a divisa de classe. Terminados todos
estes preparativos, matava se meia vintena de mancebos, que se colocavam à porta do túmulo e
seriam os seus servos no outro mundo. Só então se selava a câmara mortuária do rei-Sol com um
enorme bloco de pedra; construía-se uma escada secreta no interior da pirâmide, que, por fim, se
enchia com pedras e cascalho e era novamente selada. A pirâmide funerária do rei Sol de Palenque
era, quer por dentro, quer por fora, cópia quase fiel das do antigo Egipto. A única inovação, adoptada
na Mesopotâmia, era o pequeno templo em pedra, com hieróglifos característicos da região,
colocado no alto da pirâmide, em puro estilo mexicano.
Descemos para observar a sepultura. Foi, com certeza, construída antes da pirâmide e deve ter
constituído a primeira parte do plano do arquitecto. Nas paredes e no tecto, blocos de pedra polida
estavam unidos com uma exactidão tal que se poderia dizer que entre eles havia apenas a distância
de um cabelo. Só depois de terminado o túmulo é que a pirâmide foi erguida sobre ele. Das cornijas
das paredes pendiam estalactites brancas, formando filas de pingentes de gelo, que davam aos
baixos-relevos dos sacerdotes, em trajos de cerimónia, o aspecto de antiguidades congeladas. Corria
uma aragem fresca. O arquitecto não esqueceu o indispensável ar condicionado. Precisamente como
nas pirâmides do Egipto, uma conduta de ar partia da sepultura e acompanhava as escadas até ao
topo. Dois grandes canais de ventilação bifurcavam para um e outro lado, pelas paredes da pirâmide,
até atingirem o exterior.
Enquanto subia as escadas de pedra, construídas entre paredes estreitas, fixei, mais uma vez, a sua
construção. A secção transversal da escadaria era hexagonal, por isso o tecto liso era muito mais
estreito que a largura da própria escadaria. Num único lugar do mundo percorri, às apalpadelas,
degraus com o mesmo desenho curioso - nas pirâmides do Egipto.
Tudo aquilo seria assim tão normal? Pelo menos, não era aceitável como o resultado de alguém se
entreter a amontoar pedras sobre pedras. Ao sairmos dos grandes blocos de pedra entalhada,
mergulhámos outra vez no arvoredo que teria subjugado todo aquele complexo das ruínas, se o
Instituto de Arqueologia do México não porfiasse em as defender das chuvas de uma floresta
continuamente a esforçar-se por reconquistar o terreno fértil que, outrora, dinâmicos arquitectos lhe
roubaram para se instalarem por entre as árvores.
Ao lado desta pirâmide-sepultura real encontrava se uma outra, construída sobre uma caverna
natural. Uma escadaria em pedra e uma frecha comunicavam com o interior da estrutura, onde havia
ossos humanos espalhados em confusão. Aquela pirâmide, construída Para um único sacerdote rei,
como a primeira, fora também saqueada e os ossos de indivíduos menos proeminentes atirados para
a caverna.
Assim surgiu outro ponto para reflexão. Ou não era verdade que os povos que construíam pirâmidestemplos eram diferentes dos povos que construíam pirâmides-sepulturas ou dois povos distintos
tinham Começado a construir pirâmides lado a lado, nas florestas mexicanas. O problema
complicava se cada vez mais.
De regresso à cidade do México, fomos visitar o Dr. Ignacio Bernal, chefe do Instituto Nacional, que
superintende nas pirâmides e monumentos do México e também director do Museu Nacional de
Arqueologia, um dos maiores e mais modernos de todo o mundo. Os arqueólogos mexicanos
tornaram-se famosos por estarem na vanguarda dos isolacionistas. Sobretudo, a geração mais
antiga defendia acerrimamente que tudo o que estava subjacente às ruínas do México se
desenvolvera dentro das fronteiras do país, através das tribos bárbaras que se deslocavam no Norte.
Nós íamos desafiar a sua opinião, navegando para oeste, num barco de canas tipicamente africano.
Como iriam os especialistas mexicanos aceitar o facto? Fizemos a pergunta ao seu representante
mais significativo, Dr. Ignacio Bernal, que, gentilmente, autorizou os guardas do museu a deixarem
nos entrar com as máquinas fotográficas e os gravadores. Olhou nos por cima do ombro, um tanto
céptico, enquanto cada um de nós tomava o seu lugar diante de uma enorme estela, em pedra,
ostentando o baixo relevo de um olmecs, de barba comprida, símbolo do indecifrável enigma quanto
ao mais alto expoente da cultura do México. Olmecs barbudos ensinaram a técnica da construção de
pirâmides a índios sem barba.
- Dr. Bernal - disse eu -, pensa que as mais antigas culturas do México se desenvolveram sem
influências do exterior, ou acha que algumas ideias poderão ter vindo por mar, trazidas pelos
marinheiros das primitivas embarcações?
- Essa é a pergunta mais difícil que você me poderia fazer - respondeu o homem que
considerávamos a maior sumidade do México.
- Porquê?
Surpreendido, aproximei o microfone do Dr. Bernal.
- Porque há muitos argumentos a favor da possível infiltração
por mar antes de Colombo, mas há-os, igualmente fortes, a favor da teoria contrária.
- Então, qual seria a sua resposta?
- Para lhe ser franco, não sei!
- Nesse caso, estaremos de acordo se aceitar que o problema está por resolver.
Hesitou um segundo.
- Sim - disse, com firmeza.
Gravámos a entrevista duas vezes para nos precavermos contra qualquer falha técnica.
Nessi1 altura, os planos secretos da explicação apareceram na imprensa diária, via Cairo. A notícia
chegou também ao México.
- Você quer experimentar um barco de canas no mar, não é isso? - perguntou o Dr. Santiago
Genovês, sorrindo. Entrava para visitar o seu colega, Dr. Bernal, quando nós saíamos do museu.
- Exacto - confirmei. - Quer vir também?
- Sim, e estou a falar a sério!
Olhei, pasmado, para o colega mexicano do Dr. Bernal. O Dr. Genovês era um perito célebre em
povos aborígenes da América. Conhecera o nos Congressos Internacionais de Antropólogos da
América latina, Rússia e Espanha. De pequena estatura, mas de robustez e autodomínio incríveis,
devolveu-me outro olhar de surpresa.
- Lamento, mas o lugar já está reservado para outro mexicano. Fica para outra vez - disse lhe, em
tom jocoso.
- Nesse caso, ponha-me na lista de espera. Basta que me avise com uma semana de antecedência.
- De acordo!
Quando, para se despedir, o cientista me estendeu a mão, a sorrir, mal sabia eu que o tempo havia
de provar que aquele diálogo fora profético.
Na manhã seguinte em Nova Iorque. O meu quarto do hotel repleto de jornalistas. A expedição já
não era segredo. O papiro tinha chegado ao Cairo. A construção ia começar. Os três homens de
Chade deviam estar a entrar no avião àquela hora. Corio esperava no acampamento, com tudo
pronto para entrar em acção. Prevíramos que, no dia seguinte, nos encontraríamos todos para
começar o trabalho. O meu avião só saía à noite, por consequência teria o dia livre para os últimos
preparativos em Nova Iorque. Mas... um telegrama chegou. Tive de me sentar enquanto o lia:
ABDULLAH PRESO. CONSTRUTORES AINDA EM BOL. TELEFONA IMEDIATAMENTE.
O telegrama estava assinado pela minha mulher. Fiz uma chamada urgente para minha casa em
Itália e obtive a confirmação de que não se tratava de brincadeira. Chegara uma carta de Abdullah,
escrita ainda em Chade, dizendo que não podia ir buscar Omar e Mussa porque se encontrava
preso. Prometia tornar a escrever dentro de um mês e terminava enviando saudações.
Abdullah preso?! Que teria feito? Onde estaria? Ninguém sabia mais informações que aquelas que
ele próprio escrevera na nota recebida. Mussa e Omar continuavam, portanto, nas suas ilhas
flutuantes a sul do Sara, a leste do Sol e a oeste da Lua. Sem eles não teria hipótese de fazer o
barco. E mais uma vez me vinha ao pensamento que dentro de onze semanas teríamos de largar de
Marrocos, para evitar a estação dos furacões. Atrás das pirâmides do Egipto, todo um estado-maior
aguardava no acampamento os visitantes de Chade, com as camas feitas e a mesa posta. Alguém
teria de ir a Chade e trazer os homens do papiro até ao local de construção. Só podia ser eu. Todas
as quartas-feiras, de manhã, saía um avião de França para Chade. Terça feira teria de estar em
Paris, com visto para a república de Chade. Estávamos a uma sexta feira, dia do aniversário de
George Washington. Nesse dia tudo fecha nos E.U. A. No dia seguinte, sábado, as repartições
públicas também não abriam. Depois, domingo. Restava me a segunda feira para obter o visto,
novos planos de viagem e o dinheiro para a deslocação até à África central, que não estava incluída
no projecto.
Passei três dias a vaguear inutilmente pelos arranha-céus de Nova Iorque. Tudo fechado. Na
segunda feira de manhã os Novaiorquinos regressaram aos seus escritórios. Os telefones tocavam e
eram atendidos. No edifício das Nações Unidas encontravam-se indivíduos de todas as nações do
mundo. Pois não descobri ninguém da república de Chade. Uma voz simpática explicou que o
representante de Chade estava naquele dia em Washington e que eu teria de lá ir se queria o visto
com urgência. O meu editor estava em Chicago. A minha carteira vazia. Os bilhetes para Paris
estavam em ordem, mas a excursão até Chade exigia o visto e dinheiro. O telefone da Embaixada de
Chade em Washington não tocava. Por outro lado, na Embaixada Norueguesa prometeram tentar
descobrir o paradeiro do embaixador de Chade, se eu esperasse com paciência no hotel. Entretanto,
de Chicago veio o pedido para ir sem demora ao banco, que ficava no lado oposto da cidade. A triste
sorte de Abdullah ainda complicou mais a situação quando do gabinete de U Thant responderam que
o secretário-geral me passaria uma carta de apresentação, se eu pudesse ir lá imediatamente. Antes
de eu sair a porta, um homem entrou, a correr - o Sr. Pipal, chefe da agência de publicidade, para me
oferecer pagamento adiantado em troca de notícias sobre a viagem. O telefone interrompeu a nossa
conversa. Prometiam me o visto para aquele mesmo dia, se apanhasse o primeiro avião de carreira
para Washington. O director da agência de publicidade ofereceu se para encher uma mala com
roupas de inverno e outra com roupas de verão, pagar a conta e despachar a bagagem no avião que
saía para Paris nessa noite. Thorleif largou os filmes e correu ao gabinete de U Thant. O tráfico é
indescritível em Nova Iorque, em Washington, até no ar, mas a cooperação que se operou entre a
Noruega e Chade foi extraordinária. Nessa mesma noite, à minha chegada ao Aeroporto Kennedy,
onde deixei um avião para entrar noutro, com o visto para Chade no passaporte, dois homens
esperavam-me. Um entregou me um envelope de U Thant; o outro, duas malas com roupa.
«Obrigado. Adeus. Boa noite, América. Bom dia, Paris.» Mal tive tempo de estar uns momentos com
a minha mulher durante uma pequena paragem em Nice, a caminho do Sul, já no avião seguinte.
Bloco para apontamentos, fórmulas para. telegramas: suspender tudo até que nós chegássemos
de Boi com os construtores.
O Sara apareceu debaixo das asas do avião. Uma baforada de calor entrou quando a porta se abriu.
Estávamos em Chade. Os edifícios baixos de Fort Lamy pareciam não ter fim, enquanto andei à
procura de Abdullah. A única direcção que ele me indicara era uma caixa postal. Um missionário
tomava conta da chave, mas nada sabia de Abdullah, porque acabara a sua obra como carpinteiro.
Porém, o pastor Eyer ofereceu-se para nos levar de carro a fazer uma busca pelo bairro árabe.
O meu hotel ficava no centro da cidade. O recepcionista disse me que o próximo avião para o Sudão
deslocava dali a uma semana. Simplesmente, os meus bilhetes para o Egipto não eram válidos,
porque ninguém me podia passar o visto. Em Chade havia um embaixador de Israel, mas não do
Egipto. Nem da Noruega, nem da Itália, ou da Inglaterra!
No quarto havia apenas uma cama, dois cabides na parede e uma ventoinha, que fazia tanto barulho
como as hélices de um avião.
Sentei-me na borda da cama, para tentar solucionar o problema com um atlas de bolso. Bateram à
porta. Era um negro alto, vestindo túnica branca, com um pequeno gorro multicolor na cabeça.
Estendeu os braços e desatou a rir, dentes e olhos irradiando felicidade.
- Oh, boss, oh, boss, Abdullah sofreu muito, mas agora já tudo passou!
Abdullah! Dançava de alegria por nos reencontrarmos.
- Abdullah, que aconteceu?
- Abdullah foi a Boi. Remei durante quatro dias à procura de Omar e Mussa no lago. Estavam a
pescar muito longe, mas encontrei -os. Paguei-lhes as dívidas e ia levá-los para Fort Lamy quando
apareceu o xerife. Disse que eu era um homem mau que só pensava no dinheiro. Disse que hoje
vendia dois homens ao Egipto. Amanhã talvez para França ou para a Rússia. Prendeu me. Fui para
a prisão de Fort Lamy, vigiado por dois guardas. Não tinha ninguém que me ajudasse. Gastei o resto
do dinheiro para poder sair.
Mas que história! Abdullah preso em Boi por suspeita de negócios de escravos. A antiga estrada das
caravanas de escravos passava por Chade e, por consequência, o passado, mais ou menos remoto,
não desapareceu ainda por completo. Abdullah não podia voltar para Boi. Mas Mussa e Omar não
podiam sair de Boi sem eu os ir buscar e apresentar um contrato de trabalho carimbado pelas
autoridades de Fort Lamy.
Durante cinco .dias, Abdullah e eu percorremos todas as repartições governamentais da capital, na
esperança de conseguirmos o contrato exigido. Por toda a parte encontrámos caras inteligentes e
atentas. A amizade transparecia atrás da máscara oficial. Escritórios ultramodernos. Chamou a
minha atenção p edifício colossal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, enfeitado com catorze
lagos vazios, em bicha, à frente dos degraus da escadaria. No domingo sentei-me, desesperado,
outra vez na borda da minha cama, e desliguei a ventoinha, para não ouvir o barulho ensurdecedor.
Que entrassem as moscas e o calor! Estava farto! Cinco dias perdidos e nem um selo, nem um
carimbo, nem uma assinatura, nem documento. Descobrimos o rasto de um missionário que tinha um
monomotor capaz de aterrar no lago sobre barcaças. Porém, se eu tentasse trazei os dois budumas
sem documentos, teria a mesma sorte que Abdullah.
Começámos por ir ao director-geral do Ministério do Interior, que sabia o que acontecera a Abdullah.
Respondeu que só recebia um estrangeiro via Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde só se
podia entrar através do chefe de Gabinete, a quem só nos poderíamos dirigir por intermédio do chefe
de Protocolo.
Só ao fim de três dias conseguimos ser recebidos pelo ministro dos
Negócios Estrangeiros, porque, de secção em secção, fomos obrigados a repetir os mesmos
pormenores e a mostrar a carta de U Thant. O ministro escondia se atrás de portas almofadadas. Era
um autêntico gigante, que nos recebeu com à vontade e como um amigo. Usava barbicha negra,
tinha o cabelo espesso e cicatrizes paralelas na testa e nas faces. A tal ponto se interessou pelo
caso que, antes de nos mandar ao Ministério do Interior, teve dois encontros com o presidente da
República, Tombalbaye, para o pôr ao corrente. O presidente Tombalbaye achou que o caso era tão
estranho que só o Conselho de Ministros poderia autorizar um cidadão de Chade a navegar no alto
mar num kaday de papiro.
Para ganhar tempo, garanti-lhe que o mais importante era obter autorização para três habitantes de
Chade construírem um kaday em terra, nas praias do Nilo. Só então nos mandou ao ministro do
Interior, que nos remeteu para o ministro do Trabalho, que, por sua vez, nos mandou ao tipógrafo
buscar os impressos que estavam esgotados. O contrato dos três homens ocupou doze folhas
completas, que entregámos ao ministro do Emprego para ser selado e assinado. Para nosso grande
azar, descobri dois parágrafos a que se não dera a devida atenção e, portanto, o processo teria de
ser suspenso.
Os contratos não podiam ser selados sem a assinatura prévia dos dois homens que aguardavam
ordens em Boi. Pior ainda, o texto exigia um certificado médico, sem o qual não seria considerado
válido. Como consegui-lo? Não havia médico em Boi e o xerife recusava-se a deixa-los sair sem o
contrato selado. O chefe do Ministério do Emprego falou com um representante do Ministério do
Trabalho, que olhou com tristeza para os contratos tão bem feitos. A situação não oferecia dúvidas.
Ambos eram a amabilidade personificada, mas ficavam-se nas palavras: o senhor compreende,
contrato de trabalho inválido sem certificado médico; este não pode ser passado sem os homens
saírem de Boi, mas a sua saída é ilegal sem o contrato de trabalho. Ergo, impossível.
Cansado como um cão vadio, fechei com força a porta do quarto e liguei a ventoinha no máximo. O
dia seguinte era um domingo. Fervendo de raiva, sentei-me na cama e escrevi no meu Diário:
«Loucura sem esperança. Mas não são os habitantes de Chade - basicamente amigos, inteligentes e
simples - que têm a culpa da engrenagem deste sistema. Ele é, afinal, a nossa imagem distorcida. A
cultura em África não era assim. Este novo tipo de vida foi lhe ensinado por nós.»
Um pensamento zumbia na minha cabeça: sombras negras vindas de nuvens brancas. Parei a
ventoinha e fiquei a ouvir o som das trombetas militares no palácio do presidente Tombalbaye.
Domingo.
Fui ter com o missionário aviador. Tinha gasolina. Na segunda-feira de manhã, ele e eu levantámos
voo sobre os telhados das repartições do Governo, depois sobre a savana, o deserto e, por fim, as
ilhas flutuantes. Aterrámos fora de Boi, levantando uma nuvem de borrifos. No avião tínhamos vinte e
quatro páginas de contratos impressos e uma mala vazia. Ignorávamos as consequências que
resultariam de os documentos não terem selos, nem assinaturas, excepto as nossas. O número de
palavras escritas impressionou tanto o xerife como o sultão, que acabou por autorizar a saída de
Omar e Mussa.
Nessa mesma noite, os dois negros budumas sentaram-se atrás de nós no avião, horrorizados e
cheios de medo. Depois deslizámos sobre as ondas que ficavam longe das suas cabanas. A praia
estava negra, coberta de amigos e conhecidos, encabeçados pelo sultão e pelo xerife, pasmados a
olharem os dois corajosos aventureiros. Estes, por outro lado, agarrados aos assentos com todas as
forças, olhavam, quais dois abutres, o pequeno mundo onde viviam. As suas expressões não
deixavam transparecer quaisquer sentimentos. Não tinham, cada um deles, os braços cheios de
marcas de ferro incandescente, como prova de que eram capazes de suportar o metal em brasa,
sem um queixume? Traziam apenas o que envergavam naquele momento: túnicas esfarrapadas e
sandálias feitas por eles próprios. A mala que leváramos voltou vazia; nada possuíam para lhe pôr
dentro.
Em Fort Lamy alegraram-se ao saber que Abdullah já estava livre. No mercado, Omar vestiu-se de
azul-claro da cabeça aos pés e Mussa todo de amarelo. Assim vestidos, acompanharam nos à
estação da polícia, onde esgazearam os olhos ao verem os seus retratos no passaporte.
- Os nomes? - perguntou o sargento.
- Omar M'Bulu.
- Mussa Bulumi.
- Idade? - perguntou o favorito da lei. Silêncio.
- Quando nasceu Omar?
- Quatro anos antes de Mussa.
- 1927? 1928? 1929?
- Acho que sim - disse Omar, timidamente.
- Nascido cá. 192 9 - escreveu o sargento. - E Mussa?
- 1929 - disse Mussa, sem hesitar.
- Não pode ser - declarou o sargento. - Você é quatro anos mais velho.
- Pois é - concordou Mussa. - Mas nascemos ambos em 1929.
- Nascido cá. 1929 - escreveu o sargento também para Mussa. Os passaportes tinham de ser
assinados. Omar declarou que só sabia assinar em árabe. Pegou na caneta, sentou-se e fez uns
floreados no ar por cima do papel. O sargento acabou por lhe tirar a caneta da mão e assinou por
ele. Nessa altura, Mussa pediu que assinasse também por ele. Mas, como os passaportes não nos
seriam entregues sem os contratos de trabalho, dirigimo-nos ao Hospital Católico, para nos
passarem o certificado médico. Aí deu-se uma cena divertida. A freira pediu a Mussa para se despir
até à cintura, e ele, com toda a simplicidade, levantou a túnica até ao umbigo. Quando Omar foi
observado aos raios X, não aparecia no ecrã, até que a freira acendeu a luz e descobriu que ele
tinha trepado e estava pendurado pelo estômago no alto do aparelho. O Sudão exigia o certificado de
vacina contra a varíola. Os homens foram vacinados, mas não nos deram os atestados, porque o
hospital não tinha impressos. Corri com Abdullah à tipografia, que se recusou a dar mais impressos
enquanto o hospital não pagasse as contas em atraso. No escritório das Linhas Aéreas Sudanesas
um empregado descobriu três impressos para atestados de varíola numa gaveta. Novamente no
hospital, quando estavam a ser preenchidos, apareceu um médico francês para dizer que a
radiografia de Omar acusava um alto bastante grande no fígado. O grande Omar tinha uma doença
grave e não podia seguir viagem. Mussa declarou que não iria sem o irmão, que falava o árabe. O
projecto de papiro quase ia indo por água abaixo.
Que poderíamos fazer por Omar? Perguntámos ao médico-chefe, um coronel francês sorridente e
bem disposto.
- Você, aqui?
O encontro foi quente e ambos ficámos igualmente surpreendidos. Estivera pela última vez com o
coronel Lalouel quando ele era médico do exército no Taiti. Em conjunto, forjámos solução. Se Omar
voltasse para Boi, não faria, de certeza, o tratamento. Por isso tomei a responsabilidade de o levar a
um médico no Cairo e guardei a receita para as injecções e comprimidos. Assumi o compromisso da
sua cura.
Partimos para o Sudão. No último instante, tivemos de empurrar Mussa e Omar para os degraus do
avião, pois eles não viam nada através dos óculos azuis e amarelos que compraram, a condizer com
as túnicas. Abdullah desatou aos gritos quando viu a imponente maquinaria do aparelho. Os outros
dois ficaram estarrecidos, porque a cabina era maior que a casa do sultão em Boi. Subimos a grande
altitude. Abdullah e Omar entretiveram-se a estudar o mecanismo dos cintos de segurança e dos
bancos amovíveis. Mussa, com estóica calma, pegou no lenço amarelo e começou a limpar,
alternadamente, ora a careca, ora as sandálias. Quando a hospedeira trouxe a bandeja com
rebuçados, cada um deles tirou uma mão-cheia, que guardaram até descobrirem que as outras
pessoas punham os papéis nos cinzeiros. A partir daí, empurraram os rebuçados lá para dentro e
passaram o resto da viagem a tentar extraí-los outra vez através da pequena ranhura. Fiquei
preocupado com o fígado de Omar quando o vi começar o almoço pondo manteiga na salada de
frutas. Depois de atravessarmos as fronteiras desertas do Sudão, aterrámos, quase ao fim da tarde,
na capital, a cidade de Cartum.
Não consegui dominar os meus companheiros. Em Boi não havia casas de dois andares, mas ali, em
Cartum, as casas estavam umas sobre as outras, às camadas. Até Abdullah perdeu a cabeça
quando descobriu um edifício de quatro andares. Sabia que, se perdesse de vista, por um minuto
que fosse, os meus amigos naquela cidade árabe, onde íamos passar a noite, poderia ter sarilhos.
Por outro lado, como eles não seriam capazes de se integrar com facilidade no ambiente de um hotel
moderno, resolvi ficar eu com eles numa pensão de quarta categoria, no bairro árabe mais pobre. A
recepção e os quartos ficavam no terceiro andar do edifício, muito antiquado. A cozinha e casa de
jantar no telhado. Os três ficaram maravilhados, como se se tratasse de uma casa dos contos de
fadas. Os dois irmãos subiam as escadas de maneira muito estranha. Muito circunspectos,
avançaram levantando os pés quanto podiam e com cautela, como se estivessem a trepar por uma
montanha. Foi q seu baptizo em escadas. Tanto em Boi como nas suas ilhas flutuantes, as cabanas
tinham o chão de barro. Os quartos da pensão davam para o interior, não tinham janela, mas do
tecto pendiam lâmpadas e as camas colocadas ao lado umas das outras, em fila. Os dois homens de
Boi nunca tinham visto uma cama. quando Abdullah lhes explicou que eram para dormir, atiraram se
de barriga para baixo e rastejaram debaixo delas. Depois viraram se e ficaram com os narizes a tocar
as molas das camas.
Abdullah, rindo baixinho, curvou-se e mandou que saíssem dali. Entretanto, a proprietária espreitou
debaixo do colchão e quis saber o que procuravam. Ao jantar, ficámos numa mesa pequena, onde
estavam, para cada um, um garfo e o prato já recheado de bocados de carne, tomates, batatas,
alhos-porros e feijões. Depressa perceberam e apreciaram a função do garfo! Ia espetar o meu num
bocado de carne,
que parecia saborosa, quando outro garfo a açambarcou e o meu bocado estalou na boca de Omar.
Tentei apanhar outro para mim, mas eis senão quando apareceu o garfo de Abdullah. Fui obrigado a
espetar o meu numa batata, para evitar a colisão. Acabei observando os garfos a atravessarem a
mesa de um lado ao outro, pois cada um comia do prato onde havia alguma coisa que o tentasse. Os
meus companheiros de mesa estavam habituados a comer com os dedos, de uma travessa comum,
colocada ao centro da mesa. Para eles o garfo foi, sem dúvida, um óptimo prolongamento para
alcançar a comida, durante uma refeição em que os petiscos não se encontravam ao centro,
acessíveis a todos.
Fui para a cama com alguma fome. Na única casa de banho do hotel ecoavam exclamações de
espanto e surpresa. Abdullah pediu moedas sudanesas para o caso de alguma senhora lhe ir bater à
porta do quarto. No dia seguinte acordou me ao amanhecer. Ouvira dizer que no mundo as horas
variam de lugar para lugar. Queria saber se eu combinara com o piloto a hora da partida para o
Egipto, pois receava que ele deixasse o Sudão sem nós.
No campo de aviação deu-se uma catástrofe. Ninguém reparou que os meus companheiros de
Chade não tinham vistos para o Egipto. A Delegação de Saúde, ao verificar os papéis, descobriu que
a vacina contra a febre-amarela não era válida para mais de uma semana. Tinham entrado no Sudão
por um equívoco da Delegação, mas não sairiam sem se revacinarem. Não valia a pena discutir.
Enquanto tudo isto se passava, descobri uma passagem na vedação. Abdullah percebeu o sinal que
lhe fiz com o dedo e, com os outros dois, saiu da bicha. Contornaram o edifício e o avião descolou
levando os quatro a bordo. Os dois habitantes de Boi sentaram-se, ajustando os cintos, como se
tivessem a experiência de quem já percorreu o mundo. Sorriram à hospedeira, que era bonita, e cada
um deles tirou só um rebuçado da bandeja.
Cairo. Logo à saída do avião esperava-nos uma delegação, chefiada pelo embaixador da Noruega. O
representante do Ministério do Turismo cumprimentou-nos, sem se referir aos vistos, nem à febreamarela. O motorista do embaixador, muito bem fardado, fez uma vénia diante de Abdullah, Omar e
Mussa, antes de os mandar entrar para o carro. Vibraram de alegria à medida que passámos por
pontes, passagens subterrâneas e edifícios de muitos andares. Uma mesquita, outra e outra. A
cidade estava cheia delas: devia ser o Paraíso. Mas, quando se aperceberam que os edifícios do
centro abrangiam blocos inteiros e atingiam uma altura descomunal, calaram-se a pouco e pouco.
Parecia um sonho. Mussa adormeceu. Omar continuou sentado, muito direito, e só pelo branco dos
olhos se percebia que, de onde em onde, lançava uma olhadela nervosa para a janela. Mas Abdullah
quis saber, de boca e olhos muito abertos, todos os pormenores sobre linhas férreas, manufactura de
automóveis, sinais néon e tipos humanos.
- Que é aquilo? - perguntou ele.
Acabávamos de sair da cidade e íamos iniciar a travessia da planície de Gizé. Já esperava a
pergunta, mas quis observar a reacção dele. Os outros caíram numa semi sonolência, mas ele
manteve se sempre atento e interessado.
- É uma pirâmide, Abdullah - expliquei.
- É um monte ou foram os homens que a fizeram?
- Fizeram-na os homens, há muitos anos.
- Estes Egípcios! Estão muito mais avançados que nós. Quantas pessoas vivem ali?
- Um homem, mas já morreu. Abdullah desatou a rir.
- Estes Egípcios, estes Egípcios!
Depois apareceram mais duas pirâmides. O próprio Abdullah começou a ficar calado. Os olhos
brilhavam de espanto. Foi à luz de archotes que percorremos as dunas de areia até ao
acampamento de Corio, que à luz do luar me lembrou a brancura de um espectro. Mal imaginavam
aqueles três homens que eram os primeiros construtores de barcos de papiro a passar junto às patas
da Esfinge desde há, talvez, milhares de anos. Nem sonhavam sequer que a areia que tinham
debaixo dos pés cobria as sepulturas dos construtores de barcos do faraó, hoje ignorados e
desaparecidos, tal como os seus conhecimentos e a sua técnica de construção. Esses
conhecimentos e essa técnica iam tornar a renascer, por via muito mais complicada e indirecta, ali
aos pés das pirâmides.
- Boa noite, Abdullah. Esta tenda é a sua. Mussa e Omar ficarão na outra do lado.
Confundidos com as impressões em que mal podiam acreditar e tantas ideias novas, olharam mais
uma vez as enormes montanhas arranha-céus do faraó. Imponentes, cobriam nos com a sua sombra
e dominavam o céu estrelado. «Um homem em cada uma e já morto», traduziu Abdullah em árabe
para Omar. Este, porém, não teve tempo de repetir a frase ao irmão em buduma. Atirou se para cima
da cama e adormeceu, saturado de experiências, inéditas para ele.
Os picos das três pirâmides brilhavam como lava incandescente de três vulcões quando, na manhã
seguinte, o Sol atirou os seus primeiros raios vermelhos sobre as tendas. Mas ainda estava escuro e
fresco quando os três homens, de túnicas compridas, saíram da tenda e se puseram de cócoras para
observarem os cumes vermelho vivos das pirâmides. Esperaram, tremendo de frio sobre a areia, que
o Sol chegasse aos seres humanos cá de baixo. Quando o Sol nasceu, ajoelharam em fila, curvando
se até ao chão, na direcção rio rei Sol Ra, que acabava de acordar. Abdullah achou que Meca devia
ficar naquela direcção. Com o aparecimento do Sol, as dunas iluminaram -se. Então, descobrimos
qualquer coisa pouco vulgar, qualquer coisa do mundo dos vivos no meio de areia e pedras inertes.
O papiro! As canas de algumas medas estavam ainda amarelo esverdearias, outras já douradas
como o próprio Sol. Abdullah pegou numa faca comprida e nós aguardámos em tensa expectativa o
veredicto rio perito, no momento decisivo do encontro entre os construtores da África central e a
matéria-prima da nascente do Nilo. Abdullah abriu uma cana com um só golpe e os outros dois
apertaram a ponta cortada e apalparam o caule.
- Kirta - murmurou Mussa.
- Ganagin - traduziu Omar para Abdullah, em árabe de Chade, e os dentes brilharam de satisfação.
- Papiro, eles dizem que é papiro autentico - explicou Abriullah em francês. Sentimos um grande
alívio. O papiro era de óptima qualidade.
Em conjunto, escolhemos um superfície lisa perto das tendas e, aí, marcámos as medidas rio barco:
quinze metros e trinta de comprimento e cinco de largura, e, com um pau, desenhámos os contornos
na areia.
- O kakay tem de ficar com este tamanho.
- Mas onde está a água?
Perguntou Mussa e Omar fez sinal com a cabeça.
- Água? - dissemos nós. - Não viram um barril de água para beber atrás da tenda cozinha?
- Onde fica o lago? Não podemos construir um barco sem pôr de molho o papiro - explicou Mussa,
olhando à sua volta para as dunas de areia, que pareciam não ter fim.
- Mas vocês disseram nos que o papiro devia estar ao sol, a secar durante três semanas, antes de se
poder utilizar - respondeu.
- Sim, pois claro. O papiro fresco parte: só depois de seco adquire a consistência necessária. Mas
depois tem de ser novamente molhado, para o podermos dobrar e dar-lhe a forma desejada disseram os três negros em coro.
Água... no deserto de areia. Os camelos tinham alguma nas corcundas e nós um barril com uma
torneira. Lá muito em baixo, no vale, corria o Nilo. Mas muito longe. Os esgotos terminavam todos lá.
A água deste Nilo modernizado certamente decomporia o papiro duas vezes mais depressa que a
água do rio no tempo dos faraós. Os homens de Boi não nos tinham prevenido deste pormenor. No
seu mundo há água por toda a parte, só água e ilhas flutuantes. O seu conceito do nosso planeta
resumia se a um único e grande lago com um deserto do comprimento do horizonte.
- Onde está o lago?
Mussa olhava para nós, desconfiado, e Omar começou a estai inquieto. Tínhamos de encontrar ali
mesmo a solução.
- Vamos buscá-la!
Não tínhamos alternativa. Não havia tempo para transferir o campo e as medas brutais de papiro. A
água do Nilo estava muito suja e só havia vantagem em evitar molhar o papiro na água do mar antes
de ser necessário. Os peritos garantiam que os tecidos das células da cana se dissolviam.
Escolhêramos aquele local para a construção por causa de tudo o que o rodeava: nas pirâmides
víamos os símbolos da antiga civilização e nas pinturas dos túmulos do deserto poderíamos conferir
pormenores, à medida que o trabalho do barco prosseguisse. Além disso, estávamos certos de que
naquele clima desértico o papiro aguentaria bem seco, como os construtores de Chade e da Etiópia
nos tinham dito.
- Abdullah, diz lhes que vamos buscar água!
De jipe, Corio e eu dirigimo-nos ao bairro árabe mais próximo. Aí, comprámos tijolos e cimento,
descobrimos um pedreiro e um motorista de camioneta que se comprometeu a levar-nos, dia sim, dia
não, doze barris cheios de água da torneira. Os nossos amigos de Chade foram às compras no
Cairo. O Egipto era suficientemente a norte para eles sentirem frio sem nada debaixo das túnicas.
Omar começou o tratamento. No dia seguinte os primeiros feixes de papiro ficaram de molho num
tanque rectangular, construído com tijolos mesmo em frente das tendas. Assim, pudemos ver a sério
o poder de flutuação do papiro. Só o peso de três homens conseguiu submergir um molho e nós
tínhamos quinhentos molhos. Quando atirámos lá para dentro um único caule com a ponta mais
grossa para baixo, disparou para o ar que nem uma seta.
Dois eruditos de olhar inteligente, faces cheias de rugas de sorrisos e barbas densas,
acompanharam, cheios de interesse, o início do nosso barco. Ambos abanavam a cabeça, sem
quererem acreditar.
Um era o conservador-chefe do Egipto, que deixava constantemente o trabalho de que estava
encarregado ali perto, no sopé da pirâmide maior. Estava a reconstruir o grande barco de madeira de
cedro do faraó Quéope. O outro era o historiador sueco Bjòrn Landstrõm, a maior autoridade mundial
em desenhos de barcos do antigo Egipto. Viera em visita de estudo, catalogar e desenhar todos e
cada um dos barcos representados nas inúmeras sepulturas do vale do Nilo. Na semana anterior,
Landstrõm declarara à imprensa que não acreditava que o barco de papiro navegasse no alto mar.
Porém, ao observar as nossas pilhas de canas de papiro e a perícia dos construtores de Chade,
sentiu que as suas convicções vacilavam e ofereceu se para ficar no Egipto e dar-nos a preciosa
ajuda dos seus conhecimentos teóricos.
A equipa de trabalho entrou em actividade. Landstrõm não sabia nada acerca de canas de papiro,
nem quanto à técnica de atar os molhos com nós de corda. Mas sabia, como ninguém mais, a
configuração que o barco deveria ter e conhecia, com toda a minúcia, pormenores que escapavam à
experiência dos negros budumas. Sabia como fazer uma popa, curvando com graciosidade para o
céu, como nos navios dos faraós, e o desenho e o sistema de colocação do mastro bípede
comportando o aparelho, a vela, a cabina e o mecanismo de direcção. Sentou-se em cima de um
molho de canas e desenhou um barco de papiro completo. Foi esse desenho, indicando as
proporções, que serviu de plano para a nossa construção.
Mussa e Omar desataram a rir, porque em Chade nunca tinham visto um barco com proa a vante e a
ré, mas meteram mãos à obra. Pegaram em quatro caules, que ataram pelas pontas com um cordel.
Depois foram introduzindo mais canas. O feixe e as cordas foram engrossando. Quando o molho, em
forma de cone, atingiu a espessura de sessenta centímetros e as cordas a grossura de um dedo
mindinho, transformaram no em cilindro apertando-o com nós de corria, sempre da mesma
espessura, distanciados entre sessenta e noventa centímetros. Nesta altura entrou Abdullah para o
grupo e o trabalho avançou a grande velocidade. Fomos ao bairro árabe recrutar mais ajudantes. O
dialecto de Chade de Abdullah facilitou-nos a tarefa.
- Bot - gritaram os egípcios. Isto é, canas! A partir daí, tudo marchou sobre rodas. Dois homens,
pendurados de duas vigas de madeira, obrigavam os molhos de papiro a mergulhar na água do
tanque. Outros dois aparavam as pontas estragadas e levavam as canas molhadas aos que
separavam os caules, um por um, para os entregarem aos homens de Chade. Estes, com força,
transformavam os caules num feixe em forma de espanador, por meio de nós de corria muito bem
esticados. Foi o primeiro passo para a construção do nosso barco. Abdullah autodesignou-se
capataz. Trabalhava e dava ordens a todos. A princípio, os ajudantes egípcios olharam desconfiados
os negros da África central. Nunca tinham visto nada tão preto, nem mesmo nos fornos dos padeiros.
Mas a autoridade de Abdullah pô-los no seu lugar, com resposta pronta e espírito aberto. Dali a
pouco os outros dois tinham, igualmente, conquistado a admiração geral, pela sua calma estóica,
sentido de humor e inteligência prática. Dois desprezíveis vigias de turbantes na cabeça e arcabuzes
velhos, um esplêndido cozinheiro e um criadito sempre sorridente, filho do Sol, contribuíram para
tornar a vida no acampamento muito agradável. À mesa da tenda que servia de messe já se falava o
inglês, o árabe, o italiano, buduma, norueguês, sueco e francês. No entanto, a tripulação
internacional da expedição ainda não estava completa.
Ao terceiro dia, deu-se o embate entre a tradição e os eruditos. O rolo de canas estava já tão
comprido que chegou a altura de o afilar na ponta de trás. Os irmãos budumas recusaram-se
terminantemente a fazê-lo. Queriam continuar sem alterar o diâmetro e terminá-lo com um corte,
como se faz às salsichas. Era assim que faziam lá no lago. Nunca tinham visto kadays com proa dos
dois lados! Com a ajuda de Abdullah, Landstrõm, Corio e eu tentámos convence-los de que este
barco teria um desenho especial, como o dos antigos egípcios. Mussa, normalmente bem disposto,
deu costas e foi se deitar. Omar tentou fazer-nos compreender que, embora fosse possível começar
um rolo de papiro com quatro canas e depois engrossa-lo gradualmente, não era viável estreitar as
pontas tão espessas até terminarem outra vez por quatro canas. Dito isto, desapareceu pela areia
fora e nós ficámos, inconsoláveis, com os ajudantes egípcios.
Na manhã seguinte, antes do nascer do Sol, os dois irmãos escaparam se para o local onde estava o
barco e, quando nos levantámos, já tinham feito o que queriam. Corremos para lá, na esperança de
chegarmos a tempo. Estupefactos, olhámos para o barco e uns para os outros. No desenho de
Landstrõm, sete rolos independentes terminavam em curva à frente e atrás e depois eram unidos,
para atingirem a largura que se pretendia dar ao barco. Porém, os dois irmãos já tinham começado o
segundo rolo, tecendo-o por dentro e juntamente com o primeiro, de tal modo que se transformaram
num todo compacto e firme. As cordas estavam tecidas em cadeias paralelas a todo o comprimento
e um punhado de canas de um dos rolos encaixava, em diagonal, nos nós de corda do rolo seguinte.
Era impossível separa-los. Perante aquela técnica, inegavelmente superior a tudo quanto não
iniciados tinham sido capazes de imaginar, os mestres capitularam. Milhares de anos de prática
deitaram a terra as teorias de uma única geração. Resultado: diante de nós começou a crescer uma
amálgama compacta de papiro flutuante, das quais só a primeira tinha uma secção transversal de lua
cheia, enquanto os rolos do lado oposto foram, progressivamente, sofrendo secções transversais de
quarto minguante e quarto crescente.
No sétimo dia, uma tempestade de areia varreu o Sara. A areia batia nas tendas como chuva de
pedra e as pirâmides desapareceram da nossa vista. Com os olhos a arder e os dentes a triturar
areia, fomos obrigados a martelar os pregos das tendas que se iam soltando e a tapar os molhos de
papiro com uma tela alcatroada, porque as canas começaram a voar em direcção às pirâmides. As
canas da proa dos dois rolos interrompidos, espetadas como os pêlos de ouriço-cacheiro,
despedaçaram-se com a tempestade. A secção que estava pronta manteve-se firme como uma viga
de madeira. Durante três dias, a areia espalhou-se pelo acampamento, qual granizo quente, sempre
num crescendo. No quarto dia, diminuiu muito, mas retomámos o trabalho debaixo de chuviscos.
Enchemos cântaros de água no reservatório e tornámos a molhar a proa pontiaguda, que naquela
fase já se compunha de três cilindros. Depois de suficientemente maleável, os homens deram-lhe a
forma curva, elegante e aprumada dos barcos dos faraós. Mas na outra ponta os feixes continuavam
entesados quais penachos de vassouras. Mussa e Omar não se rendiam. Resolvemos proporcionarlhes uma aventura. Levámo-los ao Cairo, a um grande armazém, onde subimos e descemos escadas
rolantes e os deixámos escolher um presente cada um. Radiantes, optaram por relógios de pulso.
Abdullah compro meteu-se a ensiná-los a ver as horas. Nessa tarde, Mussa, irradiando felicidade,
declarou ser possível desbastar todo o papiro necessário até se obter uma proa afiada, curvando
para cima. Depois, poder-se-ia embutir mais canas, como remedeio, para lhe dar a forma comum no
Egipto, que nós pretendíamos. Sentimos grande alívio. À medida que a popa ia curvando para o ar, a
construção - no seu conjunto - ia-se assemelhando cada vez mais às embarcações do antigo Egipto.
Diante daquele barco tão pitoresco que parecia uma lua em quarto crescente contra as pirâmides do
sol, o entusiasmo, quer de leigos, quer de entendidos, era cada vez maior. Mal imaginávamos que
aquele complemento improvisado na popa viria a ser o calcanhar de Aquiles do barco de papiro.
Aos poucos, quatro feixes foram unidos a cada uma das pontas do cilindro central mais comprido. A
seguir, uma segunda camada, de nove rolos, foi fixa e sobreposta à primeira. Além disto, de cada
lado do convés, foi colocado mais um feixe suplementar, com o objectivo de servir de baluarte de
protecção. Os três rolos centrais ficaram mais grossos, oito polegadas abaixo dos outros, como uma
espécie de quilha larga.
Em Abril o sol brilhava no Sara com uma intensidade só possível de avaliar em termos do ritmo de
trabalho e consumo de água. A imprensa local e a televisão começaram a falar do navio que jazia no
vale, atrás das pirâmides. Muitos confundiam o barco de papiro com o navio de cedro do faraó
Quéope, que Ahmed Joseph estava a restaurar, a alguns metros dali. Intérpretes e guias turísticos,
desempregados devido à crise no Médio Oriente, aproveitavam para levar os visitantes a ver um
genuíno barco de papiro egípcio. Assim, o barco tornou-se a maior atracção local para turistas de
todos os continentes, fotógrafos e jornalistas, que vinham em busca de reportagens sobre a guerra.
Quando as barreiras de corda desapareceram, os guardas viram se em apuros para conter a
multidão, que se queria aproximar do barco para o fotografar, sem pensar nas canas secas que
despedaçavam com os pés. Os camelos debicavam o barco. Bocados de papiro, ou canas inteiras com ou sem autógrafos - desapareciam em todas as direcções. Abdullah distraía se de tal maneira a
atender as pessoas que lhe pediam um autógrafo que abrandou a vigilância do trabalho. Mussa e
Omar, com os rolos de corda entre os dedos, flartavam com beldades da Nigéria, Rússia ou Japão.
Experimentámos trabalhar à noite, com lanternas e archotes, mas o perigo iminente de fogo,
provocado pelas faúlhas e pela parafina, obrigou-nos a desistir. Chegámos à conclusão de que, na
verdade, tínhamos construído um barco de papel. Um fósforo bastaria para, em poucos segundos,
tudo se transformar num mar de chamas e se reduzir a cinzas. Ficávamos em pânico cada vez que
um turista a fumar se aproximava da parede do barco. Colocámos por toda a parte grandes cartazes
em inglês e em árabe dizendo: «Expressamente proibido fumar» e recomendámos ao vigia que
apontasse para lá antes de as pessoas entrarem. Pouco depois, fomos encontrar o velhote sentado
debaixo da proa do barco, com a carabina ao lado e a fumar um cigarro feito à mão. Apontei, furioso,
para o cartaz que estava mesmo por cima da cabeça dele, mas, sem se impressionar, sorriu e, por
sinais, explicou que não sabia ler.
Foi um canastreiro antigo e experiente do Cairo quem fez a cabina. O chão, as paredes e o tecto
foram unidos entre si com vime, para formarem uma peça única. Aquela cabina de verga, onde nós
iríamos viver durante a viagem, tinha três metros e meio de comprido e dois e meio de largura. O
tecto era curvo. Na parte mais alta podíamos estar de pé com a cabeça um pouco dobrada. A porta
de entrada ficava a meio da parede mais comprida e media noventa centímetros quadrados. O tecto
e as paredes mais compridas prosseguiam noventa centímetros para além de uma das paredes mais
pequenas, formando uma alcova para armazenagem dos cestos de provisões.
Enquanto o trabalho se ia efectuando, fizemos várias surtidas às antigas sepulturas, para observar
com minúcia os frescos das pinturas. Os grandes barcos de madeira tinham sempre um cabo grosso
a todo o comprimento, bastante acima do convés. Era suportado por dois mastros em forquilha e
percorria o barco de proa à popa. Aquele cabo bem esticado mantinha as extremidades do barco
retesadas e evitava que se partisse a meio comprimento, no caso de se deformar a vante ou a ré. Os
barcos de papiro eram muito mais flexíveis no sentido do comprimento; por isso não tinham aquele
cabo. Mas tinham, por outro lado, um cabo curto em diagonal, que partia do interior da curva da popa
para o convés de ré. A popa fazia lembrar uma harpa com uma só corda. Aquele cabo foi vital mais
tarde. Passei horas a ponderar a sua função, convencido de que teria um objectivo prático, embora
os mestres e os homens de Chade pensassem que servia apenas para manter a popa em caracol.
Nisso estávamos de acordo. Mas porquê aquela rotação interior? Por uma questão de estética,
diziam todos. Nenhum de nós descobriu motivo mais satisfatório, mas, justamente por isso,
entendemos que devíamos ser fiéis ás pinturas antigas. O cabo da popa manteve-se durante alguns
dias, mas uma bela manhã desapareceu. Os nossos amigos de Chade tiraram no. Embaraçava-lhes
o trabalho e achavam que já não era necessário, porque a curva mantinha-se sozinha. Pedimos-lhes
que atassem a corda novamente, mas responderam com um argumento lógico: se a popa
começasse a endireitar, nós podíamos tornar a atá-la, em caso de necessidade. Mas naquele
momento não era o caso.
Enquanto os barcos de madeira apresentavam o enorme cabo esticado entre dois mastros em
forquilha, as pinturas e os relevos dos barcos de papiro mostravam um cabo grosso retorcido
sobreposto à orla do convés, a todo o comprimento, para fixar o barco, aumentar a sua rigidez e
servir de suporte para os estais do mastro, que, como é óbvio, não podiam ser amarrados às canas.
Percorremos câmaras subterrâneas, corredores e colunatas. As pinturas de parede com três a quatro
mil anos ajudaram-nos a reviver a vida daqueles tempos sobre a água. Em baixos-relevos,
protegidos por cores inalteradas, os artistas deixaram a reprodução fiel e detalhada do seu tipo de
vida. Tivemos de ser perspicazes para perscrutar a vida, hoje totalmente desconhecida, dos
marinheiros de outrora. Nenhum ser vivo actual experimentara alguma vez aquilo em que nós
estávamos empenhados. Por vezes tivemos dificuldade em distinguir os barcos de madeira dos de
papiro, pois os primeiros tinham um formato muito semelhante aos segundos.
No entanto, nas pinturas apareciam trabalhadores a colher canas nos pântanos de papiro,
transportando os molhos às costas, até aos construtores, que as atavam para fazer a embarcação
marítima com rolos de corda que pequenos aprendizes lhes iam entregando.
A bordo dos barcos de papiro estavam representados cestos cheios de frutos, pão e outros bolos.
Havia também cântaros, sacos, caixas, gaiolas de pássaros, macacos, bezerros vivos, pescadores,
caçadores, negociantes, guerreiros e personagens da realeza. Ora apareciam cortejos fúnebres com
os seus deuses e homens-pássaros, ora pescadores nus trabalhando com as redes, com anzol e
linha ou fazendo armadilhas para peixes, ora flotilhas de barcos de papiro em formatura para
batalhas, ora guerreiros que arpoavam os hipopótamos e caçadores de pássaros que procuravam
novas espécies entre as canas. Viam-se mulheres sentadas em cima de cargas, alimentando os
filhos. Até se via o faraó, ao lado da rainha, sentado no trono diante de uma mesa coberta de
especiarias. Atrás, um criado enchia-lhe a taça. Alguns baixos-relevos representavam o faraó
simbolicamente, como um gigante escarranchado sobre o barco; noutros viam-se nitidamente vinte
pares de remadores em barcos de papiro com o mastro bifurcado. O aparelho era tão grande que
seis marinheiros trepavam pelos enfrechates e pelos estais e deslizavam pelas adriças. Todo um
sistema de navegação avançado que testemunhava, sem dar lugar a controvérsias, o
desenvolvimento atingido da arte de navegação de há cinco anos. Os barcos de papiro mais bonitos
têm as pontas enfeitadas com cabeças de animais; as vigas da cabina são muito bem entalhadas e
pintadas; a coberta para sol, os remos de direcção e outros acessórios marítimos são ao nível do
antigo estilo egípcio, de apurado gosto arquitectónico e requinte na escolha dos objectos de uso
diário.
No tempo dos faraós, a pedra era tão abundante que foi possível construir pirâmides descomunais.
Mas também havia muito papiro. Poderiam ter mandado fazer barcos de canas do tamanho de ilhas
flutuantes. O barco que estávamos a construir era uma modesta quinta parte do comprimento da
Esfinge.
Sentimo-nos minúsculos quando saímos do mundo das múmias e nos encontrámos entre as patas
daquele monstro de pedra. Fez nos compreender as estruturas incomensuráveis que homens de
outras gerações poderiam ter feito com canas. O tempo devora o papiro, mas a pedra não. Se nos
guiássemos unicamente pelas pinturas das paredes daquele mundo subterrâneo, ninguém da nossa
era acreditaria que uma esfinge e pirâmides de dimensões super humanas poderiam ter sido
construídas milhares de anos antes de Colombo. Embora nós tenhamos a tendência para nos
considerarmos a geração que conseguiu despir a pele de animal, as pirâmides lá estão a lembrarnos que é preciso ser prudente nesse campo. Não temos o direito de subestimar a inteligência dos
outros só porque vieram a este mundo antes de nós. Nós estamos a colher o fruto do seu trabalho.
Eles erraram pelo mundo levando consigo os mesmos sentidos e as mesmas inclinações. As
relíquias que nos deixaram proclamam que em inteligência, imaginação, espírito inventivo, gosto,
organização, curiosidade, dinamismo, aspirações e tantos outros impulsos que levam o homem a
actuar bem ou mal, nós e os homens de outrora, temos muitas características em comum e poucas
que nos separem. Só o calendário e a tecnologia que fomos desenvolvendo em conjunto revelam o
decorrer de cinco mil anos.
Quando, de um e de outro lado do convés, a amurada começou a tomar forma, parti para Marrocos.
Fui preparar a chegada do barco e ultimar os preparativos para a nossa saída do porto de Safi, onde
nunca nenhum de nós tinha estado. Pouco depois do meu regresso ao Egipto, terminou se o barco.
Gastaram-se duzentas e oitenta mil canas. Sobraram seis.
No dia 28 de Abril, aniversário da largada da expedição da Kon-Tiki, vinte e dois anos antes, o barco
de papiro ficou pronto a ser rebocado. O terreno atrás das pirâmides estava repleto de gente.
O ministro do Turismo mandou fazer um estrado ao ar livre, com cadeiras, onde se sentaram o
governador de Gize, os ministros e embaixadores estrangeiros. Assente em cepos redondos, no
meio da areia e em frente das pirâmides, de peito inchado, pescoço erguido e cauda encaracolada, o
barco de papiro parecia uma galinha dourada no choco. Construímo-lo sobre um trenó de madeira e
estendemos amarras compridas pela areia fora. Alguns homens fizeram um plano inclinado com os
postes do telégrafo, para o trenó ser rebocado através das dunas. Para nos ajudar nesta tarefa, o
presidente do Instituto do Papiro do Cairo levou-me ao Gimno-Instituto Egípcio. Convencemos o
director de que podíamos proporcionar aos seus alunos um óptimo treino de reboque por meio de
cordas, nas areias de Gizé. Nós encarregávamo-nos do transporte. Quantos homens poderia a
escola mandar?
A escola mandou quinhentos estudantes, de calções brancos, que o instrutor distribuiu em filas ao
lado das cordas. Dois homens, dentro do barco, davam orientações e um, em frente do trenó, fazia
sinais de parar ou avançar, com uma batuta. A cena tinha qualquer coisa de bíblico. Talvez porque
aquele barco de desenho tão antigo, feito à mão, cabina de verga sobre o convés e as pirâmides ao
fundo, nos recordasse a arca de Noé abandonada pelos animais num mundo completamente
devastado. Ou porque sabíamos que Moisés estivera ali, nas pirâmides, depois de ter começado os
seus dias a deslizar pelas margens do Nilo num cesto de papiro. O certo é que, quando o homem do
trenó levantou a batuta, quinhentos jovens egípcios atiraram-se para as pistas e pelo deserto
ecoaram gritos ritmados. Quando a madeira começou a ranger e o barco de papiro deslizou
lentamente diante do pano de fundo constituído pelas pirâmides, imóveis nos seus lugares de
sempre, muitas pessoas presentes tremeram com a sensação de andarem fantasmas à solta sob o
sol escaldante.
«Ola - ho - o - o - op!» ouvia se gritar em tom cadenciado. A madeira chiou e queixou se; a pedra
desgastou se; o sol continuou a brilhar sobre as pirâmides e sobre os músculos de milhares de
braços e de pernas, que se moveram ao ritmo da mesma batuta, para provarem que os homens são
capazes de remover montanhas sem a ajuda de máquinas - desde que todos puxem para o mesmo
lado e ao mesmo tempo.
O vale do deserto ficou estranho e abandonado, só com as tendas e as pirâmides, quando o barco,
que fora o seu foco central, desapareceu em direcção à cidade Sara. Aí o suporte de madeira da
arca de Noé foi içado para um grande atrelado, utilizado na construção de Asivan Dam.
Agradecemos aos quinhentos ginastas o trabalho extraordinário que tinham realizado e, logo a
seguir, o mais antigo e o mais moderno meio de transporte do Egipto iniciaram a sua viagem pela
estrada de asfalto, ladeada por praias do Nilo cobertas de palmeiras, até à sua foz, em Alexandria.
Chegados lá, depressa nos apercebemos de que o frágil barco do deserto começava a adquirir
vitalidade e rigidez à medida que absorvia a humidade do ar do mar. O barco-múmia despertou para
uma vida nova no seu primeiro encontro com o oceano.
CAPÍTULO VII --- Em pleno Atlântico
Safi. Aroma fresco do Atlântico salgado. As vagas batiam contra a costa escarpada e cascatas
brancas atingiam a antiga fortificação, que o cunhado de Vasco da Gama construiu quando os
Portugueses, de acordo com o chefe berber Yahia ben Tafouft, orientaram a defesa do porto em
1508. Entre as paredes da fortaleza medieval e o castelo português com quatrocentos e cinquenta
anos, trabalha actualmente uma activa comunidade de árabes e de berberes. Pacificamente e em
conjunto, dedicam-se à maior pescaria mundial de sardinha. No porto proliferam barquinhos de
pesca de todas as cores, e grandes transatlânticos entram e saem para receberam sulfato ou
efectuarem a troca de mercadorias com a cidade interior mais importante de Marrocos, Marráqueche.
Estávamos sentados no jardim das palmeiras do paxá, mesmo no alto da cidade. À nossa frente, o
mar estendia-se desde o porto de abrigo até ao horizonte. Milhares de anos antes dos Portugueses,
já os Berberes se serviam do porto de Safi e antes deles os Fenícios, que negociavam ao longo
daquela costa até muito mais para além do actual reino de Marrocos. Mesmo abaixo de Safi,
estabeleceram um importante posto avançado na ilhota de Mogador, onde os arqueólogos
constantemente descobrem relíquias fenícias. Muito antes da era cristã, já marinheiros, comerciantes
e colonos efectuavam trocas de mercadorias entre as costas interiores do Mediterrâneo e estes
portos mais antigos, situados no ponto mais ocidental da costa africana do Atlântico, onde a corrente
das Canárias arrasta tudo o que apanha para o outro lado do oceano.
Quem passava o estreito de Gibraltar, as antigas Colunas de Hércules, encontrava abrigo ali, se,
como os Fenícios, se aventurava por aquelas falésias marroquinas ou pelas praias douradas abaixo.
Os barcos de papiro também podiam ter navegado até Safi, avançando a pequenos saltos pela costa
recortada de África. Ninguém hoje duvida de que aqueles barcos mantêm o poder de flutuação
enquanto se aguentam próximo da costa, onde podem secar de tempos a tempos.
Mas não se sabia ao certo por quanto tempo flutuariam, uma vez longe da costa, a navegar no alto
mar.
Sabe-se, sim, que o barco navegava pela costa do Atlântico muito para lá de Gibraltar. Conseguiu
sobreviver num e noutro lado do mesmo estreito. Ainda é utilizado pelos pescadores que vivem nas
impressionantes e misteriosas ruínas de Nuraghi, na costa ocidental da Sardenha. A versão do
nosso barco não foi certamente a primeira que o povo de Marrocos conheceu. O mesmo tipo de
barco sobreviveu, também, na foz do rio Lucus, na costa do Atlântico entre Gibraltar e Safi, onde
servia para a pesca e para o transporte, até que, no início deste século, os Portugueses o foram
substituindo por barcos de madeira. Em 1913, os componentes de uma expedição espanhola
descobriram que a antiga tribo El Jolot, daquela área, ainda construía barcos de cana que
navegavam com remos e vela e tinham capacidade para cinco ou seis pescadores. Declaravam
expressamente serem iguais aos dos antigos egípcios e chamavam a atenção para o facto de ainda
existirem barcos com aquele mesmo desenho em Marrocos, no Alto Nilo, em Chade e no lago
Titicaca, na América do Sul. Desafiavam os etnólogos a descobrirem as possíveis ligações havidas
entre os construtores de barcos, de lugares tão afastados entre si. Sublinhavam que, em sua opinião,
os chamados madia da costa de Marrocos eram os barcos de cana mais resistentes e de construção
mais perfeita (1).
(1) A. Cabrera: «Balsa de juncos en el Bajo Lucus», Revista do Instituto de Antropología de la
Universidad Nacional de Tucumún, vol. 1, n.° 2. Tucumán, 1938.
- Você quer ver um barco de canas? - perguntou o chefe daquela zona costeira, um tanto ofendido
por eu querer ir até ao rio Lucus. - Então chegou a Marrocos com uma geração de atraso. Só temos
barcos de plástico para lhe mostrar!
Uma populaça de diferentes tipos raciais, vestindo túnicas coloridas, apinhou-se para ver o barco
construído pelos nossos amigos de Chade atravessar as ruas de Safi sobre rodas. Ia ser lançado à
água, para junto dos barcos de pesca encalhados no porto. Abdullah tentou, a todo o custo, explicar
a nossa intenção aos berberes e árabes, no seu dialecto de Chade. Mussa e Omar apanharam o
avião do Cairo para Fort Lamy, via Cartum. Levavam as malas pesadas e proventos para comprarem
mulheres e gado quando chegassem a Boi. À partida, Mussa declarou, em segredo, que encontrara
um sítio secreto no fato novo, onde escondeu todo o dinheiro, para que ninguém lho tirasse. Todo
ufano, virou a lapela do casaco e mostrou-me a comum algibeira interior. Omar acabou o
tratamento. Ficou cheio de inveja de Abdullah, que, por saber o francês e ter boa constituição física,
foi escolhido para ir no kaday.
Abdullah não queria voltar a Chade enquanto as guerrilhas não acabassem. Estava decidido a ir para
o mar connosco, mesmo sem a autorização do presidente Tombalbaye e do seu Conselho de
Ministros. Ele e Corio acompanharam o barco de papiro num cargueiro sueco, desde o Egipto até
Tânger, em Marrocos. Mal nos despedimos deles em Alexandria, o capitão recebeu ordens para
mudar o rumo para Port Said, no canal de Suez, para recolher um carregamento de cebolas. Aí,
Abdullah teve a oportunidade de ver como o homem branco se serve daquilo que aprende à sua
própria custa. Acordou ouvindo troar os canhões no Canal, enquanto mísseis explodiam ao acaso
sobre as casas, em ruínas, do bairro árabe. Espantado, mas sem medo, continuou a guardar o barco
de papiro quando viu qualquer coisa passar sobre o barco e ir explodir no porto de abrigo. Os
trabalhadores da doca desapareceram e o barco ficou ali retido vários dias. Mas, por fim, chegou a
salvo ao ponto donde saía a expedição em Marrocos e Abdullah entreteve-se a limpá-lo. Sofreu
algumas sacudidelas durante a viagem do Cairo para Alexandria e de Tânger para Safi. Parecia um
pouco mais largo e aplanado. As pontas, a ré e a vante, estavam um tanto batidas e queimadas das
pancadas sofridas ao passar pelas pontes e pelos cabos de alta tensão, de terra. Mas, de dia para
dia, ao contacto com o ar húmido, as canas ganhavam flexibilidade e rigidez.
Chegou o dia de o barco ser lançado à água. Foi em 17 de Maio, Dia da Nacionalidade na Noruega.
O paxá determinou que o lançamento se faria pela mesma rampa por onde desciam os barquinhos
de pesca de Safi. Como representante do rei, dispunha de autoridade quase ilimitada, que aproveitou
para ajudar a expedição. No dia em que lhe apresentei a carta do seu amigo marroquino, embaixador
nas Nações Unidas, Benhima, abriu nos com simpatia as portas de sua casa e a amizade nasceu
entre nós. O paxá Taieb Amara e sua mulher, Aicha, eram pessoas excepcionais. Ambos activos,
ambos atentos e interessados em problemas sociais. Dedicara toda a sua actividade a criar escolas
modernas, infantários, casas para trabalhadores e para pescadores, livrarias, etc. Conseguira fazer
renascer a actividade no antigo porto. Madame Aicha era uma das vinte senhoras que faziam parte
do conselho do rei Hassan.
Apareceu de vestido comprido, em estilo berber, com uma bilha de cerâmica colorida na mão.
Deixámos os pufes de pele de carneiro e partimos para o porto.
- Já que sou eu, uma berbere, quem vai baptizar o barco, penso que leite de cabra é o mais indicado
- disse para Ivone, mostrando o líquido branco dentro da bilha. - Em Marrocos, o leite de cabra é o
mais antigo símbolo de boa hospitalidade e de votos de felicidades.
No porto, a multidão apinhava-se. O barco estava enfeitado com bandeiras de todos os países
participantes, que flutuavam ao vento. Aicha partiu a linda bilha em mil bocados e o leite e os
bocados de cerâmica espalharam se pelo papiro e pelos convidados.
- Eu te baptizo com o nome de Ra, em honra do rei-Sol. Correntes e rodas dentadas começaram
imediatamente a chiar. A
multidão recuou. Enquanto o barco deslizava pela rampa, troquei o olhar com o patrono da
expedição, o embaixador Anker, que manteve o sorriso, apesar das manchas brancas de leite no fato
escuro. Ele e a mulher vieram do Cairo assistir ao bota-fora. Devemos ter pensado os dois o mesmo:
«Esperemos que os maiores obstáculos já tenham ficado para trás!» Mas outros pensavam,
certamente, o contrário. Quando a proa tocou a superfície da água, um fotógrafo de olhos
esbugalhados curvou-se e perguntou-me:
- Que diria, se agora fosse direitinho ao fundo?
Não foi preciso responder. Ra já estava a flutuar. O trenó de madeira afundou-se sob o peso do
suporte em ferro a que estava fixo, mas o Ra soltou-se e ficou à tona de água como um ganso gordo,
espalhando pedaços de papiro e aparas de madeira que davam a ideia de uma ninhada de
gansinhos a seguir-lhe a esteira. Um suspiro de alívio e admiração veio da populaça em terra. Alguns
esperavam vê-lo afundar-se. A maior parte tinha a certeza de que ia inclinar, pois nunca tinha sido
ensaiado e um lado estava um pouco mais curto que o outro. Imperfeições inevitáveis do trabalho à
mão: o lado de Mussa ficou trinta centímetros mais comprido que o de Omar. Mas o balanço era
perfeito e muitas pessoas saltaram para bordo. A única parte que submergia eram os três rolos
centrais, de vinte e cinco centímetros de profundidade, que constituíam a quilha, de um metro e meio
de comprimento. Tudo o resto se mantinha à superfície como um barco de borracha.
Um rebocador puxou o barco até uma grande barcaça, evitando assim que as águas da maré
retalhassem o papiro contra o molhe de pedra. Ali estivemos uma semana, para que as canas abaixo
da linha de água absorvessem o máximo enquanto armámos o barco para sair para o mar. Durante
essa semana os vários membros da expedição encontraram-se pela primeira vez. Não nos faltariam
oportunidades para dentro daquele cesto de verga, que iria ser a nossa casa durante as semanas
seguintes, contarmos a história da nossa vida.
Norman Baker, dos Estados Unidos, era o único a bordo que tinha conhecimentos profundos de
navegação. Nomeámo-lo navegador e radioperador da expedição. Temperamento íntegro e digno de
toda a confiança, sentou-se à entrada da cabina a estudar o material, para passar em revista os mais
pequenos pormenores. O meu encontro prévio com Norman fora muito rápido. Uma vez, quando me
encontrava no Taiti, numa traineira da Gronelândia que aluguei para ir até à ilha da Páscoa,
apareceu a bordo com o seu ar simples e calmo. Norman chegara há pouco ao Taiti, numa pequena
chalupa, onde ele, como navegador, e um biólogo americano fizeram duas mil milhas desde o Havai.
Sabia náutica a sério. Era comandante da marinha americana e instrutor de oceanografia na Escola
Naval de Nova Iorque. Na vida civil, era empreiteiro de arranha-céus.
- Não tem, de facto, experiência de mar? - perguntou ele, céptico, a Yuri, que, de cara redonda e
bem disposta, se sentou à porta da cabina com um aparelho de respiração entre os dedos.
Yuri Alexandrovich Senkevich, de nacionalidade russa, fora escolhido para médico de bordo. Riu com
à-vontade.
- Fiz uma viagem até ao Antárctico, de ida e volta, num navio soviético - respondeu Yuri, e começou
a falar das raparigas de Manila. Mas a Norman interessava muito mais saber se, na realidade, ele
passara um ano no lugar mais frio do mundo. Yuri respondeu que sim. Durante um ano
acompanhara, como médico, os componentes do posto de investigação russo de Vostok, cerca de
três mil metros acima do nível do mar, exactamente no ponto mais gelado do Pólo Sul, onde a
temperatura desce a 100"F. Yuri era o único do grupo que eu nunca tinha visto. Um e outro
passámos por uns momentos de expectativa quando o avião aterrou no Cairo. Escrevi ao director da
Academia das Ciências Russa, presidente Keldysh, erudito de inteligência invulgar e nada
presumido, que superintendia em todos os trabalhos científicos da União Soviética, desde os
sputniks até à arqueologia. Lembrei lhe que uma vez me perguntara porque é que nunca escolhera
russos para as minhas expedições. Era chegada a oportunidade. Precisava de um russo e de um
médico, talvez me pudesse recomendar alguém. As minhas condições eram: saber outra língua além
do russo e ter o sentido do humor. Os Russos tomaram o último aspecto muito a peito. Yuri, antes de
sair do avião com os presentes e o fornecimento de remédios, bebeu um vodka, com receio de não
se mostrar suficientemente bem disposto. Mas logo me apercebi de que ele correspondia aos
requisitos. Sabia o mínimo de inglês, mas chegava para nunca perdermos uma piada. Filho de
médico, nascido na Mongólia, Yuri tinha muito de asiático. Foi escolhido entre os cientistas mais
novos do Ministério da Saúde da União Soviética para se especializar nos problemas criados aos
astronautas pela aceleração e pelo vácuo. Depois de inspeccionar a cabina de bambu onde íamos
acelerar pelo mar fora, fez uma série de comentários jocosos, todos a favor dos astronautas.
O italiano, Carlo Mauri, também recém-conhecido, era o encarregado das filmagens. Viera substituir
um amigo meu de Roma, produtor de filmes e um dos melhores homens-rã de Itália, que havia pouco
tempo efectuara as filmagens do Andrea Doria no fundo do Atlântico. Quando Abdullah foi preso e eu
desapareci para o interior da África, no preciso momento em que íamos iniciar a construção do
barco, perdeu a fé no nosso projecto e propôs Carlo Mauri para o substituir. De barba ruiva e olhos
azuis, Carlo era outro que nada sabia de navegação. Guia de montanhas por profissão, era o mais
notável alpinista da Itália. Percorreu todos os continentes como chefe ou simples participante de
catorze expedições internacionais de montanhismo. Conhecia igualmente bem os piores precipícios
dos Himalaias e dos Andes, como os picos mais íngremes da África, Nova Guiné ou Gronelândia.
Uma queda nos Alpes provocou lhe fractura grave numa perna. Viu-se obrigado a deixar de ensinar
esqui, mas, como alpinista, estava cada vez mais activo. Carlo estava no Pólo Sul quando ouviu falar
no projecto sobre o barco de papiro. Antes disso estivera a filmar ursos polares nos canais gelados
do Pólo Norte. Saturado de frio, agradou-lhe a ideia de um lugar quente e bons banhos no equador.
À décima primeira hora, quase íamos perdendo o nosso elemento mexicano. O meu amigo Ramon,
que me acompanhou na visita aos índios seris, teve de ser hospitalizado para uma operação de
urgência, no mesmo dia em que o barco de papiro saiu do porto de Alexandria. Esta notícia trágica
chegou no meio de uma conferência de imprensa, mas ninguém deu por ela, até que um jornalista
pediu a lista dos participantes. Sentado na primeira fila, de papel na mão, o nosso embaixador, em
geral muito sorridente, ficou imperturbável.
- Do México... - comecei eu, quando uns dedos nervosos me passaram o telegrama. Senti uma
chicotada. Se o Ramon se curasse, tudo o resto se manteria de pé. Mas como acabar a frase? Entre
os jornalistas cresceu a expectativa.
- Do México... Dr. Santiago Genovês!
A conferência acabou. Logo a seguir, dois telegramas seguiram para o México. Um, para Ramon, no
hospital; outro para o Dr. Genovês, o antropólogo mexicano que dissera, num semigracejo, que, com
uma semana de antecedência, aceitaria o convite. Pois teria uma semana, nem mais, nem menos. E
aceitou. Dotado de temperamento extraordinariamente activo, ainda teve tempo para uma paragem
em Barcelona, onde recebeu o Prémio da Paz para 1969, do papa João XXIII, como recompensa
pela campanha contra a guerra e a agressão, através do livro Pax?, que naquela altura se estava a
adaptar para poder ser filmado. De Espanha, chegou a Marrocos, mesmo a tempo de orientar o
transporte do barco, por terra, desde Tânger até Safi. Dali em diante, ia ser contramestre da
expedição. Entreteve-se a empilhar os cântaros egípcios no convés de cana, cujo fundo era muito
desigual. Se não estivessem muito bem encostados uns aos outros, almofadados com fragmentos de
canas e atados com cordas, desequilibravam e partiam-se. Cascas de coco serviram de funis.
Tínhamos mandado fazer cento e sessenta ânforas, iguais aos cântaros egípcios antigos que
víramos no museu do Cairo. Santiago tratou delas com a mesma solicitude com que tratava os
crânios dos antigos índios na Universidade do México. Numerou e catalogou as ânforas, os cestos e
sacos de pele de cabra, com a perícia do editor experiente do Livro do Ano de Antropologia Física
Internacional. Eu tivera alguns encontros fortuitos com Santiago durante congressos científicos em
vários países. Fugiu de Espanha durante a Guerra Civil, mas, terminada esta, tornei a vê-lo lá e,
ultimamente, no México, onde era professor de investigação na Universidade do México, sobre as
possíveis origens comuns das tribos dos índios da América. Também não tinha prática de
marinheiro. Aquele cientista musculoso e de estatura pequena tinha um particularismo que o
distinguia dos outros eruditos meus conhecidos. Fora, em tempos, jogador de futebol profissional.
Abdullah Djibrine, habitante do deserto, nascido em Chade, que nem sequer descobrira ainda que o
mar é salgado, sabia menos de marinhagem que Yuri, Carlo e Santiago. Ia tomar parte na expedição
como perito em papiro. Talvez fosse, de todos os do grupo, aquele cujo temperamento eu conhecia
melhor. Para isso concorreram duas viagens a Chade e as sete semanas que passámos juntos atrás
das pirâmides. Com muitas possibilidades, de raciocínio rápido, mas acautelado contra tudo e contra
todos, como uma gazela, nem se conhecia a si próprio. Através das histórias um tanto incríveis que
ele contou, com algum exagero, sobre as viagens a Paris e ao Canadá, fiquei a saber que nascera
numa pequena aldeia perto dos pântanos de Chade. Quando era ainda muito pequeno, os mais
velhos da tribo tiraram-no à mãe, à força, para lhe fazerem ao corte que tinha na testa e no nariz.
Além disto, disse apenas que ganhava a vida como carpinteiro e andara com uma senhora. Como
bom maometano, tinha direito a várias mulheres, por cujo sustento eu tive de me encarregar. Todos
os meses surgiam problemas ao efectuar a transacção do dinheiro que enviava para a mulher e três
filhos e para uma segunda, com quem casou à última hora, na república de Chade. Não contente
com estas, enquanto me ausentei uns dias para dar um salto a Marrocos, casou com uma terceira no
Cairo. Só quando regressei se realizou a boda, para eu estar presente. A cerimónia passou-se na
açoteia da casa do sogro, estilo árabe. Mussa e Omar ficaram tão encantados com a beleza da noiva
que deitaram o salário da semana para a sua jaqueta, que ela já tinha bem recheada. Assim, passei
a ter mais o problema do câmbio para o Egipto e decidi que, em Marrocos, Abdullah não sairia da
nossa vista.
O mais jovem do grupo era o egípcio Georges Sourial, engenheiro químico, homem-rã profissional,
playboy incorrigível, seis vezes campeão de judo do Egipto e uma de África. Media um metro e
noventa e cinco de altura e era corpulento como um Tarzan. Terminados os estudos, pouco
trabalhou. Passava o tempo entre os clubes do Cairo e as ondas do mar Vermelho. Divertia os
amigos, que ficavam horrorizados ao vê-lo partir seis tijolos de uma só vez, com uma única pancada
dada com a mão. Numa perna tinha as marcas de dentadas de um cachalote. Era o único homem
meu conhecido que mergulhava até ao covil das moreias mortais, as atraía com peixes seguros pela
boca e as acariciava como se fossem animais domésticos. Georges não era marinheiro. Só conhecia
bem o fundo do mar. Quando o convidaram a juntar se a nós, depois de ler o veredicto dos peritos
em papiro, respondeu que aceitava, porque se sentia muito mais feliz debaixo de água que sobre ela!
Como muitas outras famílias coptas do Egipto, os Sourial eram anteriores à chegada dos Árabes e
da cultura maometana a terras do Nilo. A partir do dia em que anteviu a possibilidade de se associar
a nós, Georges, que dormia em regra catorze das vinte e quatro horas, passou a levantar-se de
madrugada e a ajudar em tudo quanto foi preciso no acampamento. Os seus conhecimentos pouco
recomendáveis, nos recantos mais obscuros do Cairo, tiveram a vantagem de nos pôr em contacto
com um velho fabricante de velas de lona, cosidas ainda com agulha e linha; um cesteiro que fez a
cabina à mão e um padeiro que cozeu o pão pela descrição das receitas do Museu do Cairo. Foi
também ele quem descobriu um grupo de oleiros que vivia na encosta de um monte, nos subúrbios
da cidade. Enterrados até à cintura no barro escorregadio, agitavam-no com o corpo e os membros,
antes de o começarem a moldar, movendo as rodas com os pés descalços. Das mãos daquele grupo
de artífices saíram cento e sessenta ânforas exactamente iguais aos modelos de há cinco mil anos,
expostos no Museu do Cairo.
Enquanto a bordo a actividade era sempre crescente, os molhos de papiro, a oscilar sobre as ondas,
iam absorvendo, de dia para dia, mais água do mar. Inicialmente, o peso do papiro e das cordas era
de cerca de doze toneladas. Mas a parte abaixo da linha de água absorveu mais algumas toneladas
e o barco não foi ao fundo.
Ao mesmo tempo, muitas toneladas de carga foram entrando para o convés e o barco não inclinou.
Manteve-se firme como uma ilha. A carga mais pesada eram o enorme mastro de cavalete, que ficou
fixo em frente da cabina e a ponte, feita de vigas atadas umas às outras, situada atrás da mesma
cabina, de tal maneira que esta não nos cortava a visibilidade. Este peso, acrescido do peso da
cabina, do dos remos e da madeira de reserva para reparações que havia no convés, perfazia duas
toneladas de carga de madeira, mais uma tonelada de água em cântaros pesados e, pelo menos,
duas em provisões de comida, caixas e material.
Durante a última semana, o trabalho foi intenso. Cada dia que o papiro passava na água
representava um dia de vida perdido. Além disso, do outro lado do Atlântico, aproximava-se a
estação dos furacões. Como que por milagre, o nosso programa bateu quase certo, apenas com a
falha de uma semana, apesar do desvio a Chade e todos os outros obstáculos. Mas o alarido ia
crescendo. Não tínhamos um dia para perder. Enfardámos, carregámos e andámos pela doca para
trás e para diante. Subimos e descemos; fizemos nós nos mastros e nos estais. Cortámos,
aparámos, atámos, com cordas e cabedal, a ponte de comando e os remos. No convés, os ajudantes
voluntários choviam. O capitão De Bock, veterano da expedição franco-belga à ilha da Páscoa, com
larga experiência de navegação, calculou a linha de abatimento do barco de papiro antes de deixar o
posto de piloto de navios de cinquenta a cem mil toneladas que entravam e saíam o porto de
Antuérpia. Valente e seguro de si, andava pelo convés a vigiar a estiva e as amarras segundo as
melhores regras náuticas. O seu colega norueguês, o capitão Hartmark, foi o comandante da minha
expedição à ilha da Páscoa. Lá esteve mais uma vez, trepando ao topo do Ra, para, com a ajuda do
alpinista Mauri, fixar o cordame pelo melhor processo técnico conhecido. Herman Watzinger, um dos
do grupo que participou na expedição Kon-Tiki, chegou do Peru, a caminho de Roma, para nos
ajudar na largada. Frank Taplin, de Nova Iorque, veio reiterar os melhores votos de felicidades em
nome de U Thant.
Num armazém em terra, acocoradas à volta dos cântaros, as nossas mulheres, com a mulher do
paxá a orientar o grupo, besuntaram os queijos de ovelha com azeite; meteram os ovos frescos
numa solução de cal; empacotaram peixe seco, nozes e avelãs; salsichas de carne de carneiro em
cestos e sacos. Com uma mistura de amêndoas, mel, manteiga, farinha e tâmaras, Aicha Amara fez
uns biscoitos muito leves, os sello. É a comida tradicional mais antiga de Marrocos para viagens, por
se conservar em bom estado durante muito tempo. Durante os últimos dias, trabalhámos na
doca
defendidos por uma barreira de polícias, que o paxá de Safi pôs à nossa disposição para esse efeito.
Jornalistas, fotógrafos e público espicaçado pela curiosidade acotovelavam-se de tal maneira que um
homem caiu do cais abaixo, alguns cântaros despedaçaram se e uma lanterna de parafina ficou toda
esmigalhada.
Por fim, chegou o último dia. O Ra passou oito dias completos no porto a absorver a água do mar:
mais de metade do tempo de vida previsto pelos peritos. Ao alvorecer, corria uma brisa do largo que
foi aumentando sempre. Às oito da manhã do dia 2 5 de Maio as bandeiras do Ra e da antiga
cidadela portuguesa esvoaçavam na direcção do Atlântico. Rais Fatah, um gigante árabe, o homem
das malaguetas dos barcos de pesca da sardinha, foi o consultor local da expedição. Dividiu
dezasseis dos seus homens por quatro barcos a remos, que, chefiados por ele, rebocaram o fia para
fora do porto.
No molhe de pedra a actividade era constante e febril. A multidão comprimida constituía uma parede
intransponível. Os fotógrafos procuraram as melhores posições dentro dos barcos ou no alto de
guindastes. Aicha, a mulher do paxá, foi obrigada a pedir a ajuda da polícia para atravessar a doca e
nos oferecer uma lembrança de despedida: uma macaquinha, que os homens do paxá apanharam
nos montes Atlas. Puseram-lhe o nome de Safi. Agarrou-se desespera-damente à madrinha do barco
até que reparou que alguns dos homens de bordo tinham pêlos na cara. Então, muito feliz, saltou
para o barco e colaborou na miscelânea de despedidas e votos de felicidades que se trocaram em
muitas línguas. Entretanto, os pescadores, indiferentes à vozearia, atavam um cabo de cada um dos
quatro botes ao grosso cabo que rodeava o barco de cana e aguardavam as nossas ordens para, a
remos, nos afastarem da multidão em efervescência. Um após outro, saltámos para o convés fofo do
barco de papiro. Abdullah, Georges e Santiago atiravam beijos
e entregavam autógrafos para o cais. Carlo deu um beijo de despedida à mulher, uma loura de
nacionalidade italiana. Norman estava com dores de garganta e por isso escapou às advertências do
embaixador americano. Em contrapartida, o embaixador russo deu um abraço apertado a Yuri, como
que a felicitá-lo por aquela sua primeira emancipação da vigilância e da organização soviética. Eu
peguei no microfone e paguei o último tributo de gratidão a todos os amigos e colaboradores da
expedição, que começavam a ficar para trás na doca, embora sentíssemos que o seu lugar era
connosco a bordo: o embaixador Anker, do Cairo; o paxá Amara e os seus ajudantes marroquinos;
Capitães De Bock e Hartmark; Corio, o chefe do acampamento; Herman Watzinger; Frank Taplin;
Bruno Vailati. Depois, saltei também para bordo. Era como se estivesse sobre um colchão. Fiz sinal a
Rais Fatah; os homens de terra largaram a embarcação e os pescadores começaram a remar. Eram
8 horas e 30 minutos. Vagarosamente, o nosso molho de canas foi-se afastando do cais.
Nesse momento, ouviu-se um coro ruidoso tão inesperado que nos sobressaltou. Todos nós
sentimos um nó na garganta. Os barcos de pesca do porto tocaram as sirenes, acompanhadas pelos
sons agudos dos apitos das fábricas, silos e armazéns de terra. Ouviram-se sinetas de barcos. A
multidão gritou. Um navio de carga que estava ancorado fora do porto lançou foguetes para o ar.
Rebentaram em chuva de estrelas, que caía sobre a água, mesmo diante de nós, formando um
tapete de fumo vermelho. Foi uma despedida imponente que quase nos meteu medo. Dentro do
nosso estranho barco, começámos a experimentar o cordame e a brincar com os dois remos
paralelos que substituíam o leme, colocados de través. Desde que os últimos egípcios deixaram o
sistema inscrito para a posteridade nas paredes das sepulturas, antes de os construtores e seus
barcos desaparecerem da superfície da terra, nunca mais nenhum homem experimentou aquele
processo de remos-leme. Que aconteceria se não conseguíssemos pôr o mecanismo a funcionar? E
se tivéssemos de voltar a nado para o molhe e deixar os feixes de papiro espalhados aos quatro
ventos pelas ondas? Todo o porto se pôs em movimento atrás de nós. Uma escolta de sumacas de
pesca, iates e barcos a motor seguiram-nos até ao último molhe, enquanto as sirenes continuavam a
tocar, como se estivéssemos a celebrar o Ano Novo. Por cima de nós, um avião da Embaixada e um
helicóptero vindos de Rabat, a capital, voaram em círculos durante algum tempo. A gritaria da
multidão no cais foi diminuindo, as águas do oceano começaram a sua ondulação vagarosa, as
embarcações mais pequenas voltaram para trás e nós ficamos sozinhos no Atlântico com alguns dos
barcos de pesca maiores. Por fim, os quatro barcos a remos largaram também. Desejaram-nos boa
sorte em árabe e dirigiram-se para o molhe, perseguidos por pequenos barcos a motor.
Pela primeira vez, içámos a vela do Ra. Grande e pesada, feita de lona do Egipto, media uns bons
oito metros de altura e sete de largura nos laises da verga. Estreitava para baixo, à maneira egípcia,
até aos cinco metros, que era a largura do próprio barco, na ponta mais baixa, junto ao convés. Uma
leve lufada bastou para afastar do mastro a pesada verga, prova evidente de que o brando vento da
costa terminava. A grande vela cor de vinho ficou suspensa no ar, quase imóvel, exibindo o disco
amarelo-vivo, símbolo de fia. A linha de bandeiras, penduradas por ordem alfabética, por cima do
tecto da cabina, flutuava ao vento: Chade, Egipto, Itália, México, Marrocos, Noruega, E.U.A.,
U.R.S.S. e, em cada ponta, as das optimistas Nações Unidas, com a esfera branca sobre fundo azulclaro.
Na ponte atrás da cabina, Abdullah e eu, de pé, segurávamos cada um a respectiva cana de um
leme-remo e deitávamos um olhar preocupado ora para a vela frouxa, ora para as vagas que
rebentavam contra o quebra-mar, apenas a alguns metros de distância. Estariam a aproximar-se?
Sim. Uma marcação tirada pela ponta do quebra-mar com a torre da fortaleza mostrou que
estávamos a descair para terra. Talvez que a cadeia de montanhas que se alongava para norte e
encobria Safi impedisse o vento do largo de encher a vela. Lançámos uma corda a um bote que
andava por ali perto e a toda a velocidade enfiámos direitos ao mar. Mas àquela velocidade não
estávamos a obedecer às leis da natureza. Para começar, aconteceu que o cabo de uma rede cheia
de lagostas vivas entrançou na nossa esteira e enrolou-se num dos remos, que dobrou em arco
ominoso e ameaçou partir. Uma cutilada com uma faca afiada salvou a pá do remo, mas o pretexto
para muitos banquetes desapareceu nas ondas.
Logo a seguir, um dos três remos simples que atámos à amurada do Ra para servir de tábua de
abatimento, quebrou devido à velocidade. Norman tinha pregado justamente à pá desse remo o cabo
da antena que nos iria permitir manter contacto com a família e os amigos. A chapa de cobre era a
terra do nosso pequeno rádio portátil. Parecia óbvio que o metal não se coadunava com um barco de
papiro. A pá do remo partiu no ponto exacto onde a placa de cobre terminava. Salvámo-la a custo,
arrastando-a pelo cabo-terra.
Assim não podíamos continuar. Com vento ou sem ele, tínhamos de tentar manobrar sozinhos.
Mandámos parar a escolta, puxámos as cordas para bordo e guindámos outra vez a vela.
Reparámos como o balanço dos botes de pesca era muito mais violento que o da nossa
embarcação, que, tal como a sua predecessora Kon-Tiki, oscilava suavemente sobre as ondas do
mar. De início, o vento estava fraco, mas, a pouco e pouco, começou a soprar com mais força. Já
não era o vento de terra. O nordeste típico daquela época do ano rondou para noroeste e começou a
soprar em direcção aos rochedos baixos que se estendiam para sul do porto de abrigo de Safi. Ainda
estávamos tão juntos à costa que avistávamos as casas e a ressaca traiçoeira a arrastar se em
silêncio sobre os rochedos cor de mostarda, onde as terras baixas verdes de Marrocos se
refrescavam do calor, em eterna confrontação com o mar. O mar acabaria por nos atirar para lá, se
não conseguíssemos governar aqueles feixes de papiro.
Todos nos sentíamos preocupados com uma coisa - como iria corresponder o mecanismo de
direcção. Era o ponto mais obscuro, pois fôramos autodidactas a construí-lo. Porém, esperávamos
que, passada a costa de Marrocos, o vento e a corrente nos afastassem de terra e pudéssemos,
durante uma semana ou duas, fazer o teste sem o risco de sermos arrojados contra as rochas.
Tínhamos muito mais receio da costa que do mar alto. Evitámos fazer a experiência fora do estuário
do Nilo, em pleno mar, temendo que fôssemos parar a terra antes de descobrirmos se o sistema
egípcio dava resultado. Mas, em pleno Atlântico e longe de Marrocos, estávamos certos de que
iríamos ter oportunidades para tentativas e para descobrirmos erros. Aí, por via de regra, os
elementos arrastam os objectos flutuantes para o mar.
Construímos o sistema de direcção do fia copiando numerosos modelos da mais antiga era egípcia,
pintados nas paredes dos túmulos. Tentámos, em vão, arranjar cedro do Líbano, com que os
Egípcios construíam os grandes lemes remos. Os poucos cedros sobreviventes no antigo reino
fenício estavam num parque nacional. Remediámo-nos com a madeira pesada de uma árvore do
Egipto, o cenebar, para fazer o mastro e os dois remos de direcção, com sete metros cada um. As
pás destes, da largura e do comprimento do tampo de uma secretária norma), foram feitas com a
madeira de uma árvore da floresta africana a que os marroquinos chamam iroco. Depois foram muito
bem fixas, obliquamente, de cada um dos lados da popa do Ra. A parte inferior da haste, junto à pá,
ficou presa a um cepo grosso, que, por sua vez, foi atado à popa, atravessando a. Cerca de três
metros e meio um pouco mais acima e à frente, o remo descansava sobre uma tábua mais fina, que
cruzava com outra, que servia, também, de corrimão da ponte.
No ponto de encontro com as traves mestras, cada uma das hastes dos remos assentava sobre
ranhuras redondas revestidas de cabedal e fortemente atadas com cordas grossas, para que os
remos não se soltassem, nem oscilassem para os lados, mas tão somente girassem sobre o seu
próprio eixo longitudinal. Por isso, não podiam ser utilizados como remos de direcção, no sentido
vulgar do termo. Os remos compridos e de oscilação livre que colocámos na popa da Kon-Tiki eram
muito diferentes destes. Ficaram fixos em cima e em baixo. Ao contrário, cada um destes compunhase de um punho de madeira dura atado em ângulo recto, junto à parte superior da haste do remo, por
gonzos de cordas que permitiam movimentos livres a uma barra comprida e fina que ficava
pendurada horizontalmente. Com este mecanismo, uma pessoa equidistante dos dois lados
empurrava a barra de um lado para o outro da ponte e os dois remos rodavam simultaneamente
sobre os seus eixos centrais como dois lemes oblíquos. O sistema era tão engenhoso e
aparentemente tão diverso dos processos de governo de direcção utilizados hoje em dia que
sentimos uma alegria enorme quando eu, pela primeira vez, empurrei a tranca suspensa para
bombordo e o Ra, devagar, mas cooperando como um cavalo amansado, obedeceu ao sinal e virou
a proa para estibordo. Eu, sem perder tempo, empurrei a barra para estibordo e o navio foi,
lentamente, rodando para bombordo.
Não havia dúvida. Estávamos a servir-nos de um sistema de direcção que, numa perspectiva
histórica, foi o precursor do leme; o elo de ligação entre o primitivo remo de direcção e o leme
moderno. Em dado momento da antiguidade, os Egípcios certamente descobriram que era trabalho
desnecessário empurrar um remo de direcção muito comprido obliquamente para obrigar um barco à
vela a mudar de rumo. Basta torcer o remo, sem a pá ficar perpendicular na água, e a embarcação
vira de direcção. Pára tanto, lembraram-se de fixar uma barra ao remo e inventaram o processo que
nós estávamos ali a pôr à prova. A barra fina que ligava um remo ao outro foi um melhoramento
considerável. Permitia que um único timoneiro manobrasse um remo de cada lado do barco ao
mesmo tempo. Aos marinheiros antigos faltava apenas reconhecerem, aos poucos, que se a pá do
remo fosse colocada com a haste vertical, em vez de oblíqua, e continuassem a torcer a pequena
barra de través, estariam em presença de um leme moderno.
Abdullah, a meu lado na ponte, sem medo, mas de olhos esbugalhados, ajudava a empurrar a barra
horizontal. Quatro mãos facilitavam a tarefa. Em baixo, no convés, os outros, orientados por Norman
corriam a caçar as escotas, para que a vela grande se mantivesse em posição de apanhar sempre o
vento variável. Estes nossos primeiros movimentos, ainda hesitantes, foram acompanhados pelos
jornalistas e pelos velhos lobos-do-mar dos botes que circulavam à nossa volta. Todos ficaram tão
felizes como nós quando chegámos à conclusão de que o barco de canas era navegável. O noroeste
ia-nos atirando para terra, mas conseguimos bolinar 90° contra o vento, para o apanharmos pela
amura de estibordo e seguimos para sudoeste, paralelos à terra. Naquele ponto o cachão era mais
forte e contínuo. Saíramos já da costa e do abrigo do cabo Badusa. Os barcos de pesca, mais ou
menos superlotados de passageiros, começaram a regressar. Um após outro, tocaram as buzinas a
despedir-se. A última pessoa que vi foi a minha mulher, Ivone, que, embora enjoada, se aguentou de
pé para acenar com os dois braços ao mesmo tempo. O helicóptero desapareceu. O avião passou
rente às nossas cabeças para nos desejar boa viagem.
Depois, ficámos nós e o mar. Sete homens, um macaco cabriolando alegremente nos ovéns, uma
capoeira de madeira cheia de aves a cacarejar e um pato. De repente, tudo ficou quieto. Só a
ondulação e a espuma do mar se faziam sentir à roda da nossa arca de Noé.
Logo que acabou de hastear a vela e de verificar se as escotas e as amuras estavam seguras,
Norman atravessou o convés aos tropeções e confiou-me que se sentia doente. Estava muito corado
e com os olhos vermelhos. Yuri não se aguentava nas pernas e, perante a consternação geral,
declarou que Norman tinha 102° de temperatura. Gripe. O vento marítimo soprava agora com rajadas
mais frescas. O médico russo ordenou que o nosso navegador americano fosse imediatamente para
a cabina e se metesse no saco-cama. Por esta razão, o único marinheiro do grupo estava
temporariamente fora do serviço.
O vento de mar tornou se mais forte e as ondas, espumando, começaram a crescer. Quando as mais
altas se levantavam contra nós, o Ra erguia suavemente um bordo e deixava as passar sob os feixes
de papiro. Mas às vezes batiam com tanta força nas pás dos remos que as hastes inclinavam e eu
me via obrigado a berrar, para Abdullah afrouxar o seu punho de ferro e diminuir um pouco a
pressão. De contrário, os remos podiam partir.
Tudo corria bem e nós sentíamo-nos bem dispostos, até o doente, que, deitado, lamentava não
poder ser útil. Carlo depressa se revelou o maior perito em nós de bordo, habituado como estava a
dormir e a comer suspenso numa corda. Com entusiasmo, serviu café quente e pernas de frango
frias. Entretanto, dizia-me que a vida no mar era semelhante à vida na montanha: o mesmo contacto
com a natureza, o mesmo desafio aos elementos, a mesma joie de vivre e a mesma necessidade de
rápidas soluções para problemas imprevistos.
Aguentámos o rumo sempre com o vento de través, à velocidade de cerca de três nós e a costa não
dava a impressão de estar mais perto. Eram três horas e quinze minutos da tarde. As coisas corriam
normalmente, portanto achei que Abdullah e eu podíamos ser substituídos pelos dois homens da
vigia seguinte. Entraram Carlo e Georges, o campeão de judo, frescos e em plena forma. Abdullah
enfiou pela cabina para o descanso bem ganho e eu dirigi me ao convés de vante, que estava
superlotado com cântaros, peles de cabra e cestos com verdura. Não havia hipótese de passar para
diante sem ficarmos em equilíbrio sobre as canas redondas da balaustrada. Mesmo em frente da
vela arqueada pelo vento, Santiago, sorridente, encostado à capoeira, observava a vista da costa, ao
longe. Estafado depois de muitas horas passadas na ponte, deixei me cair ao pé dele para
descansar, pela primeira vez, durante as últimas semanas de trabalho intenso. Ali ficámos a deliciarnos com a maneira espantosa como o papiro aguentava as ondas que se arrojavam contra nós pela
amura de estibordo, sem alterar o andamento e sem nos molhar. Estendi me ao comprido e fiquei a
gozar a sensação de felicidade que percorreu o meu corpo cansado. De súbito os gritos de três
vozes em pânico acordaram-me daquele estado de suprema felicidade.
- Thor! Thor!
Mal tinham passado cinco minutos desde que saíra da ponte. Levantei-me num pulo. Agarrei-me ao
punho da vela, cujo pano já batia, para não perder apoio para os pés e, sempre comprimido, cheguei
à popa, com mil receios a zumbirem na minha cabeça. Detrás da vela, apareceu Yuri, a coxear como
um embriagado e tão agitado que só falava em russo. Gesticulava na direcção da popa, onde os dois
homens da ponte, aflitos, chamavam por mim. Portanto, todos estavam ainda a bordo. Enquanto
assim fosse, estaríamos a salvo. Georges acenava com os braços e Carlo explicou em italiano que
os remos de direcção se tinham partido. Ambos! Uma olhadela bastou para nos apercebermos da
gravidade da avaria. Os dois remos racharam na gola, junto à curvatura das pás. As duas pás
castanho-amareladas vieram à superfície e vinham sendo arrastadas como duas tábuas de surf. O
iroco não era a madeira robusta que nós supuséramos. Por sorte, havíamos atado um cabo a cada
pá, pelo processo egípcio, a fim de o remo não deslizar para ré. Apressámo-nos a apanhar as pás,
tão vitais para nós, antes de os cabos moerem. Carlo e Georges ficaram com duas hastes truncadas
projectando-se para ré, sem qualquer superfície plana que controlasse o rumo, por mais que
rodassem os punhos.
Foi como um eclipse do Sol.
- Teremos que desistir? - perguntou Carlo em voz baixa. Os três homens à popa bombardearam -me
com olhares inquiridores.
Antes de ter tempo para responder, notei que o barco, devagar, ia virando por de avante. Com a vela
enfunada outra vez e as amuras apontando na direcção exacta continuou, serenamente, seguindo o
mesmo rumo que vínhamos tentando manter a todo o custo. De relance, percebi o que acontecera e
fiquei tranquilo. Os dois remos perpendiculares que serviam de tábua de abatimento à frente
continuavam presos e entraram em funcionamento, uma vez que o leme desaparecera e não havia
mais nada que servisse de quilha a ré. A popa começou a virar para sotavento e, automaticamente, o
barco enfiou na direcção oposta a terra.
- Assombroso! - gritei em inglês, tentando transmitir toda a minha alegria aos meus companheiros,
que estavam à beira de perder a esperança na travessia do Atlântico.
A gritaria atraiu Norman, ainda febril, para fora da cabina. Surpreendido, perguntou o que se estava a
passar.
- Assombroso! - repeti entusiasmado. - Partiram-se os dois remos de direcção. Portanto, durante a
viagem vamos seguir o antigo método guará dos Incas!
Norman, pálido e de olhos a brilhar, fitou-me, sem saber se rir, se chorar. Os outros olharam-me,
como se quisessem certificar-se se eu teria endoidecido ou se sabia de alguma feitiçaria dos índios,
desconhecida deles. Era indiscutível que o Ra mantinha agora, melhor que antes, o rumo, que
conferimos com a bússola e pela linha de proa, em relação à costa. Carlo não desviava o olhar do
meu. Mas a expressão de tristeza acabou por desaparecer-lhe dos olhos azuis e, a pouco e pouco,
desatou a rir e a sacudir a barba ruiva. Por fim, Abdullah acordou também. Sentados sobre a corda,
acabámos todos a rir às gargalhadas, consolados e satisfeitos com aquele barco que se governava a
si próprio. Lá em cima, na ponte, a agulha da bússola ficou sozinha na bitácula. Marcava sudoeste e,
na realidade, era para lá que queríamos ir. Obediente, com a vela a todo o pano, o Ra seguiu nessa
direcção, enquanto nós nos divertíamos como passageiros.
- Agora, estamos mesmo perdidos - confessei aos outros, ainda um pouco desnorteados. Mas
apressei-me a acrescentar que, para a experiência, fora óptimo. Factos semelhantes deram se,
certamente, em barcos deste tipo que navegaram para além de Gibraltar e tentaram fazer caminho
pela costa de Marrocos. Assim, tínhamos a possibilidade de ver onde eles podem ter ido
desembarcar.
Carlo irradiava felicidade. Não parava de abanar a cabeça, nem de rir. Concordou que bastava deixar
a natureza seguir o seu caminho e os elementos se encarregariam do transporte. No convés estava
um remo de direcção sobresselente, mas não o queríamos pôr em acção, com receio que também
quebrasse antes de começarmos a atravessar a sério o grande oceano Atlântico. De qualquer forma,
o iroco provou ser tão frágil e insubstancial que teríamos de o reforçar antes de o submetermos às
ondas.
Ao cair da tarde, Yuri saiu da cabina, preocupado.
- Já temos dois doentes de cama - explicou.
Havia já dois dias, Santiago descobrira um eczema na cintura, que alastrou com o ar do mar. A pele
descascou em vários sítios e ele estava cheio de medo de ter apanhado tinha, doença perigosa
muito frequente nas ilhas Canárias, para onde nós nos dirigíamos. Yuri confirmou a suspeita de
Santiago. Tinha era uma doença terrível, muito espalhada em todo o Norte de África.
Quando a noite caiu, vimos as luzes de vários navios, navegando nas duas direcções e cingindo-senos assustadoramente pelas alhetas e pelas amuras. Carlo trepou ao mastro e prendeu uma
pequena lâmpada de parafina, que evitaria o perigo de sermos abalroados. As vigias da noite ficaram
divididas entre a Itália, o Egipto e a Noruega. A Rússia ficou a cuidar do México e dos E. U. A. e
preferimos deixar o carpinteiro de Chade pôr o sono em dia, para, no dia seguinte, atacar o problema
da reparação dos remos de direcção. O vento assustou-nos durante algum tempo. Soprou com
rajadas traiçoeiras de noroeste e oés-noroeste, alternadamente. Passei a noite a fixar a luz duma
casa ao longe, em terra, até que também essa desapareceu. Enquanto esteve escuro como breu não
me atrevi a fazer uma soneca. O navegador continuava a arder em febre. Logo, o único processo de
calcularmos a distância a que nos encontrávamos de terra era fixar uma luz. Cada navio que
aparecia pela proa ou por bombordo fazia o meu coração bater de excitação. Seria uma luz da costa,
estaríamos a abater para terra, ou seriam outros marítimos? Só descansávamos quando víamos as
luzes de borda, verde ou vermelha, e passavam à distância indispensável para não haver colisão.
Enquanto estivéssemos rodeados por água não teríamos problemas sérios.
Quando o dia rompeu a leste, já não havia terra à vista. Yuri saiu da cabina, a sorrir, e enfrentou o
frio da manhã equipado como se estivesse no Antárctico. Confiante e tranquilo, sentou se à entrada
da cabina, para encher o cachimbo, enquanto nós enfiámos pelos sacos cama e deixámos os feixes
de papiro a navegar, sozinhos, pelo oceano. Passadas vinte e quatro horas contínuas de febril
vigilância, não era eu o único que se sentia estafado. O sono veio sem ter tempo de me adaptar à
cabina de verga, tão peculiar que, à custa de rangidos, roncos, estalidos e queixumes, se mantinha
em cima dos molhos de papiro.
Assim terminou o nosso primeiro dia a bordo do Ra.
CAPÍTULO VIII --- Descendo a costa africana até ao cabo Juby
Um galo cantou. Sentia se o cheiro de feno fresco. Estaria numa quinta? Não, claro que não estava
numa quinta, porque me sentia arrastado pelo balanço de uma padiola. Acordei. Ouvi a água a
gorgolejar debaixo de mim e a espumar contra os meus ouvidos. Estava num barco. Abri um pouco
os olhos e, através das gretas da parede de bambu, apareciam as ondas azul-acinzentadas. Não
havia dúvida, estava a bordo do Ra. O cheiro a feno vinha dos colchões, que tinham sido cheios
com erva de Marrocos recém-seca.
O galo tornou a cantar. Já bem desperto, projectei-me para a porta da cabina e olhei em frente.
Devíamos estar muito perto da costa, quase a encalhar. Lá fora, só se viam as cristas das ondas. A
vela cor de vinho barrava-me a vista, mas ia-nos arrastando a toda a velocidade à tona de água.
Através do ruído das ondas, e do outro lado da vela, distinguia nitidamente os cacarejos das galinhas
e, mais uma vez, o galo a cantar. Afinal, era a nossa criação dentro da capoeira. Aliviado, saí para o
exterior, em cuecas. Fazia frio. Yuri, sentado no convés da ponte e vestido como um esquimó,
tomava notas.
De certeza, estávamos já no alto mar, porque se sentia uma nortada fresca que fazia saltar as ondas,
cujo cavado chegava a medir entre três e três metros e meio. Do tope do mastro, mal se distinguia a
transição ondulante entre o mar e o céu, ao longe no horizonte, a todos os rumos da agulha.
- Onde estamos? - perguntou Yuri.
- Aqui - respondi, entrando para a cabina, onde o nosso navegador, deitado, se debatia com uma
semi-inconsciência provocada pelas pílulas. Só ele conhecia e trabalhava com o sextante. Eu não
sabia mais que andar ao sabor da corrente. Só Deus sabia a nossa posição exacta. Para já,
precisava de uma camisola grossa e de um blusão. Um assobio alegre atravessou a orquestra dos
cacarejos e dos estampidos das ondas, pela passagem estreita que ficava entre a cabina e a vela. A
cara rosada e barbuda de Carlo surgiu atrás da parede de bambu.
- A comida está pronta! Chá quente karkadé à Nefertiti e pão com mel Tutankhamon!
Abdullah acordou e sacudiu o seu vizinho africano, Georges. Esfomeados, fomos rodeando Carlo,
que serviu o pequeno-almoço sobre a tampa da capoeira. Cada um de nós foi-se sentando sobre um
cântaro, um saco de batatas ou um dos reservatórios com água, em pele de cabra. Logo que nos
sentíssemos senhores do sistema de governo do navio, teríamos de pôr em ordem o convés e tornar
a vida a bordo mais cómoda.
- Onde estamos? - perguntou Georges.
- Aqui - respondeu Yuri, encaminhando-se para os doentes com duas chávenas de karkadé quente.
- A África ainda está ali - acrescentei, acenando com a mão para bombordo.
- Queres saber mais alguma coisa?
- Sim - disse Georges. - Como é que os homens do passado encontravam a sua posição no mar,
sem sextante ou bússola?
- Calculavam o leste e o oeste pelo Sol - explicou Carlo - e o norte e o sul pela Estrela Polar e pela
Cruzeiro do Sul.
- Mediam a latitude calculando o ângulo desde o horizonte até à Estrela Polar - acrescentei. - É
sempre a 90° do Pólo Norte e mesmo abaixo do horizonte, quando observado do equador. Se nós
nos encontramos a 60° norte, a Estrela Polar está 60° acima do horizonte; se estivermos a 32°, ela
estará também a 32". Portanto, a latitude pode ser lida directamente pela Estrela Polar. Quanto à
longitude, os Fenícios e os Viquingues só conseguiram números aproximados. Calculavam a
distância tendo em conta a velocidade a que navegavam, pois a corrente do oceano era sempre um
factor incerto, visto que não possuíam referências de terra.
No museu egípcio da sua cidade natal, o Cairo, Georges vira os instrumentos de há milhares de
anos, com que os seus patrícios mediam os ângulos dos corpos celestes. Sabia a importância do Sol
e da Estrela Polar para esses cálculos, quer astrológicos quer arquitecturais. Eu decidi fazer um
instrumento à mão, para, sem conhecimentos especiais de náutica, podermos ir verificando a nossa
latitude. O rumo poderia ser conferido pelo Sol, pela Lua e pelas constelações mais conhecidas.
O karkadé vermelho dos Egípcios sabia a sumo de cerejas quente e refrescava, ao mesmo tempo
que era um bom estimulante. Os biscoitos de pão, também egípcios, pareciam bolos doces
achatados. Eram torrados e tão saborosos que, com ou sem mel, foram apreciados por todos.
Animados para enfrentar um novo dia, entrámos na cabina e trocámos saudações com os dois
doentes. Norman estava bastante doente, mas, tal como Santiago, de óptima disposição. O problema
de Santiago era o grau de humidade do Ra. Estava apenas dois palmos acima do nível do mar. As
roupas, os sacos-cama e os cobertores tornaram se tão pegajosos com o ar do mar que a pele ficou
irritada e o mais pequeno movimento lhe provocava dores. Yuri dedicou-se inteiramente aos dois.
Naquele estado de saúde foi-lhes muito mais difícil manter-se deitados e suportar o bater
ensurdecedor, os roncos, os estalidos e queixumes da ondas nos feixes de papiro, que se torciam,
se deformavam e tornavam a dar de si, nos cabos. De tempos a tempos, era como se cem mil
edições do New York Times estivessem a ser rasgadas em bocados debaixo das caixas, em
agitação constante, onde Norman dormia. Dezasseis caixas de madeira estavam empilhadas no
chão de vime da cabina. Duas debaixo de cada homem, com colchões de palha em cima, e mais
duas que ficaram reservadas para a aparelhagem de rádio e navegação de Norman. O papiro
ondulava como uma casca de banana sobre as ondas. O chão flexível da cabina acompanhava a
ondulação, e com ele as caixas, os colchões, as vértebras e as costas, quando não o ombro e o
quadril de cada um de nós, conforme optávamos por dormir de costas ou de lado. Era como dormir
em cima de uma serpente do mar.
No convés, este movimento sinuoso do fia não era menos sensível. Se nos púnhamos de pé, à popa,
para olharmos pelo convés adiante, víamos a balaustrada amarela ondear ao mesmo ritmo das
massas de água em baixo. Se nos colocávamos na direcção da ponta mais alta da proa, para lá da
vela, tanto aquela como o convés de vante se erguiam numa coerção rítmica: ora para espreitarem
as cristas das ondas, ora para mergulharem tão a pique que a extremidade da proa mal se via por
cima da capoeira das galinhas. O navio assemelhava-se a um grande monstro marinho a soprar;
nadando a braçadas compridas; rosnando, bufando, e bramindo, para assustar os obstáculos que lhe
surgiam no caminho. O mais excêntrico era o mastro escarranchado com a vela grande. Parecia uma
barbatana distendida, movendo-se para diante e para trás, acompanhando os movimentos dos
músculos redondos do fia, os molhos de papiro. Em dado momento havia, à vontade, noventa
centímetros entre ele e a parede da cabina onde Carlo arrumou as caixas da cozinha; logo a seguir a
distância encurtava a tal ponto que, se nos distraíamos, ficávamos com os pés presos debaixo do
chão da cabina ou do pé do mastro. O mastro, a cabina e a ponte de comando estavam só atados
por cordas ao convés flexível, portanto, faziam jogo mútuo. Só por esta razão sobrevivemos ao
primeiro dia. Se não tivéssemos seguido as regras antigas, se tivéssemos fixado a ponte com
pregos, feito a cabina com tábuas de madeira ou segurado o mastro ao papiro com cabo de aço, em
vez de corda, teríamos sido destroçados pelas primeiras vagas. Maleabilidade e a flexibilidade de
cada uma das partes evitaram que o mar quebrasse as submissas fibras de papiro. Mesmo assim,
apanhámos um susto no primeiro dia, quando Abdullah tirou medidas e nos provou que o convés da
ponte, por vezes, se afastava vinte centímetros da parede detrás da cabina, enquanto outras se
aproximavam tanto que, se um dedo fosse apanhado, seria desastroso. Concluímos, pois, que era
vital estarmos alerta e termos muito cuidado com os dedos enquanto não nos sentíssemos a bordo
como em casa. Mas aguardávamos com algum receio o comportamento provável do nosso barco de
papel nas semanas mais próximas, uma vez que, ao segundo dia de mar, eleja estava tão elástico e
com os nós tão soltos.
Pela experiência da Kon-Tiki sabia que a ameaça mais perigosa para os viajantes de jangadas era
cair ao mar. Com a falta de experiência que ainda tínhamos, não podíamos virar de bordo e pairar ao
vento. Um bom nadador não nos apanhava, à velocidade a que nos estávamos a deslocar. À ré,
levávamos uma caixa enorme contendo um salva-vidas para seis homens, em borracha de espuma,
muito bem atada entre as escoras da ponte. Só o devíamos usar em caso de necessidade extrema,
pois não podia ser lançado à água sem se retirar a ponte toda. Mesmo ao pé, estava um machado
pendurado para esse efeito. Nem esse salva-vidas rectangular conseguiria alcançar o fia e, por
consequência, acabaríamos por nos separar, em qualquer caso. Daí que a regra número um seria:
aguentarmo-nos a bordo. Nunca nos deslocarmos de um sítio para outro sem termos a ponta do
cabo em posição de ser atada rapidamente. Carlo Mauri fez, para cada um de nós, um cabo de
vaivém, de um metro e oitenta de comprimento, com um gato na ponta. Andávamos sempre com ele
atado à cintura e o gato pronto a deslizar sobre os cabos, os estais do mastro ou as madeiras da
ponte.
Indiferente ao tempo, cumpri esta regra com uma obsessão quase absurda. Contei aos meus
companheiros que Herman Watzinger foi salvo muito a custo por Knut Hangland uma vez que caiu
borda fora da Kon-Tiki. Georges, o campeão mergulhador, e Abdullah, natural da África, tiveram
alguma relutância em aceitar que não bastava andarem com a corda quando estavam sozinhos de
vigia ou quando pendurados na trave mestra de ré, desafiando as leis da natureza. Georges acabou
por se convencer e fazer-me a vontade. Mas, dia sim, dia não, encontrava Abdullah a cantar, feliz,
mesmo à borda do papiro, com a corda pendurada como o rabo de um macaco. Fui ter com ele.
- Abdullah - disse eu -, esta água é maior do que toda a África e mil vezes mais funda que o lago
Chade, onde Georges mergulha até ao fundo.
- Ah, oui - respondeu ele, impressionado.
- Está cheia de peixes que comem as pessoas. Maiores que crocodilos e nadam muito mais
depressa.
- Ah, oui - repetiu Abdullah, receptivo e sempre grato por novos conhecimentos.
- Não percebes que, se caíres borda fora, afogas te, és comido por algum peixe e não vês a
América?
A cara dele abriu-se num sorriso paternal e franco. Com delicadeza, pousou a mão sobre o meu
ombro.
- Você não pode perceber - respondeu. - Olhe isto! Levantou a camisola grossa e mostrou-me o
estômago negro
inchado. À roda tinha atada uma guita grossa donde pendiam três pequenas bolsas de cabedal que
caíam sobre o fim das costas.
- Com isto, nada me poderá suceder - garantiu ele.
O pai dera-lhe uma daquelas bolsas depois de um curandeiro de Chade as ter enchido. A avaliar por
outras que vi a vender no mercado em Boi, deviam conter garras de leopardo, calhaus de várias
cores, sementes e pedaços de plantas secas.
Puxou a camisola para baixo e, qual conspirador, acenou em triunfo. Eu ficava descansado, agora
que entrara na posse do segredo? Nada podia acontecer a Abdullah. Em todo o caso, para me
agradar - e só por isso -, acabou por ceder também.
Logo de manhã, Abdullah revelou-nos a primeira surpresa. A água estava cheia de sal. Toda. Como
teria acontecido? Fiquei tão alarmado, ou mais, do que ele e quis saber qual o cântaro que se abrira.
- Não é do cântaro. Aquela! - respondeu ele, desanimado, e apontou para o mar. Nem lhe passara
pela mente que o oceano fosse salgado. Quando lhe expliquei que era salgado desde África até à
América, perguntou, de olhos muito abertos, onde fora possível arranjar tanto sal, certamente muito
caro. Ficou desesperada com a explicação geológica. Santiago avisou que era preciso economizar a
água para beber; só tínhamos direito a um litro cada um, por dia. Ora, ele precisava, pelo menos,
cinco vezes essa dose. Para seguir o rito muçulmano, cada vez que rezava era obrigado a lavar os
braços e as pernas, a cabeça e a cara. Rezava cinco vezes ao dia!
- Podes servir-te da água do mar para as tuas orações - tranquilizei-o eu. Mas ele teimava que não.
Segundo a sua religião, só água pura servia para a cerimónia da lavagem. Aquela tinha sal.
Antes de o problema do sal ficar resolvido, Abdullah apanhou outro susto. Quando Safi, a
macaquinha, acordou Georges, tirou a da cama, que era uma caixa de cartão perfurado. Radiante de
alegria, o animal fez um pequeno charco no colchão de Abdullah, que, desta vez, ficou mesmo fora
de si. A macaca fez aquilo? Quando um cão ou um macaco sujam a roupa de um crente, este não
pode rezar a Alá durante quarenta dias! Abdullah desatou a revirar os olhos em profundo desespero.
Quarenta dias sem Alá!
Georges acalmou os escrúpulos de Abdullah com uma ligeira mentira. Não tinha sido o macaco,
eram salpicos do mar. A tendência para o sentido prático levou-o a aceitar a explicação sem meter o
nariz no local levemente odorento. Mas... eu decretei que o macaco passaria a usar calças e, além
disso, nunca mais se sentaria no colchão de Abdullah.
- Abdullah - disse-lhe eu -, tu dizes que precisas de água para rezar. Já calculaste quantos macacos
e quantos cães vivem nas redondezas das fontes de água em Chade? Aqui, no mar, não há cães e o
pouco que a Safi faz fica para trás. Em mais sítio nenhum do mundo a água é tão pura como no mar.
Abdullah ouviu-me e ficou a pensar. Minutos depois, submeteu a prolongada investigação um balde
de lona cheio de água do mar. Depois, começou a cerimónia, a toda a velocidade e com a destreza
de um prestidigitador. Por fim, passou à bússola, onde Yuri o ajudou a encontrar a direcção
aproximada de Meca. Com a candura de um monge sincero, ajoelhou em cima do colchão, à porta
da cabina, e curvou-se muitas vezes para leste, batendo com a testa na cobertura do colchão. A
seguir, pegou no fio de contas e começou a despejar orações. As orações corriam, pelo fio abaixo
como as ervilhas para fora de um saco. Mas, perante aquela convicção tão firme, nenhum de nós,
quer fosse copta, católico ou protestante, quer livre-pensador ou ateu, pôde evitar a sensação de
respeito.
Entretanto a força do vento ia aumentando. Tornou-se quase violento. Sem os remos de direcção
não tínhamos hipótese de controlar o barco, mas ele ia deslizando, aparentemente na direcção certa.
Abdullah, já lavado por dentro e por fora, juntou-se a mim na ponte. Trazia uma faca e uma broca.
Impunha-se descobrirmos o processo de atar as pás dos remos partidos aos punhos. Abdullah, bem
disposto, cantarolava canções da selva africana e tentava manter o equilíbrio. As rajadas de vento
castigavam a túnica comprida que trazia vestida. Carlo ajudou nos com a perícia em nós de alpino.
Tínhamos acabado de reparar o primeiro remo quando o vento começou a piorar. Duas ou três
rajadas fortes, de direcções diferentes, deram com a vela por de avante, que torceu, sem nos dar
tempo para ajustarmos as escotas e as amuras.
O vento de proa batia contra a vela. A verga, pesadíssima, com sete metros de comprimento, onde a
vela estava suspensa, embateu tão violentamente contra a parte superior do mastro que a madeira
do tope ameaçou partir. A vela ficou a bater em sacudidelas fortes e esteve a ponto de se rasgar
contra o mastro. Emborcaram se cestos de fruta e, na capoeira, as aves cacarejavam e guinchavam,
a rivalizar com as nossas ordens dadas aos gritos. Na nossa esteira apareceu de repente a flutuar
um cesto cheio de mantimentos. Ninguém sabia o que ele continha. Santiago, o timoneiro, estava de
cama e ele é que tinha o inventário. Yuri teve de o aguentar, a ele e a Norman, à força, nas tarimbas.
Eu trepei para a ponte, na tentativa de levar a melhor na luta contra aquela vela gigantesca. A
tempestade quase não deixava ouvir as vozes humanas. Desapareciam, misturadas com o panejar
da vela, os ruídos e os guinchos dos feixes de papiro.
Já não valia a pena tentar arriar a vela. Voaria direita ao mar, como um papagaio de papel. Logo,
teríamos de retomar o caminho cambando a vela e fazendo rodar o navio. Georges, com um remo
normal braceado no sítio onde o papiro se erguia a ré, foi designado para remar até pôr a popa do fia
em vento. Lingámos uma âncora flutuante, em lona, com o feitio de um chapéu de chuva, a um cabo
comprido, fora de borda. É o melhor processo para reduzir a velocidade e manter a popa no vento.
Na ponte, vi que a agulha da bússola virava lentamente. Tentei a todo o custo não ser empurrado
borda fora por uma escota que batia e estalava como um chicote. Quis prende-la à borda da ponte e,
ao mesmo tempo, certificar me se a escassa tripulação estava a salvo e a tesar os cabos
necessários. Através das rajadas de vento, eu berrava ordens em italiano para Carlo; em inglês a
Yuri; em francês a Abdullah, e em inglês, francês ou italiano, conforme saía, a Georges. A verdade é
que eu nem sequer sabia, na minha língua materna, o nome dos cabos que pretendia que eles
aguentassem. Por isso, à medida que o dia foi decorrendo, a minha admiração pelo poder de
entendimento e colaboração daquela equipa internacional de homens de terra atingiu o ponto alto.
Terminado o salvamento da vela, indispensável para atingirmos o
objectivo que nos propúnhamos, amarradas as escotas e atados os remos normais, iguais aos guará
dos índios, à amurada do navio no sentido longitudinal, metemos outra vez a âncora dentro e voltou
a calma. Tivemos um pequeno intervalo para descansar. Aproveitei para inventar algumas palavras
curtas que todos percebêssemos quando fosse essencial poupar segundos. Pelas brechas das
caniçadas de bambu ouvíamos, de vez em quando, a voz entrecortada e fraca de Norman, dando
nos conselhos. Eleja nos tinha ensinado, a todos, as expressões inglesas para: içar, solecar ou largar
a adriça da vela; para as amuras, que governam as duas extremidades da verga onde a vela está
suspensa, e para as escotas atadas aos dois punhos inferiores da vela, a bombordo e a estibordo.
Mas a prática acabava de nos mostrar que três dos homens mais experientes sabiam pouco ou
nenhum inglês. Por conseguinte, era inútil gritar a Yuri ou a Carlo: «Caça a amura de estibordo!» ou
a Abdullah: «Folga a escota de bombordo!»
Mal nos tínhamos acabado de sentar, ofegantes mas felizes, em cima da ponte, para compormos
umas tantas expressões práticas, estilo esperanto, começaram a levantar-se outra vez da vela
grandes ruídos significativos. Desta vez, cada um correu para o seu posto que nem um relâmpago.
Mesmo assim, a vela e a embarcação tornaram a cambar. Isto aconteceu de tempos a tempos e por
mais de uma vez. Descaíamos muito, no mesmo rumo, mas lateralmente. Outras vezes, mesmo com
a popa ainda mais de vante, a vela e a verga em ângulos desordenados. Decidimos, fosse como
fosse, manter a vela cheia, para evitar que a verga partisse. Porém, em certos momentos, só fomos
bem sucedidos virando a vela para o lado contrário. Virando-a para o exterior do suporte de
bombordo, em vez de para o exterior do suporte de estibordo do mastro, a vela enfunava bem.
Nessa altura, automaticamente, passávamos a velejar em ângulos aproximados ao curso que
pretendíamos seguir, para evitar terra. Durante períodos bastante longos e dolorosos, fomos
obrigados, simultaneamente, a dar a proa para a costa africana, a remar, a tesar cordas, a servir nos
da âncora e a atar os remos em posições diferentes, estilo guará, para conseguirmos aguentar o
curso conveniente. Sem os remos grandes de direcção, o barco recusava-se a aceitar
compromissos. A vela atirava o barco, directamente, ora para sueste, ora para sudoeste: nunca para
posições intermédias. Sempre que uma rajada de vento nos virava a roda de proa rio Ra apontava
para sueste, a linha invisível da costa africana começava a aproximar se mais e mais. Carlo passava
o tempo a balouçar no topo do mastro, mas, por sorte, não avistava terra. Contudo, sabíamos que a
costa, que se desviava para o interior, a sul de Safi, fazia um bojo direito a nós um pouco mais
abaixo. Mal conseguíamos controlar e vela e mantê-la numa direcção, virava para outra e começava
a bater pano com tanta força que nos víamos atrapalhados para não sermos cuspidos borda fora.
Um atrás dos outros, os adornos de cabeça voaram para a água. O colorido gorro muçulmano de
Abbdullah provocou o desgosto geral. Fazia parte dele mesmo. Daí em diante, segurávamo-nos bem
cada vez que mudávamos de lugar. A macaca também tinha uma corda pequena que lhe permitia
fazer exercícios arrebatadores nos estais do mastro. Defendemos a criação cobrindo a capoeira e
fixando-a fora do alcance da vela.
Durante o dia, o vento soprou tão forte que nos vimos em sérios riscos de perder a amarração antes
de recuperarmos o controlo sobre o governo do navio. Concluímos que não havia outra alternativa
senão tentar descer a vela, enfrentando a borrasca.
Assim que dois homens soltaram a adriça, os outros três aguentaram as escotas para encaminharem
a verga e a vela para o convés; então, um sopro forte varreu a vela para o mar, como uma bandeira.
Yuri a Abdullah tentaram desesperadamente apanhar a escota, que se soltou e ficou a agitar sobre
as cristas das ondas, a bombordo. Nós fincámos os pés e fixámos os joelhos contra o que tínhamos
à mão, para não sermos arrastados pela borda fora, com a escota de estibordo - a única
possibilidade que nos restava de a vela não desaparecer para sempre. Do mastro e dos cabos que o
seguravam vinha um rangido que nos assustava; os molhos de papiro guinchavam e davam tanto à
banda que, inquietos, encarámos pela primeira vez a possibilidade de o nosso maravilhoso barco se
virar. Uma coisa era certa: nenhum outro barco à vela, de quinze metros, teria resistido àquela
pressão tão forte sem se voltar em segundos, a menos que o mastro quebrasse primeiro.
Pouco a pouco, conseguimos recapturar a verga e quase toda a vela. Desta, algumas secções ainda
ficaram sobre o cachão, formando dobras que mais pareciam selhas cheias de água. Na tentativa de
arrastar todo aquele peso da presa do mar, quebrámos mais um dos nossos preciosos remos, que
desapareceu numa onda e, para nosso martírio, ficou a balançar na esteira.
- Encontrar-nos-emos na América - gritou Carlo para o remo. - Mas nós vamos mais depressa que tu!
Encharcada e carregando com o peso da verga, um metro e oitenta mais larga que o convés, a vela
teve de ser enrolada e ferrada a todo o comprimento do lado de bombordo do Ra. Triunfantes, mas
estourados, como se tivéssemos feito vinte rounds num ringue, sentámo-nos sobre ela, para refrear a
rebeldia daquele dragão voador, que ainda se contraía em convulsões quando rajadas fortes lhe
inchavam as pregas. Por fim, ficou bem ligada.
De súbito, a bordo fez-se o sossego. Só os rangidos suaves e ritmados do papiro nos lembravam
que no mar o Ra era um berço marinho, cheio de meninos turbulentos que precisavam ser
embalados para dormir e não voltarem o berço. Com o mastro despido, o Ra retomou o curso
conforme lhe apeteceu, paralelo a terra, sem ameaçar dar à costa.
Olhei para Carlo, que sorria. Depois foi um riso abafado e acabou rindo sem constrangimento.
Fixámo-lo com espanto.
- Estamos sem a vela e sem os remos de direcção. Nesta embarcação nada mais temos que
obedeça a ordens humanas. Agora, quem comanda é a natureza. Logo que deixamos de a desafiar,
podemos descansar e divertir-nos.
Olhámos à nossa volta. Paz e ordem por toda a parte. Nem verga, nem vela, nem motor, nem
preocupações. Só nós os sete, balançando sobre uma maca de papiro, enquanto a corrente
oceânica nos arrastava para onde lhe apetecia, e era para lá mesmo que nós queríamos ir. Abdullah
entrou na cabina e deitou-se com o mini-rádio junto ao ouvido. Georges tentou pescar. Yuri comeu
uma laranja e, com espírito cirúrgico, fez da casca um copo para licor. Carlo meteu o nariz em todos
os sacos e cestos, tentando descobrir matéria para uma boa refeição. Santiago jazia imóvel na
cabina. Com o pequeno inventário na mão, leu alto os números dos cântaros que continham água,
tâmaras, ovos, azeitonas ou sementes para as galinhas. Eu tirei a faca da bainha para improvisar um
instrumento que nos desse a latitude. Norman não se conteve.
- Amigos, isto é tudo muito bonito - disse ele. - Mas não para as pessoas em terra. Prometemos estar
no ar ontem. Temos de avisar que está tudo O. K. De contrário, pensarão que fomos ao fundo.
Yuri concordou. Ajudou Norman, ainda cheio de febre, a afastar o colchão, para poderem abrir o
caixote onde estava guardado um transmissor de emergência, com um gerador interno manual.
Pouco depois, Rádio Safi respondia à chamada de Norman, que informou que tínhamos partido os
dois lemes, mas íamos continuar a travessia do oceano Atlântico sem problemas. Avisou que, de
futuro, não poderíamos contactar com regularidade, porque o remo onde fixámos a lâmina que servia
de terra estava partido. Se o colocássemos fora da borda, a agitação das ondas faria que o cobre
cortasse as cordas e o papiro. Norman sentia-se tão fraco que se meteu outra vez no saco-cama e
foi Yuri quem arrumou o rádio. Carlo trouxe-lhe uma bebida quente.
Georges não apanhou peixe, mas apareceu com uma ideia. Porque não rizamos a vela? Com este
vento um pequeno espalho de vela bastaria para navegarmos mais depressa. A vela tinha sido
cosida de maneira que permitia rizar e atar um ou dois terços dela. Com vento muito forte era
suficiente a faixa superior da vela. Concordei com a ideia e Norman também. Reanimados por um
bom almoço da idade da pedra, à base de chouriço salgado e legumes frescos, corremos para o
convés. Com alguma dificuldade, acabámos por rolar, de bombordo, a verga com a vela encharcada,
estendemo-la sobre o navio e ficaram noventa centímetros sobre as ondas, do lado oposto. Foi difícil
rizar a vela debaixo de vento, que passava de brisa dura a tempestade ligeira. Em todo o caso,
combinámos os nossos esforços, tudo correu bem. Colocámo-nos sobre ela e deslizámo-la sobre a
capoeira e a restante carga. Depois enrolámo-la até que só um terço da superfície ficou desdobrado.
Grande foi a nossa alegria quando aquela pequena faixa de vela se encheu de vento, lá no alto do
mastro. Com a âncora suspensa à borda e os remos pequenos atados nos lugares próprios,
deslizámos para sudoeste, radiantes por mais uma vitória sobre os elementos.
Decorreram quinze minutos. Ao princípio da tarde do nosso segundo dia a bordo, uma borrasca
atingiu outra vez a vela. Como se fôssemos um só, saltámos para as amuras e para as escotas, mal
sentimos o primeiro baque do rolo pesado da vela pendurado no topo e cravámos a verga no mastro.
A rajada seguinte soou como um grito de socorro, vindo do mastro. Os nossos corações contraíramse ao percebermos que se prolongava num estrondo terrível e num estalido que nos fez tremer dos
pés à cabeça. Olhámos para cima e vimos a verga, que aguentava a vela esticada, a ceder de um
lado e do outro do ponto central. A vela encolheu como um morcego quando encolhe as asas.
Lascas pontiagudas de madeira partida saíram da verga, como garras ameaçadoras. Vimo-nos
obrigados a baixar todo o conjunto para que a lona não rasgasse. Isto passou-se durante o nosso
segundo dia no mar. O nosso segundo dia!
Mas assim que sentiu que o cadáver da verga quebrada jazia, com a vela, imóvel sobre o convés, o
Ra tornou-se novamente dócil e os rolos de cana continuaram a flutuar na direcção desejada, qual
serpente do mar domesticada transportando-nos no dorso.
- É para que vejam! - disse Carlo, e rastejou para a cama, satisfeito.
Abdullah fugiu para a popa. Lavou-se até aos joelhos e cotovelos, para logo a seguir rezar a Alá.
Yuri, rindo por entre dentes, sentou se com o cachimbo e o Diário à porta da cabina. Eu sentei-me ao
lado dele, de canivete na mão.
- Tudo em ordem? - perguntou Santiago, a medo, pondo o nariz fora do saco-cama.
- Tudo - respondemos em coro. - Partiu-se tudo quanto era quebrável. Resta-nos o papiro.
Passámos o resto da tarde dentro da cabina, enquanto a tempestade rugia lá fora. Nem um navio
apareceu.. Distribuímos as vigias da noite entre todos, pois sabíamos que estávamos mesmo na rota
da costa de África. De tempos a tempos, trepávamos ao tope do mastro para toparmos a tempo as
luzes de terra. As únicas coisas que temíamos era a colisão com qualquer navio e os rochedos
traiçoeiros da costa.
À meia-noite e meia hora, Carlo, de lanterna de parafina na mão, acordou-me aos safanões.
Preocupado, segredou-me que, pela amura de bombordo, se viam luzes no horizonte. O vento forte
de noroeste estava a arrastar nos, de través, para lá. Como estava completamente vestido, ajustei a
corda de salvação e corri para o convés. O vento era moderado, mas muito fresco, e o céu estava
encoberto. Na noite escura como breu distinguiam-se nitidamente as luzes espalhadas no horizonte,
mesmo na nossa frente. Quatro eram bastante fortes, uma mais fraca. Com toda a certeza era a
costa de Marrocos. Carlo trepou ao mastro, que balançava de um lado a outro. Disse que nos
estávamos a aproximar rapidamente. Chamámos os três que estavam a descansar. íamos tentar
aguentar o nosso molho de canas a remo, para não nos despedaçarmos contra as rochas. Nesse
momento, Carlo e eu descobrimos uma luz verde. Depois... mais outra e uma vermelha, também.
Não podia ser terra! Uma frota de barcos de pesca, vinha direita a nós. A tremer de frio, a tripulação
voltou para a cama. Pouco depois, três grandes barcos passaram aos balanços perto da nossa proa.
Um quarto parou a máquina e acostou-nos de tal maneira que o Ra ficou de proa para o balanço do
navio. Coloquei o holofote na parede da cabina e fiz sinais: «Ra, O. K., Ra, O. K.» O barco tornou a
pôr a máquina a funcionar e afastou-se, mesmo ajusta para se evitar a colisão. Do alto do mastro
fizeram-nos uns sinais que não conseguimos entender e, lentamente, desapareceu na escuridão.
Georges ficou de vigia, embrulhado, como uma múmia, em cobertores que lhe cobriam o blusão. Eu
deitei-me. Nem o ranger ininterrupto dos cabos que atavam as canas de papiro bastavam para
abafar os zumbidos arrebatadores e desinibidos do filho do Nilo. O vento de popa atravessava a
parede de bambu fino da cabina. Só ela nos defendia da fúria dos elementos do exterior.
Ainda havia nuvens no céu quando o dia rompeu. O terceiro dia a bordo. 0 vento abrandara, mas o
mar estava mais agitado que nunca. Verificámos, com profundo prazer, que as ondas, que saltavam
como loucas à nossa volta, só nos levantavam a ar. Devagar, o mar ia nos arrastando como uma
bóia à deriva sem entrar água no convés. A carga continuava seca. Sem vela, sem leme, sem
sextante, sem sabermos a posição exacta, sem terra à vista, o terceiro dia foi muito calmo.
Consertámos o remo de direcção e reforçámos a secção central de uma vergôntea que tínhamos em
reserva para substituir a verga partida.
Abdullah, que estava a lavar a cabeça antes de rezar, soltou um grito de protesto. Afinal, a água do
mar não estava tão pura como isso! Alguém a sujara e a porcaria estava a cair sobre a cabeça dele.
No fundo do balde de lona viam-se grânulos pretos de vários tamanhos. Olhámos borda fora. De um
lado e do outro do barco, centenas de grumos iguais flutuavam à tona de água. Eram moles como o
asfalto. Uma hora depois continuavam a boiar com a mesma espessura. Concluímos que eram os
desperdícios de algum petroleiro. Subimos ao mastro, para ver se avistávamos o miserável, mas não
o descobrimos. Porém, durante todo o dia, o mar manteve-se coberto de grânulos.
À tarde passámos por um peixe-lua que estava à superfície, impávido. Um pouco depois, fomos
visitados por quase uma centena de golfinhos, que saltavam na vertical sobre as ondas, em contínua
dobadoura. Abdullah sentiu um prazer indescritível quando os viu desaparecer, tal como tinham
aparecido.
O quarto dia foi muito mais quente e mais calmo. O Sol apareceu por entre as fendas de nuvens.
Durante muito tempo, vimos distintamente a silhueta azul de dois montes corcovados do continente.
Santiago continuava doente, mas Norman melhorou e já não tinha febre. Yuri consentiu que ele
calculasse a altura meridiana do Sol. Contudo, como não tínhamos cronometro a bordo e o aparelho
de emergência já não captava a rádio Safi, faltou-nos um segundo elemento para determinarmos a
posição exacta. Isso preocupava os dois homens da cabina. Norman estava convencido de que,
enquanto avistássemos o continente, não conseguiríamos ir mais além das ilhas Canárias.
Estávamos a ser levados pela corrente para a perigosíssima passagem entre Fuerte Ventura e o
cabo Juby, no continente africano. Santiago, que viveu em criança nas ilhas Canárias, confirmou as
indicações que obtivemos dos livros de Norman. O cabo Juby era o terror dos marinheiros porque
das rochas saía um banco de areia muito traiçoeiro, que, como uma língua, avançava até à mais
perigosa das correntes oceânicas, exactamente no ponto onde a costa de África vira para sul.
Sentados a vante sobre o monte de lona em que se transformou a vela, aproveitámos para comer.
De súbito, ouvimos um grito desvairado de Abdullah, que ia para a cabina rezar:
- Cavalos! Cavalos! - Depois rectificou: - Hipopótamos.
Fixámos a direcção onde ele apontava. Descobrimos os olhinhos indolentes de duas grandes
baleias, que nos olhavam de soslaio e esguichavam uma mistura de ar e água. Abdullah nunca vira
hipopótamos tão grandes lá no lago Chade. Ganhou o dia. Um mamífero com cauda de peixe
parecia-lhe história das Mil e Uma Noites. Uma das baleias ergueu a cauda, com elegância, para
depois se despedir. Abdullah ficou confundido perante a inventiva de Alá.
No quinto dia, acordámos com vento norte frígido e mar agitado. Vestimos tudo quanto tínhamos,
mas, mesmo assim, Abdullah batia os dentes. Durante cinco dias, o mar quebrou contra a amura de
estibordo, tal como nós tínhamos previsto. A viagem decorria na zona dos ventos alisados de
nordeste. Por esta razão, construímos a abertura da cabina no lado oposto, ou seja, no lado
esquerdo, ou de bombordo, que ficaria a sotavento. Além disso, deslocámos a cabina e a carga mais
pesada para estibordo, na intenção de evitar que o vento, ao bater na vela daquele lado, voltasse o
barco de cima para baixo. Tanto nós como os nossos consultores técnicos, sabíamos que, para os
barcos à vela não se voltarem, o peso principal deve ficar a barlavento. Mas, ao quinto dia, a
experiência adquirida provou que, a esse respeito, um barco de papiro comporta-se ao contrário de
todos os outros barcos do mundo. É o único barco à vela que deve ter a maior parte da carga a
sotavento. A barlavento o papiro absorve muitas toneladas de água acima da linha de flutuação. As
ondas e a espuma estão sempre a varrer aquele lado do barco, enquanto tudo o que fica acima da
linha de água a sotavento se mantém seco e leve. O peso da água vai aumentando em tal proporção
que a embarcação adorna contra o vento, em vez de com ele, como é normal.
Era tarde para deslocar a cabina para meio-navio. Estava atada de través, ao fundo do barco, com
cordas muito fortes. Mudámos toda a carga de estibordo para bombordo, mas não bastou. Os rolos
acima da linha de flutuação, a estibordo, já deviam ter absorvido muitas toneladas de água, que nos
acompanhavam como carga invisível.
Pesavam muito mais que algumas centenas de quilos de comida e água potável que conseguimos
levar para outro lado. Por consequência, a nossa embarcação à vela deu sempre a borda para
barlavento.
Normam restabeleceu se por completo. Enquanto nós tornámos a arrumar a carga, ele tentou fixar a
inquieta chapa de cobre debaixo de água, para conseguir contacto pela rádio e assim obter um
segundo elemento exacto. Temia que estivéssemos muito mais perto da costa do que ele calculara
sem cronometro no dia anterior e que descaíssemos para terra, junto ao cabo Juby.
Durante a noite rebentou uma tempestade. 0 vento rugia contra os estais do mastro. As ondas, que
se atiravam barbaramente contra nós, deslocaram o Ra ainda mais. Fizemos vigia dois a dois, para
não sermos apanhados de surpresa pelos bancos de areia do cabo Juby. Passámos em revista
todos os cabos. Nem um quebrou. Nem uma cana se soltou. Mas a madeira da ponte triturou a tal
ponto o canto de bambu da cabina que, lá dentro, ficou tudo coberto de pó fino de serrote. Santiago
teve insónias. Durante a noite só dormíamos quando mortos de cansaço. As caixas saltavam debaixo
de nós. A cabina, a ponte e a mastreação penderam da carlinga e aturdiam-nos como o miar de
gatos presos pelas caudas. A cabina descaiu tanto para estibordo que não nos podíamos deitar de
lado sem resvalar. Quatro deitaram-se em fila, os três restantes ficámos no canto onde estavam os
aparelhos de rádio e navegação. Abdullah descaía sobre Georges, este descaía sobre Santiago.
Yuri, que ficava no fim da rampa contra a parede, recebia-os com os braços e os joelhos. Eu fiz um
rolo de toda a roupa que tinha disponível e coloquei-o debaixo do colchão do lado de estibordo. Carlo
fez o mesmo, para não descairmos para cima de Norman e do rádio.
A tempestade continuou pela noite fora. As ondas atingiam três e cinco metros de altura. Na manhã
do sétimo dia, por mais singular que isso pareça, o Ra deu a ideia de estar menos desconjuntado. Os
cabos pareciam mais retesados. De súbito, rebentou sobre nós, a ré, uma vaga brutal que enterrou
Norman até à cintura. Levou muito tempo a escoar pelo papiro. A espuma que ficava no convés e a
humidade incharam as canas a ponto de apertarem os cabos e os interstícios. O barco dava a
sensação de estar mais rígido e forte que nunca. Foi pouca sorte ter adornado em tão má posição
para estibordo.
A maneira como o barco lutou contra a tempestade foi, para nós, uma surpresa inesperada. Mas,
logo de seguida, Norman previu que estávamos a deslizar em direcção às rochas. Teríamos de optar
entre hastear a vela debaixo do vento norte ou descair para terra.
Concordámos, por unanimidade, em hastear dois terços da vela na verga que tínhamos reforçado.
Santiago veio cá para fora a cambalear e, com toda a tripulação em actividade, conseguimos içar a
vela e pôr o remo-leme dentro de água, a ré. Afastámo-nos de terra, deslizando sobre as cristas das
ondas, como um peixe-voador. Passados momentos, ouvimos outro estrondo. A haste do remo-leme
quebrou como um fósforo e só tivemos tempo de puxar a pá para bordo outra vez. Mas os homens
de terra tinham se transformado, a pouco e pouco, numa equipa de marinheiros. Saltando como um
tigre, Abdullah agarrou o punho de bombordo da vela, que batia. Santiago, rastejando, foi-se colocar
a seu lado, agarrando firmemente. Carlo e Yuri desapareceram, sem dizer uma palavra, atrás da
cabina, do lado de estibordo, para folgarem as escotas. Georges, em ceroulas, agarrou um remo e
virou a popa para o vento. Norman e eu ajustámos os remos verticais até que o Ra, sem timoneiro,
voltou a lançar-se sobre as ondas como um peixe pesado. Assim aguentámos o rumo durante as
restantes horas do dia, sem que a tempestade danificasse uma única cana. Foram as partes de
madeira grossa fora da borda, e não as canas finas do casco, que nos levantaram problemas.
Na noite seguinte a tempestade amainou, mas não o mar. As vagas aumentaram para entre cinco e
seis metros de altura. A cabina já não estava em posição simétrica. Inclinou para barlavento e ficou
como um chapéu amachucado. Saí para o convés antes de começar a minha vigia e passei em
revista o barco de ponta a ponta. Ao passar debaixo da vela, para observar melhor o horizonte, o
meu coração quase deixou de bater. Pela amura de estibordo via-se um grande farol, com luzes de
diferentes cores, rodeado por muitas outras mais pequenas. Estávamos a descair para a esquerda
do complexo e, portanto, em direcção a terra. Aquele farol, ainda a uma certa distância, só podia ser
o do cabo Juby.
Sem perda de tempo, virámos a vela, para tentarmos alterar o curso, mesmo sem o leme-remo. Mas
não conseguimos. Descaímos para sotavento e continuámos a aproximar-nos de terra, pela
esquerda das luzes. Com os corações apertados, capacitámo-nos de que não podíamos passar para
fora e, em corrida cega, deslizávamos para as rochas invisíveis. Mas, num instante de lucidez,
percebemos que as luzes oscilavam ligeiramente, como se a torre e as casas estivessem em cima
de um pilar e não sobre os bancos de areia. Depressa passámos lá perto, mas por dentro: o
complexo estava separado de terra. Afinal, era uma plataforma que se destinava à perfuração para
pesquisa de petróleo, ancorada ao largo da costa de África. Aquela iluminação feérica pretendia
evitar as colisões com navios e aviões. Durante algum tempo, ali ficámos pasmados perante as
maravilhas da técnica. Depois, reparei que Georges continuava despido e a tremer com frio,
agarrado ao remo pequeno. Furioso, gritei-lhe que se fosse vestir ou se metesse no saco-cama, para
não adoecer também.
No sétimo dia ainda mantínhamos hasteados os dois terços de vela rizada. Dava-nos a sensação de
que conseguíamos competir com a ondulação, que atingia grande altura e se deslocava no mesmo
sentido que nós. De cada lado do Ra, deslocavam-se nuvens pesadas e escuras, mas, mesmo em
frente, via-se uma abertura de céu azul entre os dois bancos de nuvens. Tudo levava a crer que,
encobertas por uma dessas frentes estariam as ilhas Canárias; debaixo da outra, o continente
africano. O mar estendia-se entre elas, sob a abóbada de céu azul.
O Ra deixou-se governar direito à faixa azul. Norman e Santiago, fruto dos cuidados médicos de
Yuri, já andavam outra vez a pé. Em compensação, tivemos de mandar Georges para a cama. Ficou
com dores nas costas, devido ao esforço que fez para aguentar o remo, meio despido, sob o vento
gelado da noite.
Ao meio-dia, Carlo foi tesar as cordas, para tentar pôr a cabina em linha vertical. De pé, na ponte,
descobri, horrorizado, que, cada vez que éramos erguidos mais alto sobre a crista das ondas e
olhava através do telescópio, via terra baixa coberta de erva. Carlo e Norman subiram ao mastro e
perceberam que, paralela a nós, se estendia uma faixa verde inabitada. Talvez estivesse a umas seis
milhas marítimas; talvez até mais perto. Mais uma vez tentámos tudo e alterámos o curso. A faixa de
erva acabou por desaparecer da nossa vista. Supomos que seriam os bancos de terra baixa que
circundam o cabo Juby, onde a costa vira para sul. Deve ter sido a última ponta de África que
dobrámos, pois nunca mais voltou a aparecer terra.
Então Carlo lembrou que fizéssemos uma festa a sério. Abdullah matou três aves. Yuri preparou o
licor. Não nos faltavam motivos para beber. Primeiro, um gole pela árvore de iroco, que provou tão
mal. Era muito frágil para remos de direcção. Depois, um copo cheio pela cana de papiro. Que
material espantoso para a construção de barcos! Estávamos a 31 de Maio. Eram decorridos quinze
dias e o papiro continuava a flutuar sem se decompor, nem se desintegrar. Até estava mais forte e
mais maleável que de início. Nem uma cana se perdeu. Levámos uma semana a navegar de Safi até
ao cabo Juby: muito mais que do estuário do Nilo até Biblo, no Império Fenício. Tanto como desde o
Egipto à Turquia. Provámos, assim, que os Egípcios podem ter exportado o seu papiro para onde
quiseram, ao longo da costa da Ásia Menor, sem necessidade de recorrerem a navios de madeira
estrangeiros.
Skal, Norman. Skal, Yuri. Skal, a todos. Skal a Neptuno e aos hipopótamos de Abdullah. Safi, a
macaquinha, sentou-se ao pé de nós em cima da capoeira, a beber o líquido de um coco acabado de
abrir.
A dada altura, ouvi alguém murmurar «casas brancas». Levantei -me e fui espreitar. Georges,
deitado de barriga para baixo à porta da cabina, apontava para onde os bancos baixos tinham
desaparecido. Agora, estavam a reaparecer e, desta vez, com filas de pequenas casas brancas.
Uma aldeia árabe, típica do Norte de África. À direita das casas, avistava-se um pitoresco forte
antigo. Lá estava ele, o cabo Juby. O mesmo era dizer que, enquanto durou a festa, atravessámos a
parte mais perigosa. Estávamos já a deslizar para além da restinga que nos obcecou durante uma
semana e fora responsável por tantos naufrágios durante séculos. Durante uma semana lutámos por
fazer caminho afastados de terra, e, afinal, ali estávamos à distância de um tiro de espingarda do
cabo Juby.
As casas brancas afundaram-se no mar tão depressa como tinham aparecido. Começámos a
navegar mais depressa. Adeus, África. Adeus, Velho Mundo. Não temos leme. Não precisamos dele
nesta viagem.
Uma gaivota grande poisou no molho de papiro que se erguia à proa. O pato, que andava a apanhar
o ar fora da capoeira, assustou-a. A gaivota levantou voo. Pouco depois, ouviu-se o alarido de um
bando de pássaros marinhos. Na capoeira que nos servia de mesa de jantar, as galinhas
cacarejaram.
- Já sei o que a primeira gaivota foi dizer às outras - disse Carlo. - Disse-lhes que encontrou um
ninho de pássaros a flutuar ao largo do cabo Juby.
CAPÍTULO IX --- Dominados pelo mar
As ilhas Canárias ficaram para trás. Em oito dias percorremos a distância que, pelo mar do Norte, vai
da Noruega à Inglaterra. Normalmente, quando um barco consegue fazer uma viagem tão grande por
mar, pode classificar-se como «embarcação de longo curso». Apesar da verga e dos remos partidos,
apesar dos maus tratos de homens da terra, sem a experiência dos antigos egípcios, apesar das
tempestades e das ondas, o poder de flutuação do Ra não diminuiu. A carga nada sofreu e o mar
alto é muito diferente das águas serenas do Nilo.
Passámos pelas ilhas Canárias debaixo de chuviscos, sem avistarmos terra. Mas, quando o céu
abria, formando um arco azul sobre as nossas cabeças, distinguíamos o tapete de nuvens baixas
que cobria a Costa do Ouro africana - ponto de referência do continente a bombordo. Pela amura de
estibordo, a posição das ilhas Canárias foi-nos dada pelo pico vulcânico de Teide, em Tenerife, a três
mil e seiscentos metros de altitude. A humidade acumulada no pico eleva se até altitudes mais frias,
onde se condensava, transformando-se em pequenos tufos de nuvens que o vento arrastava para o
mar, qual fita de fumo saindo da chaminé de um navio.
Abdullah, que só conhecia as ilhas planas do lago Chade, nem queria acreditar que, ali naquele mar
tão picado, houvesse ilhas habitadas. Quis logo saber se esses habitantes eram escuros como ele,
ou brancos como nós. Santiago, que viveu nas ilhas Canárias e, além disso, era antropólogo, deu a
resposta. Falou-nos nos misteriosos guanches que viviam naquelas ilhas quando os Europeus os
«descobriram», algumas gerações antes de «descobrirem» a América. Os componentes de algumas
tribos era escuros e de pequena estatura; os de outras, mais altos, louros, de olhos azuis e nariz
aquilino. Numa pintura a pastel das ilhas Canárias, datada de 1590, vê se um grupo de guanches de
barbas ruivas e cabelos louros ondulados caindo sobre as costas. Santiago falou nos, também, de
um guanche de raça pura, louro, que ele viu em Oxford. Era uma múmia trazida das ilhas Canárias.
Tal como no Egipto, a primitiva população das Canárias praticava a mumificação e a trepanação. O
facto de os guanches ruivos se parecerem com os Viquingues originou especulações de toda a
oídem sobre a possível colonização da Escandinávia durante a pré- história. Há teorias que
defendem que as ilhas Canárias são os restos da desaparecida Atlântida. Ora, na antiga Europa
nunca se praticou a mumificação nem a trepanação do crânio. Por estes e outros caracteres, se
relacionam os Guanches com as antigas culturas da costa do Norte de África. A população indígena
de Marrocos, conhecida colectivamente por Berberes, que os Árabes rechaçaram para os montes
Atlas, a sul, é uma raça mista, exactamente como os Guanches: alguns baixos e escuros; outros
altos, louros e de olhos azuis. Actualmente, em aldeias isoladas de Marrocos; ainda existem
descendentes bastante puros de qualquer dos dois tipos berberes.
Olhámos para os tufos de nuvens que saíam do arranha-céus vulcânico das ilhas Canárias. Com
bom tempo, o pico via-se da costa de Marrocos. Não nos pareceu necessário ir até à Escandinávia,
ou mergulhar nas profundezas do Atlântico, para encontrarmos a pátria dos Guanches. Podem,
simplesmente, ser originários das populações indígenas mais próximas do continente, que, em
tempos, atravessaram o mesmo mar que nós.
Como os Guanches chegaram às ilhas Canárias tem sido difícil de descobrir, muito mais do que
quem eles eram. Quando, algumas gerações antes de Colombo, os Europeus os descobriram, não
possuíam barcos, nem sequer embarcações de madeira ou canoas. E não porque lhes faltasse a
madeira. Nas ilhas Canárias havia árvores de muitas espécies. Os Guanches eram essencialmente
lavradores que se dedicavam à criação de gado, tanto os de tipo mais claro como os mais escuros.
Conseguiram transportar o gado vivo desde África até àquelas ilhas. Mas, para terem sido bem
sucedidos nessa travessia, com as mulheres e o gado a bordo, é porque ou eram também
pescadores ou marinheiros. Em qualquer caso, nunca, e unicamente, simples guardadores de gado.
Porque teriam, então, os Guanches esquecido os barcos onde navegavam os seus antepassados?
Seria porque esses antepassados só conheciam os barcos de cana, madia, que ainda hoje existem a
norte da costa de Marrocos? Todo e qualquer construtor de barcos que só conhecesse os de cana e
nada soubesse sobre os processos de construção com madeira acabaria indefeso e incomunicável
na ilha onde desembarcava, logo que o seu barco de canas se decompusesse e não houvesse
canas nesse local.
De repente, o Ra começou a arfar e a queixar-se. Deixámos os Guanches e corremos para a vela,
que começou a bater. O vento não tinha mudado, mas as ondas eram cada vez mais altas e mais
seguidas, a tal ponto que ora estávamos no cavado, ora nas cristas.
Mas nunca nos dominaram, porque o nosso cisne de papel dourado levantava a cauda com
elegância e deixava escapar a água tal como entrava. Abdullah começou a sentir dores de cabeça e
a não aguentar a comida no estômago. Yuri diagnosticou enjoo, embora ele nunca tivesse tido
sintomas até ali. Mandou-o para a cama, só com os biscoitos secos do Egipto. Entretanto, a pele de
Santiago melhorava e ele veio juntar-se a nós no convés. Norman estava já em óptimas condições
físicas. Sentámo-nos à roda da capoeira a saborear o risotto quente, com amêndoas e frutas secas,
feito por Carlo, quando, a dada altura, ouvimos gritar: «Olhem!». Apanhados de surpresa, mal
tivemos tempo de pegar nas cordas de segurança. Uma vaga brutal rolou sobre nós e passou por
cima do tecto da cabina. Depois, desfez-se num monte de espuma, que escorreu pelas canas,
lançando perdigotos. Seguiram-se outras do mesmo tipo. Quando o mar se apresenta assim, sem
motivo aparente, é, por via de regra, ao largo de um estuário onde forte corrente impele as ondas a
alturas imprevisíveis. Devemos ter entrado na zona onde a corrente oceânica de Portugal se
intensifica, por compressão, ao passar pelos estreitos mais apertados entre as ilhas Canárias.
Portanto, estávamos, de certeza, a navegar, e rapidamente, pela rota escolhida, seguindo a corrente
das Canárias, que vai ter ao golfo do México.
Para cima, para cima, para cima e... para baixo, bem até ao fundo! Abdullah adormeceu e por isso
não viu cinco grandes cachalotes que apareceram pelo lado direito e submergiram sem darem tempo
a Carlo ir buscar a máquina fotográfica. Depois ouviu se madeira a estalar. Outro remo partiu. Ficou
só um bocado da haste pendurado fora do papiro. Os remos pequenos que levámos como suplentes
começavam a não ser suficientes. Impunha-se resolver o problema. Seria de tentar o desvio até às
ilhas de Cabo Verde, para arranjarmos madeira mais forte? Resposta unânime: «Não!» Entre a
carga, levávamos um mastro suplente, rectilíneo, em madeira cenebar do Egipto. Ora, até àquele
momento, o mastro dera provas de resistir bem à tempestade. Portanto, talvez nunca viéssemos a
ter necessidade do que tínhamos de reserva. Ligámo-lo à haste de iroco do remo-leme que estava
guardada. Assim, ficámos com um remo-leme tão resistente e pesado que só com a ajuda dos sete
conseguimos pegar-lhe e metê-lo dentro de água, já de noite. Fazia lua cheia e as estrelas
brilhavam. A ondas perseguiam-nos, altas, fortes e escuras, mas não nos assustavam, pois nunca
levavam a melhor contra o papiro. O mar só prejudicava e destruía a madeira, logo que a púnhamos
borda fora. Enquanto esteve no convés, fora de serviço, entre as cento e sessenta ânforas e a
restante carga, nada lhe aconteceu. Mas agora era inevitável, o gigantesco remo ia travar batalha
com o mar.
Na ponte, Santiago e eu segurámos a ponta da haste, que media sete metros e meio e que ia ser
fixada à superfície. Os outros, em baixo no convés, aguentaram a pá enorme e pesada. Queríamos
metê-la dentro de água e depois segurá-la, com a secção do punho, a bombordo da trave que
atravessava o convés de ré.
Tanto o papiro como o mar estavam muito agitados quando veio a ordem para o remo descer. Uma
onda enorme levou pelo ar a pá, arrancando-a das mãos dos cinco homens que tentavam, a todo o
custo, segurar as cordas com que a iam fixar. Santiago e eu, mal conseguimos agarrar a parte
superior e mais fina da haste que pretendíamos atar ao corrimão da ponte. Quando a onda assobiou
debaixo de nós e passou a meio comprimento do navio, o painel da popa abriu uma brecha. O leme
fugitivo bateu com todo o seu peso sobre a ponta da trave que cruzava o convés. Lembrou-nos um
malho a rodopiar sobre uma bigorna. A onda seguinte tornou a dar-lhe nova pancada. Desesperados,
os cinco homens tentaram recuperar o malho vadio com laçadas de corda e com as mãos, enquanto
Santiago e eu éramos sacudidos quais fantoches indefesos. Mas. cada vez que o remo aparecia a
flutuar e o seu peso era suportável, aproveitávamos para encaminhar a ponta mais fina para a
posição que nos interessava. Quando a crista da onda deixou cair a pá em cheio, os dois que
estávamos na ponte fomos pelo ar. Os cinco que estavam no convés ligaram a gola da pá do remo
com cabos, numa tentativa infrutífera de a atar à trave. Mas, antes disso, outra onda arrancou-lha
das mãos, levou o remo pelo ar, e a nós também, projectando-nos para o lado oposto. Caímos tão
depressa e com tanta torça que teríamos ficado com os dedos e os pés esmigalhados se tivéssemos
sido apanhados pela haste do remo, que bateu contra o corrimão, à volta do qual tentámos engatar
as pernas, para que nem nós nem o remo fôssemos borda fora. As travessuras do pesadíssimo remo
atingiram tal frenesim que depressa nos capacitámos de que teríamos de o largar se não queríamos
que fizesse em bocados a barra cruzada a ré. E, com ela, os cabos que atavam os molhos de papiro.
Mas a ideia de ficarmos reduzidos a uma pilha de feno, deslizando indefesa em direcção à América,
acordou em nós todos as reservas físicas. Sem nos dar tempo a perceber o que aconteceu, o remo
caiu em boa posição, permitindo que os sete o apanhássemos com os cabos, num gesto simultâneo.
Peámo-lo no cimo e no fundo do Ra com cabos de corda tão grossos que o mar não conseguiria
deslocar. Uma vez mais, voltámos a ter, a ré, um dos dois remos-leme do antigo Egipto. A haste
ficou muito grossa, disforme e grosseira. Girava mal porque foi emendada com o mastro
quadrangular. Todavia, ficou tão forte que as ondas torciam o barco mas ela não partia.
Santiago confessou que foi o trabalho mais duro de toda a sua vida. Yuri tratou os pequenos
ferimentos que tínhamos nos dedos. Mas aquele remo forte e pesado manteve o rumo tão certo que,
exaustos, resolvemos ir para a cama. O vigia ficou só, para o caso de algum navio nos abordar. A
Lua, as constelações e, pela primeira vez, a direcção constante das linhas rectilíneas das cristas
espumosas das ondas davam certa tranquilidade quanto ao rumo. Ficámos sentados à entrada da
cabina, do lado de sotavento, a gozar a temperatura amena. Só ao render da vigia é que íamos à
ponte dar uma olhadela à pequena bússola manual. Acabámos por descobrir que o céu estrelado
que cobria as nossas cabeças era como que uma bússola gigantesca com o disco brilhante virado
para baixo. íamos com a proa para oeste. Por isso, não nos preocupava onde iríamos parar.
Tínhamos a certeza de que estávamos afastados de terra.
Durante três dias navegámos sem problemas. Emendámos o outro remo-leme com bocados
sobrepostos das duas hastes partidas. Não empregámos espigões, nem pregos. Fizemos as uniões
com corda, para a madeira não lascar. Mas a forte corrente das águas continuou a ensopar o papiro
do lado de barlavento até à balaustrada, obrigando o vau a afundar cada vez mais. Enquanto as
vagas se mantiveram altas, não utilizámos o segundo remo. Guardámo-lo para quando,
eventualmente, o outro partisse, pois, às vezes, nos combates com o mar, vergava de maneira
agoirenta. Por outro lado, tentámos largar a vela a todo o pano, e tudo correu bem. Fazia vento norte,
muito frio, mas ainda se via a abóbada de céu quê cobria a costa do Sara espanhol. Tanto quanto
nos foi possível, estivámos a carga a bombordo, ou seja, do lado de sotavento, que continuava acima
do nível de flutuação, tal como á largada. Com a vela a todo o pano, o barco recuperou velocidade,
virando para oeste, chegou a fazer cerca de sessenta milhas marítimas nas vinte e quatro horas, isto
é, dois nós e meio. Atrás de nós ficava a esteira correspondente. Ao fim de onze dias a navegar,
tínhamos percorrido quinhentas e cinquenta e sete milhas marítimas, ou seja, mais de mil
quilómetros a voo de corvo. Tivemos de atrasar os relógios uma hora.
Durante dois dias, estivemos sempre rodeados de navios. De uma só vez, apareceram três grandes
transatlânticos. Devíamos estar na derrota do círculo máximo de África. Pendurámos a lâmpada de
parafina mais forte que possuíamos no alto do mastro, para evitar as colisões à noite. Mas, passado
algum tempo, deixámos de ser visitados por viajantes humanos. Só cardumes de golfinhos
dançavam à nossa volta, e tão perto que lhes podíamos tocar. Um ou dois letárgicos peixes-lua
passaram água abaixo e o primeiro peixe-voador investiu contra as amuras do navio. No céu, não se
viam seres vivos. Apenas, ocasionalmente, um ou outro insecto perdido voava para bordo, ou algum
par de procelárias se lançava sobre o côncavo das ondas. Estes pequenos pássaros marinhos
dormem sobre a água porque flutuam sobre vagas enormes com a mesma leveza do papiro. Um belo
dia notámos que, de buracos no papiro, saíam pequenas baratas castanhas. Agarrámo-nos à
esperança de que a água do mar mataria os ovos e as larvas, pois, de contrário, nós seríamos
também comidos. Os cépticos que viram os camelos tentarem comer as amuradas do nosso barco
profetizaram que as canas talvez viessem a ser boa forragem para criaturas marinhas famintas. Até
ali, nem as baleias, nem os peixes se tinham tentado, mas aquelas baratinhas preocupavam-nos.
O Sol e a Lua rodavam, alternadamente, para oeste, indicando-nos o rumo. As vigias solitárias
durante a noite davam-nos a intemporal percepção de eternidade que eu já experimentara na KonTiki. Estrelas e água negra. As constelações cintilavam por cima de nós. Com a mesma intensidade,
debaixo de nós, reluzia a fosforescência do plâncton vivo, a brilhar em faíscas de néon sobre o
tapete escuro por onde nós íamos navegando. O brilho do plâncton, às vezes, dava-nos a sensação
de nos deslocarmos sobre um espelho encapelado. Ou seria o mar transparente como o cristal, e
sem fundo, de tal modo que através dele apareciam miríades de estrelas do outro lado do universo?
Naquele céu estrelado e omnipresente, a única coisa firme e ao alcance das nossas mãos eram os
molhos flexíveis de canas douradas e a grande vela quadrada, mais larga junto ao braço da verga do
que em baixo, perto do convés. Bastava contemplarmos o contorno trapeziforme daquela vela
egípcia contra a noite estrelada para o calendário recuar milhares de anos. Hoje em dia, já não se
vêem silhuetas de velas com aquele desenho. Os estalidos e o ranger do papiro, do bambu, da
madeira e dos cabos faziam o resto. Ali não se estava na era da bomba atómica nem no tempo em
que a terra era ainda comprida, plana, repleta de mares e continentes desconhecidos. Quando o
tempo era prerrogativa comum e todos o tinham em abundância. Embora afectados pela luta travada
durante os dias anteriores, adquirimos melhor adaptação no barco, o que nos permitia render os
vigias só com a luz das lamparinas penduradas no convés. Que prazer indiscutível poder dormir,
sossegado, dentro de um saco-cama. Acordávamos com um apetite devorador. Sentíamos um bemestar físico já quase esquecido. Os pequenos prazeres tomaram proporções desmedidas; os grandes
problemas diminuíram de importância. Porque havemos de menosprezar a vida da idade da pedra?
Não há motivo para pensar que aqueles que viveram antes de nós e se dedicaram essencialmente a
trabalhos físicos esgotantes não tenham tido a sua quota-parte de alegrias na vida.
Apesar de o horizonte nunca ter mudado, na carta apareceu, diariamente parcelado, um progresso
de mais de cem quilómetros (ou seja, cerca de sessenta milhas marítimas) para oeste. A linha
confinante entre o mar e o céu era a mesma todos os dias e em qualquer altura do dia. O horizonte
movia-se connosco. Nós éramos sempre o seu ponto focal. Mas as massas de água também se
moviam, invisivelmente, connosco. A corrente das Canárias é como que um rio de água salgada,
deslizando rapidamente em direcção ao sol poente, sempre acompanhado pelos ventos alisados,
que sopram em direcção ao equador. Ar, água, tudo o que flutua ou voa, sempre rumo ao oeste.
Para oeste, com Sol ou com Lua.
Norman e eu estávamos na ponte. Ele com um sextante; eu com um «nasómetro». Foi a designação
que Yuri deu ao instrumento manual que eu fiz, com dois bocados de madeira lisa, para medir a
latitude. Fixei-os num cepo de madeira, que fazia uma curva para se adaptar ao nariz. Donde o seu
nome. Com o cepo ao nível dos olhos, a ideia era, com o olho esquerdo, apontar a face superior de
uma das placas de madeira na direcção do horizonte e fixá-la nessa posição. A outra placa estava
fixa no cepo por um gonzo de cabedal. Com o olho direito, dava-se-lhe a inclinação necessária para
ficar na direcção da Estrela Polar. O ângulo formado pela posição das duas placas, lia se
directamente num disco que girava entre elas. Esse ângulo representava a nossa latitude, sem
necessidade de mais cálculos. Este «nasómetro», tão primitivo, foi o brinquedo de todos, por ser
rápido e simples de manejar, e nunca errou em mais de um grau. Esta aproximação tão perfeita
permitiu-nos fazer a carta da nossa posição diária. Norman anotou noutra carta a versão correcta.
Eram quase idênticas.
Aos poucos com o barco de papiro fomos aprendendo lições úteis. Os remos-leme inclinados foram
os primeiros a revelar segredos. Provaram ser o elo que faltava no primitivo mecanismo de direcção
descoberto pelo homem, entre o remo e o leme. Depois, o corpo de feixes da embarcação
propriamente dita, permeável à água, revelou as suas verdadeiras qualidades. Para além de uma
incrível capacidade de carga, as canas de papiro mostraram-se rijas no mar encrespado e
provaram que tinham um poder de flutuação absolutamente contraditório ao veredicto
preconcebido pelo homem moderno. Todavia, foi quanto à mastreação que surgiram as surpresas
mais significativas. Pudemos verificar que a sua estrutura tão desenvolvida não se destinava,
certamente, a meras embarcações de rio. No desenho por onde nos orientámos, Landstrõm indicou
todos os pormenores do mastro e das armações que encontrou nas pinturas de parede do antigo
Egipto. Tinham um cabo grosso que partia da ponta do mastro para a proa do navio. Mas não
apresentavam cabo correspondente do mastro para a popa. Ora, um cabo a vante e outro a ré
seriam requisitos lógicos e indispensáveis para aguentar o mastro montado numa embarcação
fluvial, destinada a navegar em águas calmas. Mas os construtores de navios do antigo Egipto
tiveram o cuidado de evitar pôr cabos do mastro para ré. Em vez disso, fixaram cinco ou seis estais,
a alturas diferentes, em cada uma das pernas do mastro bifurcado. Esses cabos eram presos em
diagonal, mas paralelos entre si, a cada lado do navio, um pouco para ré de meio-navio. Deste modo,
toda, a parte da proa ficava livre de cabos de mastro e, portanto, erguia e descia ao sabor das ondas,
sem levantar problemas ao mastro. Logo que o Ra começou a galear rio alto mar, percebemos a
importância deste sistema específico. A popa ficava atrás da restante parte do barco, como uma
cauda solta que balançava livremente. Se estivesse fixa por algum estai à ponta do mastro, este terse-ia quebrado ao embate com as primeiras vagas. Quando dançávamos sobre as cristas de ondas
descomunais, a meia secção do Ra erguia-se suavemente para o alto, enquanto na cava o peso da
proa e da popa contra-alquebravam-no, simultaneamente. Se as duas extremidades do casco
estivessem ligadas ao mastro, teria partido com a pressão. Mas, tal como as coisas foram feitas, o
mastro aguentava a proa curva e segurava a parte central do convés macio, suspenso em linha
recta. Tudo o que ficava mais para ré acompanhava o movimento do mar.
Constantemente se nos deparavam motivos para gabar o arranjo engenhoso e a função tão especial
da armação daquele tipo de navio. Norman, perito em náutica, foi o primeiro a captar o seu
significado. Não havia engano possível. Os inventores da antiga armação egípcia destinavam os
seus barcos de canas flexíveis à ondulação dos oceanos. No terceiro dia de navegação, escrevi no
meu Diário: «Esta armação é a resultante de longa experiência marítima no mar alto. Não pode ter
nascido nas águas calmas do Nilo.»
Mas levámos mais tempo a entender - e pagámo-lo caro - outro pormenor daquele desenho técnico
de navio. Cada dia que passava mais admirávamos a popa grossa, curvada para dentro, terminando
num bico elevado. A que fim se destinaria? Nunca nos sentimos tentados a aderir à convicção geral
de que aquele caracol pretendia apenas dar um toque de beleza às embarcações fluviais. Porém, os
dias decorriam e nós, como os etimologistas, não conseguíamos detectar qual a sua função prática.
Em todo o caso, de tempos a tempos, verificávamos se ela dava indícios de querer endireitar. Mas
não, a curva mantinha-se. Afinal, os nossos amigos de Chade talvez tivessem razão em pensar que
o seu trabalho fora tão cabalmente realizado, que a popa se havia de manter curva sem necessidade
de ficar ligada ao convés por um cabo. Até ali só descobríramos um erro: termos estivado a carga
segundo as regras estabelecidas para um navio à vela normal. Nenhum homem da actualidade nos
podia ter explicado que a carga num barco de papiro deve estar concentrada a sotavento.
Aprendemo-lo à nossa própria custa, durante o período em que navegávamos na zona dos ventos
gerais. Já estávamos tão inundados a barlavento que a linha de convés de estibordo se confundia
com o nível da água. Por um lado, foi óptimo, porque lá atrás, na alheta de estibordo, lavávamo-nos
sobre a borda sem ficarmos de cabeça pendurada e pés no ar, como acontecia no outro lado do
navio. Passámos a lavar-nos todos ali, por ser muito mais cómodo.
A 4 de Junho o mar começou a acalmar e na manhã seguinte despertámos num mundo novo. O
tempo estava óptimo, fazia calor e o mar transformou-se numa procissão de rolos a brilhar.
Recebemos a visita rápida de mais cinco grandes baleias. Uma assembleia majestosa. Talvez
fossem as mesmas que já tínhamos visto. No seu elemento, pareciam bonitas e amistosas.
Pensámos, horrorizados, no dia em que a humanidade conseguir lançar os seus arpões ao último
dos gigantes do mar de sangue quente. Por fim, só os cascos de metal frio dos submarinos farão
travessuras nas profundezas do oceano, onde o Todo-Poderoso - e a grande maioria dos homens preferiam ver a baleia amamentando as suas crias.
Fazia tanto calor que Georges despiu-se e mergulhou borda fora com o cabo de vaivém posto.
Desapareceu debaixo do Ra, com a máscara de mergulhador, e voltou acima, para dar tal grito de
alegria que Yuri e Santiago se atiraram também, cada um com o seu cabo de vaivém.
Nós ficámos a observá-los e a aguardar a nossa vez. Só Abdullah continuava rabugento, sentado à
entrada da cabina, a olhar para o mar sereno. Sem vento, ficávamos ali parados e nunca mais
chegávamos à América. Norman tentou consolá-lo falando-lhe da corrente oceânica invisível. Talvez
não percorrêssemos os cem quilómetros por dia, como até ali, mas faríamos, de certeza, uns
cinquenta.
Dali a pouco já todos estivéramos debaixo do bojo do Ra, excepto Abdullah. Lavou-se com a água do
balde de lona e ajoelhou voltado para Meca, a rezar orações demoradas. Talvez estivesse a pedir
que o vento voltasse.
O banho do mar divertiu-nos. Sentíamo-nos bem-dispostos. A maior emoção foi ver o Ra por baixo.
Era como se fôssemos pequenos peixes pilotos a nadar debaixo do bojo curvo de uma grande baleia
amarela. Os raios solares, reflectidos, quais holofotes do fundo do mar, brincavam nos molhos de
papiro por cima das nossas cabeças.
O mar e o céu sem nuvens, misturados, criavam um tom de azul lindíssimo à volta da grande baleia
dourada que brilhava sobre nós. Flutuava tão depressa que, seguros pelos cabos, éramos arrastados
atrás dela. Excepto se conseguíamos nadar tão depressa que a acompanhávamos na mesma
direcção. Pela primeira vez pudemos verificar que, à frente da proa de canas, levávamos uma
formação em cunha de pequenos peixes-pilotos, riscados como zebras. Também já os vira a nadar à
frente dos barrotes da Kon-Tiki. Passávamos junto a um tronco de árvore africana, ainda com raízes,
que se espojava sobre os rolos de mar. Um pâmpano gordo saltou do tronco e sacudiu a cauda
quanto podia para atravessar o Ra. Encontrou mais dois ou três parentes movimentando-se à volta
da pá do remo grande. De vez em quando maneavam-se e, a brincar, davam beliscos na pele branca
de Yuri.
Na parte de baixo do casco, começavam a crescer, aqui e além, pequenas lapas de pescoço
comprido agitando-se nas conchas azul -escuras, de guelras cor de laranja, fofas como penas de
avestruz. Mas não vimos sinais de verdura nem de plantas marinhas. As canas, que ao contacto com
a areia do Sara secaram e encolheram, debaixo de água incharam e transformaram-se em caules
macios e brilhantes. Quando os apertámos não quebraram. Estavam rijos e elásticos. Nem uma cana
solta ou partida. O papiro estava dentro de água há três semanas. Em vez de dissolvido por
decomposição, ao fim dos quinze dias previstos, apresentava-se mais resistente que nunca e as
canas não davam mostras de perder capacidade de flutuação. O dar a borda para barlavento foi
devido, sem dúvida, à água absorvida acima da linha de flutuação do navio, acrescida da carga.
Delirantes com o que tínhamos visto, trepámos outra vez para o convés. Pouco depois penas de
galinha flutuavam na nossa esteira enquanto Carpo nos preparava um banquete.
Animados pelas observações feitas, decidimos arriar também o segundo remo-leme, já reparado.
Nunca mais teríamos o mar tão calmo. Mas o remo era tão comprido e tão pesado que caiu a noite e
nós ainda não tínhamos conseguido manobrá-lo safo de todos os estais, sobre o tecto da cabina
para barlavento, onde o queríamos deitar à agua. A calema não era forte, mas suficientemente alta
para nos criar problemas, fazendo saltar a pá do remo antes de nós o fixarmos na ranhura. Dada a
experiência que já tínhamos, achámos preferível adiar o lançamento para o dia seguinte. Atámos o
remo com a haste para o ar e a pá sobre o convés o mais a ré possível, do lado de barlavento.
Na manhã seguinte o tempo continuou esplêndido. Saltei por cima dos cântaros que estavam a ré,
para um banho matinal. Yuri, vigia da manhã, divertia-se a lavar a roupa interior, mas... a bordo e
sem balde. Cada rolo de água rebentava sobre a linha do convés no ponto mais baixo, onde o peso
do remo de direcção nos afundava. Nessa parte mais funda formou-se um pequeno charco.
- Este iate está-se a tornar cada vez mais prático - observou Yuri, feliz. - Agora até temos lavagem
com água corrente.
Lançámos o remo à água, para as ondas aguentarem com grande parte do seu peso, mas o nosso
canto baixinho continuou a meter água. E, enquanto nos serviu de bacia para as lavagens, até foi
divertido. Voltámos a observar a curva da popa. Na mesma. Por uma questão de segurança,
Georges tornou a mergulhar debaixo do Ra e, desta vez, descobriu que o fundo começava a contraalquebrar mesmo a ré da cabina. Mas o papiro continuava inteiro e forte. Quando espremeu as
canas, o ar saiu. O poder de flutuação mantinha-se. O único problema era o peso a mais, a ré.
Por consequência, aliviámos a carga do convés, à popa. O único peso que ficou atrás da cabina foi o
da lata onde os dois remos de direcção descansavam e o da ponta, que assentava sobre paus E
abrigava a grade onde estava o salva-vidas.
As ondas continuaram a varrer a alheta de estibordo. Repetimos nova e minuciosa inspecção, acima
e abaixo do nível da água. A forma original do navio não sofrera alteração. Da proa até ao sítio onde
os dois últimos estais que partiam do mastro estavam fixos, de um lado e do outro do navio. Para ré
desse ponto, notava-se que vergara sensivelmente e toda essa parte estava um pouco inclinada.
Recomeçámos as considerações. A parte livre do barco é que inclinou; tudo o que estava fixo pelos
estais que vinham do mastro manteve-se como devia ser. A proa estava na mesma. O nosso cisne
dourado ainda tinha o pescoço erguido, mas a cauda começava a murchar. Se o mastro aguentasse
com mais um estai para segurar também a popa, talvez as coisas não se tivessem passado assim.
Mas, para tentar erguer a popa com esse cabo, arriscávamo-nos a partir o mastro à passagem do
primeiro rolo de água. A popa teria de ondular, mas não contra-alquebrar, fazendo um ângulo que
nos começava a preocupar. Tentámos erguê-la com cabos esticados em diagonal para um e outro
lado da cabina. Tentámos ajustar esticadores vindos da popa, passando pelo corrimão da ponte e
pelo tecto da cabina, a umas varas do convés de vante. Era o processo usado pelos Egípcios para
tornarem os barcos de madeira mais rígidos. Mas nas pinturas de barcos de papiro não se viam
essas espias horizontais. Apesar de termos esticado e tesado todos aqueles cabos, não
conseguimos subir o convés de ré outra vez. Carlo fez toda a espécie de nós e tesou cordas
molhadas como ninguém. Ficou com as palmas das mãos inchadas como o macarrão.
Os dias passaram. A água à popa aumentou. Enquanto a secção mais baixa, lentamente, deu de si,
a ponta fina da popa continuava arqueada para dentro, sem perder a sua forma característica. Mas
não tinha qualquer Utilidade. À medida que se foi cobrindo de limos, sobrecarregou o convés à popa,
que a suportava, já em más condições. Durante as tempestades a popa absorvia grandes
quantidades de água, acima da linha de flutuação. Como era grossa, larga e mais alta que a cabina,
naquela altura já devia pesar, pelo menos uma tonelada. Seria melhor cortá-la? Talvez fosse a única
maneira de o fundo vir ao cimo. Mas era como cortar a cauda a um cisne. Não nos sentíamos com
coragem para estropiar a nossa embarcação, altiva e elegante.
Como teriam os criadores daquele barco tão espantosamente engenhoso conseguido manter a
cauda a pavonear-se no ar, sem um cabo a puxá-la para cima? Pelo contrário, até tinha tido durante
algum tempo um cabo a puxá-lo para baixo, para o convés. Por sorte, os construtores de Chade
dispensaram-no. E até ali não fez falta. Ou? Ou!... Atirei fora o coco que estava a raspar e pus-me a
desenhar freneticamente. Até que enfim! Chamei Norman, Santiago, Yuri, Carlo... toda a tripulação.
Descobrira o erro. Afinal a cauda curva do navio tinha uma função prática. Mas aqueles que no-la
poderiam ter ensinado estão sepultados há séculos. Aprendemo-la através de penosa experiência.
Aquele arco revirado sobre o convés de ré não era só um toque de estética. O cabo que todos
pensámos que serviria apenas para manter a cauda em tensão destinava-se a um fim,
completamente diferente. Não era para puxar a ponta da popa para baixo, mas sim para manter o
convés de ré acima da linha de flutuação. A popa erguida em harpa pretendia ser a mola-suporte do
convés de ré, enquanto os estais do mastro aguentavam a outra parte do barco. Para o barco de
papiro navegar no mar largo sem quebrar, os arquitectos dividiram-no em dois componentes
encadeados. O mastro e os estais paralelos mantinham erguida a parte de vante. A parte de ré
movia-se independentemente e voltava sempre à mesma posição, graças ao cabo da popa atada ao
arco que curvava sobre ela.
Atámos um cabo à popa, mas já foi tarde. Passadas três semanas o convés de ré estava tão contraalquebrado que o cabo não conseguiu reparar os prejuízos. Sofremos as consequências porque,
como tantos outros, pensámos que aquela curva peculiar era p fim dos antigos desenhadores,
quando, afinal, se tratava de um expediente.
Yuri e Norman, com os pés dentro da poça de água à popa, olhavam, imóveis, a cauda dourada a
afundar-se. A uma só voz, desataram a cantar:
«Não queremos um submarino amarelo, um submarino amarelo, um submarino amarelo...»
Nem eles, nem nós, queríamos o submarino amarelo. Por isso, pusemo-nos os sete em pé à popa, a
cantar em coro o refrão de Yuri. E não pensámos mais no assunto. Como a outra parte do navio
flutuava como cortiça, Yuri e Norman, despreocupados, decidiram lavar as peúgas e, entretanto,
tentaram descobrir uma rima para «submarino».
Mas, quanto a mim, o problema mais grave não era como as canas de papiro fariam o jogo com o
mar. Obcecava muito mais o meu espírito como nós, os sete passageiros, iríamos sobreviver à
interacção de uns com os outros. Na cabina de verga, que media dois metros e meio por três metros
e meio, dormíamos ombro a ombro. No convés, repleto de cântaros e cestos, não havia espaço para
poisar um pé. O mesmo é dizer que, fora dos sacos-cama, só podíamos estar ou na
passagem estreita do abrigo da parede da cabina, a bombordo, ou na ponte que se abarcava de
braços abertos, tanto em comprimento, como em largura. Dia e noite, cada um de nós estava ao
alcance da voz e do tacto de todos os outros. Estávamos pegados uns aos outros como gémeos
siameses com sete cabeças e sete bocas, falando línguas diferentes. Já não éramos apenas negros
e brancos, de países comunistas ou capitalistas; representávamos, também, padrões opostos de
tipos de educação e de vida. Quando entrei em casa de um dos dois africanos em Fort Lamy,
encontrei-o sentado em cima de uma esteira, no chão térreo, sem quaisquer outros bens senão uma
lamparina colocada ao meio da esteira. O passaporte e o bilhete para a viagem estavam a um canto,
no chão. No Cairo, as vénias de criados orientais anunciaram-me ao outro africano, que vivia
rodeado de móveis antigos franceses e tapeçarias. Um dos elementos da tripulação não sadia ler,
nem escrever; o outro era professor universitário. Um era pacifista activo; outro, oficial. A ocupação
favorita de Abdullah era ouvir o rádio de bolso e distribuir as notícias sobre a guerra no canal de
Suez, que ele próprio presenciara. O governo africano a que ele pertencia, em Fort Lamy, ajudava
Israel contra os Árabes. Acabava de pedir à França pára-quedistas, para reprimir uma sublevação
árabe perto de Boi, onde nos conhecemos. Abdullah era maometano fanático, portanto defendia os
Árabes. Norman era judeu. Georges egípcio. Os seus familiares lutavam uns contra os outros, em
lados opostos do canal de Suez. Mas eles dormiam lado a lado, numa cabina de vime à tona de
água, em pleno Atlântico. Com idêntico entusiasmo, Abdullah distribuía também notícias sobre a
guerra no Vietname. Ficou completamente desnorteado quando percebeu que Yuri e Norman, ambos
de raça branca, representavam dois países hostis, mas que desejavam a paz. Por isso, ajudavam os
homens de raça amarela do Vietname a matar-se uns aos outros. Queria, à força, que Yuri e Norman
encontrassem a mesma explicação para esta anomalia. Não faltava combustível a bordo para séria
conflagração. O nosso barco de papel estava carregado de gasolina psicológica e o fogo gerado
pelas fricções dentro da pequena cápsula de vime só podia ser extinto pelas ubíquas ondas.
O perigo mais insidioso das expedições que obrigam os homens a viver lado a lado durante semanas
seguidas é a doença mental a que se poderia dar o nome de «febre da expedição». É a situação
psicológica que transforma o ser humano mais pacífico numa pessoa irritável, furiosa, desesperada.
A sua capacidade perceptiva diminui a ponto de só ver os defeitos dos companheiros e a massa
cinzenta deixa de registar qualidades. O líder da expedição tem o dever de estar atento a esta
ameaça latente. Durante os dias que precederam a partida, isto foi claramente explicado a toda a
tripulação.
Por consequência, não fiquei alarmado quando, ao terceiro dia, ouvi o pacífico Carlo berrar em
italiano, a Georges, que ele era campeão de judo mas tão desarrumado e desordenado que
precisava de uma ama. Georges ripostou, mas, depois de breve e caloroso duelo verbal, ambos se
calaram. Como costume, ficámos a sós com os estalidos e os queixumes do papiro. Porém, no dia
seguinte, deu-se nova explosão entre os dois. Carlo estava a esticar um estai do mastro e Georges
zangado, deixou cair a cana de pesca e, ostensivamente, foi-se deitar. Na ponte Carlo confidencioume que o playboy Georges lhe começava a bulir com os nervos. Ele tinha começado a trabalhar aos
doze anos de idade, carregando sacos de arroz pesadíssimos. Singrara na vida trabalhando com as
mãos, pois não tinha instrução. Aquele preguiçoso, filho de um homem rico do Cairo, era um maroto
mimalho que deixava tudo por onde lhe apetecia e ficava à espera que os outros arrumassem.
Prometi falar com Georges. Carlo concordou quando lhe disse que Georges ainda não tinha captado
o espírito de trabalho em grupo que se impõe numa expedição como aquela. Para ele era um jogo
completamente desconhecido a luta entre a tolerância e a força física. Mas Carlo também teria de
aceitar que, até ali, Georges, em sua casa, atirava de facto tudo ao chão e, sem saber como, tornava
a encontrar as mesmas coisas no seu lugar. Os criados, a mulher ou a mãe arrumavam o que ele
desarrumava. Carlo aprendera na escola da vida, Georges não. Teríamos de ser nós a ensiná-lo.
Pouco depois encontrei-me a sós com Georges, na ponte. Estava aborrecido por ter ser sido
malcriado, mas achava que Carlo se metia nos seus assuntos pessoais. Mas, porque era receptivo,
depressa percebeu que a bordo não havia «assuntos pessoais» - a não ser no íntimo de cada um.
Ninguém era obrigado a limpar depois de outro ter sujado. A ninguém assistia o direito de juncar o
convés por fora ou por dentro, de arpões, barbatanas, livros, toalhas molhadas, sabão ou escovas de
dentes. Todos a bordo éramos iguais. Cada um teria de arrumar o que lhe pertencia.
Não tardou muito que os apetrechos de pesca, o gravador e a roupa suja de Georges
desaparecessem do convés e do tecto do camarote. Ele e Carlo foram, juntos, tesar um cabo.
A paz não tornou a ser ameaçada até ao dia em que, depois de tudo organizado a bordo, chegou a
vez da distribuição dos trabalhos de cozinha. Carlo ofereceu-se para cozinheiro permanente. Foi
muito admirado e respeitado pela maneira eficiente como cumpriu o cargo. Portanto, nós teríamos de
fazer turnos diários para o trabalho de ordenanças - lavar as caixas da cozinha, as panelas e
caçarolas. Escrevemos a giz os nomes, por ordem, numa ardósia que ficou na ponte, mas não nos
recordámos de que Abdullah não sabia ler. Não percebeu que outros dois já tinham feito os turnos
antes dele. Quando Santiago lhe indicou as panelas sujas e o esfregão, ficou furioso, e meteu-se na
cama, dizendo:
- Pois é, Santiago, como você é branco e eu sou preto, quer fazer de mim vosso criado.
Aquelas palavras feriram Santiago, o apóstolo da paz, mais do que um punhal. Num acesso de
cólera respondeu a Abdullah:
- Tu dizes-me isso a mim, que passei seis anos a lutar pela igualdade dos negros. Para mim, o mais
importante desta viagem é o facto de...
Abdullah não quis ouvir mais. Tapou os ouvidos com o saco-cama. Passado pouco tempo espreitou
e viu-me a ré, a cambalear diante da pilha de panelas. Ficou de olhos esbugalhados.
- Tu e eu trocámos de dia - expliquei-lhe eu.
E, no dia seguinte, lá estava à popa a cantarolar canções africanas, enquanto esfregava as panelas.
Algum tempo depois sofremos um abalo. Georges, muito seguro de si, veio pedir-me para ficar
responsável pela arrumação da cozinha durante o restante tempo de viagem. A rotação levantava
problemas e havia outros com tarefas mais importantes a desempenhar.
Assim, passou Georges - é verdade, Georges! - a ser o ordenança permanente e a cozinha do Ra
esteve sempre flamante.
Depois, houve uma altura em que Norman e Carlo começaram a reagir mal contra Yuri e Georges.
Achavam que os dois últimos não faziam nada sem ser mandados, enquanto eles estavam alerta, de
manhã à noite, para qualquer trabalho que aparecia, extra-obrigatório. Aceitavam que Abdullah não
tomasse iniciativas, mas os outros dois, universitários, não deviam aguardar ordens expressas.
Entretanto, Yuri, Georges e Abdullah sentiam-se espicaçados por Norman e Carlo. Tinham
temperamento militarista. Distribuíam ordens, em vez de falarem com simplicidade, como entre
amigos. Não eram capazes de descontrair e apreciar o simples facto de estarem vivos. Além disso,
Santiago era um trapaceiro. Quando era necessário carregar algum objecto pesado, ele agarrava-o
logo, chamava os outros para ajudar e depois ficava a sorrir e a olhar, enquanto os musculosos
Georges, Yuri e Abdullah suportavam a carga. E havia os que se sentiam intimamente magoados
porque eu, como líder, não mandava ninguém que estivesse a fazer uma sesta sair do saco-cama
enquanto outros trabalhavam de livre vontade. Outros eram de opinião que eu devia ter mão
naqueles que davam ordens à militar, em vez de falarem em tom amigável. Não estavam num navio
de guerra, nem numa companhia de tropas alpinistas - éramos sete companheiros em pé de
igualdade.
Mas o milagre deu-se. Em vez de estas pequenas fricções derivarem em febre de expedição, cada
um tentou descobrir as causas das reacções dos outros. E para isso muito contribuíram a filosofia e
os conhecimentos práticos de Santiago sobre a paz, o mesmo é dizer, contra a agressão. Yuri e
Georges passaram a admirar Norman e Carlo porque o seu espírito de iniciativa e de
empreendimento muito beneficiou o grupo. Por outro lado, Norman e Carlo reconheceram que
ninguém a bordo atacava os trabalhos mais duros como Yuri e Georges; ninguém, como eles, estava
sempre pronto para ajudar e se apercebia de que essa ajuda era necessária. Santiago foi o
diplomata e o psicólogo que ajudou o Dr. Yuri a curar feridas invisíveis. Yuri foi o médico responsável
e incansável. Abdullah conquistou a admiração de todos pela sua inteligência viva e grande desejo
de aprender e também pela facilidade com que se adaptou a tipos de cultura completamente
diferentes do seu. Gostava de nós sem distinção, pois sentia se em família, apesar de nós sermos
brancos. Queria que Yuri inventasse um remédio para lhe crescer a barba como a nós. Nunca
percebeu porque é que Yuri se barbeava todas as manhãs na poça de água a ré, e nós deixámos
crescer as nossas e os bigodes. Como não lhe cresciam os pêlos na cara, Abdullah resolveu deixar
de rapar a cabeça que até ali brilhava como couro envernizado. Passado algum tempo, pelo menos,
tinha cabelo encaracolado a crescer no alto da cabeça e tão cerrado que o lápis de carpinteiro ficava
tão bem seguro como um gancho de cabelo.
Georges tinha uma ou duas particularidades. Durante o dia dormia facilmente. Mas à noite só com
uma almofada sobre o peito e música no ouvido. Para esse fim levou um gravador com umas tantas
músicas pop suas preferidas. O barulho do papiro e dos cabos abafavam a música para aqueles que
dormiam mais afastados, mas ele próprio e Santiago chegaram a tomar pastilhas para dormir. O.
gravador de Georges tocava as músicas de Georges de dia e de noite. Um belo dia o gravador
desapareceu. Eu tinha o visto momentos antes, na ponte, aos pés de Abdullah, que, de costas,
governava o navio.
Norman, fora da borda, fixava um remo. Carlo, Santiago e eu andávamos à popa para trás e para
diante, mudando a carga. Yuri e Georges estavam a trabalhar do outro lado da cabina. De repente a
música parou. Só passados alguns minutos é que Georges trepou para cima da carga, para pôr o
gravador novamente a funcionar. Já lá não estava. Procurou-o por toda a parte. À popa, na proa,
debaixo do colchão, em cima do tecto da cabina. Desapareceu... para sempre. Quem teria sido o
miserável? O campeão africano de judo parecia um gorila furioso. Quem, quem se teria atrevido a
atirar ao mar o seu gravador? Era o fim da viagem para ele: sem música nunca mais poderia dormir.
Quem, quem, quem teria sido? A pergunta vibrava no ar. Nunca mais poder dormir! A macaquinha
Safi trepou pelo mastro tanto quanto a corda lhe permitiu: não queria ser culpada.
Abdullah poderia ter dado um pontapé no gravador, mas gostava tanto de música que não me
pareceu provável. Norman estava muito longe, na altura. Yuri esteve sempre ao pé de Georges. Só
poderia ter sido um de nós três que andámos para cá e para lá, à popa. Carlo foi o único que
continuou imperturbável a mudar os cântaros, como se nada tivesse acontecido. Carlo! Não fora
senão ele. Continuava, com certeza, irritado com Georges. Mas não... Carlo não era capaz de um
gesto assim. Passados minutos, foi como se estivéssemos sentados sobre um barril de pólvora
enquanto o rastilho ardia.
- Georges - disse eu -, tu, que te transformaste num homem tão arrumado, como é que deixaste o
gravador de tal maneira que caiu ao mar?
- De facto, talvez estivesse muito na borda - respondeu Georges -, mas, na pior das hipóteses, teria
caído para o convés, e não borda fora.
Intimamente, concordei, mas tinha de defender Carlo.
- Estava ali mesmo ao canto de estibordo - respondi eu sem hesitar. - Se, quando o navio inclinou
para estibordo, algum de nós lhe tocou sem querer, pode perfeitamente ter ido parar à água.
Georges continuou a procurar nos sítios mais absurdos, até que acabou por se meter no saco-cama.
Ferrou no sono e nós só o acordámos quando, na manhã seguinte, Carlo fez o assobio especial,
indicativo de que os ovos com bacon estavam prontos. Quem se havia de zangar com Carlo? Nunca
mais se falou no gravador durante a viagem. Só quando desembarcámos é que Santiago, muito
calmo, pôs a mão no ombro de Georges e lhe disse:
- Georges, quanto te devo do gravador?
Ficámos aterrados. Georges voltou-se devagar, significativamente devagar, até ficar de lado para o
mexicano sorridente. Depois, bem disposto, perguntou-nos ao ouvido, um a um: «Qual gravador?»
Assim acabou a discussão.
- Como te arriscaste a tanto? - perguntámos mais tarde a Santiago. Admitiu que andou um tempo
muito indeciso, sem saber se faria bem ou mal. Mas tinha a certeza de que, se continuássemos a
ouvir sempre as mesmas músicas, de manhã à noite, qualquer de nós - num gesto de loucura ou
desespero - acabaria por atirar o gravador à cabeça do dono.
À medida que as semanas passaram, connosco amontoados na cabina, o Ra continuou a balançar
no centro do mesmo horizonte que nos perseguia como um círculo mágico. De 4 a 9 de Junho, a
ondulação foi fraca, o vento constante, e nós aproveitámos para dormir as vinte e quatro horas do
dia. O papiro deixou de ranger, para passar a rosnar como um gato ao sol. Norman confessou que
estava preocupado. Devagar, íamos deslizando para sudoeste e, se o vento não voltasse, corríamos
o risco de sermos apanhados pelas correntes cheias de redemoinhos, ao largo da costa da
Mauritânia e do Senegal. Vínhamos percorrendo uma das estreitas passagens transatlânticas,
cruzando navios de passageiros e de carga, ao longe e ao perto. Na noite de 6 de Junho um paquete
enorme, todo iluminado, veio direito a nós. De tal maneira que os oficiais na ponte não devem ter
reparado na nossa lamparina mínima, pendurada num mastro. Tivemos de fazer sinais com archotes.
O vento fraco dava-nos poucas possibilidades de escaparmos só com os remos-leme. Ouvia-se o
barulho das máquinas, o brilho das luzes aproximava-se e ameaçava vir sobre nós, quando num
ápice, virou sobre o nosso estibordo e fez-se silêncio. Da ponte emitiram sinais de luzes a
repreender-nos, mas tão depressa que só entendemos a palavra «please». Depois, o gigante
deslizou, a poucos metros dos feixes de papiro, sob o seu próprio impulso. Os hélices recomeçaram
a agitar a água e seguiram direitos à Europa.
No dia seguinte a água límpida do oceano estava à superfície, coberta de bocados de asfalto preto.
Três dias depois, quando acordámos, o mar estava tão imundo que não nos atrevemos a meter as
escovas de dentes lá dentro. Abdullah fez as abluções rituais com água doce. O Atlântico começou a
ficar verde-acinzentado e opaco, repleto de coágulos de petróleo, que variavam entre o tamanho de
cabeças de alfinetes e de uma sanduíche média. Garrafas de plástico flutuavam entre o lixo. Mais
parecia que estávamos num sórdido porto de cidade. Nunca vi uma coisa assim durante os cento e
um dias que passei na Kon-Tiki. Não nos ficaram dúvidas de que a humanidade está à beira de
efectivar o processo de poluição da sua nascente mais vital, do indispensável maquinismo de
filtração do nosso planeta, o oceano. O perigo latente, para nós e para as gerações futuras, revelouse-nos em toda a sua profundidade. Se os donos de navios, industriais e autoridades observassem o
mar a deslizar à velocidade normal do alto do convés de um navio nunca teriam a coragem de
mergulhar nele as escovas de dentes e os narizes durante semanas seguidas, como nós tivemos.
Entendemos ser nossa obrigação lançar o grito de alarme a quem queira ouvir. Para que servem as
reformas sociais em terra, a leste e a oeste, se as nações consentirem que a nossa artéria comum, o
oceano, se transforma no cano de esgoto de resíduos oleaginosos e desperdícios químicos?
Estaremos ainda apegados à ideia de que o mar é infinito?
O mais curioso é que, navegando aos balanços sobre as cristas das ondas, em cima de uns quantos
molhos de papiro, nos apercebemos do movimento de continentes inteiros e verificamos, também,
que o mar não é, afinal, tão ilimitado. A água que circunda a costa africana em Maio passa pela costa
americana umas semanas mais tarde, com toda a porcaria flutuante, que nem vai ao fundo, nem é
comida pelos habitantes marinhos.
A 10 de Junho o vento começou a soprar mais forte. Nesse dia, Abdullah matou a nossa última
galinha e ficou só um pato na capoeira. Quando a atirámos ao mar, onde se afundou, não tivemos
coragem para matar o pato. Baptizámo-lo com o nome de Sinbad e deixámo-lo bambolear-se no
convés, para grande indignação da Safi. Com uma guita atada à pata, passou a dominar o convés de
vante, onde tinha um cesto como residência. Safi ficou com a zona da cabina. Se, por inadvertência,
um deles entrava no território do outro, a coisa acabava com a Safi a gritar, furiosa, porque Sinbad
lhe tinha beliscado o traseiro, sem cauda, ou a saltar, triunfante, com uma pena de pato nas garras.
Durante a noite as ondas cresceram e o mar tornou-se bravo a valer. Por vezes, sentíamo-nos pouco
seguros na ponte, que balançava e estalava por todos os lados. Só de longe em longe
descortinávamos alguma vela ou uma lâmpada no alto de um mastro balouçando, qual lua irrequieta
no meio das estrelas que espreitavam entre a tempestade de nuvens. De vez em quando, parecia
que ouvíamos serpentes venenosas assobiarem atrás de nós. A espuma das ondas rolava, invisível
na escuridão, sobre as nossas cabeças. Os músculos aquáticos do corpo da onda levantavam-nos
ao ar, para, depois, nos deixarem cair tão baixo que o fantasma seguinte nos levava a pairar ainda
mais alto. Ao fim de duas horas de vigia nocturna aos dois remos de direcção, ficávamos estafados e
mortos de cansaço. Sempre que possível utilizávamos só um e aguentávamos o outro em posição
fixa.
À luz do dia verificámos que as ligações do Ra tinham afrouxado.
Na parte mais alta, o mastro, de nove metros de altura, oscilava dum lado para o outro e atingia uma
inclinação de cerca de meio metro. Só Carlo era capaz de trepar por ele acima e ir até ao tope. Em
estilo egípcio, cada um dos dois mastros bifurcados assentava num encaixe fundo feito sobre a larga
prancha de madeira que servia de pé, que, por sua vez, assentava na base de papiro. O lado
horizontal de um cepo curto, dobrado em ângulo recto, ficou atado à base de madeira e o lado
vertical fixo à parte inferior do mastro. As cordas que seguravam os pés dos mastros estavam já tão
bambas que os mastros ameaçavam sair das ranhuras. Os estais que saíam paralelos dos lados do
Ra para o tope do mastro afrouxaram a tal ponto que ora faziam curvas e não ofereciam segurança
nenhuma, ora tesavam em esticões tão violentos que o mastro ameaçava partir. Outras vezes,
temíamos que os molhos de papiro se desfizessem em bocados, porque os estais estavam atados a
um cabo grosso que rematava a borda do Ra. Pregámos cunhas redondas de madeira ao pé do
mastro e tesámos os ovéns um a um, correndo o risco de os primeiros ficarem muito esticados,
enquanto outros ainda estavam soltos. Mas conseguimos que o mastro deixasse de dançar.
Naquele dia o mar esteve cheio de vida. Peixes-voadores choveram sobre nós. Um peixe-lua inerte,
enorme, redondo, caiu a bordo. Qualquer coisa invisível agarrou o anzol da cana de pesca de
Georges e fugiu, arrastando a linha. Antes de ele ter tempo de a puxar, um peixe grande comeu o
primeiro e, assim, a pesca ficou reduzida a uma cabeça de peixe. Entretanto, o Ra deslizava pelas
cristas das ondas a uma velocidade recorde. Ficámos desapontados quando Norman, depois de
calcular a posição do meio-dia, nos disse que o avanço não tinha sido grande durante o dia. Uma
corrente lateral ia-nos arrastando para sul. Nas últimas vinte e quatro horas o canto de estibordo da
popa foi imergindo. A trave mestra do mecanismo de direcção veio sempre debaixo de água a refrear
o andamento. As ondas bateram sem descanso sobre a grade onde estava encaixado o salva-vidas,
debaixo da ponte. A grade cambava e foi moendo as cordas.
Ao outro dia, o mar continuava agitado e o vento norte, cortante, trouxe com ele muito mais frio.
Quando Yuri estava a ajustar os cabos da vergôntea de direcção, que chapinhava sobre as ondas,
descobriu que uma ampola azul tentava agarrar-se a ela. Yuri nunca tinha visto uma caravela (1) .
Nem percebeu como é que apareceu enredado nos
(1) - Género de pólipos sifonóforos, com várias espécies, comum no Atlântico. (N. do E.)
tentáculos compridos e picantes daquele pequeno, mas mortífero, habitante do Atlântico. Aquela
ampola manhosa não é o corpo de um único animal. É uma autêntica colónia de animais minúsculos
que vivem em complicadíssima simbiose. Cada um deles tem atributos e tarefas específicas. O maior
de todos, que constitui a ampola, destina-se apenas a manter a comunidade a flutuar. Reboca um
molho de filamentos de algumas jardas de comprimento formado por todos os minúsculos
concidadãos da ampola. Alguns são caçadores que arranjam a comida para toda a colónia; outros
são os responsáveis pela reprodução; enquanto outros são os soldados que têm por única missão
largar um ácido cáustico contra os inimigos. Muitas pessoas têm ficado paralisadas, ou sido mortas,
por caravelas, quando atingem grandes dimensões.
Dores violentas espalharam-se pela pele de Yuri, atacaram-lhe o sistema nervoso, paralisaram-lhe
os músculos da mão direita e afectaram-lhe o coração. Esgotadas as pomadas, pílulas para os
nervos e para o coração, só ao fim de quatro horas conseguiu aliviar as dores e recuperar o
movimento da mão.
A 13 de Junho, o vento gelado de NNE rugia por entre os estais e gemia contra a cabina de vime. As
ondas cresceram; o mar tornou-se mais grosso que nunca. Por todo o barco se ouviam gemidos e
lamentações. A rebentação passava por cima de nós e ia cair à popa, com estrondo. O desmantelar
de umas quantas ondas representava toneladas de água a caírem sobre nós e afundava
vertiginosamente a secção da popa. Porém, a única coisa a fazer era esperar que as massas de
água escoassem pelos lados até ficarmos outra vez com a poça de água pelos joelhos, a que já nos
habituáramos. Abdullah, bem disposto, garantia que aquele contratempo não tinha importância.
Nunca iríamos ao fundo, enquanto os cabos aguentassem. Azul de frio, envergando o impermeável,
cantarolava, de transístor colado ao ouvido. Sintonizou uma estação árabe francófona que relatava a
revolução de Chade, onde os Maometanos quase sempre estavam em superioridade.
Uma linda dourada, azul-esverdeada, brincou todo o dia à volta do papiro. Não agarrou o anzol nem
se deixou arpoar, acabando por partir a linha. Carlo resolveu preparar peixe seco para o almoço. De
repente, um peixe molhado atirou-se-lhe contra o pescoço. Outros projectaram-se contra a parede da
cabina e caíram-lhe aos pés. Onze peixes ficaram a espojar-se no convés, prontos para a frigideira.
Entre 14 e 17 de Junho o mar esteve sempre muito agitado. Sem explicação aparente, ondas
altíssimas cruzavam-se umas com as outras, vindo ao mesmo tempo, de duas ou três direcções e
resultantes do jogo de correntes e contra correntes das costas. Georges apareceu com dores nas
costas e por isso viu-se obrigado a ir para a cama. Abdullah adoeceu, mas curou-se com uma
mistura de doze dentes de alho fervidos. A ponte começou a ranger e a inclinar-se. As cordas e os
estais tiveram de ser reforçados. Yuri teve a feliz ideia de levar Sinbad, o pato, para a popa, onde
dava gosto vê-lo, feliz, a nadar na poça de água. Mas Safi ficou tão zangada que arranjou uma
diarreia. Mesmo assim, continuou a fazer as dejecções fora da borda do papiro, pois habituara-se a
isso. Sem ninguém esperar, atuns de metro e meio de comprimento saltaram fora de água e a
macaquinha desatou aos gritos histéricos. Escondeu-se num cesto e ninguém a convenceu a sair. Só
ao anoitecer, Georges a foi buscar e a pôs na caixa onde dormia, dentro do camarote.
Passado algum tempo, os mastros voltaram a soltar-se das bases de madeira. O Ra torcia-se numa
dança selvática, para acompanhar o balanço das ondas. Começámos a notar um ruído diferente,
rouco. Dava a ideia de um vento poderoso a soprar para cá e para lá. O ranger do chão, das paredes
e do tecto da cabina de vime também era diferente. As caixas onde dormíamos comprimiram-se
umas contra as outras; as tampas ficaram pegadas. Quer estivéssemos de pé, sentados ou deitados,
tudo se retorcia debaixo de nós. Os estais do mastro estavam em ameaçadora tensão, mas com o
mar tão forte não nos atrevemos a afrouxá-los nem a entesá-los. Apesar do frio de rachar, Yuri,
Norman e Georges mergulharam para uma vistoria. Voltaram batendo os dentes, mas dizendo que o
papiro continuava em boas condições. Só a secção contra-alquebrada da popa continuava
empenhada em partir. Havia que tomar uma resolução.
O remo de direcção de estibordo soltou-se e ficou a dançar, tentando separar-se, também, da ponte
de comando. Travámos terrível batalha, sob um dilúvio de água, até o caçarmos e o fixarmos com m
cabo grosso. Mas o peixe era tanto que Georges arpoou uma dourada no meio da confusão. Na
realidade, impunha-se estancar a água, que, como uma fúria, entrava pela popa. Por quanto tempo
aguentaria o esforço que lhe estava a ser pedido? Um barco de madeira já teria quebrado em dois.
Para impedir a corrente de água, juntámos todo o papiro que tínhamos em reserva. De pé, com a
água a bater-lhe nas coxas, Abdullah, Santiago e Carlo ataram rolos de papiro, para que actuassem
como uma muralha contra o mar. Abdullah foi cuspido borda fora várias vezes, mas ficava pendurado
pela corda de segurança e ria-se quando voltava para bordo. Além disso... tinha o cinto mágico!
Terminado o trabalho dava graças a Alá.
Mas o que eu mais temia acabou por acontecer. Quanto mais alta era a represa mais água ficava a
bordo, porque o papiro, ao inchar, apertava e retinha a água. Como não se fazia o escoamento, a
popa ia baixando sempre mais sob o peso da água. Pareceu-nos inevitável retirarmos a protecção
que fizéramos. Mas a balaustrada primitiva, sob o peso desta última, afundou muito mais, deixando
entrar tanta água que a caixa onde estava o salva-vidas começou a boiar entre as varas da ponte.
Sem hesitar, voltámos a atar a protecção de papiro. Com uma faca cortámos as cordas que
prendiam dois pequenos barcos de papiro que levávamos a bordo para uma emergência.
Aproveitámos o papiro para acrescentar o alcatre de Adbullah. E, por fim, até desfizemos os nossos
cintos de salvação, copiados das pinturas de antigos túmulos egípcios. Ficámos sem uma única cana
de papiro a que recorrer. Os lados subiram, mas a poça mais funda do que nunca. Já abrangia todo
o convés a ré. Em todo o caso, a água batia com muito menos força contra a barreira de papiro e no
convés da proa e de meio navio para lá continuava tudo seco.
A 17 de Junho, depois de o temporal atingir o auge, o vento rodou para oeste e o mar acalmou.
Encontrávamos peixes voadores por todo o barco; um, a boiar no jarro do café. Devíamos estar, de
novo, na corrente principal. Graças à abertura momentânea das nuvens no céu, Norman calculou
que navegámos oitenta milhas marítimas, ou seja, cento e quarenta e oito quilómetros, em vinte e
quatro horas, apesar do atraso provocado pela popa, que se arrastava como a cauda de uma
lagosta. Importante, mesmo no mapa do mundo!
Durante a fase pior do temporal, deslocámo-nos cerca de quinhentas milhas marítimas ao largo da
costa africana, em direcção às ilhas de Cabo Verde, a oeste de Dacar. O vento norte e a corrente
arrastaram nos para aquele grupo de ilhas, que esperávamos ver assomar a todo o momento. Isso
dava nos uma sensação de desconfortável insegurança. Uma noite, já tarde, sentindo nos obcecados
pela ideia de vermos aparecer as ilhas na escuridão. Norman foi buscar o roteiro dos E.U.A. para a
área onde nos encontrávamos e pôs-se a ler alto, à luz da lâmpada de parafina. Conforme ela
balançava, as nossas sombras, distorcidas e elásticas, dançavam ao ritmo da orquestra
ensurdecedora do Ra.
Ficámos a saber que à volta das montanhosas ilhas de Cabo Verde pode haver bancos de nuvens e
nevoeiro tão cerrado que a rebentação na costa rochosa aparece, por vezes, antes de se avistar
terra, e isso, embora os picos mais altos atinjam dois mil e setecentos metros de altura. Além disso,
as ilhas estão rodeadas por correntes fortes tão traiçoeiras que têm sido a causa de muitos
naufrágios. A ondulação á muito mais viva naquela zona durante a mudança da Lua. «É, pois
necessária a maior cautela ao navegar nas proximidades destas ilhas», leu Norman, a concluir a
leitura.
- Ouviram, rapazes? Muita cautela! - repetiu Yuri, e puxou pelo saco-cama e pelo boné de cabedal
até se encontrarem os dois no nariz.
É que estamos exactamente na mudança da Lua. A noite estava tão escura como o dia estivera
enevoado. Durante os últimos quatro dias devemos ter tido as ilhas mesmo na nossa linha de
abatimento e agora calculávamos que estivessem algures na nossa frente. Talvez surgissem naquela
noite, ou na manhã seguinte, se fôssemos apanhados por uma corrente sul, de través. A chuva caía
das nuvens baixas, de modo que nem o «nasómetro» nem o sextante nos podiam indicar a nossa
posição.
18 de Junho foi um dia dramático. Continuávamos a admitir a hipótese de as ilhas de Cabo Verde
aparecerem, entre o nevoeiro, pela amura de bombordo. Duas semanas atrás passáramos muito
perto das ilhas Canárias sem as vermos. Mas naquele dia problemas mais graves do que os que se
ocultavam nos conveses começaram a surgir. Vivemos vinte e cinco dias juntos, em compreensiva
tolerância, dentro de um barco de papiro, que, por sua vez, já há um mês vinha flutuando no mar.
Apesar de todas as adversidades, o Ra já percorrera dois mil quilómetros da costa noroeste de África
e, agora, a travessia do Atlântico, entre continentes, ia começar a sério. Se os Egípcios alguma vez
conseguiram navegar, a partir da foz do Nilo, a mesma distância que nós, desde o porto de Safi,
podem ter ido parar ao Don, na Rússia, ou para lá de Gibraltar. O Mediterrâneo não era, com
certeza, suficientemente vasto para esgotar o alcance de um barco de papiro.
Mas aquela secção da popa! Se, ao menos, os antigos escribas tivessem deixado algumas
indicações escritas, talvez tivéssemos captado o princípio em que assentavam os barcos de papiro e
teríamos atravessado o oceano sem problemas. As ondas já não escoavam por entre o papiro, nem
levantavam o barco acima do nível da água, quanto necessário. Na noite anterior as águas bateram
com força na parede da cabina. Acordei como se me tivessem atirado um balde de água sobre a
cabeça. A água salgada entrou pelo meu saco cama.
- Parece-me que estamos perante um handicap - confessei aos outros.
Foi então que Santiago atirou o fósforo sobre o barril de pólvora.
- Porque não aproveitamos, também, o salva-vidas? - perguntou ele.
- Claro! - disse eu. - Ficámos sem os barquinhos de papiro e agora vamos ficar também sem o salva
vidas de borracha!
- Não estou a brincar - respondeu Santiago. - Temos forçosamente de levantar a popa. Já não há
papiro, mas o salva-vidas é de borracha de espuma. Cortamo-lo às tiras e utilizamo-lo como os
Egípcios se serviam do papiro.
- Ele é louco - ouviu-se murmurar em várias línguas. Mas Santiago era obstinado e não desistiu.
- Trouxemos um salva-vidas só para seis homens e nós somos sete. - respondeu, desafiando-me. Você explicou bem que nunca entraria nele.
- O tamanho acima era para doze homens - esclareci. - Portanto, grande de mais. Mas é verdade
que eu ficarei aqui, na nossa embarcação, se vocês decidirem meter se no salva-vidas.
- Também eu - disse Abdullah. - Vamos soltá-lo. A grade de madeira está a moer os cabos.
- Não - respondi, peremptório. - A embarcação de borracha dá nos uma sensação de segurança. Isto
não passa de uma experiência científica. Sem a embarcação de borracha, nenhum de nós seria
capaz de sair do barco.
- Cantigas... Onde está o serrote? Para que serve uma coisa que nunca utilizaremos? - insistiu
Santiago, provocando-me.
Os outros tripulantes ficaram indignados e todos fomos, mais uma vez, observar a caixa de que
Abdullah se queria desfazer. Na parte de trás da cabina já não havia navio. A única coisa que se
projectava acima do nível da água era a ponta curva, em majestosa solidão e completamente
separada do Ra pelas ondas sussurrantes que o atravessavam de um lado ao outro. A armação
onde estava o salva-vidas patinhava na água esverdeada, entre as vigas da ponte.
Abdullah pegou no machado que estava pendurado, mas Yuri protestou, furioso, que loucura! Temos
de pensar nas nossas famílias. Norman concordou com ele: as nossas famílias ficariam intranquilas
se nos soubessem sem o salva-vidas. Georges tirou o machado das mãos de Abdullah. Carlo,
vacilante, queria que eu tomasse a decisão. Pela primeira vez, durante a viagem, começou a
desenhar-se o rompimento sério de relações. Relativamente a uma resolução que poderia ser
decisiva, as opiniões eram diametralmente opostas e cada grupo manteve-se inflexível na sua
posição.
Sentámo-nos todos no convés de vante, em cima dos sacos e dos cântaros, a comer carne salgada,
omeleta de cebola e sello marroquino, que Carlo nos serviu. Foi a calma antes da tempestade: sob
os nossos pés, as canas secas do convés vergavam e endireitavam como tiras de papel,
acompanhando a ondulação, que ainda atingia uma altura considerável. Debaixo de água, as canas
apresentavam-se mais resistentes nos sítios onde as ondas mais as molhavam. Embora com os
remos de direcção fixos por Carlo e a cauda de lagosta a servir de freio, o Ra corria com o vento.
Yuri, Norman e Georges pareciam nuvens escuras ameaçando-nos de todos os lados. Enquanto se
preparavam para defender a sua posição, iam partindo amêndoas com os punhos. Pressenti que
devia deitar água na fervura.
- Várias situações de perigo podem surgir - disse eu, tentando dar tom alegre à voz. - Vamos ver em
quais delas o salva-vidas pode ser indispensável. Eu tenho muito receio de que alguém caia borda
fora.
- Eu tenho medo de ser abalroado por algum navio e do fogo a bordo - interrompeu Norman.
- A proa continua a flutuar, mas a popa não - disse Yuri. - Ninguém sabe se dentro de um mês ainda
conseguiremos navegar.
- É absolutamente verdade - admiti. - Em teoria os cépticos ainda podem ter razão. O papiro pode
corromper e desintegrar se.
- Pois eu... tenho medo... - declarou, muito calmo, Georges, que nunca tinha medo de nada - ... de
um furacão.
Não conseguimos ir além de seis motivos para não nos desfazermos do salva vidas. Mas seis
bastavam. Resolvemos, então, pensar como enfrentaríamos cada uma das seis eventualidades.
Fomos contando pelos dedos.
Primeira possibilidade: homem ao mar. Sabíamos que estávamos seguros, porque usávamos uma
corda como a dos montanhistas. Além disso, trazíamos cintos de salvação a ré, rebocados por uma
corda. Se algum noctívago solitário tropeçasse nas ânforas e caísse borda fora, de nada serviria
arriar o barco salva-vidas. Primeiro, porque só devia ser utilizado em caso de extrema necessidade e
só se poderia arriar cortando a ponte toda. Depois, porque era rectangular e fundo, com dois
pavilhões intumescentes que abriam para cima e para baixo do convés. Portanto, não tinha hipótese
de acompanhar o Ra, mesmo que lhe arriássemos a vela. Conclusão: o salva-vidas de pouco serviria
se alguém caísse à água. Contra isto não havia mais argumentos.
Segunda eventualidade: colisão. Todos concordámos que, se o Ra se partisse em dois, não teríamos
tempo de arriar a lancha. E, mesmo que nos fosse possível pô-la a flutuar, preferíamos ficar na parte
restante do Ra, que era muito maior.
Terceira eventualidade: no Sara, o Ra teria, de facto, ardido como papel de seda, mas dentro de
água não seria tão fácil. Em qualquer caso, tínhamos o recurso do extintor. Só era permitido fumar a
sotavento, pois aí as faíscas voavam para o mar. O lado do barlavento estava de tal modo
encharcado que, com fogo ou sem fogo a bordo, continuaria a flutuar. Nenhum de nós trocava a
pequena lancha pela parte do Ra que, de certeza, não arderia.
Quarta possibilidade: o papiro submergir. Um mês de vivência bastou para nos mostrar que, mesmo
absorvendo água, afundava tão lentamente que teríamos tempo para lançar um S.O.S. Aliás,
teríamos de pedir o mesmo S. O. S. se nos mudássemos para o salva -vidas, que ficaria superlotado.
Fomos unânimes em que antes queríamos esperar por socorro na cabina de vime, onde nos
podíamos estender, do que comprimidos na tenda da lancha.
Quinta possibilidade: o papiro apodrecer e desintegrar. Sobre este ponto, tínhamos já a certeza que
os peritos falharam. Certamente porque as experiências laboratoriais foram feitas em águas paradas.
Era inegável que as canas e os cabos continuavam em bom estado. Rejeitámos a hipótese dessa
emergência.
Sexta possibilidade: furacão. Mais do que provável, ao aproximarmo-nos das índias Ocidentais. Um
furacão podia atirar ao ar os mastros, os remos, a ponte e até soltar a popa submersa. Mas nós já
tínhamos enfrentado mais do que uma tempestade. Estávamos absolutamente convencidos de que a
cabina havia de resistir e se manteria agarrada aos feixes da parte central do Ra.
Seria um salva-vidas muito mais espaçoso, com água e comida a bordo, que não teríamos no de
borracha. Ninguém se atrevia a meter -se num salva-vidas de espuma em pleno furacão.
Antes de acabarmos estas considerações, já a nossa disposição era outra. Chegámos à conclusão
de que ninguém trocava os molhos de cana do Ra pelo salva vidas, mesmo na pior das
eventualidades. Yuri ficou sensivelmente aliviado. Arreganhou os dentes e abanou a cabeça, feliz.
Carlo riu. Norman respirou fundo e pôs-se de pé.
- O.K. Vamos ao serrote!
Dirigimo-nos para a popa. O mar varria com tanta força o convés submerso que resolvemos avançar
só três, Norman, Abdullah e eu, para evitar excesso de peso. Com o machado, a faca e o serrote
atacámos a armação e atirámos à água as tábuas, com pregos ainda agarrados e o invólucro de
plástico. Aquilo estava nitidamente fora de propósito numa embarcação como o Ra. O salva vidas de
espuma verde apareceu. Abdullah ficou aterrado ao verificar que, debaixo dele, as cordas que
seguravam os feixes estavam todas comidas, devido à pressão da água sobre a caixa. Havia pontas
de cabos espetadas no papiro, quais horríveis garras de esqueletos. Só o facto de as canas terem
inchado evitou que as cordas escorregassem e a proa se soltasse. Abdullah agarrou as pontas soltas
e atou as com corda nova. Trabalhámos com água cheia de espuma até aos joelhos durante vários
dias e Abdullah ficou com a pele das pernas a descascar. Inesperadamente, uma onda brutal estalou
contra o barco, levantou o e torceu o de lado. Cambaleante, tentei equilibrar-me quando ouvi o
estampido ensurdecedor de água a cair e madeira a quebrar. O mar apanhou me de costas e cobriu
me até à cintura.
A madeira e as cordas cederam à força do mar e, devagar, desabaram. Fui cuspido para bombordo
pela torrente de água. Baixei-me para agarrar uma corda de papiro e não cair à água, quando senti o
peso de madeira quebrada bater com violência nas minhas costas. Ouvi Norman dizer: «Atenção,
Thor!» Não podia deixar de ser a ponte a abater sobre as nossas cabeças. As cordas de amarração
tinham, com certeza, cedido. Os nossos alicerces ruíram e a madeira quebrada prendeu-me ao fluxo
de água. Num ápice, imaginei que éramos arrastados pelo Ra, onde continuávamos presos pelas
cordas de segurança, com a ponte e a popa a flutuarem na nossa esteira. Mas, depois, a cheia
acalmou. Voltámos a ter a água pelos joelhos, mas eu não conseguira livrar-me da madeira que tinha
em cima.
- Foi-se o remo de direcção reforçado - gritou Norman, que veio ajudar-me. Por cima de nós
balançavam as pontas estilhaçadas de dois grandes cepos atados um ao outro. A primitiva haste
redonda do remo e a viga rectangular do mastro que a reforçava partiram pelo meio. A pá do remo
ficou pendurada pelas cordas, a abanar como a cauda de uma baleia. Num instante, Norman, Carlo e
Santiago puxaram-na para dentro. Abdullah ficou a lutar sozinho com a embarcação de espuma, que
flutuava à solta. Eu tive de me haver com uma barrica de noventa quilogramas de peso, cheia de
carne salgada, que andava à deriva entre as vigas da ponte. Seria um desastre se as cascatas de
água a fizessem em pedaços.
Naquela noite, quando rendemos vigias, Abdullah garantiu-me que havia ondas grandes, mas sem
outras pequenas atrás. O Ra deslizava suavemente e em bom ritmo, com dois remos simples a
substituírem, temporariamente, o remo de direcção de bombordo. À luz dos archotes viam-se
calamares a nadar como se estivessem atrás de um vidro, sobretudo quando a água subiu a
sotavento. Na escuridão de breu, a vela egípcia, às vezes, distinguia-se razoavelmente contra o céu
estrelado, mas a linha do horizonte não se percebia de maneira nenhuma. Muitas vezes confundimos
a cintilação do plâncton sobre as cristas das ondas invisíveis com supostas estrelas.
Depois destes acontecimentos, pareceu-nos um tanto excêntrico desfazermos o salva-vidas, que
ficou intacto. Norman e eu olhámo-nos. Parei um momento, hesitante, antes de meter o serrote na
cobertura de lona e na espuma. Depois, em conjunto, pensámos nos únicos processos de que
dispúnhamos para sairmos daquele barco, onde tínhamos já a água pelo joelho.
- As pessoas hão-de pensar que somos loucos. Ninguém entenderá esta atitude - disse Yuri,
arreganhando os dentes.
Mas a decisão foi unânime e muito ponderada. A lancha ficou reduzida a tiras estreitas, como se
fossem rolos de papiro que empurrámos debaixo de água e atámos à superfície do convés afundado.
O milagre deu-se. A popa levantou o suficiente para nos permitir melhor controlo sobre o governo do
barco. As ondas escoavam outra vez melhor, de maneira que a poça diminuiu. Celebrámos o
acontecimento. Mal sonhávamos, então, que, aos poucos, o mar acabaria por arrancar a espuma e
deixar só as canas de papiro. Neptuno talvez estivesse a dizer-nos: «Nada de batota. Os homens do
tempo do faraó não tinham espuma de borracha.» A nossa alegria não foi duradoura. Mas o
desaparecimento da armação da lancha reduziu muito o peso do convés a ré.
A 19 de Junho acordámos a dançai sobre grandes vagas, acrescidas de contra-ondas das arribas da
costa, que agitavam o mar num turbilhão indescritível. O convés ondeou como um tapete e, nalguns
sítios, o papiro seco enrugou em pequenos caracóis. Entre o mastro e a cabina, onde dois homens
costumavam passar lado a lado, agora só cabia um, e mal. A pequena passagem entre a ponte e a
cabina abria e fechava como um quebra-nozes. Se, por descuido, nos sentávamos sobre uma greta
entre dois dos dezasseis caixotes que estavam dentro da cabina, ficávamos com o traseiro
beliscado. Pela primeira vez, um cântaro de barro fez-se em bocados. As avelãs espalharam-se e
fizeram as delícias de Safi. Descobrimos que um outro não tinha água. Formou-se um grande buraco
redondo no bojo, devido à fricção com o do lado. O remo-leme de estibordo foi reparado e deitado à
água, enquanto a água jorrava sobre os nossos corpos. Passado pouco tempo, ouviu-se outro
estalido e a pá apareceu a flutuar outra vez. A vela volteou e enrolou sobre Carlo e Santiago, que
estavam a tirar água de um saco de pele de cabra. Rebolaram contra a balaustrada e teriam ido
parar ao mar se não tivessem as cordas. Um peixe-voador entrou para bordo, nadou na poça, mas
Abdullah não conseguiu apanhá-lo.
Na luta contra os cabos, a vela e os remos quebrados, magoei uma das mãos, que, à noite, me doía
muito, quando fui para o convés substituir Santiago. Sem falar, apontou para uma luz a bombordo.
Pegámo-nos ao corrimão, de pernas retesadas, para não cairmos enquanto olhávamos. Cabo
Verde? Não, um navio. Vinha direito a nós a fazer sinais, mas tão depressa que não os conseguimos
ler. Percebemos que nos perguntou qualquer coisa.
- Ra O. K., Ra O. K. - respondemos nós, em morse. Supomos que seria uma lancha-patrulha de
Cabo Verde. Balançava imenso, enquanto nós apenas ondulávamos suavemente.
- Ra, bon voyage - respondeu, por fim, devagar. Boa viagem. Depois virou e as luzes reconfortantes
desapareceram na escuridão.
- Boa viagem - disse eu a Santiago, quando se foi deitar.
Duas horas mais tarde já estava a assobiar cautelosamente por entre o bambu, para acordar Yuri.
Era ele quem me devia substituir enquanto os outros dormiam mais um pouco. Depois, foi como se o
próprio Neptuno tivesse vindo raptar a pá do remo na escuridão do mar. Forças violentas
arrebataram-me o remo, todo o navio inclinou e as ondas em fúria trovejaram na escuridão e
submergiram tudo até à altura dos meus joelhos. A ponte vibrou e ouviu-se mais uma vez a madeira
a quebrar. Seria a ponte a ruir, desta vez? Ainda não. Era o outro leme de direcção. Ficámos sem os
instrumentos de governo do navio. Chamei a tripulação toda. A vela bateu. A água estava agitada.
Os cabos e a madeira faziam mais barulho que as ordens que nós gritávamos uns para os outros.
Começou a chover. Lançámos as duas âncoras flutuantes. Por fim, tudo amainou.
- Eles desejaram-nos boa viagem... - disse Santiago, olhando fixamente a escuridão. Não se viam
luzes, nem de terra, nem de navios. O Atlântico espraiava-se diante de nós.
- Boa viagem, Yuri. Não terás problemas... Não tens com que governar o navio.
CAPÍTULO X --- Rumo à América
Estávamos em plena festa. O céu e o mar sorriam-nos. O sol tropical batia sobre o convés de proa e
o Atlântico entrava e saía, devagar, no convés da popa. Dentro da cabina de bambu fazia fresco.
Pendurado por um fio de vela, na parede de bambu amarelo, via-se um mapa azul do Atlântico.
Sobre o mapa estavam desenhados, a lápis, vários círculos. O último, mais recente, indicava que,
naquele dia, tínhamos cruzado a longitude 40° W. Acabávamos de entrar na metade americana do
Atlântico. Durante dias consecutivos, o Brasil foi o nosso ponto fixo. Encontrávamo-nos mais perto do
continente sul-americano que de África. Mas agora, que navegávamos direitos a oeste, íamos
atravessar a parte mais larga do oceano. As índias Ocidentais seriam o local de desembarque mais
próximo.
Seria imperdoável não festejarmos o acontecimento. Georges, o gourmet, ajudou o chefe de cozinha,
Carlo, a confeccionar pratos especiais com o conteúdo dos cântaros de cerâmica. Primeiro, os
horsd'ceuvre: azeitonas de Marrocos, linguiça salgada e ovas de peixe do Egipto secas ao sol.
Depois, serviram, a cada um, uma omeleta recheada com olhos de alcachofras, cebola, tomate,
bocados de carneiro fumado e queijo de ovelha apimentado. Pudemos escolher os condimentos
entre vários temperos especiais; desde o kamon egípcio até às ervas do deserto marroquino e à
pimenta encarnada. Como sobremesa, comemos passas de uva, ameixas secas, amêndoas e,
melhor que tudo isto, rações triplicadas dos doces de mel de Madame Aicha, os sello.
Quem se havia de lembrar de frigoríficos ou de abre-latas? Não, certamente, aqueles representantes
de sete nações que, ali sentados, se acabavam de encher com os pitéus dos banquetes dos faraós.
Entretanto, o nosso barco de papiro assinalou o momento dando a proa, a todo o pano, para o rumo
exacto, sem vigia na ponte.
Levávamos uma mercearia flutuante a bordo. Estava a cargo de Santiago, o contramestre. O único
freguês autorizado era Carlo. Só a Safi se atrevia a tocar nas provisões. Como não sabia ler os
números feitos por Santiago, tinha a habilidade de tirar as rolhas, precisamente, aos
cântaros que estavam cheios de avelãs, nozes, etc. Pelo livro de notas de Santiago, sabíamos que,
por exemplo, os cântaros 1 a 6 continham ovos frescos cobertos por uma solução de cal; de 15 a 17
estavam cheios de tomates cozidos conservados em azeite. Aicha pôs nos cântaros 51 e 52
manteiga fervida e amassada com sal, segundo o costume berbere. Os cântaros 70 a 160 continham
água pura de uma nascente campestre que ficava nos arredores de Safi. Mas, de acordo com os
usos e costumes do deserto, deitámos uns bocados de resina na água que enchia os sacos de pele
de cabra, para se conservar. Nos restantes cântaros, nos cestos e sacos, havia mel, sal, ervilhas,
favas, arroz, vários tipos de grão e de farinhas, legumes secos, karkade, cocos, feijão karubu, nozes,
avelãs, tâmaras, amêndoas, figos, ameixas secas e passas. Os cestos com cenouras, nabos, etc,
legumes verdes e fruta esgotaram-se ao fim de duas ou três semanas. No tecto de bambu, à
retaguarda da cabina, pendurámos carne e enchidos fumados, molhos de cebolas, peixe seco e ovas
de peixe do Egipto, metidas em redes. Debaixo desta mercearia suspensa tínhamos cestos de verga
cheios de pão seco feito por receitas do antigo Egipto, da Rússia e da Noruega. O objectivo da nossa
viagem era saber se o barco de papiro poderia navegar no alto mar, e não se nós conseguiríamos
sobreviver só à base de iguarias genuinamente egípcias. Por outro lado, queríamos também saber
se os cântaros e os cestos aguentavam a viagem e se os viajantes primitivos conseguiam passar
sem latas de conserva e comida congelada, caso a sorte não favorecesse os pescadores. Como é
obvio, não houve problemas em carregar o barco de papiro com a comida, que pôde ser armazenada
em qualquer tipo de embarcação transoceânica.
Para festejarmos a travessia da longitude de 40°, Georges lembrou-se de infringir as regras e abrir
uma das garrafas de champanhe que havia no Ra. Yuri serviu em taças de madeira da Rússia,
pintadas à mão, uma mistura caseira de pôr os cabelos em pé. Abdullah recusou. Passou a mão pela
pele esticada do estômago e desapareceu atrás dos cântaros para se ir lavar no nosso mar interior
antes de dar graças a Alá.
Quando voltou para junto dos companheiros terrestres, pediu que lhe explicássemos o significado do
traço a lápis desenhado no mapa. Com mais força de razão, depois de saber que aquele risco era o
responsável pela refeição faustosa que acabávamos de saborear. Já percebia que constantemente
acertávamos os relógios porque a Terra é redonda. Logo, o Sol não incide ao mesmo tempo sobre
todos os lados de uma esfera. Que o relógio automático de Carlo, continuasse a trabalhar dentro de
uma caixa, há cinco semanas, porque a cabina de vime do Ra era mais movediça que qualquer
pessoa a andar, também percebia.
Mas não percebia porque é que, todos os dias, nós marcávamos a derrota num mapa onde o mar
estava dividido em linhas direitas verticais e horizontais. Acabávamos de atravessar a quadragésima
longitude, mas ele não dera pelas anteriores. Então, Norman explicou. A terra e o mar são divididos
em quadrados imaginários, numerados, para que as pessoas, pelos números, possam saber a
posição em que se encontram.
- Ah! - disse Abdullah. - Em terra os quadrados mantêm se imóveis, mas, no mar deslocam-se com a
corrente, para oeste, mesmo quando não há vento.
- Imaginamos as linhas no fundo do oceano - interrompeu Norman. Depois, continuando, disse que a
nossa viagem começou em Safi, que fica na longitude 9o W e naquele dia estávamos na longitude
40° W. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos vindo a navegar para sul desde a latitude 32° N até 15° N.
Ou seja, a mesma latitude a que ele, Abdullah, se encontrava quando estava em Chade.
Aprendida a lição, ele próprio foi capaz de indicar no mapa o ponto mais a oeste de África, Dacar,
longitude 18° W; e o ponto mais a leste do Brasil, Recife, longitude 36° W. Donde podíamos concluir
que, uma vez chegados à longitude 40° W, ultrapassáramos aquele cabo do Brasil e podíamos
festejar o facto de já nos encontrarmos na metade americana do Atlântico.
No convés a festa prosseguiu. Yuri trepou para cima das caixas da cozinha e, ao compasso de
canções russas, desatou a sapatear com força, tanto quanto a inclinação do navio lhe permitia.
Quando chegou a vez da canção dos Barqueiros do Volga, todos o acompanhámos. A seguir subiu
Norman para os caixotes. Acompanhado pela harmónica, cantou Lá em baixo no Vale e outras
canções de cowboys. Seguiu-se a Itália, com as marchas heróicas dos Alpes; o México, com as
toadas revolucionárias contagiantes; a Noruega, com as canções alegres dos marinheiros, e o
Egipto, com queixumes exóticos a acompanhar danças de ventre. Mas as honras foram todas para
Chade. Em parte, porque a sua actuação era profundamente genuína e, em parte, pelo contraste
absurdo entre o mar ubíquo e aquele africano a tamborilar sobre uma panela, enquanto cantava
canções palpitantes da selva.
De tempos a tempos, o vigia desaparecia para ir verificar a bússola. Navegámos direitos a oeste com
o vento de costas e à velocidade média de cinquenta-sessenta milhas marítimas, isto é, cerca de
cem quilómetros por dia. Durante os seis dias que se seguiram à passagem ao largo das ilhas de
Cabo Verde, o demónio do tempo prejudicou a popa contra-alquebrada e os remos toscos e
remendados. Mas, agora, no meio do oceano, as ondas começavam a colaborar e estabeleceu-se
um status quo entre o mar e nós. Enquanto as ondas deslizavam livremente até à secção do barco
demarcada pela parede da cabina, a corrente do oceano transportava nos, a boa velocidade, para
oeste. Carlo sofria em silêncio por ver a cauda do Ra a emergir da água em esplendorosa solidão.
Sentia a humilhação do nosso pássaro dourado, inicialmente tão altivo e agora a navegar com
pescoço de pato e cauda de sapo. Mas naquele dia sentíamo-nos felizes. Aproveitámos o torso do
cisne e esquecemos que, para ré da cabina, éramos rã.
Ao pôr do Sol, estava improvisada uma orquestra com os utensílios da cozinha de Carlo. O Ra rangia
suavemente, de tal modo que os nossos instrumentos neutralizaram os gemidos do papiro. Carlo não
pôde abrir o caixote da cozinha. Serviu-se pão seco da Rússia barrado com mel. Soube -nos melhor
que o mais gostoso dos bolos. M as comemo-lo aos bocados, escuros e rijos como carvão. Já tinha
comido muitos quando, sem esperar, ouvi um estalido e o meu único dente com coroa saltou para o
papiro. Ali fiquei sentado, com um ar infeliz, a explorar a cova do dente com a ponta da língua.
- Raio de pão comunista! - desabafou Norman, em tom jocoso, e, de soslaio, olhou para o nosso
médico.
Yuri curvou-se, apanhou o pedaço e examinou o com atenção.
- Raio de dentista capitalista! - disse, desviando o assunto. Entre gargalhadas, música e canções, a
festa continuou até o
deus-Sol Ra se afundar no mar, mesmo diante do nariz do seu homónimo naval. A esfera celeste
parecia atrair o nosso Ra de pescoço de cisne para oeste, sempre para oeste. Aquele movimento
contínuo para oeste deve ter sido a grande atracção dos adoradores do Sol. Da orla do mar para o
céu irradiavam, em diadema, lancetas resplandecentes, nem de longe parecidas com as coroas
reais. Era uma tentativa de competição entre o mar tropical e a aurora boreal: primeiro, dourado vivo;
depois, vermelho cor de sangue, laranja, verde, violeta, escurecendo gradualmente para preto.
Entretanto, e também aos poucos, do invisível surgiram as estrelas, cintilantes, enquanto o rei-Sol
desapareceu. Sua Majestade retirou se. Os seus minúsculos súbditos celestiais congregaram se
para acompanhar a procissão que se dirigia para oeste.
Deitados de costas em cima de sacos de pele de cabra vazios, ou cheios, entretemo-nos a filosofar.
Fora da cabina, o panorama era ilimitado. Nada estorvava ou confundia os nossos pensamentos. O
dia foi óptimo, comemos bem, divertimo-nos, descontraímos. Depois disso, só nos apetecia admirar
as estrelas e deixar o pensamento divagar à vontade.
- Tu és bom rapaz, Yuri - disse Norman. - Há mais alguns como tu lá na Rússia?
- Mais dois - disse Yuri. - Os outros são todos melhores. E lá no teu país, há mais alguns capitalistas
toleráveis, como tu?
- Obrigado pelo cumprimento - disse Norman. - Se me achas tolerável, bem podes contar com muito
mais, do outro lado.
Desenrolou se uma conversa pacífica sobre comunismo e capitalismo; anticomunismo e
anticapitalismo; autocracia e ditadura das massas. Sobre a opção entre comida e liberdade; sobre
causa do ódio que existe entre representantes do povo, ao passo que os cidadãos, em geral, quando
se encontram, conseguem entender se. Se, tanto a leste como a oeste, o movimento Hippy teria
nascido a partir da juventude ou dos pais. Com o avanço da civilização, tenderia a desaparecer ou a
intensificar? Será um sinal dos tempos, a mostrar que as futuras gerações não aceitarão a civilização
em que nós e os nossos pais acreditámos? Os Egípcios, os Sumérios, os Maias e os Incas
construíram pirâmides, embalsamaram múmias e julgaram estar na pista certa. Defendiam as suas
ideias com fundas, arcos e flechas. Nós pensamos que o objectivo da vida deles estava errado. Por
isso, construímos mísseis nucleares e vamos â Lua. Defendemos os nossos programas políticos com
bombas atómicas e mísseis antimísseis. Os nossos filhos começam a protestar. Penduram ao
pescoço enfeites à moda dos índios, deixam crescer o cabelo e tocam viola sentados no chão.
Entram em si próprios por processos artificiosos - percurso muito mais demorado que ir ao Sol ou à
Lua.
Quem pode resistir à tentação de filosofar, maravilhado com o brilho das estrelas e rio plâncton num
mundo tal qual era antes de seres humanos o terem visto pela primeira vez? Antes de milhares de
milhões de mãos atarefadas terem passado por ele? É mais fácil compreender e aceitar os pontos de
vista dos outros sentados lado a lado à luz das estrelas, sabendo que há de ser juntos que ou vamos
ao fundo ou nos salvamos, do que em lados opostos de fronteiras nacionais, com o nariz colado ao
jornal ou à televisão, a beber palavras cuidadosamente escolhidas. A bordo do Ra nunca houve
duelos apaixonados de natureza política ou religiosa. Não se discutiam opiniões. Era nossa intenção
que cada um representasse os contrastes mais extremistas, t assim fizemos. Mas descobrimos que o
maior denominador comum não era, afinal, tão pequeno como isso. E não foi difícil. Talvez porque os
sete nos sentimos sempre uma unidade em relação aos nossos únicos vizinhos comuns que
respiravam por guelras e cujas ambições e interesses eram bem diferentes dos nossos. Apesar de
tudo, os seres humanos são abominavelmente semelhantes, quer uns tenham narizes aduncos e
outros chatos.
Ouviu se chapinhar na escuridão. Um peixe enorme bateu no convés de papiro e na parede de
bambu. Rejubilando de satisfação, Georges declarou que tinha arpoado uma dourada de sessenta
centímetros de comprimento. Iluminados pela lâmpada de pesca, víamos os calamares que
acompanhavam a nossa marcha, a nadar às sacudidelas, braços torcidos sobre a cabeça. Enchiamse de água e expulsavam-na aos esguichos fortes, que os obrigavam a recuar. O sistema de jacto.
Inventaram no para se livrarem dos seus perseguidores, e muito antes de nós. O cachalote mergulha
a uma profundidade de novecentos metros, onde a pressão é cem vezes maior que a da atmosfera,
sem bater com a cabeça no fundo, embora a escuridão seja total, porque tem radar interno. Teve-o
muito antes de nós descobrirmos o nosso.
- Yuri, como ateu que és, achas que aquelas constelações possuirão qualquer sistema de
inteligência, ainda que os seres humanos não tenham lá chegado para os pôr em ordem?
- Eu não sou um ateu, na verdadeira acepção da palavra. Simplesmente, não aceito os contrasensos da Igreja.
- Pois, mas Darwin e a Igreja estão de acordo em que primeiro foram criados o Sol e a Lua, os
peixes, os pássaros e os macacos. Quando o homem apareceu, estava tudo pronto, à sua espera.
Ora, gostaríamos de saber como o nosso cérebro, os nossos intestinos e, até, todo o universo se
compõem e entram a funcionar.
Que sensação agradável, estar se ali despreocupado, em amigável companhia sobre o mesmo mar
calmo, admirando o mesmo panorama que os marinheiros e os vagabundos do deserto viram,
milhares de anos antes de nós. Os habitantes das cidades modernas, encandeados com as luzes
das ruas, perderam o céu estrelado. Os astronautas estão a tentar reencontra-lo. Comecei a sentir
uma certa sonolência. Resolvemos ir para a cama, excepto o vigia.
Os últimos dias tinham sido muito duros e ninguém sabia o que estaria para vir. Outra tempestade
não seria brincadeira. O convés de ré já não oferecia protecção. A água da popa entrava em
torrentes e encharcava as cabeças daqueles que dormiam junto à parede de trás da cabina. Para
nos defendermos, forrámos a parede de trás e a do lado de estibordo da cabina com uma lona.
Quando pensava nas impressões por que passara durante os últimos dias antes de entrar em águas
calmas, sentia-me confuso.
Quando, na primeira noite, ficámos sem os dois remos leme ao largo das ilhas de Cabo Verde, Yuri e
Georges improvisaram um sistema pelo qual dois homens conseguiram governar o barco
razoavelmente, puxando ao mesmo tempo as pontas da vela. Assim, a popa aguentava se contra o
vento, a vela enchia e não batia contra o mastro. Não tínhamos hipótese senão de navegar
aproveitando os elementos atmosféricos. Na primeira noite, depois de passarmos as ilhas de Cabo
Verde, fomos bloqueados por ondas brutais que batiam com estrondo na parede da cabina,
passavam por cima da lona e espalhavam se pelos dois lados do barco. Cada vez era mais difícil
adormecer e, quando o conseguíamos, era por pouco tempo. A pequenos intervalos, víamo-nos
obrigados a acudir à vela, que quase não se distinguia na escuridão da noite, mas se retorcia e batia
com violência. Uma luta entre as ondas e a lona. Dançávamos como marionetas, caíamos sobre os
cântaros, tropeçávamos em tudo quanto havia entre a parede da cabina e as cordas e íamos para
fora da borda do navio, meios knock-out, quais jogadores de boxe vencidos pelo golpe do adversário.
Com a água salgada a escorrer nos pelas costas e pela cara, corríamos para os sacos-cama. Dali a
pouco estávamos outra vez cá fora. Ficaram catorze peixes-voadores no convés para o nosso
pequeno-almoço. E apanhámos sete douradas. Que disparate, Georges, Abdullah não os come
todos. Vamos deixá-los nadar à solta e comemo-los frescos quando nos apetecer. Um desapareceu
na poça, outro nadou debaixo da ponte e outro escondeu se na verga de direcção. Travou-se renhida
batalha subaquática entre os peixes e nós, para os apanharmos com as mãos. Cada peixe é um
conjunto de músculos escorregadios. Para evitarmos que escapassem com a água que escoava pela
borda do barco, apanhávamos a cauda com uma das mãos e tom a outra a cabeça. A trave onde os
paus da ponte assentavam resvalou. Um estampido, e a ponte cedeu. Cabos, cabos! Água por cima
das nossas cabeças. Bom trabalho. Agora está segura. Que tal, Carlo? É como nos Alpes? Não
adormeças aqui, Georges! Nós levamos te para a cama. Que diabo, os braços doem-me a valer!
Estaria eu a sonhar? Não. Estávamos ainda no Ra! Pois claro, o papiro rangia. Havia estrelas no céu
e estávamos muito afastados da costa enevoada.
Foi difícil recordar com nitidez tudo quanto se passou durante os primeiros dias depois de termos
passado Cabo Verde. Ficámos com a sensação de termos vivido um espaço de tempo mais
prolongado, sem distinção entre os dias e as noites. Mas a verdade é que, no diário de navegação, o
dia 20 de Junho está anotado como o pior de todos, até àquela altura. No registo de entrada do dia
21 lê se que a noite foi a pior por que passámos e o dia não foi melhor. Contudo, sem vela nem
remos de direcção e as âncoras a diminuírem a marcha, conseguimos percorrer trinta e uma milhas
marítimas, ou cinquenta e sete quilómetros, rota da América, o recorde mais baixo de toda a viagem.
A 22 de Junho a vergôntea de direcção, completamente submersa, alterava de tal maneira o curso
que Georges mergulhou com os óculos para a observar debaixo de água. Era à hora do crepúsculo.
Estávamos três debruçados sobre a borda do barco quando doze golfinhos, às malhas brancas e
pretas, vieram brincar com os molhos de papiro. Tão perto que lhes tocávamos com as mãos. As
pequenas baleias cabriolaram graciosamente como bolas de sabão. Quem havia de acreditar que
cada uma delas pesava toneladas de músculo compacto? Enquanto Georges mergulhou e as ondas
batiam no peito de Abdullah, encontrámo-nos com a baleia no seu habitat. Ela não nos incomodou;
nós deixámo-la brincar à vontade na água, onde todos temos direito a um banho. Nesse dia,
verificámos que as ondas começavam a querer penetrar pelo chão da cabina, entre os caixotes onde
nós dormíamos. O fundo da caixa onde guardávamos o rádio de Norman estava ensopado. A cabina
inclinou tanto para estibordo que alguns tiveram de pôr os colchões atravessados.
A 25 de Junho sentia-se uma atmosfera estranha. Era um misto de frio e calor dos trópicos. De vez
em quando, passava uma onda de calor carregada do cheiro a areia seca, tal como acontece no
Sara. Se não estivesse seguro da nossa posição, teria imaginado que estávamos ao largo de uma
costa deserta. Só mais tarde soube que a areia do Sara desce regularmente para a América Central.
Naquela noite o mar esteve pior que nunca. Tornámos a mudar a carga do convés de proa ainda
para mais longe. As caixas onde nós dormíamos andavam à tona de água, mas o Ra, flexível,
atirava-se para cima das ondas em confusão. Deslizava como um tapete mágico.
Então aconteceu que o bom tempo voltou. Brisa fresca, mar calmo e sol. O vento alísio soprava de
nordeste e os elementos estavam, mais ou menos, como é habitual a tais latitudes. Com a mudança
de tempo, o primeiro tubarão veio fazer patrulha e passou tão rente às pernas de Georges que ele
mal teve tempo de as encolher. Sem lhe tocar, desapareceu na nossa esteira.
O dia 2 8 de Junho foi um dos melhores que passámos a bordo. Cada um tratou tranquilamente dos
assuntos pessoais. Georges sentou se na abertura da cabina, a ensinar Abdullah a ler e a escrever
em árabe. Outros trataram da roupa, escreveram o Diário ou sentaram-se a pescar. A certa altura,
Norman, que nunca se queixava, soltou um gemido de cortar o coração! Foi ao convés de vante
ajustar a pá do remo partido que sustentava a lâmina metálica que servia de terra, e que era tão
preciosa para ele. Quando o ouvimos gritar, estava pendurado sem se poder mexer, com a cara
contorcida, sem ser capaz de sair da água. Todos pensámos o pior: tubarão. Corremos a puxá-lo
para dentro. Tinha os membros completos, mas trazia agarrado a ele o atacante - uma grande
caravela. Quando o deitámos na cabina, estava em coma, apesar dos estimulantes cardíacos que
lhe demos.
- Amónia - disse Yuri. - Não temos amónia. É a única coisa que pode neutralizar o ácido cáustico que
o corpo absorveu. A urina tem uma percentagem elevada de amónia. Vamos todos colaborar, e
estou a falar a sério!
Durante duas horas Yuri sentou-se ao pé dele, fazendo-lhe massagens com um trapo embebido na
urina que tinha dentro da casca de um coco. O doente torcia se com dores e convulsões. Acabou por
ficar inerte e adormeceu. As pernas e a parte inferior do corpo ficaram cobertas de riscos vermelhos
como vergões de chicote. Quando acordou e viu as bolhas de espuma a flutuarem sobre as ondas,
como sempre, gritou, como que embriagado: «Vejam, o mar está cheio deles!» Acalmou depois de
beber um caldo quente de frutos secos fervidos. No dia seguinte ainda não estava bem e enfureceu
se com Georges, que lhe tocou. Mas, à tarde, apertaram as mãos e, sentados lado a lado, cantaram
canções de cowboys.
A 30 de Junho atravessámos outra vez uma parte do oceano cheia de detritos oleaginosos.
Continuávamos no rumo certo e a vela grande ajudou a aumentar a velocidade. Mesmo assim, não
nos livrámos deles. De manhã até à noite, atravessámos uma camada espessa daqueles grânulos
pretos flutuantes. Sem darmos por ela, a lua cheia surgiu atrás de nós. Que noite inesquecível! O
luar a bater sobre o amarelo do papiro e o vermelho da vela! A leste, no horizonte, as estrelas
começaram a desaparecer. O mês de Maio passou e Junho também. íamos entrar em Julho, ainda à
tona de água, com algumas toneladas de carga útil.
No dia 1 de Julho, vindo de noroeste, passou mesmo ao nosso alcance um navio que mais parecia
um paliteiro, tantos eram os mastros e os paus de carga. Seguiu para sudeste. Estávamos
exactamente na derrota entre os E.U.A. e a África do Sul. Com alguma nostalgia, ficámos na ponte,
em cima da cabina ou nos degraus do mastro, a ver aquele fragmento do século XX sumir-se no
horizonte. Voltámos a ficar sós com o mar. Mais sós do que nunca. Georges ficou na ponte a
cantarolar uma canção melancólica. Dali a pouco gritou:
- Eles voltaram!
E era verdade. No ponto do horizonte por onde se tinha sumido, o mesmo barco reapareceu. Veio
direito a nós. A tripulação é capaz de ter ficado intrigada com o objecto estranho que viu e o capitão
resolveu voltar atrás para ver melhor. Na proa estava escrito African Neptune, New York. No convés
muita gente acenava.
-Precisam de ajuda? - gritou Norman aos seus compatriotas, regozijando de satisfação.
- Não, obrigado. E vocês, precisam de alguma coisa? - perguntaram da ponte.
- Fruta! - respondeu, unânime, a tripulação do Ra, mas em línguas diferentes. Mas o Ra continuou a
deslizar e apontou o nariz de papiro para o casco de ferro. Percebendo os nossos gritos e gestos
frenéticos, o capitão pôs o hélice a trabalhar e saiu da nossa frente. Passar qualquer coisa para
aquele desenfreado não foi fácil. O homónimo do deus do mar fez um grande círculo à volta do
homónimo do deus-Sol e, ao cruzar a nossa linha de abatimento, atirou ao mar um saco atado a um
cinto de salvação cor de laranja. Rodopiou para longe, fora do nosso alcance, e caiu no redemoinho
do hélice. Entretanto, Georges vestiu o fato de borracha, para se proteger contra as caravelas, e
mergulhou com um cabo comprido atado à cintura. Quando o arrastámos para bordo, trazia pesca
preciosa: trinta e nove laranjas; trinta e sete maçãs; três limões; quatro toranjas e um rolo,
encharcado, com as mentiras americanas da semana. Gritámos e acenámos, para agradecer. O
convés de vante ficou cheio de presentes de Natal. Fruta fresca; salada fresca no mundo do sal. O
cascabulho para Safi; as sementes para Sinbad.
Os dias que acabámos de descrever foram dos melhores que passámos a bordo do Ra. A borda
falsa feita por Abdullah e a cadeia de cabos que Carlo teceu de um lado e do outro da cabina e à
proa sustinham-nos no ar. Vista do African Neptune a nossa apresentação não deve ter sido muito
má. A bordo, todos, sem excepção, continuávamos estupefactos perante a resistência e a
capacidade de carga do papiro. Barco de papel? Talvez. Mas só as partes de madeira quebraram. O
papiro provou ser material de construção de primeira categoria. Os teóricos - quer os antropólogos,
quer os peritos em papiro - ajuizaram mal a sua resistência à água do mar. Foi um erro pensar-se,
como nós próprios pensámos, que os antigos barcos de papiro pintados nas paredes do Egipto eram
embarcações primitivas. Tanto o barco de papiro egípcio como a jangada vulgar, continuam a flutuar,
com o fundo a deixar entrar água. Nem o Ra, nem a Kon-Tiki tinham casco. Por isso, podem
classificar-se de barcos jangadas. Mas, afora estes pontos em comum, comparar o barco de papiro
com uma jangada de madeira é exactamente o mesmo que comparar um automóvel com uma
carroça. Para puxar uma carroça, basta um cavalo; para guiar automóvel é preciso instrutor e carta
de condução. Nós não tivemos nem um nem o outro. Embarcámos num navio egípcio cheio de
subtilezas, sem sonharmos sequer quão especial e quão diferente era de uma simples jangada. O
material é bom, mas, como no caso do automóvel, se não se está inteirado do fim a que se destina
cada uma das partes e como elas funcionam, pode, com toda a facilidade, estragar se alguma, antes
de a experiência mostrar como o conjunto trabalha. Muito aprendemos com os fracassos e com as
vitórias.
No dia 4 de Julho, Georges acordou-me com uma expressão de ansiedade estampada no rosto.
Estava convencido de que via esguichos de água em vários pontos do horizonte. Enquanto o Sol
nasceu foram-se formando riscas escuras ameaçadoras entre o mar e o céu. Eram aguaceiros
dispersos. Mas a chuva acabou por cair em torrentes sobre o convés de canas e sobre o telhado de
bambu. A tripulação despertou com o ribombar inesperado dos trovões, ao romper do dia.
Aproveitámos para tirar o sal dos cabelos e do corpo. Ainda tínhamos tanta água nos cântaros que
não precisámos recolher mais. Os aguaceiros continuaram a cair todo o dia, e no outro, e no outro.
As ondas diminuíram, subjugadas pela chuva, mas o barco ficou ensopado. Ao fim dos três dias de
aguaceiros, estava muito mais pesado. O vento alísio tornou-se caprichoso. Saltava, aqui e além, a
brincar com os aguaceiros. O Ra parecia deslizar na ponta dos pés, sem o menor rangido. Seria a
bonança antes da tempestade?
Fartámo-nos de banhos, durante os quais tivemos ocasião de verificar que a rigidez do papiro se
mantinha. O único contra foi que, durante dois dias seguidos, navegámos por entre centenas de
milhares de pequenos coágulos negros. Aproximávamo-nos da América, atravessando o mesmo
oceano que Colombo. Quando lhes tocávamos, ficávamos com os dedos pretos. Alguns estavam
revestidos de conchas. No bojo do Ra instalaram-se lapas de pescoço comprido e caranguejos. De
vez em quando víamos cardumes de peixes-voadores nadando à nossa frente, como os arenques.
Eram uns tímidos. Em contrapartida, o peixe-piloto, às ricas, e o pâmpano, às pintas, tornaram-se tão
marotos que nos davam beliscaduras e fizeram buracos nos sacos de peixe seco que Carlo
pendurou a secar fora da borda.
A 5 de Julho, Georges - de nacionalidade egípcia - viu um arco-íris pela primeira vez na sua vida. No
mesmo dia, apreciou, com o mesmo entusiasmo, o pôr do Sol. Pincéis invisíveis espalharam no céu
para onde nos encaminhávamos tinta de cor suficiente para pintar uma centena de arcos-íris.
Norman, dobrado dentro da cabina, pôs-se a trabalhar com a carta e a régua. Fazia os cálculos
numa pedra pendurada na parede. Nós estendemo-nos nos colchões de palha, agora secos,
aguardando o resultado da soma. Pelas gretas da parede da frente observámos o desvanecer
daquela orgia de cores, enquanto Carlo subiu os degraus do mastro para ir pendurar no tope a
lanterna.
- Navegámos duas mil cento e cinquenta milhas marítimas, ou seja, quatro mil quilómetros - acabou
por dizer Norman. - O mesmo é dizer que já percorremos mais de metade do caminho. A distância
daqui até às índias Ocidentais é de mil e trezentas milhas, dois mil e quatrocentos quilómetros, ou
seja, muito menos do que daqui a Safi.
- E a popa está-nos a atrasar. Se não fosse isso, teríamos atingido melhor velocidade - disse Yuri. Ontem baixámos para cerca de quarenta milhas.
- Além de nos atrasar, a popa faz-nos também guinar, e isso é ainda o pior. Hoje, as guinadas
andaram entre 30° N e 30° S do curso principal, apesar de nos termos revezado aos remos de
direcção. Um erro de sessenta graus representa umas boas milhas a mais. Os meus cálculos estão
feitos apenas a partir da distância mais curta entre as posições do meio-dia - disse Norman. - Se a
popa não nos obrigasse a este ziguezague, já lá estaríamos neste momento.
- Os homens que conheciam os truques do barco de papiro podem ter feito a travessia sem
problemas - disse Georges.
0 papiro chiava e, atrás da cabeceira das nossas camas, ouvia-se o bater suave da água, como se
alguém estivesse numa tina de banho resguardada por um biombo.
- Eu estava convencido de que quanto mais avançássemos mais o mar estava revolto e maiores
seriam as dificuldades. Afinal, é exactamente o contrário - murmurou Santiago. - Entre antropó-logos,
falámos muitas vezes acerca da maneira como os primitivos marinheiros chegaram a este ou àquele
lugar porque se aguentaram próximo da costa. Contudo, só agora vejo ser este o pior sítio para
navegar.
- Perto das costas e à volta das ilhas, o mar e as correntes comprimem-se, provocando toda a
espécie de redemoinhos e marulhadas - confirmei eu.
- Junto à terra, o mar corre muito mais vertiginosamente e as ondas atingem o seu comprimento
máximo. As tempestades são muito mais perigosas perto da costa.
- O facto é que os antropólogos e outros cientistas têm levado anos a discutir, sem chegarem a
acordo, se os barcos de cana e outras embarcações poderão, ou não, ter atravessado o oceano.
Contudo, quando alguém tenta fazer a experiência prática provoca a indignação geral e defendem-se
dizendo que não é uma resposta científica.
Santiago e eu conhecíamos bem o problema. Eu sou independente e, portanto, posso dar-me ao
luxo de levar o caso para a brincadeira. Mas Santiago teve muita dificuldade em obter autorização da
sua universidade para participar numa coisa tão pouco científica como é uma viagem num barco de
cana. O teste do papiro pode fazer-se numa banheira. Os cientistas trabalham em bibliotecas,
museus e laboratórios. Nunca em pleno Atlântico, a brincar aos piratas.
A verdade é que, ali, em pleno mar, de barbas crescidas e narizes queimados pelo sol, a resposta foi
completamente diferente da dos compêndios. As conclusões não tinham paralelo com as dos
cientistas que mergulharam canas de papiro em tanques de água. No laboratório, a madeira de balsa
afunda-se ao fim de uma semana ou duas. Pelo sistema dos índios que cortavam madeira boa, e
ainda com a seiva a deitavam ao mar, o imprevisto acontece. Flutua durante cento e um dias pelo
mar fora e vai aportar à Polinésia. Ora, os peritos em papiro colocaram os pés das canas em água
parada, dentro de um tanque. Além de o poder de flutuação diminuir, os tecidos da planta
começaram a criar ampolas e a decompor. Duas semanas era o limite indicado nos compêndios. Nós
estávamos na sétima semana de viagem, carregando toneladas de carga em cima do mesmo tipo de
cana que foi ao fundo no laboratório. Porquê? Os cientistas verificaram os resultados em canas
soltas dentro de uma tina, enquanto nós experimentámos um barco autêntico na água salgada. Pela
prática, os construtores de barcos de papiro do Egipto, e de toda a costa até ao Peru, descobriram
que as canas absorvem a água pelas extremidades porosas, e não pela bainha, estanque e fibrosa,
que as cobre. Daí, o terem-se lembrado de comprimir as pontas das canas, para a água não entrar.
Está provado que papiro e barcos de papiro são coisas diferentes.
- Enquanto as cordas aguentarem - repetia Abdullah - continuaremos a navegar. Se elas afrouxarem,
o papiro irá absorvendo água, mas se quebrarem será o fracasso.
Ainda não eram decorridos dois meses, já estávamos tão familiarizados com o ambiente que quase
nos sentíamos contemporâneos dos homens que imaginaram os barcos de papiro e os carregaram
com cântaros, cestos, sacos feitos com a pele de animais, bobinas de corda, comida salgada, nozes,
avelãs e mel. Muito antes de nós, os marinheiros da antiguidade e da Idade Média devem ter
experimentado tão diversos estados de espírito. Nada nos pareceu estranho, nada foi novidade. Os
mesmos problemas, as mesmas alegrias, a mesma embarcação de canas amarelas a flutuar entre o
céu e o mar. Dentro dela estivemos fora do tempo. Ali não fomos cientistas, mas antes estatísticos
empenhados numa experiência científica, que, uma vez iniciada, seguiu o seu curso natural. Pouco a
pouco, perdemos a dimensão do tempo. À medida que os nossos antepassados se juntavam a nós,
os séculos passados escorçaram, a imagem do tempo alterou-se. Os Viquingues apareceram na
linha do horizonte do Atlântico Norte; Colombo balanceou na nossa esteira. Os construtores de
pirâmides passaram a ser os avós de Georges, que começou a sentir-se mais orgulhoso dos seus
antepassados, acerca de quem adquirira um currículo muito antiquado na escola.
- Se a popa aguentasse não me importava de passar o canal do Panamá para atravessar o pacífico sonhava ele, acordado. - Se não puder ser desta vez, construiremos outro e repetimos a travessia.
Tenho a certeza de que os meus antepassados foram os primeiros a cruzar o Atlântico, pelo menos
numa direcção.
- Não é assim tão óbvio - argumentámos Santiago e eu, estabelecendo a confusão no espírito de
Georges. - O que é óbvio é que, se fizeram a tentativa, podem ter sido bem sucedidos. O barco de
cana é muito mais navegável no mar do que se imaginava. Mas nem só os Egípcios tinham barcos
de cana. Todos os povos do antigo mundo civilizado, desde a Mesopotâmia até â costa de Marrocos,
no Atlântico, os conheciam.
- Então, porque copiámos os modelos das sepulturas egípcias, se não íamos imitar os marinheiros
do Egipto?
- Porque só no Egipto existem gravuras contemporâneas mostrando os pormenores da construção.
Tudo quanto sabemos acerca da vida quotidiana no Egipto de há quatro ou cinco mil anos deve-se à
religião dos faraós e ao clima conservante do deserto.
Um dos dezasseis caixotes sobre os quais nós dormíamos na cabina estava cheio de livros sobre as
primitivas civilizações do mundo. Num livro sobre a antiga Mesopotâmia, encontrámos a gravura de
uma laje de Nínive onde se via um lindo baixo-relevo de barco de cana no mar. Uns em pleno
desenrolar de batalhas, outros não. As ruínas de Nínive ficam no interior, a cerca de oitocentos
quilómetros da foz do rio Tigre e a seiscentos quilómetros do porto fenício de Biblo, no Mediterrâneo.
Os canteiros, os soldados e os mercadores da Mesopotâmia contactavam com frequência com os
portos do Mediterrâneo e do Golfo Pérsico. Na laje de Nínive vêem se dois tipos diferentes de barcos
de cana. Três deles estão pintados segundo o processo egípcio - molhos de cana atados uns aos
outros; proa e popa curvas. Estão cheios de homens. As ondas que os rodeiam são do oceano,
porque, ao centro, destaca-se um caranguejo pintado com todo o realismo e rodeado de peixes a
nadar. Filas duplas de guerreiros armados abordam os barcos e perseguem as tripulações dos dois
maiores em direcção ao mar. Alguns atiram-se borda fora, outros nadam. O terceiro barco vai fugindo
à batalha naval e os marinheiros de barbas compridas rezam humildemente ao sol. A costa rectilínea
e duas pequenas ilhas cobertas de canas altas rodeiam a paisagem marinha. Entre as canas vêemse escondidos mais três barcos de canas. A bordo do que está na ilha mais afastada, besteiros
ajoelhados lado a lado aguardam ordens para entrar em acção. Mas na ilha mais próxima e no
continente as cenas são pacificamente idílicas: grupos ou filas de homens e mulheres, sentados nos
barcos, conversam e gesticulam serenamente.
Aquele baixo-relevo esclareceu muita coisa. Por exemplo, permitiu-nos verificar que havia diferença
entre barcos do alto mar e os que estão na praia entre as canas. Os primeiros tinham a proa e a
popa erguidas, curvando para dentro em bico, como as dos barcos do antigo Egipto e Peru. As dos
barcos que estão nos pântanos são largas e cortadas a direito. Não servem para enfrentar vagas
grandes, mas são ideais para se rebocarem para a praia e ficarem a secar, como se sabe que era
tradição no Antigo e Novo Mundos (1) .
(1) - O baixo-relevo completo, agora em exposição na Galeria Mínive do British Museum, contém
um total de dez barcos de cana, sete dos quais são embarcações de longo curso, com proa e popa
curvas.
Na Mesopotâmia ainda há barcos de cana hoje em dia, mas ninguém acreditaria que eles também
estiveram em uso no Egipto se as pinturas dos túmulos não tivessem sido preservadas para a
posteridade. As canas e os barcos de papiro desapareceram para sempre do Egipto. Mas no Peru
ainda hoje se encontram barcos idênticos aos dois tipos pintados na laje de Nínive. Os Espanhóis
encontraram os dois espécimes ao longo da costa do reino inca, onde ainda aparecem aqui ou além.
Inúmeras pinturas no vestuário de múmias, em jarros de cerâmica e em relevos do período pré inca,
mostram que os dois .tipos de barcos se mantiveram intactos até à actualidade, desde o tempo em
que os primeiros construtores de barcos se fixaram na costa e pintaram barcos de cana a pescar no
mar.
É devido ao realismo dos baixos relevos das ruínas de Nínive, das sepulturas do vale do Nilo e dos
túmulos das múmias na costa leste do Peru que sabemos que barcos de cana de desenho idêntico e
tripulados por muitos homens foram em tempos importante factor cultural comum às primitivas
civilizações da Ásia Menor, do Norte de África e da América do Sul. Embora as antigas civilizações
mais preponderantes se tenham desagregado, pequenos barcos de cana continuaram a ser usados
no círculo que rodeia o Egipto: Mesopotâmia, Etiópia, África Central, Sardenha e Marrocos, de um
lado do Atlântico, e por toda a zona das primitivas culturas da América, com a ramificação d a ilha da
Páscoa, no outro lado. A bordo de um espécime originário de África, acompanhados por um macaco
e um pato, encontrávamo-nos já na parte americana do Atlântico e começávamos a perguntar a nós
próprios se a linha divisória entre o Velho e o Novo Mundo dos barcos de cana seria, de facto, tão
real como no mapa. Estaria o Atlântico dividido pela linha central que nós acabávamos de transpor
ou por alguma das margens continentais? No que se refere a embarcações de navegação, a linha
divisória entre elas deveria ser desenhada no mapa, isto é, no fundo do mar, que se mantém imóvel,
ou à superfície, continuamente em movimento de um continente para o outro? No decorrer de
milhares de anos, seria a primeira vez que se partia o mecanismo de direcção de um navio primitivo
como o nosso, ao enfrentar as correntes do oceano Atlântico, a sul de Gibraltar?
Até aqui os interesses de Georges, o egípcio, concentravam-se quase exclusivamente no judo e nas
técnicas dos homens-rãs. Durante a viagem começou a apaixonar-se pelo fantástico mundo da
antiguidade. Não haveria, de facto, testemunhos escritos a provar que os antigos egípcios
navegaram para além de Gibraltar?
Não, não havia. Mas os Fenícios, que durante séculos foram os seus vizinhos mais próximos a leste
do Mediterrâneo, fizeram carreiras regulares para além de Gibraltar e por toda a costa ao largo de
Marrocos, muito para além de Safi e do cabo Juby. Muito mais para sul do ponto até onde chegámos
na costa oeste de África, estão agora a aparecer cacos de louça com inscrições fenícias e outras
relíquias da colonização bem organizada pelos Fenícios, incluindo a fabricação de púrpura. Só há
poucos anos a ciência descobriu que estes primitivos marinheiros do ponto mais a leste do
Mediterrâneo fizeram da ilha de Mogador, a sul de Safi, um importante centro comercial. Nesta ilha,
bem como por toda a costa do Rio do Ouro, a sul de Marrocos, está a proceder-se a escavações de
relíquias fenícias. Os arqueólogos modernos descobriram que os guanches das ilhas Canárias
serviam de apoio aos Fenícios, para quem aquelas ilhas, em pleno oceano, eram o ponto estratégico
que lhes permitia contornar com segurança o cabo Juby e o cabo Bojador. Dispunham de centros
comerciais tão desenvolvidos que eram obrigados a navegar muito para além daqueles dois pontos
perigosos, que nós conseguimos ultrapassar com dificuldade no nosso barco de canas.
Há um documento escrito pelo historiador Heródoto, depois de visitar o Egipto, onde se declara que
no tempo do faraó Necho, que governou no ano 600 a. c, os Egípcios expediram uma frota fenícia
para navegar toda a costa de África. É, pois, provável que, sendo os Egípcios os responsáveis pela
expedição, nela tivessem participado também, embora se declare expressamente que os barcos e os
marinheiros eram fenícios. Navegaram até ao mar Vermelho e voltaram, por Gibraltar, três anos mais
tarde, depois de terem acampado por duas vezes para cultivar cereais. Contaram que, enquanto
circundaram o continente africano, o Sol foi se movendo para norte. Mais ou menos um século
depois, aparece a descrição de uma das maiores expedições dos Fenícios, chefiada por Hanno,
destinada a estabelecer colónias para comércio, fora de Gibraltar. Sessenta galés, cada uma delas
com vela e cinquenta remos, transportando um total de trinta mil prospectivos colonos de todos os
ramos comerciais, navegaram direitas ao Atlântico. A frota transpôs a antiga colónia da Cidade
Eterna do Sol e por seis vezes ancorou na costa de Marrocos, para desembarcar colonos. Fizeram
um percurso muito mais extenso do que nós, sempre por praias perigosas, dobraram o cabo Juby,
passaram as ilhas de Cabo Verde ao largo do Senegal e chegaram aos rios das florestas da África
ocidental.
É sabido que os Fenícios até tinham relações comerciais por terra com algumas tribos da África
ocidental. Aproveitavam as caravanas dos Númidas que atravessavam o continente para transportar
o marfim, ouro, leões e outros animais selvagens, que vendiam aos circos que percorriam as cidades
mais importantes situadas a oeste da Síria e Egipto e chegavam às ilhas do Mediterrâneo e à costa
de Marrocos, no Atlântico. Assim, muitos séculos antes de Cristo, o Norte de África era uma confusa
teia de aranha de caminhos de comerciantes e exploradores, onde os intrépidos Fenícios
desempenharam papel importante. Mas mais uma vez surge a pergunta: quem eram estes Fenícios,
acerca de quem sabemos tão pouco? De quem descendiam e quem os ensinou a navegar? Dos
Romanos herdámos a palavra «fenício» como uma espécie de saco dentro do qual se deitou tudo o
que navegava no Mediterrâneo antes do início da era romana.
Numa praia deserta, um pouco a sul do nosso ponto de largada, um molhe, em ângulo, feito de
dezenas de milhares de blocos de pedra megalíticos, avança pelos recifes, formando um esplêndido
porto de abrigo. Aquelas quantidades brutais de blocos de pedreira foram arrastadas para o mar por
arquitectos navais experimentados. Sabiam bem o que estavam a fazer quando construíram uma
muralha que durante tantos séculos tem resistido à violência das ondas do Atlântico. Quem teria
precisado de um porto de abrigo tão grande, naquele ponto isolado e arenoso da costa, antes de os
Árabes e de os Portugueses começarem a navegar pela costa africana do Atlântico abaixo?
No pontal onde o rio Lucus desemboca no Atlântico, a noroeste da costa marroquina, estão situadas
as gigantescas ruínas de uma das mais poderosas cidades da antiguidade, cujo passado se perdeu
na obscuridade da pré-história. Do mar vêem-se enormes blocos megalíticos, pesando várias
toneladas, que foram transportados dos rochedos até ali, colocados uns sobre os outros para
formarem paredes de centenas de metros de altura. Os blocos são polidos; as junções são
espantosamente perfeitas; efectuadas pelo mesmo processo técnico das paredes megalíticas do
Egipto. Sardenha, México e Peru - as zonas onde os barcos de cana estiveram em uso. É também
aí, onde o rio Lucus curva na sua descida para o mar, e junto às antigas ruínas - aí, e só aí -, que os
barcos de canas de Marrocos, os madia, continuam em uso. O nome mais antigo desta cidade
megalítica é «Magom Semes» (a Cidade do Sol). Os Romanos escreveram que, quando a
descobriram, havia lendas fantásticas relacionadas com a sua história primitiva. Chamaram lhe
«Lixus» (a Cidade Eterna) e construíram templos em estilo romano sobre as antigas ruínas. Mas
esses templos e colunatas parecem mínimos em comparação com os blocos colossais sobre os
quais repousam. Historiadores romanos colocaram o túmulo de Hércules numa ilha situada no rio, no
sopé daquelas ruínas maciças. Artistas da mesma nacionalidade fizeram um gigantesco retrato em
mosaico do deus do oceano, Neptuno, com garras de caranguejo a saírem dos cabelos e da barba,
tendo por fundo o Atlântico. Depois, os Romanos desapareceram. Seguiram-se os Árabes, que se
fundiram com a po-pulação de origem na planície das cercanias e deram à cidade o nome de
«Shimish» (Sol). Nas histórias relatadas por eles, a última rainha que reinou chamava-se «Shimisa»
(Pequeno Sol).
Os poucos arqueólogos que tentaram pequenas escavações de ensaio descobriram que os Fenícios
habitaram a Cidade do Sol muito antes dos Romanos. Mas quem a fundou? Talvez os Fenícios. Se
assim foi, o trabalho em alvenaria dos Fenícios igualava o de melhor qualidade descoberto em
ambos os lados do Atlântico. O actual Líbano foi a pátria dos Fenícios no antigo Mediterrâneo leste.
A Cidade do Sol não era um porto do Mediterrâneo, mas importante porto de abrigo do Atlântico,
situado na margem da corrente fortíssima que se dirige para oeste, serpenteando entre as ilhas
Canárias e terminando no México. Quantos séculos terão aquelas paredes? Ninguém sabe. Até à
profundidade de quatro metros e meio estão cobertas por detritos fenícios, romanos, berberes e
árabes. Os Romanos acreditavam em Hércules e Neptuno, mas não no deus-Sol. Por essa razão, as
ruínas romanas superiores não estão orientadas para o Sol. Mas escavações mais recentes
efectuadas até às camadas mais profundas vieram provar a existência de maiores blocos de pedra,
já cobertos por detritos à chegada dos Romanos, que não os demoliram, nem reconstruíram. Esses
blocos eram, efectivamente, as fundações de grandes edifícios meticulosamente orientados para o
Sol. Ora, é inegável que os Fenícios, tal como os seus vizinhos Egípcios e a grande maioria das
primitivas civilizações do Mediterrâneo, adoravam o Sol.
Cidade do Sol, Cidade Eterna, o último lugar de repouso de Hércules, mais antiga - segundo o
testemunho dos Romanos - que Cartago. Porquê todo este tributo a um remoto porto megalítico do
Atlântico? Porque ficava ele além de Gibraltar? Aparentemente, os fundadores desta Cidade Eterna
viviam distanciados dos Fenícios, na Ásia Menor, tantas milhas quantas dos índios, na América. Não
há dúvida de que, para terem contactos regulares com a Ásia Menor, eram verdadeiros mestres a
navegar. Simples amadores, não tinham hipótese de manobrar ao largo da perigosíssima costa do
Norte de África, onde nem as correntes regulares nem o vento os ajudariam, quer à ida, quer à volta.
Para os residentes da Cidade Eterna, teria sido muito mais fácil atravessar o oceano e ensinar o
ofício de pedreiro aos índios. Bastava pegarem nos remos e deixarem-se descair, como nós. Se
foram os Fenícios que fundaram a Cidade do Sol, levaram, certamente, nas suas viagens de
colonização, fora do Mediterrâneo, padres, arquitectos e outros representantes do escol da nação.
Os marinheiros fenícios são conhecidos como os primeiros e os principais intermediários da
civilização no mundo antigo. Se eram os Fenícios quem vivia naquela cidade do Atlântico, tinham
conhecimentos profundos acerca das antigas pirâmides do Velho Mundo, quer das construídas em
degraus, quer das de paredes lisas. Sabemos que, organizadas pelo Egipto, se realizaram
expedições fenícias. A madeira dos navios soterrados à volta das pirâmides do Egipto era fenícia; o
papiro dos livros fenícios era de origem egípcia e o retrato de Ramsés II, com inscrições em baixo,
está esculpido em três lugares diferentes, nos rochedos da costa fenícia. Em tempos de paz, ou em
tempo de guerra, os contactos entre os dois países nunca foram interrompidos. De facto, porque os
eruditos não acreditavam na navegabilidade dos barcos de papiro do Egipto, presumiu-se que os
Egípcios se serviam dos barcos de fenícios para fazerem a colecta do tributo que as ilhas do
Mediterrâneo e os portos sírios lhes pagavam. Por isso, os Fenícios conheciam muito bem as
pirâmides terraplenadas de adobo existentes na Ásia Menor e muito diferentes das do Egipto, porque
tinham uma escada estreita, ou uma rampa que ligava o centro de um ou mais lados da pirâmide
com um pequeno templo que ficava no topo, exactamente como as primeiras pirâmides construídas
na costa americana do Atlântico.
- Mas nós, os Egípcios, também navegámos no mar alto - argumentou Georges. Como bom cristão
copta, citou a Bíblia, onde Isaías vaticina que mensageiros egípcios atravessarão o mar em barcos
de junco. Na nova edição da Bíblia do Rei Jaime até vem especificado que esses barcos são de
papiro. Georges lembrou ainda que a mãe de Moisés (Êxodo, 2 31o pôs a boiar pelo Nilo abaixo
dentro de uma arca de papiro untada com pez e betume. Enquanto estivemos no Egipto, Georges
mostrou me as paredes do templo da rainha Hatshepsut, em Luxor, no vale do Nilo, onde admirámos
pinturas maravilhosas representando uma expedição de vários barcos de madeira, que a rainha
mandou, pelo mar Vermelho, até Punt, na Somália. O objectivo da viagem era trazer toda a espécie
de mercadorias, incluindo árvores exóticas intactas, para replantar no jardim da rainha.
O que Georges não sabia é que mercadores modestos, em barcos de papiro vulgares, navegaram
ainda mais para além do que a famosa frota de barcos de luxo da rainha. Eratóstenes, bibliotecáriochefe da grande livraria de papiro egípcio na Alexandria, no estuário do Nilo, antes de dezenas de
milhares de insubstituíveis manuscritos de papiro terem sido destruídos pelas chamas, declarou que
«navios de papiro», com as mesmas velas e o mesmo cordame que os do Nilo, navegaram até
Ceilão e até à foz do Ganges, na índia. Mais tarde, o historiador romano Pínio (livro VI, XXIII, 82) cita
aquele erudito bibliotecário numa descrição geográfica de Ceilão, dizendo que, enquanto os barcos
de papiro levavam vinte dias completos a navegar desde o Ganges até à ilha de Ceilão, os
«modernos» barcos romanos faziam o mesmo percurso em sete dias. Esta acidental referência
escrita, tão importante, permite nos concluir que os antigos barcos de papiro percorriam o oceano à
mesma velocidade que nós atingimos antes de a popa afundar, baixando-nos a média da marcha.
Com efeito, medindo a distância entre o rio Ganges e Ceilão e tendo em conta a informação de
Eratóstenes, concluímos que barcos de papiro com mastreação egípcia igual à do nosso podem ter
feito uma média de setenta e cinco milhas marítimas, cerca de cento e quarenta quilómetros nas
vinte e quatro horas. Isto é, um pouco mais de três nós.
Mas o oceano Índico não é o Atlântico. É possível que os Egípcios tenham passado para lá de
Gibraltar, mas não existem provas concretas sobre isso. Os Fenícios, esses, sim, conheciam os
rochedos e as praias espalhados pela costa onde nós iniciámos a nossa viagem. Aos poucos, foram
aprendendo os segredos das correntes locais.
O mistério acerca do primitivo tráfico no oceano que limpou o nosso convés de ré, que nos atirou
peixes voadores para bordo e, sem cessar, nos impeliu para vante transformou-se num desafio
quando colamos as barbas aos livros eruditos e nos imaginamos antigos marinheiros a ler descrições
sobre os nossos feitos e a nossa época. Levantei a cabeça e vi o nosso companheiro mexicano a
passar a água de um saco de pele de cabra para uma ânfora; o egípcio balançava com um cinto de
salvação de papiro sobre os ombros; o macaquinho espreitou com o focinho, sempre a fazer caretas,
e roubou-me o «nasómetro», de que acabara de me servir para calcular o ângulo da Estrela Polar.
«Homens com a barba crescida estão a atravessar o Atlântico em direcção a oeste», dizia eu numa
mensagem ao director do Instituto Arqueológico do México. Referia-me, em tom chistoso, aos
Olmecs barbudos que descobriram a primitiva civilização do México. Como um relâmpago, a
antiguidade desvaneceu-se quando Norman extraiu o pequeno aparelho de rádio do caixote em cima
do qual estava estendido e, por instantes, voltámos ao mundo da actualidade. Dick Ehrhorn,
operador de rádio da Florida, construiu o aparelho. Pouco depois de termos perdido contacto com
Marrocos, ouvimos uma voz ao microfone dizer: «LI2B, LI2B, aqui LA5KG Chris Bockchie, em Oslo.»
A partir daí, Chris acompanhou a nossa viagem através da caixinha mágica e, como ele, apareceram
Just LA7RF, em Alesund; Frank I1KFB, em Génova; Herb Wb2BEE, em Nova Iorque; Alex UA1KBW,
em Leninegrado, e o próprio construtor do aparelho, Dick W4ETO, na Florida. Estas e tantas outras
vozes seriam para os homens da antiguidade, quais génios saídos da lanterna de Aladino, voando
através do oceano e aterrando sobre a nossa caixinha, no meio dos sacos de pele de cabra e dos
cântaros. Por intermédio destes radioamadores, as nossas famílias souberam que estávamos vivos.
Exactamente como nós, tinham um mapa do Atlântico pendurado na parede, onde iam marcando a
nossa posição. Quando atingimos o meio do percurso, trocámos saudações com U Thant e os
presidentes dos nossos sete países de origem. Os cumprimentos dos presidentes das duas
superpotências de Leste e do Oeste chegaram no mesmo dia. Norman fechou a «boceta de
Pandora». Voltámos ao passado, tal como entrámos no presente quando a abriu e na cabina se
começou e ouvir o tagarelar de vozes metálicas: radioamadores de todos os países imagináveis
tentando entrar em contacto, para nos ajudarem. Quando eles se calaram, a água voltou a
gorgolejar, salpicando tudo, ao passo que os cabos gemiam tristemente. No nosso mundo só havia
mar e peixes voadores. Uma vez por outra, nos abismos sem fundo, passava, a deslizar, um costado
verde.
Homens de barbas compridas. Foi uma das nossas informações jocosas. A popa estava
completamente debaixo de água, permitindo que as ondas batessem na parede da cabina como a
rebentação na praia. No convés de ré, peixes pequenos nadavam em plena liberdade. Se não
fôssemos surpreendidos por outra tempestade, chegaríamos a terra dentro de uma semana ou duas,
com a cabina e o convés de vante cheios de comida e outras cargas. Mas bastava mais outra para
sairmos dela em destroços. Desde que tínhamos largado de Marrocos, só o African Neptune
fotografou o Ra a navegar com a vela cheia.
Para sermos apanhados em perspectiva, tivemos de nos meter a nado com um cabo de vaivém.
Para nós, que havia já tantas semanas só nos víamos uns aos outros, com uma secção diminuta do
barco por fundo, foi, na realidade, uma visão emocionante observar o Ra do mar. Georges, com uma
máquina à prova de água, aproveitou a crista de uma onda para fotografar o Ra a debater se com as
ondas, como nos teriam podido ver.
A 7 de Julho o barco de papiro ainda estava bonito: a proa dourada erguida para o alto; a vela
vermelho escuro mais tesa que nunca, porque o vento de leste batia-nos de costas. Mas o Ra não
sairia de uma tempestade no estado em que ainda se encontrava. Nos filmes da expedição não se
veriam fotografias do barco a navegar no mar largo. As filmagens que Carlo fizera até ali podiam
perder-se. Por isso, logo que conseguimos entrar em contacto com a Itália por rádio, incumbi minha
mulher, Ivone, de descobrir um fotógrafo especializado em filmagens que viesse, num barco
pequeno, encontrar-se connosco ao largo das índias Ocidentais. Muito no íntimo do meu coração,
sentia que podia ser, ao mesmo tempo, uma medida de segurança, embora não fizesse alusão a isso
diante dos meus companheiros de viagem. Em última análise, a responsabilidade pelas vidas que
estavam em jogo, recaía sobre mim.
Queríamos que o fotógrafo trouxesse alguma coisa? - perguntaram nos. Todos respondemos: fruta.
Santiago, uma caixa de chocolates. Nada mais. Tínhamos ainda água e provisões que não
chegaríamos a gastar; carne salgada, presunto e salsichas; cântaros e cestos cheios de mel, ovos,
manteiga, frutas secas, nozes e biscoitos secos do Egipto. O convés de vante, a bombordo da
cabina, ainda estava tão cheio de comida que era inútil tentar poisar lá um pé.
Homens de barba. Só Yuri se barbeava, em pé, com a água da poça pelos joelhos. Barbas ruivas e
barbas pretas. Abdullahjá tinha o cabelo bastante crescido. Mãos pretas e brancas puxavam as
mesmas cordas. Assim aconteceu também nos tempos antigos. Nada de novo. Nas pinturas de
parede do antigo Egipto vêem-se homens com cabelo amarelo e homens com cabelo preto, a
construírem o mesmo barco de papiro. Debaixo da areia onde nós construímos o Ra, no sopé da
pirâmide com o seu nome, o faraó Quéfreme, filho de Quéope, sepultou a sua tainha e mandou a
pintar para a posteridade, com cabelos louros e olhos azuis. Num caixão de vidro do Museu do Cairo,
entre as múmias dos seus parentes de cabelo preto, jaz Ramsés II. Cabelos soltos, amarelos e
sedosos, cobrem o nariz adunco do crânio da sua múmia. O Norte não tem o monopólio dos povos
de pele clara e cabelos louros. Actualmente, não restam dúvidas de que alguns desses povos
habitavam os países do Mediterrâneo, entre os quais a Ásia Menor e o Norte de África, muito antes
de os progenitores dos Viquingues se estabelecerem na Escandinávia. Se, porventura, há alguma
ligação física, é, com certeza, do sul para o norte. O período engulhe começou três mil anos depois
de o faraó Quéfreme ter sepultado a mulher de olhos azuis e cabelos louros, lado a lado com o
imponente navio de seu pai, em madeira de cedro do Egipto.
Homens louros de barbas compridas. Existiram em percentagem considerável, entre a população de
origem dos montes Atlas, como entre os berberes das planícies que circundam a Cidade do Sol, na
costa marroquina, e onde ainda se encontram muitos dos seus descendentes. Largaram da costa
africana, levando as mulheres e o gado, atravessaram o Atlântico e fixaram-se nas ilhas Canárias,
onde tomaram o nome de Guanches.
Em todas as lendas das primitivas culturas do continente americano, desde o México ao Peru, se fala
de homens louros, com barbas, que não podiam ser viquingues, porque construíram pirâmides e
adoravam o Sol. Os Espanhóis descobriram que não tinham sido eles os primeiros homens brancos,
de barbas compridas, a navegar no Atlântico, pois encontraram-nos por toda a faixa tropical da
América, onde quer que houvesse pirâmides e colossos de pedra entalhada - abandonados em
ruínas de tempos idos. As lendas falam, com todo o pormenor, de professores, de aparência muito
semelhante à dos Espanhóis, que se misturaram com os índios aborígenes e os ensinaram a
construir casas de adobo, a estruturar cidades, a erguer pirâmides, a escrever em papel e sobre
pedra. Por outras palavras, viajantes brancos e barbudos gozam da fama de se terem imiscuído com
os habitantes locais e, em conjunto, terem lançado as fundações das primeiras culturas locais. Ora,
os índios não tinham barbas. Os Espanhóis exploraram as lendas, para conquistar tanto o México
como o Peru, mas não foram eles que as inventaram. Muitos séculos antes da chegada dos
Espanhóis, já artistas americanos, no México e no Peru, faziam figuras em cerâmica e estátuas em
pedra de homens com barbas. Antes de os Viquingues começarem a navegar o Atlântico, já os
Maias tinham pintado homens brancos de cabelos louros a tomarem parte numa batalha naval,
algures na costa mexicana do Atlântico. Quando, há algumas décadas, arqueólogos americanos
abriram uma câmara de colunatas, maravilhosamente pintada, que fazia parte de uma das grandes
pirâmides de Chichen Itza, encontraram soberbas pinturas de parede que copiaram minuciosamente
antes do ar húmido dos trópicos e os turistas as destruírem. As pinturas representavam o ataque
dramático a homens brancos, completamente nus, que navegavam em barcos amarelos com a proa
e a popa erguidas. Como no relevo de Nínive, vê se um grande caranguejo sobre as ondas e, à volta,
muitos peixes marinhos e diversos tipos de conchas, o que leva a concluir que os marinheiros ou
chegam do mar ou estão a tentar fazer-se ao largo. Em terra, guerreiros de pele escura e penas à
volta da cabeça aguardam os marinheiros brancos, atam-lhes as mãos atrás das costas, escalpamlhes os caracóis louros e colocam um sobre uma laje, para o sacrifício. Entretanto, outros mergulham
nus para fora do barco, que está voltado de cima para baixo, vendo-se madeixas louras compridas a
flutuar sobre as ondas, rodeadas de raias e outros peixes de água salgada. Enquanto alguns homens
brancos são arrastados pelos cabelos louros, outros empacotam tudo o que possuem e avançam
serenamente pela praia com grandes fardos às costas.
Que lenda, ou episódio histórico, pretendiam os Maias perpetuar através daquela pintura, feita com
tanta minúcia, no interior de uma das suas pirâmides mais importantes, séculos antes do
desembarque dos Espanhóis? Ninguém sabe. No relato feito pelos três arqueólogos que copiaram as
pinturas, pode ler-se uma referência discreta aos retratos de homens brancos com cabelos louros
«que podem ser a origem de interessante investigação quanto à sua identidade».
Nós, a bordo do Ra, especulámos quanto pudemos acerca do assunto. Os elementos todos os dias
nos arrastavam para o golfo do México, como se estivéssemos sobre uma escada rolante. Não
precisávamos ser empurrados, não precisávamos de remos. Não tínhamos ilusões de poder competir
com os conhecimentos náuticos dos antigos navegadores profissionais. Norman era o único
marinheiro a bordo e, até então, nunca vira um barco de papiro. Em contrapartida, Abdullah já os
conhecia, mas nunca vira o mar. Por consequência, nós nunca conseguiríamos manobrar um barco
de papiro com a mastreação em estilo egípcio nas águas caprichosas que circundam Ceilão. Nem
seríamos capazes de manobrar os navios fenícios que faziam o intercâmbio comercial entre a Ásia
Menor e as suas colónias do Rio do Ouro - percurso muito mais longo que a distância entre o Rio do
Ouro e a América do Sul. Mas podíamos, isso sim, imitar os homens antigos que foram apanhados
pelas tempestades ao largo da costa africana e perderam o governo do barco.
Nuvens escuras cobriam toda a extensão do horizonte. A intervalos regulares, aguaceiros caíam
sobre nós e encharcavam cada vez mais o papiro. O nível da água a ré avançava, lenta mas
sensivelmente, sobre a faixa estreita do convés a barlavento da cabina, de onde já tínhamos tirado
toda a carga. A água do mar ficava retida na depressão que o pé do mastro de estibordo fazia sobre
o papiro. Isso indicava quanto nos estávamos a afundar a barlavento.
Em compensação, a sotavento, para tocarmos as ondas, ainda tínhamos de nos dobrar pela cintura
sobre a borda do barco.
Estávamos já tão perto da costa do continente sul-americano que fomos visitados pelos primeiros
pássaros marinhos. À roda do mastro, lindos pássaros de caudas compridas, cobertas de penas,
voavam em círculo. Um tubarão alcançou-nos pela retaguarda e atacou selvaticamente o cinto de
salvação que trazíamos a reboque. Os que nunca tinham visto um tubarão ficaram surpreendidos
quando ouviram Carlo gritar que estava qualquer coisa a atacar o cinto. Pouco depois, nadou direito
a nós. À superfície, só se via a barbatana dorsal. Erguia-se e submergia ao sabor das ondas.
Quando atingia o Ra ficava desesperado, girava sobre o ventre esbranquiçado, batia a cauda e, de
mandíbulas abertas, atacava a parte inferior dos rolos de papiro. Estaria a tragar as saborosas
lapas? Fosse o que fosse, o perigo que corriam as cordas é que contava. Porque já tinha a
experiência da Kon-Tiki, dobrei-me sobre a balaustrada e tentei agarrar a cauda do tubarão, que, ao
tacto, parecia lixa. Então vi que tinha uma ferida aberta no dorso e dois grandes peixes-pilotos
fixaram-se mesmo em cima. Por duas vezes quase o consegui deter, mas o lado de sotavento estava
ainda alto e não queria cair borda fora. Georges atirou um arpão sobre o corpo do tubarão. Por
momentos, o animal lutou com os músculos de aço, até que à volta da cauda apareceu espuma.
Georges ficou de pé, com a linha rija do arpão quebrada em duas. Desapareceu nas profundezas do
oceano, com o último arpão da reserva de Georges.
Tornámos a mergulhar nos devaneios sobre os mistérios da antiguidade. Norman foi educado
segundo a teoria de que a América era um mundo à parte até que os seus antecessores chegaram
da Europa, trazendo a ciência e a cultura. Os políticos acreditavam nisto e quase todos os
compêndios editados eram escritos por isolacionistas. Nas árvores genealógicas dos Astecas, Maias
e Incas só havia selvagens do Alasca e da Sibéria. A Europa recebera a sua cultura da Ásia Menor e
da África, via Creta e outras ilhas do Mediterrâneo. Mas, até ao desembarque de Colombo, a
América nada recebera através do Atlântico. Afirmava-se categoricamente que os barcos primitivos
só podiam navegar junto às costas e a recifes. Nunca em pleno oceano. Norman quis, então, que lhe
expuséssemos os argumentos dos difusionistas. As civilizações dos índios americanos, cujos
expoentes mais expressivos se encontram no México e no Peru, seriam completamente diferentes
das culturas afro-asiáticas do Mediterrâneo interior, donde, mais tarde, nasceu a civilização
europeia?
Basicamente, não eram muito diferentes - garantimos Santiago e eu. É evidente que os especialistas,
treinados a captar pormenores, encontram disparidades. Mas um leigo não especializado a sondar a
espessura e o tipo de grãos dos cacos de cerâmica, ou os motivos e desenhos dos tecidos de
algodão, fica abismado perante o grande número de traços comuns.
Ao longo de alguns séculos, e de maneira completamente desconhecida das outras partes do
mundo, uma série de tribos do deserto e das selvas da parte central da América foram construindo a
primeira cultura do Velho Mundo, antes de Cristo. As restantes populações nativas da América, em
zonas climáticas mais favoráveis, a norte e a sul da zona tropical, permaneceram fiéis às
comunidades tribais dos seus antepassados até os Europeus aparecerem. Nenhum ser vivo sabe,
com exactidão, em que século as tribos tropicais do México e do Peru receberam o incentivo e a
capacidade para darem este grande salto de um tipo de vida tão primitivo para a civilização perfeita.
Mas o que se sabe ao certo é que as primitivas civilizações da América dominaram por toda a parte
antes da era cristã, e, ainda assim, depois de as civilizações da Ásia Menor terem atingido o auge e
se dedicarem à navegação para além de Gibraltar, levando a bordo tudo o que era necessário para
instaurar importantes colónias pela costa africana do Atlântico adiante.
O que provocou esta evolução repentina que começou quase simultaneamente nas matas florestais
da costa atlântica do México e nas dunas de areia da costa do Peru, ao lado oposto? De repente, o
Sol é adorado como um deus. Pouco importava que, num lugar, chovesse e houvesse sombra na
floresta apinhada de árvores e, noutro sítio, o sol queimasse a areia a descoberto. Em ambos, os
índios aborígenes construíram pirâmides em degraus, voltadas para o Sol. Construíram-nas pelos
mesmos princípios. Cada uma por ordem de poderoso rei-sacerdote, que reivindicava a sua
divindade e dizia descender do Sol, e não da tribo local. Entre a família do sacerdote-rei, irmãos
casavam com irmãs, para que o sangue divino se mantivesse o mais puro possível. O sacerdote-rei
acabou com a velha dança tribal à roda dos tótemes; com os sacrifícios aos espíritos e a outros
seres sobrenaturais da tradição. A partir de então, passou-se a estudar e a adorar o disco solar. Quer
no golfo do México, quer em toda a costa peruviana, os índios deixaram de fazer as cabanas com
troncos e folhas. Começaram a fabricar tijolos de adobo, do mesmo tipo e pelo mesmo processo
usado milhares de anos antes na zona do Mediterrâneo, desde a Mesopotâmia até Marrocos.
Misturavam uma qualidade especial de terra com palha e água; depois enchiam pequenos moldes
rectangulares de madeira com a mistura e comprimiam-nos. Por fim, despejavam-nos e coziam-nos
ao sol, até se transformarem em tijolos de adobe de forma e tamanho uniformes. Enquanto os índios
das proximidades continuaram a construir os wigwams, as cabanas de folhas e as casas de tábuas
como os seus antepassados, os adoradores do Sol do México e do Peru mudaram para elegantes
edifícios de adobo, construídos exactamente como os do Velho Mundo. Alguns eram em vários
andares, tinham goteiras nos telhados e estavam distribuídos de maneira a formarem comunidades
urbanas bem organizadas, com ruas, canos de esgoto e aquedutos.
Embora a descoberta dos tijolos de adobo tenha levado aquelas tribos específicas do México e do
Peru a construírem templos ao Sol, cujas ruínas ainda se erguem como montanhas em pleno deserto
e no meio da selva, elas começaram, por outro lado, a atacar a rocha firme, a desbastar e a unir
gigantescos blocos com a habilidade e a técnica especializada só igualáveis às dos pedreiros da
mesma zona restrita compreendida entre o Mediterrâneo e o Egipto, até à Cidade do Sol, em
Marrocos. Os Olmecs, do golfo do México, que tinham madeira e tijolos de adobo em profusão,
cobriam enormes percursos atravessando pântanos e florestas para descobrirem pedreiras. Alguns
séculos antes de Cristo, transportaram blocos de pedra pesando cerca de vinte e cinco toneladas
cada, através de algumas centenas de quilómetros de floresta e de terra pantanosa, para o lugar do
templo, perto do Golfo, onde já tinham fabricado tijolos de adobo suficientes para erguerem uma
pirâmide em degraus orientada para o Sol, com trinta e um metros de altura. Na Europa, há três mil
anos, quem teria a ideia e sentiria a necessidade de levantar edifícios com dez andares? O costume
de erguer pirâmides em degraus, ao Sol, desaparecera há muito do Egipto quando os Olmecs
acertaram nessa ideia. Mas, na Ásia Menor, o quintal da Fenícia, o Sol ainda era adorado em
templos construídos no topo de pirâmides em escada, que tinham muitos mais traços comuns com
as pirâmides dos Olmecs e dos templos pré-incas da América do que as do tipo Gize, no Egipto.
Antes da era cristã, os índios das florestas do golfo do México aprenderam, em tempo recorde, os
segredos de um sistema de calendário perfeito e adquiriram um conjunto de conhecimentos
astronómicos que exigiu milénios de estudo ao Velho Mundo. Os antigos Egípcios, Babilónios e
Assírios viviam em planícies e nos desertos. Como tal, o céu estrelado girava constantemente sobre
eles. Os Fenícios colheram os frutos desta antiga herança cultural, tão importante que lhes
possibilitou a navegação ao largo de qualquer costa. Como chegaram esses frutos aos índios das
florestas da costa mexicana, que ganharam a corrida vivendo encobertos por densa folhagem e com
a visibilidade reduzida ao comprimento dos machados? O que é certo é que eles tinham um
calendário do ano astronomicamente muito mais perfeito que o dos Espanhóis, que os
«descobriram». Nem o nosso calendário gregoriano é tão exacto como o dos índios Maias, do golfo
do México, antes de Colombo. Obtiveram o ano astronómico de 365,2420 dias, que só tem menos
um dia em cada cinco mil anos, ao passo que o nosso calendário moderno baseia -se no ano de 365,
2425 dias, o que dá um dia e meio a mais de cinco mil em cinco mil anos. Não se chega a
conclusões destas de um momento para o outro, nem sem algumas dificuldades. Os cálculos
efectuados pelos Maias quanto à duração do ano eram, pois, 8,64 segundos mais próximos da
verdade que o nosso calendário actual. Os seus primeiros vizinhos, que sepultaram o rei-Sol na
pirâmide de pedra escorregadia que nós visitámos em Palenque, deixaram uma inscrição declarando
que 81 meses faziam 2392 dias, o que dava um mês de 29,53086 dias. Isto quer dizer que há
apenas um desvio de 24 segundos.
Os Maias aprenderam os seus conhecimentos astronómicos com os velhos Olmecs, espalhados pela
costa e que, ainda antes da era cristã, tinham o hábito de gravar datas nos seus maravilhosos
monumentos de pedra. Nesse tempo, não havia cronologia na Europa. Zero, no calendário cristão, é
o dia 1 de Janeiro, o primeiro do ano, a partir do nascimento de Cristo. Zero, no calendário
maometano, é o ano em que Maomé fugiu de Meca, para Medina, ou 622 no nosso calendário. O
calendário budista começa com o nascimento de Buda, ou seja, cerca do ano 563 a. C. Zero, no
antigo calendário dos Maias teria de ser o dia 12 de Agosto, isto é, 3113 a. C. no nosso. Como se
chegou a esta data inicial tão precisa quão extraordinária? Ninguém sabe. Alguns pensam que os
índios agarraram esta data ao acaso, apenas como o ponto de partida para o calendário. Outros
supõem que aqueles números poderiam estar relacionados com alguma conjunção astronómica
ocorrida muito antes de a civilização começar a florescer na América. No Egipto, a primeira dinastia
de faraós começou entre 3200 e 3100 a. C. Portanto, concorrente com o início do calendário dos
Maias, mas, que nós saibamos, nessa época não havia ainda civilização na costa oceânica da
América. Se os índios das florestas chegaram ao México, pelo menos, há quinze mil anos atrás e só
alguns séculos antes da nossa era apresentaram a espantosa civilização Olmec, porque iniciaram o
seu calendário com uma data que coincidia precisamente com a época em que as primitivas
civilizações nasciam noutras partes do mundo? Tais como, concretamente, a Mesopotâmia, o Egipto
e Creta?
Como é que os Maias herdaram um calendário calculado com a precisão de segundos, se tivesse
sido começado ao acaso, na época em que os seus antepassados eram bárbaros e quando, tanto
quanto sabemos, os Olmecs ainda não tinham iniciado as observações astronómicas na América?
Não sabemos responder. Sabemos, sim, que o calendário dos Maias começou em 4 Ahau e Cumhu,
isto é, a 12 de Agosto, 3113 a. C. Também sabemos que, tanto eles como os seus parentes
mexicanos, os Astecas das serranias, possuíam textos escritos e tradição oral confirmando que a
civilização chegara ao México quando um homem branco, de barbas, que se dizia descendente do
Sol, desembarcou no golfo do México acompanhado de muitos sábios, astrónomos, arquitectos,
padres e músicos. Os Maias chamavam-lhe Kukulkan, os Astecas Quetzalcoatl. Estes dois nomes
significam «Serpente de Plumas». Não se sabe quem inventou este nome estranho. Também no
Egipto aparecem, pintadas nos túmulos dos faraós e em vários manuscritos de papiro, serpentes de
plumas, às vezes de tamanho descomunal. Porém, a mistura de pássaros e cobras, símbolo divino
de um e de outro lado do Atlântico - talvez não seja tão estranha. Aves de rapina, serpentes e felinos
eram os três símbolos principais que personificaram o Sol e o rei-Sol na Mesopotâmia, Egipto,
México e Peru. Nestes países, o toucado e outros emblemas do rei-Sol apareciam muitas vezes
enfeitados com cabeças ou figuras completas daqueles três animais. Na Mesopotâmia e no Egipto
não eram menos importantes os homens-pássaros que na arte simbólica rodeavam o rei-Sol e o
deus-Sol. Aparecem, igualmente, no México e, em superabundância, no Peru, onde, tal como no
Egipto, são sempre cabeças de pássaros com bico e se apresentam a acompanhar o rei-Sol nas
suas viagens em barcos de cana com o formato de uma foice. Do Peru, os homens-pássaros
passaram à ilha da Páscoa, onde também se vêem pintados em barcos de cana. Mas não foram
estas figuras humanas simbólicas e imaginárias que levaram a civilização até à América tropical.
Segundo o testemunho dos Maias, Astecas e Incas, essa honra é devida a homens perfeitamente
normais. Diferiam da maior parte dos índios só porque tinham bigode, barbas e pele branca. Não
chegaram a voar, de asas abertas, mas atravessaram a floresta a pé, de capote, bordão e sandálias.
Ensinaram os nativos a escrever, a construir casas, a tecer e a adorar o Sol, divindade suprema.
Instituíram escolas normais, onde o assunto principal era a história sagrada da nação. Os primeiros
narradores históricos americanos acompanharam-nos desde o desembarque no golfo do México até
às serranias dos Astecas, pela península florestal dos Maias abaixo e através das florestas tropicais
da América Central. Os índios do império inca, desde o Equador até ao Peru e à Bolívia, relatam
precisamente os mesmos factos. A civilização chegou-lhes também por homens brancos de barbas,
cujo chefe era o rei-Sol Kon-Tici-Viracocha, com quem inicialmente se instalaram na ilha do Sol, no
lago Titicaca. Mais tarde, saíram de lá navegando numa grande frota de barcos de cana e fixaram-se
no continente. Construíram a pirâmide em honra do Sol, as paredes megalíticas e todos os monólitos
humanos dos quais ainda existem remanescentes' nas ruínas da cidade de Tiahuanaco. Mas as
hostilidades com tribos guerreiras acabaram por atirar com estes primeiros fornecedores de cultura
para norte, passando por Cusco, até ao porto de Manta, que fica exactamente no ponto onde o
equador corta o Equador, Aí, mudaram o rumo para oeste e desapareceram no Pacífico, como
«espuma na água». Donde a alcunha Viracocha, mais tarde dada também aos viajantes espanhóis e
a todos os homens brancos.
Não somos obrigados a acreditar que tudo quanto está subjacente a estas tradições, embora tão
pormenorizadas quão consistentes, seja a verdade. Mas, nesse caso, parece-nos um paralelo
cultural ainda mais extraordinário que índios de cara rapada, cabelos negros e lustrosos se tenham
lembrado de esculpir, pintar e descrever homens com barbas, pele branca e cabelo louro, como os
que existem nos túmulos do Egipto e nas ilustrações históricas de Marrocos e das ilhas Canárias.
Acreditamos na mestria dos pedreiros e da astronomia dos índios das florestas mexicanas porque as
ruínas são irrefutáveis. Mas rejeitamos recordações tradicionais, em parte, porque estão
relacionadas com uma religião que nos é estranha e, por outro lado, porque só acreditamos na
palavra escrita. Ora, as antigas civilizações do México conheciam a escrita. Escreviam em papel,
madeira, barro e pedra. Não podemos esquecer que ilustravam os seus relatos hieroglíficos com
imagens de inegável realismo. Os Olmecs, que edificaram monumentos onde estão gravadas datas
antes de Cristo, obrigaram-se a um esforço inumano para deixarem para a posteridade descomunais
representações em pedra, de dois tipos raciais nitidamente díspares.
Embora os retratos estejam pintados com surpreendente realismo, até nos mais ínfimos pormenores,
não são de tipos de índios sobreviventes. Um tipo é vincadamente negróide: cara redonda, lábios
grossos e nariz curto, largo e chato. É popularmente conhecido pelo «Baby-Face». O outro tem perfil
fino e bem desenhado, nariz aquilino, boca pequena e lábios finos. Às vezes aparece um bigode,
pêra ou barbas compridas. Os arqueólogos, por chalaça, deram-lhes o nome de «Uncle Sam». O Tio
Sam é quase sempre representado com um pomposo toucado na cabeça, capote até aos pés,
cinturão e sandálias. Desenhos deste tipo, de traços marcadamente semíticos, alguns apoiados ao
bordão de caminheiro, encontram-se desde a parte sul da zona olmec até onde correm as lendas
sobre os homens brancos.
Algumas seitas religiosas modernas citaram isto para defenderem a crença nas «tribos errantes de
Israel» ou no sagrado «Livro de Mórmon». Os Espanhóis confundiram uma lindíssima escultura em
pedra do condutor da cultura Kon-Tici Viracocha, que se erguia a norte do lago Titicaca, no Peru,
com S. Bartolomeu. Por isso, ali se estabeleceu uma ordem monástica em honra daquele santo.
Quando, mais tarde, se verificou o engano, a antiga estátua, cuja barba media vinte e cinco
centímetros, foi despedaçada.
O tipo olmec negróide, pelo contrário, aparece sempre em figuras de guerreiros primitivos,,
executando danças grotescas; alguns corcovados. Além destas, cabeças esculpidas em pedras
esféricas, tão grandes que chegam a pesar vinte e cinco toneladas, têm aparecido dispersas pelo
solo. Quem eram «Uncle Sam» e o seu companheiro «Baby-Face»? Qual deles era olmec? Nem um
nem outro. Cunhámo-los de olmec por não fazermos a mais pequena ideia de quem é qualquer
deles.
Os Olmecs sabiam escrever. Tanto os Astecas como os Maias aprenderam com eles, embora
tenham escolhido hieróglifos diferentes, ao ponto de algumas raças mexicanas não entenderem o
que outras escreviam. É fácil aprender a escrever, mas não é fácil inventar a escrita. A habilidade
está em descobrir que as palavras e os sons podem ser convertidos e registados em símbolos
inaudíveis. Descoberto isto, a questão resume-se em inventar sinais novos, letras, runas, caracteres
cuneiformes e hieróglifos. Na zona do Mediterrâneo as diferentes culturas legaram, umas às outras,
a invenção da escrita. Teriam os Olmecs da costa florestal do golfo do México descoberto sozinhos a
arte de escrever? Por que razão havíamos de esperar que no México os sinais do Velho Mundo
tivessem sido preservados, quando, por exemplo, os Egípcios e os Fenícios, que tiveram grande
intercâmbio cultural, não entendiam as escritas uns dos outros. O mesmo se poderia dizer do Egipto
e do Sumer.
A descoberta do papel é, em rigor, a consequência natural da invenção da escrita. Contudo, a
população original do México também manufacturava papel genuíno para escrever. Não da pasta de
madeira, como nós, mas pela mesma receita que os antigos Egípcios e Fenícios usavam na
manufactura do papiro. Aproveitavam as canas, a casca do hibisco e outras plantas fibrosas, que
batiam, punham de molho e enxaguavam o tecido celular antes de unirem os pedaços molhados, em
camadas cruzadas, batendo-os com clavas especiais. Este processo de fabricar papel é tão
complicado que o Instituto do Papiro, no Cairo, levou anos a fazer experiências, até que Hassan
Ragab, só há pouco tempo, conseguiu reproduzir, na prática, a manufactura do antigo papiro. Os
índios mexicanos já conheciam esta arte na perfeição antes de os Espanhóis chegarem. E, o que é
mais, como os antigos Fenícios, já fabricavam livros. Esses livros, que os Espanhóis classificaram de
codex, não tinham as páginas cortadas, como na Europa. Eram dobradas umas sobre as outras, de
tal maneira que o livro se podia transformar numa tira comprida e larga como os antigos rolos de
papiro. O texto estava escrito em hieróglifos, ricamente ilustrados com esboços coloridos, como os
rolos de papiro do Egipto. Entre outras descrições, esses livros continham a história dos homens de
barbas, no texto e nas ilustrações.
Enquanto, de norte a sul, muitas tribos de índios viveram na idade da pedra até os Europeus
chegarem, os seus parentes da floresta e do deserto que habitavam toda a faixa do México até ao
Peru começaram, como os viajantes do Mediterrâneo, e com a experiência de artífices em metal, a
procurar minas de onde pudessem extrair o ouro, a prata, o cobre e o estanho. Como os antigos
povos civilizados faziam, no outro lado do Atlântico, também eles misturavam o cobre e o estanho
para a manufactura de ferramentas de bronze. Desde o México, via istmo do Panamá, até ao Peru,
os joalheiros fabricavam broches de filigrana, alfinetes, anéis e sinos de ouro e prata, muitos deles
cravejados de pedras preciosas. A mão-de-obra era tão perfeita como a dos melhores mestres do
Velho Mundo. Na verdade, esta perícia dos ourives veio a ser a causa do seu destino trágico. Os
tesouros inesgotáveis de metal precioso do México, América Central e Peru foram um chamariz
muito mais forte para os vorazes conquistadores que seguiram a esteira de Colombo do que a pedra
crua ou os trabalhos em osso das tribos de índios de outras zonas da América, que foram, pela
primeira vez, compiladas por pacíficos etnólogos da actualidade.
Os mesmos índios que, de repente, começaram a esculpir a pedra; a moldar o adobo; a explorar as
minas de metal; a manufacturar o papel; a descobrir os mais recônditos segredos do calendário do
ano e a escrever as tradições dos seus parentes - esses mesmos índios inventaram, no México e no
Peru, que cruzando dois tipos de algodão que não tinham qualquer utilidade se obtinha uma
torcedura artificial que podia ser fiada. Portanto, começaram a fazer grandes plantações da dita
planta. Quando a colheita do algodão já se fazia em boas quantidades, começaram a cardar e a fiar
como no Velho Mundo. À medida que as meadas de fio foram sendo tingidas em cores fixas,
apareceram os mesmos dois tipos de tear, horizontal e perpendicular, usados no Mediterrâneo em
tempos antigos. Com eles teceram tapeçarias que, em muitos casos, ultrapassavam a finura da rede
e a qualidade requintada das melhores de outras partes do mundo.
Antes de a olaria fazer a sua aparição no Velho Mundo, as primeiras civilizações do Norte de África
cultivavam cabaças, que depois esvaziavam. Secavam a casca ao fogo, para servirem de cantis.
Esta planta é tão útil e tão popular que ainda hoje é utilizada para o mesmo fim pelos construtores
dos barcos de cana, da Etiópia até ao lago Chade. Por motivos desconhecidos, esta planta africana
caiu nas mãos dos povos mais cultos do México e do Peru, onde foi usada para o mesmo fim, sendo
uma das plantas de cultivo mais importantes quando os Espanhóis chegaram. Parece nos mais do
que provável que os tubarões e os organismos corrosivos do mar desfizessem uma cabaça que
caísse ao mar e atravessasse o Atlântico à deriva. Mais natural, ainda, seria que apodrecesse antes
de os índios a encontrarem na praia do lado oposto e se aperceberem para que servia.
O aproveitamento das cabaças vindas de África, como excelentes recipientes para conservar líquidos
e sólidos, não satisfez os cultivadores de algodão da América, que acabaram por imitar, também, a
cerâmica característica da zona do antigo Mediterrâneo. Com a habilidade própria de profissionais,
misturavam o barro de oleiro com certa quantidade de areia. Depois, era moldado e pintado com
prodigiosa imaginação. Por fim, as peças eram cozidas. Faziam jarros e cântaros com diferentes
desenhos de asas; travessas; vasos com ou sem pés; jarros com bico; tornos de fiar e flautas. As
figuras que executavam tinham, regra geral, o mesmo aspecto e as mesmas características
peculiares que se verificam nos trabalhos dos oleiros da Mesopotâmia e do Egipto. É curioso que,
tanto uns como outros, moldavam um tipo único de jarros, de paredes muito finas, com o desenho de
animais com um bico atrás, servindo-se de uma forma em duas partes, que funcionava como um
negativo. Da mesma maneira que fabricavam sinetes de cerâmica, chatos ou cilíndricos, esculpidos
para gravar artigos, respectivamente, por pressão ou fazendo girar o selo. Em todo o caso, o paralelo
talvez mais surpreendente são uns cachorros de cerâmica, montados sobre rodas, como os
brinquedos modernos, que foram descobertos nas sepulturas olmecs da era pré-cristã e, também,
nos antigos túmulos da Mesopotâmia. E isto é tanto mais de referir quanto um dos principais
argumentos dos isolacionistas, até à data desta descoberta, era que a roda do Velho Mundo não era
conhecida na América antes de Colombo. Porém, já era, de facto, conhecida, se não por outros
povos, pelo menos pelos que fundaram a primitiva civilização do México. Porque se perdeu, antes de
ser utilizada na prática, é outra questão. Talvez que o solo enlameado das florestas e a ausência de
cavalos ou macacos nos dêem a resposta.
Além disso, onde terão os Maias e os Incas ido buscar os cães domésticos, exemplificados nos
modelos com rodas dos Olmecs - a mais tardia arte local - e os que, cuidadosamente mumificados,
jazem junto aos donos nas sepulturas pré-incas do Peru? Ninguém sabe. Os povos civilizados do
México e do Peru tinham, pelo menos, duas raças de cães domésticos, ambas de origem
desconhecida. Nenhuma delas se assemelha à raça esquimó, de pêlo comprido e cauda
encaracolada, que outros índios trouxeram da Sibéria. Também não descendem dos caninos
conhecidos na América. Em contrapartida, têm óbvias parecenças com os cães mumificados do
antigo Egipto. A arte e o costume de mumificar cães e pássaros eram comuns ao Peru e ao Egipto.
As múmias, quer de homens, quer de animais, não resistem ao clima da floresta. Contudo, sabemos
que os adoradores do Sol da antiga América embalsamaram personalidades importantes, para
chegarem à vida eterna, porque há centenas de múmias magnificamente tratadas nas sepulturas do
deserto do Peru. Os haveres que os acompanham denunciam a sua alta estirpe. Algumas das
múmias do Peru têm cabelo negro grosso e liso, como o dos actuais índios, enquanto outras
aparecem com cabelo ruivo ou mesmo louro, macio e ondulado. O contraste entre a grande estatura
daquelas múmias e os índios que habitam hoje em dia o Peru, conhecidos como uma das raças mais
pequenas do mundo, é significativo. As múmias pré-incas seguem o padrão tradicional, cujas
particularidades essenciais são as mesmas das múmias do Egipto. Extraídos os órgãos internos, são
cheias com algodão, massajadas com uma preparação especial, cosidas e ligadas por panos
próprios e, por fim, as caras cobertas com uma máscara. O enorme sacerdote-rei que jaz rodeado de
ornamentos, coberto pela tampa de pedra do sarcófago, encerrado na pirâmide de Palenque,
também tem a cara coberta por uma máscara. O corpo foi, em tempos, embrulhado num pano
vermelho, do qual ainda se vêem restos agarrados aos ossos. Mas, por mais perfeita que fosse a
técnica de embalsamar, não foi possível preservar os seus restos mortais no clima florestal.
Não nos surpreendeu encontrar um sacerdote-rei do México embrulhado em pano vermelho dentro
de um sarcófago pintado da mesma cor. Exactamente como entre os Fenícios, o vermelho era a cor
sagrada e favorita no México e no Peru. Do Peru, com destino ao norte, saíram expedições
constituídas por jangadas grandes e barcos de cana, a fim de apanharem cochinilhas. Os Fenícios
fundaram colónias na costa africana do Atlântico só para satisfazerem o desejo fanático de extrair a
tinta do molusco que continha a púrpura.
Entre os índios do México e do Peru praticavam-se costumes muito diferentes dos de outros índios,
alguns bastante estranhos.
Circuncidavam os bebés masculinos, segundo a tradição religiosa dos Judeus e outros povos das
redondezas. Como no Egipto, os sacerdotes de posição importante que não tivessem barba eram
obrigados a usar barba postiça. Esperavam o aparecimento da constelação das Plêiades para
iniciarem o ano agrícola, como faziam alguns povos do Mediterrâneo. Os cirurgiões do México e do
Peru começaram a praticar a trepanação do crânio nos doentes, por um lado, como simples trabalho
de magia, por outro, para a cura de fracturas. Quando os Espanhóis chegaram à América, a arte da
trepanação - extremamente difícil - quase não era conhecida em mais parte nenhuma do mundo. Só
se fazia ao longo da estreita faixa do Mediterrâneo, entre a Mesopotâmia e Marrocos e, embora
possa parecer estranho, entre os guanches das ilhas Canárias.
Apesar de a distância entre o Mediterrâneo e o golfo do México ser considerável, os pequenos
pormenores da vida diária também não diferem muito. A vida familiar e a organização das
comunidades, desde o sacerdote-rei aos escravos e eunucos, eram copiadas, com alguma rudeza,
destas ditaduras hierárquicas. Os artigos domésticos variavam em pequenos nadas. Os lavradores
do México e do Peru terraplenavam os terrenos de cultura, faziam aquedutos para irrigação artificial
e aproveitavam o estrume dos animais, como faziam os da zona do Mediterrâneo. Os próprios
isolacionistas apontam coincidências marcantes nos timos de picaretas, cestos, foucinhas e
machados. Ainda nestas duas zonas, os pescadores teciam o mesmo estilo de redes, com chumbos
e bóias; armavam os laços da mesma maneira; colocavam a isca e a linha no anzol pelo mesmo
princípio. Os comerciantes saíam dó Peru à procura de moluscos vermelhos em barcos como o Ra.
Os músicos tinham tambores feitos de pele esticada; trombones, trombetas com bocal; várias
espécies de flautas, tais como gaitas-de-foles, clarinetes e, até, sinos. Os isolacionistas notam, além
destas, as semelhanças na estrutura e organização dos exércitos; o uso das tendas de lona nos
campos de batalha; os escudos dos soldados pintados com desenhos diferentes, conforme as
unidades a que pertenciam, e, sobretudo, o facto de a funda, desconhecida dos índios que entraram
pelo estreito de Béringue, mas que era usada pelos guerreiros do Mediterrâneo interior, reaparecer
como uma das armas mais importantes da zona cultural pré-inca. Difusionistas e isolacionistas
sublinham que há acentuada semelhança nas tangas e mantos dos homens; o vestuário das
mulheres, completado por cintos e alfinetes; as sandálias, de couro ou de cordas, são muito
parecidas no desenho e no fabrico. E a lista poderia continuar: enfeites pessoais, espelhos de metal,
pentes, tatuagens, leques, sombrinhas e liteiras onde se sentaram personagens importantes;
descansos de cabeça, de madeira; as mesmas balanças de braços, ou de pratos; os mesmos jogos
de bordo e os mesmos dados; andas e pontas de chicotes. Por aqui se vê que não há qualquer
diferença fundamental entre aquilo que os povos da Ásia Menor e do Egipto tinham já descoberto e
espalhado pelas ilhas do Mediterrâneo enquanto a Europa ainda vivia na barbárie e o que os
Espanhóis encontraram quando, alguns milhares de anos mais tarde, chegaram à América. Vieram,
sob o símbolo da Cruz, trazer uma nova religião da Ásia Menor aos índios, que viviam no termo da
corrente oceânica.
Tudo isto discutimos e observámos enquanto a perpétua corrente do Atlântico arrastava o nosso
barco de canas sempre para mais perto da América. Aquele barco de canas onde nós estávamos
sentados era, sem dúvida, um dos paralelos mais notáveis. A popa afundava-se cada vez mais. Foi o
nosso calcanhar de aquiles. De entrada, os construtores da África central não queriam fazer a
secção da popa. Não sabiam o processo de a fazer porque nunca tinham feito uma sequer. Porém,
os índios do Peru faziam-na. A arte foi passando de pais para filhos, desde que os primitivos oleiros
modelaram os primeiros barcos de cana com a popa erguida. O lago Titicaca, na América do Sul, é o
único sítio do mundo onde os barcos de cana ainda navegam com vela e, o que é mais curioso,
montada no mesmo tipo de mastro de dois braços, como no Egipto. Também o lago Titicaca é o
único sítio onde os barcos são construídos com canas compridas e as duas pontas arqueadas
terminando em bico. Os amarrilhos de corda vão, inteiriços, desde o convés até ao fundo do barco,
precisamente como os antigos artistas pintaram o sistema de atar os feixes nas paredes dos túmulos
do Egipto. Os nossos amigos de Chade ataram em camadas vários molhos finos de canas, servindose de muitas cordas pequenas, ligadas em cadeia. Apesar de os termos persuadido a elevar a popa,
só o aspecto exterior coincidia com as pinturas egípcias. Excepto por um ou outro caminho de
caravanas, as grandes civilizações antigas não penetraram através do continente, até Chade, com a
mesma facilidade com que se espalharam de barco, deixando colonos empreendedores por toda a
costa do Mediterrâneo até Marrocos. Pela primeira vez, comecei a pensar se me teria deixado guiar
mal pelo mapa. Fui buscar os construtores do barco a Chade porque não encontrei melhores no
Velho Mundo. E se as culturas dos dois lados do Atlântico tivessem a mesma herança comum?
Nesse caso, os índios que vivem no lago Titicaca, o centro mais importante e mais antigo da cultura
pré-inca, herdaram o ofício de construir barcos de cana muito mais directamente que os homens da
remota tribo buduma, no interior da África. Recordei que os isolacionistas afirmavam que a distância
entre o Mediterrâneo interior e o Peru era insuperável.
Ter-me-ia eu, também, deixado iludir por esta afirmação dogmática? Teremos todos esquecido que o
espanhol Francisco Pizarro, sem avião, estrada ou linhas de caminho-de-ferro que o ajudassem a
atravessar o oceano ou a selva, fez o percurso desde o Mediterrâneo ao Peru, acompanhado por
homens normais, quase no mesmo tempo que Hernando Cortês levou a subir as serranias do
México? Os Espanhóis colonizaram toda a área do México até ao Peru numa geração, a mesma
geração que viu Colombo atravessar três vezes o Atlântico e voltar. Que a história se repete, é um
dos fortes argumentos isolacionistas. Os Espanhóis descobriram primeiro as ilhas que {içam em
frente do golfo do México. No entanto, só se estabeleceram definitivamente quando foram impelidos
até ao México e Peru. Nós, os sete homens de sete nações diferentes, entrámos para bordo de um
barco de canas para provar como os seres humanos são semelhantes, a norte ou a sul, a leste ou a
oeste. E, apesar disso, foi-nos difícil perceber que as mesmas semelhanças nos perseguem através
do tempo, desde os dias em que os antigos Egípcios escreviam as cantigas de amor, os Assírios
melhoraram os carros de combate e os Fenícios lançaram as bases da nossa escrita e, em luta com
as velas e a mastreação, exploraram as riquezas da África ocidental.
Ao terminar a primeira semana de Julho, comecei a sentir me preocupado. Agarrei-me à esperança
de que o barco com o fotógrafo chegasse antes de os aguaceiros constantes, que nos
acompanhavam havia já alguns dias, se transformarem em autêntico temporal. Na zona em que
acabávamos de entrar, começou a estação dos furacões. Mas a tripulação enfrentou isso com uma
calma impressionante.
A 8 de Julho o vento aumentou e as ondas começaram a ser maiores, como se houvesse
tempestade para lá do horizonte. Vagas gigantescas atiravam-se sobre a popa, já tão danificada, e,
pela primeira vez, varreram a ponte, que assentava numas estacas altas, atrás da cabina. A noite foi
péssima. O vento uivou na escuridão de breu; a água roncou, gorgolou e espalhou-se por toda a
parte. As caixas onde nós estávamos deitados começaram a fazer algazarra e a dançar para cima e
para baixo, arrastando-nos com elas. Os que dormiam mais para o lado de estibordo tiveram de tirar
todas as suas posses das respectivas caixas, pois a água entrou até meio. Mudaram tudo para
outras onde a água ainda só pingava. Subia e descia alguns centímetros onde as brechas das caixas
permitiam maior folga. Apenas com alguns segundos de intervalo, as vagas desfaziam se contra a
parede de trás da cabina, que já tínhamos coberta com lona. As paredes de bambu abanaram, água
salgada pingou de todos os lados - e muita sorte tivemos em não nos cair em dilúvio sobre as
cabeças. Quase todos nos habituámos a ouvir os estampidos ritmados por cima das cabeças, mas
Santiago teve de tomar pastilhas para dormir. De vez em quando, um estrondo mais agudo e
diferente fazia-nos saltar para dormir. De vez em quando, um estrondo mais agudo e diferente fazia-
nos saltar que nem umas setas para fora dos sacos-cama. A vela soltava-se e ficava a bater contra o
mastro. Repetia-se a batalha entre nós e aquele gigante que mal distinguíamos à luz da lanterna.
Enquanto isso, batíamos com os dedos dos pés nos cântaros de Santiago e tropeçávamos na rede
impenetrável dos estais de Carlo. Cerca das seis horas da manhã seguinte estava de pé na ponte, a
aguentar o vento forte na alheta de estibordo, com a ajuda de um remo-leme amarrado e outro sob
constante controlo, quando o mar se atirou sobre mim e arrebatou tudo. A água, a brilhar, subiu
devagar, até à minha cintura e, sem grande ruído, o tecto da cabina, que me dava pelo peito, ficou
submerso. Poucos minutos depois, o Ra começou a estremecer com violência e não se aguentava
contra o vento. De tal modo que tive de me agarrar à cana do leme para não patinar pelo declive e ir
borda fora, arrastado pela água. Fiquei à espera de ver, a todo o momento, o mastro pesadíssimo
arrancar os feixes de papiro e ruir sobre a água. Mas o Ra, estremecendo, continuou simplesmente a
balançar, apoiado sobre as vigas mestras, para sacudir a água; depois endireitou, mas não tanto
como antes. O pé do mastro de estibordo ficou a fazer pressão sobre o molho de papiro onde estava
fixo e a cabina obliquou sobre o mesmo lado de estibordo. Nos dias que se seguiram, o homem do
leme passou a estar com o joelho esquerdo dobrado, para se aguentar direito sobre a ponte de
comando, que ficou igualmente inclinada.
A popa subia e descia como a maré nas praias, quando na manhã seguinte quisemos tomar banho a
bordo. Para o conseguirmos sem sermos atirados borda fora, tomámos o banho com o cabo atado.
As ondas erguiam-se cada vez mais altas nos dois lados da cabina. No lado de sotavento, para ré da
abertura da cabina, construímos uma protecção com cordas e cestos vazios, que cobrimos com uma
vela sobresselente que ainda nunca tínhamos utilizado. Havia peixes -voadores mortos, espalhados
por toda a parte. Não obstante a secção da popa refrear a marcha, que se ia fazendo aos
ziguezagues, sem qualquer domínio da direcção, naquele dia o vento forte fez-nos descair sessenta
e três milhas marítimas, ou cento e dezassete quilómetros, para mais perto da América. Só menos
vinte ou trinta quilómetros que a média diária dos antigos barcos de papiro, indicada por Eratóstenes,
o bibliotecário. Tornaram a aparecer pássaros tropicais de caudas brancas do Brasil e da Guiana,
que agora estavam para sul e sudoeste. A tripulação continuava de bom humor. Norman entrou em
contacto com Chris, em Oslo, que confirmou que estava a ajudar Ivone a contratar um fotógrafo em
Nova Iorque. Logo que o homem pudesse abandonar o seu trabalho, largaria das índias Ocidentais
no primeiro barco disponível.
No dia 9 de Julho descobrimos que o mar, ao passar sobre o tecto da cabina, penetrou pela tampa
de um barril onde estavam quase duzentas libras, cerca de noventa quilogramas, de carne salgada,
que apodreceu. Foi nessa manhã, durante a inspecção, que Georges, muito agitado, declarou outra
coisa muito mais grave. As cordas principais que seguravam os rolos de papiro de barlavento à outra
parte do Ra ficaram todas moídas, por o chão da cabina ter cambado para cá e para lá, sob a
investida das ondas. Georges ficou pálido e quase sem fala. Num pulo, pus-me do outro lado da
cabina, seguido por Abdullah. Esperava-nos um espectáculo que nunca mais esquecerei. O barco
estava separado em dois, no sentido do comprimento. O molho grande de estibordo, que suportava
um dos mastros, estava todo empolado, despegado do resto de ponta a ponta. Só estava preso ao
Ra à proa e à popa. Cada vez que as ondas separavam o molho do resto do barco, ficávamos a
olhar as profundezas azuis do oceano. Nunca tinha visto o Atlântico tão transparente e tão profundo
como através daquela fenda no nosso pequeno mundo de papiro. Abdullah, se pudesse, teria
também empalidecido. Com estóica calma e sem um tremor na voz, declarou que era o fim. As
cordas tinham se gasto. A cadeia desfez-se. Os anéis da cadeia iam desenredar-se um a um e,
dentro de uma ou duas horas, as canas de papiro estariam a boiar à solta.
Abdullah deu-se por vencido. Georges e eu ficámos estáticos, olhando ora a fenda do mar que abria
e fechava sob os nossos pés, ora o tope onde o mastro duplo se mantinha unido. Concluímos que foi
devido ao mastro ter um pé fixo a cada um dos lados do barco que aguentou as duas metades
unidas, e por isso as cordas que restavam de vante e a ré não se desfizeram tão depressa. Norman
veio ter connosco, com um brilho feroz no olhar. Pensei num tigre pronto para atacar.
- Rapazes, não podemos desistir - disse ele, com a voz estrangulada.
Dali a pouco estávamos todos a saltar de um lado para outro. Carlo e Santiago puxaram os rolos de
corda; tiraram medidas; separaram em pedaços todo o cordame grosso de que dispúnhamos.
Georges mergulhou nas ondas e atravessou o Ra com um chicote de cabo grosso. Norman e eu
percorremos o barco, para examinarmos melhor as cordas moídas e calcularmos quanto tempo ele
levaria a desintegrar se. Já se viam canas a flutuar na nossa esteira, soltas ou em molhos. Abdullah
pegou no malho, para empurrar a grande agulha de costura do Ra. Era um espigão delgado, em
ferro, com um buraco
suficientemente largo na ponta para deixar passar uma corda de um quarto de polegada. Com
aquela agulha íamos tentar cozer o «barco de papel». Com exemplar tenacidade, Yuri fez durante
horas seguidas os nossos turnos ao leme. Georges começou por atravessar o barco quatro vezes
seguidas com uma corda grossa, que nós cilhámos ao convés como se faz aos arcos dos barris.
Queríamos, assim, unir os feixes antes de o mastro se separar no tope. Depois, mergulhou debaixo
dos feixes de papiro até ao sítio onde Abdullah atravessou a agulha. Debaixo de água, Georges
puxou a corda para fora do buraco da agulha e tornou a enfiá-la, momentos depois, quando Abdullah
tornou a espetar a agulha vazia noutro sítio. Assim, conseguimos, em certa medida, «coser» a
brecha fatal. Mas perdeu-se tanto papiro que ficámos descidos para barlavento, mais do que nunca.
O mastro ficou inclinado, mas o Ra continuou a navegar a tal velocidade que Georges trabalhou
atado a uma corda, para não ficar para trás. Sentimos grande alívio quando o rebocámos para bordo
pela última vez, sem ter sido apanhado pela agulha. Carlo explicou que o almoço não estava bom
porque a espuma apagava constantemente o fogo. Ao pôr do Sol, um dos nossos cestos, que não
sabíamos o que continha, apareceu a boiar e ficou para trás. Antes do anoitecer, tornámos a passar
em revista os feixes de papiro que cosêramos, e que abrangiam quase toda a largura do barco, a
estibordo da cabina. Meneavam muito e estavam tão saturados de água que só a patinhar pela
cintura era possível passar por aquele lado. Caiu a noite. As últimas coisas que vi foram os brancos
dos olhos de Abdullah, para baixo e para cima, enquanto rezava, mesmo à entrada da cabina,
acompanhado pelos ruídos das cordas e da água. Norman recebeu um aviso pela rádio dizendo que
o barco que a Ivone estava a tentar alugar devia encontrar-se connosco dentro de quatro ou cinco
dias.
Ao nascer do Sol do dia 10 de Julho acordámos com os olhos pesados. Os dois caixotes onde
dormimos rebolaram e saltaram toda a noite. Norman não suportou o balanço. Dormiu atravessado
sobre as nossas pernas. A nossa primeira ideia foi esticar as quatro cordas que na véspera tínhamos
passado a toda a largura do barco, mas, afinal, passámos a nado uma quinta corda pelo sítio onde o
mastro estava fixo, para evitar que as cordas se partissem. Durante todo o dia cosemos e fizemos
remendos com a corda comprida que atravessava o papiro de cima a baixo, do convés até ao fundo.
Nesse dia, Norman captou uma notícia dizendo que dois fotógrafos eram esperados na ilha
Martinica, onde o iate Shenandoah os iria recolher. Mas a televisão italiana anunciou que estávamos
incapacitados de prosseguir e, por consequência, tínhamos passado já para o salva -vidas de
borracha. Com humor sardónico, pensámos no dia em que o desfizemos.
Não fez falta. Tínhamos ainda papiro mais que suficiente para nos aguentarmos a flutuar. As ondas
quebravam com força em cima de nós. Carlo anunciou que a caçarola acabava de ser arrastada pela
água. Georges apanhou um objecto encarnado no fundo do convés que nos mostrou, perguntando:
- Ainda precisamos disto, ou posso atirá-lo fora?
Era um pequeno extintor, que tínhamos pronto para qualquer eventualidade, enquanto foi proibido
fumar a estibordo. Gargalhadas sonoras acompanharam o aparelho até ao mar. Safi, pendurada num
estai do mastro, ficou a vê-lo desaparecer. Arregalou os dentes e fez barulho com a garganta, para
mostrar que também percebera a piada.
A 11 de Julho o mar começou a melhorar. Mas, embora mais calmas, as ondas deixavam de passar
pela popa e pelo vau de estibordo. Enquanto fazia a vigia da noite, vi várias constelações e a Estrela
Polar, o que já não sucedia há muitas noites. Com o «nasómetro» fixei a nossa posição nos 15°N.
A meio da noite, vagas enormes varreram o vau de estibordo, penetraram pela parede de vime da
cabina e despedaçaram uma das caixas onde Norman dormia. Ficaram só as tábuas de pinho a
boiar, porque já estava vazia. Do lado onde os feixes de papiro foram cozidos começaram a ouvir-se
ruídos muito desagradáveis. A tal ponto que nenhum de nós ouviu a Safi gritar quando uma onda
atirou contra a parede a caixa perfurada onde ela dormia. Andou à deriva, até que, sem sabermos
como, conseguiu abrir a tampa e sair. Quando Santiago acordou, estava sentada junto à cara dele a
escorrer água e, aos guinchos, dava a entender que queria meter-se no saco-cama.
A 12 de Julho outra vez alguns pássaros nos visitaram. Pela rádio, soubemos que o iate atrasara
porque dois homens da tripulação foram buscar os fotógrafos depois de terem chegado a Martinica.
A surpresa do dia foi um autêntico destroço de navio que apareceu a sul, no horizonte, e veio ter
connosco. De início, pensámos que seriam aventureiros num barco feito por eles. Quando se
aproximou percebemos que era um barco de pesca muito velho, todo remendado, coberto com
caracteres chineses. Peixe seco dançava por toda a parte. Na balaustrada, a tripulação olhou-nos
em silêncio, quando o Noi Young You passou a duzentas jardas de nós. De um e de outro barco
fizeram-se fotografias; de um e do outro lado, estamos certos, sentimos mútua comiseração. Os
chineses acenaram com indiferença. Devem ter suposto que o Ra era alguma jangada de nativos, ou
balsa primitiva da costa do Brasil, que andava na faina da pesca. Mostraram-se visivelmente
surpreendidos por um tal ferro-velho ainda andar a uso hoje em dia. A esteira do pescador ondulou o
nosso convés de ré quando guinou, para se ir embora, deixando-nos, mais uma vez, a sós com o
mar. Começou a chover. O vento aumentou e, com ele, as ondas. Dali a pouco, estava tudo à tona
de água.
À medida que a noite avançou num céu pálido, molhado e coberto de estrelas, nuvens escuras
deslocaram-se no horizonte para leste, troando sobre nós, qual rebanho de ovelhas negras a balir.
Preparámo-nos para aguentar a tempestade. Os relâmpagos seguiam-se uns aos outros. A borrasca
aumentou de intensidade. Sabíamos que a resistência da vela tinha limites, mas deixámo-la ficar.
Faltavam-nos poucos dias. Impunha-se poupar tempo. O Ra estremecia sobre-as rajadas de vento.
As vagas aumentaram. Mas a vela egípcia puxava como nunca e, mais uma vez, passámos pela
sensação de quem vai montado no dorso de um animal. A cena tinha um toque de beleza bárbara e
selvagem. O mar negro fervia e ficava listrado de espuma branca. Sobre nós caía mais água do mar
do que da chuva. O vento achatou as cristas das ondas. Por isso, o Ra 'pôde navegar a boa
velocidade sem que as torrentes de água que nos alcançavam pela popa o atrasassem tanto como
de costume. Mas as que rebentavam em cima de nós faziam-no com tal violência que mal tínhamos
tempo para uma soneca entre as colisões.
Por todos os lados, os perigos espreitavam-nos se não nos segurávamos bem às paredes da cabina
ou aos molhos de papiro. Pesadas massas de água caíram com estrondo sobre o telhado de vime,
que ficou com a forma de uma sela e ia abatendo sobre os nossos narizes. Santiago foi projectado
borda fora com o cabo na mão, mas agarrou-se ao punho da vela. Às vezes o Ra inclinava tanto que,
agarrados aos estais, tínhamos de fazer contrapeso com o corpo fora da borda. Uma das caixas da
cozinha fez-se em pedaços. Carlo andou a patinhar para salvar a outra, que ficou a boiar entre os
mastros. A antena voou. O rádio calou-se. De tempos a tempos, o pato ia borda fora e ficava seguro
só pela corda. No auge do caos, partiu uma perna, que Yuri teve de consertar. A Safi aguentou-se
em boa forma dentro da cabina. Nos cavados das vagas apareceram cardumes de peixes-voadores
tão grandes como eu nunca vira. Pouco antes do render da vigia, ouvi Abdullah, no alto da ponte, a
cantar no escuro. Uma onda enorme abateu sobre o tecto da cabina; depois, foi a minha vez.
Abdullah lá estava, seguro pelo cabo, com os cabelos encharcados em água salgada a brilharem à
luz da lanterna.
- Como está o tempo, Abdullah? - perguntei, a gracejar.
- Nada mau - respondeu ele, sem hesitar.
A tempestade bramiu com intensidade variável durante três dias que pareceram uma eternidade. A
vela içada foi o maior perigo. Mesmo assim aguentou se os primeiros dois dias. O mastro de
estibordo, meio solto, oscilava sobre os rolos mal cosidos que o pé de madeira foi perfurando, por
terem ficado com muito menos quantidade de papiro. Mas, como inclinava com o vento, aguentou-se
bem durante as borrascas. Georges e Abdullah coseram e tornaram a coser o pé daquele mastro,
que parecia ir a pique para o fundo. A violência do temporal foi de tal ordem que os dois mastros
dançaram para cima e para baixo no encaixe e só não se soltaram devido ao próprio peso e aos
estais que os suportavam. Como os cabos moeram e ficaram muito mais frouxos a estibordo, as
canas de papiro desse lado nunca mais pararam de absorver água. Os molhos estavam tão flexíveis
e lassos que passámos a não saber quanto podíamos, ou devíamos, esticar os estais. Quanto os
dois mastros vergavam para trás, as filas paralelas de ovéns de cada lado da cabina faziam arcos
como cordas de saltar. Logo a seguir, um puxão violento esticava-as tanto que só a espia
grossíssima que colocámos sobre a amurada do navio, estilo antigo Egipto, evitou que as canas de
papiro se soltassem. As canas que se soltavam continuavam fortes e rijas e flutuavam quando se
perdiam à tona de água. Mas, como absorviam mais água agora e o mastro inclinava todo o seu
peso para o lado danificado, os feixes remendados de estibordo foram afundando sempre mais e,
agarrado a eles, o chão de vime da cabina vergou, mas com tal elasticidade que não partiu.
Tentámos preencher o espaço deixado pela caixa de Norman, mas, antes de concluirmos o trabalho,
outra onda entrou pelas gretas do bambu e espatifou a segunda. Sempre que mais uma se partia,
aumentava a dificuldade em segurar as restantes. Duas a duas, com o colchão de palha em cima às
sacudidelas, deslocavam-se de um lado para o outro, quais pequenas embarcações no porto de
abrigo. Meias e roupas interiores eram arrastadas pela água a esvaziar e iam aparecer em sítios
completamente diferentes. Norman e Carlo mudaram-se para cima dos cestos de provisões que
ficavam debaixo da orla do tecto. Yuri não teve tempo de despejar as caixas antes de se fazerem em
pedaços. Daí que nos víssemos rodeados de garrafas partidas, tubos esmigalhados, pílulas, caixas
de cartão, pomadas, tubos de ensaio que exalavam um cheiro horrível. Começou a tornar-se
perigoso cairmos das caixas abaixo. Para podermos dormir sem perigo sobre as caixas que ainda
estavam em condições, enchemos os espaços livres com colchões, sacos-cama e tudo quanto
pudesse servir de chumaço para o efeito. Yuri resolveu ir lá para fora. O tecto, ao centro, já chegava
quase às nossas caras. A lanterna de parafina teve de se mudar para o canto mais alto. As piadas e
as gargalhadas dos três que resolveram mudar-se para o outro lado da parede fina de bambu
confirmavam que a disposição era boa lá fora, como cá dentro.
Lá fora, a ventania rugia, os relâmpagos brilhavam, mas nós mal ouvíamos o estrondo da sucção da
água a estibordo e do borbulhar à nossa volta. Os quartos de vigia, a ré, eram difíceis de suportar.
Por isso, rendíamo-nos tanto quanto possível. As vigas de suporte da ponte, a estibordo, afundaram
com o papiro, de tal maneira que a plataforma onde o homem do leme tinha de estar mais parecia o
telhado de uma casa. Já não chegávamos à cana do remo-leme de estibordo. Só nos conseguíamos
agarrar ao canto de bombordo, onde a ponte estava mais alta. Para resolver esta dificuldade,
inventámos um sistema tão hábil quão complicado. Com um cabo atado a um pé e outro seguro na
mão, conseguíamos fazer girar o remo de direcção de estibordo para cá e para lá. Mas isto quando
não aguentávamos o rumo apenas com o remo de bombordo. A poucos segundos de intervalo,
éramos obrigados a esticar tantos cabos quantos podíamos, para não se fazerem em pedaços.
Como queríamos a todo o custo que a vela estivesse sempre cheia, atámos uma das amuras de
cada canto ao corrimão da ponte, para que o homem do leme pudesse empurrar a verga com o seu
peso, se os remos, por si sós, não resolvessem a situação. A ponte acabou por ficar cheia de cabos
e a popa, afundada, actuou como um remo gigantesco imprevisto, que complicou
extraordinariamente o governo do navio. Se fôssemos vencidos pela tempestade, corríamos o perigo
de o mastro começar a abanar e acabar por se soltar do papiro. A nossa embarcação, embora cheia
de água, não tinha hipótese de se transformar em tartaruga.
A 14 de Julho entrámos em contacto com o Shenandoáh, que, de Barbados, se dirigia para leste.
Informaram que também tinham sido apanhados pela tempestade. Ondas de vinte pés de altura
passavam por cima da casa do leme. O radiotelegrafista avisou terra que estavam em perigo e
resolveram voltar para trás. O iate não aguentava aquele mar. Só o facto de nós estarmos nas
mesmas condições, e ainda mais ao largo, os decidiu a continuarem para leste. O capitão disse-nos
que a velocidade máxima a que podia navegar eram os oito nós. Três ou quatro vezes mais a
velocidade do Ra. Mas, contra a fúria da tempestade, o iate não daria tanto. Na melhor das
hipóteses, e se estivéssemos a navegar em direcção oposta um ao outro, encontrar-nos-íamos
dentro de um ou dois dias. Um posto de rádio ouviu uma notícia dizendo que um navio mercante, a
cerca de trinta milhas de nossa posição, nos podia ajudar, caso necessário. Mas a bordo
continuávamos de acordo em que queríamos seguir, sozinhos, para oeste.
À uma hora da manhã, Yuri gritou que a verga da vela se tinha partido. Acorremos todos. Mas não
descobrimos o que se passou. A vela estava esticada e a verga inteira. A partir de então, cada um
que era substituído para a vigia da noite confessava que governar o navio passou a ser muito mais
difícil. Só ao nascer do Sol compreendemos o que tinha acontecido. Carlo descobriu que estava só
com o remo na mão - sem pá. O eixo reforçado do remo de direcção tornou a quebrar, como que ao
golpe de um martelo gigantesco, e, no escuro da noite, a pá enorme desapareceu para sempre. Foi o
estalo que Yuri ouviu. Nós estafámo-nos a aguentar dois simples paus redondos, enquanto o Ra
continuou o seu curso só com a popa afundada a servir de leme.
A 15 de Julho a tempestade atingiu o ponto máximo. A vela não aguentou o esforço que lhe era
exigido. Debaixo de aguaceiros tão fortes que teriam afundado qualquer outro barco, arriámo-la,
como se estivéssemos a ouvir troar um trovão. Relâmpagos brilhavam, a chuva caía. Desaparecida a
vela, as duas vigias em degraus que compunham o mastro pareciam esqueletos nus à luz dos
relâmpagos. Sem a vela, ficámos com uma sensação de vazio e de apatia. Conforme a velocidade
afrouxava, as ondas arrancavam com mais força contra nós. O que restava da cozinha desapareceu.
Um cântaro partiu-se. À roda das pernas de Carlo, gemas de ovos e cal em pó andaram aos
redemoinhos. Mas o convés de vante, a bombordo, continuava coberto de cântaros com as tampas
bem vedadas, cheios de comida. No tecto da cabina e nos degraus do mastro, tínhamos presunto e
salsichas pendurados. Pior que as gemas de ovo, foram as caravelas, que começaram a aparecer no
convés e emaranhavam os filamentos compridos e picantes em tudo quanto apanhavam ajeito.
Tropecei no corpo de um deles, mas não me picou. Enquanto estavam a coser cordas com a água
pela cintura, Georges e Abdullah ficaram com filamentos picantes agarrados às pernas. Foram os
dois muito bem lavados com o remédio natural improvisado por Yuri. Abdullah garantiu que não lhe
doía. Tinha as marcas redondas das queimaduras de cigarros que espetou no braço para mostrar
que os homens de Chade são indiferentes à dor.
Cá fora, o único sítio seguro, e mais ou menos seco quando a tempestade atingia o máximo, era o
banco feito com ânforas encostadas à parede onde ficava a abertura da cabina, a bombordo. Mas
quase não havia lugar para nós, porque ali tentámos conservar a salvo os filmes já feitos e todo o
material indispensável. O pato e a macaquinha passavam o tempo dentro dos cestos, um sobre o
outro, em cima das nossas coisas. Lá dentro, as ondas que penetravam pelas paredes continuavam
a fazer estragos. As caixas espatifaram-se umas atrás das outras. Ao cair da noite, só Abdullah e eu
continuávamos debaixo de tecto. Os outros resolveram ir dormir para cima dos cestos da cozinha, no
mastro, em cima do tecto da cabina, que já tinha vergado tanto que quase não aguentava o peso de
dois homens.
Das dezasseis caixas que, inicialmente, nos serviram de camas, já só havia três. Duas eram de
Abdullah e uma minha. Resistiram algum tempo porque os nossos lugares eram mais a bombordo,
mas, mesmo assim, chegou a nossa vez. A caixa onde eu assentava as pernas desfez-se. As roupas
e os livros formaram uma amálgama com as papas de aveia que flutuavam à tona de água. Com os
calcanhares, equilibrei a tampa de Uma caixa para apoiar os pés e encostei-me ao tecto e à parede,
para que a caixa que tinha debaixo das costas não se voltasse, caso a água entrasse por aquele
lado. A cena era grotesca. Abdullah ajoelhou pela última vez diante da abertura da cabina, para
rezar. Depois, enfiou pelo saco-cama, deitou-se sobre as duas caixas e adormeceu. No escuro, o
gorgolhar da água tinha qualquer coisa de diabólico. A minha almofada escorregou para o maelstróm
que deslizava de parede para parede, sem deixar escapar nada. Foi como se estivéssemos no
estômago de uma baleia. A parede de vime era a barbatana que filtra a comida e só deixa sair a
água salgada. Tentei apanhar a almofada e, em vez dela, agarrei outra coisa mole. Uma mão. Uma
mão de borracha, isto é, uma luva cheia de água do equipamento cirúrgico de Yuri. Achei que
começava a ser de mais. Sentei-me e apaguei a lanterna. Nesse preciso momento, um charco de
água da chuva que se tinha acumulado na lona do tecto correu pelo meu pescoço abaixo. A tampa
da caixa em equilíbrio sob os meus pés soltou-se e foi arrastada pela água. Saí e fui ter com os
outros. Reconheci que se estava melhor lá fora, a sotavento. Abdullah ficou a dormir sozinho na
nossa casa, em tempos tão acolhedora.
Muito antes de o Sol romper a 16 de Julho, entrámos outra vez em contacto com o Shenandoah.
Estivemos muito tempo a chamar; depois outro tanto tempo em escuta. Por fim ouvimos a voz
metálica. O capitão pediu que, logo que escurecesse, lançássemos foguetões que nos localizassem.
O vento amainou. O temporal precipitou-se para oeste e aproximava-se das ilhas. Excepto Sinbad, o
pato, que partiu a perna, estávamos todos ilesos. Norman foi buscar os foguetões, que guardámos
quando nos desfizemos do salva-vidas. Encontrou-os tão encharcados que nem o rastilho foi
possível acender. Um letreiro meio solto dizia: «Conservar em lugar seco.» Pedimos ao Shenandoah
que deitasse ele os foguetões. O capitão respondeu que também não acendiam. Nenhum de nós
sabia a posição exacta em que se encontrava. Contudo, continuávamos convencidos de que
estávamos a navegar em direcções opostas, na mesma latitude.
De lá, pediram-nos que continuássemos com o gerador manual a trabalhar e a fazer chamadas, para
eles poderem entrar em contacto connosco. Embora o vento tivesse amainado e a chuva torrencial
tivesse abatido as ondas, nenhum dos nossos barcos se distinguia a grandes distâncias. Informaramnos de que era um iate de oitenta toneladas e setenta e quatro pés de comprimento. Quando
estávamos sentados a dar à manivela, reparámos que o mar estava, também ali, coberto de grânulos
de nafta. Já no dia anterior víramos alguns. Ficavam encalhados no papiro depois de a água filtrar.
Guardei algumas amostras, para mandar, acompanhadas de uma pequena nota, para a delegação
da Noruega nas Nações Unidas. Encontrámos aquela imundície nos dois lados do Atlântico, e até no
meio.
Enquanto Norman manejava os puxadores e os auscultadores e nós dávamos à manivela por turnos,
Carlo serviu pratos frios deliciosos. Lamentou-se que a cozinha já não funcionasse como antes. A
água levou as frigideiras e o fogão não se podia acender, porque foi parar ao fundo do mar. Mas,
como se salvou uma faca, ofereceu nos presunto e ovas de peixe do Egipto. O mummy bread não foi
racionado. Comemos quanto nos apeteceu, barrado com manteiga berbere e mel, ou com queijo de
ovelha apimentado. Soube-nos a pouco. O temporal não danificou muito os cântaros com as
provisões, que ficaram bem acondicionados no papiro. As caixas de madeira é que sofreram o
embate. O papiro e as cordas, os cântaros e as peles, os cestos e o bambu, ligaram bem uns com os
outros. Foi a madeira rija quem perdeu a batalha com o mar.
A 16 de Julho o tempo voltou a estar esplêndido. Pusemo-nos de atenção no alto do mastro e em
cima da cabina, na expectativa de vermos aparecer o iate no horizonte. Yuri dava à manivela.
Norman, ao microfone, repetia, ininterruptamente, a nossa chamada. De repente, ele, que estava
sentado à entrada da cabina a rodar botões do aparelho com as duas mãos, gritou com voz
comovida e olhando em frente, pasmado:
- Eu vejo-vos, eu vejo vos. E vocês, vêem-nos?
Rodeámo-lo, perplexos e sem fala, até que percebemos que estava a falar com o radiotelegrafista do
Shenandoah. Shenandoah! Sem hesitar, dispersámo-nos. Georges, em cima da cabina, vigiava na
direcção oposta à de Carlo, que, em cima do mastro, balançava de um lado para o outro, com a
máquina fotográfica pendurada até ao estômago.
Por fim, apareceu! Surgiu lentamente. Mais parecia um grão de areia em cima das cristas das ondas.
À medida que se aproximava, percebemos que dançava loucamente. Os restos do Ra aceitavam o
mar com uma calma muito mais estóica. Como nos conseguimos encontrar, é para nós ainda um
milagre. Mas o que é um facto é que ali estávamos, alternadamente, a saltar acima e abaixo, ao
largo do mar das índias Ocidentais! Um grande pássaro negro voou aos círculos sobre nós.
Barbatanas de tubarões cortaram a água e rodearam o Ra. Devem ter acompanhado o iate desde
que largou das ilhas. De cá, como de lá, fizeram-se fotografias, mas já tarde. A vela grande já tinha
sido descida. O mastro não aguentava mais que uma parte da vela, pois estava quase a soltar-se do
pé, a estibordo.
O iate arriou um salva vidas de borracha. Abdullah regozijo quando viu que a remar vinha um homem
de cor, como ele. Cumprimentou-o primeiro no dialecto árabe de Chade, depois em francês. Ficou
boquiaberto ao ouvir o homem responder-lhe em inglês. A África veio ao encontro de Abdullah na
América. Uma África que se torna mais e mais americana com o decorrer dos tempos.
A primeira coisa que passámos para o salva-vidas foram os filmes feitos durante a expedição.
Fizemos várias viagens a remos para passarmos tudo para o iate. A bordo, esperavam-nos homens
francos e bem dispostos. Apesar da superstrutura e quilha estreita daquele barquinho de linhas
elegantes e bonitas, estranhámos o seu modo de flutuar. Passadas oito semanas no Ra, as nossas
pernas estranharam aquele convés tão limpo e bem tratado. Dançava como um pião. Jim, no iate, e
Carlo, no Ra, fotografaram-se mutuamente. Depois, chegaram à conclusão de que foi muito mais
fácil fotografar o iate do barco de canas do que vice-versa.
A tripulação era constituída por homens muito novos, contratados para aquele serviço e desejosos
de nos verem a bordo para regressarem quanto antes. Mas isso não fazia parte do contrato e nós
continuámos com o Ra armado. O Shenandoah trouxe quatro laranjas para cada um e uma caixa de
chocolates para Santiago. Mas a tripulação saiu para o .mar sem se aperceber de que os únicos
mantimentos a bordo eram cervejas e água mineral. Por consequência, o comandante queria
regressar antes de faltar a comida e de sermos apanhados por outro temporal. Pedimos o salvavidas emprestado e fomos ao Ra buscar presunto, carneiro fumado, salsichas, ânforas com comida e
água suficiente para bebermos e comermos até fartar, enquanto fosse preciso.
O Shenandoah esperou. O Ra continuava a flutuar com o lado de bombordo intacto. Mas a estibordo
perdeu tanto papiro que já não aguentava o mastro duplo, pesadíssimo, de nove metros de altura.
Resolvemos cortá-lo. Tombou com estrondo sobre o mar. Com dois remos simples de quatro metros
e meio cada um atados no tope, Norman improvisou um mastro mais leve, também escarranchado,
ao qual adaptou uma vela mais pequena. O Ra continuou a navegar. A 17 e 18 de Julho fizemos o
transbordo de toda a carga desnecessária para o Shenandoah e tornámos a coser os feixes, para os
fixar melhor. Carlo foi, a nado, apanhar o mastro grande; Georges trabalhava debaixo do Ra; Yuri,
sozinho no salva-vidas, andava para cá e para lá entre os dois barcos e nós patinhávamos sobre os
molhos de papiro, entre cabos e haveres encharcados. Habitantes das profundezas começaram a
visitar-nos com mais frequência. Barbatanas de tubarões cortavam a água à superfície, como se
fossem as velas de iates-brinquedos. Quando metíamos a cara dentro da água azul transparente,
viam-se peixes enormes a deslocar-se de um lado para outro. A tripulação do Shenandoah pôs-se à
pesca e apanhou um tubarão branco, de um metro e meio de comprimento, e outro um pouco mais
pequeno. Comemos arroz cozido das reservas do fia com fígado de tubarão, que estava muito
saboroso. Um tubarão-azul, de três metros e meio de comprimento, era tão ladino que nunca se
deixou tentar pelo engodo e não parava de dar voltas ao barco.
Georges recebeu ordens terminantes para ser cauteloso, e foi. Porém, em dado momento ficámos
petrificados ao vê-lo atirar-se sobre a borda submersa de estibordo com um grande tubarão a
perseguir-lhe as pernas. Já tinha numa das pernas uma antiga mordedura, também de um tubarão.
Proibi-o de nadar enquanto estivéssemos cercados por aqueles carnívoros. Respondeu que, nesse
caso, teríamos muito que esperar, pois debaixo de água havia entre vinte e cinco a trinta. Seria uma
estupidez arriscar vidas humanas. Desistimos de coser os molhos. Mais valia perder algumas canas
ou alguns feixes. Até mesmo todo o lado do estibordo! Enquanto meio navio e o lado de bombordo
continuassem intactos e não dessem indícios de quebrar.
Os boletins meteorológicos captados pelo Shenandoah eram desanimadores. O comandante insistia
para que regressássemos ao porto de abrigo. A tripulação do Ra teimava que, mesmo nas piores
circunstâncias, e, isso seria se fôssemos apanhados por outra borrasca, estávamos mais seguros
nos destroços de papiro. Era um facto que o barco não podia navegar sem remos e sem nós
podermos pôr pé na ponte. Mas o poder de flutuação dos molhos que restavam era ainda tão bom
que seriam arrastados à tona de água, para oeste, até darem à costa. O Shenandoah era navegável
mesmo que, devido à tempestade, as duas bombas e um dos dois motores diesel encravassem. Mas
o comandante e a tripulação sabiam que um furacão, ainda que de pouca intensidade, podia abrir-lhe
um rombo ou virá-lo; nesse caso, em pouco tempo iria direitinho ao fundo.
Reuni os homens do Ra para o primeiro pow wow a sério desde que ficámos sem salva vidas ao
largo da costa de África. Durante dois meses vivemos em cima de uns molhos de papiro que ainda
flutuavam. Sem entrar em conta com os ziguezagues, percorremos até ali precisamente cinco mil
quilómetros, cerca de três mil milhas. Ou seja, a distância entre África e o Canadá, pelo Atlântico
Norte. Estava provado que o papiro é navegável. Tínhamos a resposta. Não havia, pois, motivo para
arriscar vidas humanas.
Os meus interlocutores, de barbas compridas, cansados de temporais, as palmas das mãos cheias
de calosidades das cordas e dos remos, escutaram-me em silêncio, com ar grave. Depois perguntei
a cada um a sua opinião.
- Penso que devemos continuar no Ra - disse Norman. - Temos comida e água suficientes. Podemos
fazer uma plataforma com os cestos de bambu e as caixas partidas, para dormirmos. Vai ser duro,
mas dentro de uma semana chegaremos às ilhas, mesmo só com este bocadinho de vela.
- Concordo com o Norman - disse Santiago. - Se desistirmos agora, ninguém acreditará que os
marinheiros dos barcos de papiro podem ter chegado à América. Alguns antropologistas dirão que o
que conta não é o grande percurso já realizado, mas o pouco que ficou por fazer. Mesmo que
faltasse só um dia, esse pesava na balança. A travessia deve ser de costa a costa.
- Mas, Santiago - respondi eu -, os poucos antropologistas que não entendam que os povos que
navegaram em barcos de papiro durante gerações consecutivas os manobravam muito melhor que
nós também não ficariam convencidos, ainda que navegássemos pelo Amazonas acima.
- Temos de continuar - declarou Georges. - Mesmo que todos vocês desistam, Abdullah e eu
continuaremos. Não é, Abdullah?
Abdullah fez sinal com a cabeça, sem abrir a boca.
- Estamos num barco egípcio e eu represento o Egipto. Não desisto enquanto houver um molho de
papiro para eu poder ter a cabeça ao cimo de água - terminou Georges, com veemência. Carlo
lançou-me um olhar inquiridor.
- Se achar que devemos continuar, eu também continuo - disse ele, acariciando a barba com a mão.
- Compete-lhe a si avaliar a situação.
Yuri, sentado diante dele, esteve muito tempo calado, com o olhar fixo.
- Somos sete amigos que temos partilhado tudo - disse ele, por fim. - Ou continuamos todos, ou
paramos todos. Sou contra os furos e as divisões.
Não foi fácil tomar uma resolução. Todos os outros queriam prosseguir. Talvez tivessem razão, mas
uma tempestade mais forte podia atirar-nos borda fora. Não valia a pena o risco. Meti mãos a esta
obra porque andava à procura de uma resposta. Ora, já tínhamos essa resposta. Um barco de
papiro, com a popa defeituosa, mal carregado e mal governado por um grupo de homens de terra
inexperientes, sem lições ou conselhos de ninguém, sobreviveu a uma tempestade imponente. A
tripulação, os animais e a carga mais importante continuavam intactos, depois de andarem durante
oito semanas aos ziguezagues em pleno oceano. Desenhando um círculo com o centro no antigo
porto fenício de Safi, donde nós saímos, e tomando a distância que percorremos como raio, esse
círculo abrangeria Moscovo e a extremidade mais a norte da Noruega. Atravessaria a Gronelândia e
a Terra Nova; Quebeque e Nova Escócia, na América do Norte; tocaria a ponta extrema do Brasil, na
América do Sul. Se, em vez de Safi, tivéssemos largado do Senegal, um pouco mais abaixo na costa
ocidental africana, o percurso que fizemos bastaria para, num rufo, atravessarmos o Atlântico e
percorrermos o Amazonas até à nascente. O Atlântico não chega a atingir os três mil quilómetros na
parte mais estreita. Ora, nós percorremos cinco mil quilómetros. Era preferível parar enquanto tudo ia
bem. Ali estavam dois barcos, de características e fraquezas próprias, prontos para navegar juntos
na celebérrima zona marítima dos furacões. Mal sonhávamos nós que o primeiro furacão do ano, o
Anna, acabava de se formar atrás de nós, no ponto donde tínhamos vindo, e se dirigia, a toda a
velocidade, para norte das ilhas das índias Ocidentais. Ora, nós íamos a navegar rumo a Barbados,
no ponto sul da mesma cadeia. Mal sonhávamos, também, que aviões do plano BOMEX americano
(Barbados Oceanographic and Meteorological Experiment), que captaram o furacão à nascença,
verificaram que as camadas de ar mais elevadas que se deslocavam sobre Barbados vinham
carregadas de areia do Sara. Chovia areia do Sara sobre as florestas da América Central. E, na
nossa frente, como nas nossas costas, milhares de grânulos oleaginosos iam-se deslocando da
costa de África para as praias da América Central. Por fim, rezei a sina do Ra. Ficaria sozinho a
enfrentar os elementos à sua passagem para terras tropicais. Tomei a decisão sozinho.
CAPÍTULO XI --- Seis mil quilómetros num barco de papiro
Apreensão estranha. Incerteza. Acordei baralhado. Agarrei-me ao meu apoio. Balanço. Balanço,
inclinação e água a bater com violência. Noite. Estaria a sonhar? A viagem no Ra não acabou? A
popa afundada e o mastro cortado teriam sido um pesadelo meu? Seria, também, um sonho termos
abandonado o navio naufragado? Sentia-me confuso. Tentei separar o sonho da realidade. A viagem
no Ra acabou, de facto. Jurei a mim próprio que nunca mais tentaria outra expedição. E afinal... ali
estava outra vez. A mesma cabina de vime a cobrir-me. A mesma abertura larga e baixa contra o
vento. 0 mesmo mundo de ondas frenéticas, listradas a branco e preto, erguendo se contra o céu
escuro da noite. Diante de nós a mesma vela egípcia, retesada no mastro bifurcado que tínhamos
cortado. A ré, a popa esbelta do barco de papiro erguia-se em curva elegante, na espuma do mar.
Estava morto de cansaço; os braços doíam-me. Norman, grande como a vida, entrou de rastos e pôs
o archote, primeiro, junto à minha cara e, depois, junto a uma cabeça cabeluda, de barba ruiva, que
sobressaía do saco-cama junto ao meu.
- Thor e Carlo, mudança de vigia. É a vossa vez.
Peguei no meu archote e iluminei o que havia à minha volta. Vi os meus companheiros, comprimidos
da mesma maneira, até talvez um pouco mais. Quando Norman tentou arranjar espaço para se
deitar, no canto oposto, todos se voltariam ao mesmo tempo: Carlo, Santiago, Yuri, Georges.
Espremida entre eles, havia uma cara nova de feições asiáticas, cabelo negro, liso e lustroso. Era
Kei Ohara, do Japão. Porque estaria ele a bordo do Ra? Apoiado sobre as costas, comecei a vestir
as calças. A cabina era tão baixa que não podíamos estar de pé; e sentados, mal. Bastante mais
baixa do que a do Ra 1. Pois claro, agora começava a ter as ideias mais lúcidas. Estava no Ra 2.
Recomeçou tudo desde o princípio. Acabávamos de largar de África, mais uma vez. Ainda não
tínhamos chegado ao cabo Juby. Não era Abdullah quem, na ponte, esperava ser substituído,
naquela noite escura. Era outro africano, que eu ainda conhecia mal. Berbere puro, de pele também
escura, chamava-se Madani Ait Ouhanni.
- Despacha-te, Carlo. Dormiste em metade do meu colchão e agora estás sentado em cima da
manga da minha camisa.
Na ponte havia calma, mas muito frio. Madani puxou pelo capuz berbere e explicou-me até onde
podíamos virar o remo de direcção para fora de terra sem haver o perigo de o vento da costa torcer a
vela. Carlo ficou de vigia às luzes de terra e de navios. Sentíamos perigos por todos os lados
enquanto não nos afastámos da costa rochosa do Sara e do tráfego constante das derrotas de
África.
Já tínhamos passado pelo mesmo da outra vez. Agora, tratava se apenas de uma repetição
arriscada. Já nos tínhamos safo do cabo Juby sãos e salvos uma vez, mas ali estávamos,
novamente, a navegar contra o vento da costa, arriscando tudo quanto tínhamos feito. Porque não
largámos um pouco mais abaixo do cabo Juby, desta vez? Porquê, um segundo Ra? Porque estava
eu a começar, na página um, outro Diário de bordo? Seria capaz de responder?
- Desta vez, havemos de conseguir - murmurou Carlo, do telhado da cabine. - Temos de fazer as
últimas milhas até Barbados.
Teria sido ele e os outros que me convenceram a pôr tudo em marcha segunda vez? Porque nos
faltavam apenas algumas milhas para convencer os cépticos? Ou seria a mesma curiosidade de
sempre? O desejo de ficarmos com a certeza de sermos capazes de atravessar c Atlântico num
barco de papiro mais bem construído? Porque não nos satisfez a primeira tentativa prática para
construir e navegar num barco que conhecíamos só de pinturas de túmulos antiquíssimos? Talvez as
duas coisas. Uma série inacreditável de factos se passaram nos escassos dez meses que
decorreram entre o desembarque do Ra 1 e o lançamento à água do Ra 2. Fui ver mais barcos de
cana. Continuavam a sobreviver justamente onde havia vestígios mais profundos da passagem de
antigas civilizações do Mediterrâneo interior para o oceano Atlântico.
Na grande lagoa pantanosa de Oristano, situada na costa sudoeste da Sardenha, Carlo Mauri e eu
andamos à pesca nos tradicionais barcos de canas dos pescadores, os fassoni, e arpoámos peixes
com tridentes. Nos montes baixos que nos cercavam, erguiam-se as torres antigas e altivas de
Nuraghi. Que atmosfera de eras passadas! Os arqueólogos atribuem as ruínas mais antigas daquele
conjunto de pedra à inspiração vinda da bacia do Mediterrâneo, cerca de três mil anos antes de
Cristo. Mas muito depois disso ainda se fizeram construções daquele tipo, na Sardenha. Os
pescadores levaram-nos a uma pirâmide cilíndrica enorme, cujas paredes megalíticas cobertas de
musgo estavam muito bem conservadas, apesar das guerras e dos tremores de terra. Logo que
atravessei, às apalpadelas, a pequena abertura que dava para o edifício de pedra boleada, onde
acendi os archotes, tive a sensação de estar num sítio conhecido. Não era a primeira vez que via
aquele complexo sistema em caracol, de túneis estreitos, mas elegantes, formando círculos dentro
uns dos outros. As paredes enormes do edifício convergiam para o alto, formando um arco falso
pontiagudo sobre as nossas cabeças. Tal como de outras vezes, segui por uma passagem que se
cruzava com aqueles corredores anelares e dava para outra abertura estreita, mais adiante. Aí, havia
uma escada em espiral que, mesmo ao centro, encaracolava até um observatório situado no telhado.
Estranho! Uma estrutura tão fora do vulgar, mas exactamente igual ao famoso observatório
astronómico construído pelos Maias antes da chegada dos Espanhóis e conhecido pelo «caracol» de
Chichen Itza, que fica na península de Iucatão. Nessa pirâmide, junto à torre maia, estão pintados
marinheiros louros a travar batalha com homens pretos na praia. Faltaria algum elo de ligação?
Teriam os mestres dos arquitectos maias, os primitivos Olmecs, construído também torres de
observação, como as torres da Sardenha?
Da vigia do telhado daquela pirâmide de construção perfeitíssima, descobri onde ia pousar o olhar
dos arquitectos da Sardenha que a construíram há milénios. A rebentação, ao longe, caía em
cascatas brancas sobre a praia da lagoa, onde barcos de canas douradas, com o bojo para cima,
secavam ao sol quente do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, berço das primeiras aventuras do homem
no mar, berço da navegação no mar alto! 0 portão do estreito de Hércules, sempre aberto para o
mundo, do outro lado. Aquela água ajudou à expansão da cultura. Sabemos que foi por mar que
essa cultura se expandiu, a partir do ponto onde a Ásia Menor e o Egipto se encontram, até à ilha de
Creta. De Creta até à Grécia. Da Grécia para a Itália. Da pátria dos marinheiros fenícios até Lixo e
outras colónias marroquinas além-Gibraltar. Tudo isto, muitos séculos antes do nascimento de Cristo.
Naquele recanto onde a cultura do Mediterrâneo nasceu, os barcos de cana foram as primeiras
embarcações usadas pelo homem. Actualmente, na ilha Corfu, os pescadores gregos ainda se
servem de barcos de canas exactamente iguais aos que estão pintados em Nínive. Ainda se
chamam os papyrella, embora na moderna Corfu a planta e a palavra papiro sejam desconhecidas.
Os pescadores italianos da Sardenha também ainda se servem deles, hoje em dia. Vimo-los do alto
das torres construídas por arquitectos desconhecidos, cujas memórias os trouxeram de algum
recanto daquele histórico oceano - viveiro de cultura -, constantemente percorrido, desde a aurora
dos tempos, por navegadores também desconhecidos. Civilizações extraviadas. Barcos extraviados.
Não admira que o profeta Isaías falasse de mensageiros que, navegando através do oceano,
chegaram à Terra Santa em barcos de canas.
Egipto, Mesopotâmia, Corfu, Sardenha e Marrocos. Sim, até em Marrocos. Quando verifiquei com os
meus próprios olhos que ainda existem barcos de canas na Sardenha, tornei a ficar obcecado pelos
de Marrocos. «Não há; os nossos barcos são de madeira ou de plástico», foi a resposta categórica
que me deu ao telefone c administrador distrital de Luco, região onde, pouco antes da última guerra
mundial, foram referenciados barcos de cana. Voltei a Marrocos para construir o Ra 2, arrependido
de ter aceitado o «não» concludente. O paxá de Safi, nosso grande amigo, emprestou-nos o carro e
um guia intérprete, para irmos até ao porto de Larache, no Atlântico, junto à foz do rio Luco. Mas ali,
naquela cidade moderna, ninguém conhecia barcos de cana. Só tinham visto um, enorme, que no
ano anterior passou por lá a caminho de Safi! Numa última tentativa, descemos até ao cais, onde
alguns pescadores velhotes estavam sentados a remendar as redes.
Barcos de cana? Os madia? Sabiam muito bem onde os poderíamos ver.
Metemo-nos imediatamente a caminho, guiados por um velho berbere. Durante dois dias
percorremos extensa floresta de cortiça, à procura de trilhos de rodas que nos conduzissem a uma
pequena aldeia jolot, algures junto ao mar. Por fim, acabámos por fazer a última etapa a pé.
Escondidas da África moderna que as rodeia, encontrámos residências da idade da pedra. Isso
deve-se, sem dúvida, à total ausência de comunicações de asfalto e de pistas de aterragem.
Cabanas pitorescas. As paredes eram trabalhadas com troncos barreados, que os pescadores
cobriam com canas., A plantação de canas, onde vimos, espalhados aqui e além, grandes ninhos de
cegonhas, apareceu atrás de denso labirinto de cactos gigantescos, quando já nos encontrávamos
muito perto. Cabras, cães, crianças, galinhas e velhos. Famílias completas com olhos azuis e cabelo
louro. Outras, negróides. A migração árabe não deixou traços ali. Aquela aldeia isolada constituía
uma amostra significativa da população indígena mista de Marrocos. Poder-se-iam rotular de «não
identificados». Porém, quer brancos, quer pretos, e só por conveniência, foram arquivados sob a
designação comum de «berberes». Um gigante negro enxotou os cães e atravessou, à nossa frente,
as barreiras de cactos que separavam a zona soalheira do mar, do rio e de terrenos salpicados de
sobreiros.
Madia? Decerto! Velhos curvados, de barbas brancas e sem dentes, navegaram nos shafat e nos
madia, os dois tipos de barcos de cana que estiveram em uso no estuário do rio Luco até há algumas
décadas apenas. Dois homens fizeram um modelo de cada tipo. Um shafat, com a popa chata,
cortada a direito, para o transporte de cargas pelo rio, e um madia, com a popa e a proa curvando
para cima, como no antigo Egipto. Explicaram-nos que um madia aguentava bem a rebentação e
podia ter o comprimento que lhe quiséssemos dar. A khab, cana chata e fina com que os construíam,
aguentava vários meses de flutuação. Os velhos construíam, ali mesmo um pequeno exemplar do
tamanho de uma cama, com a proa curva e capacidade para cinco homens, que saltaram sobre ele e
o lançaram à água, para nos demonstrarem a sua incrível capacidade de carga.
O que é mais curioso é que, tal como na Sardenha, também ali, na foz do rio Luco, havia um
complexo de ruínas colossais de construções megalíticas, sobranceiras ao rio, onde os barcos de
cana estiveram em uso: as famosas ruínas de Lixo... Na verdade, foi o meu interesse pelos barcos
de cana que me levou a tropeçar em Lixo. A cidade em ruínas era tão pouco conhecida dos meus
colegas arqueólogos como dos vulgares cidadãos de Marrocos. Os peritos sobre o Egipto, ou Sumer,
para não falar em especialistas do antigo México, pouco sabem sobre a costa de África do Atlântico e
nada, mesmo, sobre o rio Luco. Só alguns arqueólogos dedicados aos estudos sobre Marrocos têm
tido tempo e possibilidades económicas para abrir alguns fossos que puseram a descoberto as
pedras enormes de antigas paredes soterradas de Lixo. Eu descobri-as porque se erguiam sobre a
estrada moderna que liga Larache à floresta de sobreiros onde fica a aldeia dos construtores de
barcos de cana. As ruínas distam apenas algumas milhas da aldeola. A diferença da beleza, das
proporções e do nível cultural provocou muitas e diversas conjecturas acerca da categoria dimensível
da embarcação em tempos construída naquela área. Os barcos de cana navegaram até ao presente
século, precisamente na foz do rio Luco, que serpenteia o monte onde estão as ruínas. Entre os
aluviões da base da colina, podem verse armazéns dos tempos dos Romanos, testemunhas de que
Lixo foi o mais importante porto do Atlântico para os marinheiros do Mediterrâneo.
Os barcos de cana foram o engodo para Lixo. Poucos espectáculos me têm maravilhado tanto. Na
nossa frente o oceano Atlântico; nas nossas costas o continente africano, estendendo se até ao
Egipto, com a Fenícia e a Mesopotâmia atrás. Os marinheiros da Ásia Menor, que, quando, mais
tarde, os Romanos passaram Gibraltar, já ali viviam, navegaram pela costa oeste de África com as
mulheres e os filhos; astrónomos e arquitectos; oleiros e tecelões. Estes fundamentos históricos são
verdadeiros. Ali, na costa do Atlântico, jaz aquela antiga cidade, tão antiga que os Romanos lhe
chamaram a Cidade Eterna, relacionando-a com o gigante Hércules, filho das divindades supremas
Hera (ou Hra) e Zeus, herói da primitiva mitologia Grega e Romana.
As paredes mais antigas, agora, completamente ou em parte, cobertas por detritos compactos de
construções fenícias, romanas, berberes e árabes são suficientemente impressivas para despertar a
imaginação. Blocos brutais sem conta foram arrancados às pedreiras e transportados até ao alto da
colina, entalhados em formas diferentes e tamanhos diversos, mas sempre com os lados verticais e
horizontais. Os ângulos ajustam com a precisão das peças de um puzzle, embora alguns blocos
tenham as superfícies externas multifacetadas, em vez de lisas, como é mais corrente. Esta técnica
especial de recortes dentados, dificilmente imitável, era uma espécie de assinatura deixada na pedra,
por onde quer que os barcos de cana passaram, desde a ilha da Páscoa até ao Peru e ao México, e
destes até às grandes civilizações da África e de Mediterrâneo. Os Olmecs e os pré-incas
executaram esta técnica com mestria, da mesma sorte que os antigos Egípcios e Fenícios. Mas os
Viquingues ou os Chineses, os Negros ou os índios das planícies, ficariam tão perplexos como os
literatos modernos se lhes indicassem uma vertente de montanha e lhes pedissem para extraírem
dela pedreiras para construírem paredes pelos mesmos princípios. E isso com ferramentas de aço e
um modelo para copiar.
Enquanto passeava por entre os blocos semi-soterrados da Cidade Eterna do Sol, para observar a
mesma técnica sofisticada, senti que a América e o Mediterrâneo oriental se aproximavam. Lixo foi o
elo de ligação entre eles e dividia a distância em duas metades. Até àquele ponto distante, projectou
a civilização oriental do Mediterrâneo os seus ramos, alguns séculos antes de Cristo. Ali, a salvo dos
perigosos penhascos de África, navegaram, para cá e para lá, colonizadores e comerciantes bem
equipados e bem treinados. Ali, e mais abaixo, para além do cabo Juby, durante precisamente os
mesmos séculos em que os Olmecs de barbas apareceram nas praias da outra costa do Atlântico e
desataram a abrir clareiras nas florestas primitivas. À mesma data em que os pedreiros do
Mediterrâneo se precipitavam Delo estreito de Gibraltar, os desconhecidos Olmecs começaram a
ensinar o mesmo ofício e a civilizar as famílias dos índios, que vaguearam por terras incultas durante
milénios. Na foz do rio, o clássico barco de cana continuava a deslizar serenamente, embora
houvesse madeira ali mesmo à mão, na praia. Ali sobreviveu, lado a lado com a mesma corrente
oceânica que, ao largo da costa, nos ia naquele momento arrastando, como sua presa, pela segunda
vez no mesmo ano.
Dei mais um empurrão ao remo de direcção, para obrigar o barco a contornar as rochas que ficam
perto do cabo Juby. Quantas embarcações, no tempo em que Lixo era um porto de grande
movimento, terão lutado, como nós, para contornar os perigosos recifes onde a África vira para sul
até às mais longínquas colónias fenícias para além do cabo Bojador?
- Desta vez os remos de direcção hão-de aguentar! - disse eu, rindo para Carlo e dando uma
pancadinha no cepo grosso de bombordo. O outro, o de estibordo, estava fixo com corda grossa. As
hastes finas que fizemos da primeira vez não aguentaram o embate com as ondas do oceano e
partiram. A viagem no Ra 1 ficou, assim, reduzida ao processo de nos deixarmos levar pela corrente.
O casco de papiro também ficou muito mais forte, desta vez. Mas o papiro veio, da mesma maneira,
da nascente do Nilo, porque em Marrocos, onde construímos o Ra 2, o pouco que havia não era de
qualidade para satisfazer os nossos requisitos. Nem Abdullah nem eu conseguimos ir a Boi, no lago
Chade, buscar Mussa e Omar. Os rebeldes do deserto tinham-se sublevado outra vez e tropas páraquedistas francesas cercaram toda aquela zona. Além disso, a técnica da África central não provou
ser suficientemente forte para longo curso no mar. Passados dois meses, um dos lados do barco
ficou sem canas, porque a popa foi abatendo e deixando que as ondas transformassem a cabina de
vime num serrote que foi cortando as cadeias dos cabos. Estes acabaram por se desenredar. Resolvi
então experimentar os construtores que ainda fazem barcos no antigo estilo do Mediterrâneo, com a
popa pontiaguda erguida ao alto, como a proa. É assim que os índios da América do Sul, na Bolívia e
no Peru, ainda hoje constroem os seus barcos de cana. E seguem os desenhos da antiga Nínive e
do Egipto em mais um pormenor importante: os cabos correm contínuos, desde o convés, passando
pelo casco, até ao outro lado. Assim, de lado, o barco consistia num único molho de canas
compacto, ao passo que os do lago Chade, além da falta da secção da popa, eram formados por
muitos feixes pequenos, unidos em cima, ou ao lado, uns dos outros por laçadas curtas.
É estranho que os índios da América do Sul seguissem um método muito mais aproximado da
técnica de construção do antigo Mediterrâneo do que a que sobreviveu na África central. Talvez que
a explicação esteja no facto de os Buduna do lago Chade nunca terem tido contacto pessoal com as
civilizações antigas. Em contrapartida, os índios Quechua e Aimara do lago Titicaca tiveram. Foram
os antepassados dos Aimaras que construíram a pirâmide de Acapana e as outras estruturas
megalíticas de Tiahuanaco, em tempos o mais importante centro cultural da América do Sul, que, na
era pré inca, dava sobre as praias do lago Titicaca. Foram eles que atravessaram o lago com
aquelas pedras brutais em cima de barcos de cana. Foram eles que contaram aos Espanhóis que
aquelas construções de pedra foram orientadas por homens brancos que viviam entre os seus
antepassados e chegaram em barcos de canas iguais aos actuais. Os índios Aimara nunca
trabalharam a pedra, mas foram exímios a copiar os barcos de canas para pescarem no lago.
A tripulação do Ra 1 declarou-se disposta a participar numa segunda experiência. Santiago tornou a
deixar o lugar da Universidade do México, desta vez para ir à procura de construtores de barcos no
lago Titicaca. Pedi-a Mário Buschi, em Adis Abeba, que, com a maior discrição, mandasse colher
outras doze toneladas de papiro. As canas da Etiópia e os construtores da Bolívia tinham de chegar
a Marrocos sem ninguém saber. A construção tinha de efectuar-se no maior segredo, porque eu
queria ter sossego para escrever os capítulos sobre a viagem do Ra 1. Esses capítulos tinham de
cobrir as despesas desta nova experiência. Doze toneladas de papiro, embarcadas para África sob o
nome de «bambu», foram descarregadas no porto de Safi e... desapareceram. Quatro índios Aimara,
de cara rosada, e um intérprete boliviano aterraram, acompanhados por Santiago, no aeroporto de
Casablanca e... desapareceram. Lona do Egipto, uma cabina de vime feita em Itália, madeira para o
mastro e remos e grandes quantidades de corda, provenientes de origens diversas, chegaram,
desapercebidas, a Marrocos e... desapareceram. Ninguém, excepto o paxá e os seus colaboradores
mais próximos, sabia que um segundo Ra se estava a fazer em Marrocos.
No dia 6 de Maio desabou uma parte do muro alto que cercava o Jardim de Infância de Safi. Do meio
das flores e das palmeiras saiu um bulldozer, seguido de frágil barco feito com pés de ílor, como se
tivesse brotado da verdura.
Nasceu o Ra 2.
Deslizou, devagar, sobre a pedra esmigalhada, qual pássaro de papel a sair do ovo. Com altiva
dignidade, percorreu, sobre rodas, os becos estreitos onde árabes e berberes vestindo túnicas com
capuzes e véus sobre a cara se apinhavam, esbugalhados. Polícias em parada e crianças descalças
acompanharam-no em procissão. Jardineiros e electricistas curiosos treparam às árvores e aos
postes eléctricos para verem melhor. Outros, sobre uma escada vermelha móvel, afastavam os
ramos das árvores e os fios de alta tensão, para não pegarem o fogo às pontas de papiro da proa e
da popa. As autoridades soltaram um suspiro de alívio quando viram o barco deslizar sobre os carris
e parar entre filas de barcos de pesca recem pintados, à espera de serem lançados à água para a
campanha de pesca da Primavera.
- Eu te baptizo com o nome de Ra 2 - disse Aicha, a mulher do paxá Taieb Amara, quando, pela
segunda vez em pouco menos de um ano, deitou leite de cabra sobre o barco de papiro, antes de
resvalar para a água.
- Hurra! - gritou a multidão que se apinhava no cais, batendo palmas enquanto a embarcação boiava
como um barco de papel de criança. A tripulação, enquanto durou o reboque, esteve sempre atenta,
sem arredar pé. Nós, que íamos navegar nele, também sentimos um grande alívio. Como foi feito à
mão e a olho, muitas pessoas estavam convencidas que acabaria por se virar, ou que não
conseguiria navegar. Hurra!
Mas que se passa? Parem! Ai, ai, ai! Um grito desesperado da multidão. Pânico no barco que estava
a ser rebocado. Inesperadamente, um pé-de-vento fortíssimo desceu das montanhas, fez girar o
barco de papiro, soltou-o do reboque e, a grande velocidade, espanejou-o contra um molhe de pedra
de doze pés de altura. Alarido, gritos de angústia, ordens em francês e em árabe, mãos a tapar as
caras, fotógrafos mergulhando na água baixa, de máquinas preparadas para a fotografia; outros para
ajudarem a aguentar o barco. Lá foi o recém-baptizado, de cauda no ar e a girar como um pião,
contra a parede. Bang! A pancada deu-se na cauda curva e elegante do barco, que dobrou como
uma pena. Foi de dilacerar o coração. A popa! Exactamente a secção que queríamos invulnerável e
perfeita, desta vez. O casco virou e ficou a dançar sozinho sobre as cristas das ondas e a bater nas
pedras. As rajadas de vento eram tão fortes que ninguém conseguiu parar o barco. A experiência
parecia ter acabado ainda antes de começar. Mas não. A popa pontiaguda cedeu como se fosse uma
mola e o barco de cana saltou da parede como uma bola de borracha. Uma, duas vezes. Um barco
de madeira ter-se-ia feito em lascas e ido ao fundo. Ra 2 ficou na mesma. Apenas na bainha exterior
de algumas canas ficaram sinais escuros. Depois, o reboque apanhou o cabo. Não havia nada a
reparar. Com ar feliz, o Ra 2 deixou-se rebocar até ao cais, onde o mastro ia ser montado a bordo,
dançando para a direita e para a esquerda, sob a acção das rajadas de vento. Portou-se como um
papagaio de papel a brincar com o vento.
Enquanto sustinha o remo de direcção, estremeci ao recordar o dia do lançamento. Mas, ao mesmo
tempo, senti uma certa tranquilidade, pois fizéramos a prova de que, se fôssemos arremessados
contra penhascos ou rochas, tínhamos muitas probabilidades de nos salvarmos antes de a bola de
feno ir ao fundo.
Estava tão compacta e sólida que não inclinou uma polegada. O Ra 1 ondulava como uma cobra-domar. O Ra 2 ficou rígido como uma bola de baseball. Todos nós ficámos maravilhados com a
perfeição de linhas que os índios deram ao barco. Aquele estilo elegante e a maneira engenhosa
como resolveram todas as dificuldades da construção não eram compatíveis com outras
características, relativamente grosseiras, dos índios Aimara. Foram herdados. Ainda que o segredo
da antiga técnica tenha passado desapercebido a leigos e a eruditos, os nossos estudos e
experiências provaram que o método do lago Titicaca era o único capaz de produzir uma
embarcação com forma e amarrilhos coincidentes, em todos os pormenores, com os relevos do
antigo Mediterrâneo. Todos os outros sistemas de atar o papiro, para formar um barco em forma
crescente, levam inevitavelmente ao contra-alquebramento e às sacudidelas, com resultados
catastróficos para as cordas. É fácil construir uma embarcação provisória com canas, mas já não é
tão simples fazer um barco em forma de foice capaz de resistir às ondas do oceano. O sistema
empregado pelos índios era tão simples, mas também tão engenhoso, que não conheço nenhuma
tribo ou indivíduo capaz de o imitar sem um bom professor e muita prática. Quatro índios taciturnos,
Demétrio, José, Juan e Paulino, e o seu intérprete boliviano, igualmente calmo, Seôor Zeballos curador do museu de La Paz -, estruturaram a construção do Ra 2 com mestria, ajudados por uns
quantos marroquinos. Trabalharam tão calados que constantemente me via obrigado a largar o
manuscrito para me certificar, pela abertura da tenda, se o trabalho, que se estava a realizar à
sombra das palmeiras, ia avançando com a rapidez necessária entre gestos e leves grunhidos em
dialecto aimara, espanhol ou árabe.
Primeiro, os índios empilharam dois grandes molhos de canas soltas, que, com jeito, foram
transformando em almofadas adelgaçadas de papiro, tecidas de maneira que as pontas ficaram
todas voltadas para dentro e achatadas. Antes de as cordas começarem a ser esticadas, aqueles
dois cilindros de trinta e dois pés estavam tão espessos que só se podia chegar ao topo com um
andaime. Entre os dois rolos colocaram outro mais fino, mas com o mesmo comprimento, que serviu
para fixar os dois primeiros. Para isso, primeiro torceram em espiral uma corda de algumas centenas
de jardas de comprimento. Essa espiral contínua uniu, primeiro, o rolo do centro a um dos dois
exteriores; depois, uma outra corda, sem tocar na primeira e correndo também em espiral, uniu o rolo
mais fino ao segundo exterior. Conjugando forças, os índios esticaram as duas espirais
independentes, de tal maneira que os rolos grossos comprimiam o do meio a tal ponto que
penetrou neles, formando um caroço invisível. Assim, só ficaram à vista os dois molhos exteriores,
unidos um ao outro a todo o comprimento da linha central. Daqui resultou um casco compacto e
firme, constituído por dois cilindros feitos sem nós, nem cordas cruzadas. O restante serviu para,
pelo mesmo princípio, continuar o casco e dar à popa e à proa a forma curva e pontiaguda. Por fim,
acrescentaram mais um rolo comprido a cada lado do convés, para lhe dar largura e o defender
contra as ondas. Nós próprios amarrámos dez traves mestras, que serviram de base à cabina de
vime; os paus onde assentou a ponte de comando e os pés para o mastro que eram pesadíssimos.
O Ra 2 estava pronto: 11,80 m de comprimento, 4,80 m de boca, 1,80 m de pontal. A cabina tinha
3,90 m de comprimento e 2,70 m de largura. Rigorosamente, para oito pessoas deitadas quatro a
quatro e pés com pés, estendidas como as múmias egípcias. O Ra 2 ficou três metros mais curto,
com a secção transversal mais arredondada, portanto mais fina. Como eu lamentei a quantidade de
papiro flutuante que, desta vez, ficou no local de construção - quase um terço. Mas nem com
promessas de remuneração, nem com os mais fortes argumentos, persuadimos os nossos amigos
aimara a acrescentarem uma única cana ou mais um dia de trabalho ao barco. Limitaram-se â sua
esfera de acção e só pensavam em ir-se embora para casa, onde tinham as mulheres, no lago
Titicaca.
- Boa viagem e espero vê-lo na ilha Suriqui - disse Demétrio, tirando o barrete, logo que a parede foi
abaixo e o barco desapareceu.
- Na ilha Suriqui? - perguntámos, surpreendidos.
- Bem, se não for na nossa pequena ilha, ao menos no nosso lado do lago Titicaca.
É evidente que a geografia não era o forte dos índios Aimara. Nem perceberam que construíram o fia
77 do outro lado do Atlântico e que eles viviam num lago que fica doze mil pés acima do nível do
mar. Mas construíram um barco de canas como nenhum engenheiro, desenhador ou arqueólogo
destes tempos modernos seria capaz.
- Rígido como um bloco de madeira - disse Carlo. Depois de um navio de carga, todo iluminado, ter
passado por nós sem nos virar, respirámos fundo.
- Rígido como um bloco de madeira, mas nós estamos a afundar -nos - acrescentou.
- Não será por muito tempo. A carga era de mais em relação ao pouco papiro que está debaixo de
água.
- Norman acha que devíamos ter untado o papiro com alcatrão, como vem descrito na Bíblia.
- Não era necessário - respondi eu. - Só as pontas cortadas é que absorvem água. Bastou mergulhálas no alcatrão, como fizemos desta vez.
Mas eu próprio cheguei a pensar que teria sido mais seguro besuntar o barco todo com uma boa
camada de alcatrão. Assim, não nos teríamos afundado mais que meia polegada. Se os Egípcios
untavam os barcos, era, sem dúvida, por dentro, pois, de contrário, nas paredes os barcos de cana
estariam pintados a preto, e não verdes ou amarelos.
Muitos padres me escreveram depois da viagem do fia I. Diziam -me que, segundo a Bíblia, a arca
de Noé foi untada com pez, e bem assim o cestinho de papiro onde a mãe de Moisés o deitou ao rio
Nilo e a filha do faraó o encontrou, entre os juncos. A ideia não surgiu por acaso. Naquele tempo,
havia superfícies de alcatrão por toda a parte e foi muito usado no antigo Egipto e na Ásia Menor.
Porém, nós constatámos, pela experiência do Ra 1, que o papiro, convenientemente atado, flutua
sem necessidade de alcatrão, enquanto as cordas resistirem.
As cordas. Para o Ra 1 usámos cordas muito mais grossas. Mussa e Omar fizeram centenas de nós
curtos e independentes, para, se alguns se soltassem, aguentarem a parte restante. À primeira vista,
o processo de passar cordas, dos índios, pareceu me absurdo. Utilizaram só uma corda fina, em
espiral contínua desde a popa até à proa. Recusaram, terminantemente, utilizar corda com mais de
meia polegada. Disseram-nos que só assim podia ficar mais uniformemente esticada e, se partisse,
os amarrilhos não se desfaziam, porque o papiro molhado segura a corda. Poderíamos confiar
neles? Em quem confiar, então? A bordo, estávamos conscientes de que nos metêramos noutra
aventura. Podíamos ter seguido novamente o método de Chade, com os melhoramentos
necessários, e não teríamos de sofrer nova incerteza. A infalível corda de arco lá estava em posição,
atrás da cabina, ligando a popa curva ao convés, e a carga concentrada a sotavento. Fora isto, o fia
77 levantava muitas interrogações. Receávamos que aquela corda contínua tão fina, a única que
mantinha tudo de pé, quebrasse no alto mar. Enquanto o Ra flutuava sobre a água como um colchão
de praia, o Ra 2 bamboleava de tal modo que nem de pé nem sentados podíamos estar sem ser
agarrados a qualquer coisa. No primeiro dia tentámos andar equipados com cordas de segurança.
Não resultou, porque na borda não havia nada a que as prendêssemos. Em todo o caso, navegámos
a boa velocidade. Enquanto o papiro se aguentou bastante acima do nível da água, deslizámos
sobre as cristas das ondas tão depressa que cobrimos noventa e cinco milhas náuticas (ou cento e
oitenta quilómetros) no primeiro dia. A vela grande aguentou bem. Uma vez ficámos com as duas
escotas nas mãos e noutra ocasião o vento fê-las em pedaços. Nesse momento, a vela, que media
oito metros de altura, sete metros e meio de largura no topo, junto à verga, e cinco metros em baixo,
soltou-se e ficou a bater às sacudidelas. Chegámos a temer que o barco se desagregasse. Na
primeira noite passámos em carreira precipitada a ilhota ao largo de Mogador, onde existiu uma
fábrica de púrpura no tempo dos Fenícios. As alhetas passaram tão rente que distinguimos as luzes
das casas no continente, que ficava atrás dela. No segundo dia, fortes rajadas de vento ao largo da
costa do Sara obrigaram-nos a arriar a vela. Durante a operação, corremos o risco de fazer em tiras
a alta e elegante proa. No terceiro dia, o vento amainou. A tal ponto que deixámos de poder navegar
e, completamente desamparados, passámos a andar às guinadas. A costa desapareceu atrás de
uma muralha de nevoeiro. Torcemos, segurámos com força e alamos os remos de direcção e as
cordas do velame, pesado e frouxo, para evitarmos o naufrágio. Depois de cada rabanada de vento
do largo, víamos que estávamos apenas a algumas horas dos penhascos. Por sorte, éramos
compensados com rajadas fracas de vento ao largo, sobretudo durante a noite, que nos afastavam
outra vez para longe de terra.
O vento não voltou. Durante o quarto dia a calma foi absoluta.
- Estamos a ir ao fundo - reconhecemos todos. Com a água parada notava-se muito bem. O barco
estava a afundar, mais ou menos, quatro polegadas por dia. Fomos apanhados de surpresa, pois o
mesmo não sucedeu com o Ra 1. Não teria a corda em espiral comprimido o papiro suficientemente?
Ou seria uma qualidade diferente de papiro?
Santiago distribuiu lápis e papel, para cada um dar o seu voto anónimo, dizendo se faríamos a
travessia do Atlântico ou se falhávamos. Dois disseram que sim, seis achavam que não
conseguíamos. Nunca cheguei a saber quem era o outro optimista. Talvez Norman. Defendeu
sempre a teoria de que, uma vez dobrado o cabo Juby, podíamos deixar o barco navegar sozinho. A
América barra a passagem em todas as direcções. Ou talvez Carlo, que sofria de um apego incurável
ao Ra 1 porque achava que o Ra //já era um barco à vela perfeito de mais.
Estávamos a ir ao fundo assustadoramente depressa. Se a corrente não tivesse aguentado um
pouco o barco, mal teríamos saído do mesmo lugar. Ao quarto dia Georges veio ter comigo, com
desacostumada expressão solene, para me dizer que Santiago, o contramestre, e Carlo, o chefe,
eram de opinião de que tínhamos muita comida e muita água. Portanto, devíamos deitar fora tudo
quanto não fosse absolutamente indispensável. Agarrou um saco de pele de cabra e preparava-se
para abrir a rolha e deitar o conteúdo fora.
- Mas isso é água para beber!
- É preferível ter a água racionada do que ir ao fundo antes de passarmos as ilhas Canárias. Desta
vez, havemos de conseguir!
- Vamos atirar coisas pela borda fora. É divertidíssimo - disse Santiago, tentando gracejar, mas em
voz surda.
- Podemos deitar fora tudo quanto leve tempo a cozinhar - disse Carlo, também em tom alegre. - Os
fogões estão horríveis, desta vez. Um está todo queimado e o outro não aquece convenientemente.
Com ar grave, Yuri deitou a cabeça fora da cabina e, atrás dele, Madani, sem dizer uma palavra,
lançou me um olhar inquiridor. Kei, imperturbável como uma figura de louça da China, continuou na
ponte, sem deixar transparecer os seus sentimentos. Norman fazia cálculos para encontrar a nossa
posição.
- Estamos a ir ao fundo - disse Yuri com muita calma. - Da outra vez aprendemos que o que vai
abaixo nunca mais volta acima. Vamos deitar fora tudo o que pudermos, e já.
Norman ouviu a argumentação em silêncio. A atmosfera tornou-se explosiva. Vento: nenhum;
flutuação: insuficiente. Da primeira vez nada disto aconteceu e os peritos perderam. Teriam eles
razão, agora, em nos darem só quinze dias de flutuação? Passámos dez dias no porto de Safi, para
os feixes absorverem a água, e o barco, tão leve, não se voltar sob o peso da enorme e pesada vela.
Eram passados quatro dias de viagem, logo, o barco tinha quinze dias de flutuação. Metade dos
feixes de papiro já estavam debaixo de água.
- Deitamos fora os dois barquinhos de cana do convés de vante - lembrou Norman. - Não precisamos
de salva-vidas e, para as filmagens, temos o barco de borracha para três pessoas.
Mal tivemos tempo de atar ao maior uma mensagem dentro de uma garrafa, já mãos nervosas o
lançavam ao mar. Outro desapareceu tão depressa que foi sem mensagem. Adeus! Boiaram de
esguelha, como os balões, empurrados para terra pelo vento fraco. Nem sonhávamos que a
mensagem seria encontrada, dias depois, por um guarda solitário de uma das áridas praias do Sara.
Nós, cada vez mais afundados, deixámos que a corrente nos arrastasse paralelamente a terra.
Depois, foi um grande saco de batatas. As batatas levam muito tempo a cozer. Depois, dois cântaros
cheios de arroz. Farinha. Milho. Dois sacos de conteúdo desconhecido. Um cesto de vime. É
preferível passar fome do que ir ao fundo. Depois, foi uma parte do grão para as galinhas. Uma viga
grande, tábuas e madeira para reparações. Mais algumas ânforas. Madani, visivelmente angustiado,
olhava para mim, de olhos esbugalhados. Kei, com um arreganhar enigmático de dentes, ficou-se a
olhar a vela. Uma bobina pesada, de corda, mergulhou a pique. Uma pedra de amolar. Um martelo.
Um espigão de ferro para Georges reparar o barco. Livros e revistas ficaram à tona de água. Alguns
só tinham as cintas rasgadas. Cada onça a menos, contava. Eu concordei. Mas, ao mesmo tempo,
desaprovava. Faltavam ainda muitas milhas para percorrer. Mal acabávamos de largar, e àquela
velocidade teríamos necessidade de comida durante meses e de poupar material. Mas eles tinham
razão. Estávamos a ir ao fundo. Porquê? Por quanto tempo? Primeiro, tentei convencer-me a mim
próprio, e depois aos outros, que a submersão parava desde que o poder de flutuação do papiro
abaixo do nível da água compensasse o peso da carga que nós empilhámos à pressa a bordo antes
do dia da largada, 17 de Maio. Estávamos a 20 de Maio e continuávamos a ir ao fundo ao mesmo
ritmo.
Yuri, sem hesitar, começou a partir umas tábuas que serviam de duplo convés e estavam atadas em
frente ao mastro. Era um estrado tão bom! Na véspera, Santiago e Georges exibiram danças de
sapateado que nos divertiram imensamente e ajudaram a passar o tempo. O mar continuava como
um espelho. Convenci-o a guardar uma ou duas pranchas, para, quando o mar voltasse a estar
bravo, podermos passar entre os dois rolos de papiro sem ser aos tropeções.
Entretanto, alguém sentado á sombra da cabina atirava ao mar o levíssimo chá egípcio karkadé. E o
nosso fogão de barro; e o carvão de lenha. E papel higiénico. Tudo contava.
Senti um nó na garganta. Alguns elementos da tripulação sorriam tristemente. Outros olhavam-nos
com um misto de sofrimento e vergonha. Antes deixar fazer alguns estragos, dentro de certos limites,
do que saber alguém consumido interiormente por não se ter feito tudo quanto era possível. Mais
grave do que ir ao fundo é não ter sossego de espírito. As galinhas começaram a alvoroçar-se. Dois
homens pegaram em machadinhas e facas para cortarem a capoeira e a lançarem ao mar. Sem um
bom fogão não podíamos comer a criação. Então, achei que era altura de parar com o frenesi.
Acabaram-se as galinhas, mas Georges intercedeu por um pato, que, tal como o Sinbad no Ra 1,
ficou a pavonear o traseiro sem cauda pelo convés fora. A Safi tornou a indignar-se, como na
primeira viagem. Desta vez, a macaca estava um pouco mais crescida, mas continuava a mesma
mascote velhaca e descuidada. Depois de vazia, transformei a capoeira, que estava no convés da
proa, numa mesa de jantar muito leve, embora alguns achassem que tanto a mesa como os bancos
se deviam deitar fora. Argumentaram que se comia perfeitamente com os pratos e os copos na mão.
Mas dois protestámos energicamente contra o argumento, por acharmos que a hora da refeição
devia ser o ponto alto do programa do dia.
- Se começamos a viver como porcos, o moral vai-se abaixo - declarou Norman, oficial de marinha
com muita prática.
Ficámos com o espírito em paz. O ar descarregou, como se tivesse passado por um pára raios.
Havia espaço para nos movimentarmos a bordo sem sermos obrigados a fazer alpinismo. Mas o
vento não voltou.
No dia seguinte, a mesma calma. E no outro, e no outro também. Não saímos do mesmo sítio.
Entretanto, deixámos de ir ao fundo, mas não avançámos, pouco que fosse.
- As estatísticas indicam um porcento de calma aqui, em Maio - disse Norman, apontando para a
carta de navegação. - Há uma semana que temos cem por cento.
Tentámos ajudar com os remos normais, compridos e pesados. Não resultou. Em todo o caso, não
parecia estarmos em perigo imediato. Saltámos para a água e divertimo-nos. Enquanto as ilhas
Canárias, de um lado, e a África, do outro, estiveram encobertas pelo nevoeiro, o sol brilhou sobre
nós. Água fresca. Norman nadou com o pato a reboque. Safi pendurou-se nas patas traseiras, para
chegar à água. Água convidativa... não fora aquela quantidade incrível de desperdícios de óleo negro
que nos perseguia, acima e abaixo do nível da água. Desde a nossa largada, Madani foi recolhendo
amostras com uma rede. Desta vez, resolvemos proceder a uma investigação sistemática, diária
mesmo. Durante a primeira viagem só registávamos a poluição quando a água estava tão imunda
que não era possível fazer vista grossa. Mas o relatório e as amostras que mandámos para a
delegação da Noruega nas Nações Unidas suscitaram tão vivo interesse que merecia a pena nova e
cabal observação. Fazíamos uso do mar de manhã à noite: como copo de dentes, lavatório, bidé e
banheira. Felizmente, ainda havia alguns espaços limpos entre os grânulos. Mergulhámos, para
observar os molhos de papiro. A água estava transparente como o cristal. Cardumes de peixes.
Peixes-pilotos, às riscas, e pâmpanos, às pintas, agitavam se na sombra do Ra 2 ou ficavam parados
junto ao papiro. Este apresentava-se firme e forte. O seu bojo, em forma de baleia, ainda tinha mais
estilo que o do Ra 1. Apareceu uma garoupa grande e desajeitada, cinco pés de comprimento,
gorda, pesada. Sinal de que não estávamos longe das ilhas Canárias. Aqueles peixes não se
aventuram pelo mar dentro. A garoupa picou a máscara de mergulhar de Georges. Um peixe-piloto,
de oito polegadas, deslizou por entre os meus dedos como um pequeno zepelim. Santiago tinha
razão: à superfície, os peixes nadam, mas, mais abaixo, no seu próprio meio aquático, voam, livres
como os pássaros. Duas criaturas estranhas, parecidas com umas meias sem pés dentro, ondularam
em frente do meu nariz. Depois, vi um disco redondo que lembrava uma alforreca de borracha. Mas,
como tínhamos as caravelas ainda frescas na memória, fugimos o mais possível de todos os
invertebrados desconhecidos.
- Tubarão. Um grande tubarão!
Vinha ainda longe. As barbatanas dorsais e caudais cortavam e afastavam a água de tal maneira que
se via ser, de facto, grande. Não incomodou o Ra 2. Imperturbável, seguiu o seu curso, em ângulo
recto com o nosso.
Ficámos todos mais bem dispostos depois de verificarmos como o Ra 2 era bonito visto de baixo,
sobre a água. A popa, embora robusta, erguia se com elegância. Nem a mínima inclinação para
barlavento. Nem uma cana solta. Yuri e Georges diziam que, à frente, os molhos de papiro tinham
subido um pouco acima do nível da água. Talvez que o sol dos trópicos estivesse a evaporar a
humidade absorvida acima da linha de flutuação durante os primeiros dias. No dia anterior não
queriam que mais de dois homens estivessem, ao mesmo tempo, próximo dos mastros, para a proa
não afundar. Agora já estavam de acordo em fazer assentos com a madeira de sobra, para
improvisarmos uma casa de jantar confortável no convés de vante.
Vagarosamente, passámos uma semana às guinadas para sueste. As rajadas de vento, tanto de
leste como de oeste, eram tão fracas que nem sequer levantavam a verga e a vela do mastro
principal. O mar deslizava muito devagar debaixo de nós. Mas movia se. Nós é que não dávamos por
isso, porque o mar e o barco deslizavam à mesma velocidade. Por fim, o vento começou a
corresponder, embora aos poucos. E em nós nasceu a esperança de que aumentasse o suficiente
para nos dar seguimento para governar o barco. Por precaução, tomámos sempre banho com uma
corda atada â cintura. Se o barco, inesperadamente, fosse impelido pelas brisas variáveis, seríamos
arrastados, não ficaríamos para trás.
No último dia de calma, Norman, Santiago e Sinbad, o pato, nadavam juntos, presos cada um pela
respectiva corda. Eu mergulhei com a minha também à volta da cintura e atravessei o barco antes de
voltar à superfície, para me deitar de costas e me embriagar ao sol. Um autêntico idílio de férias. Não
é frequente termos oportunidade de ver o lado de baixo de um pato a nadar; uma barriga gorda
ladeada por duas patinhas a remar. Mudei de posição, para apreciar melhor aquele barco
maravilhoso. Lembrava a arca de Noé. Palha e bambu amarelo. Macaco nos estais, pomba no tecto
e dois pés descalços a saírem da cabina. Que sensação estranha. A vela começou a encher um
pouco. Junto aos remos de direcção a água encrespou. Estávamos mesmo a andar. Mas eu não
sentia o esticão da corda. Que corda tão comprida! A corda! Onde estaria? Não a tinha posta. Com
certeza o nó afrouxou, soltou-se e eu fiquei deitado de costas a apanhar sol, sozinho no Atlântico,
enquanto o Ra 2 começou a afastar-se. Senti a estocada do pânico - ficar para trás. Mas domineime. O Ra 2 ainda estava muito perto. Não era tão bom nadador como Georges ou Norman, mas para
fazer aquela distância ainda chegava. E consegui. Agarrei-me à corda fina que apertava o papiro e
trepei para bordo. Que seguro me senti em cima daqueles feixes fortes e robustos. Sem falar no
sucedido, aparelhei a rede de banho na alheta de sotavento: um saco-rede que eu inventei para
podermos tomar banho fora da borda enquanto navegámos. Desconhecíamos quais seriam as
consequências da água de sabão sobre o papiro se tomássemos duche a bordo. Algum sabão ficaria
certamente depositado entre as canas, pois aquele convés não se podia esfregar como os de tábuas
de madeira.
Mas o vento apareceu. Com o vento alisado de nordeste a bater em cheio na alheta de estibordo e
os dois remos de direcção de través, precipitámo-nos sobre as ondas sem nunca vermos terra. A 26
de Maio, Norman saltou do tecto da cabina com o sextante, lápis e papel e soltou um suspiro de
alívio. Devemos ter passado o cabo Juby. Estávamos livres dos rochedos da costa - os maiores
inimigos do Ra 2. O mar espraiava-se diante de nós e, desta vez, atravessámo-lo com a popa
erguida para o céu, sem remos partidos. Firmes como postes telegráficos. À partida houve quem
sorrisse, ao ver aqueles postes pesadíssimos e fortes. Achavam que teria bastado uns mais finos e
leves, porque aqueles cepos maciços eram capazes de partir as canas de papiro.
Passámos dias maravilhosos no convés de papiro. Aves vistosas e coloridas apareceram,
alvoroçadas, no céu, vindas das costas que nós não avistávamos. Uma a uma, foram-se instalando
na verga do mastro, no tecto da cabina, no remo de direcção, nas pontas de papiro à proa e à popa.
Materializou-se o sonho de Carlo, viver num ninho de pássaros flutuante. Alguns eram amigos
conhecidos: um pombo-selvagem, melharucos, andorinhas, pardais, uma calandra de penugem
deslumbrante azul e verde e um pombo-correio com uma anilha de metal numa pata. Este esvoaçou
em círculos sobre as nossas cabeças, rasou o mastro e deslizou até à ponte, onde foi colocar-se ao
lado do vigia, debaixo da bandeira azul das Nações Unidas. A pomba da paz, pensámos todos. Ela e
a bandeira à sombra da qual nós estávamos a navegar ficavam bem ao pé uma da outra. «27773-68
A - Espanha», estava escrito na anilha de metal. Transformámo-nos num jardim zoológico flutuante.
Peixes das mais diversas espécies meneavam-se debaixo de nós. A bordo, pousados por toda a
parte, pássaros de cores garridas gorjeavam alegremente e debicavam a água dos cântaros e os
grãos para as galinhas. Mas, à medida que nos afastámos das ilhas Canárias, os pássaros, um a
um, foram-se despedindo e deixaram-nos. A rainha de beleza - o papagaio multicolorido - foi
definhando lentamente. Só se alimentava de insectos e nós nem uma mosca tínhamos para lhe
oferecer. Mas o pombo caprichou em aproveitar a ração de Sinbad, o pato. Engordou e adaptou-se
tão bem ao ambiente que resolveu ir connosco até à América.
Quando o vento voltou, o Ra 2 pareceu-nos um pouco acima do nível de flutuação. Dava a ideia de
que a vela, imponente e bem cheia, levantava o convés de vante ao ar. Mas o nosso papagaio de
papel era pesado de mais para ser levado pelo ar. Sob o impulso da brisa fresca, o Ra 2 depressa
recuperou o tempo perdido. Arrastou nos através do Atlântico à velocidade de sessenta, setenta ou
oitenta milhas marítimas, isto é, cento e dez, cento e trinta e até cento e cinquenta quilómetros por
dia.
Os dias tornaram-se rotineiros. Felizes, alegres, bem-dispostos, cantámos e divertimo-nos. Não
houve reparações a fazer. Vigias descontraídas. Boa comida das ânforas de barro. Sem
racionamento. Quatro cozinheiros soberbos. Qualquer faraó teria invejado os pratos saborosos do
Egipto que Georges nos fez; nenhuma gueixa teria cozinhado melhor que Kei. A receita picante de
carne salgada com cebola e azeite à la berbere, de Madani, e a capacidade inventiva de Carlo para
fazer qualquer coisa boa quando falhavam os voluntários, tudo isso contribuiu para nos dar a
sensação de estarmos a viajar em primeira classe.
Quando, ao cair da tarde, a sombra da vela atravessava o barco, sete homens queimados do sol, de
barbas compridas e bem-dispostos sentavam-se à roda da capoeira vazia para a refeição em
comum. O oitavo elemento do grupo, de pé na ponte, tomava conta do remo da direcção, guiando-se
pelo sol-poente. A bússola apontava para oeste. Como um pavão, o Sol exibia os últimos raios sobre
o mar, à frente do nosso cisne dourado, que conservava a marcha do imortal Ra do passado e do
presente. Depois, a estibordo surgiu a Ursa Maior, com a Estrela Polar. Boas companheiras, que
ficámos a conhecer muito bem desde a última viagem e passaram a fazer parte do nosso pequeno
mundo.
Brisa fresca da noite. Calças compridas e camisolas de malha. Madani, envergando o albornoz
marroquino de tecido grosso, com o capuz enfiado na cabeça, parecia um monge medieval. Instalouse sobre o tecto da cabina e a sua silhueta projectava-se no céu dos trópicos quando curvava a
cabeça em adoração. Foi um companheiro invulgarmente simpático e de boa índole. Substituiu
Abdullah e representou os homens de cor da África. Não era tão negro como Abdullah, mas
pertencia ao tipo mais escuro dos Berberes. Infelizmente, três dias antes da partida de Safi,
soubemos que Abdullah não embarcava connosco desta vez. Foi o único da tripulação do Ra 1 que
não repetiu a experiência. Viveu como refugiado de Chade durante um ano, porque, entretanto,
rebentou um conflito sangrento entre os seus correligionários maometanos do Norte e o governo
africano cristão, apoiado pela Legião Estrangeira Francesa. A inquietação de Abdullah aumentava de
dia para dia. Uma mulher aqui, outra ali, e cada vez os obstáculos geográficos dificultavam mais a
vida de família. Num bolso, a fotografia de três crianças africanas de Chade; no outro, um telegrama
dizendo que a última mulher acabava de dar à luz uma filha, no Cairo. Quem resolveria todas
aquelas complicações, se Abdullah fosse outra vez para o mar no barco de papiro? Adeus Abdullah,
vamos sentir a tua falta. Mal Abdullah acabou de sair, aparece atrás do guarda-louça do hotel onde
nós estávamos instalados, sorridente e bem-disposto, Madani Ait Ouhanni. Podia ir connosco? perguntou. Uma fábrica importante de fosfatos, de Safi, tomou conta do hotel onde ele era
superintendente. Foi arrebatado por sete hóspedes que iam largar para uma viagem à vela e
precisavam de um africano genuíno para substituir Abdullah.
Por aqui se vê que conhecemos Madani três dias antes da largada. Kei também não era conhecido
de nenhum de nós. Um amigo meu, sueco, foi a Tóquio fazer o intercâmbio de filmes para a
televisão. Pedi-lhe para me arranjar um fotógrafo japonês, de temperamento amistoso e boa
constituição física. Pouco depois, entrou pela porta do hotel, em Safi, o tronchudo Kei Ohara,
carregando o material e transbordando joie de vivre; alegria e músculos de judoca. Experiências do
mar? Uma visita a lugares de interesse na baía de Tóquio. Além disso, participou numa sessão sobre
filmagens no lago Titicaca, onde fotografou os índios nos barcos de cana.
- E tu, Madani? - perguntou Norman, um tanto inquieto.
- Fiz a viagem de Marráqueche para Safi num barco de pesca, mas enjoei.
- Só homens de terra, outra vez - disse Norman, fixando-me, desesperado.
- Pois, mas por isso mesmo não carregam o barco de papiro como os marinheiros teriam carregado
um barco de madeira normal - disse eu, referindo-me à catástrofe do ano anterior. - Prefiro levar
homens capacitados de que não sabem nada sobre navegação num barco de papiro. Um esquiador
experimentado dificilmente se adapta a bom atirador em pára-quedas.
Durante os primeiros dois dias, enquanto o esbelto barco de papiro galeou como uma garrafa vazia
sobre o mar encapelado, os dois homens passaram tormentos terríveis com o enjoo. Depois, Buda e
Alá ouviram as suas preces para que a calma voltasse, desafiando as estatísticas e a carta de roteiro
marítimo. Quando, por fim, o vento voltou, furtivamente, a soprar sobre nós, os representantes de
Japão e de Marrocos estavam enquadrados. Como já acontecera no Ra 1, todos passámos pelas
mesmas provações e pelos mesmos sofrimentos. Os de pele branca ficaram queimados do sol. Os
que já eram escuros reforçaram a sua precedência, sem que ninguém se importasse com árvores
genealógicas, certificados de baptismo, cartões de sócio ou passaportes. No convés de vante havia
pouco espaço livre; no de ré ainda menos. Estivemos reduzidos a uma faixa de três pés de largura
de cada lado da cabina. E esta consistia numa divisão única, onde não se podia estar de pé, excepto
mesmo ao centro. Era tão estreita que não nos podíamos virar na cama sem enfiarmos um joelho no
estômago do parceiro ou o ombro num olho. Já conhecíamos as pragas, o ressonar, a maneira de
estar à mesa e as piadas uns dos outros. Até quando os guinchos e os rangidos dos estais do mastro
e das amarrações da ponte não permitiam localizar, no escuro, donde provinham os barulhos mais
excêntricos. Madani era melodioso, mesmo a dormir. Depois de me adaptar às notas de uma gaita
oriental e aos instrumentos de sopro que encaixava no nariz; a uma autêntica oficina de serrotes,
brocas e plainas operando na garganta de Carlo, todo sentido prático, deitava-me, de consciência
tranquila, fingindo não entender a acusação de ter engolido um leão. Só Santiago e Georges, uma
vez por outra, pediam a Yuri pílulas para dormir. Poder-se-ia dizer que a festa nunca parou. Não
houve segredos. Durante as vinte e quatro horas do dia, enfrentando as mais inesperadas situações,
ali estivemos sempre juntos, sem distâncias a separar-nos.
Se, normalmente, um americano e um russo têm dificuldade em se conhecer bem, os dois do nosso
grupo tornaram-se íntimos. Se árabes e judeus fossem inimigos naturais, um deles teria sido
projectado fora do barco. Se o todo-poderoso não consentisse em ser adorado sob várias
invocações, teria havido guerra religiosa a bordo. Representávamos uma babel de oito línguas
diferentes, mas as únicas faladas durante o dia foram o inglês, o italiano e o francês. Apenas
ocasionalmente, o árabe e o espanhol. Russo, norueguês e japonês só durante o sono.
Aproveitámos o tempo livre, sobretudo depois das refeições, para conversar, contar histórias e cantar
em coro. Dois ou três sentavam-se nos últimos degraus do mastro, os outros à roda da capoeira.
Dentro da cabina havia sempre alguém a dormir. Discutimos política, mas nunca ferimos com os
nossos golpes. Ali, os argumentos de Leste e de Oeste não passavam pela censura; ninguém nos
apontou pistolas carregadas. A bordo, as únicas coisas mais semelhantes a armas eram os arpões,
as machadinhas e os anzóis. Mas serviram para o bem comum, porque o barco era pertença de
todos. Em conjunto, como tantas outras pessoas, esmiuçámos o problema palestiniano; as rixas
tribais na África; a intervenção dos Americanos no Vietname e a dos Russos na Checoslováquia.
Ninguém se zangou, ninguém se ofendeu, ninguém levantou a voz. Muitas vezes estivemos de
acordo. Discutimos religião, mas ninguém sentiu a sagrada cólera. Na nossa pequena arca, onde o
macaco era Noé e nós os animais, a mistura era quase perfeita em tão pouco espaço: coptas e
católicos; protestantes e maometanos; budistas, ateus, livres-pensadores e judeus-cristãos. Não
houve feudos religiosos a bordo. Mas... discutimos o direito de posse de uma escova de dentes
perdida e reencontrada e, a seguir, ouvimos gritos de raiva e pragas em várias línguas. No mais
íntimo, dos seus corações, os seres humanos são muito parecidos, independentemente da sua
localização geográfica. A escova de dentes que está junto ao nosso nariz torna-se maior do que um
canhão a quilómetros de distância. Á fácil descobrir as diferenças de homem para homem, mas
ainda é mais fácil encontrar os maiores denominadores comuns da humanidade. Quer nos
compreendêssemos quer não, vivemos tão perto uns dos outros a bordo da nossa arca de papiro
que nos sentimos como fatias cortadas do mesmo pão. Alegrámo-nos e entristecemo-nos com as
mesmas coisas. Ajudámo-nos o mais que pudemos, porque assim ajudávamo-nos a nós próprios.
Um governava o navio, para que os outros pudessem dormir; cozinhava, para que outros comessem;
cosia as velas e esticava cabos, para que todos progredíssemos no caminho. Tivemos a
preocupação de nos aguentar em boa forma, para estarmos preparados para qualquer esforço que
eventualmente nos fosse exigido por ameaças do exterior.
Dias e noites passaram. Passaram semanas. Decorreu um mês.
- Isto está a tornar-se aborrecido - queixou-se Carlo, bem disposto, e pegou na cana de pesca. - Tão
diferente do fia I. Não temos nada para consertar; não há madeira quebrada, nem cabos para fazer
costura.
Sentou-se à proa, com os pés fora da amurada, e pôs um peixinho -voador no anzol, para servir de
isca. Cardumes daqueles pequenos peixes voavam para bordo. Debaixo de nós, misturados com os
peixes-pilotos, óptimos pâmpanos mordiam a isca sempre que lha lançávamos. Mas desta vez as
cavalas e as cobiçadas douradas, vítimas mais frequentes dos marinheiros de embarcações, pouco
apareceram. Os atuns abanavam as caudas ou saltavam ao ar, tão longe que não havia hipótese de
caírem no engodo. Um dia Georges encontrou-se a nadar no meio de um cardume de charutos
prateados: bonitos. Grandes baleias passaram de raspão quando estávamos ainda perto de África.
Quem sabe se seria a mesma família que vimos durante a viagem anterior? Uma jamanta achatada,
do tamanho da ponte do Ra 2, saltou das ondas e caiu com violência e estrondo, como se fosse uma
panqueca. Também fomos visitados por porcos -marinhos, elásticos, sempre em movimento,
saltando de alegria; por uma enguia gorda, indolente, do comprimento de um homem e da grossura
de uma coxa humana, que seguia a nossa esteira, ondulando, meio adormecida. Uma tarde,
descobrimos um calamar gigante de cor rosada a trepar, às apalpadelas, pelos cabos que estavam
submersos, para fixar o remo de direcção. Antes de se soltar, espalhou os dez tentáculos por cima
da cabeça e atirou-se de jacto para o fundo.
Por consequência, ainda havia vida no oceano, mas, em todo o caso, mais resíduos de óleo que
peixes. No decorrer do primeiro mês, só durante três dias é que Madani não apanhou grânulos. Daí
em diante, o mar tornou-se tão bravo que impossibilitou observação conveniente. A 16 de Junho, um
mês depois da largada, o mar estava tão imundo que nem nos podíamos lavar. Bocados grandes e
pequenos, variando entre o tamanho de batatas e ervilhas ou grãos de arroz, cobriam a superfície da
água. Durante esta viagem, só vimos pior na corrente entre Marrocos e as ilhas Canárias, pois nessa
altura fez uma calma podre e foi fácil observar tudo quanto vinha à tona de água. A 21 de Maio
anotei no livro de navegação:
«A poluição é horrível. Madani tem apanhado detritos de alcatrão do tamanho de ameixas, alguns
cobertos de lapas. Noutros instalaram-se caranguejos, vermes e crustáceos. À tarde, a superfície lisa
do mar apresentava se repleta de grandes quantidades de coágulos negros e castanhos, a flutuar
sobre qualquer coisa que dava a ideia de água de sabão. Aqui e acolá, a superfície da água
tremulava, multicolorida, como se estivesse coberta de gasolina.»
Na mesma zona, vimos alguns celenterados a nadar. Quando vivos, apresentavam-se esticados,
quais balões compridos pintados de laranja e verde. Mas milhares deles, mortos, boiavam entre os
detritos oleaginosos, achatados como os balões, quando furados. Levámos dois dias a navegar por
entre esta porcaria de óleos e celenterados mortos. Embora mais lentamente, a poluição navegava
também rumo à América. Numa fase mais adiantada da viagem, quando o mar começou a crescer,
coágulos do tamanho de punhos eram atirados para bordo e lá ficavam, depois de a água filtrar
através das canas de papiro. E, no entanto, a poluição não foi a única dádiva do homem moderno ao
mar. Raro foi o dia em que, enquanto fazíamos vigia, não vimos passar, junto às amuras do Ra 2,
recipientes de plástico, latas de cerveja, garrafas, ou materiais ainda mais frágeis - caixas de
empacotamento, cortiça e demais lixo.
Tínhamos coberto mil setecentas e vinte e cinco milhas, a contar do ponto de largada, e faltavam-nos
ainda mil quinhentas e vinte e cinco quando entrámos, pela segunda vez, numa verdadeira pletora de
poluição de óleo. No dia seguinte o vento aumentou. E no que se lhe seguiu, 18 de Junho, o mar
encrespou em ondas de uma altura que nunca tinham atingido em qualquer das viagens dos Ra. O
vento começou por rajadas moderadas, rodando para rajadas fortes. Mas as ondas erguiam-se em
cristas paralelas, sempre num crescendo desproporcionado com a força do vento. Talvez que a
nordeste, donde elas vinham, houvesse a tempestade que as provocou. De início foi emocionante.
Depois, um após outro, começámos a sentir uma ansiedade reprimida, seguida de certo espanto e
alívio, embora dúbio, por nos aguentarmos tão bem. Por fim, fomos invadidos por um impulso de
incontida admiração, pela maneira magistral como a nossa pequenina casca de noz enfrentou as
muralhas de água. Eu estava sozinho fazendo vigia na ponte, atrás da cabina. Virei o remo de
bombordo de maneira a apanharmos o mar pela proa e deixei o de estibordo amarrado, para servir
só de quilha. Resultou cem por cento. A rebentação das cristas daquelas ondas era muito diferente
da rebentação em fundo baixo, junto à praia. Primeiro, a base oblíqua da onda apanhava-nos detrás,
rolava debaixo da popa, em forma de foice, e levantava-nos muito alto no ar, antes de a crista
rebentar. O cachão rebenta, normalmente, quando estamos empoleirados mesmo no alto; atira-nos
para diante, sob o ímpeto do vento, água e espuma, e precipita-nos a uma velocidade louca, cauda
empinada e focinho vergado, nos vales profundos azul esverdeados. Nestas ocasiões é essencial
não balançar de través.
- Seis metros. Sete metros e meio.
Vibrando num misto de alegria e horror, os homens entretinham-se a adivinhar a altura que as cristas
atingiam.
- Nove metros. - As ondas passaram por cima do tope de mastro.
Nove metros. Madani sentiu-se enjoado. Por todos os lados, nuvens espessas e chuva. Tudo batia,
como a máquina de um relógio. O Ra 2 recebeu aquelas montanhas de água contínuas com uma
elegância difícil de imaginar. Ficavam apenas uns borrifos no convés, aqui e além, de que nem vale a
pena falar. Não teríamos problemas enquanto conseguíssemos manter a nossa fabulosa popa contra
a água que nos perseguia. Felizmente, formavam-se com regularidade, bem espaçadas, mesmo à
medida do Ra 2 e sempre pela mesma ordem: uma, duas, três, em fila, umas atrás das outras. Não
nos podíamos distrair um segundo, o barco descaía logo. Nas nossas contas, uma parede de vidro
parecia querer ruir sobre nós e submergir-nos. Nós tentávamos fugir-lhe, mas não escapávamos. Os
que não estavam no turno de vigia, meteram se na cabina. Lá dentro, ficaram a olhar o tecto de vime
e a ouvir o barulho ensurdecedor do mar. Mas Carlo, o alpinista, sentou-se na proa do barco, seu
lugar favorito, de pernas a balouçar, como se estivesse montado num cavalo.
O barco voltou a erguer-se no ar, mais alto do que era usual, e atirou-se para diante e para baixo,
acompanhando o movimento da parede de água. Depois, a mesma crista apareceu na nossa frente
outra vez. Passou por nós, com suavidade e listrada de branco.
- Aquela era mais alta que o tope do mastro - gritou Carlo, entusiasmado, os dentes brancos a
brilharem na barba ruiva.
Momentos depois, saltou da proa, aos solavancos e a arrastar o cabo de vaivém, dirigiu-se para ré,
onde estavam os outros. Contou-nos que um golfão enorme se abriu debaixo dele e da proa, tão
profundo que, quando o Ra 2 inclinou e começou a descer, teve a sensação de estar a mergulhar
numa fossa de água sem fundo. Fechou os olhos para não ver.
Chegou a altura de render de vigia, mas não me atrevi a desviar a atenção do rumo por um segundo
sequer. O barco não se podia voltar de través para as ondas. Deviam ser quase quatro horas da
tarde. N as nossas costas ouvia-se o ruído da onda seguinte a erguer-se, sempre mais alta que as
anteriores. Os músculos tensos evitavam que a pá do remo fosse arrastada pela água. Senti uma
parede de água brutal embater contra a popa e levantar-nos ao ar, muito, muito alto. Fixei os olhos
na bússola para não me desviar do rumo. Era indispensável aguentar o barco em ângulo recto com
as ondas. Não haveria limite para a altura a que aqueles gigantes em ebulição nos atiravam? A crista
jorrou pelos vaus; a espuma agitou-se; nós inclinámos a pique, deslizando em carreira vertiginosa,
como que em cima de um surf munido de vela gigantesca. Depois, deu-se o que tanto temíamos. Um
estalido fortíssimo. O som desagradável de madeira grossa a quebrar. O choque entre o remo e o
barco. O Ra 2 precipitou-se em diagonal, sem controlo, sobre o lado de bombordo, mais de vante, na
cava da onda.
Foi como se nos tivessem estonteado com uma moca. Passei por um momento de dúvida entes de
ter a coragem de voltar a cabeça e enfrentar a catástrofe. O remo de direcção! A grossa haste do
remo que eu vinha sustendo partiu e a larga pá ficou pendurada pelo fiel de segurança. Só tive
tempo de fazer uma verificação rápida. Mais massas de água caíram sobre nós, a estibordo, sem
nada que as estorvasse, uma vez que a popa pontiaguda já não conseguiu quebrar as ondas e
levantar nos ao ar.
- Todos para o convés! Remo de direcção de bombordo partido! Largar a âncora, Yuri!
Sob a pressão da água, o barco e a ponte aguentaram-se bem agarrados um ao outro. Atrevi-me a
escorregar até ao remo que ficou amarrado a estibordo, para folgar um pouco os cabos desse lado.
O troar da água encapelando-se contra a parede da cabina e o barulho da vela grande, torcendo e
batendo com força, disseram muito mais aos sete homens que se encontravam na cabina do que a
chamada da ponte. Saíram em formigueiro, silenciosos, como cães perseguidos, enquanto atavam
os cabos de vaivém à cintura.
- Qual das âncoras flutuantes?
- A maior.
Desatei o remo de direcção que estava bom, mas as duas forquilhas de madeira rija que o
sustinham, em cima e em baixo, estavam cravadas de esguelha e de tal maneira que a haste não se
mexia. Ondas e mais ondas rebentavam sobre nós. O mastro rangia ameaçador. O vento e a água
arremessavam-se sobre a vela e o barco de papiro, à vontade.
- Arriar a vela grande!
Para aumentar a velocidade, Norman, alguns dias antes, tinha içado uma pequena vela de joanete
numa verga de bambu. Esta fez se em lascas e a vela de joanete ficou a bater contra a vela grande
como um balão vazio.
- Arriar a vela grande, antes que rasgue!
Norman tomou o comando no convés de vante e trepou ao mastro para arriar o joanete. Cinco
homens agarraram a adriça grossa e pesada, para baixarem a vela grande, e imediatamente a verga,
de sete metros e meio de cumprimento, começou a afastar-se do tope do mastro. Mas, em vez de
descer, a verga foi arrastada para diante pela vela grande, que o vento impelia. Os homens no
convés de vante só tiveram tempo de estender os dez braços e conjugar forças para evitarem que
ela caísse sobre as ondas, qual papagaio de papel. O mar continuava a engolfar-nos.
- Que diabo, lancem a âncora flutuante!
- As ondas emaranharam o cabo!
- Então, lancem a mais pequena, antes que o mar nos desfaça em bocados!
Outra onda varreu o barco, e mais outra, maior ainda. E tivemos sorte, porque as torrentes nos
torceram para estibordo. A cabina não tinha abertura desse lado, a parede estava coberta por lona a
todo o comprimento e era contra ela que o mar batia e alcançava o tecto.
- Lançámos a mais pequena - gritou Carlo, triunfante.
Mas não foi suficiente. O saco pequeno que se arrastava na nossa esteira não refreou o andamento
do barco quanto era necessário para que a popa de papiro encharcado voltasse à posição inicial. A
ré, Yure e Carlo lutavam, com a água pela cintura, e desapareciam completamente na espuma que
se desmoronava, para caçarem o cabo de reboque da grande âncora de lona que as ondas
continuamente enredavam no convés.
- Verifiquem os cabos de vaivém. Todos bem atados! Finalmente, consegui virar o remo de
estibordo alguns
centímetros mais. Mas de pouco valeu. As rajadas de vento sacudiam a esteira da pesadíssima vela
contra o capelo da proa. Cutiladas fortes, incontroláveis, vinham da esquerda e da direita. A vela
enganchou no capelo de papiro e torceu a proa para bombordo. O mar e as rajadas de vento faziam
tal alarido que os gritos e as ordens eram continuamente interceptadas e transmitidos da ponte para
o mastro e vice-versa.
- Arreiem a vela antes que o barco se desfaça! - gritei eu. Mas... começou às sacudidelas.
- Parem! Icem outra vez a vela, para não ser apanhada por uma onda! - gritou Norman.
- Se cai ao mar, nunca mais conseguimos arrastá-la para bordo - gritou Georges.
E tinha toda a razão. Na base, a vela egípcia era exactamente da mesma largura do convés, mas no
topo a mesma vela e a verga pesada que a sustinha eram muito mais largas. Por isso, sabíamos ser
impraticável baixá-la sem que a secção superior, mais larga, fosse varrida pelas ondas que se
erguiam dos dois lados do convés.
A solução surgiu por si. A pouco e pouco, cinco homens bem seguros, espalhados a toda a largura
do barco, desceram a vela algumas polegadas sem tocarem no convés e foram enrolando a parte
inferior à medida que ela descia. Todos eles tiveram dificuldade em se aguentar no meio das rajadas
de vento, do balouçar do barco e das torrentes de água. Puxando e dando pequenas pancadas na
cana do remo de direcção que ainda estava inteiro, consegui que, lentamente, ele torcesse. Mas não
ajudou a readquirir o rumo. Com cautela, os homens que seguravam a vela conseguiram enrolar um
terço e rizaram o rolo com uma série de rizes pendurados da vela para esse fim. Chegou o momento
propício para salvar a pá do remo que ficou a saltar e a flutuar e que as ondas arremessavam com
toda a força contra a popa. O fiel de segurança atado à pá, copiado das pinturas dos túmulos
egípcios, ajudou-nos a içá-la para bordo. O remo partiu junto à forquilha inferior. Com dezasseis
centímetros de grossura de cima até baixo, ou seja, cerca de seis polegadas - a média de um poste
telegráfico -, o remo, que todos supúnhamos invulnerável, porque foi feito de pinho fortíssimo,
quebrou como um fósforo. Mas a culpa não" foi da madeira. Nem uma cana de papiro se partiu ou
danificou. Os molhos de papiro resistiram mais que o cepo de madeira. Mais uma vez, a força de
Golias foi vencida pela destreza de David. Deste acidente concluímos, de uma vez para sempre, que
a corda com que atámos o remo de direcção, tanto no fundo como em cima, era grossa de mais.
Sobretudo em baixo, a corda devia ser mais fina, para ser ela a partir antes do remo e funcionar
como uma mola de segurança. Só depois do nosso regresso verificámos que foi precisamente o que
os Egípcios fizeram. Passámos por alto este pormenor das antigas pinturas porque imaginámos que
a diferença de grossura entre os cabos de cima e de baixo fora mera coincidência na reprodução do
artista. Contudo, um exame mais minucioso aos antigos desenhos provou a consciência da diferença
das espessuras.
Foi Georges quem puxou para bordo a pesadíssima pá. Apareceu coberta de lapas. Cortou um
molho de fragmentos de papiro que Norman tinha atado à pá para a alinhar a favor da corrente no
sítio onde o grosso remo estava fixo. Atirou os bocados de papiro estragados para o mar e aguardou
um pouco, para ver o que aconteceria. Foram ao fundo. Não contou a ninguém o que viu, mas não
podia adivinhar que mais alguém o observava do alto da ponte, igualmente perplexo. Que teria
acontecido ao papiro? Teria o ar saído por completo? Yuri e Carlo estavam de costas para ele e com
muito trabalho entre mãos: pôr em ordem os cabos da âncora grande. Recolheram a pequena, pois o
grande saco de lona já começava a obrigar a popa a virar, mas não tanto quanto seria para desejar.
Continuávamos de través para o vento, recebendo o mar em grandes vagas sobre a alheta de
estibordo, tal como no fia I.
A tempestade rugia. A bordo, o relógio marcava dez para as nove e a noite caía quando os homens
no convés de vante conseguiram rizar metade da vela grande. O símbolo do Sol, vermelho-laranja,
ficou enrolado até ao meio, numa imitação do pôr do Sol, que nós descortinávamos atrás das nuvens
de tempestade. Se o tivéssemos visto, não estaria mesmo diante de nós, agora, que nos
encontrávamos no ângulo de abatimento. Estaria muito para a esquerda da proa arqueada.
Tragédia. Catástrofe. Não havia madeira em reserva com a espessura e o comprimento suficientes
para fazermos nova haste de remo. Todos os bocados de madeira pesada, bons para ajustes, foram
borda fora quando chegámos às ilhas Canárias. Se ficássemos ali muito tempo, com a âncora
flutuante a travar-nos a marcha, teriam tempo de nos apanhar! Piada de mau gosto. Situação
desesperada, sem saída possível. Boa noite a todos. Agora vamos dormir. Amanhã pensaremos em
soluções. Com um remo sem pá e o outro a não funcionar, não valia a pena governar o barco. O mar
podia encapelar -se outra vez que a âncora flutuante manter-nos-ia no rumo e não o deixaria jorrar
pela porta da cabina dentro. Fizemos vigia à noite, unicamente para evitar que navios grandes nos
metessem a pique.
Naquela noite, desistimos de tentar dormir. Voltámos ao Ra 1, àquelas últimas noites em que o mar
ganhou caminho. Toneladas de água desfizeram-se contra a parede de trás, no lado de estibordo.
Muito agitadas, encapelaram-se à nossa volta, gorgolhando e cacarejando. Debaixo do chão da
cabina, onde se formou uma fenda larga e profunda entre os dois rolos de papiro que nos
aguentaram a boiar, a água corria para cá e para lá, como se fosse um rio. A água caía sobre o
papiro e ficava presa nas fendas, entre as canas por onde devia sair. Mas as canas incharam tanto
que fecharam as fissuras e a água não tinha tempo de escoar. Novas torrentes caíam a bordo e
enchiam a banheira até à borda.
Dentro do saco-cama, fui sacudido de um lado para o outro sem pregar olho, até que chegou a
minha vez de fazer vigia. Só cá fora, junto à porta da cabina, adormeci profundamente, sentado no
banco de bambu, com o cabo de vaivém bem justo. Acordei, assustado e desnorteado. Um morcego,
ou talvez um mocho, deu várias voltas por cima da minha cabeça, saltou entre os estais e acabou
por vir direito a mim. Mas, ao descer para o ataque, o nosso visitante nocturno ficou com uma asa
presa a um cabo, vacilou e acabou por pousar no banco onde eu estava. Era um pombo! Era o nosso
companheiro de viagem, com a mesma anilha na pata! Saltou do tecto da cabina, assustado com a
luta entre a vela e as ondas, sentiu a falta do companheiro na ponte, agora deserta e abandonada.
Triste e solitário, saiu do cesto que lhe servia de ninho. Procurou em vão outro lugar mais seco e
acabou por ficar exausto, sentado aos pés dos sucessivos vigias, até ao romper do dia. Ao redor de
nós, o Atlântico recomeçou a invadir nos. Nos dois lados da cabina, a água entrava a jorros. A
sotavento, corriam riachos de água sobre os nossos pés, de um lado para o outro, enquanto não
escoavam completamente.
Que barco espantoso! Só foi pena ter começado a ficar estanque à água, como qualquer navio
normal. A água já não filtrava com a mesma rapidez pelo casco, cujo fundo servira de vazador.
O dia seguinte ainda foi um inferno. Mortos de cansaço, patinhámos entre a espuma de água, para
salvar as ânforas que estavam no lado mais fustigado pela tempestade. Atirámos as quebradas ao
mar, reajustámos a carga que ficou solta, tesámos os estais, remendámos velas e puxámos pela
cabeça para inventarmos o processo de retomarmos o governo do barco. Na situação em que nos
encontrávamos, saturados de água e no ponto de encontro das ondas, a vitória final do mar seria só
uma questão de tempo. A madeira e as canas estavam seguras por cordas, que, de um momento
para o outro, poderiam quebrar sob aquela tensão enorme. O papiro estava atado em espiral apenas
por uma corda de catorze milímetros de espessura - um dedo mindinho de uma pessoa. A cabina, os
pés dos mastros e a ponte estavam fixos ao papiro por cabos ainda mais finos - oito milímetros entrançados em três, semelhantes à cauda de um porco. Os índios não quiseram passar cordas mais
grossas entre os feixes de papiro. Mas nós dançámos como uma bola. Se as ligações da cabina, da
ponte e do mastro não tivessem ficado bastante flexíveis, o mar teria feito tudo em pedaços com a
mesma violência com que estilhaçou a madeira e vergou o metal. Durante os primeiros dias, o mar
não levou a melhor com a bola de canas, porque escoava entre os molhos. Mas, depois, usou de
outro estratagema. Pouco a pouco, foi nos abordando e ficou retido no convés, constituindo peso
inútil que só serviu para nos afundar. Era isso o que estava a acontecer a uma velocidade incrível,
em parte devido às toneladas de água represas no fosso entre os dois rolos de papiro, em parte
porque a água, entrando por cima, começou a encharcar a metade superior dos rolos, que até ali se
conservaram secos e leves. O papiro começou a ficar ensopado e pesado, de cima baixo.
Estávamos outra vez a ir ao fundo, e essa realidade poderia bulir com a nossa tranquilidade de
espírito. Porém, aparentemente pelo menos, não havia sinais de que algum de nós estivesse com
medo. Todos estávamos intimamente decididos a aguentar. Fizeram-se sugestões, que, após
devidamente ponderadas, não foram aceites por unanimidade. Madani, que não assistiu ao que se
passou no Ra 1, chamou-me à parte e, preocupado, perguntou-me se corríamos perigo. Respondi
que, por enquanto, não. Voltou a desfazer-se em sorrisos. Kei sacudiu a água dos ouvidos e do
cabelo negro luzidio e, com um rasgado sorriso amarelo, foi-me dizendo que não fazia ideia que
pudessem existir ondas como aquelas.
Graças à âncora flutuante, o barco virou um pouco mais a proa para as ondas. Se a recolhêssemos,
voltaríamos a ficar de través e as ondas apanhavam-nos a toda a largura. Por outro lado, com a
âncora, permanecíamos parados, por consequência, sem possibilidades de fazermos alguns
progressos, ainda que diminutos. A mil e novecentas milhas marítimas do ponto de partida e a cerca
de mil trezentas e cinquenta da meta, ali estivemos parados em pleno Atlântico, a meter água.
Perdemos dois dias completos a tentar salvar a nossa pele e a carga. Fomos obrigados a reconhecer
a impossibilidade de consertar o remo de direcção. As ondas continuavam a subir a vinte e vinte e
cinco pés de altura, intercaladas com algumas de trinta e trinta e
cinco. Dentro da cabina, numa folha de bloco, desenhei a pá do remo que se soltou, as duas partes
da haste partida e a altura da ponte, para indicar a distância entre as duas forquilhas de madeira que,
em baixo e em cima, seguravam o eixo oblíquo do remo. Pelo desenho, constatámos que, se
atássemos a parte superior e mais comprida da haste à parte superior da pá, a ponta da haste
atingiria, ajusta, o chão da ponte. Assim fizemos, utilizando um sistema resultante dos nosso
esforços conjugados. De pé na ponte, o homem do leme torcia o remo de direcção de estibordo com
a mão direita, enquanto, a bombordo, virava a haste encurtada, servindo-se de uma corda atada a
um pé e de uma estaca comprida de bambu que segurava com a mão esquerda. Foi um autêntico
trabalho de acrobacia. E a manobra ainda se tornava mais difícil quando o mesmo timoneiro se via
obrigado a tesar as escotas que atavam o corrimão da ponte. O barco estava já tão dentro de água
que o efeito combinado dos' dois remos de direcção nem sempre era suficiente. Quando o barco não
obedecia aos dois remos, havia que utilizar também a vela, única maneira de não ser apanhado de
través pelas ondas e pelo vento.
O Ra 2 estava completamente submerso, quando ao cair da tarde do segundo dia aprontámos tudo
para pormos em prática o novo sistema. Todos sabíamos que nos esperava trabalho muito duro, se
queríamos completar a segunda metade da viagem. A posição melhorou um pouco logo que
colocámos o remo estropiado no seu lugar. Conseguimos virar a popa para o mar, recolhemos a
âncora e navegámos para oeste com a vela rizada. No outro dia, arriscámos deslizar e içar a vela
grande, que, mais uma vez, nos levantou acima do nível da água e nos arrastou à velocidade de três
nós, ou seja, a mais de cem quilómetros por dia. Mas só o convés ficou acima da linha de água. A ré,
o mar continuou a entrar por um lado e a sair pelo outro. A nossa frente, ondas pesadas atiravam-se
sobre nós quando nos sentávamos à roda da capoeira, como antes. Comprimidos uns contra os
outros, comíamos nas escadas do mastro, imitando os pássaros pendurados nos ramos das árvores.
- Temos de fazer uma barreira contra as vagas, para a água que fica a bordo ter tempo de escoar.
De contrário, naufragamos -, declarou Yuri, e entreteve se a estender uma faixa de lona à frente dos
estais do mastro, a estibordo. Segurou a, ao alto e em baixo, com corda grossa.
- Calma, Yuri! - E todos riram. - A próxima onda rasga isso tudo. - Mas Yuri, resoluto, continuou.
A espuma da onda que se seguiu bateu na parede da cabina e, devagar, fez um bojo na lona, por
onde escorreu borda fora. Só alguns pingos ficaram no convés. A lona canalizou o resto para fora.
Yuri, triunfante, sentou-se na capoeira a comer, enquanto nós, de olhos esbugalhados, descemos do
mastro, com os pratos nas mãos. Veio outra onda e a cena repetiu-se. Sentámo-nos à mesa, cheios
de admiração por Yuri, o mágico, que controlou o mar com uma parede de lona. O segredo, afinal,
era simples. A ponta de papiro, a ré, ao embater na onda, separava-a em duas. Ora, a cortina de
lona destinava se a canalizar para fora da amurada a água que se encapelava nos dois lados do
barco.
- Mais lona!
Tirámos a faca da bainha e cortámos a lona que cobria a parede da frente da cabina. Passámos a
ver através do vime a capoeira, os mastros e o mar. Depois, cortámos também a vela grande que
tínhamos de reserva. Yuri pendurou os bocados de tal maneira que passámos a viver atrás de um
biombo vermelho, laranja, verde e amarelo. As ondas fluíam pelo biombo, dando lhe um toque ligeiro.
Os estais do mastro balouçavam ao vento, lembrando cordas de estender roupa. Só pequenas
porções de água ficavam a bordo.
- Ah, seus ciganos! - gritaram Carlo e Georges, rindo às gargalhadas, quando nos estavam a filmar
da pequena embarcação de borracha que levámos para o efeito. Deitámos as cabeças fora do
biombo multicolor, da autoria de Yuri, e ficámos a vê-los desaparecer atrás das ondas.
- Voltem para trás - gritei lhes. - Venham para bordo de um barco decente, antes que vão ao fundo.
Antes tínhamos inflado a embarcação para nos filmarmos com bom tempo e mar calmo. Agora, já
nos sentíamos tão à vontade na água salgada e sobre grandes vagas que nos tornámos temerários.
Os dias e as semanas rolaram com as ondas. No intervalo de um ano, os seis que fizemos parte da
tripulação do Ra 1, vivemos juntos sobre rolos de canas, perto de quatro meses. A seguir ao acidente
com o remo de direcção, foi necessário racionar a água: meio litro a cada um por dia e nove litros
para a cozinha. Algumas ânforas partiram; noutras entrou água salgada. Nem queria lembrar que
fomos nós, em plena calma, que atirámos ao mar o conteúdo da maioria dos sacos de pele! Era
preferível não tocar em assunto tão delicado. Que impetuosidade! Carlo apareceu com as virilhas em
chaga. Yuri receitou duas lavagens por dia com água doce. Carlo nunca consentiu em gastar mais
que uma chávena. O pato, o pombo e o macaco beberricavam tanto como um homem, por dia.
Georges protestou energicamente contra a decisão de animais inocentes serem racionados como
nós, homens. Santiago também não estava de boa saúde. Antes do início da viagem foi operado,
porque tinha pedras num rim. Por consequência, não devia comer carne salgada, nozes, vegetais
secos, ovos. Exactamente aquilo que predominava nos nossos menus. Sentia-se fatigado mas
cumpria o trabalho que lhe competia, sem um queixume. Sempre que podia, deitava-se de costas, no
canto mais recolhido da cabina, onde Yuri o mantinha em observação.
Certa noite todos nos sentíamos muito cansados. De cara sombria, Santiago saiu da cabina e veio
sentar-se ao pé de nós, na capoeira. Fixou Carlo com o olhar e depois Georges.
- Pela parede da cabina, ouvi algumas observações indecentes! Carlo explodiu! - Larga esse ar de
professor.
- Aguenta um pouco mais, como todos nós - interrompeu Georges. - Se te ofereces, como voluntário,
para substituir um timoneiro cansado, voltas dez minutos antes do render de vigia.
As acusações choveram. Carlo, o trabalhador, e Georges, o playboy, que na viagem anterior tiveram
dificuldade em se entender, tornaram-se bons amigos. Naquela altura, a calma do professor de
antropologia bulia-lhes com os nervos. Acusaram-no de estar estendido a um canto, psicoanalisando
os outros enquanto trabalhavam. Além disso, a ele se devia a ideia peregrina de, novamente, termos
a comida e a água em cântaros, em vez de em latas leves. A viagem no Ra 1 provou que é possível
viver sem comida moderna. Porque havíamos de o demonstrar segunda vez? Uma vez que nos
persuadiu a levarmos outras cem ânforas, tinha obrigação de as ter acomodado de forma a não
partirem. Assim, ter-se-ia evitado o racionamento.
- As ânforas são tão leves como as latas. E quem foi que despejou os sacos de pele grandes para o
mar?!
Travou-se terrível duelo de palavras. Explodiram insinuações e irritabilidades contidas. Foi se o
apetite. Santiago continuou a bater com a saboneteira na escada do mastro, entontecido pelo ataque
uníssono de todos os outros.
- Carlo - disse eu -, tu és alpinista profissional, portanto, um homem com vasta experiência de
expedições. Não te devia passar pela cabeça que um professor universitário pudesse competir
contigo a dar nós e a pegar em pesos. Tu pareces um padre; és tão perfeito que queres que os
outros façam tudo como tu.
Foi o pior que eu podia ter dito. Carlo levantou-se devagar, com as faces mais vermelhas que a
barba ruiva, e passou a mão pelo cabeloespesso.
- Eu, um padre!
Esteve uns minutos sem falar, a engolir em seco. Depois olhou-me. A seguir voltou-se para Santiago
e estendeu-lhe a palma da mão, cheia de calosidades.
- Pronto. Não se fala mais nisto, rapazes!
Por cima da capoeira, cruzaram-se os braços para apertos de mão. Norman foi buscar as
harmónicas, para ele e para Kei, e Madani o tambor marroquino. Quando, duas horas depois, me fui
deitar, adormeci ao som festivo de um coro e orquestra cujo reportório representava sete regiões
diferentes do globo.
No ano anterior, a experiência com o fia / ficou reduzida a uma viagem ao sabor da corrente, logo a
partir do primeiro dia, em que os dois remos de direcção quebraram. Os elementos arrastaram-nos
para oeste, mas desenhando uma curva. Dirigíamo-nos para Barbados, a sul da cadeia das índias
Ocidentais, quando interrompemos a experiência. Naquela altura íamos a navegar bem. Decidimos,
por isso, fazer rumo para a ilha onde a própria natureza nos teria levado na viagem anterior. Todos
os dias, a distância para diante era medida em milhas marítimas, a partir de Barbados. Não
podíamos ter escolhido melhor caminho para termos vento e mar morto pela popa. Só à custa de
esforço sobre humano, o timoneiro conseguia evitar que o barco, sempre mais encharcado, desse
por de avante e abatesse de través na direcção de Barbados. Após uma noite de vigia, ficávamos
completamente estourados, incapazes de endireitar os dedos, cheios de cãibras. Quando o barco
fazia cabeça, virava por de avante e o mar entrava em fúria para bordo, era como se demónios
andassem à solta a coberto da noite. A lona de Yuri rasgava se e choviam as pragas sobre o pobre
timoneiro, enquanto sete homens despidos atavam os cintos de salvação. Corpos nus saíam para a
escuridão, cobertos até à cintura pela água agitada, para virar ou alar; para armar ou tirar fora os
remos da popa; para salvar a carga. Como medida de precaução, alguns pediram para não fazerem
vigia sozinhos. Então, passámos a fazer três horas consecutivas, em vez de duas, mas com dois
homens na ponte.
Não foi preciso muito para nos capacitarmos de que se impunha inventar qualquer outra coisa para
substituir aquele sistema tão trabalhoso de governar o barco. Sentíamo-nos rendidos.
- Se, ao menos, pudéssemos avançar um pouco os mastros para vante - cismava eu uma noite,
quando Norman fazia vigia comigo na ponte. - Se a vela desse por de avante para a proa, o barco
acabaria por abater para a linha do vento.
- Até podemos - respondeu Norman, entusiasmado. Sem nos dar tempo a perceber o que ele
pretendia, na manhã seguinte metemos mãos a uma obra extremamente difícil. Queria inclinar o tope
do mastro duplo e pesadíssimo, para deslocar a vela grande para vante.
Norman começou a escavacar as bases dos mastros com uma machadinha, para obrigar o pé a
inclinar. A seguir, com todo o cuidado, brandeámos os doze estais paralelos, que, a ré, corriam dos
mastros para cada um dos lados do barco. Depois, inclinámos para vante o duplo mastro, de trinta
pés de altura e duzentos e setenta quilogramas de peso. Logo que puxámos o tope do mastro, a
verga avançou também. Quando tornámos a tesar os estais, a vela grande, curvada pelo vento, ficou
pendurada mesmo sobre a proa do navio. O governo do barco melhorou consideravelmente,
porquanto o nosso único objectivo era seguir o vento.
O Ra 2 desatou a navegar para oeste a uma velocidade deslumbrante. Deixou de ir ao fundo logo
que o papiro submerso passou a ser suficiente para contrariar a carga extra que o convés foi
adquirindo sob a forma de água salgada. Decorridas cinco semanas, a partir da largada, deixámos
de ir ao fundo, mas só uma pequena parte do convés estava acima da superfície da água. As lapas
multiplicaram-se em cima do papiro do convés, a todo o comprimento da parede da cabina exposta,
a estibordo. Madani continuou, diariamente, a apanhar detritos oleaginosos.
Num dia de chuva e fortes rajadas de vento, a vela ficou presa à proa, esguia e elegante. Virou um
pouco mais de esguelha e a costura da base rasgou. Logo a seguir ao casco, o mais importante para
nós era a vela. Ouvida a opinião de todos, resolvemos sacrificar a proa. Carlo sentou se,
escarranchado sobre ela, de serrote na mão. A cautela, atámos com força uma corda à volta da proa,
para as canas não se separarem quando as duas cordas em espiral que as sustinham fossem
cortadas pelo golpe que ia separar a ponta. Mas os construtores índios estavam no certo. A corda
estava tão bem introduzida e tão justa ao pequeno molho de centro que nem com o esforço
combinado de todos fomos capazes de a soltar. As canas de papiro estavam tão apertadas e tão
inchadas que, depois de o serrote vandálico ter cortado a ponta, a secção transversal da frente dava
a ideia de uma fatia enorme de cebola. O Ra 2 ficou com uma linha mais moderna e mais sóbria.
Através da parede de vime da cabina, e por baixo da vela, via-se nitidamente o horizonte. Foi como
se as portas interiores das janelas da arca se tivessem aberto, para nós começarmos a procurar
terra.
Não muitos dias depois, resolvemos cortar também a ponta da popa. Desaparecida a proa, ficou a
funcionar como uma vela de bolina cerrada e o caminho deixou de ser constante. Além disso,
achámos que devíamos reduzir o peso tanto quanto possível. Foi com muito pouca segurança que
retirámos a célebre corda de arco da ponta arqueada e a atámos à cauda de galinha, larga e chata,
que ficou depois do corte. Porém, a rijeza daquele barco sem rival nunca foi afectada pelas nossas
intervenções. Uns atrás dos outros, deslizámos por uma corda e, felizes, mergulhámos pela água
dentro. Foi com verdadeira alegria que transmitimos, aos que ainda não tinham visto o Ra 2 debaixo
de água, que ele continuava rígido, firme, completo. Nem canas, nem cordas deslocadas. Estava,
sim, coberto de conchas vivas, parecidas com pequenos cogumelos pretos e brancos, salpicados de
franjas amarelas ondulantes.
O pequeno aparelho de rádio saiu do caixote menos vezes durante esta viagem. Sabíamos que as
nossas famílias estavam mais tranquilas e sentíamos relutância em maçá-las para transmitirmos um
simples «tudo bem a bordo». Mas, durante a última metade do segundo mês, navegámos tão
depressa e avançámos tanto que achámos que lhes podíamos transmitir a hora e local aproximados
do desembarque. A Ivone fez as malas e, acompanhada das nossas filhas, apanhou o avião para
Barbados.
Passado pouco tempo, Norman entrou em contacto com um radioamador de Barbados e ouvimos a
voz de Ivone. Ficámos supreendidos com seis perguntas técnicas que ela nos fez sobre a vida no
mar. Mas, logo a seguir, explicou que as respostas tinham o maior interesse para o encarregado de
um plano sobre biologia marítima, acabado de instalar em Barbados pelo Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento, das Nações Unidas. Referimos a escolta fidelíssima de pequenos amigos a nadar
sob o nosso chão de canas; algumas douradas que perseguiam os peixes-voadores e numerosos
bandos de pássaros marinhos da América do Sul, circundando o horizonte a sul e a oeste, onde
atuns cintilantes explodiam do azul do mar, lembrando foguetões prateados. No dia seguinte fomos
avisados de que um barco de pesquisa das Nações Unidas iria ter connosco.
No dia 25 de Junho, uma libelinha castanha de quatro asas voou, alvoroçada, sobre nós. Estaríamos
tão perto de terra? Ou teria o insecto apanhado a boleia de algum barco que passou do outro lado do
horizonte? A escassez de barcos foi sempre aumentando. Só fomos abordados por um ou dois no
tráfego ao largo da costa de África.
Navegámos a toda a velocidade para a zona onde, no ano anterior, tínhamos abandonado o Ra 1,
depois dos dramáticos últimos dias de viagem. Um grito vindo da ponte chamou a nossa atenção
para um tubarão que, com fúria, mordia a bóia vermelha que trazíamos a reboque, para o caso de
algum cair à água. Exactamente na mesma localização em que, um ano antes, encontrámos tantos.
Mas aquele solitário depressa abandonou a bóia e desapareceu, rumo ao norte. Aos tubarões não
interessava uma embarcação como o Ra 2, que não precisava de ser reparada debaixo de água.
A 26 de Junho o mar desatou a engrossar com violência. As ondas corriam por cima de nós, com as
cristas a espumar, como spray saindo de uma charrua rotativa para neve. De nuvens densas, a
chuva caía a cântaros. Aproveitámos para tirar o sal dos nossos corpos. Escorria pelos braços.
Podíamos ter recolhido alguma água da chuva, mas, a navegar a tão boa média, entendemos que as
rações bastariam. No tecto, o pato bamboleava-se e beberricava nas poças. Safi tentava a todo o
custo entrar para a cabina, a remo de direcção de estibordo ficou cravado nas forquilhas e chegámos
a recear que partisse. Kei mergulhou e soltou-o. Quando o dia seguinte rompeu, o pombo manso
tinha desaparecido. Havia já algum tempo que andava inquieto, voava em círculos largos sobre o Ra
2, mas voltava sempre, para debicar os grãos da tigela que estava no telhado da cabina. Porém, no
dia 27 levantou voo para sempre. O Dilúvio estava prestes a terminar. A Arca perdeu a sua pomba.
Sentimos saudades dele. Teria apanhado vento de terra? A costa mais próxima era a da Guiana
francesa, a sul. O pombo temerário levava então duas anilhas: uma com o número de Espanha e
outra que dizia: «Ra 2».
A 28 de Junho, repentinamente, á temperatura da água subiu dois graus e deixámos de encontrar
bocados de óleo. Teríamos passado para outro ramal da corrente? Pareceu-nos estranho, pois, ali
mesmo, abandonámos o Ra 1 atolado neles e o mar move-se num círculo contínuo entre os
continentes.
No dia 29 do mesmo mês, apareceu solta, à tona de água, a corrente de Safi. Pânico a bordo. Por
fim, do alto do mastro, ela olhou-nos, triunfante. Estava livre. Nem os cocos, nem o mel a tentaram a
descer. Mas, quando Yuri lhe mostrou o brinquedo favorito, uma rã de borracha verde, muito feia e
que dava guinchos agudos, disparou cá para baixo que nem um raio. Ela alegrou-se por apanhar a
rã; Yuri, por recuperar a macaca. Mal terminou esta cena, ouvimos Norman gritar dentro da cabina.
Captou o posto do navio de pesquisas das Nações Unidas, Cálamar, já muito perto de nós. Pedia
que, ao anoitecer, lançássemos foguetões, para, assim, mais facilmente nos localizarmos.
Nessa noite passámos por um susto que não esperávamos. Norman acordou me em voz baixa, para
o render de vigia. Junho 30, às 0 30 horas. Saí do saco-cama e enfiei as peúgas. Corria uma aragem
agreste e fazia frio na ponte. Depois, tornou a chamar por mim, aterrado:
- Depressa, depressa! Olhe para ali!
Lancei-me pela abertura da parede de vime, seguido de Santiago. Trepamos ao telhado da cabina,
para onde Norman apontou.
Pensei no Dia do Juízo. A bombordo, na linha do horizonte e para noroeste, via-se um disto plúmbeo
que nunca se separou da água, mas que foi crescendo, crescendo, como o espectro de uma lua cor
de alumínio, semiescondida pela borda do mar. Semelhante a uma nebulosa compacta, mais
brilhante que a Via Láctea e em simetria circular, foi aumentando de tamanho como um cogumelo
sem pé e deu-nos a ideia de avançar para nós, ao mesmo tempo que se espalhou pelo céu. A Lua
continuou no lado oposto, no meio do céu estrelado, sem nuvens. Apanhado de surpresa, pensei que
seria a reflexão de algum projector muito forte contra uma faixa de humidade. Ou, talvez, uma nuvem
atómica provocada pelos desvios dos homens; ou, ainda, o fenómeno da aurora boreal. Mas, para
além destas hipóteses, persistiu a sensação de que uma chuva de corpos estranhos cintilantes caiu
do cosmos sobre nós e chegou a cobrir cerca de trinta graus do céu. Por fim, parou de crescer,
evaporou quase imperceptivelmente e desapareceu de todo. Ficámos sem uma explicação.
A certa altura, fomos nós a lançar chamas vermelhas e foguetões de chuva de estrelas, para
indicarmos ao Calamar a nossa posição. Foi uma noite fantástica, passada em atmosfera bizarra.
Ouvimos a voz do telegrafista do Calamar dizer que não tinham visto os nossos sinais, nem o disco
de luz. Na manhã seguinte, um radioamador de Barbados comunicou que o fenómeno foi observado
em algumas ilhas das índias Ocidentais, mas só na direcção nordeste. Terá sido a secção de algum
foguetão de cabo Kennedy que se desintegrou e explodiu na atmosfera? Nunca soubemos. Os
entusiastas dos UFO, sempre na busca de provas concretas quanto à existência de discos voadores,
confundiram o fenómeno com duas outras observações que nós também testemunhámos em duas
noites seguidas, posteriormente. No horizonte, a noroeste, vimos luzes semelhantes a pequenas
laranjas. Uma apareceu de repente, como um relâmpago, sem vermos sinais de navio. A outra
observámo-la a deslizar em diagonal, como uma gota que cai e desaparece no mar. Avisámos os
postos de terra, para a hipótese de serem foguetões de navios em perigo. Nenhum captou S. O. S.
Portanto, tudo leva a crer terem sido sinais entre navios da marinha de guerra em exercícios ou,
talvez, algum submarino a indicar a sua posição à superfície.
Enquanto nós navegámos sempre direitos a oeste, a todo o pano, o Calamar passou a noite aos
ziguezagues à nossa procura. Tínhamos poucos foguetões, mas estivemos sempre de atenção no
tope do mastro. 0 Sol nasceu. E, ao romper do dia, Norman, ocupado com o sextante, o ábaco e o
rádio, foi-nos informando de que o Calamar devia estar já muito perto. Ora mais para norte, ora mais
para sul. Mas sempre escondido atrás de uma bicha infindável de ondas. Almoçámos e... jantámos.
Deixámos de pensar no encontro. O sol dos trópicos estava quase a pôr-se mais uma vez. Hora
local, 6 p. m., embora os nossos relógios marcassem 9, porque só os acertámos uma única vez
depois de sairmos de África. Foi então que os vigias dos dois barcos se viram um ao outro. Eles
informaram que viram uma vela e nós uma mancha verde quase invisível no horizonte, nas nossas
costas. Caía a noite quando o barco nos abordou por detrás. Foi um grande momento.
O barco de arrasto aproximou-se de través e saudou-nos, subindo e baixando a bandeira azul das
Nações Unidas, que esvoaçava no mastro. Norman trepou ao tope do nosso mastro e respondeu
com a nossa bandeira, também das Nações Unidas. Estava reduzida a dois terços: a tempestade
despedaçou o resto. Exultámos de alegria. Corremos para a ponte, para o tecto da cabina, para o
mastro, agitando e soprando o cornetim. Debruçados no corrimão, os tripulantes do barco da O.N.U.
- mestiços, pretos e brancos - corresponderam aos acenos. Na ponte, via-se o comandante. Era
chinês. Um homem que se encontrava ao lado dele gritou, em espanhol, pelo altifalante:
- Bem-vindos à parte americana do oceano!
Aquele chinês na ponte fez transbordar a alegria de Kei. Veio ter comigo ao alto da cabina e
estendeu-me a mão.
- Obrigado por me ter deixado vir.
O encontro teve qualquer coisa de irreal: o facto de um barco das Nações Unidas ser o primeiro a
receber-nos do outro lado do oceano. Nunca vi a bandeira das Nações Unidas em qualquer outro
barco senão no nosso. A escuridão cercou completamente o mar. O barco, muito bem iluminado,
circundou-nos durante algum tempo. Depois, parou a máquina e ficou à deriva. As luzes foram
desaparecendo atrás de nós. Deixaram-nos sozinhos com as ondas e a lanterna de parafina.
Confortados, mas sempre solitários.
Já tarde, nessa mesma noite, percebemos que a viagem ainda não tinha terminado. Uma rajada de
vento norte, fortíssima, levou a vela por de avante. Os vigias que estavam na ponte não tiveram
tempo de lhe acudir. A pressão do vento sobre a vela foi de tal ordem que o navio deu de banda para
bombordo e o convés ficou debaixo de água. Foi para nós uma sensação desconhecida rolarmos
dentro da cabina para sotavento e imediatamente encontrarmo-nos dentro de água, água que não
era já as vagas espumosas atravessando o barco, mas a própria superfície do mar, como se tivesse
entrado para ficar. Pela primeira vez durante as minhas viagens em embarcações tive a sensação
nítida de que íamos direitos ao fundo. O barco não flutuava. Alarido, gritos, archotes a arder. Madani,
com a água pela cintura, não tinha a corda de segurança posta. O biombo que Yuri colocou a
sotavento, à custa de tanta persistência, fez-se em tiras. Mas o vento acabou por rondar para leste,
direcção a que nos habituáramos, e oito marinheiros, já feitos às peripécias sobre o papiro,
conseguiram virar a vela para a devida posição. Lentamente, e à medida que a água foi escoando, o
fia // endireitou. O convés voltou ao nível a que esteve durante os últimos tempos de viagem. Mas
três ânforas, que, até ali, se aguentaram a salvo, porque estavam a bombordo, a sotavento,
esmigalharam-se. Como andava descalço, cortei os dedos de um pé, que Yuri teve de ligar. Pelo
lado de bombordo, infiltraram-se algumas caravelas, de finos, brilhantes e pungentes tentáculos.
Georges sentia-se a queimar enquanto respondia à chamada da natureza. Teve de tomar banho em
amónia.
No dia seguinte, o Calamar, que parou a máquina durante a noite, teve dificuldade em nos apanhar.
A bordo da traineira não acreditaram que um barco de canas, durante algumas horas, pudesse
avançar muito. Pois, apesar das nossas tribulações, fizemos setenta e cinco milhas marítimas, ou
seja, cento e quarenta quilómetros, nas vinte e quatro horas.
O Calamar entregou-nos o correio, pomada para as feridas de Carlo, sacos com fruta deliciosa de
Barbados e uma caixa grande com sorvete, que derreteu durante a viagem no barco de borracha e
nos chegou feito em creme. O Calamar esteve dois dias connosco. Depois, acelerou os motores e
seguiu em frente. Saudou-nos, desejando boa viagem até Barbados. Estávamos, mais uma vez, nas
águas das índias Ocidentais onde os furacões do Atlântico têm origem. Princípios de Julho, mas
tempo incerto. Todos os dias o vento atirava sobre nós cargas de água, escuras e fortes. De tempos
a tempos, fundeávamos a bóia flutuante e víamo-nos aflitos para aguentar a vela. Mas, em geral, o
vento e a corrente mantinham-se a nosso favor. Nos últimos dias, atingimos a média mais elevada de
toda a viagem: oitenta e uma milhas, isto é, cento e cinquenta e um quilómetros, por dia. Passámos a
cruzar com frequência os navios de carreira entre o Norte e o Sul da América.
A 8 de Julho, faltavam-nos duzentas milhas para chegarmos a Barbados. As autoridades da ilha
mandaram uma lancha do Governo, o Culpeper, desejar nos as boas-vindas àquele cantinho
independente do Império Britânico. Os únicos passageiros a bordo eram a Ivone e a nossa filha mais
velha, Anette. Se acertassem com a nossa posição, devíamos encontrar-nos ao fim da tarde.
Mas passou a noite e o outro dia, e o Culpeper, sempre a navegar na nossa proximidade, não nos
descobriu. O tempo não estava nada bom. Interceptámos um comunicado da lancha para a estação
em terra dizendo que fazia vaga alta e que a mulher do marinheiro do barco de papiro estava
enjoada, mas, corajosamente, insistia em que se continuasse a busca. E assim foi, por mais duas
noites e dois dias. Ao anoitecer do segundo dia convencemo-nos de que chegávamos a terra antes
da lancha do Governo, pois faltavam-nos umas escassas cem milhas. Nesse momento, o Culpeper
apareceu num ponto não previsto do horizonte e alcançou-nos pela popa. Chata, larga, própria para
o mar - o protótipo de barco para passageiros -, manobrou para ficarmos borda com borda. A
tripulação negra rodeava as duas senhoras brancas, que, debruçadas no corrimão, nos acenaram.
Mas, como é óbvio, tiveram dificuldade em distinguir as criaturas queimadas pelo sol, cabeludas e de
barba comprida, que do tecto de bambu corresponderam às saudações. Entretanto, a tripulação do
Culpeper concentrou-se em Madani, supondo tratar-se de um marinheiro de Barbados. Madani, o
homem de terra de Marraquexe, deu um show aos mirones. Lançou a cana com um bocadinho de
carne salgada a servir de isca e, não tardou um segundo, içou cinco pâmpanos e um peixe
desconhecido verde prateado, da mesma família. Ao pôr do Sol, Georges mergulhou até ao
Culpeper, para efectuar uma permuta de géneros, moralmente aceitável: peixe fresco, pão do Egipto
e os sempre saborosos sello de Marrocos, em troca de, dispensáveis quão apetecíveis, laranjas.
Estava ele no convés de ré, pronto para voltar a nado para o Ra 2, enquanto o holofote do Culpeper
brincava sobre as ondas, para lhe indicar o caminho, quando um dos negros da tripulação o susteve
e lhe perguntou se nós não tínhamos medo dos tubarões.
- Não - respondeu Georges, desdenhoso. Mas engoliu a vanglória quando o homem apontou para
um daqueles animais a deslizar calmamente na esteira do barco, iluminada pelo holofote. A nossa
embarcação de borracha ficou tão gasta de roçar nas ânforas de barro que não nos atrevemos a
lançá-la à água. Georges passou a noite no Culpeper. Na manhã seguinte, regressou numa
embarcação sem remos, que foi rebocada pelo Culpeper e depois içada outra vez para bordo.
O Culpeper este na nossa alheta de bombordo toda a noite. No dia seguinte, 12 de Julho, grandes
bandos de pássaros marinhos começaram a chegar de oeste. Sinal evidente de terra quase à vista.
Era domingo. Norman e eu estávamos na ponte fazendo vigia das cinco às oito, desejosos de
sermos rendidos. Dali a pouco, Carlo e Kei tiraram da camada de cal que os envolvia os nossos
últimos ovos. para serem estrelados. Almoço de domingo. Ainda havia muitas provisões. Vários
sacos de mummy bread do Egipto, dentro dos caixotes onde nós dormíamos, paios e presuntos
pendurados no tecto da cabina e algumas ânforas com sello, a mistura de amêndoa, mel e tudo
quanto um viajante do deserto de Marrocos precisa. Nunca passámos fome, por isso estávamos em
boa forma. De repente, notei uma coisa e agarrei o braço de Norman.
- Não sentes? - disse eu, aspirando o ar salgado do mar. - Fantástico, o cheiro inconfundível de erva
acabada de cortar!
Continuámos os doÍ6 a cheirar. Havia cinquenta e sete dias que estávamos no mar. Santiago, Carlo
e os outros juntaram-se a nós. Os que não eram fumadores sentiam o cheiro nitidamente. E garanto
que me cheirou, também, a estrume de vacas, a terra lavrada. Estava escuro como breu, não se via
nada. Mas sentíamos o movimento das ondas num ritmo diferente. De certo modo, devia ser o
marulhar de terra. Empurrámos os dois remos de direcção para estibordo, donde o vento vinha, e
aguentámos o rumo o mais para norte possível. Custa a crer que um barco de papiro quase
submerso pudesse navegar tão bem de bolina cerrada.
Norman, Carlo e Santigo fizeram turnos no alto do mastro durante a manhã. Ao meio-dia e um quarto
ouvimos um grito por cima das nossas cabeças:
- Hurra!
Norman avistou terra. A Safi desatou aos gritos e o pato bateu as asas. Como formigas, trepámos
pelos degraus dos mastros, quais bandeiras a representar as respectivas nacionalidades. A
estabilidade do Ra 2 naquele momento era boa. A sirene do Culpeper apitou. Passados instantes,
todos víamos a terra baixa e plana, a noroeste do horizonte. Na véspera, tentando contrariar a
corrente que se dirigia para norte, mesmo junto às ilhas, desviámos muito para sul. Fomos além das
expectativas. Por consequência, vimo-nos obrigados a virar a vela grande e a empurrar os remos
para a direcção oposta. De contrário, teríamos desembarcado para lá de Barbados, algures na
cadeia de ilhas que lhe ficam nas costas. Isso não teria grande importância, se os amigos e a família
não estivessem à nossa espera em Barbados. Ra 2 correspondeu à manobra exactamente como um
barco de quilha. O sulco profundo que atravessava o barco a todo o comprimento, entre os dois rolos
de canas, funcionou como uma contraquilha. O vento quase de través e a bóia encarnada a reboque,
à popa, quase morta, eram provas evidentes de que estávamos a navegar na direcção da proa. Sem
abatimento, direitos à costa baixa.
Quando nos sentámos à roda da capoeira para o almoço, sabíamos que seria a nossa última
refeição a bordo. À tarde ouvimos o zunido de um avião. Uma avioneta particular circulou sobre nós,
a balançar as asas. A seguir apareceu outro maior, um bimotor, onde vinha o primeiro ministro de
Barbados. Por fim, já eram quatro a fazer círculos à volta dos nossos mastros. Um deles desceu tão
baixo que a corrente de ar quase obrigou a vela a dar por de avante. A massa de terra elevava se
cada vez mais e o sol brilhava nos vidros das janelas, ao longe. As casas distinguiam-se cada vez
melhor. Penetrando pelo neblina de terra, muitos barcos puseram-se a caminho. Saltando sobre as
ondas, chegou uma lancha rápida, com a mulher de Norman, Mar Ano, e as minhas duas filhas mais
novas, Marina e Betinha, a bordo. Barcos dos mais variados tipos. Pessoas enjoadas, pessoas
alegres, pessoas maravilhadas. Alguns não conseguiam conter o riso trocista e, aos gritos,
perguntavam se, de facto, tínhamos vindo de Marrocos «naquela coisa». Vistos de fora, ficávamos
reduzidos a uma cabina de vime a flutuar sobre a água, atrás de uma vela egípcia de tamanho
descomunal, e dois molhos de cana emergindo da água, em cada ponta.
A cortina matizada de Yuri não ajudou a que causássemos boa impressão. Pelo contrário. Para cima
de cinquenta barcos de diferentes tipos e tamanhos escoltaram o Ra 2, enquanto este percorreu a
última etapa. Demandámos Bridgetown, a capital. Barcos à vela, lanchas rápidas, barcos de pesca,
iates, um catamaran, um trimaran, uma lancha da polícia, um em estilo Hollywood - armado em
galera de piratas -, cheio de turistas, e o nosso velho amigo, o Culpeper, criaram tal confusão à
nossa volta que Carlo, o amante do sossego, chegou a sentir a nostalgia da solidão no mar.
Georges, pelo contrário, sentia se no seu ambiente. Acendeu o nosso último archote vermelho e
instalou-se no telhado da cabina, qual estátua da Liberdade.
Assim terminaram as viagens Ra. Fora do porto de Bridgetown, arriámos, pela última vez, a vela
grande, tão desbotada que mal se lhe
via o disco solar. Ferrámo-la. A tripulação do Culpeper atirou nos um cabo de reboque.
O porto parecia uma pilha de formigas, a tal ponto estava apinhado de gente. Nas ruas, a mesma
coisa. Faltavam cinco para as sete nos nossos relógios. Acertámo-los pela hora de Barbados:
momento tão ansiosamente aguardado, pois acabávamos de fazer as três mil duzentas e setenta
milhas, ou seja, mais de seis mil e cem quilómetros, desde que pusemos pé em terra pela última vez.
Antes de arribarmos, achámos que era chegado o momento de nos despedirmos. Trocámos apertos
de mãos. Todos sentíamos a mesma certeza: foi devido ao esforço comum que levámos a bom
termo, e a salvo, a travessia do oceano.
Lançámos um último olhar a esse oceano que acabávamos de conquistar. Lá ficou, aparentemente
ilimitado, como no tempo de Colombo, como na época áurea da majestosa Lixo, como nos dias dos
Fenícios errantes e dos intrépidos Olmecs. Porquanto tempo poderão as baleias e os peixes fazer
travessuras dentro dele? Será o homem capaz de, à décima primeira hora, aprender a aproveitar os
desperdícios e desistir de fazer guerra à natureza? Serão as futuras gerações capazes de restaurar a
veneração e o respeito que o homem primitivo tinha pelo mar e pela terra, humildemente adorados
pelos Incas, Mama-Cocha e Mama Alpa, Mãe Mar e Mãe Terra? Se assim não for, de pouco valerá
lutar pela paz entre as nações, e muito menos comprometermo-nos em guerras, nesta nossa
embarcação... tão pequena.
O oceano não é interminável.
Numa das suas extremidades, saltámos nós, descalços, para a praia.
A corrente oceânica continuou a rolar sozinha. Cinquenta e sete dias. Cinco mil e setecentos anos.
Terão os homens mudado? A natureza, essa não mudou. E o homem é natureza.
Epílogo
Os pés secos. O cabelo seco. Tudo seco. Janelas fechadas. Lá fora, o vento agita as árvores. Em
compensação, o papel em cima da minha secretária não mexe, está imóvel. A minha cadeira
também. Tudo se mantém estável, fixo e firme. São e salvo, estou novamente no meu escritório. Por
entre os ramos das árvores que balançam, vejo água azul: o Mediterrâneo. A estrada nacional das
primitivas culturas; o elo de ligação entre os três continentes que o cercam, exceptuada a pequena
passagem de Gibraltar. O mar está cheio de carneiros brancos, mas para ouvir a rebentação tenho
de abrir a janela.
Que sensação indescritível de segurança, estar no meu escritório rodeado por paredes cobertas de
livros. Livros e janelas fechadas. Dou um puxão ao mapa enrolado em frente à janela que dá para o
mar. E um mapa do Atlântico, tal como os cartógrafos o vêem: plano, obstáculo inanimado, dividindo
um mundo rectangular em dois: África à direita; América à esquerda. O Norte para cima; o Sul para
baixo. Que ideia errónea do condutor mais dinâmico, mais vigoroso, incansável e contínuo, posto em
movimento pela natureza! O mapa representa-o imóvel como o Sara; petrificado como os Alpes;
diferindo apenas pela cor - azul. Enquanto a terra é amarela, castanha, verde ou branca.
Que bom quadro para fazermos um jogo! Mesmo bom para deslocarmos peças pequenas sobre ele,
depois de atirarmos os dados. Lançamos os dados, a seguir deslocamos a nossa peça sobre uma
cor qualquer, até encontrarmos o azul. Cruzar o azul é fazer batota.
Os difusionistas pouco se ralam. Fazem batota. Movimentam se sobre o azul em todas as direcções.
Qual não seria o espanto dos jogadores, se o azul do quadro se começasse a movimentar como o
oceano, deslizando em faixas largas, transportando lhes as peças de um lado para o outro, levandoos de África para a América tropical, e da América tropical para a Ásia,.e depois para a América do
Norte. Se os mapas fossem móveis, ter-se iam inventado novas regras para o jogo, sem dúvida
nenhuma. As peças brancas ou pretas que caíssem num quadrado ao largo de Marrocos ganhavam
o prémio de um salto extra até à América, pela faixa azul da corrente das Canárias. As peças
amarelas, ao largo da Indonésia, acertariam na faixa rolante vinda da Polinésia e, em dois lances de
dados, voltariam a casa pelas correntes do Japão e do Noroeste da América. Avançando numa
direcção, o azul significaria sempre um grande salto em frente; na outra direcção, a perda de uma
jogada. As zonas verdes seriam novos obstáculos, neste jogo de feição tão realista. Assim, também,
o deserto amarelo e o gelo branco.
Puxei pelo cordel para obrigar o meu estúpido mapa a enrolar pela janela acima. Por entre as
árvores, o Mediterrâneo continua a ondular como uma campina batida pelo vento. Abro a janela de
par em par ouvir a rebentação e deixar o vento brincar com os meus papéis e as minhas
especulações. Para o diabo, os papéis! Para o diabo, os «- ismos»: difusionismo e isolacionismo!
Se o mar sussurrante falasse! Quantas histórias teria para contar sobre viagens efectuadas durante a
antiguidade e nunca relatadas, semelhantes às descritas durante o tempo medieval. Os homens da
antiguidade não foram peças de um jogo de mesa. As suas obras provam que eram dinâmicos,
imaginativos, curiosos, corajosos, inteligentes - mais fortes que os homens da era carrega-botões.
Tinham mais confiança nos seus deuses. Marinheiros do antigo Egipto largaram do mar Vermelho
para visitarem a Mesopotâmia e os mais longínquos portos da Ásia. Partindo da foz do Nilo,
atravessavam o Mediterrâneo leste para receberem os impostos que ilhas remotas pagavam ao
faraó. O povo do Egipto e o povo da Mesopotâmia, adoptado, embora falassem línguas diferentes e
se exprimissem por escritas igualmente diferentes, formaram marinheiros tão competentes como
eram os seus arquitectos. Fizeram desabrochar civilizações marítimas, sempre com línguas e
escritas diferentes, em todas as ilhas onde se amontoaram pedras em degraus, a norte e a oeste.
Não se sabe quando começou a influência dos Egípcios naquelas ilhas, mas, pouco a pouco, os
Fenícios apoderaram-se delas. Pouco sabemos acerca das origens dos Fenícios e dos barcos que
inicialmente construíam. Mas os seus vizinhos mais próximos, a leste e a sul, e até a oeste,
navegavam em barcos de canas. Gravado num anel antigo da Grécia, aparece um barco de cana em
forma crescente, com amarrilhos transversais, mastro e cabina. Por águas fenícias, a cultura
propagou se além-Gibraltar: para Lixo, por exemplo, onde os barcos de cana subsistem. Ninguém
será alguma vez capaz de reproduzir as derrotas de todos estes barcos. Nem será possível
reconstituir as relações entre tão diversificadas civilizações, intimamente relacionadas e, no
entanto, tão marcadamente diferentes. Em parte, foram impostas às culturas locais primitivas e
desenvolvidas por chefes diferentes, em localizações geográficas diferentes. Quem, em época
alguma, poderá identificar os nautas que, no quarto século antes de Cristo, deixaram uma ânfora em
ouro e moedas do Mediterrâneo, em cobre, na ilha do Corvo, Açores, geograficamente mais perto da
América do Norte que de Gibraltar? Na busca de fortuna, ou de refúgio, milhares de barcos largaram
dos seus portos de origem, no decorrer da antiguidade, sem terem deixado registos escritos. Como
vimos, os artistas reais relatam a grande expedição de barcos de madeira enviada pela rainha do
Egipto, Hatshepsut, que percorreu o mar Vermelho até Punt. Porém, só por mero acaso o geógrafo
Eratóstenes refere a distância entre Ceilão e a foz do Nilo, em termos do número de dias de
navegação gastos pelos barcos de papiro com vela e mastreação egípcias. Nenhum templo foi
construído em sua honra. Só depois do ilustre Hanno, no século quinto antes de Cristo, ter
atravessado pessoalmente o estreito de Gibraltar, com sessenta navios carregados de mantimentos
e milhares de colonos fenícios de ambos os sexos, é que o acontecimento ficou imortalizado num
padrão erguido em sua honra, em Cartago. No entanto, a inscrição deixa perceber que Hanno não foi
o pioneiro, pois, decorridos quatro dias a navegar junto à costa e passado o estreito de Gibraltar, a
frota chegou à cidade de Lixo. Aí, embarcaram pilotos nativos, que conheciam bem a costa e sabiam
os nomes de todos os cabos por onde passaram durante mais vinte e oito dias de viagem. Como
levava mantimentos para dois meses. Hanno só regressou depois de a frota ter descido toda a costa
equatorial da África ocidental.
Mais tarde, os Gregos contaram que o padrão menciona os habitantes de Lixo como estrangeiros,
com quem os exploradores residiam temporariamente até se desenvolver a amizade entre as duas
partes. Os antigos viajantes foram mestres na arte de estabelecer relações fecundas, até com povos
primitivos e hostis. Eles próprios contam que, antes de se atreverem a sair dos navios, mandavam
presentes aos de terra, em sinal de amizade, para serem bem recebidos pelas tribos locais. Os
antigos, os Egípcios e os Fenícios captaram perfeitamente o espírito de colaboração internacional
indispensável entre os que viajam por terras estrangeiras. Por esta razão, parece-nos normal que os
Egípcios e os Fenícios tenham feito juntos a primeira circum-navegação de África, da qual existem
relatos. E isso cerca de dois séculos antes de a frota de emigrantes, magistralmente preparada por
Hanno, ter navegado pela já conhecida costa oeste abaixo. De facto, na expedição à volta de África,
organizada pelo faraó egípcio Neco, cerca de seiscentos anos antes de Cristo, tomaram parte navios
e marinheiros egípcios. Mas, como nenhum rei, ou faraó, acompanhou esta aventura, que durou três
anos, não ficou gravada em sepulturas ou padrões. Por sorte, Heródoto relatou o acontecimento
antes de ser esquecido.
Que espécie de cultura teria, outrora, florescido entre os primitivos caçadores das florestas, no outro
lado do Atlântico, se essa expedição mista de colonos ou exploradores tivesse sido atirado para lá?
Qualquer coisa de novo e, contudo, muito semelhante, de nítido sabor local?
E aquele mapa incompreensível, com a zona azul morta, indica que o México dista de Marrocos
séculos, ou milénios, em vez de breves semanas! Alguns momentos de descanso para um macaco,
um pato ou qualquer outro passageiro. Apenas segundos, se nos inserimos na estrutura da história.
É verdade que os povos da América nunca tinham visto navios com os cascos em tábuas de madeira
antes de Colombo lá chegar. Mas os de Marrocos, os do Mediterrâneo e os da Mesopotâmia
conheciam bem os barcos de canas, como os que ainda existem na América. Com a ajuda de alguns
nativos dos lagos, fiz a experiência de construir dois barcos desses, algo toscos. Mesmo assim,
navegaram seis mil milhas em quatro meses e desembarcamos na América, à segunda viagem. Se
tivéssemos construído uma centena, a exemplo do que Hannp fez, acabaríamos por aprender a
passar a salvo, para cima e para baixo, ao largo do cabo Juby. Mas, entretanto, quantas vezes se
teria partido o remo de direcção e teríamos ido parar à América? E só Detis sabe a que padrão de
cultura nós, os do Ra, teríamos aderido!
fecho a janela. Agarro o lápis e escrevo...
Ainda não sei. Não faço afirmações, excepto que um barco de canas é navegável e o Atlântico é bom
condutor. Mas, de agora em diante, parece-me milagroso que expedições náuticas sem conta,
durante os milénios da antiguidade, não tenham partido os remos ao largo de Lixo e não tenham
perdido o rumo, enquanto manobravam, para evitar as perigosas correntes ao largo do cabo Juby.
Nós fomos levados pela corrente até à América por inaudita estupidez a manobrar o madeiramento,
ou pela habilidade sem precedentes de nos aguentarmos sobre as canas?
Sobre isso tenho uma opinião: talvez porque navegámos no oceano, e não num mapa.
FIM
.--- ..- .-.. .. ---
-.-. . … .- .-.
Download