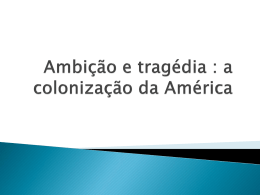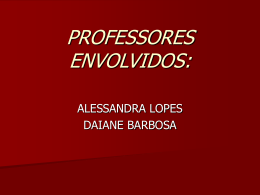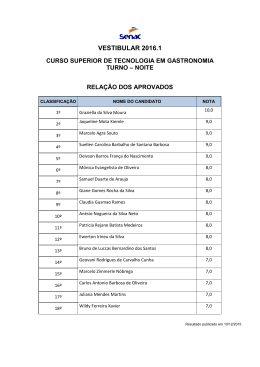A GEOGRAFIA DO SER EM ESCRITOS EM VERBAL DE AVE, DE MANOEL DE BARROS Alberto Lopes de Melo (FURG) Este trabalho está relacionado ao percurso vivenciado no desenvolvimento do projeto de tese O ser e o espaço na poesia brasileira contemporânea: a poesia de Ademir Assunção, Antônio Cicero, Manoel de Barros e Oscar Bertholdo, orientado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Mousquer (PPGLetras/FURG), com apoio financeiro da CAPES (DS), e tem como ponto de partida a percepção da importância que as imagens poéticas que apontam para a espacialidade possuem na poesia contemporânea. Essa percepção encontrou amparo nas reflexões do teórico francês Michel Collot. A emergência, na França, de uma leitura de poesia que considerava a forte presença de imagens objetais enquanto marca da ausência do sujeito lírico motivou Collot a investigar o fenômeno e a buscar, na profusão de imagens do mundo, não a ausência ou a negação da subjetividade lírica, mas um mecanismo de construção do próprio eu na poesia através da alteridade, ou, em outras palavras, a manifestação do sujeito lírico fora de si (expressão que intitula um de seus escritos) (Cf. COLLOT, 2004). No Brasil, pode-se vislumbrar um paralelo da poesia objetiva (encontrada por Collot na obra de Francis Ponge) no percurso chamado de antilira, termo utilizado por Luiz Costa Lima (1968), que teria sua plena manifestação na obra de João Cabral de Melo Neto. Tomando então como perspectiva a consideração de que o enfoque do mundo, em vez de anular a presença do sujeito, acaba por ser meio de afirmação de sua identidade através da construção de imagens poéticas deste mundo enquanto necessária referência da alteridade, efetuo aqui uma breve leitura da obra Escritos em verbal de ave, de Manoel de Barros, tendo com prisma a importância da espacialidade na construção de sentido da mesma. Manoel de Barros (Mato Grosso, 1916) estreou em 1937 com Poemas concebidos sem pecado e publicou mais dezoito livros de poemas. Embora, como destaca Alfredo Bosi (cf. 2003, 488), o reconhecimento de sua obra tenha sido tardio, sua palavra, “nascida em contato com a paisagem e o homem do pantanal” é de “coerência vigorosa e serena” (BOSI, 2003: 488). Hoje, Manoel de Barros é um poeta que está entre os mais reconhecidos, com livros publicados em Portugal, Espanha, França e Estados Unidos. O poeta foi premiado diversas vezes, duas delas com o Prêmio Jabuti de Literatura (1989 e 2002). Seu mais novo é de 2011, Escritos em verbal de ave1. O pequeno livro traz como epígrafe os seguintes versos do poeta matogrossense da geração mimeógrafo Nicolas Behr: “A infância/ É a camada/ Fértil da vida”. Esta epígrafe aponta para a necessidade do olhar lúdico para alcançar uma produtiva apreciação da poesia que segue, consonante com a proposta poética de Manoel de Barros, bem representada em trecho do poema “Entrada”, que abre sua Poesia completa (agora incompleta) publicada em 2010: “fazer desenhos verbais de imagens” (p. 7). O primeiro da série de “desenhos verbais” que compõem Escritos em verbal de ave estende-se na dimensão do tempo e, mais especificamente, da finitude: a obra é uma “desbiografia” de Bernardo, é a narrativa da morte do personagem conhecido dos leitores de Manoel de Barros, presente em poemas de O guardador de águas (1989), do Livro de pré-coisas (1985) e de Menino do mato (2010). Essa narrativa em versos não é concebida como parte de sua biografia – grafia da vida – mas como representativa da descontinuidade da escrita da vida, que deixa de se inscrever no mundo e de se escrever, mas que deixa escritos – o “acervo” de Bernardo. O personagem é descrito como o ser que “tinha visões que remetiam a gente/para a infância” e que “tinha uma linguagem de/ canto e arrebol!” – o verbal de ave, deixando com a morte, como espólio, justamente seus “Escritos/ em verbal de ave”. Estes seguem à narrativa primeiramente com o poema “Os desobjetos” (Do acervo de Bernardo), que vale a leitura: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Prego que farfalha Uma pua de mandioca O fazedor de amanhecer O martelo de pregar água Guindaste de levantar vento O ferro de engomar gelo O parafuso de veludo Alarme para o silêncio Presilha de prender silêncio Formiga frondosa com olhar de árvore Alicate cremoso Peneira de carregar água Besouro de olhar ajoelhado A água viciada em mar Rolete para mover o sol Pertencem a essa obra todos os poemas citados neste escrito que, pela ausência de paginação da mesma, aparecem sem a indicação convencional de referência. Os desobjetos apresentam-se como imagens ora de um instrumental destinado ao manejo do inefável – “Presilha de prender silêncio” –, ora de uma inventiva descrição dos mistérios contidos no ínfimo, no aparentemente desimportante, como o “Besouro de olhar ajoelhado”, e lembram muito os “desenhos verbais” que Manoel de Barros apontava como um objetivo no referido poema de abertura de sua Poesia completa. O parentesco é claro no trecho em que Barros dá quatro exemplos do que seriam os “impossíveis verossímeis” (2010: 7) que constituiriam seus “desenhos verbais”: “1) É nos loucos que grassam luarais; 2) Eu queria/ crescer para passarinho; 3) Sapo é um pedaço de chão/ que pula; 4) Poesia é a infância da vida” (id.). A “infância da vida” de quem “cresceu para passarinho” é representada em seu momento de desfecho em Bernardo, nítido alterego de Barros. Bernardo, em seu espólio, apresenta a mesma natureza de procedimentos poéticos constante em Barros: a utilização de imagens de uma fauna ínfima em simbiose com o mundo vegetal (o olhar de árvore na formiga, p. ex.), a associação de elementos díspares que instauram a revelação que emerge do paradoxal, a profundidade do olhar sobre a existência brotando da abordagem poética do aparentemente banal. Até este ponto, tem-se a breve exposição da riqueza que o leitor pode encontrar na leitura de Escritos em verbal de ave, que de certa forma é presente nas demais obras do poeta. Entretanto, a obra surpreende mais: a materialidade do livro é também poeticamente elaborada. À semelhança do criativo formato de caixa com páginas guardadas em seu interior visto em Memórias inventadas (BARROS: 2003), Escritos em verbal de ave também tem um formato inventivo: depois da “desbiografia” de Bernardo e da leitura de Os desobjetos, o leitor precisa, para prosseguir no livro, abri-lo como um mapa2. Após ceder ao artifício poético materializado nesse processo de abertura do livro, possível imagem de uma abertura do ser, encontra-se o desenho de Bernardo, ambígua forma de braços estendidos, entre quem voa como pássaro ou quem foi deixado “de manhã/ em sua sepultura” (BARROS, 2011). Sua imagem encontra-se circundada por trinta e dois poemas, tercetos com espírito de haicai, o de dizer o imenso na expressão mínima. Os poemas, em certa medida, completam a construção da personagem, descrevendo sua natureza através do espaço que a circunda, no qual ela é contida e, ao mesmo, é parte da estrutura que a contém – constituindo e sendo também 2 Esse “artifício”, o de abertura física do livro, não se encontra presente nas outras publicações do livro, posteriores a esta leitura: sua Poesia completa atualizada em 2013 e a coleção Biblioteca Manoel de Barros (Leya, 2013), caixa que contém os dezoito livros do poeta. constituída na espacialidade. Os versos não são apenas uma unidade de ritmo, circunscrita à dimensão temporal, eles também se estendem no espaço e, na mesma medida, o ser não se diz ou é dito apenas em sua ipseidade, mas também naquilo que dele só se apreende em suas relações com a alteridade, com o mundo. Neste ponto, é produtivo olhar o caminho proposto pelo já citado teórico francês Michel Collot, que supõe a consideração da criação lírica enquanto fenômeno que ultrapassa a mera expressão confessional de um eu desligado do mundo ou o puro artesanato verbal. Para Collot, tal caminho de reinterpretação da lírica e do sujeito (lírico) é o da fenomenologia, que não considera mais o sujeito em termos de substância, de interioridade e de identidade, mas em sua relação constitutiva com um fora que, especialmente em sua versão existencial, o altera, colocando a acentuação em sua ek-sistence, em seu ser no mundo e para o outro (COLLOT, 2004: 166-167). Em consonância com as ideias de Merleau-Ponty, para quem o horizonte é concebido como parte do próprio movimento perceptivo do ser, pois é um “horizonte cuja distância em relação a mim desmoronaria, (...) se eu não estivesse lá para percorrê-la” (MERLEAU-PONTY, 1999: 3-4), Collot sublinha que não apenas a percepção do mundo tem horizontes como contingência, como também a percepção que o sujeito tem de si mesmo. Para Collot, a linguagem poética é o espaço no qual a construção da identidade do sujeito dá-se na inevitável relação com a alteridade. O próprio horizonte da espacialidade humana condiciona a percepção da identidade, pois o sujeito, através de seu olhar ou movimento, está sempre ao mesmo tempo aqui e lá, de modo que o horizonte pode parecer o que há de mais próximo, enquanto que a localização do próprio corpo permanece no limite inacessível ao olhar (Cf. COLLOT, 2006: 32). Nessa medida, a autopercepção é também composta por “antecipações”, por construções do sujeito nos espaços incompletos do horizonte de sua percepção. Às realizações no poema de tais construções imagéticas, Collot constrói o conceito de paisagem. Dessa forma, mais do que mera referencialidade, as representações do espaço através de imagens poéticas no poema – as paisagens – apresentam-se enquanto formas como a subjetividade lírica constrói-se nos horizontes do poema. Assim, a emoção lírica, no que diz respeito à constituição de um eu através da linguagem, é vista por Collot como algo que talvez, nas suas palavras: apenas prolongue ou reapresente esse movimento que (...) porta e deporta o sujeito em direção a seu fora, através do qual ele pode ek- sistir e se exprimir. É apenas saindo de si que ele coincide consigo mesmo, não como uma identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a alteridade (COLLOT, 2004: 167). Essa perspectiva ultrapassa a dicotomia entre sujeito e objeto na medida em que, no poema, artefato de linguagem, o sujeito é expresso enquanto construto que se estabelece necessariamente na sua relação com a alteridade. É essa concepção da lírica enquanto lugar de encontro com o outro e, sobretudo, consigo mesmo através do espaço – paisagem – que se presta ao exame da obra de Barros aqui estudada. Os poemas que circundam e compõem o Bernardo de Manoel de Barros ora referem-se textualmente ao personagem, ora são feitos em primeira pessoa e, por vezes, constituem aparentemente simples descrições de uma paisagem lúdica: “Concha fechada/ na beira do rio/ só se abre no amanhecer”. Não existe um centramento absoluto nem na expressão do sujeito em si, nem na exposição do mundo que o envolve: uma leitura que buscasse o assunto de cada um dos poemas, para então relacioná-los, seria infértil, pois não encontraria uma necessária conexão através desse procedimento. É preciso lembrar a epígrafe de Nicholas Behr e o que ela oferece como norte para o olhar do leitor – é a infância o solo propício em que brotam os efeitos da poesia de Barros, é necessário um olhar próprio para a apreciação dessa poesia, um tipo específico de olhar como o que, segundo o renomado filósofo Gaston Bachelard, só nos pode fornecer a alma em seu repouso, em seu estado mais propício ao devaneio poético – o olhar de anima (Cf. 2009). Bachelard considera que a psique do homem é dividida em dois pólos indissociáveis: um masculino, pleno de racionalidade e voltado às vivências cotidianas – o animus; e um feminino, voltado à sensibilidade, ao devaneio e, portanto, à fruição poética – a anima. Em anima, o ser em devaneio não observa o mundo, encontra-se em uma instância “onde já não nos dividimos entre observador e coisa observada” (BACHELARD, 2009: 43). Sujeito e objeto constituem, no poema, um conjunto que expressa o ser – como apontava o supracitado Michel Collot ou, ainda, Carlos Drummond de Andrade em seu Procura da poesia (1978: 76-77). Em anima, o estado favorável à fertilidade das imagens poéticas, pode-se fruir cada um dos poemas e perceber que as relações que mantém entre si e entre o próprio Bernardo que, quem sabe, os diga na diegese (a escolha aqui é do leitor), não obedecem a qualquer lógica propriamente dita – o que, para Bachelard, seria atividade de um outro estado – o estado de animus, o da racionalidade. Assim, nem mesmo as conhecidas relações de parataxe, tão valorizadas pelos poetas concretistas, dão conta da ligação existente entre os pequenos poemas de Barros. É preciso ler todos, um a um, e, pouco a pouco, perceber que se constrói uma atmosfera entre os poemas que dizem de um mundo de ínfimos habitado, dos desejos fantásticos de um Bernardo que anseia por dizer palavras como um passarinho canta, e que dizem também do próprio canto, manifesto no silêncio da grafia – escrito. No mapa poético aberto, tanto em larga página como à fruição, vai sendo composta uma “geografia do ser”, em poemas de instantes, que constroem imageticamente os referidos elementos da paisagem de Bernardo (sua paisagem e aquela que compõe seu horizonte) ou que expressam seus anseios, como em “Queria que um passarinho/ escolhesse minha voz/ para seus cantos”. A imagem do pássaro e de seu canto aparece em outros quatro poemas. Um deles traz a expressão do mesmo anseio de dizer em verbal de ave: Fosse bem: que as minhas palavras gorjeassem! O outro atribui uma qualidade fundamental da palavra associada à natureza da ave: Palavra abençoada pela inocência é ave. Pode-se compreender, nesse sentido, que a palavra poética com tal qualidade de passarinho elevar-se-ia por sua pureza, de natureza tão “cândida” como “conversar com as águas”. Há a possibilidade então de ler a geografia de Bernardo como impregnada de um desejo de elevação da voz ao canto do pássaro. Porém, junto das imagens que podem ser lidas como essa tendência à elevação (sublimação), há abundância de imagens associadas ao que é rasteiro, ao chão: Vi a metade da manhã no olho de um sapo. Vi um lesma pregada na existência de uma pedra. Vi uma rã sentada nos braços da Tarde! Nos três poemas acima, rico é o trabalho de aproximação entre a enormidade intangível e o sumariamente pequeno ou irrisório: a lesma e a existência, o olho do sapo como prisma para observar a metade da manhã, ou a rã que senta nos braços de uma “Tarde” com sugestiva maiúscula inicial. Se o leitor optava já por ver um Bernardo de braços abertos alçando vôo com seu cantar de pássaro, depara-se novamente com um Bernardo de braços estendidos ao chão. A figura mantém sua ambigüidade. Mas o chão que ocupa não é um chão qualquer, é um chão nobre, como o designa um dos poemas. Outro poema chama atenção sobre a necessidade de olhar para esse chão: “Quem não vê/ o êxtase do chão/ é cego!”. É lícito lembrar que Tratado geral das grandezas do ínfimo (2001), o décimo quinto livro de poemas de Barros é dividido em duas partes – a segunda parte é justamente “O livro de Bernardo”, composto em sua maior parte de poemas semelhantes às tríades de Escritos em verbal de ave. Neste último, as “grandezas do ínfimo” chão e dos rasteiros seres que nele habitam são celebradas: Tenho um gosto elevado para o chão. Profetas nasciam de uma linguagem de rãs. A grandeza desse ínfimo que constitui o horizonte através do qual Bernardo é construído para o leitor que o tem então como horizonte é visível através de um olhar a ele afim, um olhar também poético que demonstra como a paisagem, o sujeito e a linguagem unem-se de modo indissociável: Visão tem sotaque de nossas origens. Visões descobrem descaminhos para as palavras. O Bernardo descoberto ou entrevisto com a leitura conjunta dos poemas e da própria composição gráfica da obra é alcançado através de um olhar como o dos “videntes” que aparecem num dos poemas, aqueles que “não ocupam o olho/ para ver – mas para transver”. Nesse olhar através do sujeito rumo ao seu mundo ou através do seu mundo em busca de sujeito – ambos linguagem poética – não cabe um fechamento. Não é acertado delimitar Bernardo ou uma significação da obra de Barros. Sua riqueza está justamente nas ambíguas surpresas das inusitadas associações imagéticas cunhadas pelo poeta mato-grossense, que ressalta: “Significar/ reduz novos sonhos/ para as palavras”. Cabe, como um fechamento que não prescinde da necessária abertura, citar o rico devaneio que é a definição do verbal de ave: “Desenho da voz/ na areia/ é verbal de ave”, que une em um paradoxo revelador a massa sonora e a dimensão espacial – a manifestação do ser no tempo através do som é aqui também concebida enquanto marca feita simultaneamente na espacialidade de pertença desse ser, em sua geografia. REFERÊNCIAS BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. BARROS, Manoel de. Escritos em verbal de ave. São Paulo: Leya, 2011. _____. Memórias Inventadas: A infância. São Paulo: Planeta, 2003 _____. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. COLLOT, Michel. O sujeito lírico fora de si. Trad. Alberto Pucheu. Terceira Margem: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ano IX, nº 11, p. 165-177, 2004. ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. LIMA, Luis Costa. Lira e antilira: Mário, Drummond, Cabral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. DEL MITO EN UNA DESCUBIERTA QUE NO HUBO Um passeio pelas narrativas sobre Malinche na história e na ficção Aline Coelho da Silva (UFPel) O imaginário das Américas se inscreve na fundação da dita civilização ocidental. É-nos comum saber das peripécias do glorioso Odisseu, que cruzou os mares apesar e graças aos deuses de volta a sua Ítaca mais que de nosso sujeito e da literatura que fundou nosso imaginário e subjetividade. Nosso sujeito se filia e se dá em um espaço marcado pela profunda cicatriz da colonização. Os vencedores da conquista das Américas assim disseram: Nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cués (templos) y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuento; ver cosas nunca oídas, ni aun soñadas, como veíamos (DÍAZ DEL CASTILLO, 2013: 82). As fronteiras, que marcam o que vivemos e como nos foi narrada esta trajetória nos localiza em um espaço-tempo em que ficção e realidade se fundem nos relatos dos conquistadores e na narrativa do “nós” que irá se formar; essa cultura nos localiza no espaço da coexistência do outro e de seu olhar estrangeiro sobre o “americano” que nascia. A fronteira que todos cruzamos a partir do movimento do sujeito europeu rumo a nossas terras foi bastante fértil para localizar o montante de crenças que traziam sobre o outro, logo, sobre o monstruoso (ROJAS MIX, 2002). O homem que aqui chegava trazia consigo não somente o imaginário de um povo, mas de todos os povos que constituíam o espanhol renascentista (fenícios, gregos, godos, visigodos, romanos, muçulmanos etc.). Este passo coloca o espanhol mais próximo à Renascença, mas o aproxima verticalmente à razão mitológica medieval. Os relatos destes “descobridores” estão repletos de exemplos de que acreditavam estar em um espaço/tempo em que os seres exóticos de seu imaginário habitavam. A descontinuidade aparente de nosso continente como resultado da multiplicidade de etnias, narrativas, políticas e linguagens pode ser resolvida na leitura reveladora dos relatos (crônicas) dos conquistadores e de suas releituras propostas pela ficção contemporânea, em um ponto de intersecção desses discursos sobre a América. Nos momentos em que o nacionalismo esteve em voga (no século XIX com o processo da independência e no princípio do século XX, por exemplo) personagens da conquista são revisitados. Em 2005 é lançado o romance Malinche, que volta seu olhar para os primeiros encontros entre “americanos” e espanhóis, reescrevendo, fabulando e resolvendo (ou não) algumas lacunas da história. A memória da cultura autóctone foi registrada, em grande parte, pelo paradigma europeu que “registrou” o processo da conquista, comparando as divindades, os mitos, a cultura e os corpos com esse outro europeu, que acabou por fundar um outro americano, que passará a ser nomeado pelo “coletivo” indígena, na alusão às Índias que não habitou e a uma coletividade (indígena) inexistente. Pensemos, então, em como será descrito e representado o indígena e pensemos ainda em como uma mulher indígena – e me permitam a correção – autóctone será representada e comporá esta nova “sociedade”. É nesse contexto que Malinche, de Laura Esquivel, adentra, romantizando um dos mais discutidos mitos da cultura nacional mexicana. Este é um estudo bastante incipiente, de um mito que vem sendo escrito desde as chamadas “crônicas das índias ocidentais” até hoje, seja na narrativa de ficção, na dramaturgia, nas narrativas íntimas produzidas nas casas e nas narrativas da história – nomear a personagem de quem trataremos já é um estudo a parte, mas nos refiramos a ela como Malinche. A figura de Malinche provoca, em si, uma controvertida variedade de emoções. Nela se funda a história do México pós-Hispânico em um entrecruzamento da mitologia e da história. Era (Malintzin) uma autóctone talvez de família nobre que, com a morte do pai e da avó paterna, aos nove anos é entregue como escrava pela mãe. Ela é violentada em diversos níveis e depois é vendida pelos pochtecas. Em 1519 é presenteada a Hernán Cortés, que a entrega a outro senhor – Alonso Hernández Portocarrero, mas retorna a ele como sua intérprete (la lengua) por conhecer algumas línguas autóctones (o maya e o nahualt) e, posteriormente, o castelhano. Ela ganha importância na vida de Cortés e na conquista do México por negociar com as tribos descontentes com o domínio azteca e por indicar a Cortés o melhor modo de se aproximar (e vencer) aqueles povos. Eles se tornam amantes (expressão controversa quando uma das partes foi escravizada) e Malinche se torna sua esposa e mãe do primeiro mestiço conhecido na história da México: Martín Cortés. Como de costume para esses “conquistadores” Cortés terá também uma esposa espanhola (Catalina) e com sua ida para o México, abandona Malinche. Em 1524 ele a casa com Juan Jaramillo que estaria bêbado na cerimônia. Ela morre misteriosamente em sua casa, em 1529, provavelmente assassinada por ordem de Cortés, para que não depusesse contra ele em juízo (RICO: s/d.). Um dos mais importantes registros desse período é o do já citado Bernal Díaz del Castillo que em sua Verdadera historia de la conquista de la Nueva España revela seu reconhecimento do papel de Malinche na Conquista e na vida de Cortés, não apenas como uma escrava submissa, mas como de fato uma interlocutora e negociadora entre conquistadores e conquistados; para que tenhamos uma ideia, Malinche é citada cerca de 40 vezes no relato do cronista (como D. Marina). Assim ela é introduzida na narrativa: Otro día de mañana, vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo de Tabasco y de otros comarcanos, haciendo mucho acato a todos nosotros, y trajeron un presente de oro.No fue nada todo este presente en comparación de veinte mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer, que se dijo doña Marina, que así se llamo después de vuelta cristiana. Cortés recibió aquel presente con alegría, y se apartó con todos los caciques y con Aguilar, el intérprete, a hablar, y les dijo que por aquello que traían se lo tenía en gracia; mas que una cosa les rogaba, que luego mandasen poblar aquel pueblo con toda su gente y mujeres e hijos. Lo otro que les mandó fue que dejasen sus ídolos y sacrificios, y respondieron que así lo harían (DÍAZ DEL CASTILLO, 2013: 26). Em contrapartida, Cortés a cita apenas uma vez na 5ª Carta de Relação, escrita em 15261. Nos dois relatos, no entanto, a função de lengua é destacada e revela ainda mais: com a chegada de Cortés ao México, Francisco de Aguilar, que apenas conhecia a língua maya precisará de um suporte (que será Malinche). Os lenguas, de modo geral, eram naturais/autóctones escravizados (e batizados) que enganavam muitas vezes os espanhóis; em uma sociedade que valorizava o masculino Malinche será uma das poucas mulheres a exercerem essa função (se tem registro de uma jamaicana que também o era), mas isso se dá, também, pela imagem que os espanhóis faziam dela: “de buen parecer y entremetida y desenvuelta” (DÍAZ DEL CASTILLO, 2013: 27); agregando características fundamentais: o porte e a obediência à coroa espanhola. 1 “(...) para que creyese ser verdad, que se informase de aquella lengua que con él hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque allí me la habían dado con otras veinte mujeres; y ella le habló y le certificó de ello, y cómo yo había ganado a México, y le dijo todas las tierras que yo tengo sujetas y puestas debajo del imperio de vuestra majestad, y mostró holgarse mucho en haberlo sabido, y dijo que él quería ser sujeto y vasallo de vuestra majestad y que se tendría por dichoso de serlo de un tan gran señor como yo le decía que vuestra alteza lo es” [grifo meu] (CORTÉS, s/d.:17). Glantz observa que “para os espanhóis o intérprete é um corpo mutilado, transformado em sinédoque, a figura retórica que toma a parte pelo todo e condensa em um só órgão a eficácia de seu fazer, mas (...) em contradição com essa operação simbólica, o corpo em sua totalidade deve incorporar-se a outra forma de conceber o corpo em outra forma de vê-lo” (GLANTZ A, s/d: 7). O indígena escravizado era batizado com as roupas e a língua de seu senhor; porém, as mulheres permaneciam com as roupas de seu povo, como pode ser observado nos relatos e nos códices nos quais Malinche é representada trajando seu huipil, interposta entre figuras, por exemplo, Moctezuma e Cortés. O herói da epopeia de Bernal é rebatizado e o discurso do conquistador passa a ver-se, também, no significante que lhe outorga o conquistado: Cortés passa a ser conhecido pelos autóctones por Malinche2. Ironicamente, o silêncio relegado discursivamente à Malinche (Malinalli) é rompido pelo poder de nomear a Cortés, em uma fusão de significante e significado; um corpo duplo, pelo menos na visão daqueles que por Malinche o batizaram, contraposto à hierarquia e soberania vista pelos espanhóis, como descreve Bernal ao contrapor sua virilidade aos imberbes indígenas. No século XIX, tempo tomado pelo nacionalismo, Ignácio Manuel Altamiro comparou Malinche com Medeia, conhecida nas letras gregas por ser traidora de seu povo e assassina de seus filhos; ambas eram princesas e peças fundamentais na conquista exercida por seus amantes. Cabe observar que o papel delegado à mulher é o da que apóia, auxilia o homem em sua aventura de conquistador, portanto, uma coadjuvante. Sua história é incerta, assim como é incerto seu nome para o qual os ensaístas e ficcionistas trataram de recobrar (ao seu significante) vários significados. Voltando-nos ao século XIX, Malinche protagonizará a obra La noche triste, de Ignácio Ramírez, na qual o anti-hispanista a representa como a traidora que fará sofrer gerações e gerações de seu povo, por não suportar a ideia de ser rechaçada por Cortés ou ser entregue como sacrifício a um deus asteca (STEN, 134). Contemporânea a esse romance, o dramaturgo Alfredo Chavero lança a obra Xóchitl (1879), que será a nova paixão do “conquistador” por quem a aqui chamada Marina será trocada – na tragédia a personagem ganha voz e se apresenta como uma 2 “(...) llamaban a Cortés Malinche, y así lo nombraré de aquí adelante Malinche en todas las pláticas que tuviéremos con cualesquier indio así de esta provincia como de la ciudad de Méjico; y no lo nombraré Cortés sino en parte que convenga. Y la causa de haberle puesto este nombre es que como doña Marina, nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, en especial cuando venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en la lengua mejicana, por esta causa llamaban a Cortés el capitán de Marina, y por más breve lo llamaron Malinche” (DÍAZ del CASTILLO, 2013: 60). amante vingativa (a la Medeia) que deseja o sofrimento do amante a quem ameaça com a morte do filho. Uma das mais emblemáticas visões sobre Malinalli é a de Otávio Paz, que lhe dedica um capítulo (los hijos de malinche) do célebre “El laberinto de la soledad”, de 1950. Nele, Paz assevera: Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir em busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros (...) impasibles y cerrados. Cuauhtémoc y doña Marina son así dos símbolos _aria_ários y _aria_ários_ios. Y si no es sorprendente el culto que todos profesamos al joven emperador —“único héroe a la altura del arte”, imagen del hijo sacrificado— tampoco es extraña la maldición que pesa contra la Malinche. De ahí el _aria del adjetivo despectivo “malinchista”, recientemente puesto em circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagiados por _aria_ário extranjerizantes. Los malinchistas son los _aria_ários de que México se abra al exterior: los verdaderos hijos de la Malinche, que _a la Chingada en persona” (PAZ, 1992: 35-36). Alguns dos conceitos trazidos por Paz são postos de lado e não mais se discute a problemática de uma identidade nacional de pachucos (os que não seriam nem mexicanos nem espanhóis), mas surge em meio a isso uma nova Malinche símbolo da identidade mexicana. Paz a analisa como um ser histórico que transforma em mito, símbolo da mulher mexicana, a chingada. Em uma revisão de seu texto, mais tarde dirá: El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior: el ideal de la “hombría” consiste en no “rajarse” nunca. Los que se “abren” son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, “agacharse”, pero no “rajarse”, esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El “rajado” es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su “rajada”, herida que jamás cicatriza. Tal excerto é apontado por Margo Glantz em Las hijas de Malinche, que cobra de Paz a exclusão da mulher no nosotros usado por ele ao definir o mexicano: se ser mexicano, se ser filho de Malinche é ir em direção ao nada, que sobrará para a mulher, a quem será atribuída uma dupla marginalidade (GLANTZ, 1992: 3-4), questiona a autora. Carlos Fuentes, amigo e depois desafeto de Paz escreve em 1970 Todos los gatos son pardos, motivado pela concepção de Artur Miller sobre a conquista do México – o dramático encontro do homem que tudo tinha (Moctezuma), com o que nada tinha (Hernán Cortés) – e pelo estudo de Lacan cuja premissa é a de que “o inconsciente é o discurso do outro” (FUENTES, 2005: 5). Fuentes pretende desmascarar os discursos de poder e já no prefácio anuncia que: “el clamor de Malinche es la advertencia del nuevo sacrificifio humano y de la nueva necesidad humana de México nacido después de la conquista” (p. 8). A questão do outro, da estrangeirização do mexicano é constante na discussão de sua identidade nacional e este é um ponto de intersecção entre os estudos de Paz e Fuentes. Não nos cabe, neste momento, aprofundarmo-nos nos textos de Fuentes ou de Paz, mas é inegável sua contribuição para o estudo de Malinche; Fuentes a apresenta como a mãe do primeiro mexicano, e garantirá a Malinche em seu texto um lugar no discurso como a voz de quem viveu a história, a reporta ao século XX quando lutará pelos seus filhos contra as instituições de poder. Muitos dos textos críticos, ensaísticos ou ficcionais apresentados têm um caráter notoriamente machista e parecem abreviar sua condição de escrava sexual. As questões de gênero e raça estão atravessadas nos discursos sobre Malinche e sobre a própria colonização, que acabam por tornar-se O discurso DE Malinche. Ainda que uma das mais importantes intérpretes e negociadoras do processo, é entregue em sacrifício aos vencedores e será um corpo tomado pela parte la lengua que, ironicamente, não terá voz no enunciado dos cronistas. Nesse sentido, cabe pensar como esse discurso se constitui na narrativa ficcional escrita por Laura Esquivel em 2005, já que a voz de Malinche será um constructo discursivo reconstruído pelo outro, pois não temos registros seus. Uma relação da consciência moderna com e sobre a figura de Malinche é trazida por Esquivel, que funda um sujeito (Malinche) consciente de seus conflitos de identidade e com uma visão bastante “bem resolvida” sobre a presença e domínio dos homens de barba, já que desde o princípio da narrativa Malinche se questiona e sofre por ser escravizada. O caráter individual não era previsto em sua comunidade, que determinava os destinos a partir da interpretação dos presságios. Com base no dia do nascimento de um bebê e de seu sexo era traçada sua trajetória. A escolha por seu nome, seu primeiro batismo e seu passado nobre legitimam seu papel na conquista e os mecanismos de controle sobre si. O narrador refaz toda a trajetória da menina, desde o nascimento, até ser abandonada pela mãe e escravizada desde a infância. Sua aparente resignação com o domínio dos brancos é rompida pelos apelos que faz a Quetzalcoátl e à avó e pelo espanto com os milhares de mortos deixados pelos espanhóis. “Tenía que haber alguna otra manera de castigarse pero no encontraba cual. Sin embargo, se sentía sucia, pecadora” (p.50). Essa mescla de valores cristãos (o pecado) com a obediências aos deuses de seu povo dão um caráter específico a esta Malinali: uma lógica de devoção a sua fé e a seu amor a Cortés seriam o motivadores de seus atos. A narrativa de ficção, ao romantizar a figura do conquistador assim o apresenta: “nunca se lo dijeron abiertamente, pero él sentía en su corazón que a sus padres les decepcionaba su corta estatura. Le faltaba altura para formar parte de una orden de caballería o un ejército” (ESQUIVEL, 2006: 8). Cortés também trará os valores medievais caros a um cavalheiro: por não poder dar a Malinche a família que queria, ele a casa com Jaramillo, um homem apaixonado que lhe daria a vida que merecia; seu afã conquistador se justificará na fé: (...) nunca había sentido tanta fe reunida. Y pensó que si estos indios, en vez de dedicar su fe a un dios equivocado la encaminaran con el mismo empeño al dios verdadero, iban a ser capaces de producir muchos milagros. Esta reflexión lo llevó a concluir que tal vez ésa era su verdadera misión, salvar de las tinieblas a todos los indios, ponerlos en contacto con la religión verdadera, acabar con la idolatría y con la nefasta práctica de los sacrificios humanos, para lo cual tenía que tener poder, y para adquirirlo tenía que enfrentarse al poderoso imperio de Moctezuma. Con toda la fe que le fue posible, le pidió a la Virgen que le permitiera salir triunfante en esa empresa (p. 23). E, finalmente, a morte de Malinche, cuja assassinato não é cogitado, mas sim, uma decisão da própria personagem que cansa de viver após o pedido de Cortés para que seja sua testemunha; se despede dos deuses e da família e morre. O passado de Malinche como nobre indígena escravizada ou como escrava que chega à princesa parecem ressaltar e balizar o discurso do colonizador que reconhece seu papel na conquista, a batiza (Marina) e lhe cobra a lealdade à causa espanhola tão cara nessas épocas de Conquista travada por aventureiros que buscavam riqueza pessoal travestida nas diversas e nobres motivações (religiosas, principalmente). A utopia de encontrar aqui um mundo de riquezas parece ter-se tornado realidade, excetuando-se o monstruoso construído pelo desconhecimento de nossas terras, gentes e discursos que ainda buscam um real espaço discursivo que dê conta de dizer do que é feito nosso sujeito. Nosso espaço ficcional dá forma ao mito na recuperação do passado e das tradições latino-americanas, mas percebemos a continuação da cultura dialógica (racionalidade versus barbárie), da diferença agora politicamente correta. Fomos levados a pensar que aquela fosse nossa imagem e seguimos sendo o que não fomos ou somos. Seria o fronteiriço nosso espaço de inscrição? Hoje, a pluralidade de espaços discursivos busca, quiçá, romper (com o que nos alertou Raymond Willians) com os movimentos que rompem e fossilizam a história. Serão as diferentes concepções de cultura que farão possível rever o mito da colonização e refazer sua trajetória narrada. REFERÊNCIAS BENÍTEZ ROJO, Antonio. La isla que se repite: el Caribe y la perspectiva posmoderna. San Juan: Plaza Mayor, 2010. BERN, Zilá. Américas: nascimento e morte das utopias. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 45, p. 67-70, out./dez., 2010. BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina: América Latina Colonial. vol. II. 1. ed. 1. reimpr. São Paulo: EDUSP, 2004. CORTÉZ, Hernán. Cartas de relaciones. Disponível em http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1526_273/Quinta_Carta_de_Relaci_n_de_Her n_n_Cort_s_453.shtml. DEL RÍO, Fany. La verdadera historia de Malinche. México: TV Azteca, 2009. DÍAZ del CASTILLO, Bernal. Historia verdadera de conquista de la Nueva España. [ebook]. Madri: Linkgua digital, 2013. ESQUIVEL, Laura. Malinche. [e-book]. Nova Iorque: Atria Books, 2006. FRANCO, Jean. Malinche: del don al contracto sexual. Debate Feminista, ano 6, vol. XI, Janeiro de 2005. p. 251-270 Disponível em http://www.debatefeminista.com/descargas.php?archivo=lamali909.pdf&id_articulo=909. FUENTES, Carlos. Todos los gatos son pardos. [e-book]. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. GLANTZ, Margo. Doña Marina y el Capitán Malinche. A Disponível em: http://www.lopezlabourdette.com/pdf/glantz_Dona_Marina_y_el_capitan_Malinche.pdf. GLANTZ, Margo. La Malinche: la lengua em mano. B Debate Feminista, ano 5, vol. X, setembro de 1994. p. 167 – 182. Disponível em: http://www.debatefeminista.com/descargas.php?archivo=lamali1200.pdf&id_articulo=1 200. GLANTZ, Margo. Las hijas de Malinche. C Debate Feminista, ano 3, vol. VI, 1992. Disponível em: http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/lashij1053.pdf. HERNÁNDEZ, José Millares Orellana. Historia real y fantástica del nuevo mundo. Caracas: Ayacucho, 1992. Disponível em: http://books.google.com.br/books?id=UTfohXMiyQC&pg=PR63&lpg=PR63&dq=jos%C3%A9+hern%C3%A1ndez+millares+orellana&source=bl&ots=TZ W0nSudyW&sig=jUVxVX_XtT0MfgTrxwfcKE8FXds&hl=ptR&sa=X&ei=bmgeUIaRG5Ko8ASvt4BY&ved=0CF4Q6AEwAw#v=onepage&q=jos%C3%A9%20hern% C3%A1ndez%20millares%20orellana&f=false. Karina Bidaseca. Fazendo Gênero 10. Mesa-redonda feminismos, intersecções e colonialidades. Vídeo 1:07-1:28’09. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Edtb_aiahx4&feature=youtu.beJ%C3%A1. MADRIGAL, Luis Iñigo. (coord.) Historia de la literatura hispanoamericana: época colonial. 3. ed. Madri: Cátedra, 1998. MAGASICH-AIROLA, Jorge. América Mágica: Quando a Europa da Renascença pensou estar conquistando o Paraíso. Paz e terra, 2000. MARTÍNEZ Pilar. Carlos Fuentes y los cronistas de Índias. AIH, Actas VII, 1980. p. 743-749. Disponível em: http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/07/aih_07_2_022.pdf. NUÑEZ, Fernanda. Malinche. Debate Femenista, ano 3, vol. V, março 1992. p. 52-60. Paladini, Ludovica. El viaje de la Malinche en el teatro mexicano actual: el hiriente retrato de Jesusa Rodríguez”. Les Ateliers du SAL 1-2 (2012): 131-144. PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. México: FCE, 1992. PIZARRO, Ana. Amazonía: el río tiene voces. México: Fondo de Cultura Económica, 2011. PIZARRO, Ana. Hispanoamérica y Brasil: encuentros, desencuentros, vacíos. In: Acta literaria 29. Concepción, Chile: 2004. p. 105-120. REIS, L.; FIGUEIREDO, E. (org.). América latina: integração e interlocução. Rio de Janeiro: 7letras; Santiago, Chile: Usach, 2011. RICO, Eugenia. Malinche: la traidora traicionada. s/d. ROJAS MIX, Miguel. Mitos y monstruos do imaginário americano como laberinto de la identidad. In: MARCONDES, N; BELLOTTO, M. (org.). Laberintos e nós: imagem ibérica em terras da América. São Paulo: Unesp, 1999. SALOMÃO, Daniele. Mestiçagem e contrução da indentidades: a trajetória da índia Malinalli na sociedade mexicana. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UERJ/ICH, 2012. SCHELL, Deise Cristina. Lope de Aguirre, sujeito de sua própria história: as cartas do rebelde e a “escrita de si”. HISTORIA SOCIAL, Campinas, n. 18, 2010. SOUZA, Márcio. Breve história da Amazônia. 2. ed. Rio de Janeiro: AGIR, 2001. STEN, María. Malinche el conflicto secreto. In: ___. Cuando Orestes muere en Santa Cruz. México: FCE, sd. ZÚÑIGA, Rosa María. Malinche:Esa ausente siempre presente. México: INAH, 2003.
Baixar