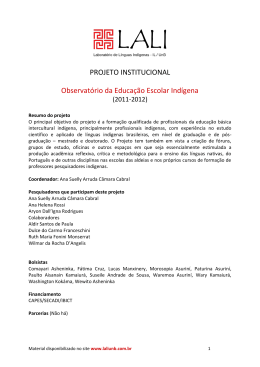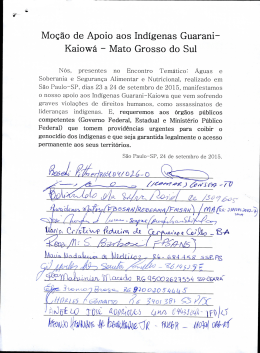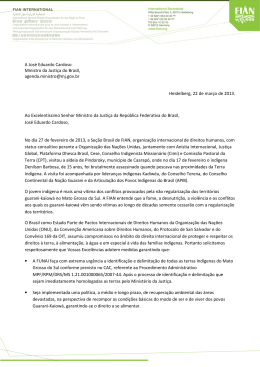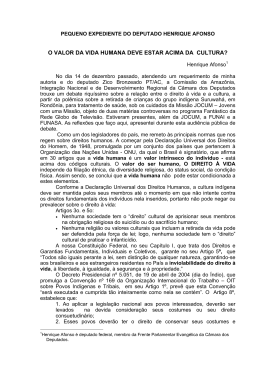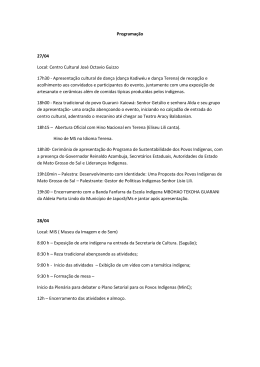V Encontro Anual da ANDHEP – Direitos Humanos, Democracia e Diversidade 17 a 19 de setembro de 2009, UFPA – Belém, Pará. Grupo de Trabalho: GT8 – Culturas e Territórios Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos e Direitos Humanos. Título: O sistema jurídico indígena e o direito estatal: o caso Xikrín versus mineradora Vale Autor: Jorge Luis Ribeiro dos Santos, PPGD – UFPA, bolsista da FAPESPA. 2 O sistema jurídico indígena e o direito estatal: o caso Xikrín versus mineradora Vale Jorge Luis Ribeiro dos Santos1 Resumo Neste trabalho pretende-se refletir, a partir de um conflito jurídico entre índios Xikrín do Cateté e a mineradora Vale, sobre o sistema jurídico indígena diante do judiciário brasileiro. Investiga-se o processo de produção jurídica e aplicação do direito pautados no positivismo e dogmatismo jurídico diante de uma realidade caracterizada pelo pluralismo cultural e jurídico. Defende-se, em conclusão, que o judiciário deveria considerar os sistemas jurídicos indígenas imbricados no caso, a participação de outros intérpretes na aplicação do direito, assim como considerar as interlegalidades constituintes de uma sociedade plural como a brasileira, consoante os marcos do pluralismo consagrado na Constituição, nas Convenções internacionais e nas atuais tendências críticas ao monismo jurídico estatal. Palavras-chave: positivismo jurídico, sistema jurídico indígena, pluralismo jurídico. Introdução O presente trabalho aborda o direito em múltiplas dimensões de forma a analisar o pensamento jurídico predominante face ao pensamento crítico do direito e das ciências assim como discutir sua interpretação e aplicação, a partir do conflito jurídico decorrente de uma disputa envolvendo o povo Xikrín2 e a mineradora Vale. Para se perseguir tal intento, nos limitamos a partir de uma sentença proferida neste caso. Desta forma, buscou-se cotejar o sistema jurídico indígena silenciado diante do direito estatal, buscando delinear uma concepção crítica ao modelo monista do direito estatal que em seus efeitos instrumentais nega a efetividade de outros sistemas jurídicos. Esta linha de concepção aproxima este estudo de uma visão crítica e pluralista do direito que postula por uma interlegalidade entre sistemas jurídicos indígenas e sistemas jurídicos estatais. 1 - Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS, doutorando em Direito pelo PPGD – UFPA, bolsista da FAPESPA – Fundação de Amparo à Pesquisa - Pará. 2 - Os Xikrín são um subgrupo Kaiapó (Mebengokrê) que, por volta do século XVIII, se dividiram em tribos menores. Os que foram viver mais ao norte, próximo aos rios Itacaiúnas e Cateté deram origem à comunidade indígena Xikrín. Hoje vivem em três aldeias, próximas ao rio Cateté, afluente do rio Itacaiúnas, em área de densa mata e rica em minérios no Sudeste do Pará. Com a entrada de caucheiros e castanheiros, iniciaram-se as hostilidades, que culminaram com um massacre de 180 indígenas, em 1930. Os Xikrín mudaram-se para os arredores do rio Bacajá e as cabeceiras do rio Itacaiúnas. Nesta área, também era rica em castanheiras, ocorreram novos choques, o que obrigou os indígenas a retornarem ao rio Cateté. A partir de 1966, os padres dominicanos Frei Gil Gomes Leitão e Frei José Caron passaram a viver entre os Xikrín, assistindo-os (GORDON, 2006). A terra dos Xikrín passou a ser invadida por madeireiras, a partir de 1977. Como nessa época a área já estava delimitada e demarcada houve processo judicial para a retirada dos invasores. Nos anos 80 tem início o Projeto Grande Carajás de extração mineral nas imediações do território Xikrín e irá impactar de forma profunda a vida Xikrín. 3 A partir deste caso, e de forma ainda parcial, procura-se evidenciar a necessidade de uma tradução dos direitos não estatais (indígenas) mediante uma abordagem juridicamente sensível aos seus argumentos para fundamentar e justificar seu direito, identificar o universo jurídico indígena presente ou ausente em lides nas quais são sujeitos. A presença da voz dos povos indígenas ou seu silêncio demarcam no judiciário o trânsito entre autonomia e tutela indígena nos processos judiciais. O Caso O conflito entre Vale e os índios Xikrín atingiu seu ponto crucial quando a Empresa, em represália a uma ocupação de guerreiros Xikrín às suas minas na Serra dos Carajás em outubro de 2006 – motivados por decisão da Vale em não se reunir com os indígenas para reaver suplementos e reajustes de repasses financeiros - suspendeu unilateralmente o repasse financeiro3 aos indígenas previstos em Convênio 453/894 firmado com a FUNAI. A controvérsia se judicializou em Ação Civil Pública, precedida de uma Cautelar, em tramitação da Vara Federal da Justiça Federal de Marabá, promovidas pela FUNAI e o Ministério Público Federal, contra a Vale, objetivando reaver os direitos advindos do Convênio. A Vale nega legitimidade contratual ou mitigatória aos Xikrín e alega “liberalidade” e não obrigação de “amparo” às populações direta ou indiretamente afetadas com a extração mineral. A sentença de primeiro grau proferida é parcialmente favorável aos indígenas5, no sentido de obrigar a Vale a restabelecer os repasses mensais aos indígenas. A Justiça mantém a tese de que a obrigação da Vale é contratual e advém do termo consignado em Convênio de “assistência às populações indígenas”. A Vale, de sua parte, 3 - Exigência do Banco Mundial financiador do “Projeto Grande Carajás” nos anos oitenta. Posteriormente o “amparo” às populações indígenas foi regulado na Resolução 331 do Senado Federal em contrapartida pela Concessão de Lavra à CVRD, estatal à época, em regime de direito real de uso em 411 mil hectares de terras públicas na Floresta Nacional de Carajás. A obrigação foi regulamentada pelo convênio nº 453/89. 4 - O Convênio 453/89 cria o “Programa Xikrín” em 1989 para dar assistência à saúde, educação, atividades produtivas, vigilância e administração, para as comunidades Xikrín do Cateté e Xikrín do Djudjekô. 5 - A Sentença obriga a Vale a restabelecer repasses no valor mensal de R$ 569.915,89, sendo R$ 243.578,29 destinados aos Xikrín do Cateté e R$ 353.337,60 aos Xikrín do Djudjekô. Em setembro de 2008 os valores foram corrigidos em R$268.054,62, destinados à Comunidade Indígena Xikrín do Cateté, e R$388.843,27, à Comunidade Indígena Xikrín do Djudjekô, conforme sentença n. 448/2008, Autos. 2007.39.01.000006-0. A condenação em síntese conclui: “Força é convir que a CVRD tem a obrigação de prestar assistência às comunidades indígenas, o que vinha sendo feito, durante anos, com o repasse de recursos financeiros, como forma de atender a regulamentação contida no Decreto n. 6 de março de 1997 e de fornecer a contraprestação pelo uso de área concedida pela União. A despeito de a obrigação não ser imposta por lei, como argüiu a empresa para eximir-se de seu adimplemento, foi instituída como contrapartida às restrições que sofre a União, titular do domínio, durante o tempo de vigência do direito real de uso. A obrigação é contratual e o descumprimento importa na própria nulidade da concessão. Tendo em vista a existência de obrigação jurídica da ré em prover assistência à comunidade indígena Xikrin, pelo simples fato de ter obtido a concessão de direito real de uso, torna-se irrelevante apurar a ocorrência de impactos ambientais na zona ocupada pelos silvícolas, causados pela exploração mineral. Com ou sem impactos ambientais, constitui obrigação da CVRD fornecer meios para compensar o benefício a ela concedido pelo Governo Federal”. 4 defende a tese contrária. Seu dever é moral, por conseguinte, é mera liberalidade conceder “ajuda” financeira às comunidades Xikrín. A FUNAI e o Ministério Público Federal aludem, dentre outros motivos além da obrigação contratual, os impactos sócio-ambientais que ensejariam deveres de compensação ou mitigação. O que entendemos ser fundamental do ponto de vista do princípio da reparação ou compensação por impacto sócio-ambientais direta e indiretamente sofridos pelas comunidades indígenas (e também não indígenas) do entorno da Província Mineral de Carajás. Tensões e intenções do direito O conflito envolvendo distintos agentes sociais (Povo Indígena Xikrín e Vale) pode traduzir-se no que Santos (2007) designa de “justiça dramática”, pois “escapa” da rotina dos Tribunais. A disputa transcende os espaços eminentemente formais: “judicializa a política e politiza os tribunais” (Santos, 2007, p. 29) - ou poderia politizá-lo! O processo judicial sai da formalidade e ganha vida, com o intenso processo de mobilização política vivenciado pelo povo Xikrín. A forma de viver o processo judicial extrapola as regras processuais contidas nos códigos e impõe uma rotina, aumentando a responsabilidade da autoridade judicial pela decisão em função dos interesses em conflito - no caso dos povos indígenas, a garantia de sua reprodução física, social e cultural, sua reafirmação identitária, sua a mobilização política e proeminência do universo de seus direitos e de seus sistemas jurídicos. Analisando os autos verifica-se que os indígenas são vozes silenciadas na ação judicial, nem mesmo suas associações representativas foram admitidas como partes no processo. Não se objetiva aqui emaranharmos nos procedimentos meramente processuais – mesmo porque a sentença em seu objetivo nuclear fora favorável aos indígenas - mas questionar as razões da ritualística processual e criticar nesta os elementos do normativismo que se propõe verdade última e ciência inquestionável, uma vez que produzido segundo os ditames da sistemática do ordenamento normativo-processual do estado. Neste processo prevalece o formalismo estatal que aplica o direito a um conflito onde pluralidades políticas, econômicas, sociais, étnicas e jurídicas estão implicitamente postas, mas sequer são consideradas. Por duas vezes foi indeferido o pleito de litisconsórcio dos indígenas na ação. Um postulado pela Associação Indígena foi indeferido, outro por uma liderança indígena, também teve indeferimento. Em síntese, o juiz afirma que os indígenas já estariam representados por seu Órgão Tutelar (FUNAI), e também pelo Ministério Público Federal, o que não justificava a admissão de assistência ou litisconsórcio. A sentença aplica uma razão meramente legalista ao pleito: Agora, as associações constituíram advogado e pleitearam fossem admitidas como litisconsortes necessários ativos. 5 A se acolher a formação do litisconsórcio necessário, isso significaria anular todo o processo porque, de acordo com as associações, teriam que, necessariamente, fazer parte do feito desde o início. Não há base legal para isso. Outras associações indígenas existem, os recursos repassados pela ré são destinados à comunidade Xikrin, em geral, que está representada pela FUNAI e pelo Ministério Público Federal, e a atuação somente se daria, se possível, no sentido de coadjuvar os dois autores para defender o interesse jurídico que elas possuem, em face da relação jurídica que os índios mantêm com a fundação federal. Contudo, há óbice intransponível que impede o deferimento do pedido de formação de litisconsórcio necessário ou assistência. Como já decidido às f. 1008/1010, ações que limitam os legitimados a propô-las fazem da assistência uma exceção. A Lei n. 7.347/85, em seu art. 5º, apresenta rol exaustivo de legitimados ativos, complementado pelo art. 82, III do Código de Defesa do Consumidor. Conquanto associações legalmente constituídas há pelo menos um ano – como é o caso das requerentes – possam ajuizar ações civis públicas, torna-se indispensável que incluam entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em análise do estatuto social das associações indígenas Bep Noi e Kakarekre, não se nota que foram instituídas para alcançar as finalidades acima descritas. Por conseguinte, não têm legitimidade para atuar na presente ação civil pública, razão por que o pedido de litisconsórcio necessário ativo deve ser indeferido (sentença n. 448/2008, Autos n. 2007.39.01.000006-0). Portanto, as Associações Indígenas não preenchem os requisitos formais inscritos na Lei e, segundo a análise do intérprete, não podem defender os direitos indígenas. Esta visão denota um rescaldo positivista que perpassa décadas, de Kelsen até os dias hodiernos. Neste fragmento o intérprete realçou aquilo que Kelsen (2003) pretendia ao direito puro, no sentido de que a pureza da teoria jurídica do direito significa que ela se propõe a garantir um conhecimento estritamente dirigido ao direito, ao mesmo tempo em que exclui deste estudo tudo que não pertença ao seu objeto, o direito. Só assim pode-se libertar a ciência jurídica de tudo que lhe é estranho. Este é o seu princípio metodológico fundamental. Tudo que é estranho aos elementos literais da citada Lei, como a defesa dos interesses indígenas, seus direitos ditos por eles mesmos, a epistemologia indígena, a colonização econômica, jurídica e social sofrida, sua história, tudo isto, estranho à Lei, é rechaçado pelo juiz. Retomando a crítica aqui proposta, mesmo de um ponto de vista do direito estatal já permitir-se-ia uma abertura menos dogmática do que acima percebido. Peter Haberle defende a “sociedade aberta” dos intérpretes. Para esse autor o processo de interpretação, de dizer o direito, não pode ficar restrito aos intérpretes autorizados (HABERLE, 1997), mas impõe a participação da sociedade. No caso, torna-se imperativo a participação direta dos grupos indígenas no processo perante o “desconhecimento” da autoridade judicial sobre o assunto. A Convenção 169 da OIT afastou as discussões que permeavam a Convenção 107, de integração dos grupos indígenas na sociedade nacional e assim também o fez nossa Constituição de 1988 (Arts. 231, 232). Já seria considerado um avanço paradigmático se o juiz atingisse esta leitura, ou seja, reconhecer a organização social, os costumes, línguas, crenças, tradições, direitos territoriais originários, conforme estabelecido na nossa 6 Constituição em referendo às Convenções internacionais relacionadas aos direitos indígenas, embora que, para a concepção aqui defendida, ainda não fosse o suficiente. Esta tradição dogmática poderia se resumir naquilo que Engisch (1996) chamou de tradição iluminista de subsunção do direito à lei, mas que está em declínio, pois, hoje já não subsiste a concepção do juiz autômato, preso tão somente à lei, hoje se contrapõe um direito eqüitativo ao direito estrito, há enfim a possibilidade interpretativa por outros meios, mediante conceitos mais abertos como conceitos jurídicos indeterminados, conceitos normativos, conceitos discricionários e cláusulas gerais. Contudo, aqui se pretende ir para além desta crítica. É preciso uma análise além do processo judicial e construir um espaço de reflexão sobre esse processo que altera a paisagem do próprio processo. Trata-se de refletir sobre a distância semântica a que são submetidos os grupos étnicos específicos como os indígenas, sobretudo a violência lingüística que sofrem de um direito estatal intraduzível para eles, e talvez pior, nega voz aos seus sistemas tradicionais de justiça, lhes impõem uma colonização jurídica mediante a total desconsideração pelas epistemologias próprias destes povos. Em nome do legalismo tutelatório e arcaico comete-se correntemente - em lides envolvendo indígenas – uma extrema violência cognitiva. O estado brasileiro não reconhece, não considera - embora formalmente afirme o contrário - principalmente nas instâncias administrativa e judicial, o direito indígena (não indigenista), e é alheio às tradições e ao sistema jurídico destes povos. O sistema jurídico indígena é anterior ao estado brasileiro e pelo pluralismo inscrito constitucionalmente, o mínimo a que se poderia esperar era uma “interlegalidade” de sistemas. Em outros termos, ao lado da legislação nacional deveria figurar interprotagonicamente os sistemas tradicionais de jurisdição indígena. Faz-se necessário para isto, “compreender a epistemologia indígena e torná-la inteligível às autoridades” (BELTRÃO, 2008: 159). A intermediação antropológica neste caso, portanto, é fundamental nesta inter-relação processual. O direito na prática deve introduzir o diálogo interdisciplinar, considerar outras dimensões étnicas, filosóficas, sociológicas, políticas, econômicas e jurídicas contextualizadas. Monocultura jurídica versus ecologias teóricas Ouvir também o direito analisado sob outras perspectivas que não somente o direito estatal ou dogmático, numa tentativa de aproximar a análise processual do Estado de um outro direito construído no discurso dos povos indígenas, exige-nos uma abordagem radicada e rigorosa na perspectiva emancipatória do “pluralismo jurídico”, levado às suas 7 conseqüências últimas que seria a dinâmica da pluralidade material e não só uma pluralidade (ou diversidade) formal. Geertz (1998) em uma etnografia comparativa entre sistemas jurídicos dos indígenas malásios com os sistemas jurídicos ocidentais, lembra que o direito, assim como outros elementos da vida de qualquer sociedade humana, é artesanal. Isto é, o direito, seja em qual sociedade for, seja escrito ou oral, é construído, constituído e formalizado. Mas para esta compreensão, o autor defende, deve haver mais uma penetração da “sensibilidade jurídica” na antropologia, e uma maior “sensibilidade etnográfica” no direito (GEERTZ, 1998:251). Os povos indígenas, assim como outras coletividades, como lembra Santos (2007), não só reclamam direito à igualdade, mas notadamente um direito à diferença, designadamente ao seu diferencial etnocultural. E esta consciência de direitos e sua complexidade é o que torna tão estimulante e exigente o atual momento sócio-jurídico. Para Kapra (1999) na atualidade alguns padrões culturais e econômicos estão em transição e novas formas de cultura e civilidades estão sendo inventadas. Isto se dá nas ciências e o direito não está isento destes conflitos paradigmáticos. Algumas destas novas formas culturais estão em franco embate com aqueles padrões já cristalizados, aduz Kapra. A transição é a necessidade da mudança de paradigma, pois os sistemas de valores herdados do modernismo, a visão de mundo mecanicista e de ciência cartesiana já não são suficientes para responder à complexidade, à interconectibilidade dos sistemas globais da atualidade. Levy-Leblond (2004), analisa que na atualidade muito se produz de conhecimento científico, mas pouco ou nada se formula de controle e organização deste e completa dizendo que as fórmulas de redução da realidade racional em pares antinômicos apresentam limites de pertinência. Portanto, importa mais na práxis a antinomia da razão “impura”. Parafraseando Kapra (1999), não se trata de abandonar o direito, mas humanizá-lo, reconhecer sua limitação, valorizar aspectos espirituais, ecológicos e intuitivos. Desta forma ele afirma a necessidade de uma nova visão da realidade, uma revolução cultural e civilizacional que contemple uma visão holística e ecológica do universo jurídico para que as forças de transformação possam ser positivas para a sobrevivência de todos os seres que compõem nosso planeta. E a cosmovisão indígena é um campo interessantíssimo para um direito que não se quer monista ou colonizador de outros sistemas tradicionais. Discutir direitos indígenas - aqueles socialmente produzidos por eles - e direitos dos indígenas na legislação pátria e internacional, dentro de um contexto real de vida de um povo concreto se afigura como uma tarefa desafiadora e relevante para a ciência e principalmente para o direito aberto ao diálogo necessário e imprescindível com a antropologia e outros saberes. Algo que o direito só recentemente vem “admitindo” fazer. Ou seja, extrapolar seu centro epistemológico e enriquecer-se no diálogo jurídico transversal com outras ciências na 8 ecologia epistemológica, “descongelar” as categorias mentais incrustadas pela visão dominante do direito, como defendeu Gordon (1990). Na acepção de Kaufmann (2009) a filosofia (e o direito) não deveria admitir dogmatismo, endurecimento, inflexibilidade e absolutização de opiniões, pois só o que questiona, o aberto, o incompleto está vivo. Em Dworkin (2005) o direito deve ser trabalhado como integridade. Transpondo por nossa conta sua premissa para o caso em estudo, integridade significaria introduzir a cosmovisão indígena ao processo. Dworkin afirma que o direito somente se realizará de forma efetiva a partir do momento em que o intérprete do direito fornecer uma decisão pautada pela análise do caso concreto, de maneira que todos os indivíduos formadores daquela lide sejam tratados com igual consideração. Mas igual consideração no caso não houve, pois implicou na exclusão dos indígenas na lide. Há um direito invocado pelos indígenas, mas silenciado pelo Direito disposto no processo. E para situar tal direito há que se inquirir também no marco teórico do pluralismo jurídico, no que respeita à construção etno-jurídica de um povo sobre seus direitos ditos por eles mesmos em sua cosmovisão de normas e justiça, em sua oralidade e consuetudinaridade. Povo este que, embora tenha promessa constitucional de ser “reconhecido” em sua especificidade étnica, não consegue transpor o monismo do Estado fechado nas paredes do processo e nem instrumentalizar este reconhecimento. Reconhecer sem dar substância é ato meramente formal, sem materialização jurídico-processual ou concretude na vida social. Hegemonias jurídicas e interlegalidades plurais Longe do reconhecimento e da compreensão da diferença, porém, ainda subsiste implicitamente uma idéia de inferioridade do indígena, uma cognição do indígena por uma ótica essencialmente não índia. Sem julgar o mérito de observações, quiçá pertinentes, que o juiz aduz, esta acepção implicitamente transparece neste recorte da sentença6 colhida no caso: Por mais que os índios estejam insatisfeitos com a administração dos recursos pela FUNAI, a experiência demonstrou que não são capazes de dar destinação útil do numerário a toda população Xikrin. Se os índios querem realmente assumir a total gestão dos recursos, conclui-se que são autônomos e independentes e não mais necessitam da tutela da FUNAI. Nessas circunstâncias, como a maioria da população brasileira adulta, precisarão trabalhar e produzir para adquirir os bens de consumo que tanto almejam. Em verdade, porém, a concepção que possuem sobre o papel do dinheiro na vida deles é essencialmente imediatista e sem perspectivas de médio ou longo prazo. Não se pode voltar a entregar a totalidade dos recursos a poucos 6 - Aqui o magistrado decidia sobre a administração dos recursos dos Xikrín, se ficariam sob a responsabilidade destes ou se seriam entregues à FUNAI para dar-lhes melhor aplicação. 9 privilegiados, para aquisição de veículos, aparelhos eletrônicos, gastos em restaurantes etc, em detrimento da maior parte da comunidade que sofre para subsistir. Isso não significa que não devam ser ponderados os interesses deles na aplicação da renda auferida periodicamente (sentença n. 448/2008, Autos n. 2007.39.01.000006-0). Sob esta perspectiva não restaria ao indígena outro futuro possível: ou ele é autônomo e não precisa ser tutelado, nem tampouco necessita dos recursos mitigatórios devidos pela empresa Vale, ou ele estará sempre na dependência dos brancos para administrar seus recursos e parte de sua vida, portanto, ainda um ser relativamente incapaz. Se esta visão ainda prevalece, o que se conclui é que o estaríamos anos-luz de uma aceitação de quaisquer sistemas jurídicos indígenas os inter-relacionando nos sistemas estatais. Ademais, deve-se esclarecer que o magistrado não interpreta os recursos auferidos pelos indígenas da mineradora Vale como mitigatórios de impactos etno-ambientais permanentes, mas, tão somente, como obrigações civis e administrativas de ordem contratual, além de fazer uma analogia incabível entre sociedades indígenas e sociedade nacional com total desprezo a quaisquer fatores de ordem histórica, etnocultural ou antropológica, como se vê no trecho transcrito da sentença: A proposta da FUNAI, desde já, fica rechaçada. É inviável elaborar estudos e análises para aferição de todas as necessidades dos índios como se houvesse fonte inesgotável de recursos financeiros. A compensação financeira que a ré está obrigada a fornecer não é infinita e tem limites na razão. Não se vê sentido em se apurar, meticulosamente, as mais intrincadas necessidades dos índios, se a maior parte da população nacional passa por privações, e adapta a sobrevivência a limitadas condições econômicas. Se a FUNAI entende que somente profundo estudo revelará o melhor projeto para ser aplicado à comunidade Xikrin, que arque com os custos, pois não se pode substituir integralmente a atividade de tutela do Estado por medidas secundárias de caráter compensatório a cargo da ré (sentença n. 448/2008, Autos n. 2007.39.01.000006-0). O direito aplicado neste processo não considera a complexidade processual, etnoambiental e cultural. Aqui se estabeleceria um campo de luta contra-hegemônica na escala dos direitos lembrado por Santos (2001) onde há o lugar preconizado pelo Estado branco, mas que nega outro lugar do etno-direito - direito que tenha base nos sistemas jurídicos próprios dos indígenas - invocado sob o fundamento da sociedade e cultura pluralista. Em outras palavras, o direito assente no pluralismo jurídico. Esta é uma abordagem possível para se reconhecer a diversidade e realizar a “justiça histórica póscolonial” naquele sentido atribuído por Santos (2007). Isto seria possível mediante o uso de “sensibilidades jurídicas” para o “estabelecimento de nova forma de relação com o Estado, sustentada pela autonomia dos povos indígenas, como suporte político da democracia” Beltrão (2008: 172) tal como previsto na Constituição Federal e na Convenção 169 da OIT. 10 Defender o etno-direito não significa relativizar o direito e abraçar o relativismo cultural, tampouco universalizar o direito a partir de sua matriz hegemônica estatal é a solução. Santos (1997) explicita a medida crítica e transitiva entre as duas acepções para superação do (falso) debate relativismo/universalismo, prejudicial a um direito emancipatório: Todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural enquanto atitude filosófica é incorreto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores universais, mas o universalismo cultural, enquanto atitude filosófica é incorreto. Contra o universalismo, há que se propor diálogos interculturais sobre preocupações isomórficas. Contra o relativismo, há que se desenvolver critérios políticos para distinguir a política progressista de política conservadora, capacitação de desarme, emancipação de regulação. E como o direito pode possibilitar este diálogo intercultural e quais os mecanismos de sua negação? O pluralismo jurídico pode trazer alguns apontamentos a este debate. Mas o pluralismo jurídico não é um campo de abordagem incontroverso. Portanto, convém delimitar a qual pluralismo jurídico nos referimos, principalmente quando tratamos de etnicidades indígenas com fronteiras bem definidas como o povo Xikrín, com território de cerca de 500 (quinhentos) mil hectares de mata nativa e uma população de mais de 1100 (mil e cem) e que questiona os limites e pressões sobre de sua territorialidade. Wolkmer (2008: 04) identifica uma crise na cultura jurídica tradicional do modelo legalista-liberal e individualista e aponta para uma ruptura paradigmática rumo a uma nova produção jurídica emancipadora. Esta juridicidade emancipatória envolve “a percepção de certo tipo específico de pluralismo jurídico que contemple a ação histórica de sujeitos coletivos emergentes (movimentos sociais em geral: campesinos, indígenas, negros, mulheres, etc)”. Cittadino (1999: 137,138) explicita que, a despeito da falta de consenso sobre o seu conceito, o pluralismo é designado como a “multiplicidade de valores culturais, visões religiosas de mundo, compromissos morais, concepções sobre vida digna”. A autora adverte que há concepções liberais e comunitaristas sobre o pluralismo e resume que as distintas concepções de pluralismo decorrem de como liberais, comunitários lidam com a heterogeneidade e a diferença para os fins da justiça. “O pluralismo liberal associa a conformação de uma sociedade justa à garantia de autonomia privada do cidadão”. Para os comunitaristas “a justiça está vinculada a uma concepção de pluralismo que assegura a autonomia pública e, portanto, a intra-subjetividade das diversas identidades sociais e culturais”. Já a tendência habermasiana “configura uma concepção de pluralismo segundo a qual tanto a subjetividade das concepções individuais sobre o bem, quanto à intrasubjetividade dos valores culturais que conformam as identidades sociais” podem se submeter ao debate público. “Daí a conexão interna entre autonomia privada e autonomia pública”. Para Santos as formas de juridicidade ou pluralismo jurídico é um campo da pluralidade sociológica do direito cuja premissa é de que o direito estatal, codificado, oficial 11 legislado pelo parlamento e pelos governos é apenas umas das “formas de juridicidade”. O pluralismo trata da “sobreposição, articulação e interpenetração de vários espaços jurídicos misturados” e possui uma dimensão de “interlegalidade” consistente na “mistura de códigos”. Embora o direito estatal se sobreponha há também outras formas de direito silenciadas. (SANTOS, 2001: 205, 221, 319). Em escrito bem anterior este autor já dizia que “Existe uma situação de pluralismo jurídico sempre que no mesmo espaço geopolítico vigoram (oficialmente ou não) mais de uma ordem jurídica” (SANTOS. 1995:42). Esta nos parece uma concepção defensável para o caso em análise, pois possibilita uma interpenetração de legalidades dentro da porosidade de um direito emancipador. Mas há que se acautelar diante de pluralismos não emancipatórios. As sociedades são juridicamente plurais, mas o são de maneiras diferentes, salienta Randeria (2003: 364). Por isso podem certas variantes jurídicas privadas, por exemplo, desafiadoras de um direito estatal frágil, “aprofundar défice democrático e enfraquecerem a legitimidade dos Estados semiperiféricos e periféricos”. O pluralismo neste sentido deve ser questionado quando não emancipa. É preciso ponderar a sobreposição de ordenamentos que oprimem e não se interrelacionam. O Pluralismo intercultural pressupõe o reconhecimento de culturas para aumentar o entendimento e a apreciação mútuos, para termos mais interculturalidades do que pluriculturalidade. Como diz Ghai (2003: 470): Em vez de uma multiplicidade de leis, deveríamos trabalhar juntos para uma genuína integração de leis, decidindo em conjunto o que é valioso em cada cultura. Seremos todos nós a pagar os custos de ignorar as implicações desses reconhecimentos para as relações interétnicas. Não se pode negar que sociedades indígenas (autóctones, originárias, tradicionais, etc.), por mais isoladas que vivam não possuam seu sistema de normas, seu sistema jurídico tradicional. Se o direito é, também, um constituinte da ordem social e hoje já questiona-se o postulado ocidental predominante, a hegemonia do norte, assim como o etnocentrismo e o eurocentrismo, seria incoerência descredibilizar os construtos jurídicos das minorias étnicas e lhes impor uma colonização pelo direito estatal, como totalidade, sem chances à “interculturalidade”, ou deixar sem voz o protagonismo de seus sistemas, num verdadeiro colonialismo interno. Contudo, prevalecem ainda as relações colonial-tutelares sobre as comunidades indígenas, um Estado que não se questiona na sua dominação e onipotência e que sufoca povos ainda não enquadrados nos “seus sistemas de poder e de controle econômico, político e cultural”, não se trata de negar o Estado institucional e territorial, mas há “uma necessidade de uma visão plural efetiva que permita a coexistência de outras racionalidades e de outros modos de viver”, como afirma Luciano (2008, p. 30). No Brasil existe um atraso no trato jurídico com os indígenas, ao contrário de sua extensa autonomia e emancipação nos ordenamentos jurídicos (ou costume) do restante do 12 continente em países como Bolívia, Paraguai, México, Equador, Gautemala, etc, onde aos indígenas são garantidos os direitos de auto-gestão territorial, autonomia, justiça própria, etc Afirma Santos (2007). Não há pluralismo jurídico indígena no Brasil como na Colômbia, na Bolívia, no Equador e mesmo no Peru. Para o autor é urgente reconhecer o pluralismo jurídico constitucionalmente como na Colômbia, país onde a população indígena, como aqui, é minoritária. “Este pluralismo jurídico intercultural é fundamental para dar voz a estas lutas. E, se levado a sério, esta política de reconhecimento deve conduzir, a prazo, ao fim da FUNAI” (SANTOS: 2007, 39, 40), pois a FUNAI será órgão obsoleto porque tutela “menores”, gente com menor capacidade jurídico-política. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro, de forma ainda tímida e indireta prevê além do pluralismo político (Art. 1º, V) e a autodeterminação dos povos (Art. 4º, III), o direito de reconhecimento aos povos indígenas de sua organização social, cultura, costume, língua, crenças, tradições, e direitos originários sobre suas terras (Art. 231). Canotilho (1997) afirma que o direito constitucional é, por índole democrático e pluralista e que o Estado Constitucional contemporâneo tem a função social de “inclusividade multicultural”, portanto a função integradora da constituição carece uma revisão assente no “pluralismo jurídico” e no “multiculturalismo social” (CANOTILHO, 1997: 1435). Como defende Filho (2003: 83), “as populações locais organicamente estruturadas, os esquecidos, os distantes” e excluídos precisam de um Estado “que os proteja dos direitos individuais, dos proprietários, dos capitais e dos poderes globais. Precisam reinventar o Estado, retirando-lhe a lógica do capital, substituindo-a pela lógica dos povos”. O direito de “autodeterminação dos povos indígenas implica a reforma do Estado e não em sua divisão” por que tem as limitações constitucionais, completa Oliveira (2008, p. 186). No entanto, nas palavras de Quispe (2008: 3) “es hora ya de terminar esta larga agonia del Estado uninacional y sustituirlo por nuevos Estados Pluriancionales Comunitarios, de unidad em la diversidad”. Em síntese não se trata de fazer aceitar em bloco os sistemas jurídicos da oralidade indígena e não estatais, como bem salienta Munanga (2005:14), em contexto similar ao que se discute, qualquer tentativa de aceitar ou recusar em bloco direito das minorias põe a perder a complexidade do problema que poderia ser resolvido em termos de uma aceitação parcial, isto é considerar a diversidade. Para este autor a primeira fonte da diversidade é a coexistência de diversas nações7 no interior de um estado onde cada uma destas nações corresponde a uma comunidade histórica ocupando um determinado território e partilha uma cultura e língua distintas. “Um país que compreende mais de uma nação, não é um Estado7 - Consideramos que o Brasil comporta diversas nações indígenas (povos indígenas), embora não haja consenso entre as denominações povo e nação indígena. A convenção 169 da OIT ressalta que o uso da palavra povo (nação indígena) não tem as implicações que este termo tenha no direito internacional, não concede direito de soberania, em outras palavras. Não se discute aqui direitos de soberania – nem esta é a pauta indígena – mas sim autonomia e reconhecimento substancial. 13 Nação, mas um Estado multinacional onde as culturas formam as minorias nacionais. Neste sentido a maioria das democracias ocidentais são estados multinacionais". O que se faz premente, reflete Andrade - ao tratar da necessidade de se considerar os sistemas jurídicos indígenas paralelo ao sistema estatal no México - é uma necessária modificação nas estruturas e nas relações de poder para o “reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas en un plano de igualdad e respecto al derecho estatal, e la existencia, por conseqüência, de un verdadero pluralismo jurídico (ANDRADE, 2007: 09). E estes pressupostos já se apontam como o novo paradigma jurídico das constituições contemporâneas, principalmente no que se refere às populações indígenas na América Latina. De fato eles reinventam o conceito de nação. Considerações finais Para que a justiça se efetive e novos paradigmas se anunciem no rígido sistema jurídico nacional, deve-se, considerar a diversidade cultural e para tanto, como conclui Beltrão, é necessário redefinir as instituições democráticas dentro de preceitos éticos e de tolerância, Caso contrário, como possibilitar que olhares diferenciados – indígenas e não indígenas – “conversem”? Como trabalhar epistemologias diferenciadas (indígenas e não indígenas) se os parâmetros vigentes não contemplam formas diversas de pensar? Como discutir universalismo e especificidades se estamos sempre à busca de universais ocidentais? (BELTRÃO,2008: 172) A nossa vida assim como a dos indígenas está em constante transformação, os sistemas jurídicos de hoje não se aportam nos mesmos paradigmas de outrora, as identidades e pessoas cruzam fronteiras com maior intensidade. Como dissemos em outro contexto “Nesta coexistência e nestas encruzilhadas fronteiriças é necessária” a tolerância em relação aos povos indígenas, um esforço para compreensão da epistemologia indígena, seja nas instâncias oficiais ou não oficiais”. Todavia, os povos indígenas demonstram aprender muito mais sobre nós do que nós sobre eles, pois apreendem rapidamente os elementos “da vida urbana indispensáveis à sua reprodução” ao mesmo tempo em que “reforçam e redimensionam suas tradições” (SANTOS, 2009:16) De forma assimétrica e desigual o sistema jurídico estatal é forçosamente introjetado no mundo não índio e, cego no seu etnocentrismo jurídico, o judiciário não faz o caminho inverso de olhar o fato também sob o referencial jurídico indígena. O que não implica considerar e ignorar, entretanto, que os indígenas deixam de ter seu sistema jurídico próprio, a despeito da invisibilidade imposta pelo Estado. Pode-se aventar, portanto, que não há ainda um espaço de interlocução aberto ao construto cultural e jurídico dos indígenas na grande maioria dos processos judiciosos em 14 que são parte. O máximo que se vê é o juiz determinar um laudo pericial antropológico. O laudo antropológico é o lugar mais distante que o judiciário consegue atingir neste diálogo quase intransitivo da legalidade monista, o que embora insuficiente, não seja pouco, por suposto. A realidade jurídica indígena é quase impenetrável nos autos do processo judicial. O processo judicial está eqüidistante de outras possibilidades jurídicas para além dos códigos ocidentais. A insistência dos povos indígenas no domínio cultural do seu território além das fronteiras formais é totalmente silenciada. Mas as acepções e representações do seu sistema jurídico, dos seus direitos, fundamentos e sua repercussão destas (ou não) no mundo jurídico branco podem ser auferidos, ouvidos, dentro de uma porosidade ainda inexplorada pelo judiciário e é nesta direção que lança-se as flechas, os tacapes e as bordunas das palavras. Referências bibliográficas: ANDRADE, Orlando Aragon. Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nueva Serie, año XL, n. 118, enero-abril, México, 2007. pp. 9-26. BELTRÃO, Jane Felipe. Direitos Humanos e povos indígenas: um desafio para a antropologia. In: Direitos Humanos em concreto. (Coord.) COSTA, Paulo Sérgio Weyl A. Ed. Juruá, Curitiba, 2008. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva. Elementos da filosofia constitucional contemporânea. Ed. Lúmen Iuris, Rio de Janeiro, 1999. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. Almedina, Coimbra, Portugal, 2002. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Martins Fontes, São Paulo, 2005. ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. In: KAUFMANN, A. & HASSEMER, W. Introdução à filosofia do directo e à teoria do directo contemporâneas. 2ª. Ed. Fundação Caloust Gulbenkian, Lisboa, 1996. FILHO, Carlos Frederico Marés. Multiculturalismo e direitos coletivos. In: Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. SANTOS, Boaventura de Sousa (Or.), Edições Afrontamento. Porto, Portugal, 2004. FUNAI-CGDOC, Legislação indigenista brasileira e normas correlatas (Org. MAGALHÃES, Edvard). 3ª. Ed. Brasília, 2005 GHAI, Yashi. Globalização, multiculturalismo e direito. In: Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.), Edições Afrontamento. Porto, Portugal, 2004. 15 GORDON, César. Economia Selvagem - Ritual e mercadoria entre os índios XicrinMebêngôkre, Editora: ISA/Editora Unesp/NuTI, São Paulo, 2006. GORDON, Robert W. Nuevos desarrollos de la teoría jurídica. HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Sérgio Antonio Fabris, Porto Alegre, 1997. KAUFMANN, A. & HASSEMER, W. Introdução à filosofia do directo e à teoria do directo contemporâneas. 2ª. Ed. Fundação Caloust Gulbenkian, Lisboa, 1996. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Directo. Martins Fontes, São Paulo, 2003. LEVY-LEBLOND, Jean Marc. O pensar e a prática da ciência. Antinomias da razão. Edusc. SP, 2004. LUCIANO, Gersen José dos Santos. Povos indígenas e etnodesenvolvimento no Alto Rio Negro. In: Estudos indígenas: comparações, interpretações e políticas. (Org.) ATHIAS, Renato, e PINTO, Regina Pahim. Contexto, São Paulo, 2008. MUNANGA, Kabengele. Fundamentos antropológicos e histórico-jurídicos das políticas de universalização e diversidade nos sistemas educacionais no mundo contemporâneo. Seminário Internacional: “Ações afirmativas nas políticas educacionais: o contexto pósDurban. Brasília DF, 20-22 setembro/2005. Série Multimídia IFP, n. 08 CD. OLIVEIRA, Paulo Celso de. Gestão territorial indígena: perspectivas e alcances. Povos indígenas e etnodesenvolvimento no Alto Rio Negro. In: Estudos indígenas: comparações, interpretações e políticas. (Org.) ATHIAS, Renato, e PINTO, Regina Pahim. Contexto, São Paulo, 2008. PODER JUDICIÁRIO, Justiça Federal de 1ª. Instancia, Seção Judiciária do Pará, Subseção de Marabá. Sentença n.º 448/2008, Autos 2007.39.01.000006-0, Tipo A, Classe 7100 – Ação Civil Pública – Autor: Fundação Nacional do Índio e outros, Réu: Companhia Vale do Rio Doce e outros. QUISPE, Miguel Palacín. Estados Plurinacionales Comunitarios. El ben vivir para que otros mundos sean posibles. CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígeas. Lima, Peru. 2008. RANDERIA, Shalini. Pluralismo jurídico, soberania fracturada e direitos de cidadania diferenciais: instituições internacionais, movimentos sociais e Estado pós-colonial na Índia. In: Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.), Edições Afrontamento. Porto, Portugal, 2004. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Cortez Editora. São Paulo, 2007. ____ Notas sobre a história jurídico-social de Pasárgada. In: Direito Achado na Rua. Unb, Brasília, 1995. 16 ____ Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Edições Afrontamento. Porto, Portugal, 2004. ____ Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista crítica de ciências sociais, n. 48, junho de 1997. SANTOS, Jorge Luis Ribeiro. A identidade Xikrín no universo não índio. PPGD, ICJ – UFPA. Belém, 2009. mimeo. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: novo paradigma de legitimação. Endereço eletrônico: www.mundojuridico.adv.br. Acesso em 11/10/08.
Baixar