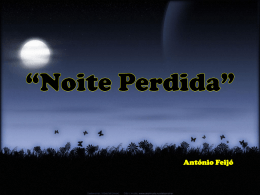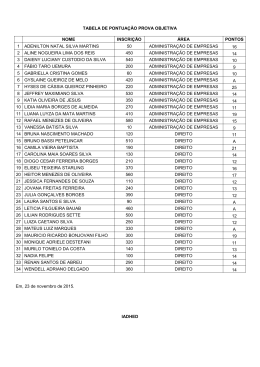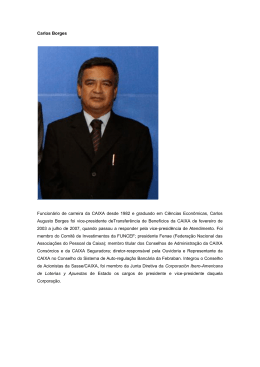O ROUXINOL DE BORGES Na sua conferência sobre “O rouxinol de Lacan”, importante orientação para o argumento do 3º Encontro Americano e XVI Encontro Internacional do Campo Freudiano, Jacques-Alain Miller faz referência a um texto de Jorge Luis Borges que, por sua vez, é um elemento decisivo para as elaborações desse psicanalista a propósito da “arte do diagnóstico”. Trata-se de um ensaio publicado em Otras inquisiciones (1952), intitulado “O rouxinol de Keats”, transcrito a seguir como uma primeira referência ao “rouxinol de Borges”. Entretanto, essa referência, especialmente por sua convocação de Keats, evoca uma segunda, publicada em El oro de los tigres (1972), na forma de um poema – A John Keats (1795-1821) –, também disponível neste site em uma tradução realizada por Augusto de Campos. O ROUXINOL DE KEATS1 Jorges Luis Borges Aqueles que freqüentaram a poesia lírica da Inglaterra não esquecerão a “Ode a um rouxinol”, que John Keats, tísico, pobre e talvez desafortunado no amor, compôs em um jardim em Hampstead, à idade de vinte e três anos, em uma das noites do mês de abril de 1819. Keats, no jardim suburbano, ouviu o eterno rouxinol de Ovídio e de Shakespeare, e sentiu sua própria mortalidade, e contrastou-a com a tênue voz imorredoura do invisível pássaro. Keats escrevera que o poeta deve dar poesias naturalmente, como a árvore dá folhas; duas ou três horas bastaramlhe para compor essa páginas de inesgotável e insaciável beleza, que ele poliria muito pouco; sua virtude, que eu saiva, não foi discutida por ninguém, mas sim sua interpretação. O nó do problema está na penúltima estrofe. O homem circunstancial e mortal dirige-se ao pássaro, “que não abatem as famintas gerações” e cuja voz, agora, é aquela que, em campos de Israel, em uma antiga tarde, ouviu Rute, a moabita. Em sua monografia sobre Keats, publicada em 1887, Sidney Colvin (correspondente e amigo de Stevenson) percebeu ou inventou uma dificuldade na estrofe em questão. Transcrevo sua curiosa declaração: “Com um erro de lógica, que, a meu ver, é também uma falha poética, Keats opõe-se à fugacidade da vida humana, em que entende a vida do indivíduo, a permanência da vida do pássaro, em que entende a vida da espécie”. Em 1895, Bridges repetiu a denúncia; F.R. leavis aprovou-a em 1936 e acrescentou o escólio: “Naturalmente, a falácia incluída nesse conceito prova a intensidade do sentimento que a acolheu…”. Keats, na primeira estrofe de seu 1 Texto extraído de Outras inquisições (1952), Tradução de Sérgio Molina. Cf.: BORGES, Jorge Luis. Obras Completas. Volume II. Rio de Janeiro: Globo, 1999, p. 103-106. poema, chamou o rouxinol de dríade; outro crítico, Garrod, com toda a seriedade, alegou esse epíteto para sentenciar que, na sétima, a ave é imortal porque é uma dríade, uma divindade dos bosques. Amy Lowell escreveu com mais acerto: “O leitor que tenha uma centelha de sentido imaginativo ou poético logo intuirá que Keats não se refere ao rouxinol que cantava nesse momento, e sim à espécie”. Cinco pareceres de cinco críticos atuais e passados recolhi; entendo que, de todos, o menos vão é o da norte-americana Amy Lowell, mas nego a oposição que nele se postula entre o efêmero rouxinol dessa noite e o rouxinol genérico. A chave, a exata chave da estrofe, está, suspeito, em um parágrafo metafísico de Schopenhauer, que nunca a leu. A “Ode a um rouxinol” data de 1819; em 1844 apareceu o segundo volume de O Mundo como Vontade e Representação. No capítulo 41, lê-se o seguinte: “Perguntemo-nos com sinceridade se a andorinha deste verão é outra que não a do primeiro e se realmente o milagre de tirar algo do nada ocorreu milhões de vezes entre as duas para ser fraudado outras tantas pela aniquilação absoluta. Quem me ouvir assegurar que este gato aqui brincando é o mesmo que saltitava e traquinava neste lugar há trezentos anos pensará de mim o que quiser, mas loucura mais estranha é imaginar que é fundamentalmente outro”. Ou seja, o indivíduo é de certo modo a espécie, e o rouxinol de Keats é também o rouxinol de Rute. Keats, que, sem exagerada injustiça, pôde escrever: “Nada sei, nada li”, adivinhou o espírito grego nas páginas de algum dicionário escolar; sutilíssima prova dessa adivinhação ou recriação é ele ter intuído no obscuro rouxinol de uma noite o rouxinol platônico. Keats, talvez incapaz de definir a palavra arquétipo, antecipou-se em um quarto de século a uma tese de Schopenhauer. Esclarecida assim a primeira dificuldade, falta esclarecer uma segunda, de índole muito diversa. Como é possível que Garrod, Leavis e os outros2 não tenham chegado a essa interpretação evidente? Leavis é professor de um dos colégios de Cambridge — a cidade que, no século XVII, congregou e deu nome aos Cambridge Platonists —; Bridges escreveu um poema platônico intitulado “The fourth dimension”; a mera enumeração desses fatos parece agravar o enigma. Se não me engano, sua razão deriva de algo essencial na mente britânica. 2 A essa lista dever-se-ia acrescentar o genial poeta William Butler Yeats, que, na primeira estrofe de “Sailing to Byzantium”, fala em “morrentes gerações” de pássaros, em unia alusão deliberada ou involuntária à “Ode”. Ver T. R. Henn: The Lonely Tower, 1950, p. 211. Coleridge observa que todos os homens nascem aristotélicos ou platônicos. Os últimos sentem que as classes, as ordens e os gêneros são realidades; os primeiros, que são generalizações; para estes, a linguagem não passa de um aproximativo jogo de símbolos; para aqueles, é o mapa do universo. O platônico sabe que o universo é de certo modo um cosmos, uma ordem; essa ordem, para. o aristotélico, pode ser um erro ou uma ficção de nosso conhecimento parcial. Através das latitudes e das épocas, os dois antagonistas imortais trocam de dialeto e de nome: um é Parmênides, Platão, Spinoza, Kant, Francis Bradley; o outro, Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, William James. Nas árduas escolas da Idade Média, todos invocam Aristóteles, mestre da humana razão (Dante, Convivio, IV, 2), mas os nominalistas são Aristóteles; os realistas, Platão. O nominalismo inglês do século XIV ressurge no escrupuloso idealismo inglês do século XVIII; a economia da fórmula de Occam, “entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”3 permite ou prefigura o não menos taxativo “esse est percipi”4 Os homens, disse Coleridge, nascem aristotélicos ou platônicos; da mente inglesa cabe afirmar que nasceu aristotélica. O real, para essa mente, não são os conceitos abstratos, e sim os indivíduos; não o rouxinol genérico, e sim os rouxinóis concretos. E natural, é talvez inevitável, que na Inglaterra a “Ode a um rouxinol” não seja bem compreendida. Que ninguém leia reprovação ou desdém nas palavras acima. O inglês recusa o genérico porque sente que o individual é irredutível, inassimilável e ímpar. Um escrúpulo ético, não uma incapacidade especulativa, impede-o de transitar por abstrações, como os alemães. Não entende a “Ode a um rouxinol”; essa valiosa incompreensão permite-lhe ser Locke, ser Berkeley e ser Hume, e escrever, há cerca de setenta anos, as não escutadas e proféticas advertências do Indivíduo contra o Estado. O rouxinol, em todas as línguas do orbe, desfruta de nomes melodiosos (nightingale, nachtigall, usignolo), como se os homens instintivamente tivessem querido que esses não desmerecessem o canto que os maravilhou. De tão exaltado pelos poetas, ele agora é um tanto irreal; menos afim com a calhandra que com o anjo. Dos enigmas saxões do Livro de Exeter (“eu, antigo cantor da tarde, trago aos nobres alegria nas vilas”) à trágica Atalanta, de Swinburne, o infinito rouxinol tem cantado na literatura britânica; foi celebrado por Chaucer e Shakespeare, 3 4 “Os entes não devem ser multiplicados além do necessário.” (N. da T.) “Ser é ser percebido.” (N. da T.) por Milton e Matthew Arnold, mas é a John Keats que fatalmente ligamos sua imagem como a Blake a do tigre. A JOHN KEATS (1795-1821)** Jorge Luis Borges Desde o princípio até à jovem morte A terrível beleza te espreitava Como a outros tantos a propícia sorte Ou a má. Nas auroras te esperava De Londres, entre as páginas casuais De um dicionário de mitologia, Nas mais humildes dádivas do dia, Em um rosto, uma voz, ou nos mortais Lábios de Fanny Brawne. Ó sucessivo E arrebatado Keats, que o tempo cega, Esse alto rouxinol, essa urna grega São tua eternidade, ó fugitivo. Foste o fogo. Na pânica memória Já não és mais a cinza. És a glória. Tradução: Augusto de Campos ** Poema publicado por Borges em El oro del tigre (1972). A tradução apresentada aqui foi realizada por Augusto de Campos que, gentilmente, autorizou sua publicação neste site. Cf. CAMPOS, Augusto. Línguaviagem. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 131.
Download