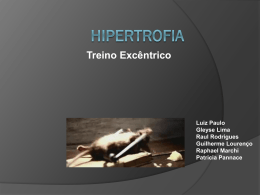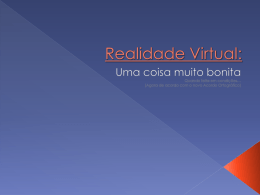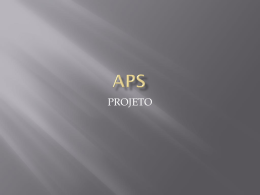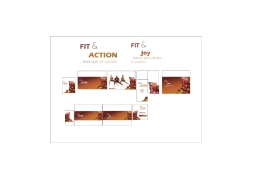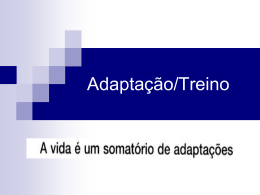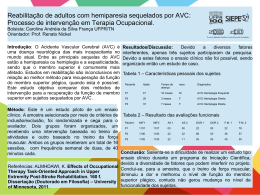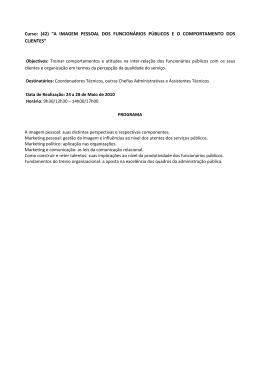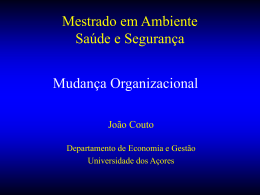A INFLUÊNCIA DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS NO TREINO DE FORÇA Bernardete Antunes Lourenço Jorge Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Vila Real, 2010 Este trabalho foi expressamente elaborado com vista à obtenção do grau de Mestre em Actividades de Academia e Prescrição do Exercício, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº216/92 de13 de Outubro. Agradecimentos A realização deste estudo não teria sido possível sem a contribuição de alguns elementos que através do seu apoio, colaboração e esforço o tornaram possível. Assim, expresso o meu bem-haja: À Professora Doutora Maria Paula Mota, orientadora do estudo que através dos seu rigor, competência, dedicação e espírito científico e crítico contribuiu de forma decisiva para a conclusão de mais uma etapa no meu percurso académico. Não quero deixar de realçar, também e acima de tudo, a suas excelentes qualidades como ser humano, que nunca deixaram de estar presentes. À minha colega e amiga Natalina Casanova pela constante persistência, apoio e colaboração. Aos elementos que fizeram parte do estudo, pela sua disponibilidade e vontade de participar, aos alunos André Santiago e João Salcedas que colaboraram na recolha dos dados, bem como à Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPGuarda, que disponibilizou o espaço e material para recolha dos dados. À Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pelo apoio institucional, em especial à Professora Doutora Catarina Abrantes e ao Professor Doutor António Silva que ajudaram na burocracia institucional, ao Professor Doutor Jorge Campaniço que disponibilizou material e documentação. Aos colegas que, através da sua amizade e disponibilidade, contribuíram para a concretização deste estudo. Não posso deixar de destacar os amigos Carlos Marta e Carolina Vila-Chã. Aos meus Pais. Aos meus filhos, Raquel e Rafael e ao meu marido. À Caro. Resumo O desenvolvimento da força é imprescindível em qualquer programa de treino, porque melhora o rendimento e a execução das técnicas em diversas actividades desportivas, bem como em tarefas do dia-a-dia. Na realização de programas de treino de força deve-se considerar, entre outros aspectos (exercícios, o número de repetições e o tempo de repouso entre os exercícios) a ordem dos exercícios. O presente estudo, teve por objectivo estudar a influência da ordem dos exercícios no número de repetições e nas manifestações de potência (média e pico). Foi constituída uma amostra de 20 indivíduos homens adultos (média da idade=21,4 ± 2,2) distribuídos aleatoriamente por dois grupos de dez elementos, denominados de G1 e G2. Foram determinadas duas sequências opostas de ordem de exercícios - SEQ.A dos grandes grupos musculares (PP Prensa Pernas, EP Extensão Pernas, FP Flexão Pernas) para os pequenos grupos musculares (SUP Supino, MP Military Press, TP Tríceps); SEQ.B sequência inversa. Após a avaliação do 1RM (teste e re-teste), o G1 foi sujeito a uma sessão de treino de força com a SEQ.A, tendo sido G2 sujeito a uma sessão de treino de força com a SEQ.B. Após uma semana de intervalo foi invertida a ordem de realização dos exercícios em cada um dos grupos (G1 e G2). Em todas as sessões foram definidos tempos de repouso adequados entre exercícios, e cada exercício foi realizado até à exaustão. Foram encontradas diferenças significativas nos exercícios PP e FP, que obtiveram um número de repetições mais elevado na SEQ.B, não tendo sido encontradas diferenças significativas na média e pico da potência. Palavras-chave: Treino de força, ordem dos exercícios, potência, número de repetições. Abstract Developing strenght is absolutely necessary in any training programme because it improves physical fitness and the exercise of the techniques in various sports activities as well as in the tasks of daily life. In the execution of strength training programmes we must consider (the choice and the sequence of the exercises, the number of repetitions and the time of relaxation between exercises). This study aimed at analyzing the sequence of the exercises and the relation between the number of the repetitions and the manifestations of power (medium and high). Twenty men, adults were taken as sample (average age =21,4 ± 2,2), put together at random in two groups of ten, called G1 and G2. Two sequences of opposite exercises were established: SEQ. A – great muscle groups ( LP Leg Press, LE Leg Extension, LC Leg Curl) and inverted sequence SEQ. B for small muscle groups ( BP Bench Press, PM Press Military, SP Triceps). After the evaluation of 1RM (test and re-test) G1 underwent a strength training session with SEQ.A and G2 underwent a strength training session with SEQ.B. After one week break the sequence of the practice of the exercises was inverted in each group. In all sessions adequated relax periods were defined between exercises and each exercise was done till exhaustion. Significant differences were found in exercises PP and FP that obtained higher number of repetitions in sequence SEQ. B but there were no significant differences in medium and high power. Key-words: Strenght training, sequence of exercises, power, number of repetitions. Résumé Le développement de la force est essentiel dans tout programme d’entrainement, car il améliore l'efficacité et la mise en œuvre de techniques dans diverses activités sportives et dans les tâches du quotidien. Durant la réalisation des programmes d’entrainement de la force il faut considérer, entre autres aspects (exercices, le nombre de répétitions et le temps de repos entre les exercices) l'ordre des exercices. Cette étude a eu comme objectif l'étude de l'influence de l'ordre des exercices dans le nombre de répétitions et dans les manifestations de la puissance (moyenne et maximale). Un échantillon de 20 personnes d’hommes adultes (moyenne d'âge = 21.4 ± 2,2) a été constitué et distribué au hasard par deux groupes de dix éléments, dénommés G1 et G2. Deux séquences d’ordre d’exercices opposés ont été déterminées - SEQ.A des grands groupes musculaires (PC Presse à cuisse, LE Leg Extension, LC Leg Curl arrière) jusqu’aux petits groupes musculaires (DC Développé Couché, DD Développé Devant, PH Poulie Haute); SEQ.B inversion de la séquence. Après l’évaluation du 1RM (test et test de nouveau), le G1 a fait l'objet d'une session d’entrainement de la force avec le SEQ.A, ayant été G2 soumis à une session d’entrainement de la force avec SEQ.B. Après une semaine d’intervalle, l’ordre de la réalisation des exercices dans chaque groupe a été modifié (G1 et G2). Dans toutes les séances, il y a eu des temps de repos adaptés entre les exercices, et chaque exercices a été réalisé jusqu’à l’épuisement. Des différences significatives ont été trouvés dans les exercices PP et FP, qui ont obtenu un plus grand nombre de répétitions dans la SEQ.B, n'ayant pas été trouvé des différences significatives dans la moyenne et maximale de la puissance. Mots-clés : Entrainement de la force, ordre des exercices, puissance, nombres de répétitions. Índice Geral Agradecimentos Resumo Abstract Résumé Índice Geral Índice de Quadros Índice de Figuras Índice de Gráficos Lista de Abreviaturas Introdução iii iv v vi vii ix ix ix x 2 Revisão da Literatura 1. Força e Processos Fisiológicos 1.1. Contracção Muscular 1.2. Manifestações de Força 2. Benefícios do Treino de Força 2.1. Alterações Fisiológicas com o Treino de Força 2.2. Treino da Força e Benefícios para a Saúde 3. Variáveis do Treino de Força 7 7 10 14 14 15 20 Metodologia 1. Amostra 1.1. Critérios de Inclusão e Exclusão da Amostra 1.1.1. Inclusão 1.1.2. Exclusão 2. Variáveis do Estudo 3. Equipamento 4. Procedimentos de Recolha de Dados 4.1. Avaliações 4.1.1. Teste e Re-teste 1RM/Força Máxima 4.1.2. Número de Repetições e Potência 4.2. Análise Estatística 29 29 29 29 30 30 31 33 33 34 35 Apresentação dos Resultados 1. Resultados 1.1. Membros Superiores Sequência A/Sequência B 1.2. Membros Inferiores Sequência A/Sequência B 37 37 41 Discussão dos Resultados 1. Discussão 43 Conclusões 49 Bibliografia 53 Índice de Quadros Quadro 1. Percentagem de fibras rápidas e lentas dos diferentes músculos esqueléticos (adaptado de Bosco, 2000 p.28) Quadro 2. Formas de manifestação da força muscular (Adaptado de Cervera 1996 e Garganta 2000) 10 12 Quadro 3. Resultados de Estudos que analisaram o efeito da ordem dos exercícios no treino de força Quadro 4 - Resultados obtidos nos exercícios dos Membros Superiores 24 Quadro 5. Resultados obtidos nos exercícios dos Membros Inferiores 41 38 Índice de Figuras Figura 1. Representação esquemática das sucessivas fases que ocorrem entre a intenção e a produção efectiva de um movimento voluntário (adaptado de McComas 1996 e Moritani 2003) 8 Figura 2. Componentes da força muscular e sua relação hierárquica (Castelo 1998) 14 Figura 3. Relação entre a área transversal de diferentes tipos de fibras em Homens e Mulheres jovens não treinados (Zatsiorsky and Kraemer 2008 p. 196) 17 Figura 4. Número de repetições adequadas para cada fase do treino (adaptado Bompa 2006, p.42) 21 Figura 5. Desenho Experimental 31 Figura 6. Sequências e ordem dos exercícios na SEQ.A e na SEQ.B. 32 Índice de Gráficos Gráfico 1. Número de repetições dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B. *p<0,05 Gráfico 2. Pico da Potência dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B. *p<0,05 39 39 Gráfico 3. Média da Potência dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B.*p<0,05 40 Gráfico 4. Número de Repetições dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB *p<0.05 Gráfico 5. Pico da Potência dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB. *p<0.05 42 43 Gráfico 6. Média da Potência dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB. *p<0.05 43 Lista de Abreviaturas ACSM American College of Sports Medicine FT Fast twitch fibers ST Slow twitch fibers ATP-CP 1RM NSCA AAP AOSSM Compost os de fosfato Uma repetição máxima National Strength and Conditioning Association American Academy of Pediatrics American Orthopaedic Society for Sports PP Exercício Prensa Perna EP Exercício Extensão Perna FP Exercício Flexão Perna SUP Exercício Supino MP Exercício Military Press TP Exercício Tríceps CK Creatina quinase SEQ.A Sequência A SEQ.B Sequência B INTRODUÇÃO A força muscular é vista como a tensão que um músculo ou grupo muscular consegue exercer contra uma resistência, num determinado tempo ou velocidade, podendo ainda ser considerada como a capacidade de superar ou de se opor a uma resistência externa através do esforço muscular (Barbanti et al. 2004; Bompa 2005; Fleck and Kraemer 1999; Fox et al.1991; Platonov and Bulatova 1993; Zatsiorsky and Kraemer 2008). Na opinião destes autores, o desenvolvimento da força é imprescindível em qualquer programa de treino, porque melhora o rendimento e a execução das técnicas em diversas actividades desportivas, bem como, em tarefas do dia-a-dia. Neste sentido, e ao longo destas últimas décadas, esta capacidade passou a ser desenvolvida através de programas de treino específicos e tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, tanto em atletas de alta competição como em simples praticantes de uma actividade física. As preocupações tidas com o treino da força, vão mais longe, quando é o American College of Sports Medicine (ACSM 2002) a recomendar o treino de força como um método eficaz para o desenvolvimento da estrutura músculo-esquelética, sendo actualmente prescrito por várias organizações (NSCA - National Strength and Conditioning Association, AAP – American Academy of Pediatrics; AOSSM – American Orthopaedic Society for Sports) para melhorar a saúde e aptidão física da população em geral. São vários os benefícios conseguidos através da participação em programas de treino de força. Esses benefícios, além de se situarem ao nível da saúde, situam-se também na prevenção de lesões e ao nível social e psicológico. Dependendo dos objectivos do método de treino utilizado, o desenvolvimento da força pode levar a uma melhoria da aptidão cardiovascular e a um aumento do conteúdo mineral ósseo bem como à melhoria da força mecânica da estrutura dos tecidos constituintes de articulações (Zatsiorsky and Kraemer 2008; Bompa 2005; Zimermann 2004). Do ponto de vista psicológico melhora a motivação para a tarefa, com um consequente aumento da auto-estima e do grau de confiança (Tavares, Navarro e Franzen 2007; Cid, Silva e Alves 2007). 2 Na perspectiva do ASCM (2002), os programas de actividade física direccionados para a saúde devem incluir exercícios de força através do uso de metodologias específicas. Na realização destes programas, existem elementos que devem ser considerados: a escolha e a ordem dos exercícios, o volume e a intensidade, o número de repetições e o tempo de repouso entre os exercícios e entre as séries (Bacurau 2001). Os benefícios alcançados com o treino dependem da correcta aplicação destes parâmetros da carga, devendo o objectivo pretendido por cada praticante ser tido em conta na gestão de cada um. Entre estes parâmetros, a ordem dos exercícios tem sido alvo de diversos estudos (Sorzo e Touey 1996; Simão et al. 2005; Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Novaes et al. 2007; Simão et al. 2007; Chaves et al. s.d.; Silva, Monteiro e Farinatti 2009), com o objectivo de verificar de que forma a ordem dos exercícios influencia o número de repetições e, consequentemente, a força total realizada numa sessão de treino de força. Alguns destes estudos foram já realizados, com base nestas variáveis, uns são mais favoráveis a uma sequência que se inicie nos grandes grupos musculares e termine nos pequenos (ASCM 2002; Sforzo and Touey 1996) considerando que, assim, há uma minimização da fadiga ao longo do treino (possibilitando maiores ganhos de força), enquanto outros dão indicações contrárias (Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Silva, Monteiro e Farinatti 2009; Chaves et al. s.d.). Outros, ainda, não verificaram diferenças no número de repetições entre exercícios quando se comparam duas sequências inversas na ordem dos exercícios (Simão et al. 2005; Novaes et al. 2007). Diversas hipóteses explicativas dos diferentes resultados obtidos nos estudos citados foram levantadas pelos respectivos autores, entre elas as mais frequentes foram a fadiga muscular ou percepcionada e a agressão muscular. No entanto, estas explicações não foram consistentes para todos os estudos. A análise da metodologia utilizada nos referidos estudos revela bastantes semelhanças e, em todos eles, não foi considerada a velocidade de execução das repetições nas duas sequências de exercício utilizadas. Considerando que a velocidade de execução de qualquer movimento influencia o aparecimento da fadiga, parece, de certa forma, lógico que se a velocidade de execução for diferente nas duas sequências de exercícios, então o número de 3 repetições também deverá ser alterado. Neste sentido, não tendo esta variável sido controlada nos estudos anteriores, as dúvidas sobre a ordem dos exercícios mais vantajosa para o treino de força persistem. Ou seja, sendo a carga do exercício constante, a avaliação da velocidade de execução dos exercícios e seu produto pela força, resulta na potência de cada repetição. Isto é, a potência pode ser utilizada como indicador indirecto da velocidade de execução. Assim, levantamos o seguinte problema: Será que a ordem dos exercícios num programa de treino de força, desenvolvido com indivíduos adultos, tem influência no número de repetições e na potência? Desta forma, definimos como objectivo de estudo investigar se a ordem dos exercícios influência o número de repetições e as manifestações de potência (média e pico). Com base na questão levantada e objectivos definidos, enunciámos duas hipóteses, uma relativa ao número de repetições em cada exercício e uma segunda respeitando a sua influência na potência. H0₁- A ordem dos exercícios não influencia significativamente o número de repetições. H0₂ - A ordem dos exercícios não influencia significativamente a potência. Para conseguirmos dar seguimento ao pretendido, foi elaborado o presente estudo, que se encontra estruturado em três partes. A primeira parte é respeitante à revisão bibliográfica e apresenta o desenvolvimento de três temas fundamentais: a força e os processos fisiológicos inerentes (contracção muscular e manifestações de força); um segundo tema, refere-se ao estudo dos benefícios do treino de força (alterações fisiológicas, benefícios para a saúde) e por último são abordadas algumas componentes da carga consideradas no treino de força, particularmente a ordem dos exercícios. 4 A segunda parte do trabalho descreve a metodologia utilizada, com caracterização da amostra e referência aos métodos e instrumentos de pesquisa. Na terceira e quarta parte apresentamos e discutimos os resultados obtidos neste estudo. Por fim, apresentamos as conclusões do estudo e enunciamos as implicações práticas do mesmo. 5 REVISÃO DA LITERATURA 1. Força e Processos Fisiológicos 1.1. Contracção Muscular Para compreender as adaptações musculares induzidas pelo treino de força, é necessário compreender os mecanismos que lhe estão subjacentes. A correcta intervenção nas distintas áreas da actividade física por parte de monitores/professores ou investigadores implica necessariamente uma compreensão sobre como a força muscular é produzida e controlada, sobre os factores que afectam a sua produção, bem como sobre a distribuição do esforço pelos músculos com capacidade mecânica para intervir numa determinada acção Qualquer movimento voluntário desportivo e/ou ocupacional pressupõe momentos articulares e estes, por sua vez, estão quase exclusivamente dependentes da produção de força muscular, embora as forças de contacto dos ossos, ligamentos e forças de outros tecidos moles também possam contribuir (Herzog 2000b). A produção de força está essencialmente dependente da dimensão e estrutura do músculo, das suas condições de contracção e do seu nível de activação (Herzog 2000a). Se se analisar o músculo como sendo um motor, a sua acção não estará apenas dependente das suas propriedades intrínsecas, mas também da forma como é activado e dos sistemas de feedback que regulam o seu rendimento (Gardiner 2001). Embora o potencial para o desenvolvimento de movimento possa ser estimado pela análise da arquitectura muscular, as características do movimento são ditadas por considerações neuromusculares, como por exemplo, pelo número e dimensão das unidades motoras e pelo padrão de activação das unidades motoras durante o movimento (Gardiner 2001). O desencadeamento e controlo da força muscular é um processo extremamente complexo e está dependente de vários factores (Herzog 2000a). Entre a intenção e a produção efectiva de um movimento voluntário ocorre uma sucessão complexa de fases que se desencadeiam ao nível do sistema nervoso central e terminam ao nível do sistema muscular (Figura 1). 7 Figura 1. Representação esquemática das sucessivas fases que ocorrem entre a intenção e a produção efectiva de um movimento voluntário (adaptado de McComas 1996 e Moritani 2003). A contracção muscular voluntária do músculo tem início na área motora do cérebro, local de onde parte o impulso nervoso que percorre a medula espinhal até chegar aos terminais dos axónios motores, provocando a despolarização das fibras musculares, o processo de deslizamento dos filamentos de actina e miosina e consequente contracção muscular (Moritani and deVries 1979; Bosco 2000). Por sua vez a contracção muscular provoca alterações ao nível dos receptores que comunicam permanentemente ao sistema nervoso central os estados de tensão e relaxamento do músculo, bem como a posição e o movimento articular (Castelo et al. 1998; Watkins 1999; Proske 2006). A força muscular desenvolvida durante acções motoras voluntárias está assim, sob a influência de inúmeros factores e, dependendo da acção a desenvolver, a interferência de cada um deles poderá ser distinta. Segundo Herzog (2000a), a força produzida num dado instante depende primariamente do nível de activação muscular, do comprimento do músculo e da velocidade de contracção. O nível de activação muscular1 está essencialmente dependente da acção do sistema nervoso central, 1 Embora na literatura activação muscular ou estado activo do músculo seja definida de diferentes formas, para nós, e tomando em consideração os objectivos do estudo, faz sentido a definição de activação dada por Herzog (2000a). Assim, quando nos reportarmos a activação muscular, estamos a referir-nos ao número de unidades motoras activas e à sua correspondente frequência de disparo. 8 enquanto o comprimento e velocidade de contracção estão condicionados principalmente pelas características fisiológicas e pela geometria do músculo (Herzog 2000a). O conceito de unidade motora torna-se importante no treino da força com cargas elevadas, dado cada um dos nervos motores que enervam um músculo poderem estimular desde uma a vários milhares de fibras musculares. Uma unidade motora é constituída pelo motoneurónio e fibras musculares activadas por ele. Quando um nervo motor é estimulado obtém-se resposta em todas as fibras musculares constituintes desta unidade motora. O número de unidades motoras envolvidas numa contracção depende da carga imposta sobre o músculo, existindo assim, uma relação directa com a força produzida (Bompa 2006). Quanto maior o número de fibras pertencentes a uma unidade motora, maior é a produção de força. Deste modo, devem ser utilizadas cargas máximas para treinar o músculo de forma completa. O uso de cargas máximas no desenvolvimento da força máxima pode ser também explicado pela magnitude da carga. Quando se exercita o músculo com cargas máximas todas as fibras musculares são activadas de forma sincronizada conduzindo a uma produção máxima de força, o que não acontece quando utilizamos cargas médias, dado que, algumas unidades motoras contraem-se menos ou encontram-se relaxadas, havendo uma menor produção de força (Bompa 2006). As unidades motoras são constituídas por diversos tipos de fibras de acordo com a velocidade de contracção variando entre as fibras mais rápidas e brancas (FT, fast twitch fibers) e fibras mais lentas e vermelhas (ST, slow twitch fibers). As fibras de contracção lenta (ST) são oxidativas, enquanto as fibras de contracção rápida tem um metabolismo glicolitico mais desenvolvido (Fox et al. 1989). Mais uma vez, o recrutamento do tipo de fibras musculares depende da magnitude da carga, em actividades de baixa/média intensidade verifica-se o recrutamento das fibras lentas, à medida que aumenta a intensidade da carga, aumenta o recrutamento de fibras de contracção rápida (Bompa 2006). A distribuição das fibras rápidas e lentas não se verifica de forma uniforme nos vários grupos musculares (ver Quadro 1). De uma forma geral, os músculos 9 responsáveis por movimentos balísticos e rápidos, encontrados nas extremidades, contêm uma maior percentagem de fibras rápidas, enquanto os músculos do tronco e os posturais contêm uma elevada percentagem de fibras lentas (Bosco 2000; Fox 1989). Quadro 1. Percentagem de fibras rápidas e lentas dos diferentes músculos esqueléticos (adaptado de Bosco 2000 p.28). Músculo %ST %FTa %FT Músculo %S %FTa %FTb b T Curto Adutor 45 15 40 Grande Adutor 65 15 40 Grande Adutor 55 15 30 Gémeos 50 20 30 Grande glúteo 50 20 30 Médio/pequeno glúteo 50 20 30 Psoas ilíaco 50 50 Obturador ext/interno 50 20 30 Pectíneo 45 15 40 Piriforme 50 20 30 Psoas 50 20 30 Bícepete femoral 65 10 25 Recto interno 55 15 30 Costureiro 50 20 30 Semimembranoso 50 15 35 Semitendinoso 50 15 35 Tensor da fascia lata 70 10 20 Poplíteo 50 15 35 Quadrícipete crural 50 15 35 Quadrícipete vasto externo 45 20 35 Quadricípete Vasto interno 50 15 35 Quadrícipete recto femoral 45 15 40 Solear 75 15 10 Tíbial anterior 70 10 20 Grande dorsal 50 50 Grande recto do abdómen 46 54 Bícepete braqueal 50 50 Longo supinador 40 60 Deltóide 60 40 Grande peitoral 42 58 Rombóides 45 55 Trícepete braquial 33 67 Trapézio 54 46 Supraespinhoso 60 40 Legenda: %ST – percentagem fibras lentas; %FTa– percentagem fibras rápidas oxidativas e glucoliticas; %FTb– percentagem fibras rápidas essencialmente glucoliticas. 1.2. Manifestações de Força A força pode ser definida do ponto de vista da Física, como a capacidade de mover um objecto, alterando o seu estado de repouso, exprimindo-se pelo resultado da massa pela aceleração (f = m x a). No contexto da actividade física e desportiva, a força é entendida como a capacidade de um sujeito para vencer ou suportar uma resistência (Manso et al. 1996). A importância da força muscular na actividade física humana e a complexidade dos processos biológicos e biomecânicos que lhe estão inerentes, têm suscitado um enorme interesse da comunidade científica. Neste sentido, são numerosos os estudos desenvolvidos com o intuito de melhor compreendermos esta capacidade condicional. 10 No entanto, devido à utilização de diferentes critérios de classificação, a força muscular tem sido expressa de distintas formas, quer por fisiologistas do exercício, quer por biomecânicos. Sob uma perspectiva fisiológica, a força pode ser definida como a capacidade de um músculo, ou grupo muscular, exercer um momento máximo durante uma contracção isométrica de duração ilimitada. Segundo Howard et al. (1985), a definição de força está confinada a condições isométricas, uma vez que a força muscular altera-se com a variação do comprimento do músculo e com as diferentes velocidades do movimento. Do ponto de vista biomecânico, a força dividese em duas subcategorias: (1) forças internas e (2) forças externas (Zatsiorsky 1995). As forças internas podem ser definidas como sendo as forças que actuam entre partes constituintes do ser humano, enquanto as forças externas se referem às que actuam entre dois atletas ou entre um atleta e o meio ambiente. Deste ponto de vista, quando se pretende estimar a força muscular de atletas referimo-nos apenas a forças externas, o que submete a definição de força para a capacidade de gerar a máxima força contra uma carga externa (Zatsiorsky 1995; Siff and Verkhoshansky 2000). Isto é, será a capacidade que um sujeito tem para vencer uma resistência externa ou reagir contra a mesma, mediante uma tensão muscular estática ou dinâmica (Cervera 1996). De acordo com as diferentes modalidades desportivas, e tarefas do dia-a-dia, existem diferentes solicitações da capacidade motora força. Assim, uma contracção muscular produtora de força pode ser mantida durante mais ou menos tempo, podendo ainda ser efectuada contra resistências externas de diferentes intensidades. Atendendo ao facto de que a força se manifesta de forma diferente em função das necessidades de cada acção, considerando a especificidade de cada desporto ou movimento, torna-se necessário classificar esta capacidade motora quanto às suas diferentes solicitações (Manso et al. 1996). A diversidade das condições em que os músculos produzem o seu trabalho leva a que seja desenvolvido um tipo de força específica para cada movimento particular (Manso 1999; Siff and Verkhoshansky 2000). Isto requer uma análise das diferentes formas que os músculos possuem para transformar a sua própria tensão bem como das capacidades do sistema neuromuscular intervenientes no processo de produção de força (Poliquin and Patterson 1989). Dependendo da forma como a tensão é produzida e do seu tempo de 11 aplicação, teremos diferentes manifestações da força. A identificação dos diferentes tipos de força facilita a determinação de componentes de carga mais eficientes, o que permite optimizar o rendimento do ser humano perante a realização das tarefas específicas que desempenha (Siff and Verkhoshansky 2000). No entanto, devido à diversidade de critérios utilizados nos inúmeros estudos, surgiram várias propostas de classificação das manifestações da força com o objectivo de responder às especificidades das diferentes modalidades desportivas ou actividades de fitness. De acordo com Cervera (1996), a classificação da produção de força tem-se baseado essencialmente em 3 critérios: (a) existência ou não de movimento (força estática ou dinâmica); (b) tipo de contracção (força isométrica, força dinâmica excêntrica e força dinâmica concêntrica) e (c) aceleração produzida pelo corpo (forca máxima, força explosiva e força de resistência) (Quadro 2). Quadro 2. Formas de manifestação da força muscular (Adaptado de Cervera 1996 e Garganta 2000). Em função da existência de movimento Força estática ou isométrica Força dinâmica Em função do tipo de contracção Força estática ou isométrica Força dinâmica - Concêntrica - Excêntrica Em função da aceleração produzida pelo corpo Força máxima Força explosiva Força de resistência Contudo, do ponto de vista científico esta classificação das manifestações da força não é completamente satisfatória, uma vez que usa diferentes formas de categorização (existência de movimento, velocidade e tempo) (Zatsiorsky 1995). Na realidade, não existe uma demarcação clara entre as diferentes manifestações da força mas sim uma transição progressiva entre elas (Zatsiorsky 1995). De acordo com as recomendações do ACSM (2002) para a população em geral, o desenvolvimento da força muscular agrupa-se em três categorias: força máxima, força explosiva e força de resistência. Adicionalmente, foram também apresentadas recomendações para aumento da massa muscular (hipertrofia) o que contribui para o aumento da força máxima. A força máxima é a força mais elevada que o sistema 12 neuromuscular pode desenvolver numa contracção máxima espontânea (voluntária) contra uma resistência inamovível (Buskies and Boeck-Behrens 2005; Castelo et al. 1998; Dick 1993; Mil-Homens 1998). Do ponto de vista fisiológico, a força máxima depende da secção transversal do músculo, da coordenação intermuscular e da coordenação intramuscular. Cada uma destas três componentes permite uma melhoria da força máxima. Uma melhoria da coordenação intramuscular provoca um aumento da força podendo no entanto não aumentar a secção transversal do músculo (Bosco 2000). Do ponto de vista energético, os compostos de fosfato (ATP-CP) têm um papel decisivo no desenvolvimento desta força, visto que, este tem a duração aproximada de alguns segundos (Weineck 2002). Do ponto de vista emocional, a manifestação de força pode ser condicionada pelas condições motivacionais e condições do treino. Um atleta muito motivado e com um nível de treino elevado, consegue solicitações de força superiores, comparativamente com um sujeito com níveis idênticos de massa muscular, mas não motivado (Castelo et al. 1998). A força rápida é a capacidade do sistema neuromuscular para produzir a maior força possível no mais curto período de tempo. Na grande maioria das manifestações desportivas, o parâmetro mais importante não é o valor de força mais elevado, mas sim, a velocidade com que a força muscular pode ser produzida (Castelo et al. 1998; Weineck 2002). A força explosiva ou rápida é assim entendida, como a capacidade do sistema neuromuscular em vencer determinadas resistências a grande velocidade. A força explosiva determina directamente o rendimento e resultados obtidos nos desportos caracterizados por movimentos explosivos, como por exemplo saltos e lançamentos (Dick 1993; Mil-Homens 1998; Platonov and Bulatova 1993). Existe uma relação hierárquica entre a força máxima e a força rápida. A força máxima é a componente básica e fundamental, influenciando a produção de força rápida em especial em acções isocinéticas e concêntricas (Castelo et al. 1998). Por último, a força de resistência determina, essencialmente, o rendimento quando é necessário superar uma resistência considerável durante o máximo de tempo possível, ou ainda realizar uma grande quantidade de repetições de 13 movimentos ou aplicação da força, de forma prolongada, a uma resistência externa (Buskies and Boeck-Behrens 2005; Dick 1993; Mil-Homens 1998; Platonov and Bulatova 1993). A força de resistência traduz a possibilidade de realizar esforços de força em actividades de média e longa duração, resistindo à fadiga e mantendo o funcionamento muscular em níveis elevados (Castelo et al. 1998). A força de resistência é condicionada pela intensidade do estímulo e número de estímulos, resultando a sua produção de energia da intensidade da força, do volume do estímulo e da sua duração (Weineck 2002). Este tipo de força é um factor determinante da performance em todos os desportos de resistência. Entre a força máxima e a força de resistência também se verifica uma relação de hierarquia. O nível de força máxima tem uma relação positiva com a força de resistência. Na figura seguinte, podemos observar as relações de hierarquia existentes entre a força máxima, força rápida e força de resistência (Castelo et al. 1998). Força Máxima Força Rápida Força de Resistência Figura 2. Componentes da força muscular e sua relação hierárquica (Castelo 1998) 2. Benefícios do Treino de Força 2.1. Alterações Fisiológicas com Treino de Força Uma das principais adaptações fisiológicas crónicas ao treino de força é o aumento do volume muscular ou hipertrofia. Este resulta fundamentalmente do aumento no diâmetro das fibras (área transversal) musculares que o compõem. A hipertrofia da fibra muscular resulta não só do aumento do número das miofibrilas por fibra muscular, mas também do aumento da quantidade total da proteína contráctil 14 em especial no filamento de miosina, do aumento dos tecidos conjuntivos, tendinosos e ligamentares (Fox et al.1991). A força máxima desenvolvida tem relação directa com o aumento da secção transversal da fibra muscular (hipertrofia), havendo sérias dúvidas, quanto à adaptação das fibras musculares ao trabalho de força resultante do número de fibras musculares (hiperplasia) (Bacurau 2001; Fox et al. 1991; Brooks et al. 1996). No entanto, os aumentos no tamanho e na força dos músculos, no ser humano, estão relacionados muito mais com a hipertrofia das fibras musculares do que com a eventual hiperplasia (Macdougall 2003; Folland and Williams 2007). Com o uso de exercícios de força pode pretender-se o aumento da massa muscular (hipertrofia) que contribui para o aumento da força muscular. Os protocolos utilizados neste tipo de treino são caracterizados por uma activação máxima do catabolismo proteico (degradação de proteína muscular). O treino da força além de provocar hipertrofia do músculo leva, também a um aumento das reservas em glicogénio e em compostos fosfatados ricos em energia, verificando-se, após o treino de força um aumento da fosfocreatina de 10 a 75% (Weineck 2002). 2.2. Treino da Força e Benefícios para a Saúde O American College of Sports Medicine (ACSM 2002) reconheceu a importância da inclusão dos exercícios de força nos programas de actividade física para a saúde. O treino de força é referido como um método eficaz para o desenvolvimento da estrutura músculo-esquelética, sendo actualmente prescrito por várias organizações, para melhorar a saúde e aptidão física das populações. Os inúmeros benefícios ou ganhos obtidos com o treino da força revelam-se ao nível da qualidade de vida, da saúde e da estética, com a redução de doenças, na melhoria das tarefas do dia-a-dia ou na modificação da composição corporal. O treino da força tem também apresentado grandes melhorias ao nível das capacidades funcionais bem como no aumento da massa muscular (ACSM 2002). Os programas de treino incluem um conjunto de metodologias específicas que visam a melhoria desta capacidade. A essência do treino da força passa pelo aumento 15 gradual, ajustado e progressivo da carga sobre o sistema músculo-esquelético para o seu fortalecimento (Carvalho 2003). Nos últimos anos, tem-se assistido a um aumento da procura, por parte da população em geral, de sessões para o desenvolvimento do treino da força. Os benefícios que advêm do treino destas modalidades tornam-se importantes ao nível da saúde, nomeadamente, no desenvolvimento da força, potência, hipertrofia e da resistência muscular. O treino da força tem um papel importante na prevenção de lesões, dado que aumenta o conteúdo mineral dos ossos e melhora a força mecânica da estrutura dos tecidos conjuntivos de uma articulação (tendões, ligamentos e junção ósseoligamentar) (Garganta et al. 2003; Simão 2004; Zatsiorsky and Kraemer 2008). Também na prevenção de lesões se torna importante o equilíbrio muscular, que deve ser corrigido quando existir uma diferença substancial entre as duas pernas ou entre os músculos e os seus antagonistas (Zatsiorsky and Kraemer 2008). De uma forma geral, o treino de força leva ao aumento da massa muscular, ganho de força e potência muscular e é também um factor na melhoria do desempenho físico. De uma forma mais específica o treino de força: - Atenua os factores de risco associado a doenças cardiovasculares, pela redução da pressão arterial, decréscimo na resposta da frequência cardíaca em repouso e melhoria da tolerância à glicose (Silva and Dourado 2008); - Altera a composição corporal com o aumento da massa magra, aumento da densidade mineral óssea, ajudando na prevenção de desenvolvimento da osteoporose e redução da perda de substância mineral associada à idade (Fleck and Kraemer 1997; Martyn-St James and Carroll 2006); - Reduz a ansiedade e a depressão, contribuindo para o aumento da autoeficácia e bem-estar psicológico (Ewart 1989; Kraemer et al. 2002); - Aumento da força, potência e resistência muscular, levando a uma maior capacidade de desempenho, nas tarefas do quotidiano, aumentando a eficácia dos sistemas músculo-esquelético, cardiovascular e metabólico (Kraemer et al. 2002; Simão 2004). 16 Assim, considerando as vantagens do treino de força, os diferentes objectivos e métodos de treino, é actualmente aceite que este deve ser incluído em qualquer programa de actividade física ou desportiva. De uma forma geral, o treino de força provoca benefícios em programas de treino direccionados a populações específicas. As mulheres que treinam à base de exercícios de força, com intensidades moderadas a elevadas possuem uma melhor estrutura óssea, com o aumento da resistência dos ossos e redução do risco de osteoporose (Fleck and Kraemer 1997; Garganta et al. 2003; Simão 2004; Zatsiorsky and Kraemer 2008). Os tecidos conjuntivos são mais fortes, o que aumenta a estabilidade das articulações e ajuda a evitar lesões. Outras vantagens do treino de força para a mulher são o aumento da massa magra corporal com a consequente diminuição da gordura corporal não funcional, uma taxa metabólica superior devida ao aumento do músculo e diminuição da gordura. Ocorre também o aumento da auto-estima e da auto-confiança, apresentando um desempenho físico desportivo melhorado (Simão 2004; Zatsiorsky and Kraemer 2008). Do ponto de vista anatómico, as mulheres têm menos fibras musculares do que os homens e sendo estas menores, facto que em parte explica a menor capacidade para desenvolver a mesma força máxima comparativamente aos homns (Figura 3, Zatsiorsky and Kraemer 2008). 6000 5000 4000 3000 Homens 2000 Mulheres 1000 0 Tipo I Tipo IIATipo IIA+IIX Figura 3. Relação entre a área transversal de diferentes tipos de fibras em Homens e Mulheres jovens não treinados (Zatsiorsky and Kraemer, 2008 p. 196). 17 Na população feminina os maiores ganhos de força muscular são conseguidos entre os 20 e 30 anos. De acordo com o National Strength and Conditioning Association (NSCA) um programa de treino de força destinado a mulheres deve obedecer a certas características: incluir exercícios com pesos livres e halteres ou que utilizem resistência do peso corporal; para além dos exercícios de força e abdominais, dar mais ênfase aos exercícios com pesos livres e exercícios para os membros inferiores; incluir exercícios que solicitem a parte superior do corpo; após obtenção de uma base de força, considerar exercícios para o corpo todo; incluir exercícios multiarticulares. No que respeita ao treino de força em jovens, este tem sido um tema bastante controverso, dado que se pensava causar lesões ósseas e atrasar o processo de crescimento (Fleck and Kraemer 1997). Actualmente, pelo contrário, está comprovado que o treino de força em jovens ajuda a prevenir lesões e proporciona uma boa base para as etapas posteriores nos atletas de alto rendimento (Bompa 2005). Verifica-se, ainda, além da melhoria do rendimento e da prevenção de lesões, benefícios para a saúde, dado que aumenta o conteúdo mineral dos ossos, sendo no futuro, uma medida preventiva da osteoporose. Também nos jovens o treino de força aumenta a proporção de massa magra muscular elevando o metabolismo. Nos jovens é importante o desenvolvimento da força nas regiões abdominal e lombar. É de referir ainda, que o treino da força para jovens deve realçar as solicitações de força e potência requeridas pela modalidade praticada, não excluindo o trabalho de força em todos os grupos musculares (Zatsiorsky and Kraemer 2008). Outro tipo de população que beneficia com a participação em programas de treino de força, são os idosos. Estes benefícios situam-se em diversos domínios. Os idosos, através do treino de força, não só adquirem um maior tónus muscular, como também ganham resistência. A manutenção da força, evidencia aspectos preventivos referentes à instabilidade articular e diminuição do risco de queda (Simão 2004). Por sua vez, o fortalecimento muscular melhora o desempenho físico e quotidiano do idoso e consequentemente a sua qualidade de vida, com reforço da auto-imagem e auto-confiança. Também no sistema cardiorespiratório se verificam 18 alterações com o aumento da resistência cardiovascular, dado que diminui a pressão arterial (Zatsiorsky and Kraemer 2008). Actualmente, está comprovado que o treino de força deve ser incluído nos programas de exercício físico para a população idosa (ACSM 2006), desde que com o devido acompanhamento técnico especializado atendendo ao facto dos idosos serem um grupo com factores de risco elevados. Nos idosos, o treino de força muscular deve ser visto como um suplemento do treino aeróbio (Brubaker et al. 2002). Este tipo de trabalho provoca adaptações crónicas positivas relativamente a variáveis cardiovasculares e hemodinâmicas, metabólicas e benefícios psicossociais (ACSM 2006). Por outro lado, verifica-se que os programas de actividade física destinados a idosos têm em grande parte sucesso devido à existência de exercícios de força muscular, que de certa forma, justificam a adesão e a continuidade dos participantes. A principal dificuldade na prescrição do exercício para idosos, encontra-se na procura da dose - resposta mais adequada para cada participante, devendo encontrar-se uma relação directa entre as características do praticante e a meta a alcançar (Santa Clara 2006). O treino da força provoca um aumento da massa magra, do ganho de força e da potência muscular, além de ser útil no desempenho físico. Como também já referimos, outros benefícios do treino da força situam-se numa melhoria da aptidão cardiovascular, e consequente diminuição do risco de doenças cardiovasculares; aumento da densidade mineral óssea, prevenindo ou retardando a osteoporose; redução da possibilidade de ocorrência de qualquer tipo de lesão na prática de um desporto ou nas tarefas do dia-a-dia; diminuição do risco de queda, actua ainda ao nível psicológico, reduzindo a ansiedade ou depressão e contribuindo para uma autoeficácia e bem-estar psicológico (Simão 2004). Desta forma, verifica-se que a força é uma das capacidades físicas mais importantes para a preservação da qualidade de vida. O desenvolvimento da força, na população idosa, leva a uma melhoria das funções neuromusculares (Pereira et al. 19 2006) e combate à sarcopenia (perda de massa muscular associada ao envelhecimento (Figueireido et al. 2008). O treino de força, justifica-se em todas as idades, desde que exista respeito pelos princípios de elaboração apropriada do programa de treino. Torna-se, ainda, necessária uma execução correcta do exercício e acompanhamento/supervisão por parte de um adulto especializado, para evitar possíveis lesões. Estas recomendações são feitas pelas principais organizações de Saúde e Desporto (NSCA – National Strength and Conditioning Association; ACSM- American College of Sports Medicine; AAP – American Academy of Pediatrics; AOSSM – American Orthopaedic Society for Sports). 3. Variáveis do Treino de Força Um programa de treino de força deve estar de acordo com uma correcta aplicação de princípios do treino e obedecer a um controlo de variáveis tais como a intensidade, o volume, o intervalo de recuperação, a frequência do treino, a selecção dos exercícios e a ordem dos mesmos (Barbanti et al. 2004; Bacurau 2001; Farinatti and Silva 2007). Na definição de um programa de treino de força devemos, em primeiro lugar definir os objectivos específicos para cada um dos participantes. O número de exercícios usados num treino de força deve ser de oito a doze, considerando seis o limite mínimo e quinze o máximo. O número de exercícios em excesso ou em escassez pode limitar a eficácia do treino, prejudicando de uma forma geral a utilidade do protocolo. A escolha do tipo de exercício (grupo muscular exercitado) também é importante, dado que numa sessão de treino deve ser exercitado pelo menos um sexto da massa muscular total. Também se recomenda a não utilização de exercícios com uma solicitação local muito limitada (grupo musculares muito pequenos) (Zimmermann 2004). Quanto ao número de séries recomendadas, devem ser utilizadas três a seis séries, podendo este número aumentar de acordo com a especificidade do treino. As 20 séries múltiplas revelam ser mais eficientes e rápidas para o aumento da força e da resistência muscular (Zimmermann 2004). O número de repetições também deve ser previsto para determinar a carga de trabalho (volume), variando de acordo com o objectivo da sessão de treino. De uma forma geral, são utilizadas poucas repetições (1 a 7) para desenvolver a força máxima, aumentando este número (6 a 12) quando o objectivo é o aumento da massa muscular (hipertrofia). Um número mais elevado de repetições (30 a 150) é indicado para o aumento de definição muscular (resistência muscular) (ver Figura 4) (Bompa 2006). Fases do treino Força máxima Hipertrofia Resistência Objectivo do treino Aumentar a força muscular Aumentar o volume muscular Aumentar a definição muscular Número de repetições 1-7 6-12 30-150 Figura 4. Número de repetições adequadas para cada fase do treino (adaptado Bompa 2006, p.42). Num programa de treino deve ser previsto o tempo de repouso entre exercícios e entre séries. Durante a realização do exercício é gasta energia que depois deve ser reposta. O treino de alta intensidade reduz a reservas energéticas podendo esgotá-las. Entre cada série o tempo de repouso deve ser o suficiente para repor as reservas energéticas necessárias antes do início da próxima série - refosforilação oxidativa das reservas de fosfatos (Brooks et al. 1996). Assim, Bompa (2006) refere que um intervalo de repouso de 30 segundos repõe aproximadamente 50% dos depósitos de ATP/CP e que um intervalo de repouso de 3 a 5 minutos ou maior permite uma recuperação quase completa dos depósitos de ATP/PC. O intervalo de repouso entre sessões deve prever a recuperação completa do atleta. A fonte energética empregue durante o treino é um dos factores mais importantes na determinação do tempo de intervalo entre sessões, assim quando o treino incide principalmente na via ATP/CP é possível fazer treino diário, já que a recuperação destas reservas energéticas se completa ao fim de 24 horas (Brooks et al. 1996; Bompa 2006). Quando se treina em resistência muscular, são necessárias 49 horas para a recuperação completa do glicogénio, devendo assim, realizar sessões de treino com um dia de descanso entre elas (Bompa 2006). Não obstante importância das reservas 21 energéticas para a capacidade de realizar força, este é apenas um aspecto da recuperação. A renovação proteica e reorganização estrutural e funcional das fibras musculares também são importantes e demoram, dependendo do tipo de treino, mais de 24 horas (Brooks et al. 1996). A concepção de um programa de treino implica uma correcta gestão da intensidade e do volume da carga. O volume ou a quantidade de trabalho realizada implica o tempo ou duração do treino, a quantidade de peso levantado, número de exercícios e número de séries. Estes elementos são condicionados pelo objectivo do treino. A intensidade da carga no treino de força é expressa por uma percentagem de 1RM, sendo esta uma função da potência do estímulo nervoso empregue no treino. É, ainda, determinada pelo esforço muscular inerente ao exercício e a energia do sistema nervoso central gasta no treino da força. A ordem dos exercícios dentro da sessão de treino, deve prever que a sequência dos exercícios permita a solicitação de forma alternada de diferentes grupos musculares, assegurando a troca de esforço e de descanso das estruturas passivas do aparelho locomotor (articulações e coluna vertebral) (Zimmermann 2004). Existem diversas indicações sobre as sequências de exercícios: alguns autores indicam que se deve iniciar em exercícios multi-articulares ou grandes grupos musculares (Sforzo and Touey 1996; ACSM 2002), enquanto outros recomendam o início com exercícios localizados ou pequenos grupos musculares (Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Chaves, s.d). Quando o objectivo é a melhoria da força específica do praticante de determinada modalidade, o treino de força deve iniciar pelos exercícios mais específicos, dado que estes além de terem que ser realizados em precisão, muitas vezes utilizam potência e força. Também é recomendado que exercícios que visam o desenvolvimento da potência devam ser realizados no início da sessão para que o atleta empregue a potência máxima antes de entrar em fadiga (Bacurau 2001). A dificuldade por parte de alguns treinadores, em prescrever uma sequência lógica de exercícios, levanta algumas questões quanto ao melhoramento do 22 rendimento dos atletas nas diferentes modalidades bem como ao objectivo pretendido. Na escolha dos exercícios para um programa de treino o ACSM (2002) recomenda que dele façam parte dois tipos de exercícios: exercícios de pequenos grupos musculares e exercícios de grandes grupos musculares, com maior incidência nos últimos, para maximizar os ganhos de força muscular. Para além do tipo de exercício, é também importante ter em consideração, na prescrição do treino da força, a ordem dos exercícios, ou seja, a sequência utilizada durante a sessão de treino (Novaes et al. 2007). De acordo com o ACSM (2002), os exercícios dos grandes grupos musculares são os mais eficazes para o aumento da força muscular, portanto deverão ser realizados no inicio de qualquer sessão de treino que vise o desenvolvimento da força, visto que a fadiga é mínima. Assim sendo, o treino deve ser iniciado com o desenvolvimento da força dos grandes grupos musculares para passar aos pequenos grupos musculares (Kraemer et al. 2002). Estas recomendações do ACSM (2002), tiveram por base o estudo realizado em 1996 por Sforzo e Touey que investigaram o efeito da ordem dos exercícios na performance do treino. Este estudo, tinha como objectivo, comparar o desempenho muscular entre duas ordens distintas de execução de exercícios (incluía seis exercícios, nomeadamente três para os membros inferiores e três para o tronco), com uma amostra de 17 homens, com experiência em treino de força e que realizaram duas sessões de treino. Nos resultados obtidos concluíram que a força total, em cada exercício, foi maior na ordem dos exercícios dos grandes grupos musculares para os pequenos grupos musculares, com menor índice de fadiga. No entanto, nos exercícios dos pequenos grupos musculares a força total produzida foi maior quando a sequência iniciava pelos exercícios locais. No sentido de apresentarem a melhor forma de estruturar um treino, de acordo com a ordem dos exercícios, foram desenvolvidas outras investigações por vários autores, com o intuito de verificarem se alternando a ordem/sequência de exercícios haveria maiores ganhos no treino da força (ver Quadro 3). 23 Quadro 3. Resultados de Estudos que analisaram o efeito da ordem dos exercícios no treino de força. Referência Amostra Sforzo &Touey 1996 17 Homens treinados Simão, et al. 2005 17 Mulheres treinadas Monteiro, Simão, Farinatti 2005 Sequência de Exercícios A Agachamento / Ext. Joelho / Flex. Joelho / Supino / Desenv. / Tríceps Pulley Sequência de Exercícios B Resultados Flex. Joelho / Ext. Joelho / Agachamento / Tríceps Pulley / Desenv. / Supino Força total maior na sequência A. Supino horizontal (SUP), Desenvolvimento sentado (DES), Tríceps no pulley (TRI), Leg-press inclinado (LEG), Cadeira extensora(EXT) e Cadeira flexora (FLE) Cadeira flexora (FLE), cadeira extensora(EXT), Leg-press inclinado (LEG), Tríceps no pulley (TRI), Desenvolvimento sentado (DES) e Supino horizontal (SUP) Não encontraram diferenças significativas da sequência A para B. 12 Mulheres treinadas Supino Horizontal / Desenvolvimento / Tríceps pulley Tríceps pulley / Desenvolvimento / Supino Horizontal Diferenças significativas na média repetições em cada sequência. Novaes, J. et al. 2007 13 Homens treinados Supino Recto/Supino inclinado/Supino declinado Tríceps pulley/ Tríceps na testa (extensão do braço em decúbito dorsal) Não existem diferenças significativas da sequência A para B. Simão, et al. 2007 23 Mulheres treinadas Supino /Desenvolvimento / Tríceps /Leg press/ Extensão joelhos/ Flexão joelhos Flexão joelhos/Extensão joelhos/Leg press/Tríceps/Desenvolvimento /Supino Chaves, et al. (submetido para publicação) 10 Homens treinados Prensa pernas/Cadeira extensora/cadeira flexora/ Bíceps/Supino/Trícep Cadeira flexora/ Cadeira extensora/ Prensa pernas/ Trícep/ Supino/ Bíceps/ O número de repetições é superior nos exercícios realizados no início do treino. Diferenças significativas na média de repetições entre SEQ.A e a SEQ.B. Silva, Monteiro, Farinatti 2009 8 Idosas e 12 Jovens mulheres Supino horizonal (SH), Desenvolvimento em pé (DP) e Rosca tríceps no pulley (TR) Rosca tríceps no pulley (TR), Desenvolvimento em pé (DP) e Supino horizonal (SH) Diferenças encontradas só no grupo das idosas. De um modo geral, os estudos apresentados no quadro anterior vêm contrariar as recomendações do ACSM (2002). De facto, Simão et al. (2005), investigaram a influência no número de repetições e na percepção de esforço, através da manipulação na ordem dos exercícios de força, em 17 mulheres treinadas. O estudo realizou-se em três sessões, na primeira sessão foi calculado o valor da carga máxima nos diferentes exercícios. Na segunda sessão foi realizada a sequência A com a seguinte ordem de exercícios: Supino horizontal (SUP), Desenvolvimento sentado (DES), Tríceps no pulley (TRI), Leg-press (LEG), Cadeira extensora (EXT) e Cadeira flexora (FLE). Na terceira sessão foi efectuada a sequência B com ordem inversa dos da A. Todos os exercícios foram realizados com uma carga de 80% do 1RM, tendo sido 24 feitas três séries até à fadiga e com um intervalo de recuperação de 2 minutos. Não foram encontradas diferenças significativas, entre o somatório total de repetições em cada sequência, para todos os exercícios, embora tenham verificado diferenças entre as séries de exercícios analisados em pares (repetições) e na percepção de esforço entre as sequências realizadas. Porém, a equipa de investigação liderada por Simão, com um novo estudo, demonstrou existirem diferenças significativas na média de repetições em cada sequência, para todos os exercícios, o mesmo não ocorrendo com a percepção subjectiva de esforço (Monteiro, Simão e Farinatti 2005). Para estes autores o exercício realizado no final da sessão de treino, seja a sequência que inicia com os grandes grupos musculares ou a que inicia com os pequenos, apresentou sempre menor número de repetições no final da sessão, excepto no Desenvolvimento sentado, independentemente do grupo muscular envolvido. Uma possível explicação apresentada, nesta investigação foi o facto, do exercício ter sido realizado, em ambas as sequências, na mesma ordem. Outra hipótese apresentada prende-se com o facto do exercício Supino, quando realizado antes do Desenvolvimento sentado, exigir um maior recrutamento de unidades motoras podendo originar fadiga. Na variável, percepção subjectiva esforço, não foram registadas diferenças em ambos os estudos. Mais tarde, Novaes et al. (2007), realizaram um estudo em que apenas estavam envolvidos grupos musculares da parte superior do tronco, tendo investigado a influência de diferentes ordens de exercícios de força para peitorais e tríceps sobre o número de repetições máximas. A amostra era constituída por 13 homens treinados. Os autores concluíram que o número total de repetições máximas não apresentava diferenças significativas entre as sequências. Apesar, das diferenças não terem sido significativas, verificou-se uma tendência para que a média do número de repetições máxima por exercício fosse sempre menor quando o mesmo era realizado no final da sequência, resultado também obtido no estudo atrás referenciado. Na mesma linha de orientação das investigações anteriores, Simão et al. (2007) prosseguiram com outro estudo, avaliando o efeito da ordem dos exercícios, dos grandes grupos musculares e para os pequenos grupos musculares, entre duas sessões 25 de treino. Da amostra deste estudo, fizeram parte 23 mulheres adultas com experiência em exercícios de força, há pelo menos seis meses. Na primeira sessão realizaram exercícios dos grandes grupos musculares antes dos pequenos. Na segunda sessão o treino foi iniciado com os exercícios dos pequenos grupos musculares, terminando com os grandes grupos musculares. Verificaram que o número total de repetições foi superior na primeira sessão para os exercícios dos grandes grupos musculares. Na segunda sessão o número de repetições foi superior apenas nos exercícios dos pequenos grupos musculares. Este estudo apresenta melhores resultados no número de repetições do início de cada treino. Silva, Monteiro e Farinatti (2009), prosseguiram com mais um estudo relacionado com a ordem dos exercícios, mas com uma amostra diferente dos estudos anteriores. Este estudo teve como objectivo comparar a influência da ordem de execução dos exercícios sobre o número de repetições e na percepção do esforço em duas populações diferentes, 8 Idosas (69 + 7 anos) e 12 Jovens mulheres (22 + 2 anos). Nos resultados obtidos verificaram que a ordem dos exercícios foi indiferente para o desempenho do grupo de jovens, mas influenciou o número máximo de repetições, em cada exercício, bem como a percepção do esforço no final das sequências no grupo de Idosas. Para testar se a diferença no número de repetições com a ordem dos exercícios se deve à agressão muscular, Chaves et al. (submetido a publicação) avaliaram a concentração de creatina quinase (CK) no sangue, depois das sessões de treino de força, variando a ordem dos exercícios. O treino consistia em seis exercícios: três para os membros superiores e três para os membros inferiores. Foram seleccionados 10 homens treinados. Nos resultados finais não foram encontradas diferenças significativas entre as concentrações de CK das duas sessões de treino. Porém, foram encontradas diferenças significativas, no número total de repetições completas, entre as duas sessões nos exercícios tricípete, extensores da perna e flexores da perna. Mais uma vez, os resultados deste estudo realçam que a ordem dos exercícios deve depender do objectivo da sessão do treino, devendo os exercícios mais importantes ser treinados no início de qualquer sessão de treino de força, não influenciando a ordem dos exercícios a agressão muscular. 26 Nos estudos anteriormente citados, alguns (Sforzo and Touey 1996; Simão et al. 2005; Novaes et al. 2007) suportam uma linha de investigação que tem por base as recomendações do ACSM (2002), resultante do primeiro estudo realizado nesse âmbito (Sforzo and Touey 1996) e que referiam, de acordo com os resultados obtidos, que o treino de força deve iniciar-se com os grandes grupos musculares terminando com os pequenos grupos. Outros estudos vieram contrariar as recomendações do ACSM (2002), tendo obtido um maior número de repetições quando o exercício foi realizado no início da sessão de treino independentemente da dimensão do grupo muscular trabalhado (Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Chaves - submetido para publicação; Silva, Monteiro e Farinatti 2009). Todavia, nenhum destes estudos foi considerada a velocidade média de execução dos exercícios. Atendendo a que a velocidade de execução poderá influenciar a fadiga (McComas 1996), mascarando o efeito da ordem dos exercícios, pretendemos estudar o comportamento da velocidade de execução e número de repetições em função da ordem dos exercícios. 27 METODOLOGIA 1. Amostra A amostra deste estudo foi constituída por 20 indivíduos adultos voluntários, do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos (média=21,4 ± 2,2 anos), o peso entre 64,8 kg e 94,8 kg (média =77,3 ±9,9 kg) e altura entre 1,68 cm e 1,89 cm (média=1,76 ±, 058 cm), distribuídos aleatoriamente por dois grupos de dez elementos, denominados de G1 e G2. Cada um dos grupos foi sujeito a duas sessões de treino de força com ordem de exercícios diferente, respectivamente: - G1: Sequência A (SEQ.A) na 1ª sessão + Sequência B (SEQ.B) na 2ª sessão - G2: Sequência B (SEQ.B) na 1ª sessão + Sequência A (SEQ.A) na 2ª sessão 1.1 Critérios de Inclusão e de Exclusão da Amostra Antes da constituição da amostra foram definidos critérios de inclusão e de exclusão dos elementos, designadamente: 1.1.1 Inclusão - sexo masculino; - idade compreendida entre os 18 e os 30 anos; - praticantes regulares de uma modalidade desportiva; - praticantes actuais de musculação ou já terem praticado; - saudáveis, não podendo apresentar nenhuma patologia ou condições que afectassem significativamente a sua capacidade funcional. 1.1.2 Exclusão - sexo feminino; - idade inferior a 18 anos ou superior a 30 anos; - indivíduos sedentários; - indivíduos que apresentem patologias ou medicamentados. 29 2. Variáveis do Estudo Para este estudo foram definidas as seguintes variáveis: Variável Independente: A ordem dos exercícios. Variáveis Dependentes: A potência e o número de repetições de cada exercício. Os exercícios realizados, em ambas as sequências, foram: Prensa Pernas (PP), Flexão Pernas (FP), Extensão Pernas (EP), Supino (SUP), Military Press (MP) e Tríceps (TP). 3. Equipamento O equipamento utilizado para este estudo foi: a) Aparelhos de musculação, FIT 2000, para os membros inferiores: - Prensa de Pernas 45º (PP) - Extensão de Pernas (EP) - Flexão de Pernas (FP) a) Aparelhos de Musculação, FIT 2000, para membros superiores: - Supino Recto (SUP) - Military Press (MP) - Triceps (TP) c) Célula de Carga Globus Tesys 400 e respectivo software, para a medição e registo da potência e do número de repetições. d) Fita métrica e balança digital Terraillon. 30 4. Procedimentos da Recolha de Dados O estudo foi realizado no Ginásio de Musculação da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Todos os participantes foram aconselhados a vestir roupa e calçado adequado à prática desportiva. O estudo teve a duração de três semanas tendo sido estruturado da seguinte forma (Figura 5): - Durante a primeira semana, todos os participantes executaram o Teste de 1RM. Após 48 horas, o Teste 1RM foi repetido de forma a minorar a margem de erro na obtenção da carga máxima. - Na segunda semana, foram formados, aleatoriamente, os dois grupos de trabalho, ficando em cada grupo 10 participantes para iniciarem os protocolos dos exercícios. Um dos grupos, ao qual foi atribuída a denominação de G1, realizou o protocolo, que consistiu na realização da sequência A (SEQ.A). O outro grupo, G2, realizou o protocolo que consistiu na realização da sequência B (SEQ.B). - Na terceira e última semana, a ordem dos exercícios foi invertida entre os grupos, o G1 realizou a SEQ.B e o G2 a SEQ.A. 1ª Semana - Todos os participantes realizaram o Teste de 1RM. 2ª Semana 3ª Semana - Formação dos dois grupos (G1 - e G2) atribuição Exercícios entre os grupos: das duas Inversão da Ordem dos sequências (SEQ.A e SEQ.B): - Grupo 1 (G1) SEQ.B; - Grupo 1 (G1) SEQ.A; - Grupo 2 (G2) SEQ.A. - Grupo 2 (G2) SEQ.B. - - Após 48h foi repetido realizado - Execução dos exercícios até à velocidade, o Re-teste de 1RM. exaustão, (registo do nº de (registo do nº de repetições e repetições cálculo da potência). e cálculo da Execução dos até exercícios à exaustão potência). Figura 5. Desenho Experimental 31 As sequências dos exercícios foram definidas de acordo com a massa muscular solicitada, iniciando a SEQ.A pelos grandes grupos musculares e a SEQ.B pelos pequenos grupos musculares (Figura 6). Sequência A (SEQ.A) – Grandes grupos musculares Membros inferiores PP - prensa de EP - extensão FP - flexão de pernas de pernas pernas SUP - Supino Pequenos grupos Membros superiores MP - military TP - triceps press Sequência B (SEQ.B) – Pequenos grupos musculares TP - triceps Membros superiores MP - military SUP - Supino press Grandes grupos Membros inferiores FP - flexão de EP - extensão PP - prensa de pernas de pernas pernas Figura 6. Sequências e ordem dos exercícios na SEQ.A e na SEQ.B. De forma a reduzir os possíveis erros na realização dos testes, foram adoptadas as seguintes estratégias: a) Antes do teste, foram dadas, a todos os participantes, instruções padronizadas e familiarização das técnicas para cada exercício; b) durante os exercícios, a técnica de execução dos movimentos foi monitorizada e corrigida sempre que necessário; c) na realização dos exercícios, os participantes receberam estímulos verbais. Como foi referido, antes da realização dos exercícios previstos, foi descrito a realização de cada exercício bem como os respectivos músculos envolvidos, da seguinte forma: Supino (horizontal): em posição decúbito dorsal, elevação dos braços com a barra, joelhos e quadris semi-flectidos, os pés bem apoiados no próprio aparelho; a partir da fase excêntrica (90º entre braço e antebraço) realizar a extensão quase completa dos cotovelos e a flexão horizontal dos ombros. Músculo exercitado: Grande Peitoral, Tríceps 32 Military Press: na posição sentado, extensão dos membros superiores em elevação (sem hiper-estender) seguida da sua flexão, com a descida dos cotovelos ligeiramente abaixo da linha dos ombros. Músculo exercitado: Grande Dorsal, Grande Redondo e Bícipede braquial Tríceps: em pé, pernas paralelas ligeiramente afastadas, os joelhos semi-flectidos, braços ao longo do corpo, cotovelos flectidos, pega inversa das mãos na barra; mantendo os cotovelos junto do tronco realizar a extensão completa dos cotovelos, voltando à posição inicial. Músculo exercitado: Trícep Prensa de Pernas: posicionado no aparelho com os membros superiores ao longo do corpo, membros inferiores semi-flectidos (90º) com os pés apoiados no meio da plataforma à largura dos ombros. Extensão dos membros inferiores voltando à posição inicial. Músculo exercitado: Quadricípede Femural e Grande Glúteo Extensão de Pernas: na posição sentado no aparelho, braços ao longo do corpo, mãos apoiadas nos suportes e joelhos flectidos; mantendo a parte superior do corpo imóvel realizar a extensão total dos joelhos voltando de seguida à posição inicial. Músculo exercitado: Quadricípede Femural e Vasto Interno Flexão de Pernas: em posição decúbito ventral, pés encaixados sob a barra de tracção (à altura do tendão de Aquiles) e com as mãos apoiadas nos suportes, realizar a flexão total dos joelhos voltando à posição inicial. Músculo exercitado: Ísquio-Tibial e Gémeos. 4.1 Avaliações 4.1.1 Teste e Re-teste 1RM / Força Máxima O teste de 1RM foi realizado no primeiro dia da recolha de dados, com objectivo de obter a carga máxima, em cada um dos exercícios propostos para cada 33 participante e definidos na sequência do plano de treino. Este teste foi realizado após dois minutos de aquecimento com a realização de uma série de 12 repetições e com uma carga correspondente a 40%-60% de 1RM. Para a realização deste teste, cada participante teve no máximo três tentativas, durante as quais foi fixado um intervalo de dois a três minutos. Em cada tentativa foi adicionada uma nova carga (10kg). Após a obtenção da carga máxima, num determinado exercício, foi concedido um intervalo de dez minutos, antes da realização do próximo teste de 1RM. Depois de realizado o teste de obtenção das cargas máximas, os participantes descansaram 48 horas e foram reavaliados com o re-teste de 1RM. Durante o período de descanso não foi permitida a realização de qualquer tipo de exercício físico para não influenciar os resultados obtidos. Para a realização deste estudo foi considerada a carga máxima alcançada durante os dois dias do teste. 4.1.2 Número de Repetições e Potência Em cada uma das sessões de recolha, antes da execução de cada uma das sequências, foi realizado um aquecimento com 20 repetições do primeiro exercício de cada sequência a 40 % da carga de 1RM, seguindo-se um período de descanso de dois minutos. De seguida, iniciou-se a execução do primeiro exercício da sequência de cada série, tendo efectuado um período de repouso de dois minutos entre cada exercício da sequência. Na realização de cada exercício foi colocada uma carga correspondente a 80% do 1RM, realizando-se o número de repetições até à exaustão. Em ambas sequências foi feito o registo do número de repetições e da potência, conseguidos em cada exercício e para cada participante. A leitura dos valores (número de repetições, média e o pico da potência) foi realizada através da célula de carga Globus Tesys 400 e o respectivo software. Durante a realização dos protocolos de exercícios, todos os participantes foram motivados com estímulos verbais, com o objectivo de realizarem todas as séries até se registar falha concêntrica. Não foram permitidas pausas, durante os exercícios, entre 34 as fases excêntricas e as fases concêntricas. As sessões de treino foram todas realizadas de manhã. 4.2 Análise Estatística No tratamento dos dados obtidos foi utilizada a estatística descritiva e inferencial com recurso ao programa estatístico SPSS versão 17.0. Numa primeira fase elaborou-se a estatística descritiva, através dos parâmetros de tendência central (média, mediana, valor mínimo e máximo) e de dispersão (desvio padrão e variância). Antes de realizar a análise estatística inferencial testámos a normalidade da distribuição da amostra através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre variáveis, foi utilizado o teste t para amostras emparelhadas (nas variáveis com distribuição normal) e o teste de Wilcoxon (quando a distribuição das variáveis não cumpriam os pressupostos de normalidade). Para os valores do 1RM Teste/Re-teste, utilizámos o coeficiente de correlação de Spearman para os exercícios que apresentavam distribuição não normal e o coeficiente de correlação Pearson para os exercícios que apresentavam distribuição normal. O nível de significância para todos os testes estatísticos efectuados foi estabelecido em 0,05. 35 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 1. Resultados No início do estudo, para testar a fiabilidade dos resultados do 1RM Teste/Reteste, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman nos exercícios que apresentavam distribuição não normal e o coeficiente de correlação Pearson nos exercícios que apresentavam distribuição normal, tendo sido encontrados os seguintes resultados: PP r=0,89, EP r=0,97, FP r=0,86, PP r=0,90, SUP r=0,93, MP r=0,95, TP r=0,89 (p.<0,05 em todas as variáveis). Apesar das sequências definidas incluírem exercícios para os membros superiores e inferiores, para facilitar a leitura e interpretação dos resultados obtidos, estes serão apresentados em tabelas separadas para cada um dos segmentos corporais. Na sequência A os indivíduos iniciaram a sessão de treino com os exercícios dos membros inferiores e só posteriormente os exercícios dos membros superiores. Na sequência B, verificou-se o inverso. Em cada exercício foi registado o número de repetições do exercício até à exaustão, o pico e a média da potência. 1.1. Membros Superiores Sequência A /Sequência B Cada uma das sequências de exercícios realizada, implicou a execução dos seguintes exercícios relativos aos membros superiores: SUP – Supino, MP - Military Press e TRP – Tríceps. No Quadro 1 estão descritos os resultados obtidos em cada uma das sequências. A análise destas variáveis evidenciou uma distribuição normal no Supino (número de repetições e no pico da potência) das sequências A e B, na Military Press (número de repetições, no pico e na média da potência) das sequências A e B e nos Tríceps (número de repetições) das sequências A e B. Uma distribuição não normal verificou-se no Supino (média da potência) das sequências A e B e nos Tríceps (no pico e na média da potência) das sequências A e B. 37 Quadro 4. Resultados obtidos nos exercícios dos Membros Superiores. Exercícios SUPINO MILITARY PRESS TRÍCEPS Variáveis Repetições SEQA 20,7± 9.70 Repetições SEQB Pico potência SEQA Pico potência SEQB 18,2±7,01 446,89±147,92 437,57±193,78 Média potência SEQA 283,78±80,24 Média potência SEQB 276,10± 128,17 Repetições SEQA Repetições SEQB Pico potência SEQA Pico potência SEQB Média potência SEQA Média potência SEQB Repetições SEQA Repetições SEQB Pico potência SEQA Pico potência SEQB Média potência SEQA 22,0±11,79 19,9±7,102 311,52±83,80 278,68±119,69 183,57±49,38 175,68±74,08 23,7±7,20 24,3±6,32 459,26±123,95 509,63±197,83 392,15±439,20 ¥ 288 333,94±106,11 Média potência SEQB Legenda: ¥ ou Md ±DP t* ou Z** p 0,908* 0,376 0,333* 0,743 -0.302** 0.763 0,736* 0,471 1,537* 0,142 0,546* 0,592 -0,455* 0,654 -1,207** 0,227 -1,348** 0,178 ¥ (média) nas variáveis com distribuição normal; Md (Mediana) nas variáveis com distribuição não normal; DP (desvio padrão); t* (teste t) nas variáveis com distribuição normal, Z** (teste Wilcoxon) nas variáveis com distribuição não normal; p<0,05. Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas entre as SEQ. A e B nos exercícios realizados com os membros superiores, os dados obtidos evidenciam uma tendência para que o número de repetições seja superior quando o Supino e Military Press foram realizados na SEQ.A ou seja após os exercícios dos membros inferiores (ver Gráfico 1). Pela análise do gráfico verificamos que na SEQ.A, a média das repetições no Supino é ligeiramente superior ao número de repetições da SEQ.B. O mesmo acontece no exercício Military Press, que na SEQ.A apresenta um número de repetições ligeiramente superior ao resultado apresentado na SEQ.B. Quanto ao Tríceps, o número de repetições mais elevado foi conseguido na SEQ.B em relação à SEQ.A. 38 Verificamos, que o maior número de repetições nos exercícios dos membros superiores foi conseguido nos exercícios realizados no final do treino com excepção, para o último exercício (Tríceps). 30 25 20 15 SEQ.A 10 SEQ.B 5 0 SUPrep MPrep TRPrep Gráfico 1. Número de repetições dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B. *p<0,05. Quanto à variável Pico da Potência, registada em Watts, podemos observar que o valor mais elevado foi conseguido durante as repetições para cada exercício no Gráfico 2. 600 500 400 300 SEQ.A 200 SEQ.B 100 0 SUPpicpot MPpicpot TRPpicpot Gráfico 2. Pico da Potência dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B. *p<0,05. 39 Pela análise do gráfico, podemos constatar que nos três exercícios realizados, o pico da potência foi muito idêntico nas duas sequências. No exercício do Supino os resultados obtidos na SEQ.A foram ligeiramente superiores aos obtidos na SEQ.B. O mesmo ocorreu no exercício Military Press, no qual foi obtido um resultado na SEQ.A superior ao resultado obtido na SEQ.B. Já no Tríceps o valor do pico da potência mais elevado, foi conseguido SEQ.B. Constatamos, nos resultados expostos, que na sequência em que se obteve um menor número de repetições é também aquela à qual corresponde um pico de potência mais baixo, e o inverso, isto é, à sequência de valor mais elevado, corresponde também um pico da potência mais elevado. Para a variável Média da Potência foi registado, em Watts, o valor mais elevado conseguido durante cada exercício (ver gráfico 3). 450 400 350 300 250 SEQ.A 200 150 SEQ.B 100 50 0 SUPmedpot MPmedpot TRPmedpot Gráfico 3. Média da Potência dos Membros Superiores. A-SEQ.A, B-SEQ.B.*p <0,05. Feita a análise do gráfico da média da potência dos membros superiores, podemos verificar que nos dois primeiros exercícios, Supino e Military Press, a média da potência foi idêntica nas duas sequências. No exercício do Supino, os resultados obtidos na SEQ.A foram ligeiramente superiores aos obtidos na SEQ.B. O mesmo aconteceu no exercício Military Press, no qual foi obtido um resultado na SEQ.A ligeiramente superior ao obtido na SEQ.B. Já no Tríceps, o valor da média da potência mais elevado foi conseguido na SEQ.A, comparando com os valores SEQ.B. 40 Verificamos, face aos resultados expostos nos exercícios realizados com os membros superiores, que a sequência em que se obteve um menor número de repetições é também aquela que corresponde a um menor pico de potência, obtendo ainda uma maior média da potência nos Tríceps. Contudo, o número de repetições, o pico e a média da potência não foram afectados quando a ordem dos exercícios foi alterada. 1.2. Membros Inferiores Sequência A /Sequência B Relativamente aos exercícios realizados pelos membros inferiores (PP – Prensa de Pernas, EP – Extensão de Pernas e FP – Flexão de Pernas) os resultados podem ser observados no Quadro 5. A análise destas variáveis evidenciou uma distribuição normal na Prensa de Pernas (número de repetições, no pico e na média da potência) das sequências A e B, na Extensão de Pernas (número de repetições, no pico e na média da potência) das sequências A e B e na Flexão de Pernas (pico da potência) das sequências A e B. Uma distribuição não normal verificou-se na Flexão de Pernas (número de repetições e na média da potência) das sequências A e B. Quadro 5. Resultados obtidos nos exercícios dos Membros Inferiores. Repetições SEQA PRENSA PERNAS (M±DP) 27,8 ±16,64 Repetições SEQB Pico potência SEQA Pico potência SEQB 35,9±14,207 1465,57±489,06 1556,89±462,04 Média potência SEQA 801,21±272,53 Média potência SEQB 878,31±259,41 t* ou Z** p -2,196* 0,041 -0,623* 0,541 -0,969* 0,346 Repetições SEQA 15,6±5,058 -1,094* 0,288 Repetições SEQB 17,0±5,88 Pico potência SEQA 696,63±188,09 -0,993* 0,334 EXTENSÃO Pico potência SEQB 752,42±189,69 PERNAS Média potência SEQA 396,78±100,04 -0,833* 0,416 Média potência SEQB 420,78±100,70 Repetições SEQA 12.3±4.07 -2.033** 0.042 Repetições SEQB 14.5±6.20 FLEXÃO PERNAS Pico potência SEQA 486,94±231,63 -0.967* 0.346 Pico potência SEQB 520,78±131,55 Média potência SEQA 297.78±134.97 -1.198** 0.231 Média potência SEQB 327.05±73.97 Legenda: M- média; DP-desvio padrão; *t (teste t) nas variáveis com distribuição normal, **Z (Teste Wilcoxon) nas com distribuição não normal. p<0,05 41 Após a análise descritiva e inferencial dos dados obtidos verificamos que na SEQ.B, a média das repetições na Prensa Pernas é significativamente superior ao número de repetições da SEQ.A (ver Gráfico 4). Relativamente aos exercícios da Extensão Pernas e Flexão de Pernas os valores obtidos na SEQ.B são ligeiramente superiores aos da SEQ.A, registando uma diferença com valor significativo na Flexão Pernas. 40 35 30 * 25 20 15 10 A s s i m , PPrep SEQ.A * SEQ.B A s 0 s EPrep FPrep i Gráfico 4. Número de Repetições dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB. *p<0.05. a m , f Quanto à variável Pico da Potência foi registado, em Watts, o valor mais a a elevado conseguido ddurante as repetições para cada exercício (ver Gráfico 5). Pela i f análise do gráfico, podemos constatar que nos três exercícios realizados, o pico da g a potência é muito idêntico nas duas sequências, mas ligeiramente superior na SEQ.B. a d No exercício de Prensa Pernas os resultados obtidos nai SEQ.B são ligeiramente p na SEQ.A. O mesmo acontece no exercício g superiores aos obtidos Extensão de Pernas, r a no qual foi obtido um resultado superior na SEQ.B comparativamente com o obtido na o SEQ.A. Também, na Flexão de Pernas os resultados obtidos são d p semelhantes em ambas 5 as sequências mas uo pico mais elevado foi conseguidor na SEQ.B, embora sem z o significado estatístico. i d d u a z i n d a a s e q n a 42 Constatamos, nos resultados expostos, que ao menor número de repetições corresponde também um pico de potência mais baixo. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 SEQ.A SEQ.B PPpicpot EPpicpot FPpicpot Gráfico 5. Pico da Potência dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB. *p<0.05. Na variável Média da Potência foi registado, em Watts, o valor mais elevado conseguido durante cada exercício (ver Gráfico 6). 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 SEQ.A SEQ.B PPmedpot EPmedpot FPmedpot Gráfico 6. Média da Potência dos Membros Inferiores. A-SEQA, B-SEQB. p<0.05. Apesar de não se terem constatado diferenças significativas com a alteração da ordem dos exercícios, a análise do gráfico, permite constatar que a média da potência na Prensa Pernas tende a ser superior na SEQ.B comparativamente com a SEQ.A. No exercício Extensão de Pernas, a média da potência é muito idêntica nas duas 43 sequências. No exercício Flexão de Pernas os resultados obtidos na SEQ.B são ligeiramente superiores aos obtidos na SEQ.A. Face aos resultados expostos, verificamos nos exercícios realizados com os membros inferiores, que ao menor número de repetições corresponde um menor pico de potência e uma maior média da potência nos três exercícios com uma maior relevância para os exercícios na Flexão de Pernas. Constatamos, que o maior número de repetições nos exercícios dos membros inferiores se verifica nos exercícios realizados no final do treino, no entanto, a média da potência tende a ser mais elevada nos exercícios do início do treino. 44 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 1. Discussão Os resultados obtidos neste estudo vieram contrariar as recomendações do ACSM (2002) e outros estudos (Simão 2002; Novaes 2007; Simão, 2007; Chaves s.d.) realizados no mesmo âmbito, que indicam o início do treino de força pela solicitação dos exercícios que solicitam grandes grupos musculares, passando depois para os pequenos grupos musculares, isto porque nesses estudos o número de repetições alcançado foi superior nesta ordem. Resultados semelhantes seriam os esperados nesta investigação, no entanto tal não ocorreu, dado que o número de repetições foi superior nos exercícios dos grandes grupos musculares quando o treino era iniciado pelos exercícios dos pequenos grupos musculares, nomeadamente na Prensa de Pernas e na Flexão de Pernas. Para o estudo foram definidas variáveis que nortearam a formulação das hipóteses, designadamente: ordem dos exercícios, número de repetições, média e pico da potência. Com a hipótese H0₁ - A ordem dos exercícios não influencia significativamente o número de repetições – pretendíamos demonstrar que o número de repetições realizado pelos elementos da amostra em cada um dos exercícios, não tem relação com a sequência utilizada, isto é, a ordem dos exercícios é indiferente para o número de repetições alcançado. Para esta investigação definimos, na formulação da hipótese em estudo que a ordem dos exercícios não teria influência no número de repetições conseguido, atendendo ao tempo de repouso existente entre repetições, à motivação e encorajamento verbal prestado ao indivíduo em cada exercício e às características dos elementos da amostra que se encontram familiarizados com o treino de força. Embora, os estudos apresentados pelo ACSM (2002) recomendem o inicio do treino pelos grandes grupos musculares, existem evidências noutros estudos realizados, que referem a não interferência da ordem dos exercícios no número de repetições (Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Silva, Monteiro e Farinatti 2009). Uma das explicações sugeridas é a fadiga acumulada ao longo do treino. De facto, seria de esperar que não havendo fadiga, no início do treino um indivíduo fosse 43 capaz de realizar um maior número de repetições, desenvolvendo consequentemente, maior volume de força. Neste sentido, considerando que a quantidade de massa muscular envolvida deverá influenciar a fadiga fisiológica e/ou percebida, então tem sido recomendada a realização de exercícios que envolvam maior massa muscular no início da sessão de treino, de forma a trabalhar mais massa muscular. De facto, atendendo a que, o treino de força deve contemplar todos os grupos musculares e considerando que em cada sessão deva ser exercitado pelo menos um sexto da massa muscular total (Zimmerman 2004), se o indivíduo começar pelos grandes grupos musculares e se ocorrer fadiga a meio ou perto do final de uma sessão de treino, o sujeito já terá trabalhado um grande volume de massa muscular, sendo os benefícios superiores àqueles que se obteriam se apenas tivesse solicitado pequenos grupos musculares. Com efeito, alguns estudos apresentam como evidente o facto de ser obtido um maior número de repetições nos exercícios realizados no inicio do treino (Simão 2007; Chaves s.d.), reforçando a tese da interferência da fadiga na prestação de um indivíduo. No entanto, apesar de este raciocínio ser aquele que está na base das recomendações do ACSM (2002) e ser reforçado por alguns estudos (Simão 2007; Chaves s.d.), parece também lógico que, se a selecção dos exercícios numa sessão de treino solicitar grupos musculares diferentes, então é possível que a fadiga de um grupo muscular não interfira com a prestação dos restantes grupos musculares. Se assim for, a ordem dos exercícios não deverá ser uma condicionante do número de repetições obtido em cada um dos exercícios, justificando os resultados obtidos no nosso estudo em todos os grupos musculares dos membros superiores e na extensão de pernas. Estes resultados foram também observados em alguns grupos musculares de outros estudos (Monteiro, Simão e Farinatti 2005; Silva, Monteiro e Farinatti 2009). A possibilidade da fadiga explicar a escolha da ordem dos exercícios perde força quando verificamos que, no nosso estudo, o número de repetições na Prensa de Pernas e Flexão de Pernas foi maior quando os exercícios foram realizados no final da sessão de treino. No entanto em dois dos exercícios realizados (Prensa de Pernas e Flexão de Pernas) foi conseguido um número de repetições mais elevado na SEQB, 44 respectiva à ordem dos exercícios dos membros superiores (Pequenos grupos musculares) para os membros inferiores (Grandes grupos musculares). Estes resultados contrariam as recomendações do ACSM (2002) que referem o dever iniciar-se o treino pelos grandes grupos musculares, para a obtenção de melhores resultados, bem como os estudos posteriormente realizados, nos quais não foram encontradas diferenças significativas no número de repetições obtido em cada sequência (Simão 2005; Novaes 2007). Assim, de acordo com os nossos resultados, o facto de os exercícios serem realizados na segunda metade do treino, parece, surpreendentemente, favorecer o número de repetições conseguidas, dado que o maior número de repetições nos exercícios dos membros inferiores se verifica nos exercícios realizados no final do treino (SEQ.B). Este facto tem maior relevância no exercício da Prensa Pernas, onde a fadiga produzida pelos exercícios dos pequenos grupos musculares parece não afectar directamente os exercícios dos grandes grupos musculares. Isto é, os resultados obtidos sugerem que a fadiga muscular produzida na primeira parte do treino, não interfira negativamente nas repetições efectuadas nos exercícios finais. Assim, a fadiga produzida na SEQ.B, pela realização, em primeiro lugar dos exercícios dos membros superiores não afecta o número de repetições dos exercícios dos membros inferiores. Os nossos resultados sugerem, assim, que outro(s) factor(es), para além da fadiga, deverão explicar a diferenças obtidas no número de repetições quando a ordem dos exercícios é alterada. Outro factor que poderá ajudar a compreender as diferenças nos resultados obtidos, nos diferentes estudos, é a motivação associada ou não ao encorajamento verbal. Este factor não foi controlado em nenhum dos estudos, apesar de ser referenciado em todos eles, motivo pelo qual, foi incluído na nossa metodologia. Todavia, a impossibilidade de quantificar o encorajamento verbal e a susceptibilidade dos executantes face a este factor poderá ter sido decisivo nos resultados obtidos. Assim, parece-nos que seria útil estudar a influência da ordem dos exercícios na força total, com e sem encorajamento verbal. Como foi possível verificar em alguns dos estudos referidos neste trabalho, para o responsável pela estrutura de um programa de treino de força de exercícios de 45 força, definir a ordem dos exercícios é um dos principais desafios. Um estudo pioneiro de investigação do efeito da ordem dos exercícios na performance do treino aparece com Sforzo e Touey (1996). Outras evidências são apresentadas em estudos posteriores a este, sendo frequente encontrar um maior número de repetições nos exercícios realizados no início do treino. O objectivo do treino é também um indicador para a escolha da ordem dos exercícios, dado que, na melhoria da força específica o treino deva iniciar pelos exercícios localizados que utilizam potência e força (Bacurau 2001). De uma forma geral, podemos inferir que, em ambas as sequências, nos exercícios realizados no final do treino, tanto relativos a membros superiores como a membros inferiores, são aqueles em que é conseguido um maior número de repetições. Se por um lado, se poderia levar em consideração que a fadiga acumulada nos exercícios iniciais poderia afectar a prestação dos restantes exercícios do treino, por outro lado, a componente psicológica e o forte acompanhamento prestado a cada um dos indivíduos da amostra, na realização dos exercícios, poderão ter provocado uma alta motivação para a prestação, aumentado assim, o número de repetições ao longo do treino. Nos resultados dos estudos de Monteiro, Simão e Farinatti (2005), são encontradas diferenças significativas em todos os exercícios. Estes autores concluem que o exercício realizado por último apresenta sempre menor número de repetições. No nosso estudo acontece, exactamente, o contrário, dado que o maior número de repetições foi encontrado no último exercício realizado em cada treino. Mais uma vez os nossos resultados reforçam a possibilidade da forte motivação externa dada ao executante durante a sua prestação ter tido uma importância fundamental na última parte do treino. Um aspecto que poderá também ser determinante para o número total de repetições por exercício é a sua velocidade de execução. O facto de nesses estudos não ser referido, em termos quantitativos, a avaliação da velocidade de execução poderá, em parte, justificar as incongruências encontradas entre este e outros estudos 46 já referidos (Simão 2002; Novaes 2007; Simão 2007; Chaves s.d.). Neste sentido, sendo a velocidade, uma variável da potência, definimos a segunda hipótese: H0₂ - A ordem dos exercícios não influencia significativamente a potência – a qual foi comprovada na sua totalidade. Do ponto de vista fisiológico, é recomendado que os exercícios que tenham por objectivo o desenvolvimento da potência serem realizados no inicio de cada sessão, para que a potência máxima seja conseguida antes de o indivíduo entrar em fadiga (Bacurau 2001). No entanto, a sessão de treino aplicada não tem como objectivo o aumento da potência máxima. A potência média foi utilizada, neste estudo, como indicador indirecto da velocidade média de execução dos exercícios. A ausência de diferenças significativas na potência média, veio reforçar a semelhança das condições de realização de ambas as sequências, ou seja, a velocidade de execução dos exercícios foi mantida. De facto, em nenhum dos exercícios foram encontradas diferenças significativas na comparação da velocidade (potência) de execução efectuada entre as duas sequências. Verificamos, assim, que a ordem de realização de cada um dos exercícios, é indiferente para o valor da média da potência obtido, o mesmo se pode dizer no que respeita ao pico da potência alcançada. Apesar das diferenças encontradas não assumirem valor significativo, verificase que a média da potência tende a ser mais elevada no exercício realizado no final do treino. O mesmo se passa relativamente ao pico da potência. Tal como na apresentação dos resultados obtidos, na variável anteriormente apresentada (número de repetições), parece-nos que os incentivos verbais dados durante a realização dos exercícios se tornam num elemento fulcral para a prestação em treino com estas características. No programa de exercícios, aplicado neste estudo, é importante considerar que cada grupo muscular foi exercitado num curto período de tempo. Assim, dado que o exercício é realizado até à exaustão, a fadiga deverá ter ocorrido a nível local não causando prejuízo na prestação dos restantes grupos musculares solicitados em cada 47 um dos exercícios, tal como Fox et al. (1991) referem relativamente à ausência de transferência dos efeitos do treino cruzado, o fortalecimento, por exemplo, dos membros inferiores não é transferido para os membros superiores e ombros. 48 CONCLUSÕES Após a concretização deste estudo, podemos afirmar que mais um passo foi dado no estudo da gestão das várias componentes que constituem um programa de treino de força. Com efeito, a definição da ordem dos exercícios com vista à obtenção de uma melhor performance, traduzida, neste caso, por um, maior número de repetições, torna-se num tema bastante vago e no qual, ainda, há um longo caminho a percorrer. Todavia, com os resultados, por nós obtidos, é possível, desde já, retirar duas conclusões: Relativamente ao número de repetições, somente foram encontradas diferenças significativas nos exercícios de Prensa Pernas (PP) e na Flexão Pernas (FP), tendo sido obtido um maior número de repetições na SEQ.B (quando a sessão inicia dos pequenos grupos musculares para os grandes grupos musculares); No que se refere ao estudo da potência, não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos exercícios quando comparamos a SEQ.A com SEQ.B, pelo que a velocidade de execução não pode explicar, neste estudo, as diferenças observadas na PP e na FP. Assim, contrariamente a alguns estudos indicados ao longo deste trabalho, que referem a obtenção de melhores resultados nos exercícios realizados no início de sequências dos grandes para os pequenos grupos musculares, no nosso estudo o melhor resultado, respeitante ao número de repetições, foi obtido nos exercícios realizados no final da sessão e na sequência dos pequenos para os grandes grupos musculares. 50 Implicações práticas e futuros estudos Parece-nos que o encorajamento verbal dado aos participantes ao longo das sessões terá sido fundamental para os resultados alcançados, tornando-se esta variável como objecto de estudo a considerada em próximas investigações. Também a sua avaliação em populações diferentes (mulheres e atletas treinados) pode trazer um maior enriquecimento aos resultados agora apresentados. Considerando os resultados dos estudos já apresentados neste âmbito, a velocidade de realização dos exercícios não aparece como variável quantificada. Este estudo apresenta a avaliação indirecta da velocidade através do estudo da potência e mostra-nos não haver relação entre esta variável e a ordem dos exercícios. No entanto, esta variável deverá ser controlada em futuros estudos que tenham o mesmo objectivo. Por último, a incoerência dos resultados observados na literatura referente à selecção da melhor ordem dos exercícios permanece insurgindo que a ordem poderá, de facto, ser indiferente para o treino de força. Porém, a grande maioria dos estudos realizados considerou poucos exercícios no seu plano de treino. É possível que em sessões de treino mais prolongadas e com mais exercícios a fadiga muscular ou percepcionada constitua de facto uma limitação à realização do maior número de repetições. Assim, parece-nos que seria importante estudar a influência da ordem dos exercícios no número de repetições em sessões de treino com mais exercícios. 51 BIBLIOGRAFIA Bibliografia American College of Sports Medicine. (2002). Position stand on progression models in resistance training for health y adults. Med Sci Sports Exerc 34: 364-80. American College of Sports Medicine and American Heart Association. (2007). Physical activity and public health: Updated recommendation for adults. Med Sci Sports Exerc: 1423-34. Bacurau, R. et al. (2001). Hipertrofia Hiperplasia. Fisiologia, nutrição e treinamento do crescimento muscular. Phorte Editora. São Paulo. Barbanti, V.; Tricoli, V.; Ugrinowitsch, C. (2004). Relevância do conhecimento científico na prática do treinamento físico. Ver. Paul. Educ. Fis., São Paulo, V.18, 101-09. Barreiros, J. et al. (2006). Actividade física e envelhecimento. FMH – Serviços de Edições. Cruz Quebrada. Bompa, T. (2005). Entrenamiento para jóvenes deportistas. Planificación y programas de entrenamiento en todas las etapas de crecimiento. Editorial Hispano Europea S.A. Barcelona. Bompa, T. (2006). Musculación. Entrenamiento avanzado. Editorial Hispano Europea S.A. Barcelona. Bosco, C. (2000). La fuerza muscular, Aspectos metodológicos. INDE Publicaciones. Barcelona. Brooks, D. et al. (1996). Exercise physiology: Human Bioenergetics and its application. Mayfield Publishing Company. Londres. Brooks, D. (2001). Libro del personal trainer. Editoril Paidotribo. Barcelona. Buskies,N.; Boeck-Behrens, W. (2005). Entrenamiento de la fuerza. Editorial Paidotribo. Barcelona 53 Carvalho, C.; Carvalho, A. (2006). Algumas das principais orientações metodológicas do treino da força em crianças e jovens. In Actas do 1º Simpósio sobre treino e avaliação da força e potência muscular. Edição Publismai. Porto. Carvalho, C.; Carvalho, A. (2006). Não se deve identificar força explosiva com potência muscular, ainda que existam algumas relações entre elas. Rev Port Cien Des 6 (2) 241248. Castelo, J. et al (1998). Metodologia do treino desportivo. Faculdade de Motricidade Humana, Serviço de Edições. Lisboa. Cervera, V. (1996). Entrenamiento de fuerza y explosividad para la actividad física y el deporte de competición. INDE publicaciones. Barcelona. Cid, l.; Silva, C.; Alves, J. (2007). Actividade física e bem-estar psicológico – perfil dos participantes no programa de exercício e saúde de Rio Maior. Motricidade, vol.3, n.2 p.47-55. Dick, F. (1993). Principios del entrenamiento deportivo. Editorial Paidotribo. Barcelona. Ewart, C.(1989). Psychological effects of resistive weight training: implications for cardiac patients. Med Sci Sports Exerc 21(6): 683-8. Farrinatti, P.; Silva, N. (2007). Influência de variáveis do treinamento contra – resistência sobre a força muscular de idosos: uma revisão sistemática com ênfase nas relações dose – resposta. Rev Bras Med Esporte ,vol. 13, n. 1. Figueiredo, P; Mota, M.; Appell, H.;Duarte, J. (2008). The role of mitocondria in aging of seketeal muscle. Journal Biogerontology , vol. 9 n.2, p.67-84. Fleck, S.; Kraemer W. (1997). Designing resistance training programs. Human Kinetics. Fleck, S.; Kraemer, W. (1999). Fundamentos do treinamento de força muscular. Artes Médicas. Porto Alegre. Folland, J.; Williams, A. (2007). The adaptations to strength training : morphological and neurological contributions to increased strength. Sports Med 37(2): 145-68. 54 Fox, E. et al. (1991). Bases fisiológicas da educação física e dos desportos. 4ª edição. Editora Guanabra Koogan S.A. Rio de Janeiro. Gardiner, B. (2001). Neuromuscular aspects of physical activity. Human Kinetics, p. 83110. Garganta, R. (2000). Avaliação das actividades de academia. Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física. Universidade do Porto. Garganta, R.; Prista, A.; Roig, J. (2003). Musculação -Uma abordagem dirigida para as questões da saúde e bem estar. A Manz Produções. Gutiérrez, A. (2008). Nuevas dimensiones y el entrenamiento de la fuerza: aplicación de nuevos métodos, recursos y tecnologías. INDE Publicaciones. Barcelona. Herzog, W. (2000a). Force production in human skeletal muscle. Biomechanics and biology of movement. B. M. Nigg, B. R. Macintosh and J. Mester, Human Kinetics. Herzog, W. (2000b). Muscle activation and movement control. Biomechanics and biology of movement. B.M. Nigg, B.R. Macintosh and J. Mester, Human Kinetics. Howard J. et al., (1985). Determining factors of strength: Physiological foundations. NSCA Journal 7: 16-22. Kraemer, W., Adams, K. et al. (2002). American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc 34(2): 364-80. Lamas, L. et al. (2007). Treinamento da força máxima x treinamento de potência alterações no desempenho e adaptações morfológicas. Rev. Bras. Educ. Fís. Esp. São Paulo, V.21, n.4, 331-40. Lamas, L. et al. (2008). Efeito de dois métodos treinamento no desenvolvimento da força máxima e da potência muscular de membros inferiores. Rev. Bras. Educ. Fís. Esp. São Paulo, V.22, n.3, 235-45. 55 Manso, C. et al. (1996). Bases teóricas del entrenamiento deportivo. Principios y aplicaciones. Gymnos Editorial. Madrid. Martyn-St J.; Carroll, S. (2006). Progressive high-intensity resistance training and bone mineral density changes among premenopausal women: evidence of discordant sitespecific skeletal effects. Sports Med 36(8): 683-704. Matveiev, L. (1986). Fundamentos do treino desportivo. Livros Horizonte. Lisboa. McComas A. (1996). Skeletal Muscle. Form and function. Human Kinetics, p. 229-246. Moritani, T.; deVries, H. (1979). Neural factors versus hypertrophy in the time course of muscle strength gain. Am J Phys Med 58(3): 115-30. Moritani T. (2003). Motor unit and motoneurone excitability during explosive movement. Strength and Power in Sport. PVBlackwell publishing, p. 27-49. Macdougall, J. (2003). Hypertrophy and Hyperplasia. Strength and Power in Sport. P. Komi, Blackwell publishing: 232-264. Novaes, J. et al. (2007). Influência aguda da ordem dos exercícios resistidos em uma sessão de treinamento para peitorais e tríceps. Motri vol.3, no.4, 38-45. Platonov, V.; Bulatova, M. (1993). La preparación física. Editorial Paidotribo. Barcelona. Pereira, F. et al. (2006). Efeito de treinamento de força na qualidade de vida de mulheres idosas. Fitness Performance Journal, v.5, nº6, p. 383-387. Poliquin, C.; Patterson (1989). Classification of strength qualities. NSCA Journal 11(6): 48-50. Proske, U. (2006). Kinesthesia: the role of muscle receptors. Muscle Nerve 34(5): 54558. Santa Clara, H. (2006). Programas de treino de força muscular para o idoso. Faculdade de Motricidade Humana, Serviço de Edições. Lisboa. 56 Sforzo, G.; Touey P. (1996). Manipulating exercises order effects muscular performance during a resistance exercise training sessions. J Strength Cond Res;10:20-4. Siff, M.; Verkhoshansky, Y. (2000). Super Entrenamiento. Paidotribo. Barcelona. Silva, E.; Dourado, V. (2008). Treinamento da força para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Rev Bras Med Esporte – Vol.14, nº 3. Silva, N.; Monteiro, W.; Farinatti, P. (2009). Influência da ordem dos exercícios sobre o número de repetições e percepção subjectiva do esforço em mulheres jovens e idosas. Rev Bras Med Esporte – Vol.15, nº 3. Simão, R. (2004). Treinamento da força na saúde e qualidade de vida. Phorte Editora LTDA. São Paulo. Simão, R. et al. (2004). Influência dos diferentes protocolos de aquecimento na capacidade de desenvolver carga máxima no teste de 1RM. Fit Perf, Rio de Janeiro, 3,5,262. Silva, C. et al. (2006). Efeito do treinamento com pesos, prescrito por zona de repetições máximas, na força muscular e composição corporal em idosas. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano – 8 (4): 39-45. Silva, N.; Monteiro, W.; Farinatti, P. (2009). Influência da ordem dos exercícios sobre o número de repetições e percepção subjetiva do esforço em mulheres jovens e idosas. Rev Bras Med Esporte – Vol.15, nº 3. Simão, R. Farinatti, P.; Monteiro, W. (2005). Manipulação na ordem dos exercícios e sua influência sobre número de repetições e percepção subjetiva de esforço em mulheres treinadas. Rev Bras Med Esporte – Vol.11, nº 2. Simão, R.; Maior, A. (2006). Prescrição de exercícios através do teste de 1RM dm Homens. Revista Treinamento Desportivo. Vol.7, nº1, 82-86. Simão, R. et al. (2006). Treinamento da força. Fit Perf, Rio de Janeiro, v.5, n.5, 291. Tavares, K.; Navarro, F.; Franzen, C. (2007). Treinamento de força para adolescents depressives e com baixa auto-estima. Rev Bras Presc Fis do Exercício.v.1, n.3. 57 Verjoshanski, V. (1990). Entrenamiento deportivo – planificación y programación. Ediciones Martínez Rocas S.A. Barcelona. Watkins, J. (1999). Structure and function of the musculoskeletal system. Human Kinetics. Weineck, J. (2002). Optimales Training. Spitta Verlag GmbH. Erlangen. Zastiorsky, V. (1989). Metrologia deportiva. Editorial Planeta. Moscu. Zatsiorsky, V. (1995). Science and pratice of strength training. Human Kinetics. Zastiorsky, V.; Kraemer, W. (2008). Ciência e prática do treinamento da força. 2ª edição. Phorte Editora. São Paulo. Zimmermann, K. (2004). Entrenamiento muscular. Editorial Paidotribo. Barcelona. 58
Download