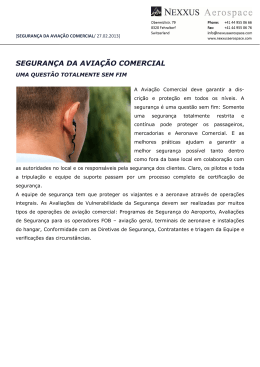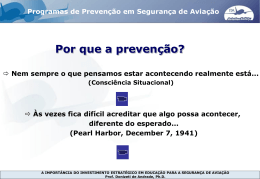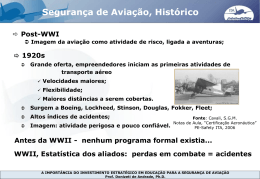1 2 SUMÁRIO Editorial ......................................................................................... 5 RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES Aviação comercial no Brasil: a necessidade de um novo marco regulatório. .................................................................. 9 CRISTIANO AGUIAR A criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual – uma análise .........................................................37 RICARDO VIDAL DE ABREU RODRIGO PUCCI DE SÁ E BENEVIDES Financiamento da saúde pública no Brasil: a situação atual e o impacto da vinculação constitucional de recursos (EC 29/2000) ............................................................... 59 WILLBER DA ROCHA SEVERO A participação dos beneficiários em estratégias de redução da pobreza: uma análise de suas contribuições. ...... 86 ERICK BRIGANTE DEL PORTO Fome Zero e Controle Social: a experiência dos Comitês Gestores do Programa Cartão Alimentação ............ 117 SYLVIO KELSEN COELHO O desafio de pensar o futuro: métodos de apoio à reflexão ................................................................................... 142 RES PVBLICA Revista de gestão governamental e políticas públicas ................. 166 3 4 Editorial O desgaste das experiências excessivamente estatizantes ou liberalizantes do século passado mantém ainda atual a questão dos limites do Estado frente ao desafio do desenvolvimento. As definições das funções e formas de atuação governamental, e de seus mecanismos de controle social, permanecem como variáveis ordenadoras das opções políticas, principalmente nas sociedades menos desenvolvidas. As visões redutoras das grandes ideologias, contudo, perderam muito de sua força legitimadora. Na definição de rumos, ganham espaço as avaliações sistemáticas de processos concretos de atuação do Estado nos diversos setores da sociedade, com suas especificidades e complexidades. Este número da Res Pvblica traz algumas contribuições nesse sentido. Rodrigo Augusto Rodrigues abre a edição com uma análise dos modelos regulatórios intervencionistas e liberalizantes praticados no setor da aviação civil brasileira. Faz um rico relato do desenvolvimento do setor desde sua fase inicial, na década de 20 do século passado, até o momento atual, com destaque para o significado da intervenção do Estado em cada conjuntura. Apresenta um diagnóstico do setor, apontando as fragilidades e demonstrando a necessidade de um novo marco regulatório. Também discutindo a atuação do Estado em setores específicos, Cristiano Aguiar analisa a proposta de criação de uma agência destinada à regulação dos setores de cinema e audiovisual. Apesar de concordar com a necessidade da regulação para enfrentar problemas como o oligopólio, o autor aponta falhas 5 na proposta e na forma como vem sendo conduzida. Critica, assim, a fragilidade do mecanismo de consulta pública, que se mostrou insuficiente para a participação efetiva, e alerta para o problema de se tratar separadamente a regulação das redes físicas e das plataformas tecnológicas e a regulação da produção e difusão do conteúdo audiovisual. Alerta, ainda, para os problemas que deverão surgir nas disputas de atribuições entre agências. Ricardo Vidal de Abreu e Rodrigo Pucci de Sá e Benevides discutem o papel do Estado na área da saúde. Analisam o setor e a difícil equação entre a universalização instituída pela Constituição de 1988 e a necessidade de financiamento dos serviços. Avaliam o impacto da vinculação orçamentária decorrente da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, e os efeitos da descentralização da saúde, promovidas pelas Normas Operacionais, na estrutura do financiamento da saúde das três esferas da federação. Willber da Rocha Severo faz uma abordagem extensa da questão da participação, explorando várias experiências presentes na literatura especializada, buscando avaliar em que medida a participação dos beneficiários em estratégias de redução da pobreza pode interferir positivamente nos resultados de programas e projetos. A questão da participação também é o tema de Erick Brigant Del Porto, que faz um relato da experiência do programa Fome Zero. A partir do detalhamento do funcionamento da experiência dos Comitês Gestores do Programa Cartão Alimentação, destaca a importância da forma de participação que o programa suscitou, apontando as potencialidades envolvidas em termos de estímulo à mobilização da sociedade. 6 Completa a edição a cuidadosa contribuição de Sylvio Kelsen Coelho que nos convida ao debate sobre as reflexões sobre o futuro, a partir da análise das principais metodologias disponíveis para o auxílio na decisão estratégica. São contribuições importantes que, temos certeza, vêm prestigiar os leitores da Res Pvblica. Agradecemos a todos que contribuíram para mais este número, em especial aos articulistas, aos membros da Comissão Editorial e ao Editor. E boa leitura! A Diretoria. 7 8 Rodrigo Augusto Rodrigues Aviação comercial no Brasil: a necessidade de um novo marco regulatório. 1- INTRODUÇÃO N os últimos anos, tem sido amplamente divulgada pela mídia e relatada em trabalhos de especialistas e acadêmicos a crise por que passa a aviação civil no Brasil e, em particular, as empresas aéreas brasileiras. As responsabilidades por essa crise são atribuídas tanto à regulação do setor, quanto às características do mercado de aviação civil, sensivelmente afetado pelas oscilações dos ciclos dos negócios e, desde 2001, pelos efeitos decorrentes dos atentados terroristas aos EUA, e aos problemas de governança corporativa das empresas aéreas brasileiras. Este trabalho desenvolve uma breve análise da evolução da regulação da aviação comercial no Brasil. Indispensável para a adequada compreensão da regulação da aviação comercial é o conhecimento das características desse mercado em termos da sua estrutura, das barreiras à entrada, da lucratividade e das características da demanda por serviços aéreos, particularmente o transporte de passageiros. Analisando a evolução da regulação da aviação comercial em nosso País, desde os primórdios do setor até os dias de hoje, constatamos que já convivemos há muito tempo com marcos regulatórios extremamente diferenciados. A aviação 9 incipiente foi amplamente subsidiada e protegida. Na primeira fase de grande expansão da aviação civil, no período pós-II Guerra Mundial, experimentamos uma abertura de mercado e redução do controle do Estado sobre aspectos econômicos das empresas de aviação, o que ensejou a expansão da oferta dos serviços e a competição. Em resposta à crise de excesso de oferta gerada por essa fase, tivemos um marco regulatório que induziu à concentração e ao rígido controle da oferta, da entrada no mercado e dos preços das passagens. Esse período coincide com a introdução das aeronaves a jato, no início dos anos 60, e perdura até o final dos anos 80, quando novamente se inicia uma fase tendente à liberalização, a qual ficou conhecida como a desregulação. Por fim, relacionando a evolução da regulação da aviação comercial no Brasil com as características desse mercado, refletimos sobre algumas propostas que deveriam orientar a reformulação do marco regulatório, objetivando o saneamento do mercado de aviação comercial no Brasil. 2. A EVOLUÇÃO DA REGULAÇÃO DA AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL A fase pioneira da aviação comercial, no Brasil e no mundo, compreende o período em que a tecnologia da aviação supera a fase de testes e são constituídas as primeiras empresas de transporte aéreo, em meados da década de 1920, até o término da II Guerra Mundial, fase em que o transporte aéreo, com os excedentes de aeronaves para transporte de tropas, adaptadas, permitem a consolidação do modal aéreo como uma alternativa 10 de transporte para médias e longas distâncias, competitivo com os demais modais de transporte. Nessa fase pioneira, o Brasil, como os demais países, adota uma regulação excessivamente intervencionista e protecionista, com mecanismos de estímulo à aviação, como subvenções e subsídios, objetivando viabilizar uma alternativa estratégica de transporte, principalmente para aqueles países de dimensões continentais, como o nosso, carentes de infra-estruturas que permitam a integração de uma população dispersa no espaço geográfico do território nacional. O nosso primeiro regulamento geral sobre navegação aérea, o Decreto nº 16.893, foi editado em 1925 e incorpora os princípios acordados na Convenção de Paris sobre navegação aérea, de 1919, e nos trabalhos da Comissão Ibero-Americana de Navegação Aérea. A Varig nasce nesse contexto, em 1927. Neste ano, também foi fundado o Sindicato Condor Ltda, que originou os Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., denominação adotada a partir de 1943, incorporada pela Varig em 1975. Em 1929, a Pan American Airways foi autorizada a operar vôos internacionais de e para o Brasil, constituindo uma subsidiária brasileira – a Panair do Brasil, autorizada a operar vôos domésticos em 1933, ano em que foi fundada a Aerolloyd Iguassu, controlada pela firma Chá Matte Leão, operando ligações entre Curitiba e São Paulo (posteriormente adquirida pela Vasp). Em 1933 foi constituída a Vasp, transformada em sociedade de capital misto em 1935, quando passou a ser controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, e privatizada em 1990. Na década de 1940 surgem o Lloyd Aéreo (adquirido pela Vasp em 1962) e a Redes Estaduais Aéreas Ltda – Real (adquirida pela Varig em 1961). Em 1955 o grupo Sadia Concórdia criou a Sadia Transportes Aéreos que trocou o nome para Transbrasil 11 S.A. Linhas Aéreas, em 1972. A TAM surge em 1961, como Táxi Aéreo Marília, e a Gol mais recentemente, em 2001, ano de interrupção das atividades da Transbrasil.1 A grande oferta de aeronaves excedentes no pós-II Guerra Mundial, tanto de aviões como de peças de reposição a baixo custo, aliada à política brasileira de livre concorrência, favoreceram o surgimento de dezenas de empresas autorizadas a explorar serviços aéreos. Entre 1945 e 1954, foram outorgadas, pelo DAC (Departamento de Aviação Civil ), 62 concessões para a exploração de serviços aéreos. Em 1948, eram 148 as localidades servidas pelo transporte aéreo doméstico, tendo atingido 346 cidades atendidas em 1954. Em 1950, havia 22 companhias aéreas no Brasil, mas em 1955 este número tinha caído para 14 e, em 1960, para 10 (segundo dados do DAC). Esse excesso de oferta pelas companhias aéreas tornou economicamente inviáveis muitas das rotas operadas. O excesso de concorrência levou à concentração das atividades no litoral, baixo índice de aproveitamento das aeronaves, guerra tarifária e baixa qualidade dos serviços prestados. A demanda da época, ainda de dimensões reduzidas, não foi suficiente para viabilizar o funcionamento de um grande número de empresas e todas se enfraqueceram, muitas faliram e outras foram absorvidas ou se fundiram. A conseqüência foi a redução nos níveis de segurança e de regularidade no serviço de transporte aéreo. No início da década de 1960, a aviação comercial brasileira passava por uma grave crise econômica, causada por diversos 1 Dados mais detalhados sobre a criação das empresas aéreas e o histórico da aviação comercial no Brasil podem ser obtidos no site do DAC (www.dac.gov.br) em CASTRO e LAMY (1993) e em RODRIGUES (2003). 12 fatores: baixa rentabilidade provocada pela concorrência excessiva; necessidade de novos investimentos para a renovação da frota de aeronaves do pós-guerra, cuja manutenção tornou-se difícil com a escassez de peças de reposição, o que prejudicava a regularidade dos vôos oferecidos; e alterações na política econômica do país, que retirou das empresas aéreas o benefício do uso do dólar preferencial para as importações, entre outros fatores. As companhias aéreas nacionais de grande porte foram reduzidas para apenas quatro, incluídos os seus consórcios. Objetivando superar a crise, governo e companhias aéreas reuniram esforços para estudar uma mudança na política vigente para o setor, buscando a continuidade dos serviços de transporte aéreo, mesmo que o número de empresas tivesse que ser reduzido e o governo tivesse que exercer um controle mais rígido sobre elas. Nessa época, final da década de 50 e início da década de 60, no âmago da crise, com apelos sentimentalistas à origem da aviação com Santos Dumont, unindo simpatizantes dos sindicatos de aeronautas e aeroviários, militares, políticos e empresários, chegou a ser proposta a constituição de uma sociedade de economia mista, com participação majoritária da União – a Aerobrás, uma estatal para explorar os serviços aéreos. As discussões em torno da proposta, a descrição da crise da época e os interesses envolvidos são relatados no livro “Aviação comercial brasileira: asas cortadas” (PEREIRA, 1966), cuja releitura impressiona pela semelhança com a situação atual da aviação brasileira, pelos apelos, envolvimentos e reivindicações dos grupos de interesse envolvidos. Esses esforços conjuntos entre governo e companhias aéreas resultaram em três encontros, denominados de Conferências Nacionais de Aviação Comercial – CONAC, realizadas a 1ª em 1961, a 2ª em 13 1963 e a 3ª em 1968. As deliberações, conclusões e recomendações conduziram a uma política de estímulo à fusão e associação de empresas, objetivando reduzir o seu número a um máximo de duas na exploração do transporte internacional e três no transporte doméstico. Iniciava-se o regime de competição controlada, com medidas contra a competição ruinosa, e repúdio ao monopólio estatal ou privado. O governo passou a intervir pesadamente nas decisões administrativas das empresas, seja na escolha das linhas, no reequipamento da frota e no estabelecimento do valor das passagens. Também integravam a política o resguardo dos interesses econômicos dos transportadores, a adoção de medidas para assegurar capacidade de competição às empresas nacionais no mercado internacional e a regulamentação das concessões para os serviços públicos de transporte aéreo regular, com definição de direitos, obrigações e prazos de validade das concessões. Essas orientações resultaram na instituição de um novo Código Brasileiro doAr – Decretolei nº 32, de 18 de novembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei nº 234, de 28 de janeiro de 1967. Essa política perdurou até o final da década de 1980. Em 1963, o governo federal criou um sistema de subsídio concedido às companhias aéreas operando linhas antieconômicas da Rede de Integração Nacional - RIN, a qual visava desenvolver um sistema nacional de linhas aéreas alimentadoras das principais rotas. À regulação branda das décadas anteriores, sucedeu-se uma regulação rígida, com estímulo à diminuição do número de empresas, na competição controlada, na defesa dos interesses econômicos dos transportadores e desestímulo à “guerra de preços”, através da “política de realidade tarifária”, cujo fundamento básico era a idéia de que o usuário deveria pagar o justo valor pelos serviços aéreos que utilizasse, cabendo ao Poder concedente fixar tarifas adequadas aos custos operacionais relacionados aos serviços, incluída a 14 remuneração do capital. Essa política não levava em consideração qualquer preocupação com os usuários dos serviços aéreos. Tinha início um período de três décadas de uma política regulatória controladora, que fez prevalecer, no mercado doméstico nacional, um oligopólio formado por três empresas. A Varig, grande beneficiária dessa política, se consolida como a maior empresa nacional. No início da década de 60, com a política induzida de fusões, incorpora a Real (então a maior companhia aérea nacional) e assume suas rotas internacionais. Com a falência da Panair, decretada pela União em meados da década de 60, a Varig assumiu as suas rotas internacionais. Em meados da década de 70, incorpora a Cruzeiro, assumindo suas rotas internacionais. Desde meados dos anos 70, até meados da década de 90, quando a TAM passou a operar rotas nacionais, Varig, Vasp e Transbrasil atendiam o denominado mercado doméstico nacional, e a Varig se tornou a única empresa explorando o mercado internacional, até o início dos anos 90, quando as demais companhias nacionais foram autorizadas a operar vôos internacionais. Com a introdução de aeronaves mais modernas e de maior porte, as empresas viram-se forçadas a modificar a sua rede de linhas, optando por servir apenas cidades de maior expressão econômica ou mais densamente povoadas, cujo mercado viabilizasse a prestação do serviço com o uso de aeronaves desse tipo. As pequenas cidades do interior, dotadas de aeroportos precariamente equipados, cuja pista, em geral, não era pavimentada, e que no passado foram servidas por aeronaves de pequeno porte, deixaram de ser atendidas pelas grandes companhias aéreas. De um total de 335 cidades servidas por linhas aéreas em 1958, somente 92 continuavam a dispor do serviço em 1975 (DAC, www.dac.gov.br: Institucional: Evolução do Transporte Aéreo). 15 Objetivando prover de serviços aéreos às cidades de menor porte do interior e as localidades remotas do País, o então Ministério da Aeronáutica decidiu criar uma nova modalidade de empresa aérea, a empresa regional, para atender essas cidades, instituindo os Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional – SITAR, pelo Decreto nº 76.590, de 11 de novembro de 1975. Cada sistema era constituído de linhas e serviços aéreos de uma região, para atender a localidades de médio e baixo potencial de tráfego. As empresas concessionárias de serviços aéreos regionais não podiam transformar-se em empresas de transporte aéreo regular de âmbito nacional. Entretanto, as empresas nacionais poderiam participar do capital das empresas regionais. O Decreto nº 76.590 também instituiu um adicional de até 3% que incidia sobre as tarifas das passagens aéreas das ligações domésticas, para crédito do Fundo Aeroviário, com destinação específica para o SITAR, para a suplementação tarifária de suas linhas. Assim, foram criadas cinco regiões que dividiam o território nacional entre as empresas nelas autorizadas a operar, com exclusividade: i)a região Nordeste-Leste, servida pela Nordeste Linhas Aéreas, empresa fundada por vários acionistas, entre os quais a Transbrasil e o Estado da Bahia, o qual aumentou sua participação para reter a companhia em Salvador (posteriormente, foi adquirida pelo Grupo Varig); ii)a região Sul, servida pela Rio-Sul Serviços Aéreos Regionais S.A., fundada e controlada pelo Grupo Varig, com participação minoritária das companhias de seguros Atlântico Boa Vista e Sul América e do Bradesco; iii)a região Norte-Oeste, servida pela TABA – Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, empresa independente das companhias aéreas nacionais, tendo sido originada da Táxi Aéreo Sagres; iv)a região Centro-Oeste, servida pela TAM – Transportes Aéreos Regionais S.A., que nasceu da TAM – Táxi Aéreo Marília, mais uma participação de 1/3 da Vasp, 16 a qual repassou à nova companhia as linhas regionais interiores de São Paulo que ela servia e que teriam que ser abandonadas pela Vasp, segundo a regulamentação do SITAR; v) e a região CentroNorte, servida pela Viação Brasil Central, inicialmente Votec – Serviços Aéreos Regionais S.A., posteriormente adquirida pela TAM. Em janeiro de 1986, foram inaugurados os Vôos Diretos ao Centro – VDC, com vôos ligando os aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Pampulha, em Belo Horizonte, operados com exclusividade pelas companhias regionais. No início da década de 1990, a TAM e a BR-Central transportavam cerca de 60% do tráfego regional. O SITAR foi fundamental para o crescimento da TAM, hoje, a maior companhia aérea nacional. Em 19 de dezembro de 1986, foi sancionada a Lei nº 7.565 – o Código Brasileiro de Aeronáutica, vigente até hoje, dispondo sobre a regulação básica do setor de aviação comercial. O DAC continuava exercendo estrito controle sobre o mercado de aviação comercial, com competência para determinar a entrada e saída de empresas no mercado, estabelecer a capacidade das rotas, freqüências, horários e a estrutura tarifária nas rotas domésticas. A regulação tarifária e a conjugação dos planos econômicos que objetivaram derrubar a inflação, levaram as empresas aéreas a demandarem ações perante o Poder Judiciário, contra a União, objetivando o ressarcimento de perdas atribuídas à alegada quebra do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A Transbrasil obteve ganho de causa, em 1998, com uma indenização estimada em R$ 725 milhões, com a qual foi feito um encontro de contas, vez que a empresa também devia à União. A Transbrasil alegava, também, danos causados pela intervenção praticada pela 17 União em 1986, que objetivou o seu saneamento econômicofinanceiro. Tramitam no Judiciário ações da Vasp, cuja indenização é estimada em R$ 900 milhões, Varig, com R$ 1,8 bilhão, Rio-Sul com R$ 400 milhões e TAM com R$ 500 milhões (valores originais das ações que, corrigidos, totalizam um montante estimado em R$ 10 bilhões). Outro “esqueleto” para a União, resultado de anos de complacência do Poder Público com os trabalhadores do setor, refere-se à alegada “terceira fonte” de custeio do fundo de previdência complementar dos aeronautas – o Instituto Aerus de Seguridade Social. A aposentadoria dos aeronautas foi inicialmente regulamentada pela Lei nº 3.501, de 1958. Esta lei estabelecia diversos encargos a serem suportados pela Caixa de Aposentadorias e Pensões, para o que previa, além do pagamento de contribuição pelo aeronauta e seu empregador, o recolhimento de uma taxa especial de 2% incidente sobre as tarifas aéreas, denominada “seguro especial do aeronauta”. Essa lei previa o pagamento de proventos com limite mínimo equivalente ao do salário mínimo regional e máximo equivalente a dez vezes o maior salário mínimo vigente no país. Legislação posterior – Lei nº 4.262, de 1963, elevou esse valor máximo para dezessete salários mínimos. O Decreto-lei nº 158, de 1967, revogou as citadas leis e restabeleceu o teto máximo dos aeronautas em dez salários mínimos, suprimindo a taxa especial do seguro do aeronauta. Quando da criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que unificou o sistema previdenciário do país, os aeronautas experimentaram um sensível decréscimo em suas aposentadorias, o que produziu generalizada insatisfação para a categoria. Iniciou-se um movimento da categoria para que as autoridades reconhecessem a “circunstância excepcional de sua 18 situação profissional” e se motivassem a conceder-lhes a recomposição das vantagens previdenciárias anteriormente desfrutadas. Vários grupos de trabalho foram constituídos, formados de representantes da categoria e de representantes dos Ministérios da Aeronáutica, da Previdência Social e do DAC. Dessas reivindicações surgiu o Instituto Aerus de Seguridade Social, instituído em 1982, criado com base em três fontes: a) contribuição dos participantes; b) contribuição das patrocinadoras e c) verba arrecadada do público usuário do transporte aéreo, no montante de 3% sobre as tarifas domésticas. A contribuição de 3% foi objeto de acordo promovido pelo DAC com as empresas aéreas concessionárias de serviços de transporte doméstico de âmbito nacional, celebrado em 01/09/1982, pelo qual as empresas se comprometiam a cobrar dos passageiros e a repassar mensalmente o valor equivalente a 3% do total da receita doméstica voada de passagens, durante os trinta anos seguintes. Essa arrecadação tinha como objetivo determinar padrões mínimos adequados de segurança econômico-financeira para preservação da liquidez e solvência dos planos de benefícios, isoladamente, e da entidade de previdência privada em seu conjunto. Esta é a origem da alegada “terceira fonte”. Convém observar que a Vasp não aderiu ao referindo fundo, constituindo um fundo específico para seus trabalhadores, conhecido como Aeros, que se encontra em situação semelhante de inadimplência da patrocinadora. O compromisso foi honrado de 1982 até 25 de fevereiro de 1991, quando o então Diretor-Geral do DAC, considerando que o repasse dos 3% já havia produzido o resultado desejado, tornandose dispensável a sua manutenção, suspendeu a cobrança. Esta é a origem do “rombo” atualmente existente no Aerus. 19 Seus dirigentes argumentam que o fundo foi inviabilizado com a manutenção apenas das contribuições de empregados e empresas patrocinadoras. As empresas reconhecem parte da dívida, porém outra parte, estimada em R$ 1,1 bilhão, é considerado compromisso do Governo Federal por conta do não recolhimento da “terceira fonte” desde 1991. Essa alegada “dívida” também é objeto de ação contra a União, movida pelo Aerus. No início da década de 90, as novas práticas comerciais, o crescimento da TAM, e a evolução tecnológica (programas de reservas por computador, capazes de traçar as preferências dos usuários com base nos destinos, freqüências e horários de vôo escolhidos) levaram as empresas aéreas, envolvidas numa competição pela qualidade dos serviços, a reivindicar flexibilização nas regras do mercado, relativas a tarifas e ampliação da oferta. As companhias aéreas nacionais são autorizadas a operar nos aeroportos centrais (Congonhas e Santos Dumont), antes restritos aos vôos das companhias regionais. São introduzidos os programas de fidelidade ou milhagem, concomitantemente com a autorização para a flexibilização das tarifas, com a autorização para a prática de descontos por época do ano, horários e compra antecipada e a política de bandas tarifárias (limites máximo a mínimo autorizados pelo órgão regulador). Essas medidas permitiam a prática comercial denominada de yield management, pela qual as companhias aéreas, ao diferenciar o preço da passagem de acordo com o perfil dos consumidores, procuravam extrair o máximo lucro, se apropriando do excedente do consumidor. As companhias aéreas também passam a reivindicar a entrada em novos mercados e o aumento da oferta. Vasp e Transbrasil, e posteriormente a TAM, são autorizadas a operar 20 vôos internacionais, além da Varig. A TAM, grande beneficiária do SITAR, reivindica e obtém autorização para operar rotas nacionais, seguida da Rio-Sul. As regras normativas para a entrada no mercado são arrefecidas. Vôos não-regulares (ou charters) são autorizados com maior freqüência. Na segunda metade da década de 90, tem início uma intensa competição com a concessão de tarifas promocionais, objetivando o aproveitamento máximo da capacidade ofertada. Desde 1998, Varig, Vasp, Transbrasil, TAM e Rio-Sul passaram a questionar em juízo a cobrança da suplementação tarifária instituída pelo SITAR para subsidiar as linhas aéreas que atendem localidades remotas e com baixa densidade de tráfego, obtendo liminares dispensando o recolhimento da Suplementação. Beneficiárias da suplementação enquanto empresas regionais, quando passaram a operar vôos nacionais, e a ter que recolher a suplementação, passaram a questioná-la. A GOL não teve a mesma sorte e, conjuntamente com algumas empresas menores, são as únicas empresas que continuam recolhendo a suplementação. A argumentação das empresas aéreas é de que a suplementação, estabelecida por Decreto, não teria validade legal para tornar-se compulsória. A política de liberalização ou desregulação iniciada nos anos 90 culmina com a adoção da liberdade tarifária e a entrada da Gol no mercado, em 2001, período em que já se manifestavam os problemas econômico-financeiros das empresas de aviação tradicionais. A intensa competição, a desvalorização cambial de 1999, a elevação do preço do querosene de aviação, a tributação incidente sobre o setor, a desregulação, a entrada da Gol no mercado e os 21 atentados terroristas aos EUA em 2001 são alegados, pelas companhias aéreas deficitárias, como as causas da crise por que passam. Entretanto, observamos que os débitos das companhias “tradicionais” (Varig, Vasp e Transbrasil) com o Fisco, com o INSS e com os fundos de pensão montam a períodos anteriores ao início da década de 90, quando teve início a desregulação. Décadas de relação incestuosa entre o poder público e as companhias aéreas, em que subsídios, subvenções, benefícios fiscais e alocação coordenada da capacidade ofertada (funcionamento da Comissão de Linhas Aéreas – CLA, no âmbito do DAC, constituída dos representantes das companhias aéreas e do órgão regulador, onde era decidido quem voa para onde, em quais horários e freqüências), conjugado com o argumento de que a aviação comercial é um modal de transporte estratégico, promotor da integração nacional e questão de soberania nacional, induziram à contumaz inadimplência das empresas com o Erário, considerado o poder público um “sócio” natural do setor. A Vasp, desde a era estatal e após a privatização, sempre foi uma empresa deficitária e inadimplente com os cofres públicos. A Transbrasil, mesmo no período da regulação protecionista, beirou a falência, ensejando a intervenção da União em 1986. Ainda assim após uma década e meia, não escapou da falência. A Varig, com um modelo de gerência corporativa irresponsável, a co-gestão dos empregados na Fundação Rubem Berta, a inadimplência desta com o fundo de pensão Aerus, a prática de salários e benefícios generosos, acima da média praticada pelo mercado, e a sobreposição de níveis de gerência na estrutura organizacional da empresa, levaram inevitavelmente às atuais dificuldades. 22 As concessões para a operação de linhas aéreas é ato discricionário da Autoridade Aeronáutica. Não seguem qualquer processo licitatório. Um verdadeiro imbróglio legal e normativo disciplina a matéria. As concessões não obedecem a Lei Geral das Concessões – Lei 8.987, de 1995. A Lei de licitações – Lei 8.666, de 1993, estabelece, em seu artigo 122, que nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á procedimento licitatório específico, a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA. O CBA, Lei nº 7.565, de 1986, é omisso quanto a qualquer procedimento licitatório. Linhas e rotas, ou seja, a capacidade ofertada, é acertada e distribuída no contexto de comissões estabelecidas pelo Departamento deAviação Civil- DAC, das quais participam os representantes das empresas aéreas. A discricionariedade da Autoridade Aeronáutica na concessão de linhas e a atuação cartelizada das companhias aéreas, temerosas da entrada de novos concorrentes no mercado, estabeleceram uma relação incestuosa e perniciosa entre o poder público e as empresas aéreas. Não existem regras explícitas, tampouco transparência na regulação. O espaço ocioso nas aeronaves, que representa um custo marginal próximo a zero para as empresas aéreas, é utilizado com freqüência como moeda de troca na relação entre as companhias aéreas e autoridades públicas, na forma de passagens gratuitas. Não é de estranhar que nesse setor, um ex-Ministro da Aeronáutica tenha se tornado Diretor Presidente de companhia aérea regional e Presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias SNEA, presidindo-o de 1997 a 2000. O Comando da Aeronáutica editou a Portaria n° 731/GC5, de 31 de julho de 2003, que altera dispositivos da Política para os Serviços de Transporte Aéreo Comercial do Brasil, relativos às diretrizes para o transporte aéreo nacional. As novas diretrizes para o transporte aéreo nacional têm a finalidade de “adequar a oferta 23 de transporte aéreo, feita pelas empresas aéreas, à evolução da demanda”, determinando ao Departamento de Aviação Civil – DAC “considerar, quando da análise para criação de novas empresas, o comportamento e a especificidade do mercado foco de atuação e a situação econômica das empresas existentes, principalmente quanto a compromissos assumidos.” A Autoridade Aeronáutica, considerando que “o excesso de oferta tem, normalmente, um impacto sério sobre a viabilidade econômica das operações’’, determina que “será evitada a superposição de linhas com proximidade de horários, resguardando-se o interesse do usuário, caso seja necessária a concessão de um novo horário próximo a outro, o novo horário deverá ser posterior ao já autorizado.”. Concluindo, as novas diretrizes determinam que “deve ser mantido um acompanhamento contínuo da evolução da estrutura de custos operacionais do setor, para, em estreita ligação com os órgãos governamentais das áreas de economia e justiça, coibir os abusos, a cartelização e o dumping.” A Portaria n° 731/GC5, do Comando da Aeronáutica, complementa outra Portaria, a de n° 243/GC5, de 13 de março de 2003, que “dispõe sobre as medidas destinadas a promover a adequação da indústria de transporte aéreo à realidade do mercado” e determina que “as empresas aéreas serão concitadas a desenvolver planos de racionalização de suas linhas, a serem elaboradas em coordenação e com a colaboração do DAC”. Também determina que “a autorização para a importação de aeronaves comerciais, emitida pelo DAC, deverá sujeitar-se à comprovação de real necessidade pelo requerente, com base nas autorizações concedidas para a exploração de transporte aéreo” Conforme exposto, no Brasil, já convivemos com dois modelos de regulação: o modelo intervencionista e o liberalizante. 24 Em ambos, as empresas aéreas passaram por dificuldades econômicas e financeiras. Portanto, é possível sugerir que algo mais que o modelo regulador se apresenta como causa das dificuldades das empresas operantes no mercado de transporte aéreo. 3. AS CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE AVIAÇÃO COMERCIAL O mercado de aviação, historicamente, é caracterizado por uma grande sensibilidade em relação ao ciclo dos negócios: a demanda é elástica em relação à renda, ou seja, quando o PIB e renda per capita crescem, a demanda por transporte aéreo aumenta, e quando o PIB cai, a demanda é contraída. O setor também é caracterizado por um elevado grau de competição, acarretando baixas taxas de lucratividade e rentabilidade (que oscilam, na média, entre 1% a 9% de retorno sobre o capital investido). Existem barreiras econômicas e físicas para a entrada no mercado. A disponibilidade de espaços para operar em aeroportos, como acesso a gates (portões para embarque e desembarque de passageiros) e slots (horário para pouso e decolagem) constituem barreiras físicas para a entrada de novas empresas. A detenção de uma marca reconhecida, os programas de fidelidade, sistemas de reservas por computador e a conexão destes com as agências de viagens representam barreiras econômicas. A demanda por transporte aéreo é caracteristicamente segmentada. Cerca de 70% da demanda é representada por clientes corporativos (pessoa jurídica), cujos representantes ou funcionários viajam a serviço. Neste segmento, o poder público pode ser considerado como o maior cliente das empresas aéreas. Este 25 segmento é tipicamente preço inelástico, ou seja, não é sensível a preço e altamente sensível a horários dos vôos, qualidade dos serviços e freqüências. Cerca de 25% da demanda é constituída dos turistas, que apresentam uma procura sazonal e altamente sensível a preço e menos sensível a horários dos vôos. Uma demanda residual é exercida por passageiros que viajam por motivos particulares. A conjugação das características da demanda e as barreiras existentes para entrar no mercado de transporte aéreo de passageiros determinam um padrão de competição extremamente acirrado e com peculiaridades específicas. Como a demanda oscila e a capacidade para operar nos aeroportos é uma barreira à entrada, as empresas relutam em abandonar rotas e freqüências quando a demanda está retraída, com receio de que a capacidade abandonada seja preenchida por um concorrente, limitando o acesso ou retorno quando a demanda voltar a aquecer. Isto leva as empresas a manterem uma certa capacidade ociosa em sua malha de operações. A manutenção de capacidade ociosa enseja a disputa por passageiros, e, em conseqüência, a guerra tarifária, com a segmentação dos assentos disponíveis em uma aeronave, objetivando extrair o máximo em termos de excedente do consumidor. Se oferta e tarifas são controlados pelo regulador, a competição exacerbada se dá via qualidade dos serviços ofertados (serviços de bordo, salas vips de espera, “tapetes vermelhos”, ampliação da rede de parceiros dos programas de fidelidade, etc) e ampliação da malha de localidades atendidas (prestação de serviços a localidades com baixa densidade de tráfego) na disputa por passageiros, o que eleva os custos das empresas. Num setor regulado em que a Autoridade Aeronáutica possui total discricionariedade para determinar quem entra no 26 mercado, a alocação da capacidade ofertada, a alocação de linhas, freqüências, horários, é natural que as empresas tendam a manter um excesso de capacidade, com receio de perda irrecuperável de linhas e autorizações de horários para pouso e decolagem em aeroportos, bem como para utilização de áreas aeroportuárias, temendo que essa capacidade seja alocada aos concorrentes. Num setor em que o poder concedente exerce total controle, sem prestar contas à sociedade e aos usuários dos serviços, é natural que o mesmo seja facilmente responsabilizado por qualquer problema que afete o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados. Dadas essas características institucionais, é natural que a prática da captura seja estimulada. Como a rentabilidade é baixa e a competição é acirrada, para sobreviver no mercado de aviação comercial é indispensável uma administração zelosa dos custos operacionais e financeiros, fator crucial para o êxito do negócio. Também deste fato é possível deduzir o argumento corriqueiramente utilizado pelos grupos de pressão interessados (empresários e trabalhadores aeronautas e aeroviários), que vinculam a aviação comercial a interesses estratégicos do país, como recurso recorrente ao poder público na resolução dos problemas do setor. A história da aviação comercial, nacional e internacional, está repleta de êxitos e fracassos, o que ilustra as peculiaridades do mercado. Experiência e tradição não são condições para a sobrevivência no mercado. Grandes e tradicionais empresas de aviação faliram ou foram incorporadas por concorrentes. No mercado norte-americano, o mais pujante da aviação comercial, empresas como Eastern Airlines, Midway, Pan Am e TWA foram liquidadas. Suas linhas, gates e slots foram absorvidos pelos 27 concorrentes. No Brasil, a ascensão da Varig, como já apontamos, se deu incorporando outras empresas ou assumindo as rotas da falida Panair. Outra diferenciação fundamental diz respeito às peculiaridades dos mercados doméstico e internacional. O mercado internacional é caracterizado pelo estabelecimento de rígidas regras no contexto de acordos bilaterais, ao amparo da Convenção de Chicago, de 1944. Em 1944, o Brasil aderiu à Convenção de Aviação Civil Internacional, conhecida como Convenção de Chicago, e tornouse membro do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional – OACI, com assento no primeiro Grupo desta Organização, constituído dos países com maior contribuição para o desenvolvimento da aviação mundial. Desde então, a aviação civil brasileira tem adotado os padrões técnicos da OACI, também aplicados na aviação doméstica. As rotas internacionais, suas freqüências e tarifas são estabelecidas em acordos bilaterais entre dois países, vetando o transporte de cabotagem. Cada país designa unilateralmente a quantidade de empresas nacionais que irão atender as rotas e freqüências negociadas, podendo exercer ou não o direito de utilizar a totalidade ou parte das freqüências negociadas. Países de dimensões continentais, com população dispersa, como os EUA, o Brasil, o Canadá, a Rússia, a Austrália, a China e a Índia, ensejam a potencialidade de um mercado doméstico de aviação competitivo. Em países de pequena dimensão territorial, o modal aéreo compete estritamente com os demais modais de transporte (ferroviário, aquaviário, rodoviário), enfraquecendo a potencialidade de um mercado doméstico de aviação. Nesses países, uma única empresa aérea, atuante principalmente no mercado internacional, é fundamental, como é o exemplo dos países europeus. 28 Assim, configura-se manifestamente enganosa a comparação entre as práticas e os relacionamentos de governos e empresas aéreas européias, que têm no mercado internacional a principal inserção de suas empresas, com as do mercado doméstico de aviação brasileiro. A inserção do Brasil no mercado internacional de aviação precisa estar respaldada em uma política específica, distinta do mercado doméstico de aviação. Enquanto uma política que induza à inserção de apenas uma companhia de bandeira brasileira no mercado internacional parece apropriada, o mesmo não se aplica ao mercado doméstico brasileiro, que comporta um maior número de empresas operantes e regras regulatórias mais flexíveis. Dados do DAC referentes ao resultado operacional das empresas aéreas brasileiras atuantes no mercado internacional, para o período de 1997 a 2001, apontam que o déficit operacional registrado no mercado internacional foi compensado pelo superávit no mercado doméstico, do que se pode inferir que o mercado doméstico brasileiro comporta uma estrutura de mercado competitiva. 4. RECENTES MEDIDAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO À AVIAÇÃO COMERCIAL Nos últimos anos, o Governo brasileiro muito tem auxiliado as empresas aéreas. Em decorrência dos atentados terroristas aos EUA, em 2001, e do conseqüente encarecimento do custo do seguro para a cobertura de riscos, o Governo brasileiro resolveu assumir a responsabilidade civil perante terceiros (limitado a US$ 1,0 bilhão o montante de despesas que a União fica autorizada a assumir), no caso de atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de matrícula brasileira operados por empresas brasileiras de 29 transporte aéreo público, excluídas as empresas de táxi aéreo. Essa assunção inicialmente foi temporária, mas, com a indefinição de uma solução conjunta, no âmbito da OACI, foi prorrogada indefinidamente por meio da Lei nº 10.744, de 2003. Esta providência desonerou as empresas aéreas da contratação dessa modalidade de cobertura de risco. O Governo Federal, por meio do Decreto n° 3.975, de 18 de outubro de 2001, estabeleceu alíquota zero para a incidência de IPI sobre peças e aeronaves de médio porte, quando adquiridos por empresas concessionárias de transporte aéreo e facilitou o regime especial de entreposto aduaneiro para a importação de peças e componentes aeronáuticos. A Lei n ° 10.560, de 13 de novembro de 2002 (conversão da MP 67, de 2002), dispõe sobre tratamento tributário dispensado às empresas de transporte aéreo, suspendendo a cobrança do imposto de renda incidente sobre o pagamento de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital arrendados por empresa de transporte aéreo; concedendo remissão dos débitos de responsabilidade das empresas nacionais de transporte aéreo correspondentes à contribuição para o PIS/Pasep, à Confins e ao Finsocial incidentes sobre a receita bruta decorrente do transporte internacional de cargas ou passageiros; e estabelecendo a isonomia tributária entre as companhias aéreas nacionais e internacionais, quanto à incidência de tributos federais sobre o querosene de aviação, quando adquirido em território nacional. As empresas aéreas reivindicam a redução da carga tributária incidente sobre o setor, que, segundo elas, representa 35% do preço final das passagens aéreas no Brasil. Entretanto, analisando os itens classificados como tributos pelo estudo do SNEA, verificamos que estão incluídas as tarifas pagas pela prestação de serviços 30 aeroportuários e de auxílio à navegação. Esses são serviços prestados, e não tributos. Se excluídas do cálculo as tarifas pelos serviços prestados, verificamos que a carga tributária que efetivamente grava o setor é da ordem de 15%. A Infraero instituiu plano de securitização de dívidas das empresas aéreas relativas ao pagamento de tarifas aeroportuárias, permitindo o alongamento e modificação do perfil dessas dívidas. As tarifas aeroportuárias não são reajustadas desde 1997. Em outubro de 2003, venciam as concessões de Vasp e Varig, as quais foram prorrogadas pelo Decreto nº 4.856, de 9 de outubro de 2003, tendo sido concedido um prazo de 180 dias para as empresas comprovarem a sua regularização fiscal, tributária, previdenciária, bem como a regularidade jurídica, técnica e econômico-financeira. Essas empresas não conseguiram a comprovação em tempo hábil e o Decreto nº 5.034, de 5 de abril de 2004 prorrogou até 10 de outubro de 2004 o prazo para a referida comprovação de regularidade. O novo prazo concedido não foi suficiente para habilitar as empresas a comprovarem a regularidade requerida. Os Decreto n° 5.218, de 29 de setembro de 2004, e n° 5.236, de 7 de outubro de 2004, concederam novo prazo, até 10 de abril de 2005, à Varig e Vasp, respectivamente, comprovarem a regularidade fiscal e previdenciária. Diante do exposto, fica evidente que o setor de transporte aéreo é um dos mais beneficiados pelo Poder Público em nosso País. Por mais estratégico que o transporte aéreo possa ser caracterizado, como fator de promoção da integração nacional e da segurança nacional, as benesses usufruídas pelo setor não são comparáveis a nenhum outro ramo de atividade econômica. Trabalhadores das indústrias de telecomunicações, petróleo, energia 31 e transporte rodoviário, também estratégicos e de fundamental importância para o País, jamais contaram com fonte de custeio da previdência complementar bancada pelos usuários desses serviços. Também muitos setores produtivos têm parte considerável de seus custos de produção atrelados às oscilações cambiais e dos preços dos derivados de petróleo, sem que, por isso, tenham mergulhado em profundas crises. Assim, é inevitavelmente forçoso concluir que existem graves problemas de governança corporativa nas empresas aéreas. 5. CONCLUSÃO Concluindo, em relação a um novo marco regulatório, considerando a evolução da regulação do transporte aéreo no Brasil, entendemos ser urgente e necessária a instituição de regras transparentes, perenes e critérios objetivos para a entrada e saída do mercado. A concessão provisória da prorrogação das concessões da Varig e Vasp, outorgadas mediante Decretos, cuja prorrogação definitiva encontra-se pendente da comprovação da regularidade fiscal, tributária e previdenciária das inadimplentes Varig e Vasp, comparadas com a concessão outorgada mediante ato normativo do Comando da Aeronáutica à Gol e à TAM, caracterizam o grau de confusão vigentes no mercado de aviação. As regras são alteradas de maneira arbitrária por ato administrativo do atual órgão regulador, ao amparo do já defasado Código Brasileiro de Aeronáutica. Para o setor, cujo mercado requer regulação, como todos reconhecem, urge a instituição de uma agência reguladora, capaz de regular e fiscalizar o mercado de aviação comercial, com transparência, autonomia e controle social, nos moldes propostos pelo Governo com o novo modelo para as agências reguladoras e como determina o artigo 21 da Lei Complementar nº 97, que estabelece que Lei 32 criará a Agência Nacional de Aviação Civil, entidade responsável pela regulação e fiscalização da aviação civil e da infra-estrutura aeroportuária. A instituição da concessão onerosa para a outorga de linhas e slots permitirá a atribuição de valor aos mesmos, passando a integrar o patrimônio das companhias aéreas, como direitos. O investimento na viabilidade comercial de uma linha permitirá a justa compensação patrimonial das empresas responsáveis. O poder público poderá estabelecer leilões para a concessão de novas linhas e slots nos aeroportos, permitindo a introdução de regras justas, transparentes e objetivas para as concessões. As companhias aéreas poderão negociar suas linhas e slots, transferindo-os a outras empresas, se julgado conveniente. Empresas em dificuldades poderão vender suas concessões e direitos de operação em aeroportos, mitigando os efeitos provocados pelo baixo nível de imobilização do capital e, ao constituir um ativo, alavancar empréstimos com a concessão de garantias reais. Sem dúvida, em muito a regulação do mercado de aviação civil requer aprimoramentos, sem desmerecer os louváveis e pioneiros esforços dos militares da Aeronáutica, que viabilizaram a aviação civil no Brasil. O que não deve ser feito é uma alteração regulatória casuística, objetivando favorecer a empresa vermelha, amarela ou azul. A inserção da aviação comercial brasileira nos mercados internacionais deve ser tratada de forma distinta do mercado doméstico. No transporte internacional as economias de escala são significativas, a competição é acirrada e a presença de uma companhia aérea brasileira atuante nas principais rotas de destino internacionais do e para o Brasil é estratégica. Nesse mercado, o apropriado é a existência de uma única empresa brasileira atuante, exceção da América do Sul, que pode comportar mais de uma empresa brasileira. 33 O setor de transporte aéreo necessita, urgentemente, de ações firmes das autoridades visando à instituição de regras objetivas e transparentes para a concessão dos serviços de transporte aéreo, aplicando os dispositivos da Lei Geral de Concessões, com licitações, para a alocação da capacidade ofertada de serviços, seja no tocante às linhas, freqüências, utilização de áreas aeroportuárias e horários para pouso e decolagem nos aeroportos. A regulação eficaz e eficiente desse setor só será possível através de uma agência reguladora, que observe os princípios de autonomia, transparência e controle social propostos pelo Governo para as demais agências reguladoras. 34 BIBLIOGRAFIA CASTRO, Newton e LAMY, Philippe. Desregulamentação do setor transporte: o subsetor transporte aéreo de passageiros. IPEA, Texto para Discussão n° 319, outubro de 1993. DAC. Institucional: Evolução do Transporte Aéreo: www.dac.gov.br ____. Um breve histórico do Departamento de Aviação Civil: www.dac.gov.br FARINA, Elizabeth M.M.Q e SCHEMBRI, Antonina. “Desregulamentação: a experiência norte-americana”. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v.20, n.2, p.325-352, ago.1990. FRANCO, Francisco de Assis Leme et alii. 2002. “Recent deregulation of the air transportation in Brazil”. Secretariat for Economic Monitoring of the Ministry of Finance, Brasília-DF. PEREIRA, Aldo. 1966. Aviação comercial brasileira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira. RODRIGUES, Rodrigo A. 2003. O mercado de aviação doméstica no Brasil: o processo de desregulação comparado com a experiência norte-americana, sob o enfoque da Teoria Política Positiva da Regulação. Brasília:Dissertação de Mestrado em Economia da Regulação: Universidade de Brasília. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIÁRIAS. 2000. Reforma Tributária. Rio de Janeiro, www.snea.com.br: estudos. TAVARES, Márcia Prates. “O transporte aéreo doméstico e a lógica da desregulamentação”. Ministério da Fazenda, Secretaria de Acompanhamento Econômico. Documento de Trabalho n° 04, Novembro/1999. UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE. 35 Domestic Aviation: Barriers Continue to Limit Competition. GAO/T-RCED-98-32, October 28, 1997. _______. Aviation Competition: Proposed Domestic Airline Alliances Raise Serious Issues. GAO/T-RCED 98-215, June 4, 1998. _______. Airline Deregulation: Changes in Airfaires, Service Quality and Barriers to Entry. GAO/RCED-99-92, March 4, 1999. _______. Airline Competition: Issues Raised by Consolidation Proposals. GAO-01-370T, Feb.1, 2001. _______. Aviation Competition: Challenges in Enhancing Competition in Dominated Markets. GAO/01-518T, March 13, 2001. * Rodrigo Augusto Rodrigues é Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, bacharel em Ciências Econômicas e Administração – UFRGS e Mestre em Economia da Regulação - UnB. 36 Cristiano Aguiar A criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual – uma análise 1– JUSTIFICATIVAS PARA A REGULAÇÃO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL O filme está de trás para frente... Primeiro, apresenta-se a novidade pronta. Depois, partese para a etapa de discussões. Mas essa é a ordem nada natural que não apenas o governo federal anterior utilizou, mas também que o atual continua utilizando na apresentação de suas propostas mais relevantes. Tudo leva a crer que se criou no Brasil a “cultura da consulta pública”, instrumento apresentado muitas vezes como o elixir para a garantia de participação social e transparência na elaboração de políticas públicas. Mas, uma vez elaborada a proposta, o máximo que uma consulta pública pode fazer é alterar uma coisa aqui e outra ali, muitas vezes meros detalhes cosméticos, visto que raramente há modificações no cerne dos projetos apresentados e na filosofia que baseia a intervenção estatal. A proposta de criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav) não foge a essa regra. O anteprojeto pretende instalar uma nova agência reguladora que substituirá a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e terá como funções: implementar a política de cinema e audiovisual, regular e fiscalizar o mercado desses setores, além de arrecadar e aplicar recursos oriundos de diversas taxas. Uma minuta desse anteprojeto esteve em consulta publica no 37 sítio do Ministério da Cultura (MinC) entre os dias 11 de agosto e 01 de outubro de 2004. De acordo com o Secretário-Executivo do MinC, Juca Ferreira, a proposta é fruto de 14 meses de “amplas discussões” entre todos os setores envolvidos. Acrescentaria: no máximo, entre quase todos, já que para a sociedade a proposta é uma grande novidade. Ela teve a chance de conhecê-la, avalia-la e de enviar sugestões apenas durante o exíguo tempo de vigência da consulta pública, a partir de um documento já elaborado e quase finalizado. E somente agora, apresentado o anteprojeto de criação da Ancinav, tem início a discussão que deveria ter ocorrido há muito tempo: a regulação na área de cinema e audiovisual1 é realmente necessária? Ou tudo isso não passa de “dirigismo”, de uma tentativa de controlar a produção cultural e a livre disseminação de informações? Iniciamos respondendo a essas duas questões primordiais: a regulação nas áreas de cinema e audiovisual é realmente necessária. Não se trata de “dirigismo”. Pelo contrário, apenas com uma intensa intervenção estatal será possível estabelecer um ambiente efetivamente plural e democrático, no qual a livre disseminação de informações e a plena liberdade de expressão são possíveis. Tal entendimento pode ser referendado por diversas análises, como por exemplo a apresentada no relatório do grupo de trabalho interministerial que redundou no documento “Análise e Avaliação 1 Etimologicamente, o termo “audiovisual” abarca o termo “cinema”. Portanto, a expressão “cinema e audiovisual” seria, em princípio, uma redundância. Contudo, por fins meramente didáticos, adotaremos nesse artigo a seguinte divisão: o termo “cinema” designa as produções para exibição pública nas salas de cinema, enquanto o termo “audiovisual” refere-se aos conteúdos para reprodução caseira (VHS e DVD), para exibição por meio da TV ou por todos os demais meios de comunicação audiovisuais. 38 do Papel das Agências Reguladoras no Atual Arranjo Institucional Brasileiro”. De acordo com este documento, “a regulação econômica refere-se àquelas intervenções cujo propósito é mitigar imperfeições, como a existência de monopólio natural, e assim melhorar o funcionamento do mercado”. Busca-se, desse modo, a “maximização da eficiência em mercados caracterizados pela concentração de poder econômico e naqueles onde as barreiras à entrada são significativas”. Ora, quem discorda da tese de que há concentração de mercado e significativas barreiras à entrada de novos competidores nos setores de cinema e de audiovisual brasileiros precisa, urgentemente, rever seus conceitos. Na verdade, não apenas esses setores, mas todo o mercado de comunicação, em nível global, é marcado por uma visível oligopolização. Esse processo de concentração, que vinha ocorrendo de maneira lenta e gradual desde o estabelecimento da comunicação em bases empresariais, sofreu grande aceleração em meados dos anos 80 quando, em um período inferior a quatro anos, as 13 maiores empresas mundiais de mídia da época realizaram nada mais nada menos do que 77 operações de aquisição e de fusão. Esse fenômeno, que manteve seu fôlego por toda a década de 90 e início deste século, levou à ascensão de um reduzido número de mega-empresas mundiais ao posto de mais importantes do mercado de comunicação. De acordo com alguns estudiosos, o mercado global de mídia é hoje controlado por não mais que dez conglomerados. Número este que, segundo algumas previsões, deve cair para quatro ou cinco nos próximos anos (LIMA 2001). Especificamente no setor de produção cinematográfica, a concentração de mercados e o estabelecimento de crescentes barreiras à entrada de novos concorrentes são tão ou mais intensos do que se observa na média dos demais setores das comunicações. Fenômeno experimentado em escala global. 39 Essa concentração tem-se dado em toda a cadeia de produção cinematográfica: desde a realização das obras, que ocorre cada vez mais nos grandes estúdios dos Estados Unidos ou em parceria com esses; até a exibição, progressivamente concentrada em salas multiplex de propriedade de oligopólios globais; passando pela distribuição, feita usualmente por subsidiárias ou coligadas dos grandes estúdios (SIMIS 1998). É verdade que, tanto no cinema quanto no audiovisual, a concentração de mercados é condição essencial para o estabelecimento dos ganhos de escala necessários à sobrevivência das grandes corporações. Assim como também é verdade que essa concentração só pode ocorrer até determinado patamar, sob pena de inviabilizar qualquer tipo de competição no setor. Tal preocupação existe até mesmo nos Estados Unidos – país de tradição bastante liberal – onde a Federal Communications Commission (FCC) estabelece diversos mecanismos de controle de propriedade e de garantia de livre competição nas comunicações, inclusive no que concerne aos setores de cinema e de audiovisual. Outra justificativa para a necessidade de se regularem mercados é a existência de falhas relativas a externalidades e a assimetrias significativas de informação e poder. Pois em um mercado de comunicações concentrado, são conseqüências imediatas a existência de um menor número de fontes de propagação de informações, a redução da pluralidade de pensamento e, em última instância, um decréscimo significativo da liberdade de expressão. Especificamente no caso brasileiro, essa concentração de mercado nas comunicações e todas as externalidades negativas que daí decorrem são bastante visíveis. No setor de audiovisual, o mercado se estabeleceu ao redor das grandes redes de televisão, marcado por um alto percentual de produção própria 40 de conteúdo2. Contam-se essas redes nos dedos de uma mão. Logo, nessa mesma mão, contam-se os principais produtores dos programas televisivos. No setor cinematográfico a situação é quase idêntica, a não ser pelo fato de que, além do oligopólio, há ainda um alto grau de desnacionalização da produção, o que não ocorre no setor de audiovisual, somado ao fato de a maioria das obras exibidas no Brasil ser proveniente do exterior, especialmente dos Estados Unidos. Para aqueles que acreditam ser a Ancinav uma tentativa de “dirigismo” estatal, uma constatação: na verdade, o “dirigismo” já existe de fato, mas não pelas mãos do Estado, e sim do mercado, atual senhor quase único da produção cultural brasileira em cinema e audiovisual. 2 – ANALISANDO O ANTEPROJETO Para nosso grande alívio, a regulação do cinema e do audiovisual é realmente necessária, e o anteprojeto apresentado pelo Ministério da Cultura (MinC) não é em vão. Portanto, também não é em vão analisar a proposta apresentada, em busca do aperfeiçoamento do arcabouço jurídico que se pretende dar à futura Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. Tal aperfeiçoamento é essencial, pois, como demonstraremos nas linhas a seguir, o anteprojeto da Ancinav, nos moldes atuais, implementa um modelo repleto de erros e incertezas. Antes de mais nada, é preciso ressaltar que o MinC, 2 A Rede Globo de Televisão, por exemplo, produz aproximadamente 90% de sua programação. As demais redes têm um índice de produção própria menor, mas também alto, variando entre 50% e 80% (Fonte: “Tema Polêmico”, artigo publicado na Revista Consultor Jurídico de 1º de julho de 2003). 41 tanto na exposição de motivos que acompanha o anteprojeto de lei quanto nos esclarecimentos do Ministro Gilberto Gil, incorre em um sério erro conceitual: a idéia de que é possível (necessário) separar o tratamento legal e institucional que se dá às redes físicas e às plataformas tecnológicas da regulação das atividades de produção e difusão de conteúdo audiovisual. A Ancinav, portanto, seria um ente complementar à Agência Nacional de Telecomunicações e ao Ministério das Comunicações. Algo que o item 11 da exposição de motivos chama de “separação do hardware do software”. Na verdade, tais regulações são inseparáveis. Se hoje o conteúdo (software) é produzido de maneira concentrada, isso se dá, em grande parte, devido à regulação que se dá à infra-estrutura (hardware). E não há como mudar aquele se não houver alteração na regulação desta. O próprio anteprojeto de lei, de certa forma, admite essa inseparabilidade ao estabelecer, no parágrafo 2º de seu artigo 38, que “outras modalidades de conteúdos audiovisuais serão definidos pela Ancinav em função de (...) (seu) meio de suporte e de transmissão, tecnologia empregada e outros atributos”. Se a própria definição da modalidade do conteúdo audiovisual está atrelada à tecnologia e à infra-estrutura que o suporta, como tentar separar as suas regulações?! É no mesmo item 11 da exposição de motivos que se revela a verdadeira causa da busca dessa separação – a inviabilidade política da idéia original do ex-ministro Sérgio Motta de desenvolver a chamada “Lei de Comunicação Eletrônica de Massa”, que deveria redundar em uma única agência responsável pela regulação de todo o setor de comunicações, no que concerne tanto à infra-estrutura quanto ao conteúdo. A derrota do estabelecimento de uma legislação única para as comunicações tornou-se fato no momento em que a “Agência Nacional de Comunicações” pensada por Motta não vingou, dando lugar a outra proposta, que viria a se concretizar na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Foi a partir das 42 discussões que precederam à reforma das telecomunicações brasileiras que a tese da separação entre hardware e software ganhou corpo, sendo publicamente defendida pelo sucessor de Motta, o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. E essa tese da separação foi a politicamente vencedora, como comprovam todos os fatos que se seguiram à reforma das telecomunicações. Portanto, o que propõe o MinC não é baseado em uma teoria, e sim em uma possibilidade política. Tendo em vista que o estabelecimento de um arcabouço legal único e de uma única agência reguladora para todo o setor de comunicações é algo politicamente inviável – ainda que seja o ideal -, opta-se pela criação de uma agência separada, que se concentrará nas questões ligadas aos conteúdos do cinema e do audiovisual. Bem, nada mais justificável, visto como contribuição para a vulgarização do aforismo de Bismarck, “a política é a arte do possível”. Mas talvez o impossível esteja em superar o conflito intraestatal que a Ancinav, como está sendo proposta, irá criar. Com a Anatel, a confusão se dará na hora de definir quem é quem na regulação dos serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura (TV por assinatura), bem como nos demais serviços de telecomunicações que transmitam conteúdo audiovisual, ainda que eventualmente e apenas como serviço de valor agregado. Com o Ministério das Comunicações, a rinha será no setor de radiodifusão de sons e imagens (TV aberta). E com o Ministério da Justiça, poderá haver conflito ao se definir qual será o papel de cada ente governamental no estabelecimento de sistemas de classificação indicativa de obras cinematográficas e de outros conteúdos audiovisuais. Todas essas indefinições são potencializados pela redação vaga de alguns itens do anteprojeto de lei. Fala-se, por exemplo, em “regular as atividades cinematográficas e audiovisuais” (Art. 20, 43 IV), em “apreciar (...) denúncia (...) contra prestadoras de serviços de telecomunicações” (Art.20, XV), em “regular a relação de programadoras e distribuidoras de conteúdo audiovisual” (Art.20, XVII), dentre outras atribuições. Contudo, não se estabelece exatamente o que é esse “regular” ou “apreciar”. Além disso, o processo de convergência tecnológica no setor de comunicações faz com que, a cada dia, as barreiras que definem o que é cada um dos serviços seja cada vez mais tênue e porosa. A atividade de regulação posta em prática pelos entes governamentais ligados às comunicações, – citem-se Anatel, Ministério das Comunicações e Ancine (talvez futura Ancinav) -, é metastática, crescendo no mesmo ritmo em que cresce a oferta de serviços de comunicações. Desse modo, a definição da responsabilidade de cada um desses entes tende a se tornar cada vez mais problemática, e as rusgas serão inevitáveis (como já ocorrem constantemente entre Anatel e Ministério das Comunicações). Além dos conflitos de competência, há ainda a possibilidade de desentendimentos devido à possível transferência de recursos entre agências, uma vez que 5% dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), referentes às alíneas “c”, “d”, “e” e “j” da Lei 5.070/66 (com redação dada pela Lei 9.472/97), serão repassados ao Fundo de Fiscalização do Cinema e do Audiovisual, sem qualquer teto para o valor bruto a ser repassado. Atualmente, as verbas provenientes do Fistel são quase todas remetidas à Anatel, cabendo à Ancine somente até 3% dos valores referentes às alíneas da Lei 5.070/66 citadas anteriormente, até um limite de valor bruto de R$ 30 milhões anuais. Na prática, portanto, a Ancinav vai receber mais dinheiro e, por conta disso, a Anatel menos. E quem estiver na Ancinav vai ter de se especializar em conflitos. Mas, ao contrário dos conflitos intra-estatais, que são, na 44 maior parte das vezes, dispensáveis, os conflitos com o mercado devem ser a própria razão de existência da Ancinav – desde, é claro, que ocorram em níveis razoáveis e com vistas à eficiente prática regulatória. Afinal, a atividade mais nobre de uma agência reguladora não é justamente intervir no mercado, de forma a torná-lo mais justo, eficiente e, primordialmente, capaz de atender às necessidades coletivas? E não há como intervir sem se criar uma boa dose de “desentendimentos”, sem se estabelecer um embate entre governo e agentes econômicos, de forma que esses agentes não se guiem exclusivamente pelas leis do mercado, mas também por vontades políticas legítimas e referendadas pela correta atuação estatal. Contudo, não apenas os fatos recentes, mas toda a história de audiovisual brasileiro demonstra que esse conflito deverá ser muito mais intenso do que o que ocorreu na instalação das diversas outras agências reguladoras hoje em funcionamento no País. Tal fato ocorre porque o atual modelo brasileiro de regulação do audiovisual é, em sua maior parte, estabelecido pelo carcomido Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT (Lei 4.117/62), promulgado ainda durante o Governo João Goulart, e com as posteriores alterações quase todas estabelecidas durante o regime militar. Desde então, houve poucas mudanças. As principais foram o estabelecimento de regras específicas para o setor de TV por assinatura, com destaque para a lei da TV a Cabo (Lei 8.977/95) e para a Lei Geral de Telecomunicações - LGT (Lei 9.472/97), que trouxe apenas alterações pontuais na regulação do espectro radioelétrico e do setor de TV por assinatura, que passaram a ser de responsabilidade da Agência Nacional de Telecomunciações. Essas inovações, contudo, mantiveram praticamente intacto o velho modelo, e as mudanças ocorridas no setor de audiovisual estão sendo ditadas por fatores basicamente de mercado (BOLAÑO 2001). O CBT, no que concerne à radiodifusão, se mantém vigente, 45 tendo sido revogados, pela LGT, seus artigos referentes às telecomunicações. Na prática, o Código estabelece um controle incrivelmente burocrático, rígido e ineficiente das atividades de radiodifusão no País, que pouco contribui para o estabelecimento de uma comunicação plural e democrática. Os controles de propriedade são falhos3, não existem mecanismos efetivos para o estabelecimento de controle social sobre a radiodifusão e boa parte dos preceitos do CBT está tecnologicamente ultrapassada, tornando-se mera letra morta. No que concerne ao conteúdo veiculado pelas empresas de comunicação, é como se não existisse um efetivo controle das atividades de rádio e TV no Brasil. Hoje, essas atividades se encontram em um patamar bastante próximo da auto-regulamentação. Bastou, portanto, o anúncio de uma possível ação estatal para a regulação de conteúdos no setor de audiovisual para que a proposta se tornasse uma “trombeta do apocalipse”, trazendo o prenúncio de volta da censura. Trata-se de uma reação exacerbada da mídia, que traduz não uma preocupação da sociedade, mas sim expressões de discursos de uma classe incomodada pela possibilidade de se estabelecerem controles à produção de conteúdos. Mais que isso: trata-se de uma mentira cínica, já que a inexistência de censura no Brasil é uma cláusula pétrea da Constituição Federal que, portanto, nem mesmo uma Emenda Constitucional seria capaz de estabelecer qualquer tipo de cerceamento à liberdade de expressão. Não que o projeto da Ancinav não trouxesse, de fato, alguns itens dúbios, que poderiam ser interpretados como possíveis meios de censura. Citem-se, por exemplo, seu Art. 43, que dava à Ancinav a competência para dispor sobre “a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação” e o inciso I do 3 Os controles de propriedade foram acrescentados ao CBT pelo Decreto Lei 236/67. 46 Art. 8o, cujo texto estabelece que “a liberdade será a regra, constituindo exceções as proibições, restrições e interferências do Poder Público”. Contudo, praticamente todos esses itens foram extirpados na primeira revisão do projeto, que precedeu ao término da consulta pública. Até mesmo o vice-presidente das Organizações Globo, João Roberto Marinho, um dos maiores opositores do projeto da Ancinav, admitiu em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 02 de setembro de 2004, na seção especial “Ancinav em Debate”, que “a ameaça de volta da censura, que era real, dissipouse com a supressão de diversos artigos”. Bem sabe Marinho que o governo, quando quer censurar, utiliza meios bem menos explícitos. Apela para uma “auto-censura imposta”, se é que isso pode existir. Para tanto, usa todas as armas que estão à sua disposição para estabelecer cerceamento de forma velada. Ora, mas se a principal reclamação da mídia em relação ao anteprojeto da Ancinav era o “dirigismo” que ele representava, e se os tais itens “dirigistas” foram extirpados, restam ainda motivos para a mídia espernear tanto? Sim, e muitos. O primeiro deles já foi citado: a possibilidade de haver um maior controle social sobre a programação das empresas de TV aberta e de TV a cabo. Para um setor no qual existe uma virtual auto-regulamentação, essa possibilidade de maior controle sobre seus conteúdos não é bem recebida, uma vez que ameaça a liberdade praticamente plena que as empresas de comunicação hoje têm em suas linhas editoriais. A Ancinav representaria, pela primeira vez na história das comunicações brasileiras, uma tentativa de se regular o conteúdo e promover a diversidade cultural nas comunicações. Seria uma virada na completa falta de interesse em se implementar a regulação de conteúdos, assunto que é citado apenas timidamente na legislação vigente (BOLAÑO 2001). Muito provavelmente seria apenas uma tentativa frustrada, já que o projeto da Ancinav não estabelece 47 qualquer mecanismo efetivo de controle social sobre os conteúdos audiovisuais. Mas ainda assim, lhe restaria a grandeza de haver tentado. Contudo, apesar da questão da liberdade de programação ser a mais citada nas reações da mídia ao anteprojeto da Ancinav, o ponto de divergência realmente crucial está na série de taxas a serem cobradas das empresas dos setores de cinema e de audiovisual. Essas taxas são batizadas, no texto do anteprojeto, de “Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica e Audiovisual Brasileira” (Condecine), e vão substituir a atual “Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional” (também Condecine), regida pela Medida Provisória 2.228-1/01 e pela Lei 10.454/02. Como as siglas são idênticas, as chamaremos, no texto, de “Condecine antiga” e “Condecine nova”. O anteprojeto da Ancinav aumenta consideravelmente a base de incidência da contribuição, que deverá ser a principal fonte de renda para a formação do “Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Cinema e do Audiovisual Brasileiros” (Funcinav). O objetivo primordial dessa contribuição é criar uma modalidade de subsídio cruzado nos setores de cinema e de audiovisual, de forma a estabelecer uma transferência de recursos das grandes produções para a produção de obras realizadas por pequenas produtoras. Estabelece ainda mecanismos que taxam as produções estrangeiras, de modo a criar novas fontes de financiamento para as realizações cinematográficas e audiovisuais brasileiras. Dessa maneira, o governo pretende alterar a forma como se dá atualmente o financiamento da maior parte da produção nacional, na qual o Estado investe diretamente ou por meio de incentivos fiscais, de financiamentos com recursos da Ancine ou de aporte de capitais de bancos públicos e empresas estatais. Em outras palavras, “quem atualmente financia a produção é o contribuinte” (SIMIS 1998) e é por meio de subsídios cruzados que se tentará alterar esse quadro. 48 Para se ter uma idéia do aumento na carga fiscal que o anteprojeto da Ancinav significará para os produtores de cinema e de audiovisual, os valores das taxas pagas a título de “Condecine antiga”, que atualmente variam de R$ 300,00 a R$ 84 mil, passam, na “Condecine nova”, a variar entre R$ 300,00 a R$ 600 mil. Para estabelecer uma comparação mais precisa: a taxa cobrada das obras cinematográficas ou videofonográficas publicitárias estrangeiras com pagamento simultâneo para todos os segmentos de mercado, por exemplo, saltaria de R$ 84 mil para R$ 168 mil. Outra novidade é a adoção de um sistema gradativo que torna a taxação sobre as obras cinematográficas proporcional ao número de cópias distribuídas. Assim, quanto mais salas de cinema ocupar uma produção, maior será a taxa a ser pagar a título de Condecine. Os fins que levam ao estabelecimento das taxações são legítimos e, de fato, tais tributos podem, se bem aplicados, alavancar a produção cinematográfica e audiovisual brasileira. Contudo, a Ancinav terá de manejar com habilidade o possível encarecimento que pode ocorrer na distribuição de produtos cinematográficos no Brasil, até mesmo para as produções nacionais. Para evitar esse risco, as taxações previstas no anteprojeto devem ser revistas urgentemente. Isso porque todas as etapas da cadeia cinematográfica serão oneradas caso o anteprojeto não sofra alterações, o que redundará em um efeito cascata na tributação. Até mesmo a venda de ingressos de cinema será taxada, em uma alíquota de 10%, como prevê o inciso III do Art. 63 da proposta. O resultado deverá ser indigesto: encarecimento dos ingressos e, consequentemente, uma redução de público. Vale ressaltar que hoje apenas 13% dos brasileiros têm o hábito de ir ao cinema4. Além disso, a definição de “produção independente” apresentada no anteprojeto – produção essa que deve ser a principal 4 Fonte: Grupo de Mídia, 2004 49 beneficiada pelos projetos patrocinados por verbas oriundas da “Condecine nova” - é um tanto quanto desastrada. Aliás, é quase uma cópia da que já existe atualmente no texto da Medida Provisória 2.228-1/2001, que regulamenta a Ancine. Segundo o Art. 40 da proposta, “produção independente é aquela realizada por empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a obra, que não tenha associação ou vínculo, direto ou indireto, com prestadora de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou outras prestadoras de serviços de telecomunicações exploradoras de atividades audiovisuais”. Tal definição parte de uma constatação acertada: a de que, atualmente, a produção comercial de filmes está em sua maior parte sendo efetuada por empresas coligadas a concessionárias de televisão – primordialmente de TV aberta. Citese como exemplo a Globo Filmes, subsidiária das Organizações Globo, que atualmente é a maior produtora nacional de cinema, dona de uma fatia superior a 20% do mercado cinematográfico doméstico. Nesse ponto, nada a se acrescentar – de fato a participação de concessionárias de televisão não pode ocorrer nas produções independentes. Contudo, nada é dito sobre composição de capital, domínio de mercado, coligação entre produtoras, etc. Se a Columbia Pictures, por exemplo, estabelecer subsidiária constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País e com apenas mais que 50% do capital total e votante sob titularidade direta ou indireta de brasileiros, e sem a co-participação de qualquer entidade citada no Art. 40, passará a ser uma “produtora independente” de acordo com as regras previstas pelo anteprojeto. E não é de interesse de ninguém que tal tipo de empreendimento possa receber verbas públicas, visto que o País não está em condições de promover atos de caridade para um dos negócios mais lucrativos da Sony, que é sócia majoritária da Columbia Pictures. Outra grave possível conseqüência, essa ligada ao sistema 50 gradativo proposto para a taxação das cópias distribuídas, é uma concentração ainda maior da exibição nos grandes centros urbanos. Entre disponibilizar mais cópias, de forma a atender mercados menores, ou comercializar menos cópias, com vistas a evitar uma maior taxação na distribuição de obras cinematográficas, os distribuidores muito provavelmente vão escolher a segunda opção, visto que o custo marginal de exibição crescerá consideravelmente. A legislação, como planejada originalmente, pode intensificar o fenômeno de cream skimming que há um bom tempo já vem ocorrendo no setor cinematográfico. Em outras palavras, incentivará uma maior concentração do mercado de exibição e fatalmente levará à morte das salas de cinemas não organizados no modelo multiplex ou instaladas em cidades de pequeno e médio porte. Algo preocupante, levando-se em conta que, no ano de 2001, por exemplo, apenas 8,2% dos municípios contavam com pelo menos uma sala de cinema – e ínfimo 0,7% tinha 6 ou mais salas5. Mas entre os diversos pontos de discórdia, o que se tem mostrado mais intenso é a taxa de 4% a ser cobrada na “aquisição, inclusive por permuta, de espaço publicitário para o anúncio de obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e em outros serviços de telecomunicações exploradores de atividades audiovisuais”, como estabelece o anteprojeto em seu inciso V do Art. 64, combinado com o Art. 70. Tanto as empresas de TV aberta quanto de TV por assinatura, possíveis prejudicadas por essa taxação, vêm criticando duramente essa proposta e alegam que tal aumento de carga tributária pode inviabilizar a prestação dos seus serviços. Tecnicamente, a crítica não teria razão de ser. A taxa de 4% será cobrada, nos dizeres do anteprojeto, “na aquisição do espaço”, 5 Dados do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) 51 ou seja, os anunciantes, e não as empresas de TV, seriam os responsáveis por seu pagamento. Contudo, no mundo real, os empresários de TV aberta e de TV por assinatura têm razão para estarem preocupados. É praticamente certo que esse custo extra dos anunciantes será, em sua maior parte, repassado às empresas de TV, por meio de descontos na venda de espaço publicitário. Esse repasse deve ocorrer porque não apenas a TV, mas todo o setor de mídia é hoje refém de um oligopsônio, tanto em nível nacional quanto regional. Ainda que os anunciantes sejam muitos, as agências de publicidade, os reais consumidores de espaço publicitário, são poucas. E por serem poucas, são elas o principal fator na definição dos valores cobrados pela mídia na venda de espaço publicitário. Um problema adicional relativo a esse ponto está na definição do que será taxado: “obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária”. Essa definição faz com que apenas os filmes publicitários - aqueles exibidos durante os intervalos comerciais - sejam passíveis de taxação. Cria-se, portanto, um incentivo para a prática do merchandising, também conhecido como merchan.6. Trata-se de uma publicidade tosca, de pouco valor agregado, para cuja realização são necessários apenas um ínfimo número de redatores publicitários e, nos melhores casos, a construção de um cenário minimamente apresentável. Incentivá-la de qualquer modo, ainda que de maneira não intencional, como faz o anteprojeto da Ancinav, é prestar um desserviço ao mercado publicitário. Assim, caso o governo não queira abrir mão da verba 6 Para os que não são íntimos do linguajar publicitário, merchan é aquela espécie de propaganda disfarçada inserida no meio da programação normal – em exemplos: quando a protagonista da novela das 8 recomenda o sabão X, o animador do programa de variedades interrompe a programação para falar da ração para cães Y ou o apresentador do programa esportivo fala que, se o Romário calçasse as chuteiras Z, jamais teria errado aquele gol feito, temos a prática do merchan. 52 proveniente da taxação da publicidade na TV (estimada em aproximadamente R$ 120 milhões), deverá encontrar formas alternativas, de modo que não haja incentivo ao merchandising, tampouco transferência da responsabilidade pelo pagamento das taxas para as concessionárias dos serviços de televisão. Uma possibilidade é adotar, para tanto, uma taxação similar à utilizada no setor de telefonia, cujos produtos compõem o Fundo de Universalização das Telecomunicações (FUST) e o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Comunicações (FUNTTEL). Nesses casos, o tributo é cobrado das empresas de telefonia sobre o faturamento bruto, deduzidos os impostos, com proibição explícita do repasse desse custo excedente aos consumidores. Previsão de contribuição similar, baseada no total de espaço publicitário contratado, cobrada diretamente das agências de publicidade, com proibição de repasse às empresas de radiodifusão, pode ser uma solução para o impasse estabelecido pelo anteprojeto da Ancinav. Mas um modelo de taxação como esse só é possível se o órgão regulador tiver acesso aos dados financeiros das empresas reguladas. No caso da Ancinav, tal prerrogativa existe, conforme previsão disposta no Art. 32 de seu anteprojeto. Contudo, ainda que tal regra possa vir a proteger alguns dos interesses das empresas de televisão, elas não estão nem um pouco dispostas a fornecer ao Poder Público informações econômico-financeiras relativas aos seus empreendimentos. Finalmente, analisando especificamente a estrutura que se pretende dar à futura Ancinav, poucas são as novidades. Em regra, suas características serão basicamente as mesmas de grande parte das agências reguladoras: entidade integrante da Administração Federal indireta, submetida a regime autárquico especial, vinculada a um Ministério e coordenada por um Conselho Superior integrante da estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Como novidade, apenas a alteração do Ministério supervisor, 53 que passará a ser o Ministério da Cultura no lugar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao qual a Ancine é atualmente vinculada. Em relação ao Conselho Superior do Cinema hoje existente, esse passará a se chamar, de acordo com o anteprojeto, Conselho Superior do Cinema e do Audiovisual. O novo conselho não deve apresentar grandes diferenças em relação ao que atualmente existe – exceto talvez em relação à sua composição e presidência. Contudo, o anteprojeto não traz alterações explícitas na composição desse órgão colegiado, remetendo as regras sobre sua formação a regulamento que será posteriormente elaborado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do Art. 9º do anteprojeto. Outra característica praticamente idêntica às das demais agências será o conflito que haverá entre uma agência robusta e um ministério esvaziado. Caso implantada como prevista, a Ancinav deverá ter uma estrutura muito maior do que a de seu ministério supervisor. Além disso, seu orçamento, ao que tudo indica, será consideravelmente maior do que o do Ministério da Cultura. Ocorrerá, desse modo, fenômeno idêntico ao que ocorreu, por exemplo, com a Anatel: a agência é hoje muito mais forte do que o Ministério das Comunicações e, por isso, vem canibalizando o seu ministério supervisor e até mesmo assumindo o seu papel de planejador de políticas públicas. E quando a mesma agência que implementa também planeja, temos uma grave disfunção de modelo. 3 - Conclusão A intenção é boa, mas os resultados da instalação da Ancinav, nos moldes apresentados, são imprevisíveis. Não haverá “dirigismo” ou censura, isso é certo. Porém, já não é tão certo que a proposta apresentada seja capaz de trazer, de fato, mais benefícios do que 54 malefícios para o cinema e o audiovisual brasileiros. No setor cinematográfico, ainda que a presença de produções estrangeiras seja preponderante, há de se destacar que o cinema nacional vem conseguindo resultados brilhantes sob as regras atuais. É preciso lembrar que há pouco mais de uma década, mais precisamente em 1991, quando a Embrafilme foi extinta, durante o governo Collor, chegamos a ficar um ano inteiro sem produzir qualquer filme de longa metragem. A agonia da indústria cinematográfica brasileira perdurou até 1995, ano em que foi lançado “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil”. A produção de Carla Camurati foi o divisor de águas para o renascimento do cinema brasileiro. Em 2003, apenas 9 anos após o início do renascimento, as produções brasileiras foram responsáveis por 20% da bilheteria de cinema do País7 – um aumento, sem dúvida, surpreendente. Porém, há espaço para que o cinema brasileiro conquiste uma fatia de mercado ainda maior, inclusive no mercado internacional. Para tanto, a ação do Estado é essencial. Contudo, o governo deve ter a preocupação de não implodir um modelo que vem gerando bons resultados para, em seu lugar, instituir uma nova legislação repleta de incertezas. Mudanças na regulação do cinema brasileiro são necessárias, mas tais alterações devem se basear nos erros e acertos passados. Necessitamos, portanto, em relação ao cinema, apenas de ajustes localizados que possam aperfeiçoar a estrutura já existente, e não instituir um modelo completamente novo, como pretendem os criadores do anteprojeto da Ancinav. Ademais, os erros cometidos pelo anteprojeto deverão comprometer até mesmo instrumentos que poderiam trazer benefícios para a indústria cinematográfica brasileira, como por exemplo os mecanismos de subsídios cruzados a serem criados. As taxações, como previstas, 7 Fonte: Boletim Filme Brasil, 2004 55 podem redundar em empecilhos aos projetos cinematográficos nacionais realizados em um modelo comercial. Consequentemente, acarretaria uma crise em toda a produção brasileira, não apenas a comercial, mas inclusive a independente. Já o setor de audiovisual é tratado apenas de maneira reflexa no anteprojeto - apesar de ser social e economicamente muito mais importante do que o cinema, uma vez que a televisão é o principal meio de comunicação e entretenimento da maior parte da população brasileira. Temas essenciais para o setor, como a produção independente, a regionalização de conteúdos e o combate à concentração de propriedade são tratados apenas de maneira genérica, apenas repetindo as disposições que hoje já integram o capítulo destinado à Comunicação Social na Constituição Federal. Mantém, portanto, o mero caráter programático que tais dispositivos têm desde 1988, jamais tornados efetivamente objetos de políticas públicas do setor de comunicações. Em relação a tais temas, o texto do anteprojeto limita-se a estabelecer, em seu art. 93, um “compromisso público” a ser acordado anualmente entre as empresas de televisão e a Ancinav. Porém não ousa estabelecer cotas para as produções regionais e/ou independentes e, o mais grave, é omisso em relação a possíveis punições aplicadas em caso de não cumprimento do compromisso – ou seja, tudo leva a crer que tal acordo será tão somente uma peça de decoração. Em resumo: o anteprojeto da Ancinav inova muito em uma área na qual deveria interferir pouco e é bastante conservador no setor em que deveria ser vanguardista. Outra dicotomia: implementa divergência regulatória justamente em um setor marcado pela intensa convergência tecnológica. Será necessária, portanto, uma ampla revisão de todo o anteprojeto, de forma a implementar uma regulação efetiva e realmente capaz de trazer avanços para os setores de cinema e audiovisual brasileiros. Revisão essa que jamais será posta em prática por meio de uma simples consulta pública. 56 BIBLIOGRAFIA BAGDIKIAN, B.H. 1993. O Monopólio da Mídia. São Paulo: Scritta. BOLAÑO, C.R.S. 2001. “O Modelo Brasileiro de Regulação do Audiovisual”, texto apresentado no 10o Encontro Anual da Associação Nacional de Programas de Pós Graduação em Comunicação: (Compós). BISHOP, Matthew; KAY, John; MAYER, Colin. 1995. The Regulatory Challenge, New York: Oxford University. DIZARD, W. 2000. A Nova Mídia: a Comunicação de Massa na Era da Informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. FOLHA DE SÃO PAULO, Ancinav em debate. São Paulo, 02 de setembro de 2004. LIMA, V. A. 2001. Mídia: Teoria e Política. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo. MORAES, D. (org.). 2003. Por uma outra comunicação – mídia, mundialização cultural e poder. Rio de Janeiro: Record. MOSCO, V., Repensando e renovando a economia política da comunicação, Perspectivas em Ciência da Informação, vol. 3, n. 2, 1998. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 2003. Análise e Avaliação do Papel das Agências Reguladoras no Atual Arranjo Institucional Brasileiro. RAMOS, M. C. O ambiente político-regulatório da comunicação social eletrônica brasileira: fragmentação política e dispersão normativa. Depoimento à Comissão de Educação do Senado Federal proferido em 05/12/2001. SIMIS, A. “Situación del audiovisual brasileño em la década de los noventa”. Revista Comunicación Y Sociedad, no. 33, 1998. 57 UNESCO. , 1983. Um Mundo e Muitas Vozes – Comunicação e Informação na Nossa Época. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas. * Cristiano Aguiar é Jornalista, Especialista em Políticas públicas e gestão governamental, em exercício no Ministério das Comunicações e mestrando em Comunicação na Universidade de Brasília. 58 Ricardo Vidal de Abreu Rodrigo Pucci de Sá e Benevides Financiamento da saúde pública no Brasil: a situação atual e o impacto da vinculação constitucional de recursos (EC 29/2000) 1- INTRODUÇÃO O gasto com saúde (pública e privada) tem crescido de forma contínua desde o pós-guerra, principalmente nos países desenvolvidos. MÉDICI (2002) identifica quatro conjuntos de fatores que estariam determinando esse movimento: i) a extensão horizontal e vertical da cobertura1; ii) o envelhecimento da estrutura etária da população; iii) as transformações nas estruturas de morbi-mortalidade – com elevação da importância das doenças crônico-degenerativas frente às doenças infecto-contagiosas, alterando e encarecendo a estrutura de custos do setor saúde – e iv) as mudanças tecnológicas, que, na área da saúde, significam a incorporação de mais capital e recursos humanos. Esse crescimento do gasto com saúde reforça a necessidade de maior conhecimento sobre a área de economia da saúde, que abrange diversas questões como o nível de gasto com saúde, o formato do financiamento da saúde, oferta, demanda, necessidades, priorização, incorporação de novas 1 A extensão horizontal seria dada pela inclusão de novos segmentos da população, e a vertical pela complexificação e diversificação da oferta de serviços, conforme MÉDICI (2002: p. 54). 59 tecnologias, entre outros temas relacionados ao campo econômico. Existem, entretanto, diversos fatores que tornam esse setor bastante peculiar, diferenciando-o dos outros setores da economia, principalmente pela importância crucial das chamadas imperfeições de mercado 2. As características desse mercado envolvem fortes incertezas sobre a demanda individual, favorecendo o desenvolvimento de mercados de seguro (público e privado), dada a maior previsibilidade da demanda agregada, que pode ser inferida a partir de informações populacionais e epidemiológicas. A problemática do financiamento da saúde pública está relacionada a uma série de questões que envolvem desde a estrutura tributária dos países – que define a parcela de recursos à disposição do Estado para a implementação das políticas públicas – até a definição da parcela de recursos a ser aplicada no setor e o formato de financiamento definido pelo pacto federativo e pelos arranjos institucionais. Uma distinção importante ocorre no setor público: suas receitas não estão vinculadas à produção dos serviços. Ele se financia por meio de contribuições, impostos, taxas e outras receitas cobradas sobre produção, consumo, renda e patrimônio. A receita do setor público não depende, portanto, de sua própria produção e sim da capacidade de arrecadar recursos dos eventos econômicos. Há um descasamento evidente entre produção e receita (financiamento) e, portanto, a decisão do quanto produzir não leva em conta o critério de maximização de resultados usual no mercado. 2 IUNES (2002; pp. 111-112) cita uma série de particularidades da demanda em saúde, identificadas por Kenneth Arrow, prêmio Nobel da Economia de 1963, no artigo “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, que se tornaria um clássico dessa literatura. 60 A parcela de recursos investida na saúde, assim como a relação entre o gasto público e o privado define, respectivamente, a priorização e as necessidades de saúde das sociedades e o modelo de atuação do Estado frente ao mercado. É resultado também de um processo político, no qual os diferentes setores e instâncias governamentais competem por recursos limitados. Essa competição pelos recursos, dada a sua natureza política, acaba gerando instabilidade no fluxo de recursos para todas as áreas. A regulação dessa competição intragovernamental vem sendo feita sob a forma de vinculações orçamentárias, isto é, determina-se legalmente que um percentual da receita governamental – ou um imposto, contribuição etc – comporá o orçamento daquela área. A decisão de quanto gastar é definida pela proporção de receita orçamentária dedicada ao setor. O gasto público e o gasto privado com saúde varia bastante entre os países (tabela 1), em função de uma série de fatores como o grau de desenvolvimento, a concentração de renda, a extensão do direito à saúde pública, entre outros fatores. O Brasil apresenta um nível de gasto total em saúde como proporção do PIB comparável ao dos países desenvolvidos; entretanto, a parcela de gasto público situa o país entre aqueles que menos aplicam no setor. A diferença se torna ainda maior quando se leva em consideração que o PIB brasileiro por habitante é muitas vezes inferior ao dos países desenvolvidos. O gasto público com saúde do Brasil é comparável ao da África do Sul e ao do México, sendo muito inferior ao de países como Argentina e Uruguai. Entre os países selecionados, supera apenas o do Paraguai e o de países como Índia e China, os quais têm uma população superior a um bilhão de habitantes. 61 Tabela 1 Paises Gasto Gasto Gasto Público Privado Total % do com com com Gasto Saúde Saúde Saúde em % do em % do em % do Privado PIB PIB PIB Alemanha 10,6 8,0 2,6 França 9,5 7,2 2,3 Canadá 9,1 6,5 2,6 Austrália 8,3 6,0 2,3 Portugal 8,2 6,0 2,2 Japão 7,8 6,0 1,8 Itália 8,1 6,0 2,1 EUA 13,0 5,8 7,2 Espanha 7,7 5,4 2,3 Uruguai 10,9 5,1 5,8 Argentina 8,6 4,7 3,9 Grécia 8,3 4,6 3,7 Africa do Sul 8,8 3,7 5,1 Brasil 8,3 3,4 4,9 Paraguai 7,9 3,0 4,9 México 5,4 2,5 2,9 China 5,3 1,9 3,4 4,9 0,9 4,0 Índia Fonte: The World Health Report 2002 e 2003 - OMS 62 24,9 24,0 28,9 27,6 26,8 23,3 26,3 55,7 30,1 53,5 45,0 44,5 57,8 59,2 61,7 53,6 63,4 82,2 1.1 - O SUS E O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE A forma de atuação do Estado brasileiro na política de saúde pública modificou-se significativamente a partir da Constituição Federal de 1988, que universalizou o direito à assistência à saúde, desvinculando-o da inserção no mercado formal de trabalho. Além da universalidade, a Carta prevê a integralidade da assistência à saúde em todos os níveis de complexidade, o que explicita o debate sobre a priorização do setor frente às outras áreas de atuação do Estado, confrontando permanentemente a garantia do direito constitucional com uma questão econômica fundamental: a distribuição de um montante limitado de recursos entre os diversos setores nos quais o Estado atua. O modelo do sistema de saúde implantado a partir da Constituição Federal de 1988 é resultado de um processo que se inicia no final da década de setenta, com o movimento sanitarista, e que se consolida na segunda metade dos anos noventa, com a intensificação do processo de descentralização implementado pelo Ministério da Saúde através das Normas Operacionais – NOB/91, NOB/93, NOB/96, NOAS/01 e NOAS/02. A responsabilidade pela promoção, prevenção e recuperação da saúde cabe às três esferas de governo, em um sistema organizado de forma hierarquizada e descentralizada, no qual os recursos federais são distribuídos a partir de critérios definidos pela política nacional de saúde, implementada pelo Ministério da Saúde. A lógica da descentralização está calcada em um sistema de indução, pela via do financiamento, à implementação de programas de saúde definidos pelo gestor federal e aprovados pela Comissão Intergestores Tripartite 63 (CIT), que agrega representações dos gestores estaduais e municipais, de forma que as atribuições de prestação de serviços de saúde sejam transferidas para as esferas de governo subnacionais, de acordo com a capacidade gestão dos sistemas de saúde locais. Nesse quadro de descentralização, ao gestor estadual caberia um papel de coordenação – principalmente a partir de 2001 com a publicação da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/ 01) – e planejamento supra-municipal do sistema de referências e contra-referências, no sentido de regular a prestação de assistência de média e alta complexidade. Quanto às ações e serviços de atenção básica, ARRETCHE (2003) afirma que os governos locais já assumiram esse nível de atenção, em processo que teria se iniciado antes da CF/88. Em outro artigo, “Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo” (ARRETCHE 1999), extraído da Parte I de sua tese de doutorado(ARRETCHE 1998), que versa sobre a descentralização das políticas sociais no Brasil, Arretche afirma que: “(...) a flexibilidade do desenho do programa de municipalização, que contempla distintas modalidades de adesão — incorporando, portanto, as possíveis resistências das administrações locais, derivadas dos custos financeiros e políticos a serem assumidos —, facilita a adesão ao programa, na medida em que permite uma maior adequação entre custos prováveis da adesão e capacidade local de assunção de atribuições. Finalmente, a regra constitucional da universalidade do acesso — que implica o fato de que custos políticos de não oferecer serviços em uma dada quantidade e qualidade também recaem sobre as administrações municipais — representa também um poderoso incentivo 64 à municipalização. Simetricamente, os benefícios políticos de oferecer o serviço representam um poderoso incentivo à municipalização” (ARRETCHE 1998,pp. 121-122). O SUS estaria fundamentado em um sistema de incentivos que favorece a assunção das atribuições relativas às Ações e Serviços de Saúde pelos municípios. A regionalização do sistema de referências e contra-referências de média e alta complexidade, entretanto, que depende da negociação entre os municípios e desses com os estados, para definição de módulos assistenciais de saúde, encontra-se em um estágio intermediário, com grandes diferenças no que se relaciona à situação de cada Unidade da Federação. 1.2 - A problemática do Financiamento da Saúde A universalização do acesso à saúde não foi acompanhada de mecanismos que garantissem uma fonte de recursos estável para seu financiamento. A crise de financiamento da saúde na primeira metade da década de 90, com seu ápice em 1993, quando o Ministério da Saúde foi levado a tomar empréstimos junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), gerou um processo de busca de financiamento estável e suficiente para a garantia do direito constitucional. Esse movimento levou à criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), parcialmente destinada à saúde3. A vinculação de recursos públicos à aplicação em um determinado setor é bastante criticada, principalmente por gestores 3 Atualmente, da alíquota de 0,38%, 0,20% são destinados à saúde, 0,10% à previdência e 0,08% ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 65 da área de planejamento, por enrijecer a execução dos orçamentos públicos, mas argumenta-se necessária para garantir um aporte de recursos mais estável para aplicação em áreas sociais prioritárias, como saúde e educação. A estratégia da vinculação não elimina a oscilação dos recursos destinados às áreas, dado que as receitas governamentais são dependentes do ciclo econômico. Por sua vez as áreas têm suas dinâmicas de custos específicas que podem crescer mais que as receitas vinculadas o que pode gerar necessidade de financiamento adicional. Todavia, os defensores da vinculação sustentam que ela minimiza bastante as variações de recursos permitindo melhor planejamento das atividades. O presente trabalho busca analisar o comportamento da despesa pública com ações e serviços públicos de saúde nas três esferas de governo e de suas fontes de receitas no período 1995 a 2002, de forma a se avaliar a estrutura do financiamento da saúde pública no Brasil no período e o impacto da vinculação constitucional de recursos implementada a partir de setembro de 2000, com a aprovação da Emenda Constitucional 29 (EC 29). Buscar-se-á também estimar a receita disponível para aplicação no SUS no período 2003-2007 a partir da efetivação da vinculação constitucional de recursos. Esse trabalho é dividido em 5 partes, incluindo essa introdução: a segunda apresenta a metodologia de obtenção e de estimação dos dados apresentados, por esfera de governo; a terceira apresenta os dados do período pré-vinculação, de 1995 a 2000, do período posterior à vinculação constitucional, de 2000 a 2002, e as projeções sobre a receita disponível para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) nas três esferas de governo no período 2003-2007, com três cenários possíveis de vinculação para a União no período 2005-2007; a quarta parte apresenta as estimativas de despesa com saúde por Unidade da Federação e 66 por esfera de governo para 2002; a quinta e última parte apresenta as conclusões. 2- METODOLOGIA DE OBTENÇÃO E ESTIMAÇÃO DOS DADOS Todos os valores apresentados para o período 1995-2007 foram convertidos para preços de 2003 pelo índice de variação dos preços médios medido pelo IPCA-IBGE, método mais indicado ao se trabalhar com valores anuais. Os dados apresentados são comparados com a população – divulgada (até 2002) e estimada pelo IBGE – e com o PIB divulgado pelo IBGE (até 2002), e estimativas publicadas pelo IPEA (Boletim de Conjuntura de setembro/2003) para os anos de 2003 e 2004. Para o período 2005-2007, o PIB foi estimado com base nos parâmetros de inflação – utilizada como proxy do deflator implícito do PIB – e crescimento real utilizados no Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, conforme apresentado. Todas as projeções de receitas de 2003 a 2007 para as três esferas de governo adotam a hipótese de crescimento de acordo com a variação nominal do PIB, ou seja, de manutenção da proporção de receita/PIB, inferindo-se que será mantido o mesmo nível de carga tributária. 2.1 - União Para o período 1995-2002 utilizou-se a Despesa Empenhada com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) pelo Ministério da Saúde (excluindo as despesas com Dívida, Inativos, e aquelas financiadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza). Em 2003 é apresentado o valor 67 orçado. Para 2004, o valor mínimo para cumprimento da EC 29, ou seja, o valor orçado para 2003 corrigido pela variação nominal do PIB. Para o período 2005-2007 são apresentadas estimativas de receitas disponíveis a partir de 3 cenários de vinculação; i) o cenário A considera a manutenção da correção da parcela do orçamento do Ministério da Saúde destinado às ASPS pela variação nominal do PIB4; ii) o segundo reconsidera a diretriz estabelecida no art. 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, que prevê a vinculação de 30% do Orçamento da Seguridade Social; iii) o terceiro cenário trabalha com a hipótese de aplicação de 10% das receitas correntes, conforme a proposta de Projeto de Lei Complementar de regulamentação da EC 29, cujo relator é o Deputado Guilherme Menezes (PT-BA), em análise na Câmara dos Deputados desde 30/03/04. 2.2 - ESTADOS Os dados de receitas de impostos (RI), inclusive as transferências constitucionais e legais, e as despesas com ASPS dos estados para o período 1995-2000 foram coletados dos 4 A Emenda Constitucional 29/2000 estabeleceu, no artigo 7o, inciso I, que a União deve aplicar, em 2000, pelo menos o montante empenhado em 1999 acrescido de 5%; a partir de 2001, é estabelecida a aplicação da variação nominal do PIB sobre o montante empenhado no exercício anterior. A variação nominal do PIB a ser considerada para verificação do cumprimento da aplicação mínima no ano “t”, é a ocorrida entre os dois exercícios imediatamente anteriores (PIBt-1 / PIBt-2); esse percentual é aplicado sobre o montante empenhado no ano anterior (“t-1”). A aplicação mínima no ano de 2003 é definida, portanto, pela aplicação da variação nominal do PIB do ano de 2002 em relação a 2001 sobre o montante empenhado em 2002. 68 balanços estaduais pela equipe do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde5 – SIOPS – do Ministério da Saúde. Para os dados de 2001 (18 estados) e 2002 (16 estados) a fonte são as informações transmitidas pelos governos estaduais ao SIOPS; para os estados que não forneceram informações ao SIOPS (9 em 2001 e 11 em 2002) trabalhou-se com os dados coletados dos balanços estaduais pela equipe do SIOPS. Para o período 2003-2007 aplicaram-se os percentuais mínimos previstos pela EC 296, mantendo-se os percentuais aplicados para os estados que, em 2002, atingiram valores superiores ao estabelecido pela EC 29. As RI estaduais a partir de 2003 foram estimadas através da correção pela variação nominal do PIB sobre o valor obtido para o ano anterior, mantendo a participação das RI estaduais no PIB em 8,72%. 2.3 - MUNICÍPIOS Os dados de RI e as despesas com ASPS para o conjunto 5 O SIOPS coleta dados sobre receita total e despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS) das três esferas de governo. O preenchimento é realizado pelos gestores estaduais e municipais através de um sistema de coleta de dados disponível na internet no endereço http://siops.datasus.gov.br, devendo ser preenchido e enviado através de transmissão pela internet, de forma similar ao do IRPF. Desde 2002 o preenchimento do SIOPS é obrigatório, devendo ser realizado semestralmente, de acordo com o que prevê o manual de preenchimento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal (anexo XVI). 6 A Emenda prevê, conforme definido na Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que os estados devem aplicar, no mínimo, 7% de suas receitas de impostos em 2000; entre 2001 e 2004, a diferença entre o percentual aplicado em 2000 e o mínimo previsto a partir de 2004, de 12%, deve ser reduzida à base de um quinto ao ano. 69 dos municípios no período 2000-2002 foram estimados com base em dados do SIOPS. A RI a as despesas com ASPS informadas pelos municípios (3.695 municípios em 2000, 4.849 em 2001 e 4.797 em 2002), foi expandida utilizando-se os valores por habitante, separados por UF e por oito faixas populacionais7 dos municípios que transmitiram seus dados ao SIOPS para estimar os dados dos municípios que não haviam transmitido os dados, através da multiplicação do valor per capita obtido, pela população desses municípios para os quais não há informação, adotando-se a hipótese de uniformidade dentro de cada estado, para municípios de mesmo porte8. A RI dos municípios para o período 1995-1999 foi estimada por meio do seguinte método: calculou-se a proporção média entre receitas estaduais e municipais entre 2000 e 2002 (63,4%); esse percentual foi aplicado sobre as receitas estaduais de 1995 a 1999 para se obter a estimativa de RI municipais, adotando-se a hipótese de que tal proporção não tenha se alterado nesse período. A despesa com ASPS dos municípios para 1995, calculada pelo IPEA (PIOLA & BIASOTO, 1998: p. 227) foi dividida pela RI estimada para 1995, calculando-se, dessa forma, o percentual da RI aplicada em saúde em 1995, de 13,3%. Para se estimar a despesa com ASPS entre 1996 e 1999, manteve-se um decréscimo constante do percentual, até se atingir o percentual de 13,1%, obtido para 2000 através de dados do SIOPS. Esses percentuais de RI estimados foram aplicados sobre as RI 7 As faixas populacionais são as seguintes: até 5 mil habitantes; de 5 a 10 mil habitantes; de 10 a 20 mil habitantes; de 20 a 50 mil habitantes; de 50 a 100 mil habitantes; de 100 a 200 mil habitantes; de 200 a 400 mil habitantes; mais de 400 mil habitantes. 8 É importante assinalar que o painel utilizado para expansão dos dados possui informações para quase todos os grandes municípios do país. 70 municipais estimadas para se obter a estimativa de despesa com ASPS dos municípios entre 1996 e 1999. A estimativa da RI no período 2003-2007, foi calculada aplicando-se a variação nominal do PIB estimada sobre a RI do ano anterior, o que mantém constante a participação das RI municipais no PIB. A projeção da despesa municipal com ASPS no período 2003-2007 foi calculada através da aplicação dos percentuais mínimos da RI previstos pela EC 299, mantendo-se os percentuais aplicados pelos municípios que, em 2002, atingiram valores superiores ao estabelecido pela EC 29. As RI municipais a partir de 2003 foram estimadas através da correção pela variação nominal do PIB sobre o valor obtido para o ano anterior, mantendo a participação das RI municipais no PIB em 5,56% no período. 3 - FINANCIAMENTO DO SUS ANTES (1995-2000) E DEPOIS (2000-2002) DA VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DE RECURSOS E PROJEÇÕES ATÉ 2007 3.1 - União A despesa da União cresceu 13,2% entre 1995 e 2000, praticamente mantendo sua participação no PIB, que era de 1,89% em 1995 e passa a 1,85% em 2000, depois de atingir o piso de 1,59% em 1996. A despesa cresceu em média 3,1% ao ano, passando de R$ 146 por habitante em 1995 para R$ 159 em 2000, 9 A Emenda prevê, conforme definido na Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que os municípios devem aplicar, no mínimo, 7% de suas receitas de impostos em 2000; entre 2001 e 2004, a diferença entre o percentual aplicado em 2000 e o mínimo previsto a partir de 2004, de 15%, deve ser reduzida à base de um quinto ao ano. 71 o que representa uma taxa de crescimento da despesa per capita de 1,7% em média ao ano (Tabela 2). Entre 2000 e 2002 a despesa da União com ASPS mantevese em torno de 1,87% do PIB, com crescimento médio anual de 2,4%. A estimativa é de 1,78% do PIB em 2003 e 1,90% em 2004. Essa variação decorre da regra estabelecida para a União, com aplicação da variação nominal do PIB entre os dois exercícios imediatamente anteriores10. A vinculação mantém o gasto da União como proporção do PIB aproximadamente no mesmo patamar de 1995, e acima do executado entre 1996 e 1998. A participação do gasto federal no gasto público total em saúde reduziu-se a partir de 2000, com o crescimento da despesa de estados e municípios, derivada do impacto da vinculação constitucional. 10 Dessa forma, o valor mínimo para 2003 é resultado da aplicação da variação nominal do PIB ocorrida entre 2001 e 2002 sobre o valor empenhado em 2002. A variação nominal do PIB de 2003, por ter sido maior que a do ano anterior, e maior que a prevista para o ano subseqüente gera uma despesa como proporção do PIB maior em 2004. 72 Tabela 2 Despesa da União com Ações e Serviços Públicos de Saúde Período: 1995-2003 Em R$ de 2003 (IPCA/IBGE) Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Estimativa 2003 Variação % 1995-2003 Var. anual % Variação % 1995-2000 Var. anual % Variação % 2000-2002 Var. anual % Variação % 2002-2003 R$ milhões de 2003 23.271 20.425 23.809 22.745 26.113 27.051 27.960 28.377 27.782 19,4 2,2 16,2 3,1 4,9 2,4 (2,1) % do total 62,4 58,3 61,8 57,6 61,3 59,8 56,2 52,9 49,1 Índice R$ por 2000 = Hab 100 86,0 146 75,5 127 88,0 146 84,1 137 96,5 156 100,0 159 103,4 162 104,9 162 102,7 157 19,4 7,3 2,2 0,9 16,2 8,6 3,1 1,7 4,9 2,2 2,4 1,1 (2,1) (3,3) % do PIB 1,89 1,59 1,78 1,67 1,88 1,85 1,87 1,87 1,78 (5,9) (0,8) (2,2) (0,4) 1,3 0,6 (5,0) Fonte: Dados em R$ correntes fornecidos pela SPO/SE/MS e deflacionados pelo autor através do índice de preços médios do IPCA/IBGE. Elaboração própria As perspectivas para o período 2005-2007 variam de acordo com o cenário adotado para a vinculação constitucional de recursos (Tabela 3). No cenário A, onde se mantém a regra de vinculação ao crescimento nominal do PIB, a despesa da União se situaria em um patamar em torno de 1,9% do PIB, o que representa uma despesa por habitante de R$ 191 em 2007. Tal regra garante a estabilidade do financiamento, embora gere algumas oscilações de um ano para o outro11 11 Tal oscilação decorre da defasagem de um ano na correção pela variação 73 No caso de adoção da vinculação de 30% do Orçamento da Seguridade Social, o cenário B, o orçamento federal se elevaria para quase 4% do PIB, praticamente o dobro do atual orçamento, com uma despesa por habitante de R$ 388 em 2007. Tabela 3 Estimativas de Receita da União disponível para aplicação em Ações e Serviços de Saúde cf a EC 29 Três Cenários de Vinculação para o período 2005-2007 (1) Em R$ de 2003 Cenário A - Variação Nominal do PIB Ano 2003 2004 2005 2006 2007 Variação 20032007 Variação média anual (%) R$ Índice Milhões 2003 = de 2003 100 27.782 100 30.694 110 32.429 117 33.889 122 35.414 127 Por Hab 157 171 179 185 191 % do PIB 1,78 1,90 1,93 1,93 1,93 Cenário B - 30% do Orçamento da Seguridade Social R$ Índice Milhões 2003 = de 2003 100 27.782 100 30.694 110 65.656 236 68.610 247 72.041 259 Por Hab % do PIB 157 171 362 374 388 1,78 1,90 3,92 3,92 3,92 Cenário C - 10% das Receitas Correntes R$ Índice Milhões 2003 = de 2003 100 27.782 100 30.694 110 39.873 144 41.667 150 43.750 157 Por Hab 157 171 220 227 236 % do PIB 1,78 1,90 2,38 2,38 2,38 27,5 27,5 21,4 8,3 159,3 159,3 146,9 120,2 57,5 57,5 50,0 33,7 6,3 6,3 5,0 2,0 26,9 26,9 25,4 21,8 12,0 12,0 10,7 7,5 (1) Valor deflacionado pelo Variação dos Preços Médios do IPCA/IBGE Elaboracao própria No caso de adoção da regra de vinculação de 10% das Receitas Correntes (cenário C), o orçamento federal se elevaria para cerca de 2,4% do PIB, o que representaria uma despesa por habitante de R$ 236 em 2007. A Tabela 4 sintetiza os resultados obtidos a partir das simulações em torno dos cenários de vinculação de recursos para a União. No caso de manutenção da Desvinculação de Receitas da União (DRU), de 20%, o orçamento estimado para os cenários B e C se reduzem: no caso do cenário B, o resultado seria acima de 60% superior ao cenário A; no cenário C os ganhos se anulariam. nominal do PIB, o que somente não garantiria a estabilidade do financiamento no caso de uma brutal e constante elevação do patamar da inflação durante mais de 2 anos. 74 Sem a DRU, o cenário B gera uma receita duas vezes superior à do cenário A, enquanto no cenário C o incremento é de 23,5%. Tabela 4 Em milhões de R$ Orçamento do Ministério da Saúde em 2007 Em R$ de 2003 3 Cenários Cenário Hipótese Cenário A Variação Nominal do PIB Cenário B Cenário C Índice R$ de 2003 Cenário A = 100 35.414 100,0 30% do Orç. Seguridade Social 72.041 203,4 30% do Orç. Seguridade Social (com Desv. Rec União) 57.632 162,7 10% das Receitas Correntes 43.750 123,5 10% das Receitas Correntes (com Desv. Rec União) 35.000 98,8 3.2) Estados e Municípios No caso dos estados e dos municípios, a elevação do gasto com saúde após a implementação da EC 29 foi mais significativa, principalmente em função das grandes disparidades na aplicação de recursos entre os entes federados. A despesa estadual elevou-se em 40,4% em termos reais entre 2000 e 2002 (taxa média anual de 18,5%), passando o gasto estadual 75 de um patamar que se situava abaixo de 0,60% no período prévinculação para 0,78% do PIB em 2002 (Tabela 5). Em caso de cumprimento dos limites mínimos da EC 29, a despesa estadual se elevaria em 2003 para mais de 0,9% do PIB (com crescimento real de 22,4%), chegando a cerca de 1,1% do PIB a partir de 2004. Tabela 5 Despesas Estaduais com Ações e Serviços Públicos de Saúde Período: 1995-2003 Em R$ de 2003 (IPCA/IBGE) Despesa Ano Receita de Impostos inclusive Transf. Const e Legais (R$ milhões de 2003) Percentual da com ASPS R$ RI aplicada milhões em ASPS Índice 2000 = 100 R$ por Hab % do PIB de 2003 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Estimativa 2003 Variação % 1995-2003 Var. anual % Variação % 1995-2000 Var. anual % Variação % 2000-2002 Var. anual % Variação % 2002-2003 86.050 86.038 91.176 95.912 101.263 117.375 125.091 132.163 136.201 58,3 5,9 36,4 6,4 12,6 6,1 3,1 7,8 8,6 7,8 8,6 7,3 7,1 8,2 8,9 10,6 35,5 3,9 (8,5) (1,8) 24,7 11,7 18,8 6.725 7.432 7.110 8.281 7.348 8.392 10.266 11.784 14.424 114,5 10,0 24,8 4,5 40,4 18,5 22,4 80,1 88,6 84,7 98,7 87,6 100,0 122,3 140,4 171,9 114,5 10,0 24,8 4,5 40,4 18,5 22,4 42 46 43 50 44 49 60 67 82 92,8 8,6 16,6 3,1 36,8 17,0 20,8 0,55 0,58 0,53 0,61 0,53 0,57 0,69 0,78 0,92 69,1 6,8 5,0 1,0 35,6 16,4 18,8 Fonte: 1995 a 2000: SIOPS - Dados coletados dos Balanços Estaduais; 2001 e 2002: SIOPS; 2003: Estimativa com o cumprimento da EC 29. Elaboração própria A despesa municipal entre 2000 e 2002 elevou-se em 38,0% (taxa média anual de 17,5%), passando de um patamar em torno de 0,6% do PIB para cerca de 0,9% em 2002 (Tabela 6). É importante notar que apesar de o crescimento das despesas estaduais e municipais entre 2000 e 2002 ter ocorrido quase na mesma proporção, o percentual de estados que cumpre a EC 29 em 2002 é de apenas 76 37% (10 em 27 estados), enquanto o de municípios é de 73%12. Essa maior distância da maioria dos estados, quando comparados aos municípios, em relação ao limite mínimo constitucionalmente exigido, revela, ao mesmo tempo, um espaço para expansão do gasto público com saúde, e um entrave para o processo de regulamentação da EC 29, ao criar pressões políticas no sentido do estabelecimento de parâmetros mais flexíveis na definição do que seria considerado como despesa com saúde para o cumprimento dos limites mínimos. Tabela 6 Estimativas de Despesas Municipais com Ações e Serviços Públicos de Saúde Período: 1995-2003 Em R$ de 2003 (IPCA/IBGE) Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Estimativa 2003 Variação % 1995-2003 Var. anual % Variação % 1995-2000 Var. anual % Variação % 2000-2002 Var. anual % Variação % 2002-2003 Receita de Impostos inclusive Transf. Const e Legais (R$ milhões de 2003) 54.562 54.555 57.813 60.816 64.209 74.731 78.522 84.298 86.870 59,2 6,0 37,0 6,5 12,8 6,2 3,1 Percentual da Índice R$ R$ por RI aplicada milhões 2000 = Hab de 2003 em ASPS 100 13,3 7.276 13,1 7.165 13,2 7.638 13,9 8.436 14,3 9.171 13,1 9.766 14,7 11.515 16,0 13.476 16,6 14.404 24,3 98,0 2,8 8,9 (2,0) 34,2 (0,4) 6,1 22,3 38,0 10,6 17,5 3,7 6,9 74,5 73,4 78,2 86,4 93,9 100,0 117,9 138,0 147,5 98,0 8,9 34,2 6,1 38,0 17,5 6,9 46 44 47 51 55 57 67 77 81 78,0 7,5 25,4 4,6 34,4 15,9 5,5 % do PIB 0,59 0,56 0,57 0,62 0,66 0,67 0,77 0,89 0,92 56,1 5,7 12,9 2,5 33,2 15,4 3,7 Fonte: 2000 a 2002: SIOPS; 2003: Estimativa com o cumprimento da EC 29; 1995: Piola e Biasoto (2002); 1996 a 1999: Estimativa a partir de dados de 1995 e 2000. Elaboração própria 12 Conforme Notas Técnicas 50 e 51/2003 MS/SCTIE. 77 Com relação ao impacto da EC 29, a despesa por habitante prevista para os estados em 2007 seria de R$ 107 por habitante, com uma aplicação média de 12,4% da RI, cerca de R$ 20 bilhões de uma RI total de cerca de R$ 160 bilhões (Tabela 7). De acordo com as mesmas hipóteses, o conjunto de município alcançaria uma despesa com saúde por habitante de R$ 95, totalizando mais de R$ 17 bilhões, mais de 17% da RI prevista (cerca de R$ 102 bilhões) (Tabela 8). Estados e municípios aplicariam, em conjunto, cerca de 2% do PIB, percentual cerca de 20% superior aos 1,67% aplicados em 2002. Dessa forma, as esferas subnacionais passariam a aplicar mais que a esfera federal, no caso de manutenção das atuais regras de vinculação para a União. Tabela 7 Estimativa de Receita de Impostos (RI) e Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) dos Estados Em R$ milhões de 2003 Período: 2003 a 2007 Ano 2003 2004 2005 2006 2007 Variação 20032007 Variação média anual (%) (1) , R$ de 2003 por habitante e % do PIB RI Despesa Percentual Estimada Prevista da RI Por Hab (R$ (R$ aplicada (R$) Milhões milhões de em ASPS 2003) de 2003) 136.195 10,6 14.423 82 140.532 12,4 17.356 97 146.153 12,4 18.050 100 152.730 12,4 18.862 103 160.367 12,4 19.805 107 0,92 1,08 1,08 1,08 1,08 17,7 16,6 37,3 30,8 16,6 4,2 3,9 8,3 6,9 3,9 (1) Valor deflacionado pelo Variação dos Preços Médios do IPCA/IBGE 78 % do PIB Tabela 8 Estimativa de Receita de Impostos (RI) e Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) dos Municípios Em R$ milhões de 2003 (1), R$ de 2003 por habitante e % do PIB Período: 2003 a 2007 Ano 2003 2004 2005 2006 2007 Variação 20032007 Variação média anual (%) RI Despesa Percentual Estimada Prevista da RI Por Hab (R$ (R$ aplicada (R$) Milhões milhões de em ASPS 2003) de 2003) 86.870 16,6 14.404 81 89.636 17,1 15.332 86 93.222 17,2 16.021 88 97.417 17,3 16.822 92 102.288 17,3 17.664 95 % do PIB 0,92 0,95 0,96 0,96 0,96 17,7 4,1 22,6 16,8 4,1 4,2 1,0 5,2 4,0 1,0 (1) Valor deflacionado pelo Variação dos Preços Médios do IPCA/IBGE 3.3 - A Despesa Total com Saúde No período 1995-2000, que antecede a vinculação de recursos da EC 29, a despesa total com saúde nas três esferas de governo oscilou em torno de 3,0% do PIB, passando de 3,01% em 1995 para 2,73% em 1996, e elevando-se gradualmente até 2000, quando atingiu 3,09% (Tabela 9). No período, o crescimento médio anual da despesa foi de 3,9%, acima do crescimento populacional de 1,4%, resultando em uma elevação da despesa por habitante de R$ 234 para R$ 266 (13,4%, ou média anual de 2,5%). 79 Tabela 9 Estimativa de Despesa Total com Saúde nas 3 esferas de governo Período: 1995-2003 Em R$ de 2003 Em R$ Índice milhões de 2000 = 2003 100 1995 82,4 37.272 1996 77,5 35.022 1997 85,3 38.557 1998 87,3 39.462 1999 94,3 42.631 2000 100,0 45.208 2001 110,0 49.740 2002 118,6 53.637 Estimativa 2003 125,2 56.610 Variação % 51,9 51,9 1995-2003 Var. anual % 5,4 5,4 Variação % 21,3 21,3 1995-2000 Var. anual % 3,9 3,9 Variação % 18,6 18,6 2000-2002 Var. anual % 8,9 8,9 Variação % 2002-2003 5,5 5,5 Ano R$ por Hab 234 217 236 238 254 266 289 307 320 36,5 4,0 13,4 2,5 15,6 7,5 4,2 % PIB 3,03 2,73 2,88 2,89 3,08 3,09 3,33 3,54 3,62 19,7 2,3 2,0 0,4 14,6 7,0 2,4 Fonte: Ver tabelas 2, 5 e 6. Elaboração própria Em caso de manutenção da atual regra de vinculação para a União, as despesas, com saúde devem se aproximar de 4% do PIB, um aumento de cerca de um terço em relação à situação anterior ao estabelecimento da vinculação de recursos (Tabela 10). Esse acréscimo é decorrente da aplicação de percentuais crescentes de receitas de estados e municípios, uma vez que a aplicação da União, por definição, mantém sua participação no PIB em um cenário 80 macroeconômico como o atual, de relativa estabilidade de preços. O cenário B elevaria a receita disponível ao SUS para 6,0% do PIB, com incremento de 50%. No cenário C, as receitas do SUS se elevariam em cerca de 10%, passando a 4,4% do PIB. Tabela 10 Estimativas de Receita Total (3 esferas) disponível para aplicação em Ações e Serviços de Saúde conforme a EC 29 Três Cenários de Vinculação para a União no período 2005-2007 Em R$ de 2003 Ano 2003 2004 2005 2006 2007 (1) Cenário A - Variação Nominal do PIB Cenário B - 30% do Orçamento da Seguridade Social Cenário C - 10% das Receitas Correntes R$ Índice Milhões 2003 = de 2003 100 56.610 100 63.381 112 66.501 117 69.573 123 72.883 129 Índice R$ Milhões 2003 = de 2003 100 56.610 100 63.381 112 99.727 176 104.295 184 109.509 193 Índice R$ Milhões 2003 = de 2003 100 56.610 100 63.381 112 73.944 131 77.351 137 81.219 143 Por Hab 320 354 367 379 392 % do PIB 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0 Por Hab % do PIB 320 354 550 568 590 3,6 3,9 5,9 6,0 6,0 Por Hab % do PIB 320 354 408 421 437 3,6 3,9 4,4 4,4 4,4 Variação 2003-2007 28,7 28,7 22,6 9,3 93,4 93,4 84,2 64,3 43,5 43,5 36,6 21,8 Variação média anual (%) 6,5 6,5 5,2 2,3 17,9 17,9 16,5 13,2 9,4 9,4 8,1 5,1 (1) Valor deflacionado pelo Variação dos Preços Médios do IPCA/IBGE Elaboracao própria 4 - CONCLUSÃO O estudo do financiamento da saúde constitui-se em um importante instrumento para a gestão das políticas de saúde por demonstrar a dinâmica de uma restrição orçamentária ao desenho e implementação dessas políticas pelos gestores federais, estaduais e municipais. O processo de descentralização leva o gestor federal a ser cada vez menos responsável pela prestação direta dos serviços de saúde, e mais pela definição das prioridades e dos critérios de repasse de recursos para as esferas subnacionais. Na definição 81 desses critérios, devem ser levados em consideração os recursos já vinculados constitucionalmente, de forma que as necessidades da população sejam compatibilizadas com o total de recursos disponível, resultado da adição dos recursos já constitucionalmente vinculados aos transferidos pelo Ministério da Saúde através das transferências regulares e automáticas definidas através das Normas Operacionais do SUS. A regra de transição criada para a União mantém a participação dos gastos em saúde no PIB em torno de 1,9%. Outras propostas, como as trabalhadas nos cenários B (30% OSS) e C (10% das Receitas Correntes), elevariam o orçamento federal destinado à saúde para 3,9% e 2,4% do PIB, respectivamente. Essas propostas encontram entraves, entretanto, em função das dificuldades que criariam em um cenário de restrições fiscais e pressão social pela redução da carga tributária. A EC 29 eqüaliza o nível de gasto com saúde de estados e municípios enquanto proporção da receita, garantindo uma aplicação mínima de recursos. Esse formato de vinculação, embora não garanta maior equidade no financiamento, dadas as diferenças existentes na distribuição das receitas de impostos entre os entes federados, pelo menos contribui para a redução das necessidades não atendidas. Em relação a estados e municípios, a EC 29 já produziu efeitos importantes, elevando a despesa em termos reais em 40,4% e 38,0% respectivamente em apenas 2 anos. Apesar desse crescimento, existem grandes dificuldades, principalmente por parte dos estados, no que diz respeito ao cumprimento dos limites mínimos. Em 2002, apenas 10 dos 27 estados cumpriram os percentuais mínimos; entre os municípios, 73% cumpriram os percentuais mínimos13. 13 Conforme Notas Técnicas 051 e 052/2003/SCTIE/MS, disponíveis em http://siops.datasus.gov.br - Notas Técnicas. 82 Dessa forma, a EC 29 e outras formas de vinculação constituem um importante instrumento de garantia de recursos mínimos para o financiamento da saúde pública no Brasil. Em que pese as críticas dos planejadores do setor público, a garantia do direito constitucional à saúde depende da existência de recursos financeiros que, por força legal, já estejam previamente destinados à aplicação no setor. Além disso, a vinculação orçamentária, por conferir maior previsibilidade sobre a disponibilidade de recursos, facilita o planejamento das ações. É importante ressaltar que as informações tratadas referemse apenas ao montante global de receitas e despesas. Essas informações devem ser relacionadas a indicadores de produção de serviços e de impacto das políticas implementadas, de forma a se medir a efetividade da aplicação dos recursos. Outra área que demanda estudos é a de Contas Nacionais de Saúde, que pode dar maior transparência à alocação de recursos dentro do sistema saúde, permitindo que se conheça a participação dos principais agentes econômicos do mercado de saúde, seus fluxos financeiros, suas características e sua forma de funcionamento. Esse conhecimento é essencial para que o Estado possa atuar de forma mais justa na distribuição de recursos na saúde pública além de gerar subsídios que permitam uma regulação mais eficiente do setor privado. 83 BIBLIOGRAFIA ARRETCHE, M. “Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado federativo”. Revista Brasileira de Ciências Sociais – vol. 14 No 40, jun-99, 1999. ARRETCHE, M. “Municipalização da Saúde no Brasil: diferenças regionais, poder do voto e estratégias de governo”. São Paulo: Revista Ciência e Saúde Coletiva, 7 (3): 455-479, 2002. ARRETCHE, M. “Financiamento Federal e gestão local de políticas sociais: o difícil equilíbrio entre regulação, responsabilidade e autonomia”. São Paulo: Revista Ciência e Saúde Coletiva, 8 (2): 331-345, 2003. CASTRO, J. A. et alli. 2003.”Análise da Evolução e Dinâmica do Gasto Social Federal: 1995-2001". Brasília: IPEA (Mimeo). FAVERET, A. C. 2002. “Federalismo Fiscal e Descentralização no Brasil: O Financiamento da política de Saúde na década de 90 e início dos anos 2000”. Rio de Janeiro: Tese de Doutoramento apresentada ao Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. FAVERET, A. C. et alli. 2001. “Estimativas de Impacto da Vinculação Constitucional de Recursos para a Saúde (Emenda Constitucional 29/2000)”. Brasília: Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde – Ministério da Saúde, Cadernos de Economia da Saúde.. IUNES, R. F. 2002. “Demanda e demanda em saúde” (capítulo IV) in PIOLA, S. F. & VIANNA, S. M. (org.) “Economia da Saúde: Conceito e Contribuição para a Gestão da Saúde”. Brasília: IPEA. MÉDICI, A. C. 2002. “Aspectos teóricos e Conceituais do Financiamento das Políticas de Saúde” (capítulo II) in PIOLA, S. F. & VIANNA, S. M. (org.) “Economia da Saúde: Conceito e Contribuição para a Gestão da Saúde”. Brasília: IPEA. 84 MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2003. “Manual de Gestão Financeira do SUS”. Brasília, Fundo Nacional de Saúde. PIOLA, S. F. & BIASOTO, G. 2001. “Financiamento do SUS nos anos 90” (Parte 2, Capítulo 1) in NEGRI, B. & GIOVANNI, G. (org.) “Brasil: Radiografia da Saúde”. Campinas: UNICAMP-IE. * Ricardo Vidal de Abreu é Economista e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. * Rodrigo Pucci de Sá e Benevides é Economista e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 85 Willber da Rocha Severo A participação dos beneficiários em estratégias de redução da pobreza: uma análise de suas contribuições. 1 - INTRODUÇÃO P obreza é um fenômeno multidimensional e suas causas são complexas. Ela pode ser entendida, grosso modo, como um padrão de vida abaixo do que é socialmente aceitável. É mais que insuficiência de renda ou consumo; inclui, também, vulnerabilidade, insegurança, isolamento, exclusão e falta de poder.1 No Brasil, são 53,1 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza (BARROS et al. 2001). Um importante elemento da discussão atual de como combater a pobreza é o envolvimento dos stakeholders primários2 nas atividades da intervenção de desenvolvimento3 (BHATNAGAR e WILLIAMS 1992; CHAMBERS 1993; KARL 2000). Acredita-se que existe uma 1 Para uma maior discussão sobre os conceitos e as causas da pobreza, ver CHAMBERS (1983) e ALCOCK (1997). 2 Stakeholder é pessoa, grupo ou instituição que tem interesse em determinada política ou questão. Stakeholder primário é aquele que é diretamente, positiva ou negativamente, afetada pela política/questão. O stakeholder primário de uma estratégia de redução da pobreza é o pobre. Stakeholder secundário é aquele afetado indiretamente pela política/ questão ou intermediário no processo. Para informações adicionais sobre análise de stakeholders, ver DFID (1995). 3 Estratégias de redução da pobreza são normalmente implementadas por meio de intervenções de desenvolvimento. Programas e projetos são as unidades básicas de planejamento e execução destas intervenções. 86 relação direta entre uma ativa participação dos beneficiários e o sucesso do programa/projeto (OAKLEY 1991). Conseqüentemente, um considerável número de agências de desenvolvimento está adotando enfoques participativos em suas operações. No caso do Brasil, podemos citar, por exemplo, os programas governamentais “Comunidade Ativa”, “Fome Zero” e “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF” que utilizam instituições locais, formadas por membros da comunidade, para implementar as suas ações. Dada a sua ampla utilização, a palavra “participação” tem apresentado diversos sentidos e tem sido usado para diferentes propósitos4. Os termos “tipos”, “dimensões”, “níveis”, “graus”, entre outros, utilizados para classificá-la identificam basicamente: (1) em que fase do ciclo da política/programa/projeto a participação dos beneficiários ocorre: na formulação, na implementação, no monitoramento ou na avaliação; (2) a qualidade, intensidade ou extensão da participação: como um beneficiário passivo, como um consultor, como um tomador de decisão ou controlador etc.; e (3) a abrangência territorial da participação: local, regional ou nacional (RUDQVIST e WOODFORD-BERGER 1996). Independente desses diferentes entendimentos e propósitos, existe uma grande expectativa sobre as contribuições positivas da participação dos beneficiários na redução da pobreza5. A hipótese assumida é que essa participação melhora a qualidade e aumenta a efetividade, a eficiência e a sustentabilidade das intervenções desenvolvimentistas. Ela beneficiaria o pobre, incrementando suas capacidades e levando ao seu empoderamento. Infelizmente, 4 Para uma maior discussão sobre as diferentes interpretações do termo “participação”, ver Oakley (1991). 5 Redução da pobreza é entendida neste estudo como o fenômeno multidimensional que envolve mudanças positivas na qualidade de vida, nas capacidades e nos direitos dos pobres. 87 experiências em avaliá-la são ainda limitadas (KARL 2000; RUDQVIST e WOODFORD-BERGER 1996; OAKLEY et al. 1998), especialmente no Brasil. A atenção tem sido mais focada em identificar os stakeholders e medir a extensão e qualidade de sua participação do que mensurar os seus impactos (KARL 2000). Ademais, existe uma lacuna de informações sobre em que contexto e circunstâncias as contribuições podem materializar-se.Algumas questões permanecem sem respostas satisfatórias. Particularmente, como e em que extensão a participação dos beneficiários aumenta a efetividade, a eficiência e a sustentabilidade das intervenções desenvolvimentistas? Como e em que extensão ela empodera os stakeholders primários? Quais são os desafios e dificuldades para implementar estratégias participativas? Dessa forma, os objetivos deste trabalho são: (1) examinar e sintetizar a literatura sobre participação de maneira a responder essas questões e (2), a partir desta revisão, emitir recomendações para serem adotadas em futuras políticas de combate à pobreza. Ele está dividido em 4 seções. A primeira apresenta uma introdução geral sobre o tema, destacando a importância da participação como um componente das estratégias de redução da pobreza, seus diferentes entendimentos e objetivos. A seção 2, a partir das evidências da literatura especializada, analisa as contribuições da participação em termos de empoderamento dos beneficiários e melhorias na efetividade, eficiência e sustentabilidade das intervenções desenvolvimentistas. A seguir, são identificados os desafios e dificuldades para garantir uma real participação. Finalmente, a seção 4 revê as principais conclusões do estudo e faz algumas recomendações. 2-CONTRIBUIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO A literatura foi consultada de maneira a permitir uma análise das contribuições da participação para a redução da pobreza. Os 88 textos foram revistos em termos de empoderamento, efetividade, eficiência e sustentabilidade. Esses critérios foram formulados em consideração às questões conceituais apresentadas na seção anterior. 2.1. Empoderamento dos beneficiários Empoderamento, como participação, é um termo complexo que não é facilmente definido e tem diversas interpretações6. Ele é focado nas noções de “poder” – seu uso e distribuição – (OAKLEY e CLAYTON 2000) e de “construção de capacidade” (NARAYAN 1995). Pobreza significa freqüentemente ausência de poder e exclusão social, resultantes da discriminação, do isolamento e da falta de direitos humanos (CHAMBERS 1983). Empoderamento é, desta forma, crucial para sua redução. Ele permite que os pobres influenciem nas decisões que afetam as suas vidas e tenham acesso a recursos produtivos. Os casos apresentados a seguir mostram como o envolvimento dos beneficiários nas atividades das intervenções desenvolvimentistas pode aumentar o seu senso de controle sobre suas vidas, quebrar a sua mentalidade de dependência, construir suas capacidades e fortalecer sua voz, entre outros efeitos positivos. Como resultado da participação no “People’s Participation Programme” (PPP) em Gana (BORTEI-DOKU 1991), foi identificado que as organizações participativas locais representavam os interesses dos pobres rurais e serviam como base para um crescente envolvimento dos beneficiários nas atividades do 6 Sobre os diferentes conceitos de empoderamento, ver OAKLEY e CLAYTON (2000). 89 Programa. PPP fez os serviços financeiros públicos (empréstimos e poupança) ficarem disponíveis para pequenos agricultores, que eram anteriormente excluídos. Semelhantemente, HINCHLIFFE et al. (citado por KARL 2000), em um estudo sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais de projetos de irrigação, identificaram que os maiores benefícios da participação dos stakeholders primários foram o aumento da confiança e do senso de coesão das comunidades, a redução das emigrações, uma maior atenção às necessidades dos grupos sem-terra e o estabelecimento de uma nova relação de apoio entre as pessoas e os profissionais das agências de desenvolvimento. Em um estudo comparativo de três países (Bolívia, Burkina Faso e Indonésia), GROOTAERT (2001) descobriu que bons níveis de capital social reduzem significativamente a probabilidade de uma pessoa ser pobre. Famílias bem dotadas deste capital eram mais hábeis na acumulação de ativos e na obtenção crédito, o que lhes ajudava a lidar melhor com o risco de flutuações negativas de renda. Neste caso, a ativa participação dos membros das famílias no processo de decisão das organizações locais contribuía para construir capital social. Da mesma forma, COIROLO e BARBOSA (2002), analisando a experiência dos “Projetos de Alívio da Pobreza Rural” (PAPR) financiados pelo Banco Mundial no Nordeste brasileiro, encontraram que o capital social desenvolvido durante o processo geral de participação permitiu aos beneficiários conseguirem outras fontes de financiamento que antes eles não tinham acesso e os ajudou a vender seus produtos para os mercados internacionais. Esses estudos confirmam a influência positiva da participação em promover confiança, em fortalecer a voz dos excluídos, em melhorar a capacidade local para resolver problemas e em gerar capital social. No entanto, a extensão em que isto ocorre depende do tipo de participação. Com o baixo envolvimento dos stakeholders 90 primários na implementação do “Water Supply Project” (WSP) na Tanzânia (THERKILDSEN 1991), conseguiu-se, apenas, obter contribuições em forma de trabalho voluntário, apesar dos esforços para mobilizar e empoderar as pessoas para que estas tivessem um papel ativo em todas as fases do projeto. Da mesma forma, a capacidade operacional das associações de agricultores era pequena na primeira fase de implementação do “Self-help Support Programme” (SSP) no Sri Lanka (SAMARANAYAKE 1998) devido a não-participação dos beneficiários no processo de escolha das estruturas físicas que seriam construídas. Por outro lado, um estudo de caso do “World Bank Community Driven Development” (The World Bank 2002b) mostra como a um alto nível de participação empodera os beneficiários. O Programa “Mvula Trust” provem água potável e saneamento básico em áreas rurais da África do Sul. Os membros da comunidade são envolvidos de diferentes formas, sendo que a operação e manutenção dos projetos são de sua inteira responsabilidade. Como conseqüência deste enfoque fortemente participativo, o Programa contribuiu para a auto-organização de instituições locais e motivou o desenvolvimento de agências governamentais mais efetivas e pró-pobres, o que influenciou a administração sul-africana a adotar iniciativas similares em outras áreas. Resultados semelhantes foram alcançados no âmbito dos PAPR. A sua estratégia altamente participativa e empoderadora permitiu que as comunidades mais pobres recebessem financiamento para implementar, operar, administrar e manter subprojetos de investimento da sua escolha e contratar diretamente assistência técnica. 2.2. Efetividade das estratégias Efetividade pode ser entendida como a extensão em que uma intervenção atinge seus objetivos. Um programa/projeto pode prover 91 um produto ou serviço, mas não necessariamente causar efeito7 sobre o seu público-alvo. De acordo com a teoria, uma das mais importantes contribuições da participação dos stakeholders primários é aumentar a efetividade das intervenções desenvolvimentistas. Acredita-se que as intervenções têm uma maior chance de atingir seus objetivos se eles forem identificados e avaliados com a participação das pessoas diretamente afetadas (KARL 2000). Adicionalmente, se os beneficiários participarem ativamente na formulação e implementação do programa/projeto, eles estarão mais comprometidos com o seu sucesso. As contribuições da participação para a melhoria da efetividade das intervenções desenvolvimentistas são, provavelmente, as mais documentadas na literatura. O estudo a seguir, dada sua abrangência e qualidade, deixa pouca dúvida sobre o relevante papel desempenhado pela participação dos beneficiários em potencializar os efeitos dos programas/projetos. NARAYAN (1995) avaliou 121 projetos de fornecimento de água em zonas rurais implantados por diferentes agências em 49 países em desenvolvimento. Ela provou que a participação contribuiu significativamente para a efetividade das intervenções, aumentando o percentual da população-alvo atingida, a proporção de sistemas de fornecimento de água em boas condições e os benefícios econômicos e ambientais dos projetos. Adicionalmente, o envolvimento dos beneficiários ajudou a garantir eqüidade no acesso às facilidades instaladas. A autora destacou que somente um projeto altamente efetivo tinha um baixo nível de participação e nenhum daqueles altamente participativos era pouco efetivo. As contribuições da participação para melhor focalização dos 7 Por efeito entenda-se uma mudança tangível em relação à situação/ problema inicial que pode ser atribuída à intervenção. 92 benefícios dos programas/projetos nos mais pobres e para o aumento de sua cobertura estão, também, evidenciadas numa avaliação do Banco Mundial. Um estudo do seu Departamento de Avaliação de Operações (The World Bank 2002a) mostrou que projetos gerenciados pelas comunidades locais eram sensivelmente mais exitosos que aqueles administrados por outras instituições e concluiu que a participação em nível local ajudou a assegurar que os serviços básicos alcançassem os mais pobres. O monitoramento e a avaliação dos stakeholders primários conduzem, também, para a uma melhor focalização das intervenções desenvolvimentistas. O uso de avaliações participativas garantiu que somente comunidades pobres fossem apoiadas pelo “Social Recovery Project” (SRP) em Zâmbia (The World Bank 1999). De fato, sua estratégia de auto-focalização foi capaz de direcionar os benefícios do projeto para os mais carentes. Adicionalmente, processos participativos tendem a aumentar a eqüidade de gênero. The World Bank (2002a) destaca que estudos sobre comunidades rurais em Burkina Faso, Camarões e Quênia mostraram que controles mais eqüitativos por homens e mulheres sobre os insumos e sobre as rendas geradas incrementaram em um quinto a produção agrícola. Adotar um enfoque participativo nos programas/projetos ajuda a prover os produtos desejados pelos beneficiários. Somente projetos formulados localmente e que iam de encontro às necessidades dos pobres eram elegíveis para acessar os recursos do fundo do SRP. Participação também influenciou, no estudo de caso de Sri Lanka (SSP), a criação de um processo de decisão no âmbito da agência de desenvolvimento mais sensível aos interesses e prioridades das pessoas. Uma outra importante contribuição da participação é permitir o uso do conhecimento local. Kottak (citado por KARL 2000) analisou 68 avaliações ex post de maneira a identificar as 93 principais lições aprendidas relacionadas as variáveis sócioculturais em projetos de desenvolvimento rural apoiados pelo Banco Mundial. Projetos que eram baseados em um adequado entendimento das condições sociais tiveram taxas de retorno econômico duas vezes maiores que aqueles socialmente incompatíveis. Isto destaca a importância do envolvimento dos beneficiários para providenciar informações sobre a realidade social. Semelhantemente à contribuição de empoderamento dos beneficiários, o nível da participação afeta diferentemente a efetividade das intervenções desenvolvimentistas, como pode ser visto no trabalho de Narayan anteriormente citado e no caso da participação comunitária no “Public Works Projects” (PWP) na África do Sul (HODDINOTT et al. 2001). Os autores mostraram que a participação de facto - onde as pessoas tinham controle sobre as decisões dos projetos - estava associada a melhores relações custo/efetividade e focalização. A participação de jure – onde as pessoas tinham autoridade formal para decidir, mas na prática não o faziam – era, contrariamente, menos efetiva e não aumentou, por exemplo, a quantidade de oportunidades de emprego direcionadas às mulheres. 2.3. Eficiência das estratégias Eficiência é a medida de produtividade do processo de implementação: quão racionalmente uma intervenção entrega os seus produtos e/ou serviços em termos de custo e tempo. Participação aumenta a eficiência das estratégias de redução da pobreza pela redução dos custos associados à resolução de conflitos e desentendimentos. Métodos participativos bem conduzidos podem promover concordância, cooperação e interação 94 entre os diversos stakeholders (KARL 2000), diminuindo os custos de tempo e energia freqüentemente gastos pelos profissionais das agências de desenvolvimento para explicar ou convencer as pessoas envolvidas sobre os benefícios e as estratégias dos programas/ projetos. Participação, também, otimiza a divisão do trabalho e ajuda na formação de um “pool” de recursos locais. A mobilização de recursos financeiros e não-financeiros (trabalho, informação, contribuições em espécie) promovida pelo envolvimento dos beneficiários pode reduzir os custos de implementação dos programas/projetos (MICHENER 1998). Participação é custoeficiente porque, se pessoas da localidade atendida estão assumindo responsabilidades nas atividades da intervenção, menos recursos externos serão requeridos e os profissionais contratados pelas agências de desenvolvimentos estarão menos envolvidos em questões operacionais. Experiências práticas têm mostrado que os retornos dos investimentos realizados em estratégias participativas são altos. Na Costa do Marfim, um enfoque participativo reduziu os custos de manutenção do “National Rural Water-Supply Programme” em 50% (BHATNAGAR e WILLIAMS 1992). Na mesma linha, UPHOFF (1992) encontrou que a relação custo/benefício dos componentes participativos de projetos de irrigação nas Filipinas e no Sri Lanka tinha taxas positivas de 1,5, bem acima da média dos demais. Além disto, uma avaliação específica dos projetos de Sri Lanka apontou uma taxa interna de retorno de 24%. Segundo o autor, aproximadamente metade dos benefícios dos projetos poderiam ser atribuídos aos seus componentes participativos, que demandavam menos que 10% dos custos totais das intervenções. Igualmente, os projetos de infra-estrutura dos PAPR foram 40% mais baratos quando implementados pelas comunidades. 95 2.4. Sustentabilidade das estratégias Sustentabilidade também é um termo de sentido amplo e com diversas interpretações para diferentes situações. No contexto deste estudo, está sendo utilizado o conceito de sustentabilidade de projeto, i.e., a extensão em que os stakeholders primários de uma intervenção desenvolvimentista continuarão a perseguir seus objetivos após o encerramento da implementação do programa/ projeto pela agência de desenvolvimento. A contribuição da participação para aumentar a sustentabilidade das estratégias de redução da pobreza pode ser indiretamente demonstrada pelo desempenho precário de programas/ projetos não-participativos. Estes tendem a ter custos mais altos. Tais custos incluem a não-utilização da estrutura física criada e a sua manutenção deficiente. Por exemplo, embora o “Kampung Improvement Program” na Indonésia tenha obtido sucesso na construção da infra-estrutura física, algumas facilidades não eram utilizadas e outras estavam quebradas devido a sua péssima manutenção. Estes problemas foram atribuídos, em parte, ao baixo nível de envolvimento dos stakeholders primários na implantação do programa, levando a inexistência de um sentimento de “propriedade” local. (BHATNAGAR e WILLIAMS 1992) Descobertas semelhantes foram feitas por Cernea (citado por KARL 2000), que analisou 25 projetos financiados pelo Banco Mundial para medir sua sustentabilidade. De acordo com o autor, 13 destes projetos foram considerados não-sustentáveis. Embora a razão primária deste problema tenha sido insuficiência de recursos, o não-envolvimento dos stakeholders primários na formulação e implementação dos projetos foi identificado como um fator importante para este insucesso. Os casos seguintes mostram que participação pode garantir a “propriedade” local e responsabilização pela manutenção das 96 estruturas criadas pelas intervenções desenvolvimentistas, incrementando a durabilidade dos seus benefícios. COIROLO E BARBOSA (2002) informam que cerca de 90% dos projetos que receberam financiamento dos PAPR de 1995 a 1997 continuam funcionando atualmente. Um estudo de NINAN (1998) avaliou 4 projetos de irrigação na Índia financiados por doadores europeus. Ele mostrou que a participação comunitária, particularmente das mulheres, resultou na formação de comitês locais que promoveram um grande senso de envolvimento das pessoas. Todos os comitês comprometeram-se a manter as estruturas criadas e a realizar outras atividades após o encerramento dos projetos. KATZ E SARA (sem data) conduziram um estudo sobre fornecimento de água em 1.875 domicílios em áreas rurais de comunidades carentes em 6 países. Eles descobriram que a sustentabilidade dos projetos é maior quando os stakeholders primários escolhem o tipo de sistema a ser construído e o nível do serviço que eles preferem. Interessantemente, a sustentabilidade era ainda maior quando a demanda era expressa diretamente pelos beneficiários, ao invés de sê-la via líderes locais ou representantes. Esta participação direta leva a um alto senso de “propriedade” local e promove uma maior disposição para pagar pela manutenção dos serviços. As diferentes contribuições da participação para a sustentabilidade, fruto dos diferentes níveis de envolvimento dos beneficiários, são confirmadas em outros estudos. Na primeira fase do SSP, como os agricultores não eram consultados sobre a escolha dos locais de instalação dos tanques de água, a manutenção da estrutura era negligenciada. Contrariamente, na segunda fase do programa, com o aumento da participação dos agricultores, a sustentabilidade foi incrementada, com organizações locais estabelecendo uma ligação direta com os serviços de extensão rural 97 e de crédito agrícola, responsabilizando-se pela manutenção da infraestrutura criada. De igual forma, o alto nível de participação dos beneficiários aumentou o senso de “propriedade” local da infra-estrutura criada pelo SRP. Os benefícios do projeto tornaram-se sustentáveis pela melhoria da capacidade de gerenciamento das comunidades e pelo treinamento dos profissionais do projeto e de membros da comunidade. Participação aumenta as chances dos programas/projetos serem sustentáveis porque os beneficiários, quando envolvidos, estão mais dispostos a manter as suas atividades, mesmo com a cessação dos recursos externos, e são mais aptos a fazê-lo, dado que a própria participação ajuda as pessoas a desenvolver as habilidades necessárias (KARL 2000). A presente seção tem tentado responder algumas questões relacionadas à ligação entre participação e redução da pobreza. A literatura sugere que o envolvimento dos beneficiários aumenta o impacto das estratégias de redução da pobreza por intermédio do empoderamento dos stakeholders primários e do aumento da efetividade, da eficiência e da sustentabilidade das intervenções desenvolvimentistas. Estas contribuições são inter-relacionadas e reinforçam-se sinergeticamente. Participação melhora a qualidade de vida dos pobres pela promoção de sua independência e auto-confiança e pelo aumento de suas capacidades, permitindo-lhes perseguir estratégias de sobrevivência mais sustentáveis. Quando empoderadas, as pessoas têm seus talentos e potenciais expandidos, sendo capazes de entender seus problemas e tomar atitudes para resolvê-los, de mobilizar novos recursos e de influenciar ou negociar em melhores condições com instituições de crédito, com empregados e dirigentes de órgãos públicos e de agências de desenvolvimento, com 98 lideranças locais, entre outros. Participação constrói, também, uma rede de proteção social para o pobre, que amortece os efeitos de choques adversos e impede que ele se aprofunde na miséria. Participação ajuda a focalizar os benefícios das intervenções desenvolvimentistas nos mais pobres. O envolvimento dos stakeholders primários no planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos direciona os seus produtos e serviços para os mais carentes e vulneráveis, evitando que sejam capturados pelos não-pobres e/ou pelas elites locais. Além disso, leva a uma mais eqüitativa distribuição dos seus benefícios porque impõe às agências de desenvolvimento a disponibilização de informações sobre os objetivos e recursos de seus programas/projetos, permitindo aos stakeholders primários controlar e supervisionar as suas atividades. Participação racionaliza o uso dos recursos e reduz os custos operacionais dos programas/projetos por meio das contribuições em espécie, do trabalho e outros insumos dos stakeholders primários, permitindo às agências de desenvolvimento aumentar a quantidade e qualidade de suas intervenções, maximizando os benefícios para os pobres. Ademais, a mobilização de recursos endógenos cria um incentivo positivo para a “propriedade” local e para a responsabilização, aumentando a sustentabilidade dos projetos e, desta forma, fazendo com que os pobres beneficiem-se por mais tempo das facilidades criadas. Os estudos de caso apresentados neste trabalho permitem ao autor afirmar, também, que diferentes níveis de participação proporcionam diferentes contribuições para a redução da pobreza. Baixos níveis de envolvimento dos beneficiários – como no “Water Supply Project” na Tanzânia, na primeira fase do “Self-help Support Programme” em Sri Lanka e na participação de jure na África do Sul – causam menores impactos sobre os resultados dos programas/projetos que altos níveis de participação – como no caso 99 ganense, no “Mvula Trust Programme”, nos “Projetos de Alívio da Pobreza Rural”, na segunda fase do “Self-help Support Programme”, no “Social Recovery Project” e na participação de facto na África do Sul. Um enfoque participativo que promova o envolvimento dos stakeholders primários no processo de decisão e melhore sua capacidade de auto-mobilização tende a aumentar o impacto das estratégias de redução da pobreza porque tornam os pobres mais capazes, informados, confiantes e pró-ativos para tomar iniciativas que resolvam os seus problemas. 3– DESAFIOS E DIFICULDADES PARA A PARTICIPAÇÃO Na seção anterior, pôde ser visto que o envolvimento dos stakeholders primários nas atividades dos programas/projetos aumenta a probabilidade das estratégias de redução da pobreza atingirem seus objetivos. Desta forma, se participação contribui para a incrementar os impactos das intervenções, por que as agências de desenvolvimento não adotam sempre processos participativos? Porque a participação dos beneficiários é um processo complicado e que não tem uma fórmula ideal. Ele padece de dificuldades de ordem econômica e social e limitações de tempo e de recursos, apresentando desafios de natureza pessoal, local, organizacional e comportamental para ser implementado (CHAMBERS 1993; CHAMBERS 1994; LEURS 1996). Particularmente, uma participação “real” ou de alto nível (i.e., o envolvimento dos stakeholders primários no processo de decisão e a melhoria de sua capacidade de auto-mobilização) requer um contexto socioeconômico adequado. Além disso, direta e intensiva participação dos beneficiários nem sempre é apropriado (The World Bank 2002a). É importante ter clareza sobre os objetivos e valores adicionados ao processo, 100 já que os custos de oportunidade para os envolvidos podem ser altos. Em alguns casos, a participação pode se restringir a apenas uma consulta às pessoas sobre as suas prioridades e interesses. Esta seção identifica os principais desafios e dificuldades para garantir uma “real” participação e sugere as mudanças necessárias. 3.1. Empoderamento dos beneficiários Empoderamento é agora um objetivo importante da maioria das intervenções desenvolvimentistas. Contudo, deve ser enfatizado que empoderamento, especialmente de pessoas pobres, permanece um ideal mais que uma realidade nos programas e projetos (EYBEN e LADBURY 1995). O estudo “Voices of the Poor”, conduzido em 60 países, mostra que uma característica comum da vida dos pobres é, ainda, um sentimento de ausência de poder e de voz, apesar dos esforços de empoderamento conduzidos nas últimas décadas pelas agências de desenvolvimento (The World Bank 2002a). O principal desafio para as agências é aprofundar o entendimento dos termos “participação” e “empoderamento”, reconhecendo suas complexidades, fortalezas e limitações (OAKLEY e CLAYTON 2000; CLEAVER 1998). Os próximos três estudos de caso destacam esta questão. MICHENER (1998) analisou o uso da participação em um projeto de educação não-formal em Burkina Faso8. Ela observou que existe freqüentemente conflito entre as noções de participação e de empoderamento entre os diferentes stakeholders e este problema é indicativo da dubiedade dos conceitos. Neste caso, os profissionais de campo do projeto não estavam convencidos da 8 Embora esta não seja uma estratégia de combate à pobreza, strictu sensu, o caso foi selecionado devido a relevância das questões apresentadas. 101 retórica de empoderamento da “participação”. Eles não acreditavam que as comunidades eram capazes de assumir um papel relevante em seu próprio desenvolvimento. Para eles, “participação” era apenas uma formalidade. As perspectivas dos beneficiários também eram modeladas pelas suas experiências anteriores com as agências de desenvolvimento. Para eles, participação tinha pouco a ver com independência e empoderamento. Ao invés, era uma oportunidade para extrair recursos das agências. Semelhantemente, MATTHÄUS (sem data), analisando o Projeto “Prorenda Urbano e Regional” em Pernambuco, que apóia processos de desenvolvimento local sustentável, encontrou que, em alguns municípios, é muito difícil mobilizar os beneficiários. Existe um forte sentimento que cabe ao Poder Público fazer tudo e, portanto, eles não devem se envolver. BOTCHWAY (2001) examinou a noção de participação como base para o empoderamento no contexto de um projeto de desenvolvimento rural financiado pelos governos canadense e ganense chamado “Northern Regional Rural Integrated Program” (NORRIP). O método participativo do NORRIP não permitiu às pessoas definirem suas necessidades prioritárias e, desta forma, elas não foram empoderadas. De fato, as comunidades entraram em uma nova forma de dependência, em que precisavam de forças externas para manter o sistema de abastecimento de água9. O autor concluiu que o discurso da participação e do empoderamento seria uma nova ideologia em que as pessoas não decidem o que é relevante para elas e apenas envolvem-se nas atividades dos programas/ projetos sem mudar as condições socioeconômicas sob as quais elas têm de desenvolver-se. 9 Isto é o que Michener (1998) chama de “paradoxo do agente externo”: dependência tem sido criada no processo de promover participação e independência. 102 Esses estudos exemplificam a dificuldade de realizar os objetivos de quebrar a mentalidade de dependência dos pobres e aumentar o controle sobre suas vidas. Além disso, empoderamento implica não somente construir novas capacidades, mas, também, dar condições de empregar os novos conhecimentos e habilidades de forma produtiva. O caso camaronês abaixo destaca a necessidade de mudar as relações sociais tradicionais de maneira a permitir o empoderamento dos beneficiários. MAYOUX (2001) analisou a experiência de 7 programas participativos de micro-crédito na República dos Camarões em promover o empoderamento das mulheres. A autora identificou que a capacidade das mulheres para usar os créditos concedidos era seriamente limitada por relações hierárquicas no interior das famílias e dos grupos. Ela concluiu que, ao menos que os programas movamse de uma visão complacente sobre o poder da participação, eles podem tornar-se apenas mais uma forma cínica de auto-ajuda, onde os custos do desenvolvimento recaem sobre as mulheres. Diversas limitações para o empoderamento apresentam-se quando os recursos materiais são insuficientes. Osmani (2000) sugere que melhorar concomitantemente a situação econômica do pobre deva ser parte integral dos esforços de empoderamento, haja visto que um grupo de pessoas em situação de insegurança dificilmente será exitoso numa barganha com grupos mais poderosos. Além disto, é necessário reconhecer as dificuldades que os pobres enfrentam para sobreviver e que a capacidade das pessoas para auto-desenvolvimento é limitada, variável e altamente dependente de fatores externos (CLEAVER 1998). As necessidades econômicas dos pobres são enormes e assumir que eles poderão vencer esta situação sozinhos é ingenuidade. Um importante desafio organizacional para o empoderamento dos beneficiários de estratégias de redução da pobreza é a tendência das agências de desenvolvimento e dos doadores a limitar a 103 participação a apenas aspectos operacionais, evitando transferir poder sobre o gerenciamento dos recursos para os stakeholders primários. Por exemplo, Weiss (sem data), estudando a experiência comparada com fundos socioambientais na Amazônia, no Brasil e no Exterior, encontrou que as pressões de doadores para manter o controle sobre os recursos limitam a capacidade da comunidade de se ajudar e de obter financiamento para seus projetos. 3.2. Efetividade da estratégia Direcionar os esforços desenvolvimentistas para ir de encontro às necessidades dos mais pobres é uma das mais importantes contribuições da participação. Contudo, há desafios práticos para implementar enfoques participativos efetivos, como pode ser visto no caso do “North Western Province Dry Zone Participatory Development Project” (DZP) no Sri Lanka (KAR e BACKHAUS 1994). De acordo com os autores, o problema é que sendo baseado num planejamento participativo, mas, por outro lado, tendo de trabalhar com um conjunto pré-estabelecido de atividades e objetivos, o DZP inevitavelmente caia em contradição quando as prioridades dos membros das comunidades não coincidiam com o catálogo de serviços disponíveis do Projeto. Assim, os esforços para promover a participação dos beneficiários eram parcialmente desperdiçados. Uma outra dificuldade para a focalização dos benefícios das intervenções desenvolvimentistas é a tendência dos métodos participativos de misturarem os conceitos de “comunidade” e “público-alvo”. Erroneamente assume-se que a “comunidade” ou o “grupo” é facilmente identificado, apesar das consideráveis evidências sobre a subjetiva e mutável natureza de sua composição (CLEAVER 1998). 104 3.3. Eficiência das estratégias Embora a participação dos beneficiários possa maximizar o uso dos recursos dos programas/projetos, ela tende, em algumas situações, a aumentar os custos operacionais e de transação das intervenções desenvolvimentistas. Esses custos adicionais da participação têm sido amplamente apontados na literatura. Bhatnagar e Williams (citado por KARL 2000), em um estudo do Banco Mundial, identificaram que projetos participativos freqüentemente requerem um maior esforço de planejamento do que os não-participativos. Mais tempo também é necessário para os processos de identificação e de consulta dos grupos e organizações que devem ser envolvidas, para alcançar a concordância dos diferentes stakeholders e para construir uma confiança mútua. KARL (2000), numa pesquisa do Banco Mundial, igualmente encontrou que participação aumenta o orçamento da intervenção: projetos participativos gastam de 10% a 15% a mais para pagar o seu pessoal e outros envolvidos. Deste valor, 2/3 são para a inclusão de especialistas em técnicas participativas. Adicionalmente, estes projetos exigem uma supervisão mais intensa durante as primeiras etapas de implementação: 27 semanas, em média, contra 17 de projetos não-participativos. Além de aumentar as despesas de implementação dos programas/projetos, participação impõe custos de oportunidades aos envolvidos. Ela demanda tempo e energia dos stakeholders. As pessoas pobres, normalmente, não têm disponibilidade para participar de reuniões, especialmente quando isto as obriga a afastarse da produção (KARL 2000). Participação tem se tornado uma demanda pesada para os stakeholders primários (MICHENER 1998). Argumentos para justificar o custo-eficiência da participação têm se defrontado com 105 acusações que esta eficiência resulta na destinação menor de recursos por parte das agências e dos doadores, com a transferência dos custos operacionais para os beneficiários (OAKLEY 1991). Um outro significativo custo da participação é a capacitação específica que ela demanda. Processos participativos requerem que todos os stakeholders, desde os beneficiários até os diretores das agências de desenvolvimento, sejam devidamente treinados. Particularmente, os profissionais das agências devem ser capacitados em técnicas participativas e facilitadores habilitados devem ser identificados e contratados (KARL 2000). 3.4. Sustentabilidade das estratégias De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre o SRP, participação da comunidade e “propriedade” local são précondições para a manutenção da infra-estrutura física criada pelos projetos, porém elas de per si não garantem sustentabilidade. O documento destaca que não somente os beneficiários têm que ser envolvidos, mas novos papéis e responsabilidades têm que ser assumidos. Além disso, é necessário providenciar conhecimento técnico e recursos financeiros para que a manutenção possa ser efetuada. Esta seção identificou os principais desafios e dificuldades para implementar estratégias participativas. Eles foram agrupados em termos de empoderamento, efetividade, eficiência e sustentabilidade. Empoderamento requer uma “real” participação dos stakeholders primários nas decisões e atividades determinantes das intervenções desenvolvimentistas. Contudo, os mecanismos de empoderamento são complexos e dependentes de recursos externos. 106 Os beneficiários necessitam ganhar novas habilidades, capacidades, direitos e responsabilidades. Isto demanda mudanças em todos os níveis. Organizações públicas e privadas e agências de desenvolvimento devem criar um ambiento propício e providenciar oportunidades para a participação. A efetividade das estratégias participativas é limitada pelo modus operandi das agências de desenvolvimento e pelos organismos doadores. Eles tendem a ser burocráticos, a impor objetivos “de cima para baixo” e a definir orçamentos rígidos, o que impede uma “real” participação. Ademais, uma visão do públicoalvo como uma comunidade homogênea e unida atrapalha uma melhor focalização e cobertura. Como participação demanda um maior desenvolvimento dos recursos humanos, mais tempo e treinamento que enfoques nãoparticipativos, estes custos adicionais podem reduzir as vantagens de custo-eficiência das intervenções participativas. Sustentabilidade requer “propriedade” local dos programas/ projetos. Desta forma, os beneficiários são desafiados a assumir novos papéis e responsabilidades, demandando capacitação específica e uma problemática e, algumas vezes, conflituosa redistribuição de poder e recursos entre os diferentes stakeholders. Muitos desses desafios e dificuldades podem ser vencidos, mas alguns são mais difíceis de resolver. Participação irá permanecer limitada e insustentável se não forem criadas as oportunidades e os mecanismos para o envolvimento dos stakeholders primários nos processos de decisão e de alocação de recursos, especialmente em nível local. Participação implica que a voz dos beneficiários seja fortalecida de maneira a influenciar os contextos socioeconômicos em que eles estão inseridos. Assim, faz-se necessário, primeiro, estabelecer instituições locais que sejam focadas nos mais pobres, sujeitas ao controle social, estáveis e flexíveis e, segundo, mudar as atitudes e comportamentos dos diversos stakeholders de maneira 107 a permitir uma “real” participação. Adicionalmente, como participação envolve custos e benefícios, ela deve ser otimizada (i.e., um nível suficiente para atingir os resultados desejados), ao invés de maximizada. Desta forma, métodos participativos que sejam contexto-específicos, que tenham baixo custo operacional para as agências e alto retorno para os pobres devem ser adotados. 4 Conclusões e recomendações O tamanho e a complexidade do desafio de combater a pobreza têm criado a necessidade de identificar-se novas maneiras de atacar o problema. O envolvimento dos beneficiários nas atividades das estratégias de redução da pobreza é parte de um inovador e poderoso enfoque para o desenvolvimento. O presente estudo analisou as contribuições da participação para a redução da pobreza. Ele identificou que participação aumenta o impacto das estratégias por meio do empoderamento dos beneficiários e pelo incremento da efetividade, da eficiência e da sustentabilidade das intervenções desenvolvimentistas. Desta maneira, participação melhora a qualidade de vida dos pobres, constrói sua rede de proteção social, ajuda a focar os benefícios dos programas/projetos para os mais carentes e aumenta a qualidade e quantidade das intervenções. Evidências da literatura apontadas aqui confirmam essas contribuições. Mais importante, os estudos de caso indicam que uma participação “real” – aquela que envolve os stakeholders primários no processo de decisão e aumenta sua capacidade de auto-organização – potencializa os impactos das estratégias de redução da pobreza. Contudo, garantir uma “real” participação dos beneficiários não é fácil e sem problemas. Particularmente, estratégias 108 participativas são afetadas por dificuldades sociais, econômicas, de tempo e de recursos e existem desafios de ordem pessoal, local, organizacional e comportamental para a sua implementação. Considerando todos esses pontos, são apresentadas, a seguir, recomendações para futuras políticas públicas. Estas sugestões podem ajudar a superar os desafios e as dificuldades identificados e a maximizar as contribuições da participação dos beneficiários nas estratégias de redução da pobreza. Primeiramente, dada a extensão da contribuição da participação para a redução da pobreza, conforme visto neste trabalho, a óbvia implicação para as políticas é que maiores investimentos devem ser feitos em estratégias participativas. Os stakeholders primários devem ser envolvidos em todas as fases dos programas/projetos: formulação, implementação, monitoramento e avaliação. As contribuições da participação não podem ser completamente realizadas quando ela está limitada a apenas um estágio em particular. Além disso, organizações públicas e privadas e agências de desenvolvimento devem oferecer oportunidades para a participação efetiva dos beneficiários nos processos de decisão e de alocação de recursos e devem apoiá-los nas suas iniciativas de auto-organização. Em segundo lugar, os stakeholders primários devem ser capacitados para coletar e analisar informações, para realizar o diagnóstico dos problemas locais e identificar soluções, para negociar diferentes interesses e opiniões e para articular as partes envolvidas. Ademais, tempo suficiente deve ser dado para o treinamento em métodos participativos e para que os comportamentos e atitudes sejam adaptados. Terceiro, as agências de desenvolvimento devem ser flexíveis no desenho e implementação dos programas/projetos. Elas devem ser menos burocratizadas, adotar um enfoque de aprendizagem organizacional, fortalecer os mecanismos de controle social e serem orientadas por demanda. 109 Quarto, as agências de desenvolvimento devem identificar e utilizar organizações locais que sejam mais sensíveis às demandas e necessidades dos pobres e abertas à participação dos beneficiários. Ao mesmo tempo, elas devem lutar contra instituições, redes e regras existentes que produzam exclusão e desigualdade social (MAYOUX 2001). Quinto, as agências de desenvolvimento devem reconhecer que o seu público-alvo é formado por grupos de indivíduos heterogêneos, com interesses diferentes e, em alguns casos, antagônicos. A intervenção deve ser apropriada às necessidades dos grupos mais carentes e um enfoque negocial deve ser adotado para solucionar os conflitos gerados (LEEUWIS 2000). Sexto, as agências de desenvolvimento devem adotar métodos participativos que sejam apropriados ao contexto local e aos objetivos da intervenção, que não aumentem significativamente os custos operacionais dos programas/projetos e os custos de oportunidade dos envolvidos. A adoção dessas recomendações e o desenvolvimento de novos enfoques participativos podem melhorar a situação dos pobres. Pobreza é um problema sério e complexo e sua redução dependerá de um grande e persistente esforço e da utilização de estratégias apropriadas. 110 BIBLIOGRAFIA ALCOCK, P. 1997. Understanding Poverty. 2a. ed. Nova Iorque: Palgrave. BARROS, R.P., HENRIQUES, R., MENDONÇA, R. 2001. “A Estabilidade Inaceitável: Desigualdade e Pobreza no Brasil”. Texto para discussão nº 800. Rio de Janeiro: IPEA. BHATNAGAR, B. e WILLIAMS, A.C. 1992. “Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for Change”. World Bank Discussion Paper n. 183. Washington: The World Bank. BORTEI-DOKU, E. 1991. “People’s Participation Project: Ghana”. In PETER OAKLEY (ed.) Projects With People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Office. BOTCHWAY, K. “Paradox of Empowerment: Reflections on a Case Study from Northern Ghana”. World Development, Volume 29, n. 1, 2001: pp. 135-153. CHAMBERS, R. 1983. Rural Development: Putting the Last First. Londres: ITP. CHAMBERS, R. 1993. Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development. Londres: ITP. CHAMBERS, R. “Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm”. World Development, Volume 22, n. 10, 1994: pp. 1437-1454. 111 CLEAVER, F. 1998. Paradoxes of Participation: a Critique of Participatory Approaches to Development. Paper apresentado na Conferência ‘Participation – The New Tyranny?’, University of Manchester. Material não publicado. COIROLO, L. e BARBOSA, T. “Desenvolvimento Rural e Alívio da Pobreza no Nordeste do Brasil”. Em Breve, n. 11, 2002. DFID. 1995. Stakeholder Participation and Analysis. Londres: Department for International Development. EYBEN, R. e LADBURY, S. 1995. “Popular Participation in Aid-Assisted Projects: Why more in Theory than Practice?” In NELSON, N. e WRIGHT, S. (eds.) Power and Participatory Development: Theory and Practice. London: ITP. GROOTAERT, C. 2001. “Does Social Capital Help the Poor? A Synthesis of Findings from the Local Level Institutions Studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. Local Level Institutions”. Working Paper n. 10. Washington: The World Bank. HODDINOTT, J., ADATO, M., BESLEY, T., HADDAD, L. 2001. “Participation and Poverty Reduction: Issues, Theory, and New Evidence from South Africa”. FCND Discussion Paper n. 98. Washington: International Food Policy Research Institute. KAR, K. e BACKHAUS, C. 1994. “Old Wine in New Bottles? Experiences with the Application of PRA and Participatory Approaches in a Large-Scale, Foreign-Funded Government Development Programme in Sri Lanka”. Material não publicado. KARL, M. 2000. “Monitoring and Evaluating Stakeholder 112 Participation in Agriculture and Rural Development Projects: a Literature Review”. (http://www.fao.org/sd/Ppdirect/Ppre0074.htm) KATZ, T. e SARA, J. “Making Rural Water Supply Sustainable: Recommendations from a Global Study”. UNDP-World Bank Water and Sanitation Program. (http://www.wsp.org/pdfs/ global_ruralstudy.pdf) LEEUWIS, C. “Reconceptualizing Participation for Sustainable Rural Development: Towards a Negotiation Approach”. Development and Change, Volume 31, 2000: pp. 931-959. LEURS, R. “Current Challenges Facing Participatory Rural Appraisal”. Public Administration and Development, Volume 16, 1996: pp. 57-72. MATTHÄUS, H. “Apoio a Processos de Desenvolvimento Local Sustentável: o Projeto PRORENDA Urbano e Regional/ PE”. (http://www.femica.org.gt/documentos/base_documental/ VIIRED/horst_mattaus2.htm) MAYOUX, L. “Tackling the Down Side: Social Capital, Women’s Empowerment and Micro-Finance in Cameroon”. Development and Change, Volume 32, 2001: pp. 435-464. MICHENER, V.J. “The Participatory Approach: Contradiction and Co-option in Burkina Faso”. World Development, Volume 26, n. 12, 1998: pp. 2105-2118. NARAYAN, D. 1995. “The Contribution of People’s Participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects”. 113 Environmentally Sustainable Development Occasional Paper Series n. 1. Washington: The World Bank. NINAN, K.N. 1998. “An Assessment of European-aided Watershed Development Projects in India from the Perspective of Poverty Reduction and the Poor”. CDR Working Paper 98.3. Copenhagem: CDR. OAKLEY, P. 1991. Projects with People: the Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Office. OAKLEY, P. e CLAYTON, A. 2000. The Monitoring and Evaluation of Empowerment: a Resource Document. Oxford: INTRAC. OAKLEY, P., PRATT, B., CLAYTON, A. 1998. “Outcomes and Impact: Evaluating Change in Social Development”. INTRAC NGO Management and Policy Series No. 6. Oxford: INTRAC. OSMANI, S.R. 2000. “Participatory Governance, People’s Empowerment and Poverty Reduction”. UNDP/SEPED Conference Paper Series n. 7. (www.undp.org/seped/publications/empower_pov_red.pdf) RUDQVIST, A. e WOODFORD-BERGER, P. 1996. “Evaluation and Participation: Some Lessons”. SIDA Studies in Evaluation 96/1. Estocomo: SIDA. SAMARANAYAKE, M. 1998. “Introducing Participatory Learning Approaches in the Self-help Support Programme, Sri Lanka”. In BLACKBURN, J. e HOLLAND, J. (eds.) Who 114 Changes? Institutionalizing Participation in Development. Londres: ITP. THERKILDSEN, O. 1991. “The Desirable and the Possible: Participation in a Water Supply Project in the United Republic of Tanzania”. In OAKLEY, P. (ed.) Projects With People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva: International Labour Office. THE WORLD BANK. 1999. “Zambia: The Social Recovery Project’s Community Initiatives Component”. Africa Region Findings n. 137. (http://www.worldbank.org/afr/findings/english/find137.htm) THE WORLD BANK. 2002a. “Empowerment and Poverty Reduction: a Sourcebook”. (http://www.worldbank.org/ poverty/empowerment/sourcebook/draft.pdf) THE WORLD BANK. 2002b. “Community Driven Development Case Study: Mvula Trust”. (http:// wbln0018.worldbank.org/essd/CDDWk2000.nsf/ 9a0da286b06474fe852569f30061c879/ 7c1e339e4f2661f685256a480065bed6?OpenDocument) UPHOFF, N. 1992. “Monitoring and Evaluating Popular Participation in World Bank-Assisted Projects”. In BHATNAGAR, B. e WILLIAMS, A.C. (eds.) Participatory Development and the World Bank: Potential Directions for Change. World Bank Discussion Paper n. 183. Washington: The World Bank. WEISS, J.S. “Experiência Comparada com Fundos 115 Socioambientais na Amazônia, no Brasil e no Exterior”. (http:// www.nepam.unicamp.br/ecoeco/artigos/iv_en/plenaria/3.pdf) * Willber da Rocha Severo é Administrador, com Mestrado em “Desenvolvimento e Redução da Pobreza” pela Universidade de Birmingham (Inglaterra), e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 116 Erick Brigante Del Porto Fome Zero e controle social: a experiência dos Comitês Gestores do Programa Cartão Alimentação INTRODUÇÃO O objetivo deste trabalho é fazer um breve relato da rica experiência dos Comitês Gestores do Progra ma Cartão Alimentação do Fome Zero. Dessa forma, não se preocupa com resgatar as construções teóricas referentes à política social, ao debate focalização X universalização, ao controle social, à transparência e à participação popular. Sem prejuízo do debate teórico sobre o tema, dar-se-á foco na experiência vivida em 2003. Os Comitês Gestores, criados para serem uma instância de efetivo controle social do programa, foram fundamentais para o desenvolvimento de um novo modo de fazer política social no Brasil. Talvez tenha sido esse o grande diferencial deste programa de transferência de renda vinculado à questão da segurança alimentar, a despeito de diversas iniciativas existentes em governos anteriores. Por fim, faz-se uma defesa dessa experiência, num momento de unificação dos programas de transferência de renda por meio do Programa Bolsa Família. 1. O Programa Fome Zero Dentre as prioridades definidas pelo governo federal já na 117 sua posse, em 2003, a que mereceu mais destaque, tendo imensa repercussão nacional e internacional, foi o combate à fome. Partindo da constatação da existência de “9,324 milhões de famílias (correspondendo a 44.043 milhões de pessoas) pobres em 1999, sendo que praticamente metade delas reside na região Nordeste”1, o atual Governo Lula alçou o problema da fome, reincidentemente ignorado pelas forças políticas desse país, à condição de primeira prioridade. Tal fato, em si de grande relevância, mostra-se ainda mais emblemático quando observamos que seu grande mentor, o Presidente da República, teve origem nas camadas mais pobres de nossa população. Lançado em 2001, pelo Instituto Cidadania, organizaçãonão-governamental de São Paulo, o Projeto Fome Zero ganhou, a partir de 2003, roupagem governamental, ou seja, iniciou-se sua transformação em política pública. Evidentemente, isso exigiu diversos passos, desde a criação do Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome – MESA, arranjos institucionais e orçamentários, passando pela formação de equipes e definição de prioridades. Dessa forma, o projeto foi ganhando porte de política pública. Por tratar-se da maior prioridade do novo governo e estar presente em todos os órgãos de mídia, por conta de uma gigantesca campanha publicitária, o Fome Zero não tardou a receber uma saraivada de críticas e desqualificações, muitas vezes demonstrando a falta de conhecimento do que se propunha com o projeto. As críticas centraram-se, basicamente, sobre dois pilares: o estímulo às doações e o Programa Cartão Alimentação, o qual, como veremos mais adiante, transferia R$ 50,00 por família pobre cadastra1 TAKAGI, Maya, GRAZIANO, José, DEL GROSSI, Mauro Eduardo Pobreza e Fome: Em busca de uma metodologia para quantificação do problema no Brasil, Texto para Discussão, IE UNICAMP, Campinas, n° 101, julho de 2001 118 da. Como se tais ações dessem ao Fome Zero um cunho meramente assistencialista. Antes, porém, de tratarmos dessa questão, examinemos, sumariamente, o que é o Fome Zero. O Projeto Fome Zero, que viria se tornar Programa Fome Zero, estabelece o combate à fome com a abertura de três frentes principais e concomitantes de trabalho: 1. o desenvolvimento de políticas estruturantes que possam criar as condições para o desenvolvimento macroeconômico e a geração de empregos, para impulsionar o setor agrícola, inclusive a agricultura familiar, e para a universalização das políticas básicas de saúde e educação; 2. o desenvolvimento de políticas locais de incentivo à produção e comercialização de gêneros alimentícios no local, desenvolvimento de pequenos negócios geradores de trabalho e renda, além de iniciativas de pequenas obras, principalmente no que se refere ao abastecimento de água; 3. o desenvolvimento de políticas específicas, como o incremento da merenda escolar, e de políticas e ações emergenciais, como os programas de transferência de renda, a disponibilização emergencial de água com os carros pipa (na região do semi-árido), e até a distribuição de cestas básicas em situações especiais ou a grupos específicos, como indígenas, quilombolas e trabalhadores de “lixões”. No âmbito desse último grupo de políticas, foco deste trabalho, criou-se o Programa Cartão Alimentação – PCA, que distribuía recursos financeiros, por meio de cartão magnético, às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Vejamos como se deu sua implementação. 2. SEGURANÇA ALIMENTAR E O PROGRAMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO (PCA) De acordo com os estudiosos da segurança alimentar, dentre 119 eles alguns autores do Projeto Fome Zero, uma pessoa ou família encontra-se em situação de insegurança alimentar quando não consegue alimentar-se de maneira digna, em quantidade e qualidade adequadas e regulares. Para estas famílias, foi desenvolvido o PCA, que distribuía a quantia de R$ 50,00 para a aquisição de alimentos. O PCA foi criado no início do ano de 2003. Extraído do Projeto Fome Zero, é um programa de transferência de renda criado para um público em situação de insegurança alimentar e nutricional estimado em torno de 40 milhões de pessoas, como vimos anteriormente. A implantação do PCA coube ao MESA, órgão que deveria implementar e coordenar as diversas ações do Fome Zero. Caberia ao MESA, também, articular ações de outros órgãos públicos que desenvolveriam ações no âmbito do programa. Especificamente, no caso do PCA, tratava-se de articular o Ministério da Assistência Social e Caixa Econômica Federal, por conta do Cadastro Único, sobre o qual discorreremos mais adiante, Estados e Municípios e sociedade civil para a mobilização necessária para a implementação do programa. O PCA tinha como meta atingir cerca de mil municípios em 2003, prioritariamente da região do semi-árido nordestino e do norte de Minas Gerais, e menores que 50 mil habitantes. No entanto, a celeridade da implantação, as demandas colocadas pelos movimentos sociais e a pressão por resultados fizeram com que, em agosto, o PCA já atingisse 1.191 municípios brasileiros do semiárido, com até 75 mil habitantes. Tornou-se possível, também, a sua expansão para as regiões dos Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD)2, outra iniciativa do 2 A formação de Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local (CONSAD) constitui uma estratégia de para formação de uma nova institucionalidade destinada a promover a articulação de ações e parcerias no âmbito do território. Municípios que estivessem na região dos CONSAD também receberiam, prioritariamente, a capacitação para o recebimento do Cartão-Alimentação (PCA). 120 MESA. Em outubro atingiu-se a marca de 1 milhão de famílias que receberiam o recurso do PCA e encerrou-se o ano de 2003 com quase 2 milhões de famílias, de mais de 2 mil e 300 municípios recebendo o PCA, como ilustram as Tabelas 1 e 2. Tabela 1 – Evolução do número de municípios atendidos pelo Programa Cartão Alimentação do Fome Zero Fonte: Sistema Fome Zero - MESA 121 Tabela 2 - Evolução do número de famílias pagas pelo PCA, validadas pelos Comitês Gestores Locais Fonte: Sistema Fome Zero - MESA 122 Além dessa evolução expressiva na transferência de renda para famílias em situação de insegurança alimentar, outro resultado do PCA deve ser destacado: a constituição e o trabalho dos Comitês Gestores do PCA. Estas instâncias de participação popular eram formadas por, até, 11 membros da comunidade, que tinham como tarefas básicas a escolha dos beneficiários do Programa Cartão Alimentação e o acompanhamento das condicionalidades do Programa. Poucas experiências de políticas participativas passadas, em especial as posteriores à Constituição de 19883, avançaram tanto na efetiva participação da comunidade na gestão de um programa. Dessa forma, quando meramente observamos a evolução do número de famílias pagas nos municípios atendidos, não atentamos para o fato de que elas foram “validadas”, isto é, escolhidas por um comitê gestor local que identificou, analisou e acompanhou a evolução dessas famílias no decorrer do programa4. Mais que acompanhar os gastos da família5, fato tão explorado pela mídia brasileira e pelos críticos do programa, o comitê 3 A Constituição de 1988 dá destaque à participação popular e ao controle social das políticas sociais. 4 O ritmo de implementação do Programa Cartão Alimentação foi plenamente satisfatório, quando se compara sua evolução com a de outros programas como o Bolsa Alimentação do Ministério da Saúde e o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do então Ministério de Assistência Social, relatado em Balsadi (2003) 5 Saliente-se ainda que, diferentemente do que foi amplamente divulgado, a nota fiscal de venda ao consumidor não era a única forma de comprovação dos gastos com alimentos por parte das famílias e que a iniciativa da comprovação tinha caráter educativo direcionado para uma alimentação de melhor qualidade. Obviamente, estabelecimentos formais têm por obrigação a emissão de nota fiscal. Nunca se definiu lista de alimentos para compra; os produtos excluídos eram exclusivamente os refrigerantes, cigarros e bebid as alcóolicas. 123 teve o papel fundamental de auxiliar na promoção da cidadania das pessoas excluídas, por meio do mais básico dos direitos humanos: o direito à alimentação digna, realizada com quantidade, qualidade e regularidade adequados, ou seja, o direito à segurança alimentar. 3. O COMITÊ GESTOR O Comitê Gestor do PCA foi criado em cada um dos municípios atendidos pelo programa. Ele foi a peça fundamental e necessária para a escolha e acompanhamento das famílias e a multiplicação dos conceitos de segurança alimentar, direitos humanos e cidadania. A estratégia de formação do comitê foi a seguinte: cada município foi representado, em um treinamento promovido por técnicos do MESA, por duas pessoas escolhidas para serem multiplicadores, conhecidos como Agentes Locais de Segurança Alimentar – ALSA, um representando o poder público e outro a sociedade civil. Cada ALSA, portanto, é escolhido de uma forma: o ALSA que representa o poder público local é indicado pelo prefeito municipal e o ALSA que representa a sociedade civil é escolhido através de assembléia pública realizada a partir da mobilização das entidades e movimentos sociais identificados naquela comunidade, mobilização esta promovida por parceiros do MESA, quais sejam, técnicos do Banco do Nordeste, membros da ONG ASA (Associação do Semi-Árido) e Talher Nacional6, basicamente. 6 O Talher Nacional é o grupo de educadores e mobilizadores sociais constituído para trabalhar no âmbito da sociedade civil o Programa Fome Zero. Para maiores informações, acesse www.fomezero.gov.br 124 Tabela 3 Municípios Capacitados e Comitês Gestores Formados em 2003 Brasil, Grandes Regiões e Estados Fonte: BALSADI, 2003 125 Os ALSA de diversos municípios do mesmo Estado eram reunidos em um município-pólo e participavam da capacitação desenvolvida pelo Departamento de Capacitação de Agentes Sociais do MESA, em um curso de 40 horas. Nesse curso, discutiam-se os conceitos de fome, segurança alimentar e controle social, Projeto Fome Zero e o PCA, o Cadastro Único dos programas sociais e o Sistema Fome Zero criado pelo Ministério da Saúde7. Partindo da constatação de que nos pequenos municípios, essencialmente os do semi-árido nordestino, há incipientes mobilizações da sociedade civil, optou-se por utilizar assembléias populares para a formação dos comitês gestores. Essas assembléias populares de eleição dos comitês deveriam ser precedidas de reuniões dos setores envolvidos em sua composição. Assim, estimulava-se a mobilização das associações religiosas, dos conselhos municipais de política social, dos agentes comunitários de saúde, das associações comunitárias, dentre outros. A realização da assembléia popular celebrava a mobilização dos diversos segmentos organizados da sociedade local e a população local, reunida numa praça, num ginásio local, mesmo nas ruas, elegia os seus representantes. Os únicos assentos no comitê que eram definidos por indicação eram as representações do poder público municipal, do poder público estadual e do sindicato dos trabalhadores rurais. 7 Para conhecimento do conteúdo da capacitação dos Agentes Locais de Segurança Alimentar ver a Cartilha de Capacitação criada pelo corpo técnico do MESA. 126 Os Comitês Gestores criados tinham como tarefa fundamental selecionar as famílias participantes e acompanhá-las em seu processo de melhoria nutricional e comprometimento com sua emancipação. E como era feito isso? O Comitê Gestor de um município elegia, dentre seus membros titulares, um portador para a senha de operação e outro para a senha de visualização, esta devendo ser partilhada entre todos. Isto significava que uma pessoa operaria no Sistema Fome Zero8 as decisões tomadas pelo colegiado do comitê, enquanto todas as outras, de uso da senha de visualização poderiam observar se estava sendo feito o combinado. Isto permitiu que os diversos segmentos presentes no comitê pudessem acompanhar a seleção de famílias para pagamento do PCA. Por força de lei, as famílias potenciais beneficiárias deste programa deveriam estar cadastradas no Cadastro Único9 federal, então sob gestão do Ministério de Assistência Social e operado pela Caixa Econômica Federal. Percebe-se, portanto, que não há e nunca houve nenhum novo cadastramento (a não ser para o próprio Cadastro Único) para famílias carentes que poderiam receber o PCA. O que havia, fato não esclarecido suficientemente para a população, era a validação desse cadastro por parte do Comitê Gestor. A partir da disponibilização pela internet, no endereço acima apontado, da lista de famílias do Cadastro Único daquele município, filtradas pelos critérios do PCA10, os comitês apontavam den8 Ver em www.saude.gov.br/fomezero Não é objeto deste trabalho tratar da concepção e experiência do Cadastro Único do governo federal. 10 A pontuação das famílias que resultava no ranking de potenciais beneficiários correspondia à análise das seguintes informações presentes no Cadastro Único: renda familiar per capita até R$ 120,00; número de idosos, deficientes ou portadores de doenças crônicas; presença de gestantes, nutrizes ou crianças menores de 6 anos; mulheres chefes de família; relação de emprego, terra e trabalho. 9 127 tro de um teto de pagamento, quais famílias deveriam receber o PCA. Por exemplo, o comitê acessava a base do Cadastro Único de seu município e observava mil famílias, potenciais beneficiárias do PCA, mas tinha de trabalhar com um teto de pagamento do programa definido para aquele município de 700 vagas. O comitê, portanto, tinha de escolher dentre aquelas mil famílias, as 700 que receberiam o PCA. Para essa avaliação, o comitê deveria selecionar aquelas que considerava mais prioritárias para o recebimento do programa, uma vez que é a sociedade local que conhece a efetiva e dinâmica situação de vida da comunidade, ainda que tivesse de realizar aquela cruel tarefa de escolher entre os “mais pobres dos pobres”. Houve alguns casos, no entanto, em que existia um déficit de cadastrados, razão pela qual sobravam vagas para o programa em determinados municípios. Desta forma, a gestão do PCA em nível municipal era co-partilhada, uma vez que o poder público cadastrava as famílias no Cadastro Único, o que já vinha fazendo desde sua criação em 2001, e o Comitê Gestor validava e determinava quais deveriam ser as famílias a ter prioridade no recebimento do PCA. Evidentemente, isto não foi fácil, uma vez que as pessoas eleitas para o comitê, quando tomavam real consciência de sua responsabilidade, muitas vezes se questionavam se isso não lhes acarretaria problemas na comunidade local. A experiência mostrou que os comitês gestores atuaram na verificação do cadastro excluindo, dos potenciais beneficiários do PCA, cerca de 30% das famílias11. Todo este processo era realizado através da internet e, a despeito da precariedade, quando não da simples ausência de computadores, fato não pouco comum, o trabalho foi razoavelmente executado. 11 Atentar que os comitês gestores não excluíam famílias do Cadastro Único e sim da listagem filtrada deste dos potenciais beneficiários do PCA. Dados da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária – SEPCS/MESA 128 Estamos falando, assim, de um poderoso instrumento de democratização do acesso às informações, de efetiva participação em uma política pública e de um processo de mobilização social importantíssimo. 4. BREVE ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA Obviamente, houve problemas. Comitês “manipulados” pela estrutura de poder local não são casos excepcionais, acarretando diversos problemas, entre os quais, o desestímulo, muitas vezes, das pessoas envolvidas. Entretanto, a forma de funcionamento do PCA nesses municípios, por meio da estruturação do Comitê Gestor, auxilia na exposição clara de casos como esse. E os conflitos se evidenciam. Há diversas considerações que podem ser feitas a partir dos argumentos de que os comitês serão peças fáceis de manipulação do poder local. Por um lado, por que isso não se comprova com a experiência vivida pela equipe do Cartão Alimentação. Como disse anteriormente, a “manipulação” por parte do poder local contribui para outro aspecto interessante: o processo de amadurecimento político da comunidade local. Isso se evidencia pelo elevado número de atas de formação dos comitês gestores com elevado número de participantes, pelas fotos, vídeos e depoimentos que obtemos, pelo grau de exposição e co-responsabilidade desse comitê, fazendo com que a comunidade local acompanhe o seu dia-a-dia. Além disso, as “denúncias” recebidas atestam que, antes de indicar qualquer irregularidade, elas representam a indignação com a não transparência por parte dos operadores do programa na escolha e acompanhamento das famílias selecionadas. Evidentemente, o processo de amadurecimento político daquelas pequenas comunidades obedece às circunstâncias locais e 129 caminha de maneira diferente nos diversos municípios. Os graus de mobilização, articulação e associativismo variam de um para outro. No entanto, a implementação do PCA permitiu a essas comunidades um avanço no sentido de construir de maneira efetiva o chamado “controle social” ao co-dividir as responsabilidades reais na operação do programa. Uma vez que o Comitê Gestor era o responsável pela validação das famílias a serem atendidas, responsabilizando-se por conhecê-las e acompanhá-las, isso confronta a estrutura de poder local em muitos municípios. Trazer para a sociedade civil local, a responsabilidade pela “escolha” das famílias, é uma experiência interessante, ainda mais quando a responsabilidade de cadastrar é da prefeitura municipal. Não são raros os casos em que as pessoas se assustam e temem por essas responsabilidades: e o que dizer ao prefeito local e às “importantes” famílias locais? O PCA, portanto, por meio de sua metodologia de criação de comitês gestores locais como instrumento de controle social, mostrou-se uma importante e relevante experiência no “despertar” da comunidade local para a efetividade do “controle social”. Um dos entraves, entretanto, é que não havia formas de controle público do cadastramento das famílias sob responsabilidade da prefeitura municipal. Ainda que as informações sejam declaradas ao cadastro, ou seja, são, em tese, de responsabilidade do declarante, ocorrem problemas em que o poder público não cadastra famílias de posições políticas “contrárias” às suas, ou ainda, que não são cadastradas simplesmente por negligência12. Dessa forma, famílias que não estão efetivamente cadastra12 É importante colocar que o Cadastro Único não tem “metas” ou número mínimo ou máximo de cadastros possíveis, uma vez que estar cadastrado significa ser “potencial” beneficiário de algum programa público, em especial os de transferência de renda. Assim, devem ser cadastradas todas as famílias que se enquadrem em seus critérios. 130 das no Cadastro Único do governo federal ficam de fora dos programas de transferência de renda. Assim, a mobilização causada pela implantação do PCA contribuiu por um lado para a validação do cadastro para pagamento, pois é a comunidade local quem efetivamente conhece e acompanha as famílias que moram no local, e por outro essa mobilização contribuiu para que o poder público fosse acionado para que procedesse à inclusão de famílias ainda não cadastradas no Cadastro Único. Isto contribuiu para que ficassem evidentes as respectivas responsabilidades: o poder público municipal cadastrava famílias no Cadastro Único e o comitê gestor local validava esta lista para o recebimento do PCA e identificava famílias carentes fora do cadastro. Algo recorrente era a resistência de algumas prefeituras municipais em continuarem os procedimentos de cadastramento13. E como realizar este trabalho sem o auxílio de comitês criados a partir da mobilização social? De que forma seria possível exigir que estados e municípios cumprissem metas de cadastramento, para evitar que famílias carentes fiquem de fora? Como verificar se os dados declarados correspondem à realidade da família? Por meio de indicadores? E, mais importante, como construir mecanismos de emancipação desses programas? Como efetivamente realizar o acompanhamento das famílias? Esta e outras questões devem continuar sendo discutidas, ainda mais no âmbito da unificação dos programas com o nascimento do Programa Bolsa Família que, inicialmente, unificou os programas Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação. 13 A manutenção do cadastro foi possível a partir de setembro de 2003 com a versão 5.0 do Cadastro Único disponibilizada pelo então gestor nacional, o Ministério de Assistência Social. 131 4.1. Programa Bolsa Família Criado em outubro de 2003, com o propósito de iniciar a unificação e racionalização dos programas de transferência de renda às famílias carentes, o Programa Bolsa Família encerrou o ano de 2003 presente em 5.447 municípios e atendendo, aproximadamente, 3,6 milhões de famílias, cerca de 10 milhões de pessoas. Atualmente, já atende a mais de 5 milhões de famílias em 5.521 municípios14. De acordo com a proposta do novo programa, ele é “mais eficiente porque reúne num só programa de transferência de renda ações que favorecem o acesso a direitos universais de educação, saúde e alimentação, tornando mais barata e racional sua administração. Também busca corrigir distorções e injustiças dos programas sociais anteriores, que, muitas vezes, tinham os recursos drenados pela ineficiência administrativa. Assim acaba com distorções em que uma mesma família recebia diversos benefícios enquanto as outras não recebiam nenhum”15. Dessa forma, estima-se que o valor médio do complemento de renda para as famílias beneficiadas passe de menos de R$ 25,00 para mais de R$ 72,0016. Se, por um lado, busca-se maior racionalidade na base de dados, na construção de indicadores mais consistentes e na eficiência administrativa, por outro há que se avançar também na questão da criação de mecanismos efetivos de transparência e de controle social. 14 Dados de setembro/2004. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, BRASIL, UM PAÍS DE TODOS, ano 1, edição n° 2, dezembro de 2003. 16 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, SECRETARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, Bolsa Família. A evolução dos programas de complementação de renda no Brasil, 2003. 15 132 4.2. Unificação dos Programas Sociais de Transferência de Renda e seus desafios A unificação dos programas sociais de transferência de renda, assunto tão discutido nos últimos tempos, por conta da proposta do atual governo federal, tem ao meu ver dois grandes desafios: o primeiro, dar racionalidade a um modelo ainda “pueril” de proteção social, unificando os cadastros, os mecanismos de seleção de famílias, critérios e conceituação de quem são os “pobres”, criando uma estrutura de trabalho permanente, com pessoal qualificado para tal. O segundo desafio, para mim o decisivo, corresponde ao “salto de qualidade” num também ainda pueril controle social, além da construção de “portas de saída” que permitam a emancipação das famílias dos programas de transferência de renda. Para esse ponto, o controle social, é necessário utilizar-se, dentre outros, da experiência dos comitês gestores locais, como descrito sucintamente acima. E por quê? Há claramente, neste país, a herança histórica de nossa constituição enquanto nação17, uma organização política vinculada no poder pessoal, nas relações de poder que dificultam a plena constituição de instituições republicanas. Obviamente, o país que existe nesta passagem de século conheceu transformações e avanços no sentido de maior participação popular, de liberdades democráticas e de constituição de instituições públicas e organismos da sociedade civil que passam a desempenhar papel fundamental na fiscalização e, sobretudo, no protagonismo de ações desenvolvidas essencialmente no âmbito 17 Esta constituição está exaustivamente descrita nos clássicos que tratam da constituição do Brasil, dentre os quais destacam-se “Visão do Paraíso” de Sérgio Buarque de Holanda, “Formação Econômica do Brasil” de Celso Furtado, “Formação do Brasil Contemporâneo” de Caio Prado Júnior e “Os Donos do Poder” de Raymundo Faoro. 133 social. Se tudo isso está nascendo, revela-se um processo mais presente nos grandes centros urbanos. Há experiências de conselhos municipais de políticas sociais, sindicatos, igrejas, partidos políticos, entidades empresariais que demonstram maior compromisso na discussão do que se deseja para este país. Se, nas grandes cidades, o nível de amadurecimento da mobilização social apresenta sinais positivos, ele é incipiente nos pequenos municípios e praticamente inexistente nos chamados grotões do país. Dessa forma, ainda resistem no nosso interior fortes práticas vinculadas ao poderio político pessoal, de famílias e de seus “coronéis”. Neste contexto, inseriu-se um programa federal de transferência de renda (PCA) diretamente às famílias por meio de um Cadastro Único alimentado pelo poder público municipal, mas “validado” por um comitê gestor local, formado por membros da sociedade civil e desse mesmo poder público. Será que é possível compreendermos a dimensão disso? A experiência tem mostrado que a possibilidade de um efetivo controle, por meio da comunidade, sobre a transferência de renda para famílias carentes, gera muitos conflitos: incita-se a mobilização da sociedade, provoca-se o choque, muitas vezes bons e, muitas outras, nem tanto, entre o poder público e a comunidade, e faz com que a população se dê conta que ela é também ativa nesse processo e que isso, portanto, lhe compromete. 4.3. A Mobilização Social por meio da formação dos Comitês Gestores Locais A metodologia do PCA que impõe a constituição de um comitê gestor local com base na representatividade da comunidade local, tal como vimos acima, faz com que surjam impulsos 134 para a mobilização social. Diversas igrejas, associações e sindicatos retomaram suas atividades, uma vez que precisavam participar, enquanto entidades, do processo de constituição do comitê gestor local. Aconteceram assembléias populares para divulgação do programa e eleição do Comitê Gestor Local que contaram com mil, duas mil, até três mil pessoas. E estamos falando de municípios que muitas vezes não possuem mais que 10 mil habitantes. As experiências de mobilização, fartamente ilustradas pelas atas das constituições dos comitês encaminhadas ao MESA, apontam que a população respondeu ao chamado para exercer participação ativa na gestão do programa. Estas assembléias populares aproximam-se do que HAYES (2003a) classifica como “espaço aberto”. Segundo a autora: “Um evento de espaço aberto coloca a responsabilidade de uma reunião nas mãos de seus participantes visando desenvolver um senso de compromisso e liderança compartilhada. Uma sessão de espaço aberto envolve quatro componentes principais: preparação, processo, planejamento de ações e encerramento”. As assembléias populares eram conduzidas pelos Agentes Locais de Segurança Alimentar capacitados para a formação do comitê gestor, envolvendo o processo de mobilização prévia em reuniões dos setores participantes desse comitê e a divulgação do conteúdo da capacitação e mobilização da população local, convocada para a assembléia popular. Esclareça-se, entretanto, que, muitas vezes, a mobilização é realizada, de forma independente, tanto por incipientes movi135 mentos da sociedade civil, quanto pelo poder público local, o que nos revela um conflito, muitas vezes não saudável, uma vez que o processo de mobilização tinha que ser conduzido conjuntamente. Conflitos, que muitas vezes chegaram “às vias de fato”, demonstram que a luta pela “hegemonia” sobre os programas sociais nos pequenos municípios escancara o ainda frágil estágio em que se encontram as instituições públicas nesses pequenos municípios. A impressionante mobilização social certamente foi motivada pela real transferência de “poder” e, obviamente, também responsabilidade, para a sociedade civil local, uma vez que esta iria validar o pagamento de famílias cadastradas pelo poder público local. Claramente, dividiram-se responsabilidades: a prefeitura cadastraria as famílias carentes no Cadastro Único, tal como já fazia, e o Comitê Gestor Local validaria esta listagem, por meio de um sistema via internet, para o pagamento das famílias. A mobilização social, portanto, implicou que os Comitês Gestores com o fundamental auxílio, na grande maioria dos casos, dos Agentes Comunitários de Saúde, percorressem o seu município, identificassem as famílias carentes que seriam potenciais beneficiárias do programa e acompanhassem a sua evolução durante o período da concessão. Mas, evidentemente, ações complementares, ainda que fundamentais, também tiveram no Comitê Gestor um agente fundamental do processo: a identificação de famílias que não estavam cadastradas no Cadastro Único, o levantamento de correções que deveriam ser feitas neste mesmo cadastro, além do fato de identificar pessoas que, sem sequer o registro de nascimento, não existiam para o país, o que dizer receberem qualquer programa de transferência de renda, visto que não podiam ser cadastradas. Elas, simplesmente, não “existiam”. 136 Percebe-se a importância do trabalho realizado no âmbito da mobilização social? Percebe-se a imprescindível necessidade de envolvimento efetivo da comunidade local na gestão das políticas locais? Ainda que a discussão sobre os caminhos da unificação esteja começando, é importante denotar que a ausência de mecanismos efetivos de controle social e mobilização comunitária podem comprometer o projeto. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS Com a unificação dos programas de transferência de renda na figura do Bolsa Família, em outubro de 2003, e a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, em janeiro de 2004, em substituição ao MESA e ao Ministério da Assistência Social, decidiu-se pela suspensão da função de “validação” por parte dos Comitês Gestores dos cadastrados aptos a receberem o Bolsa Família. Diferentes concepções, técnicas e políticas, se colocam nessa discussão. Desde janeiro de 2004, a função foi efetivamente suspensa e, até o momento, não houve reversão dessa decisão.18 Os delegados da IIª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reunidos em Olinda, entre 17 e 20 de março de 2004, aprovaram moção, a de número 2, de apoio aos comitês e pela manutenção das funções que vinham exercendo. Até o momento, o MDS determinou a transformação dos Comitês Gestores Locais em Comitês Fome Zero. Resta definir seu 18 Os delegados da IIª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reunidos em Olinda, entre 17 e 20 de março de 2004, aprovaram moção, a de número 2, de apoio aos comitês e pela manutenção das funções que vinham exercendo. 137 papel e funções. O MDS disponibilizou, pela internet19, o número de famílias e o valor dos pagamentos realizados, a todas as pessoas interessadas, mas ainda discute os mecanismos de fiscalização e controle social e o envolvimento dos comitês nessa questão. Este texto, que descreveu brevemente uma experiência, a meu ver muito rica e muito ousada, é uma defesa da participação social e comunitária, essencialmente nos pequenos municípios, na definição dos beneficiários do programa Bolsa Família. São esses comitês que, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, teriam legitimidade e condições de conduzir um processo de maior transparência na destinação dos recursos públicos. Cabe ressaltar que maior transparência no uso do dinheiro público contribui fortemente para que comecem a ser construídas as “portas de saída” dos programas sociais emergenciais ou assistenciais. Dessa forma, é a construção dessas condições para que os programas sejam emancipatórios que definirá, mais à frente, o caráter do programa. Não há como rotular o Fome Zero ou o Bolsa Família de “assistencialistas” antes de analisarmos mais profundamente, o que não é o caso desse texto que foca na questão dos comitês gestores, o seu desenvolvimento enquanto proposta de forte mudança na política social brasileira, voltada historicamente para o fisiologismo e o clientelismo. Romper essa “história” da política social brasileira não é tarefa fácil e creio que o atual governo federal tenta construir as condições para tal, o que, também, não é simples. Portanto, fugindo das análises precipitadas sobre o andamento do programa que ignoram muitas vezes os “percalços” encontrados ao longo do caminho, é que destaco o papel da experiência dos comitês gestores do PCA ao longo de 2003. Discutir essa experiência no momento de reformatação do programa de transferência de renda, pois o 19 Veja www.mds.gov.br - É possível consultar a situação de uma família com a utilização do NIS – Número de Identificação Social. 138 Bolsa Família é ainda uma construção a ser aprimorada, faz-se muito necessário para que encontremos formas de dar ao processo transparência e possibilitar a construção das “portas de saída” dos programas. Espero, dessa forma, prestar minha contribuição ao processo. 139 BIBLIOGRAFIA BALSADI, Otávio Valentim. O Programa Cartão Alimentação (PCA) em números: balanço de sua implementação e contribuições para as políticas sociais, mimeo, Brasília, 2003. BELIK, Walter e DEL GROSSI, Mauro Eduardo. O Programa Fome Zero no contexto das políticas sociais no Brasil, apresentado no painel “Políticas de Combate à Pobreza: Segurança Alimentar, Renda Mínima e Ganhos de Produtividade na Agricultura”, XLI Congresso da SOBER, Juiz de Fora, 2003. HAYES(2003a), Patrícia. Mecanismos de consulta. Subsidiando a formulação de políticas públicas por meio de consultas. AArte de perguntar, ouvir e concluir o processo. Traduzido do “Informing public policy through consultation. The art of asking, and listening and following through. Consultation Mechanisms. Ottawa, june 2003. HAYES(2003b), Patrícia. Amostra de plano de consulta. Subsidiando a formulação de políticas públicas por meio de consultas. A Arte de perguntar, ouvir e concluir o processo. Traduzido do “Informing public policy through consultation. The art of asking, and listening and following through. Sample Consultation Pan. Ottawa, june 2003. PELIANO, A. M. (coord.). O mapa da fome: Informações sobre a indigências nos Municípios da Federação. Rio de Janeiro, 1993. PRADO Jr, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo, 23ª Edição, Editora Brasiliense, 2001 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COM140 BATE À FOME, Assessoria de Comunicação, Opinião Pública elege Fome Zero melhor programa social, InfoMESA Especial – Boletim do MESA, Brasília, 2003. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E COMBATE À FOME, Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária, Manual de Capacitação dos Agentes Locais de Segurança Alimentar, mimeo, Brasília, 2003. SÁ, XICO e DETTMAR, U. Nova Geografia da Fome, Editora Tempo Imagem, 2003. SILVA, José Graziano da; BELIK, Walter e TAKAGI, Maya (org.). Projeto Fome Zero. São Paulo: Instituto Cidadania, 2001. (www.icidadania.org.br) SILVA, P; e MELO, M. O processo de implementação de políticas públicas no Brasil: características e determinantes da avaliação de programas e projetos. Campinas: NEPP, Caderno 48, 2000. CASO: Programa Nacional de Renda mínima – Bolsa Escola. Caso elaborado pela Enap a partir de consulta de BERNARDES, F. Avaliação da estratégia de melhoria da freqüência escolar do Programa Nacional de Bolsa Escola. Brasília, 2002 (trabalho aplicado do curso de formação de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ENAP) e CASTRO, M. H. G. As desigualdades regionais no sistema educacional brasileiro, texto apresentado no Seminário Desigualdade e Pobreza no Brasil, realizado pelo IPEA, de 12 a 14 de agosto, no Rio de Janeiro, 1999. Erich Brigante Del Porto é Economista e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. 141 Sylvio Kelsen Coelho O desafio de pensar o futuro: métodos de apoio à reflexão “ T udo que se sabe sobre o futuro é que ele não será uma reprodução do presente”, dizia o poeta argentino Jorge Luis Borges. A preocupação com futuro é inerente à natureza do ser humano que, desde sempre, especula sobre seu destino com imaginação e razão. Este artigo é uma contribuição para a reflexão sobre o pensamento de longo prazo, por meio da apresentação de um relato sobre metodologias de exploração do futuro. 1. PENSAMENTO DE LONGO PRAZO: A AÇÃO DE HOJE PODE AJUDAR A MOLDAR O AMANHÃ A evolução de fenômenos sociais é caracterizada pela ocorrência de eventos que alteram substancialmente tendências consolidadas no passado, em especial quando se considera a crescente complexidade da sociedade humana. Esse alto nível de complexidade é conseqüência da interação de um número grande de atores, da amplitude e diversidade de seus interesses, ao mesmo tempo complementares, concorrentes e antagônicos (MORIN 2003). Trata-se de alterações de ordem qualitativa, forjando uma realidade na qual a estabilidade, e mesmo as mudanças incrementais, são cada vez menos o paradigma do processo de mudança. Mesmo quando se consideram parâmetros que parecem mudar linearmente, 142 como o tamanho de uma população, seus efeitos podem não ter a mesma natureza. Isto porque, com as tecnologias de controle e planejamento familiar, as taxas de crescimento populacional podem crescer ou se reduzir de maneira independente de sua evolução no passado (DROR 1999). Com a prevalência da não-linearidade, aumenta sensivelmente a incerteza1. O futuro é uma função dinâmica de necessidade, contingência, acaso e escolha. Ademais, o grau de incerteza aumenta à medida que o perfil temporal se alonga. Para além da incerteza está o inconcebível, quando não se consegue divisar os atributos da situação futura, exceto por meio da imaginação2. Trata-se de uma situação de docta ignorantia, na qual pode-se antever que haverá alterações radicais na base de conhecimento da humanidade sem, entretanto, conhecê-las de antemão (DROR 1999). Pensar o longo prazo3, no contexto de alta complexidade social, é um exercício participativo. Ainda que seja evidentemente possível executar essa tarefa com a participação de poucos ou até mesmo ser obra de apenas uma pessoa, o processo não pode prescindir de ampla discussão, com o envolvimento e a consideração dos interesses aportados pelos atores sociais. Busca-se, por meio da formação de consenso e, quando isso não for possível, por negociação, garantir não somente que os objetivos estratégicos reflitam os anseios e receios dos atores sociais como também a consecução de níveis satisfatórios 1 Entenda-se por incerteza como a resultante de processos de final aberto, para os quais haja um grande número de encaminhamentos possíveis, nem sempre passíveis de análise quântica. 2 O conceito parece guardar proximidade com aquele de “incerteza profunda”, de LEMPERT et al 2003. Ver nota 18. 3 Considera-se longo prazo, neste trabalho, lapsos temporais de mais de 10 anos. 143 de comprometimento deles com a implementação das estratégias, na forma de políticas de longo prazo, resultantes do exercício4. Para auxiliar a necessária, instigante e complexa reflexão sobre o futuro, foi desenvolvido um conjunto de metodologias exploratórias. A utilização dessas técnicas pode instruir o processo de tomada de decisão sobre políticas no curto prazo, com o objetivo de influenciar a evolução de fenômenos no longo prazo. 2. AS METODOLOGIAS DE REFLEXÃO SOBRE O FUTURO SE SOFISTICARAM5 A arte de pensar o futuro de maneira estruturada tem uma longa história. No decorrer do tempo, os instrumentos disponíveis para auxiliar a reflexão sobre a evolução dos fatos têm-se sofisticado. 2.1 A técnica de narrar Narrativas são o mais simples meio de se engajar nesse exercício de reflexão. Com base na imaginação e em poucas evidências, o ser humano tem-se utilizado o procedimento de se contar estórias sobre o passado e de sua evolução até o presente. Da mesma maneira, esse procedimento foi amplamente utilizado 4 Entenda-se por consenso a inexistência de conflito acerca da propriedade e conveniência de uma proposta. Negociação, por sua vez, implica a possibilidade de aceitar a não satisfação plena de interesses das partes, para garantir melhorias de posicionamento, de uma ou de todas as partes envolvidas, em relação à situação inicial. 5 Aceitou-se, nesta seção, a sistematização proposta por LEMPERT et al 2003. 144 como instrumento de sondagem do futuro, na expectativa de que o levantamento das informações sobre eventos que poderiam acontecer ajudasse a reduzir seus danos e aproveitar as eventuais oportunidades. Há um número considerável de registros históricos de narrativas, na forma de ficção formal, sobre sociedades utópicas nas quais os seres humanos viveriam sob condições relacionais bastante diferentes daquelas que vigiam à época de seus escritores. Platão e sua República e Utopia, de Thomas More, são exemplos desses registros. Na mesma categoria e menos distante da atualidade, é o trabalho de Edward Bellay’s Looking backwards, 2000-1887, publicado em 1888, que descreve a aventura de um homem de seu tempo na cidade de Boston, EUA, no ano 2000, quando encontra uma sociedade socialista (Apud LEMPERT et al 2003). Distopias, visões negativas sobre sociedades planejadas do futuro, vale ressaltar, também foram produzidas, sendo as mais conhecidas Admirável mundo novo (1932), de Aldous Huxley, e 1984 (1949) de George Orwells. A contribuição de narrativas dentro da discussão sobre a promoção do pensamento de longo prazo é que as mesmas oferecem imagens facilmente apropriáveis, quase caricaturas, ou situações limites. Apenas de maneira muito incipiente narrativas podem constituir um instrumento válido de reflexão sobre eventos ou situações futuras e, assim, instruir o processo de tomada de decisão. 2.2 A abordagem histórica A história também tem sido usada como fonte de informação sobre o futuro. Com efeito, o passado pode prover uma quantidade 145 considerável de dados e informações relevantes para o processo de reflexão sobre o futuro. Esse procedimento implica retirar do passado “lições históricas”, cursos de ação que poderiam se repetir ao longo do tempo, normalmente dentro de um contexto no qual o analista faz analogias entre o curso de fenômenos no futuro e acontecimentos passados. Muitos são os exemplos encontrados na literatura das ciências sociais desse procedimento. Giambatista Vico, no século XVIII, propôs uma teoria cíclica de ascensão e decadência das sociedades. Karl Marx também ofereceu uma previsão sobre os encaminhamentos históricos que levariam à superação do capitalismo. The next 200 years (1976)6, de Herman Kahn, constitui um exemplo mais contemporâneo da abordagem histórica como meio de refletir sobre o futuro. Nesse tratado, Kahn buscou fundamentar suas especulações em uma cuidadosa análise quantitativa histórica e em suas potenciais tendências no longo prazo. Foram consideradas, para essa análise, tendências de evolução de variáveis demográficas, econômicas, recursos naturais e meio ambiente nos últimos 400 anos e, por meio de extrapolação, verificados potenciais resultados no período de dois séculos (Apud LEMPERT et al 2003). O problema é que, via de regra, a evolução de fenômenos sociais é, como já foi evidenciado, não-linear. Mesmo assim, o estudo da história, especialmente quando se analisam longos períodos, pode ajudar na identificação de eventuais tendências fortes, o que enriquece o exercício de se pensar o futuro. 6 Muitos analistas afirmam que a obra de Kahn é uma resposta clara à visão pessimista de Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers e outros no relatório Limits to growth, elaborado no início da década de setenta para o Clube de Roma 146 2.3 Os métodos de consulta a especialistas: Delphi e Forsight Tradicionalmente, o trabalho de construção de narrativas é um exercício individual ou de uma equipe com uma abordagem comum do futuro. Para lidar com o fato de que a reflexão sobre o futuro exige a consideração de conhecimentos profundos sobre um conjunto bastante numeroso de assuntos, enriquecendo assim o exercício, foram desenvolvidas metodologias que permitem a participação de grandes grupos de especialistas, cujos conhecimentos podem ser sistematizados na forma de narrativas coerentes sobre o futuro. Encaixam-se nesse perfil os métodos Delphi e Forsight. Desenvolvido pela Rand Corporation na década de 50, a técnica Delphi foi desenhada para ajudar no processo de agregação de conhecimentos diversos e opiniões divergentes com o objetivo de formar consenso. Trata-se de uma metodologia iterativa, na qual, em rodadas sucessivas, um grupo de especialistas é chamado a responder um rol de perguntas. Ao fim de cada rodada, os participantes são informados sobre todas as respostas dadas e podem mudar seu ponto de vista em razão da opinião dos outros. Evidentemente, as respostas são mostradas de maneira anônima, para evitar que o status de algum participante termine por influenciar desproporcionalmente o resultado do exercício. O método Delphi7 carrega em sua estrutura uma pretensão de que, por meio da associação de conhecimentos ao mesmo tempo amplos e profundos, seria possível reduzir, se não eliminar, a incerteza sobre a evolução dos fenômenos sociais. Ainda que constitua uma 7 Marca registrada da Rand Corporation, Santa Mônica, EUA. 147 técnica de sofisticação mediana e de relativa simplicidade de operação, podendo engendrar resultados satisfatórios, especialmente no que concerne ao fomento ao diálogo entre áreas de conhecimento as mais diversas, o Delphi tem uma inconveniência teleológica para o analista: o consenso forçado. Se o futuro é imprevisível e se reconhece que a não-linearidade é a regra, então ao analista importa conhecer a diversidade e trabalhar dentro desse contexto de incerteza. Forsight8, por sua vez, tem como foco o processo de deliberação ou de diálogo entre os atores participantes do exercício de reflexão sobre o futuro. O método se propõe a criar arenas nas quais líderes do setor privado, público, científico, acadêmico e outros possam apresentar e compartilhar suas opiniões normativas e positivas sobre o desenvolvimento tecnológico e seus impactos na economia e na estrutura social. A evolução da técnica de Forsight levou à expansão do foco inicial na tecnologia para atingir outros assuntos, de ordem social ou mesmo política. Ainda que os detalhes de cada tipo de Forsight possam variar, todos os processos são caracterizados por sondagens grupais acerca das tendências que podem afetar resultados futuros e sobre eventuais ações imediatas para ajustá-los. Tanto quanto o método Delphi, a técnica do Forsight tem que lidar com o problema da multiplicidade de futuros. Embora este seja certamente um avanço em relação àquele, a experiência mostra que falta ao Forsight mecanismos para fazer uso efetivo dessa variedade de situações futuras geradas e, ao mesmo tempo, oferecer recomendações operacionalizáveis sobre políticas ou 8 Não há tradução pacífica para o termo em português. O melhor sentido para a palavra parece ser “antevisão”. 148 cursos de ação. No atual estado de sua evolução, esta técnica não parece ter superado a tentação da predição e a falácia da possibilidade de reduzir a incerteza que é inerente ao futuro. 2.4 Os modelos de simulação computacional Quando são elaboradas narrativas individuais ou grupais sobre o futuro, normalmente são utilizados dados e informações quantitativas concernentes a algum tipo de análise de tendências. Fazem-se extrapolações demográficas, sociais e econômicas como se os padrões de desempenho das variáveis no passado pudessem ser reproduzidas indefinidamente no tempo. Trata-se de uma visão simplista da evolução do processo social, cuja superação tem sido facilitada pelos avanços da computação. Na atualidade, modelos de simulação computacional permitem o levantamento metódico de como o desempenho de componenteschaves de um sistema pode mudar ao longo do tempo, à medida que interagem entre si e, especialmente, como estas interações poderiam eventualmente causar desvios substanciais em relação às tendências do passado. Modelos de simulação geralmente têm base matemática e traduzem nesta linguagem processos econômicos, ambientais e mesmo políticos, cujas relações endógenas (entre variáveis de mesma natureza) e exógenas (entre variáveis de natureza diferentes) possibilitam a análise de políticas no longo prazo de maneira teoricamente elegante. Fundamentalmente, portanto, modelos de simulação computacional associam ou combinam tendências verificadas no passado com assunções sobre as relações causais entre variáveis do sistema em foco, proporcionando análises coerentes do ponto de vista metodológico. 149 O mais conhecido modelo de simulação é o World39, que serviu de base para a elaboração do controverso relatório Limits to growth10 , produzido para o Clube de Roma por Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers e outros, no início da década de 70. O modelo foi usado para tratar três argumentos: (i) as taxas de desenvolvimento do mundo de então superaria a capacidade da Terra de sustentar sociedades humanas em um século; (ii) as sociedades humanas poderiam atingir um equilíbrio sustentável; e (iii) quanto mais cedo a transição para uma situação sustentável começasse, maior seriam as chances de sucesso da iniciativa (Apud LEMPERT et al 2003). O World3 se concentra nas interações entre variáveis e pressupõe que alterações em uma variável têm impacto sobre outras. Por retroalimentação, positiva ou negativa, as mudanças nas variáveis atingidas terminam por ter efeito na variável inicialmente modificada. A retroalimentação positiva aumenta os efeitos, enquanto a negativa os reduz. Os resultados desse exercício tiveram ampla repercussão, cujos método e substância foram objeto de críticas. Apesar de que os modelos de simulação computacional serem uma etapa importante do processo de sofisticação dos métodos de reflexão sobre o futuro, não há modelo finito capaz de lidar com a complexidade da realidade. Isto porque os resultados da aplicação do modelo são determinados pelas assunções reguladoras estabelecidas para as relações entre as variáveis do sistema. 9 Dentre outros modelos de simulação computacional, destacam-se o International Futures, desenvolvido por Barry Hughes na décadad de 90 e o Globus, elaborado pelo Zukunftforschungzentrum Berlim na década de 80, com horizontes de um século e algumas décadas, respectivamente. 10 Ver nota 5. 150 2.5 A teoria da decisão A teoria de decisão também é um meio relativamente conhecido de instruir o processo de reflexão sobre o futuro. Por meio do tratamento quantitativo das opiniões de especialistas, levantadas por pesquisas ou sondagens, os analistas constroem diversos cenários e lidam com a incerteza por meio da alocação de probabilidades da ocorrência de um deles. A teoria da decisão se vale do grande poder de organizar vastas quantidades de dados para garantir que as decisões tomadas sejam logicamente consistentes. No entanto, em que pese o fato de que esse método possa ser exitoso para análises de curto prazo, o mesmo não se pode afirmar para análises com perfil temporal mais alongado. Ademais, metodologias derivadas da teoria da decisão, ainda que concebam a possibilidade da multiplicidade de futuros, tendem a levar o analista a acreditar que o resultado mais provável é aquele que efetivamente se concretizará, evidenciando a não superação do problema da predição. 2.6 Cenários prospectivos Em maior ou menor grau, os métodos e instrumentos abordados anteriormente demonstram sua incapacidade para lidar com a incerteza e multiplicidade de visões sobre o futuro. O avanço metodológico da teoria de cenários prospectiva, entretanto, pode ser considerado um passo importante para a superação do desafio de pensar o futuro. A atitude prospectiva nasceu do questionamento do determinismo e do jogo do acaso. As bases da prospectiva estão assentadas no fato de que o futuro é múltiplo e indeterminado. Com 151 efeito, foi Gaston Berger que iniciou a utilização da palavra “prospectiva”, para designar, diferentemente da previsão, o exercício de antecipação do futuro que supera as limitações da pura e simples extrapolação de tendências e a linearidade de pensamento, com a adoção de procedimentos qualitativos (Apud GODET 1993). Preconizando uma visão globalizante do fenômeno estudado, a prospectiva considera os projetos e comportamentos de atores. Assume-se que as relações entre variáveis, entre atores, e entre estes e aquelas são dinâmicas, formando estruturas evolutivas. A utilização da prospectiva não significa um rompimento com o passado. A representação dos futuros possíveis também depende da observação do passado. Em boa medida, os acontecimentos do futuro dependem de ações passadas, da mesma maneira que o futuro também explica comportamentos no presente. Nesse sentido, a prospectiva, como lembra Godet, é uma reflexão para orientar a ação presente considerando-se os futuros possíveis. Nas sociedades contemporâneas, a antecipação impõese em razão da conjugação da aceleração da mudança técnica, econômica e social e da necessidade de se quebrar a inércia de comportamentos humanos e estruturas sociais, para considerar as eventuais dificuldades e oportunidades do futuro. No entanto, se é certo que o contexto muda continuamente, mais o é que nem sempre é fácil controlar o sentido dessas mudanças. Isto porque as mudanças são portadoras de múltiplas incertezas, sejam de ordem tecnológica, econômica e política. A prospectiva não tem a pretensão de eliminar essas incertezas mas pode contribuir para reduzi-las, tornando menos dificultoso o processo de tomada de decisão que objetive a realização de futuros mais desejáveis. Inúmeros são os métodos de construção de cenários 152 prospectivos. Os mais conhecidos e utilizados, tanto no setor privado quanto no setor público, são aqueles de Carl Porter, de Raul Grumbach, da Global Business Network – GBN e de Michel Godet. Enquanto os métodos de Porter (cenários industriais) e da GBN são procedimentos fundamentalmente qualitativos, aqueles de Godet e de Grumbach associam procedimentos qualitativos e quantitativos. O método de Godet é o mais robusto e, portanto, mais adequado para a lidar com ambientes sistêmicos de alta complexidade. Um cenário é formado pela descrição de uma situação futura e da seqüência dos acontecimentos que permite que se passe de uma situação de origem à futura. Fundamentalmente, distinguem-se os cenários possíveis -todos os imagináveis-, os realizáveis – plausíveis, sob algumas condições-, e os desejáveis –possíveis mas nem sempre realizáveis. Do ponto de vista quântico, podem existir cenários referenciais –muito prováveis-, ou contrastados -pouco prováveis. Na atualidade, parece haver consenso sobre o fato de que, para que uma seqüência de procedimentos possa ser considerada um método de cenários é necessário que o mesmo contemple algumas etapas básicas, como a retrospectiva, a análise das variáveis, a estratégia de atores, e, evidentemente, a elaboração de cenários. A função dos cenários é orientar a ação presente, considerando os futuros possíveis e desejáveis. Nesse contexto, os cenários somente têm credibilidade e utilidade se forem pertinentes, coerentes, plausíveis e transparentes. Vários são os objetivos do método de cenários: (i) revelar prioridades para estudo, relacionando, por meio de uma análise explicativa global e exaustiva, as variáveis que caracterizam o sistema em foco; (ii) determinar, a partir das variáveis-chaves, os principais 153 atores, suas estratégias, os meios de que dispõem para atingir seus objetivos; e (iii) descrever a evolução do sistema estudado, tendo em conta as evoluções mais prováveis das variáveis relevantes, a partir de jogos de hipóteses sobre o comportamento dos atores (Apud GODET 1993). Esses objetivos, dentro do método de Godet, são atingidos em duas etapas. A primeira é a construção de uma base analítica do sistema constituído pelo fenômeno estudado e do ambiente em que este está inserido. O segundo estágio é a própria atividade de elaboração dos cenários. A construção dessa base analítica compreende a delimitação do fenômeno objeto do estudo, sua evolução até a situação atual, o levantamento das varáveis intervenientes e suas inter-relações –a análise estrutural- e a análise das estratégias dos atores. O processo de tratamento das variáveis e das estratégias dos atores é assistido por recursos computacionais, como os aplicativos Micmac Prospective e Mactor11. A análise estrutural inspirou-se nos trabalhos de simulação de investigação operacional realizados no pós-guerra nos Estados Unidos, especialmente na Rand Corporation. Por meio da utilização de propriedades de matrizes, esse procedimento contribui para evidenciar as principais variáveis, evidentes e ocultas, e sua hierarquia. A análise estrutural tem duas outras utilizações complementares: (i) a construção tão exaustiva quanto possível do sistema a ser estudado e, em seguida; e (ii) a redução de sua complexidade, pela identificação de suas variáveis essenciais. 11 Marcas registradas CNAM France 154 Com o aplicativo Micmac, evidencia-se a importância das relações ocultas, indiretas, entre as variáveis em estudo. É possível assim associar um indicador de motricidade e de dependência para todo o sistema, cujas variáveis podem ser posicionadas dentro de um plano motricidade-dependência. Uma vez identificados os principais atores no processo de evolução do fenômeno estudado, o método prevê a elucidação de seus objetivos, organizados de maneira hierarquizada e de suas relações de força direta e indireta. Para facilitar o estudo desse processo, foi desenvolvido o aplicativo Mactor. O jogo de atores, os conflitos de seus projetos e o exame das relações de força presentes são fundamentais para evidenciar os desafios estratégicos do futuro de um sistema. A partir das informações levantadas, pode-se então iniciar a elaboração dos cenários, etapa que consiste em fazer intervir mecanismos de evolução para o sistema, confrontando os projetos e as estratégias dos atores. Como parece evidente, um número de questões relevantes para determinar a evolução do sistema estarão em aberto, o que deve ser enfrentado com a elaboração de jogos de hipóteses. A cada jogo de hipóteses corresponde um cenário que se pode construir e a cuja realização pode-se arbitrar uma probabilidade. Por meio da análise morfológica dos cenários possíveis, operação assistida por aplicativo (Morphol12) decompõe-se o sistema ou a função estudada em subsistemas ou componentes, como aqueles de natureza política, demográfica, econômica ou tecnológica, com cada um deles tendo um número de configurações possíveis. A rigor, caso se junte um encaminhamento13 entre a situação atual e um conjunto 12 13 Marca registrada CNAM France. Seqüência de eventos. 155 de diferentes configurações das dimensões, pode-se ter um cenário. O espaço morfológico representa, por meio da análise combinatória, todos os cenários possíveis. Um sistema com três componentes, cada um com duas configurações, resulta em 32 estados possíveis. Godet lembra que há, por certo, o perigo de que o cenarista se renda à ilusão da exaustividade por meio da análise combinatória. Fica ressaltada, assim, a necessidade de se operar com um espaço morfológico menor, limitando a exploração aos componentes-chaves identificados dessa maneira e introduzindo condicionalismos de exclusão ou de preferência. Com efeito, muitos dos estados possíveis não têm sentido ou são impertinentes, devido, na maioria das vezes, a sua incompatibilidade intrínseca. A análise morfológica exige, portanto, uma reflexão estruturada sobre os componentes e as configurações consideradas, permitindo um exame sistemático do rol dos cenários possíveis. A praticidade da análise morfológica pode ser potencializada se utilizada em associação com métodos periciais do tipo SMIC 14 , de probabilização das combinações de configurações, a partir das opiniões de especialistas, levantadas com instrumentos do tipo Delphi. Os resultados obtidos desse exercício são então confrontados 14 Aplicativo Sistemas e Matrizes de Impactos Cruzados. O método SMIC, por meio do aplicativo Prob-Expert, permite, a partir de probabilidades alocadas às hipóteses, a obtenção de uma hierarquia das 2n imagens finais possíveis, classificadas por probabilidades decrescentes. O aplicativo também possibilita a escolha da imagem correspondente ao cenário mais provável e das imagens finais dos cenários contrastados. O SMIC corrige as opiniões brutas dos peritos, obtendo-se assim resultados líquidos coerentes, que satisfazem às condições clássicas das probabilidades. 156 com as configurações identificadas inicialmente, do que se conclui acerca: (i) por um lado, da imagem final do cenário de referência, a mais citada pelos peritos, correspondente ao jogo de hipóteses globalmente mais provável; e (ii) por outro, das imagens contrastadas, julgadas pelos peritos como de menor probabilidade, correspondendo a cenários que descrevem uma evolução do meioambiente notoriamente diferente daquele do cenário de referência, freqüentemente imagens pessimistas ou otimistas em relação ao cenário de maior probabilidade. É importante que se ressalte que a correta utilização do método de cenários não pode prescindir de uma descrição pormenorizada do encaminhamento entre os cenários identificados e a situação atual. Em alguns casos, pode ser conveniente a decomposição desse encaminhamento em sub-períodos sucessivos, que conduzem a cenários intermediários. Esse procedimento parece ser adequado para o caso de cenarização de fenômenos cuja evolução está sujeita a grandes ou freqüentes rupturas. Também pode ser necessário, dentro do processo de elaboração dos encaminhamentos, o recurso a estudos paralelos, com o objetivo de tornar o exercício mais coerente e transparente. O processo se inicia por meio da comparação entre a imagem final e a situação atual, o que permite a identificação de rupturas que devem ser justificadas e temporalmente indicadas. É nesse contexto que se pode discorrer sobre a evolução do fenômeno estudado e dos posicionamentos dos atores, considerando, evidentemente, suas estratégias. À luz dos condicionamentos impostos pela motricidade das variáveis, procede-se então com a avaliação das conseqüências de eventuais rupturas sobre as tendências principais, fechando o ciclo de elaboração do cenário. 157 Com os cenários prontos, o método proposto por Godet prevê a utilização de técnicas multicritérios, como o Multipol15, para apoiar o processo decisório. A técnica é composta de três fases: (i) o levantamento das ações possíveis; (ii) a definição de políticas; e (iii) a classificação das ações. No Multipol, cada ação de uma política é avaliada segundo critérios estipulados pelos cenaristas por meio de uma escala simples de notação, obtida a partir de consulta a especialistas, tendo-se por necessária a busca de consenso. Para possibilitar aos peritos a identificação dos critérios mais importantes na análise das ações, utiliza-se um sistema de pesos. O Multipol então atribui um resultado médio ponderado às ações de cada política, o que, na prática, significa alocar um resultado também para as políticas alternativas. Isso permite a classificação das ações em relação às políticas e, ademais, destas em relação aos cenários, especialmente ao mais desejável. Cabe então ao tomador de decisão optar pela melhor política tendo como base, geralmente, o cenário mais provável. 3. FOCO NA AÇÃO: A BUSCA DE ESTRATÉGIAS ROBUSTAS16 A metodologia de cenários prospectivos tem uma grande vantagem: enfrenta com sucesso o desafio de lidar com a multiplicidade de futuros plausíveis. No entanto, parece não oferecer mecanismos suficientemente desenvolvidos de encaixe entre, de um lado, o estudo sobre os muitos futuros potenciais e, de outro, o processo de tomada de decisão formal. Faltam, para isso, instrumentos que permitam identificar impactos futuros de ações 15 Aplicativo Multicritérios e Política. Marca registrada CNAM France. Diz-se robusta de uma estratégia cujo desempenho é satisfatório dentro de qualquer cenário. 16 158 implementadas no curto prazo, o corolário do processo de análise de políticas no longo prazo. Com base nos conhecimentos metodológicos para a reflexão sobre o futuro acumulados, Lempert, Popper e Bankes propõem sua própria abordagem da análise de políticas no longo prazo, conhecida como processo decisório robusto17. Assume-se, peremptoriamente, a inutilidade de se tentar prever ou alocar probabilidades de ocorrência de eventos e define-se como objetivo da análise de políticas no longo prazo a identificação, apreciação e escolha de ações no curto prazo que possam moldar as opções disponíveis para as gerações futuras de analistas e tomadores de decisão. Essa técnica está fundamentada na associação das habilidades inatas dos seres humanos utilizadas no processo de tomada de decisão em ambientes de profunda incerteza18, como inferir, formular hipóteses, e intuir potenciais soluções, com a capacidade de memória e processamento dos computadores na atualidade. O êxito da metodologia proposta na análise de políticas no longo prazo implica a implementação de quatro mandamentos, quais sejam: (i) considerar grandes agregados de cenários (de centenas até milhões, conforme o caso); (ii) buscar estratégias 17 Tradução livre de robust decisionmaking. Lempert et al definem incerteza profunda como uma situação na qual os analistas não sabem ou as partes envolvidas no processo de tomada de decisão não estejam de acordo sobre (i) os modelos conceituais apropriados para descrever as relações entre variáveis-chaves que definirão os contornos do futuro de longo prazo; (ii) as distribuições de probabilidade utilizadas para representar a incerteza sobre variáveis-chaves e parâmetros nas representações matemáticas desses modelos conceituais; e/ou (iii) como avaliar a conveniência dos resultados alternativos. 18 159 robustas, e não ótimas; (iii) atingir robustez com adaptatividade19; e (iv) desenhar estruturas de análise para a exploração interativa da multiplicidade de futuros plausíveis. Fundamentalmente, esses mandamentos são implementados por meio de processo iterativo no qual são utilizados computadores para auxiliar os analistas a criar os agregados de cenários plausíveis. Os agregados de cenários, ressalte-se, devem ter amplitude o suficiente para abarcar qualquer futuro plausível ou, pelo menos, ser grande o bastante para fundamentar o desenho de políticas robustas contra esses futuros.Cada cenário representa uma imagem futura da realidade analisada e uma escolha de estratégia relevante, dentre todas as disponíveis. Nesse contexto, estratégias robustas são necessariamente adaptativas, evoluindo ao longo do processo em resposta a novas informações. Com efeito, a adaptatividade é o que permite que outras gerações de tomadores de decisão possam rever e, eventualmente, redirecionar políticas definidas anteriormente. Este sistema de apoio à tomada de decisão se torna então um instrumento para a produção interativa de visualizações dos futuros plausíveis, por meio da utilização de tipos diferentes de aplicativos. O primeiro é um aplicativo de modelagem exploratória20 que permite aos usuários navegar por um grande número de cenários, operação necessária para compor um agregado deles, e para 19 Característica de um processo decisório de múltiplas etapas, no qual a decisão seguinte considera o resultado das anteriores. Implica a aprendizagem com experiência do passado recente, como preconiza Carlos Matus (MATUS 1993). 20 Aplicativo Evolving Logic’s Robust Adaptative Planning –RAP, marca registrada. 160 formular argumentos rigorosos sobre escolhas fundamentadas nessas explorações. O segundo, por sua vez, constitui um gerador de cenários21 que se utiliza das relações identificadas entre as variáveis para criar o elenco completo de cenários plausíveis que perfaz um agregado. Na prática, o uso combinado desses aplicativos permite que os tomadores de decisão interajam com os computadores para descobrir e testar estratégias hipotéticas, podendo inclusive considerar seu desempenho ante a ocorrência de eventos nãolineares, em busca de estratégias robustas. Para efeito de comparação da robustez entre várias estratégias, Lempert, Popper e Bankes descobrem e utilizam como benchmarks as alternativas que produzem os melhores resultados para cada cenário do agregado, considerando os sistemas de valores dos atores envolvidos, e testam outras estratégias frente à totalidade de cenários desse agregado. A alternativa mais robusta é aquela que melhores resultados obtiver em relação a todos os benchmarks22 identificados. A resposta, portanto, desse método ao desafio da tomada de decisão estratégica em um contexto de incerteza profunda é, com o suporte de recursos computacionais, ampliar exponencialmente o universo de futuros possíveis considerados e, por meio de operações iterativas, encontrar ações que, encadeados em uma seqüência estratégica desde o presente, possam moldar futuros desejáveis. 21 A proposta de Lempert, Popper e Bankes utiliza o modelo de dinâmica sistêmica Wonderland. 22 Os autores utilizam a relação regretm(j,f)=Maxj’[Performancem(j’,f)]– Performancem(j,f), uma evolução da regra do mini-max, de L. J. Savage, elaborada nos anos 50. 161 4. Uma última reflexão, para concluir Narrativas, abordagem histórica, Delphi, Forsight, modelos de simulação computacional, abordagem da teoria da decisão, cenários prospectivos, tomada de decisão robusta. Essas metodologias, dentre outras, constituem iniciativas válidas de reflexão sobre o futuro, uma atividade inata ao ser humano, decorrente de sua natural propensão ao controle de sua vida. Os métodos de reflexão sobre o futuro evoluíram. Na atualidade, dispõe-se de instrumentos sofisticados de apoio à análise de políticas no longo prazo que já superaram a ilusão e o simplismo da predição. Mas é possível melhorar essas técnicas. Quaisquer que sejam as direções tomadas pelos próximos avanços, uma vez que a evolução dessas metodologias também são processos de final aberto, é prudente que se resista à tentação do mapeamento exaustivo de futuros plausíveis. Por maior que seja a capacidade de memória e processamento dos computadores, parece pouco razoável supor a construção de instrumentos que consigam absorver a complexidade dos fenômenos sociais e mapear todos os seus potenciais cursos de evolução futura. Destaque-se também a necessidade de adotar procedimentos que promovam a verossimilhança dos resultados da implementação dos métodos. Essa é uma condição importante para reduzir a geralmente alta taxa psicológica de desconto que é aplicada sobre o futuro, o que compromete a percepção da importância de problemas e oportunidades vislumbrados no longo prazo ante aqueles localizados no âmbito mais imediato. Fundamentalmente, metodologias de exploração do futuro serão tão mais úteis quanto estimularem a imaginação, criarem uma 162 linguagem comum, servirem para estruturar a reflexão coletiva, reduzirem incoerências e, especialmente, permitirem sua utilização em processos de tomada de decisão. O desafio de lidar estrategicamente com o longo prazo é permanente. É com imaginação e razão, associadas em métodos, que o ser humano pode aprofundar sua reflexão acerca do futuro e, assim, melhorar sua capacidade efetiva de influir na construção do mundo onde viverão as próximas gerações. 163 BIBLIOGRAFIA DROR, Yeheskel. 1999. A capacidade para governar – Informe ao Clube de Roma. São Paulo: Edições FUNDALC. GODET, Michel. 1993. Manual de Prospectiva Estratégica: da antecipação a acção. Lisboa: Dom Quixote. GRUMBACH, Raul J. 1987. Prospectiva: a chave para o planejamento estratégico. Rio de Janeiro: Catau,. LEMPERT, Robert, Steven Popper e Steven Banks. 2003. Shaping the next one hundred years – New methods for quantitative, long term policy analysis. Santa Monica: The Rand Pardee Center. MATUS, Carlos. 1993. Política, Planejamento e Governo. Brasília: IPEA. MORIN, Edgar. 2003.O método – A natureza da natureza. Porto Alegre: Editora Sulina, 2ª Edição. 164 *Sylvio Kelsen Coelho é graduado em relações internacionais (1987) e mestre em ciência política (2001) pela Universidade de Brasília, tendo atuado profissionalmente nas áreas de relações institucionais, análise de risco e cenários políticos e negociações internacionais nos setores privado e público. É membro da carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental desde 1998, atualmente em exercício na Secretaria de Gestão - MP. Endereço eletrônico: [email protected]. Agradecimentos do autor: Meus agradecimentos a Mônica Costa e Rogério Fernandes, cujas inúmeras sugestões de aperfeiçoamentos melhoraram significativamente a versão preliminar deste artigo. Parte das modificações propostas não foi incorporada, muito provavelmente em prejuízo do texto, pelo que conto com a indulgência deles e do leitor. 165 166 RES PVBLICA Revista de gestão governamental e políticas públicas NORMAS DE PUBLICAÇÃO A RES PVBLICA é uma publicação da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, de natureza profissional e opinativa, e tem por objetivo divulgar artigos produzidos por membros da Carreira, colaboradores e estudiosos de assuntos relativos a políticas públicas, gestão governamental, organização do Estado, economia do setor público e às macroquestões políticas. A RES PVBLICA tem periodicidade semestral. Para selecionar os trabalhos a serem publicados, uma comissão editorial, coordenada pelo diretor de Estudos e Pesquisas, será constituída especificamente para cada edição. As comissões serão formadas por dois integrantes com sólida formação, além do próprio diretor. Caberá à comissão selecionar os trabalhos tentativamente por consenso. As situações não consensuadas serão decididas pelo diretor. Os critérios para seleção dos trabalhos são os seguintes: relevância conjuntural, originalidade, consistência, coerência, clareza e objetividade. Solicita-se aos autores que dimensionem seus trabalhos entre 25 mil e 50 mil caracteres, incluídos os espaços. Cada trabalho deverá vir acompanhado de resumo com aproximadamente 180 palavras. As contribuições deverão ser enviadas para o endereço eletrônico [email protected] sem qualquer tipo de formatação, hifenação ou tabulação, sem palavras em negrito ou sublinhadas. Caso necessário, poderão ser usados itálicos. As notas, inseridas no pé 167 da página, deverão ser numeradas em ordem crescente e indicadas no corpo do texto com algarismos arábicos. As referências bibliográficas devem ser incorporadas no corpo do texto na seguinte seqüência: sobrenome do autor / espaço / ano de publicação / dois pontos / espaço / página), de acordo com o exemplo: (Morin 1990: 52). Para a inserção de mais de um título do mesmo autor publicadas no mesmo ano, pede-se sejam os mesmos identificados por uma letra depois da data, conforme os exemplos: (Lévi-Strauss 1962a) e (Lévi-Strauss 1962b). A bibliografia citada deve ser indicada em ordem alfabética, no final do texto, devendo-se obedecer aos formatos apresentados nos exemplos a seguir: Livro: DROR, Yeheskel. 1999. A capacidade para governar – Informe ao Clube de Roma. São Paulo: Edições FUNDALC. Coletânea: EASTON, David(org). 1970. Modalidades de análise política. Rio de Janeiro: Zahar Editores. Artigo em Coletânea: METCALF, David. 1987. “Labour market flexibility and jobs: a survey of evidence from OECD countries with special reference to Europe”. In LAYARD, R. e CALMFORS, L. The fight against unemployment: macroeconomic papers from the Center of European Studies. Cambridge: MIT Press, pp 51-76. Artigo em Períodico: 168 GAETANI, Francisco. “Políticas de gestão pública para o próximo governo”. Res Pvblica, nº 1 2002: pp 11-32 Monografia, Dissertação ou Tese Acadêmica: SOUSA, Marcelo. 1999. Cidadania, Igualdade e Solidariedade: e o Brasil com isso? Brasília: Dissertação de Mestrado em Sociologia, SOL-UnB. 169 170 “Gestores Governamentais - uma carreira a serviço da cidadania”. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - ANESP. Endereço: SGAS 902 Lote 74 Bloco “B” Sala 229 - Ed. Athenas CEP: 70.390-020 - Brasília/DF. FONES: (61) 323 2397 / 321 3898 / FAX: (61) 322 4049 E-mail: [email protected] / Site: www.anesp.org.br DIRETORIA EXECUTIVA Amarildo Baesso Carmem Priscila Bocchi Carlos Frederico R. Gonçalves Rita de Cássia V. Munck Cristóvão de Melo Sérgio A. Ligiero Gomes Lamartine Vieira Braga Ricardo Vidal de Abreu Paulo Estevão T. Cavalcanti Celso Augusto R. Soares Marcos Maia Antunes - Diretor-Executivo - Diretora Administrativa - Diretor Financeiro - Diretora de Sócio-Cultural - Diretor de Comunicação e Divulgação - Diretor de Estudos e Pesquisas - Diretor de Assuntos Parlamentares - Diretor de Articulação Institucional - Diretor de Assuntos Profissionais -Suplente - Suplente CONSELHO FISCAL Alberto Albino dos Santos Bruno Henrique B.C. Pinto Cleyton Domingues de Moura 171 172 EXPEDIENTE Publicação semestral da ANESP - Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ano III - 5 - Novembro/2004 - ISSN - 1678-4057 1000 exemplares - circulação dirigida Editor: Sérgio Augusto Ligiero Gomes Banca Editorial: Francisco Gaetani Leila Giandoni Ollaik Luís Henrique da Silva de Paiva Sérgio Augusto Ligiero Gomes Coordenação Editorial: Maria de Fátima Melo Salvo Capa e Diagramação: Wenderson Pereira Diniz Produção: Fábio Oliveira dos Santos A Res Pvblica é uma revista opinativa de caráter profissional. A ANESP não necessariamente concorda com os posicionamentos dos autores em seus artigos. Rua 104, Travessa Eurípedes Barsanulfo nº 140 CEP 74080-350, Setor Sul Fone/Fax: 281-3610, E-mail: [email protected] - Goiânia-GO. 173 174
Download