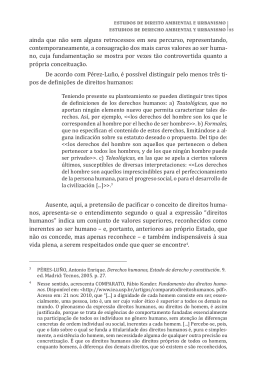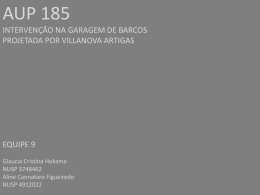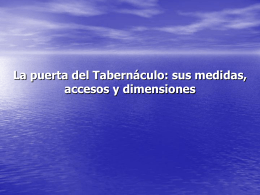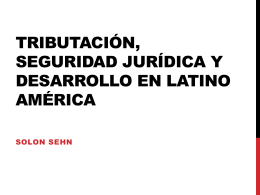Coordenação Geral Antônio Celso Alves Pereira Cleyson de Moraes Mello Coordenação Acadêmica Antonio D´Elia Jr. Fernando de Alvarenga Barbosa Revista da Faculdade de Direito de Valença-RJ 2009 Prefácio de José Rogério Moura de Almeida Filho (Presidente da Fundação D. André Arcoverde) Participação Especial do Ministro do STJ Nilson Naves Autores Alan de Carvalho Souza Alfredo Canellas Guilherme da Silva Alan de Carvalho Souza Alfredo Canellas Guilherme da Silva Ana Paula da Silva Souza Antonio Carlos Flores de Moraes Antônio Celso Alves Pereira Antonio D´elia Jr. Arilton Leoncio Costa Bruno Amaro Lacerda Carla N. Pentagna Carolina dos Reis Cleyson de Moraes Mello Danielle Cruz Torres Soares Fernando de Alvarenga Barbosa (Espanha) Gustavo Sampaio Telles Ferreira Ian Henríquez Herrera Ítalo Costa Nunes João Eduardo de Alves Pereira José Augusto Galdino da Costa José Luiz Quadros de Magalhães Jorge O. Bercholc (Argentina) Juan Rodrigo Longo Ferreira Gómez (Espanha) Marcelo A. Leite Marcia Ignácio da Rosa Marco Antônio Pereira Araújo Núria Belloso Martín (Espanha) Ricardo Lodi Ribeiro Rogério da Silva Tjader Rosângela Maria de Azevedo Gomes Sandra C. Negro (Espanha) Sebastião Trogo Tomás Prieto Alvarez (Espanha) Presidente da Fundação Dom André Arcoverde Dr. José Rogério Moura de Almeida Filho Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Dom André Arcoverde Prof. Miguel Augusto Pellegrini Diretor Geral do Centro de Ensino Superior de Valença Prof. Dr. Antônio Celso Alves Pereira Diretor Acadêmico do Centro de Ensino Superior de Valença Prof. Dr. Marcelo A. Leite Fundador da Revista Prof. Dr. João Marcelo de Araújo Júnior Diretor da Faculdade de Direito de Valença Prof. Dr. Antônio Celso Alves Pereira Diretor Adjunto da Faculdade de Direito de Valença Prof. Dr. Cleyson de Moraes Mello Diretor da Revista Prof. Ms. Arilton Leôncio Costa Conselho Editorial Prof. Ms. Antonio D´Elia Jr., Prof. Ms. Arilton Leôncio Costa, Dra. Carla Pentagna (Bacharel da Faculdade de Direito de Valença), Prof. Dr. Cleyson de Moraes Mello, Prof. Fernando de Alvarenga Barbosa, Prof. José Augusto Galdino da Costa, Dr. José Rogério Moura de Almeida Filho, Prof. Dr. Jorge O. Bercholc (Membro Externo – UBA - Argentina), Prof. Ms. Marcia Ignácio da Rosa (Membro Externo – Colégio Pedro II - RJ), Prof. Miguel Augusto Pellegrini, Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho (Membro Externo – USP - SP), Profa. Dra. Núria Belloso Martín (Membro Externo – Univ. Burgos - Espanha), Prof. Dr. Tomás Prieto Alvarez (Membro Externo – Univ. Burgos - Espanha) Coordenação Geral desta Edição Prof. Dr. Antônio Celso Alves Pereira Prof. Dr. Cleyson de Moraes Mello Coordenação Acadêmica desta Edição Antonio D´Elia Jr. Fernando de Alvarenga Barbosa Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Revista Interdisciplinar de Direito da Faculdade de Direito de Valença / Fundação Educacional D. André Arcoverde. Faculdade de Direito - ano 1, n.1. (maio 1998). Juiz de Fora: Editora Associada LTDA, 2010. Publicação Anual. Continuação de: Revista da Faculdade de Direito de Valença-RJ. ISSN: 1518-8167 1. Direito – Periódico – Brasil. I. Fundação Educacional D. André Arcoverde. Faculdade de Direito CDU: 34(81)(05) Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias; Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz. (Salmos 36:7-9) Coordenação geral da obra Antônio Celso Alves Pereira Diretor Geral do CESVA; Diretor da Faculdade de Direito de Valença; Professor de Direito Internacional da Universidade Gama Filho e da Faculdade de Direito de Valença; Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. Cleyson de Moraes Mello Doutor em Direito pela UGF/RJ; Mestre em Direito pela UNESA; Professor de Direito Civil, Hermenêutica e Introdução ao Estudo do Direito (Pós-graduação e Graduação) UNESA, UFF, UNIPAC, FAA-FDV, ESA-OAB (Rio de Janeiro e Espírito Santo), UNISUAM; Professor do Programa de Mestrado em Direito da UNIPAC – Juiz de Fora/MG; Diretor Adjunto da FDV; Advogado; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); Membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica – Porto Alegre/RS. Membro da Academia Valenciana de Letras; Membro do Instituto Cultural Visconde do Rio Preto; Vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas de Valença/ RJ; Autor e coordenador de diversas obras jurídicas. Coordenadores acadêmicos Antonio D’Elia Jr. Doutorando em Direito pela UERJ; Mestre em Direito pela UERJ; Supervisor 5 Geral do Curso de Direito da Universidade Castelo Branco; Assessor do Centro de Ensino Superior de Valença (CESVA); Professor da FDV. Fernando de Alvarenga Barbosa Doutorando em Direito pela Universidad de Burgos (UBU)/Espanha; Especialista em Direito Tributário e História do Direito no Brasil pela Universidade Estácio de Sá (UNESA); Professor de Direito Internacional Público, Teoria Geral do Estado e Tópicos de Direito Constitucional da UNESA; Tutor de EAD da UNESA; Diretor do Departamento Jurídico e Membro do Conselho da Cruz Vermelha Brasileira, filial Rio de Janeiro; Membro pleno da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI); Membro do Grupo de Estudos de Direito, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC); Coordenador da Pós-graduação em Direito Internacional e Relações Internacionais da UNESA; Professor da Faculdade de Direito de Valença; Director del Departamento Jurídico y Membro del Consejo de la Cruz Roja Brasileña filial Rio de Janeiro/Brasil. Autores Alan de Carvalho Souza Mestrando em História Política no Programa de Pós-graduação da Universidade Severino Sombra. Bolsista Capes. E-mail: [email protected] Alfredo Canellas Guilherme da Silva Professor de Direito Constitucional nos Cursos de Graduação e Especialização; Coordenador do site www.advogado.adv.br; Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho; Especialista em Direito Privado e Processo Civil pela Universidade Estácio de Sá; Extensão em Estudos Jurídicos Universidad de Burgos/Espanha. E-mail: [email protected] Ana Paula da Silva Souza Graduada em Letras/Literatura pela Universidade Severino Sombra e graduanda em Direito pela FAA. E-mail: [email protected] Antonio Carlos Flores de Moraes Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; Professor no Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/ RIO; Doutor em Direito pela Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca/Es6 paña; Curso de Aperfeiçoamento para Advogados de Empresa promovido pelo Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino de Direito (CEPED) da Universidade do Estado da Guanabara (UEG), com a colaboração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Subsecretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional (SUBIN), da Agência para Desenvolvimento Internacional (USAID) e da Fundação Ford - 1971. Arilton Leôncio Costa Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá; Coordenador de Pesquisa da Faculdade de Direito de Valença; Professor titular da Faculdade de Direito de Valença; Professor do Curso de Pós-graduação da Faculdade de Direito de Valença; Advogado militante; Pesquisador; Autor da obra “O Direito da Criança na Ética Constitucional”; Diretor da Revista Interdisciplinar de Direito da Faculdade de Direito de Valença; Coordenador de Monitoria na Faculdade de Direito de Valença; Coordenador do Prêmio Jurídico Costa Carvalho da Faculdade de Direito de Valença; Ex-presidente, com reconduções ao cargo, da 47ª Subseção da OAB/RJ, da qual foi um dos fundadores; Exadvogado do INSS; Ex-procurador do município de Mendes/RJ; Ex-diretor geral da Casa da Cultura de Mendes/RJ; Especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal e Constitucional; Experiência no campo do Direito Previdenciário e Tributário; Chefe de Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito de Valença; Representante Docente da Faculdade de Direito no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Valença (CESVA); Professor de língua italiana formado pelo Consulado Italiano através da Colônia Italiana de Valença; Ex-professor de OSPB; Ex-professor de Economia, Biblioteconomia e Arquivística em curso de 2º grau; possui curso de alemão básico; autor de vários artigos publicados. Bruno Amaro Lacerda Mestre e Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG; Ex-professor na Faculdade Pitágoras (campus Fadom) e na UNIPAC (Juiz de Fora); Professor da UFJF. Carla Pentagna Bacharel em Direito da Fundação Educacional Dom André Arcoverde; no Curso de Direito. E-mail: [email protected] Carolina dos Reis Mestre em Direito Internacional da PUC/Minas. Danielle Cruz Torres Soares Bacharelanda do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Valença (FDV). Gustavo Sampaio Telles Ferreira Professor adjunto do Departamento de Direito Público da UFF; Doutor em Direito pela UERJ. Ian Henriquez Herrera Profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes; Licenciado en Derecho (Universidad de Chile); Magíster en Derecho Privado (Universidad de Chile); Magíster en Investigación Jurídica (Universi- 7 dad de los Andes); Investigador visitante, Juristische Facultät George Augusta Universität Göttingen (Alemania). Ítalo Costa Nunes Bacharelando do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Valença (FDV). João Eduardo de Alves Pereira Doutor em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ; Professor do Curso de Direito da F.A.A. de Valença/RJ e do Depto. de Disciplinas Básicas da Faculdade de Direito da UERJ. Jorge O. Bercholc Doctor en Derecho Político; Especialista en Sociología Jurídica y Abogado, Universidad de Buenos Aires; Postgraduado como Especialista en Constitucionalismo y Democracia, y en Justicia Constitucional Universidad de Castilla-La Mancha/España; Diploma de postgrado en Procesos de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Universidad de Barcelona; Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Universidad de Buenos Aires; Profesor de Teoría del Estado y de Postgrado y Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Profesor Titular de Sociología Jurídica y de Metodología de la investigación Jurídica, Universidad Abierta Interamericana. José Augusto Galdino da Costa Advogado; Especialista em Direito pela Universidade Estácio de Sá; Presidente da Academia de Ciências Jurídicas de Valença (ACJV); Ex-diretor da Faculdade de Direito de Valença; Professor do Curso de Graduação e Pós-graduação da Universidade Cândido Mendes; Professor do Curso de Graduação da Faculdade de Direito de Valença; Membro da Academia Valenciana de Letras. José Luiz Quadros de Magalhães Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG; Professor do Programa de Pós-graduação em Direito da UNIPAC e da PUC-MG; Diretor do Centro de Estudos Estratégicos em Direito do Estado (CEEDE). Juan Rodrigo Longo Ferreira Gómez Doutorando em Direito Processual pela “Universidad de Burgos”/Espanha; Pósgraduando em LL.M. Littigation pela FGV e Sócio-fundador do escritório Gómez & Aeck Advogados. Marcelo A. Leite Doutor em Letras Vernáculas – Língua Portuguesa; Diretor Acadêmico do CESVA; Professor. 8 Marcia Ignácio da Rosa Doutoranda em Ciências da Educação – Universidad Americana; Mestre em Direito pela UNESA; Especialista em educação; Professora de Processo Civil dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Universidade Estácio de Sá (UNESA); Advogada. Marco Antônio Pereira Araújo Doutor e Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ; Especialista em Métodos Estatísticos Computacionais e Bacharel em Matemática com Habilitação em Informática pela UFJF; Diretor e professor do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fundação Educacional D. André Arcoverde. Nilson Vital Naves Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nuria Belloso Martín Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos/España; Es Coordinadora del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Público “Sociedad plural y nuevos retos del Derecho”; Es Directora del Curso de Especialista Universitario en Mediación Familiar. Ricardo Lodi Ribeiro Professor adjunto de Direito Financeiro da UERJ; Professor de Direito Tributário da FGV/RJ; Doutor em Direito e Economia pela UGF; Mestre em Direito Tributário pela UCAM; Advogado. Rogério da Silva Tjader Professor graduado em História pela Fundação D. André Arcoverde e em Pedagogia com especialização em Supervisão e Administração Escolar pela Fundação Rosemar Pimentel; Pós-graduado pela Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro em Metodologia do Ensino Superior; Pós-graduado em História Social pela Universidade Barão de Mauá/SP; Professor titular pelo Egrégio Conselho Federal de Educação em História Moderna, História Contemporânea, História do Pensamento Econômico; Supervisão de Prática de Ensino de História, História Econômica Política e Social Geral e do Brasil; Professor dos Cursos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ESG); Conferencista Nacional do Centro Brasileiro de Cultura – Convívio (SP); Conferencista da Fundação Educacional Severino Sombra; Conferencista da Fundação Educacional D. André Arcoverde; Professor do Curso de Graduação de História desde 1972 em várias Fundações; Professor de Língua Francesa Cours Exterieurs – CEPAL; Detentor das Comendas “D. André Arcoverde”, “Perfeita União” e “Visconde do Rio Preto”; Articulista; Escritor e Historiador com 12 livros registrados e publicados; Membro da Academia Valenciana de Letras. Rosângela Maria de Azevedo Gomes Doutora e Mestre em Direito pela UERJ; Professora adjunta de Direito Civil da UERJ e UNI-Rio; Professora do IBMEC-RJ, UCAM, UNI Lasalle e FAA; Docente do Programa de Pós-graduação em Direito da UERJ. 9 Sandra C. Negro Doctora en Derecho (UBA); Investigadora principal del CEIDIE; Profesora de Derecho de la Integración Regional en la Universidad de Buenos Aires a nivel de grado y posgrado. Sebastião Trogo Graduado em Direito pela Universidade de Juiz de Fora (UFJF); Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Doutor em Filosofia pela Universite Catholique de Louvain (UCL). Tomás Prieto Álvarez Professor Titular de Derecho Administrativo - Universidad de Burgos (España). 10 Sumário Apresentação 15 José Rogério Moura de Almeida Filho Palavras da Coordenação 17 Prof. Dr. Cleyson de Moraes Mello; Prof. Ms. Antonio D´Elia Jr.; Prof. Fernando de Alvarenga Barbosa e Carla Pentagna Sobre o Habeas Corpus 19 Nilson Naves As normas de jus cogens e os direitos humanos 29 Antônio Celso Alves Pereira A função social da propriedade ambiental como concretização dos Direitos Humanos 43 Rosângela Maria de Azevedo Gomes Novos paradigmas da legitimação democrática da jurisdição constitucional no Brasil 53 Gustavo Sampaio Telles Ferreira A Utilização dos Direitos Humanos como Dominação 65 José Luiz Quadros de Magalhães e Carolina dos Reis A dignidade humana em Giovanni Pico Della Mirandola 75 Bruno Amaro Lacerda Novas Considerações Sobre a Fundamentação dos Direitos Humanos e os Desafios Contemporâneos da Dignidade da Pessoa Antonio D’Elia Jr 81 11 As Dimensões da Personalidade e a Analítica Existencial: a Estrutura Prévia da Compreensão do Ordenamento Jurídico 91 Cleyson de Moraes Mello Una Relectura del Principio de Dignidad de la Persona Humana: su Fundamentación Kantiana y su Proyección Actual 103 Nuria Belloso Martín A Pessoa Humana e a sua Dignidade 125 J.A.Galdino da Costa A Dignidade da Pessoa Humana na Sociedade de Risco 131 Ricardo Lodi Ribeiro Subsídios ao conceito de raridade poder e violência segundo J. P. SARTRE 147 Sebastião Trogo 12 Direitos Humanos à Boa Gestão Pública 151 Antonio Carlos Flores de Moraes Geopolítica e Inserção do Brasil na Questão Energética Internacional 167 João Eduardo de Alves Pereira La Cooperación Internacional en la Unión Europea, como forma de garantizar los Derechos Humanos 183 Fernando de Alvarenga Barbosa La Dignidad Humana como Parámetro de Valoración Jurídica de las Modernas Biotecnologías Reproductivas 205 Ian Henríquez Herrera (Chile) Dignidad de la Persona, Libertad Religiosa y Aconfesionalidad del Estado: Problemas Nuevos en el Viejo Continente 217 Tomás Prieto Álvarez La seguridad jurídica, uno de los pilares de la dignidad y seguridad humana y de la gobernabilidad en los regímenes democráticos 249 Jorge O. Bercholc Dignidad humana y Mercosur 273 Sandra C. Negro Os Entendimentos Internacionais e a Participação Brasileira nos Acordos em Relação ao Aquecimento Global 281 Carla Pentagna Os Primórdios da Política Partidária no Império do Brasil tendo como Objetivo a Dignidade dos Seres Humanos 291 Rogério da Silva Tjader O Direito ao Processo Justo com Instrumento de Realização do Direito Fundamental à Tutela Jurisdicional 307 Marcia Ignácio da Rosa Ativismo Judicial. Realidade Admissível Apenas para a Concretização dos Direitos Fundamentais Sociais 319 Alfredo Canellas Guilherme da Silva Humanidade, Humanização e Dignidade 327 Ana Paula da Silva Souza e Alan de Carvalho Souza O Plano Existencial da Dignidade aliado a uma visão constitucional histórica 335 Ítalo Costa Nunes Novos Paradigmas Sobre o Registro Civil e de Gênero dos Transexuais Danielle Cruz Torres Soares 345 13 O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o caso do “Peep-Show” 357 Juan Rodrigo Longo Ferreira Gómez Pra que Discutir com Madame? A busca da identidade cultural de um povo pela música 367 Prof. Dr. Marcelo A. Leite A Inclusão Digital como Estratégia para Resgate da Cidadania e Diminuição da Exclusão Social e Econômica 375 Marco Antônio Pereira Araújo Alimentos. Visão Contemporânea do Instituto Arilton LeoncioCosta 383 Apresentação É com grande satisfação que apresentamos à comunidade jurídica brasileira o número 06 da REVISTA INTERDISCIPLINAR DE DIREITO da Faculdade de Direito de Valença. A produção científica que conforma esta obra coletiva tem como autores renomados juristas nacionais e do exterior, bem como integrantes dos corpos docente e discente da nossa Faculdade. A edição do presente número expressa a preocupação da Faculdade de Direito de Valença no sentido de oferecer um espaço para a discussão e o diálogo interdisciplinares, fato que permite ao leitor o contato com diferentes saberes e diferentes posições doutrinárias. Nessa linha, é importante salientar que os artigos agora publicados têm como centralidade o princípio da dignidade humana, o que reflete o interesse da Faculdade de Direito de Valença em aprofundar estudos sobre esse tema de inquestionável relevância. Convidamos todos à leitura. Valença, 10 de outubro de 2009. José Rogério Moura de Almeida Filho 15 Presidente da Fundação Educacional D. André Arcoverde Palavras da Coordenação A presente obra é adornada pelo espírito inovador de seus Coordenadores, Autores e Convidados Especiais com o objetivo de proporcionar à comunidade jurídica e ao público especializado parte do labor dos docentes da Faculdade de Direito de Valença, espelhando mais de 40 anos de tradição, qualidade e competência. É um trabalho diferenciado em seu conceito e conteúdo, já que procura caminhar a partir de uma (re)leitura do Direito, sob a ótica da dignidade da pessoa humana. A produção científica é um valioso instrumento de avaliação da qualidade de nosso corpo docente e discente e é com esse pensamento que foi possível chegar-se ao ponto de convergência a partir do qual esta Revista tornou-se uma ponte entre a produção científica dos autores, a comunidade jurídica e o público especializado. Recebe, pois, a comunidade jurídica uma bela obra adornada com as mais lindas cores da constitucionalização do Direito, contextualizada social e historicamente. Dos talentosos autores desta obra, 12 professores exercem atividades jurídicoacadêmicas na Faculdade de Direito de Valença. Assim, cremos que esta Revista Comemorativa, cuja densidade e intensidade tivemos a honra de coordenar, traz sobremaneira a necessária contribuição para o debate e o avanço da práxis do direito. Valença, outubro de 2009. Prof. Dr. Cleyson de Moraes Mello Diretor Adjunto da Faculdade de Direito de Valença Prof. Ms. Antonio D´Elia Jr. Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da FDV Doutorando em Direito pela UERJ Prof. Fernando de Alvarenga Barbosa Professor da FDV e Doutorando em Direito Carla Pentagna Bacharel pela FDV 17 Sobre o Habeas Corpus Nilson Naves Ministro do Superior Tribunal de Justiça Falo-Ihes da liberdade. Conversando a respeito do habeas corpus, estamos conversando a propósito da liberdade. Sem aligeirar tanto o passo, irei, entretanto, falar-lhes, em apressadas palavras, sobre o que Pontes denominou “remédio jurídico processual mais eficiente em todos os tempos: o habeas corpus”. É o habeas corpus, entre nós, ação, di-lo pelo menos o texto constitucional (“são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data...”), embora se ache ele inscrito, processualmente, entre os recursos. Isso não significa tanto assim porque a revisão também lá se encontra inscrita. Há quem - vários pensadores, vários e bons versejadores -, há quem acrescente a “remédio” o adjetivo “heróico”. O acréscimo também nos dá conta de alguns acontecimentos com o mandado de segurança; aliás, hoje, tal acontece com os instrumentos que assegurem alguma medida urgente. Era, no início da República, o habeas corpus que a tudo assegurava - vejam 19 que assegurava a liberdade individual no seu sentido mais amplo; protegia outras liberdades que não apenas a de locomoção; garantia outros direitos; consentia, pois, inúmeras medidas urgentes. Era, sabemos todos, a doutrina brasileira, donde surgiria o mandado de segurança. Felicíssima para isso foi à judicatura, por exemplo, de Pedro Lessa, entre 1907 e 1921. Escreveu: “... as garantias constitucionais são estabelecidas em favor da liberdade e outros direitos dos indivíduos e não contra estes” (HC-2.774, de 1909). Hoje, para meu pessoal desgosto, andam transformando exceções em regras - inviolabilidades em violabilidades. Onde se lê “são invioláveis”, hoje, bem ou mal-intencionados, andam lendo “são violáveis”. Assim como se celebram com o habeas tantas façanhas - e é bom que assim o seja -, assim também haveremos, hei eu, antes, em presença de minhas concepções, são verdade, de ter a seu respeito posições, se não de todo heróicas, ao menos condizentes com a sua real natureza. Tão marcante a sua natureza - proteção à liberdade -, que, no rumoroso caso Suzane, concedi liminar a fim de assegurar à paciente, temporariamente, o benefício da prisão domiciliar. Escrevi, depois, no voto: 20 “Quando deferi o pedido de liminar em 26.5.06, já se percebia, por antecipação, que, futuramente, iria eu conceder a ordem. Não era, portanto, segredo profissional a minha intenção. Disse, naquela decisão, que tinha em mãos quatro razões: garantia da autoridade de decisão anterior do Superior Tribunal, excesso de tempo, desnecessidade da prisão repetida e falta de efetiva fundamentação. Foi a liminar criticada por toda parte, mormente quanto à opção que fiz pela prisão domiciliar da paciente, mas o foi, no geral, por críticos sem razão, sem razão alguma, por críticos com ou sem ciência jurídica. Se lhes faltava ciência, não haveriam mesmo de alcançar o sentido jurídico da decisão. Isto é evidente. Se ciência não lhes faltava, faltou-lhes, entretanto, boa-fé, porque, tendo eu já reputado ilegal a prisão - o mais -, era-me lícito, conclusivamente, optar, temporariamente, pelo menos - a prisão domiciliar. Isso também é evidente, salta aos olhos dos bem intencionados, só não à vista dos mal-intencionados. E por quê? Porque, entre outros motivos, declarei, na decisão de 26.5.06, que a prisão não era necessária, e não era mesmo, tanto que, repetida indevidamente prisão de caráter cautelar, Suzane se apresentou ao Distrito Policial. E mais: o decreto de 10.4.06 carecia de efetiva fundamentação. Plus ~ change, .Q.!!!.§ c’est Ia même chose. Quanto mais muda, mais, de fato, é a mesma coisa. Quanta dificuldade, afinal, para se ter o alcance das coisas, coisas facilmente alcançáveis! Quem tem ouvidos ouça ainda o seguinte: quem pode o mais pode, incontestavelmente, o menos (in eo quod plus est semper inest et minus) foi escrito: no âmbito do mais, sempre se compreende também o menos. Também escreveu o excelso Maximiliano que a lei seja entendida inteligentemente: “...Teve-se em mira o fim fornecer meios para atingí-los.” Não haveríamos nós de seguir o caminho da inteligência? Somos a lei quando lhe damos interpretações e a presunção porque somos finais é a de que sempre lhe damos a melhor das interpretações. Por isso é que somos finais, não o somos porque somos certos, mas somos certos porque somos finais. Algo mais a se escrever?” De tão heróico e de tão eficiente que é, o habeas corpus tem o dom, mais que outros instrumentos jurídicos, de mexer com a história, alteran- do-a também. Vêm-me à cabeça dois casos: um lá de fora, outro nosso. Em 1961, num Tribunal da Flórida, disse o juiz ao réu que lhe não poderia nomear advogado, porque naquele Estado só se nomeava advogado para quem advogado não possuía, se se tratasse de acusação por crime capital. E não era ali o caso, porque o crime era o de roubo. Eis, a propósito, trechos do diálogo entre o juiz e o réu: “O juiz: - Que diz o réu? Está pronto para ser julgado? O réu: - Eu não estou pronto, Excelência. O juiz: - Por que não está pronto? O réu: - Porque não tenho advogado. O réu: - Excelência, eu disse: Eu peço a este Tribunal que designe advogado para assistir-me neste julgamento. O juiz: - Desculpe, Sr. Gedeão, mas não posso designar um advogado para representá-lo (...). De acordo com as leis do Estado da Flórida, só se pode designar um advogado para assistir o réu, se ele é acusado de crime capital. Desculpe-me, mas terei que recusar o seu pedido... “(Apud Anthony Lewis, “A trombeta de Gedeão”, tradução de Beatriz Moreira Pinto Beraldo, Forense, 1966.) 21 Como um tribunal do Estado negara a ordem de habeas corpus a Gedeão, o caso foi ter à Suprema Corte e lá em 1963: “... a Corte anunciou sua decisão histórica: os Ministros revogaram, por unanimidade, uma decisão anterior e determinaram que, daí por diante, a Décima Quarta Emenda assegurava que a pobreza não podia privar um réu criminal do direito à assistência judiciária. Para Gedeão isso significava um novo julgamento, desta vez com o auxílio de um advogado, e ele foi absolvido. Entretanto, A Trombeta de Gedeão é muito mais do que a história dramática de um único caso, cujas repercussões transformarão as vidas de milhares de outros prisioneiros: é também uma análise e uma interpretação sugestiva do papel desempenhado pela Suprema Corte.” (Idem, 1966.) A outra façanha do habeas aconteceu em Brasília, numa manhã de sábado - 14.11.64. Dou a palavra ao Relator, o saudoso Gonçalves de Oliveira (RT J 33/596-597): “O habeas corpus requerido em favor do Governador Mauro Borges Teixeira me foi distribuído na tarde de sexta-feira, 13 do corrente mês. No dia 14, sábado, as portas do Tribunal estavam fechadas. Noticiavam os jornais e as estações de rádio a movimentação de tropa federal para Goiás... ...Compreendi que era meu dever de juiz, imperativo da minha consciência, deferir a liminar requerida. Não tive dúvida em apor na petição o seguinte despacho: ‘Deferido.’ ... dava ao habeas corpus contornos construtivos, um sentido liberal, tão condizente com as aspirações do nosso povo e da nossa gente, a saber, o escopo de assegurar de maneira pronta e precisa o princípio de defesa das liberdades públicas. O habeas corpus, do ponto de vista da sua eficácia, é irmão gêmeo do mandado de segurança. Onde estiver a maldade e a injustiça, há de existir o remédio jurídico ...” Reparem que, na feliz construção de Gonçalves, admitiu-se, no habeas 22 corpus, a liminar que me permitiu assegurar à Suzane a prisão domiciliar e que tem permitido a mim e a tantos outros magistrados evitar ilegalidades e abusos de poder (“a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos bens que os céus deram aos homens... pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve aventurar a vida”). Reparem, também, que a Corte Norte-americana, alterando a sua jurisprudência, fez história - história nacional - no julgamento daquela petição de habeas corpus. Sabem os que me andam lendo que ando compartilhando crenças de maior fôlego em torno do habeas corpus. Já escrevi: “A minha compreensão das coisas, principalmente daquelas referentes ao Direito, sempre teve, a propósito do cabimento e do alcance do habeas corpus, reflexões semelhantes àquelas aqui relembradas, todas, como se viu, extraordinárias e mui sábias, dignas de registro, ontem, hoje e sempre. Por exemplo, quando fundado na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso extraordinário, é a simples apreciação de provas - operação mental de conta, peso e medida (consulte-se, por todos, a RT J-32/703).” Ementei tal julgamento da seguinte maneira (HC-36.824, de 6.6.05): “Habeas corpus (cabimento). Matéria de prova (distinção). 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance. 2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se que sejam as provas verificadas. O que se veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção. 3. Admite-se, sem dúvida, habeas corpus que questione defeitos da sentença relativos aos seus requisitos. 4. Pedido originário do qual não se conheceu. Ordem, porém, expedida de ofício, a fim de que se julgue, na origem, o mérito da impetração.” 23 Nesse julgamento, recordei preciosas passagens de Hungria, Victor Nunes, Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves. Notem estas palavras de Pedro Chaves: “Sr. Presidente, V. Excia. começou o brilhante e douto pronunciamento como que se justificando do exame de provas. Mas, ao contrário de Vossa Excelência, acho indispensável o exame das provas, quando se trata de habeas corpus fundado na alegação de falta de justa causa. Não conheço outro processo lógico de apreendimento da verdade perante uma alegação, sem o exame das provas. O que a lei não permite, e o que a doutrina desaconselha, é a reabertura de um contraditório de provas, no processo sumaríssimo de habeas corpus. Mas, aquelas que vêm através de certidões, aquelas que são incontestáveis perante direito, têm de ser examinadas pelo juiz, porque, senão, este não chegará a saber se há ou não justa causa. Gosto muito do exame dos fatos, Sr. Presidente. É um processo de raciocínio que sempre adotei. Nunca esboço uma questão de direito sem fazer um preâmbulo para enquadrar o fato.” Num caso em que se discutiu a cláusula processual - “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” -, escrevi o seguinte nestas passagens de um voto vencido (HC-58.137): 24 “... a questão que momentaneamente se me põe, e que está posta diante de nós, é saber, ao que penso, sobre o alcance dos procedimentos dos tribunais de apelação e, principalmente, dos nossos, sobretudo em habeas corpus, claro é, tal o caso cujo exame estamos a proceder. Noutras palavras, até aonde nos é possível ir. A minha opinião, data venia, é a de que a nossa tarefa não está sujeita a tantas peias, que nos impeçam de re-examinar, mesmo em habeas corpus, as decisões dos tribunais de apelação. Mestre Hungria, o Hungria advogado, não mais o juiz, e então parecerista, contestara o laudo pericial do noticiadíssimo caso Aída Curi... De mim para mim mesmo, dúvida não tenho - vênia devida - quanto a que nos é lícito indagar da decisão de tribunal de apelação que envia réu a novo júri quando os precedentes jurados tenham, eventualmente, decidido em manifesta contrariedade à prova dos autos. Se é lícito a tribunal de apelação fazer essa constatação, haveremos nós de também fazê-la e, quem sabe, fazê-la sem peias e sem amarras em habeas corpus - ação destinada à defesa. A nós assiste o dever a que se referiu Villas Boas no já longínquo 1962.” O habeas corpus, entre outras oportunidades, deu-me também a de falar o seguinte sobre provas ilícitas (RHC-16.118): “Ora, dúvida não tenho de que o procedimento de que estamos cuidando neste caso iniciou-se afrontando textos de lei, mormente os já declinados por mim. Nasceu, portanto, morto, como morta havia nascido aquela sindicância que levei dias atrás ao conhecimento da Corte Especial, tratando-se, naquele caso, de sindicância fundada em carta anônima, quando, sabidamente, o nosso ordenamento veda, às claras, o anonimato (Art. 5°, IV), enquanto que, no caso presente, o ordenamento brasileiro, entre outras garantias, já citadas, assegura, sobretudo, a inviolabilidade do indivíduo, isto é, a minha, a sua, a nossa inviolabilidade. É uma questão de princípio, que cumpre ser proclamado, respeitado e assegurado. É o preço, sei lá se é bem esse o termo que gostaria de empregar - vá lá! -, é o preço da democracia, do estado democrático de direito, do qual não podemos e não devemos abrir mão. Escreveu um dos melhores historiadores dos tempos passados e dos tempos atuais que a democracia é uma plantinha tenra, cabendo a nós regá-la sempre e sempre, diariamente. Vejam, a democracia é como uma plantinha tenra, que necessita de água, de água e, quem sabe, sabemos todos, do comportamento de todos nós, ela depende principalmente de nós a quem estão conferidos poderes de guarda das normas jurídicas. Fundada que foi a ação penal em provas obtidas por meios ilícitos, falta-lhe, portanto, justa causa, daí que, provendo o recurso ordinário, concedo a ordem de habeas corpus e determino o trancamento da ação.” Tão eficiente vem sendo o remédio, que o que nos vem assustando lá no Superior Tribunal é a multiplicidade dos habeas corpus - chegam-nos em grande quantidade. Vejam, tanto que instalado o Superior Tribunal (7.4.89), o Supremo Tribunal compreendeu que era sua a competência para processar e julgar originariamente habeas corpus cujo coator fosse qualquer tribunal, 25 ainda quando pendesse de julgamento, no Superior, recurso especial interposto na mesma ação penal (HC-67.263, sessão de 19.4.89, DJ de 5.5.89, Ministro Moreira Alves). Contrariamente, no entanto, era a compreensão do Superior Tribunal. Prevaleceu, é óbvio, o entendimento do Supremo, ei-la conforme a ementa do HC-17 (sessão de 6.6.89, DJ de 26.6.89, Ministro Assis Toledo): “Competência concorrente de tribunais dotados de graus de jurisdição distintos. Escolha pela parte, nessa hipótese, do Tribunal que mais lhe convém, através da escolha do meio processual. Impossibilidade, ante o caráter absoluto de competência funcional e o princípio de que a competência para o habeas corpus contra ato judicial será sempre do Tribunal que deveria conhecer do recurso contra esse mesmo ato. Aplicabilidade desse princípio havendo concorrência entre o ‘writ’ e o recurso especial previsto na Constituição de 1988.” A melhor das razões estava com o Superior Tribunal. Até que eu dava outros passos, ia para a frente com o objetivo de que se estatuísse a competência do Supremo apenas para os habeas corpus, quando o coator fosse o Superior, que versassem matéria eminentemente constitucional; afinal, não estava e não está escrito que compete ao Supremo, precipuamente, a guarda da Constituição? Então haveria de se tratar de ofensa eminentemente direta, jamais de ofensa reflexa. Foi necessário que se alterasse a Constituição. Isso aconteceu no ano 1999, por meio da Emenda no 22, e das alíneas i (competência do Supremo) e C (competência do Superior Tribunal), uma do art. 102, I, outra do art. 105, I, e foi lhes dada a seguinte redação: 26 “i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;” “c) o habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” Como o Supremo persiste em escrever sobre a lei federal, conquanto a sua missão essencial seja a guarda da Constituição, não a da lei federal, destinada esta, precipuamente, ao Superior, a Emenda no 22 serviu pouco, pouquíssimo mesmo, serviu mesmo foi para criar mais um grau de jurisdição; aliás, o quarto grau não é de lá, é de antes. Enquanto não se definir que a interpretação final da lei federal é da competência exclusiva do Superior, estaremos em várias hipóteses diante de quatro graus de jurisdição. Quanto ao habeas corpus, isso é evidente - juiz, tribunal de segundo grau, Superior e Supremo. A Emenda n° 22, sem que se limite a competência do Supremo ao habeas corpus de feição eminentemente constitucional, não deu solução à questão de competência entre o Supremo e o Superior. Até que poderia ter dado solução se se entendesse que o Supremo gira em torno da Constituição, o Superior, ao redor da lei federal. Como esse conflito não tem solução, cá fica o Superior a perder um pouco da sua autoridade - deixando de ser a última palavra sobre a interpretação da lei federal -, e cá também ficamos, mais o Superior do que o Supremo, sujeitos ao castigo mitológico de fazer rolar eternamente um enorme rochedo na subida de uma vertente. Vejam como é necessário acertarmos o passo - como no bolero, dois para lá, dois para cá - sobre as competências; se não o acertarmos, a dança não nos será prazerosa. A solução, e única, a meu ver, é a transformação do Supremo em Corte predominantemente constitucional, de acordo com o modelo europeu. Seja lá como for, o grande problema de hoje é o processo - o seu número, enorme, chegam-nos, usando uma expressão Machadiana, às braçadas, por atacado. Se isso revela o prestígio do Judiciário - e creio que sim, isto é, as pessoas buscando solução para seus conflitos -, deixa-nos sobremaneira preocupados, porque nos faltam mãos e corações... No Superior, ninguém tem, entre nós, nas estantes, aguardando julgamento, menos de 800 habeas corpus. A distribuição individual, diariamente, está entre 20 e 30, vindo todos, ou quase todos, com pedido de liminar. Isso compromete a rapidez, também a leveza e a exatidão. Quem lida com as coisas da Justiça preocupa-se com a exatidão - a segurança das palavras - das decisões, também com a rapidez - principalmente quando o que se encontra em jogo é a liberdade. Qual a solução? Chamado, em 1985, a Harvard, Italo Calvino escreveu cinco conferências, não as proferiu porque a morte prematuramente lhe tirou a vida. Eram propostas para o próximo, agora atual, milênio - leve- 27 za, rapidez, exatidão, visibilidade e multiplicidade. Sempre as leio, na perfeita tradução de Ivo Barroso. Há, nelas, algo que também mexe com as coisas das Leis, do Direito, da Justiça, etc. Por exemplo, a propósito da rapidez, Calvino termina a conferência com esta história chinesa: “Entre as múltiplas virtudes de Chuang-Tsê estava a habilidade para desenhar. O rei pediu-lhe que desenhasse um caranguejo. Chuang-Tsê disse que para fazê-lo precisaria de cinco anos e uma casa com 12 empregados. Passados cinco anos, não havia sequer começado o desenho. ‘Preciso de outros cinco anos’, disse ChuangTsê. O rei concordou. Ao completar-se o décimo ano, Chuang-Tsê pegou o pincel e num instante, com um único gesto, desenhou um caranguejo, o mais perfeito caranguejo que jamais se viu.” (“Seis propostas para o próximo milênio”, Cia. das Letras, 1990.) A história é instigante como instigantes são os escritos de Calvino. Eu gostaria mesmo era de ter aquele pincel não para desenhar o mais perfeito caranguejo que jamais se viu, mas para, com tal rapidez e tal exatidão, dar solução aos meus oitocentos e tantos habeas corpus - porque a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos bens... As normas de jus cogens e os direitos humanos Antônio Celso Alves Pereira1 Resumo O jus cogens internacional, cujo conceito é bastante polêmico, suscita, conforme alguns autores, mais dúvidas do que certezas. Nesta perspectiva, devemos levar em conta que é relativamente recente a inclusão de normas imperativas no Direito Internacional Público, embora já antes da Segunda Guerra Mundial o tema fosse objeto de especial atenção de doutrinadores da importância de Verdross e George Scelle. Tal situação se deriva do fato de que vivemos hoje numa sociedade internacional marcadamente interdependente, integrada cultural e economicamente pela globalização de todas as atividades humanas e pelos sucessos das tecnologias da informação. Tais circunstâncias exigem, cada vez mais, a consagração de normas jurídicas internacionais que possam, de fato, por sua natureza imperativa proteger a comunidade internacional e, individualmente, a pessoa humana. Palavras-chave: Direito internacional. Dignidade humana. Jus cogens. 29 Abstract The international jus cogens, whose concept is quite controversial, raises, according to some authors, more questions than answers. Under this perspective, we should therefore consider that it is relatively recent the inclusion of mandatory rules in international law, but before the Second World War, the theme was the object of special scholars attention of the importance of Verdross and George Scelle. This situation stems from the fact that we live today in a markedly interdependent international society, culturally and economically integrated into the globalization of all human activities and the successes of information technology. These circumstances increasingly require the consecration of international legal standards that may, in fact, by its imperative nature to protect the international community and individually, the human person. Keywords: International Law. Human Dignity. Jus Cogens. Introdução Um dos referenciais mais destacados na configuração da sociedade internacional contemporânea é determinado pelo reconhecimento de que, no âmbito dessa mesma sociedade, imperam valores fundamentais que consubstanciariam princípios de ordem pública internacional contra os quais não poderiam se opor os sujeitos de Direito Internacional, uma vez que esses valores se traduziriam em normas de hierarquia 1 Professor de Direito Internacional da Universidade Gama Filho e da Faculdade de Direito de Valença. Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. superior, melhor dizendo, normas imperativas que se colocariam acima das normas chamadas dispositivas, e que limitariam a produção normativa dos Estados e das Organizações Internacionais, bem como as decisões judiciais e arbitrais emanadas de Tribunais Internacionais. “Em outras palavras”, explica Toru Yamamoto, “isso parece indicar uma mudança qualitativa no modo de ser do sistema jurídico internacional, na medida em que determinadas normas, ao argumento de sua imperatividade, passaram a se impor mais que as outras, tais quais as normas constitucionais, o que sinaliza a tendência hierarquizante, ainda que embrionária, do sistema jurídico internacional da atualidade”.2 Assim, o conjunto dessas normas comporia o jus cogens internacional, cujo conceito, como veremos adiante, é bastante polêmico, ao suscitar, conforme alguns autores, mais dúvidas do que certezas. Nesta perspectiva, devemos levar em conta que é relativamente recente a inclusão de normas imperativas no Direito Internacional Público, embora já antes da Segunda Guerra Mundial o tema fosse objeto de especial atenção de doutrinadores da importância de Verdross e George Scelle. Tal situação se deriva do fato de que vivemos hoje numa sociedade internacional marcadamente interdependente, integrada cultural e economicamente pela globalização de todas as atividades humanas e pelos sucessos das tecnologias da informação. Tais circunstâncias exigem, cada vez mais, a consagração de normas jurídicas internacionais que possam, de fato, por sua natureza imperativa proteger a comu30 nidade internacional e, individualmente, a pessoa humana das “consequências do relativismo, do subjetivismo e do voluntarismo que a soberania estatal imprime na ordem internacional”.3 Em magnífico ensaio sobre o tema, Michel Virally4 sublinha que devemos, antes de mais nada, considerar que, apesar de inspirar-se no direito interno, no direito público conforme seu sentido romano, ou seja, um ordenamento que interessa à comunidade, nas noções de ordem pública e em preceitos oriundos do direito constitucional, o conceito de jus cogens em Direito Internacional deve ter como ponto de referência básica e essencial o próprio Direito Internacional. Quando aparece na ordem internacional, a norma imperativa apresenta características diferenciadas e específicas. Em razão disso, ou seja, por ser um conceito controverso, que implica em limitação à soberania estatal, e que é visto por vários autores como revolucionário, “não surpreende que para um certo número de internacionalistas seja difícil aceitar uma renovação tão radical no campo do pensamento e dos conceitos, e, da mesma forma, admitir, no terreno dos fatos, que as transformações políticas e sociológicas que afetaram sobremaneira a sociedade internacional nos últimos 20 anos tenham sido bastante profundas e irreversíveis a ponto de provocar uma mudança tão substancial no direito que a rege.5 2 Direito Internacional e Direito Interno. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, págs. 171/172. Salcedo, Juan Antonio Carrillo. El Derecho Internacional en Perspectiva Histórica. Madrid: Editorial Tecnos, S. A., 1991, pág. 173. 4 El devenir del derecho internacional. México, D. F.: Fundo de Cultura Económica, 1998, pág. 166. 5 Op. cit. pág. 165. 3 Normas cogentes em Direito Internacional Antes de entrarmos na discussão sobre a natureza das normas internacionais classificadas como imperativas, cogentes6, ou de ordem pública, isto é, de normas gerais, que resultam de valores universais, aplicáveis a todos os sujeitos de Direito Internacional, acreditamos conveniente levantar algumas questões básicas sobre a hierarquia das fontes em Direito Internacional Público.7 A enumeração das fontes formais – os tratados ou convenções e o costume internacional – no texto do Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não consagra a existência de uma hierarquia entre essas as fontes.8 Decorrente disso, precisamos considerar que as normas jurídicas internacionais e as fontes formais do direito internacional são categorias distintas. De acordo com a lição de Nguyen Quoc Dinh, por norma internacional entende-se o conteúdo, a substância de uma regra elaborada segundo as exigências intrínsecas de tal ou tal fonte formal. Contudo, uma mesma norma pode se originar de várias fontes diferentes. Assim, normas relativas à delimitação da plataforma continental, idênticas em substância, podem ter um fundamento convencional para determinados Estados e, para outros, um fundamento costumeiro. De forma inversa, uma mesma fonte pode dar origem a numerosas regras de conteúdo variado”.9 6 “No Direito Romano o termo jus cogens não era ainda utilizado com o sentido de Direito Imperativo, ou de Ordem Pública, empregando-se, antes, Ius Publicum. Assim, Papiniano afirma `jus cogens privatorum pactis mutari non potest” (...) É na pandectística germânica que o termo surge. O primeiro autor a utilizá-lo terá sido Christian Gluk, em 1797”. Eduardo Correia Baptista. Direito Internacional Público – Conceitos e Fontes. Volume I, Lisboa: Editora Lex, 1998, pág. 133. Giordani, Mário 31 Curtis, Iniciação ao Direito Romano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, págs. 97/100, esclarece: “... Papiniano (D.2. 14.38) usa a expressão jus publicum para indicar todas aquelas normas invariáveis, mesmo de direito privado, que em virtude do interesse público que encerram, não podem ser mudadas pelos pactos particulares. (...) Ulpiano (D. 50.17.45.1) emprega a expressão jus publicum quando diz que a convenção de particulares não derroga o direito público – privatorum conventio juri publico non derrogat”. Por sua vez, Roberto Puceiro Ripol, professor da Universidad de la República – Uruguai –, escrevendo sobre a origem do jus cogens afirma o seguinte: “El origen de la expresión jus cogens y su concepto, surgen muy esfumados de entre la historia del Derecho, y es su evolución a través del tiempo la que les va dando cuerpo y contenido en las distintas ramas de la Ciencia Jurídica. La noción en si ya estaba contenida en el Derecho Romano; fue acogida por los preceptos cristianos y el Derecho Canónico y posteriormente transmutada en el `Derecho de Gentes necesario’ de la escuela clásica Del Derecho natural. Desde que este Derecho no está sujeto a cambios y las obligaciones que impone son necesarias y indispenables, las naciones no puedem alteralas por convenio individual ni eximirse mutualmente de ellas”. Las Normas de Jus Cogens fenómeno exclusivamente universal o tambiem regional? In Curso de Derecho Internacional – XXVII, 2000. Comit Juridico Interamericano. Secretaria General de la OEA: Washington, D.C. 2000, pág. 380. 7 “Muchos autores consideran las expresiones orden público internacional y ley imperativa como sinónimos, pero tabién se ha dicho (por Ganshof van der Meesch, citado por E. Suy en Lagonissi Papers, pág. 19), que el objeto de la ley imperativa no se refiere necesariamente al orden público. Por otra parte, toda ley de orden público es impertiva por naturaleza.” Cf. Manual de la Terminologia de Derecho Internacional (Derecho de la Paz) y de las Organizaciones Internacionales. Ginebra: Institut Universitaire de Hautes Études Internacionales, 1993, pág. 9. 8 “Le principe est que, pour les sources, il n’existe pas de hiérarchie en droit international. (...) L’article 38 du Statut de la C. I. J. s’abstient de toute allusion à une quelconque hiérarchie entre les sources énumérées. Il n’est pas possible de poser, en postulat général, que les traités l’emportent nécessairemente sur le coutume ou inversement”. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet. Droit Internactional Public. Paris: Librairie Générale de Droit et Juriprudence, 1994, pág. 114. 9 Para um estudo aprofundado desta questão, consultar o citado autor, págs. 114/120. Tratado e costume estão, portanto, no mesmo grau hierárquico.10 Contudo, em determinadas situações, precisamos observar a questão cronológica no aparecimento da norma. Nesta perspectiva, uma norma convencional posterior derroga um costume anterior e um costume posterior derroga uma norma convencional anterior, se tais normas têm o mesmo âmbito de validez, pois uma convenção de alcance universal não poderá ser revogada por um costume particular e nem um costume de Direito Internacional comum pode ser revogado por normas convencionais de natureza particular.11 Não está no propósito deste trabalho discutir, com profundidade, a questão da hierarquia das fontes. Interessa-nos as questões relativas às normas de jus cogens. Porém, considerando ainda os princípios consubstanciados nas regras lex posterior e lex specialis, julgamos oportuno registrar a lição de André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros. “O tratado pode cair em desuso, sendo revogado, portanto, pelo costume; e o costume, se não for regra cogente, pode ser derrogado por tratado celebrado por todos os Estados vinculados pela opinio iuris em relação à prática que gerou aquele costume. Todavia, em termos práticos aquela igualdade de grau hierárquico fica limitada. De fato, e pelo que deixamos dito, o costume universal a menos que incorpore regra inderrogável (Art. 38º CV), só poderia ser revogado pelo tratado em que interviessem todos os sujeitos vinculados, o que na prática se tem mostrado ser irrealizável. Isto, contudo, não impede que esse costume, se não for jus cogens, possa ser revogado interpartes pela celebração de um tratado entre dois ou mais Estados. Todavia, o costume continuará 32 10 Esta não é uma tese pacífica. Pelo contrário, bastante controvertida. Para alguns doutrinadores existe uma hierarquia entre as fontes do DIP. Eduardo Correia Batista (Direito Internacional Público – Conceitos e Fontes. V. I – Lisboa: Editora Lex, 1998, págs. 68/146), professor da Universidade de Lisboa, colocando o costume no topo das fontes, registra: “Existe uma difundida tese que afirma não existir qualquer hierarquia entre as Fontes em DIP; para os seus defensores, Tratado e Costume encontram-se no mesmo plano hierárquico podendo as suas normas revogar-se mutuamente. Por isso mesmo, entendem que existe, sim, uma simples hierarquia de normas invocando, nomeadamente o Jus Cogens. Não se pode concordar com esta tese. Pensa-se, pelo contrário, que existe uma hierarquia de Fontes”. Ver, também, a opinião do mesmo autor sobre o conceito de ordem pública em DIP às págs. 130/139. Em posição contrária, isto é, afirmando a não existência de hierarquia entre as fontes formais, Nguyen Quoc Dinh, op. cit. pág.115. afirma: “Que les sources formelles ne soient pas hiérarchisées n’oblige pas à considerer qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les normes juridiques. Cette hiérarchie ne pourra évidemment pas être déduite du fondement de ces normes, puisq’il s’agit de sources formelles. Mais elle peut être impliquée par d’autres caractéristiques: le degré relatif de généralité des regles em cause, leur position chronologique, par example. Le seul cas où l’ont peut parler, faire application du príncipe hiérarchique est celui d’um conflit entre une norme `impérative’ (jus cogens) et une norme conventionelle ou coutumière”. Sobre o mesmo assunto, referindo-se ao Artigo 38 do Estatuto da CIJ, ensina Hildebrando Accioly: “Nessa enumeração de fontes, os redatores do Estatuto não tiveram em vista o estabelecimento de uma ordem hierárquica, que marcasse, por exemplo, a superioridade das convenções sobre o costume e deste sobre os princípios gerais de Direito. Aliás, se se deve adotar uma ordem de precedência entre as ditas fontes, o lugar primacial caberá aos princípios gerais de Direito, porque estes são a base do Direito Positivo, cujas regras, segundo Verdross, são apenas a cristalização e a concretização dos ditos princípios”. Manual de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Saraiva, 1975, pág. 5. Ver também Mello, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000, págs. 191/198. 11 Consulte-se Verdross, Alfred. Derecho Internacional Publico. Madrid: Aguilar S. A. Ediciones, 1963, págs. 100/103. em vigor para os Estados que não celebraram o tratado, e nas relações entre esses e os que celebraram. Como se vê, na prática, a força do costume é superior à do tratado, pois este nem sempre pode revogar aquele. Os costumes e os tratados universais ou parauniversais prevalecerão, como é óbvio, sobre os costumes e tratados regionais, e estes sobre os costumes e tratados bilaterais”.12 Portanto, como princípio geral, não existe hierarquia entre as fontes formais, o que não quer dizer que não exista hierarquia entre normas jurídicas internacionais. Afirmam alguns autores – ensina Verdross – que, em princípio, todas as normas do Direito Internacional Público são dispositivas. Disso podemos deduzir, em síntese, que dois Estados podem acordar entre si determinada matéria do interesse de ambos, contrariando o Direito Internacional Comum ou Universal, na medida em que não afete os direitos de terceiros Estados. Contudo, existem outras normas de Direito Internacional Universal que os Estados não podem, mesmo sendo do seu exclusivo interesse, acordar sua alteração. Exemplificando, o mestre da Escola Austríaca aponta a situação em que dois Estados-membros da ONU não podem deixar de observar entre si os princípios do Artigo 2º da Carta, porque as obrigações ali fixadas são absolutas. O mesmo se poder dizer de tratados imorais, como os que tivessem como objeto o tráfico de escravos. Em razão disso, diante de cada norma, é preciso averiguar sua natureza, isto é, se ela é dispositiva (jus dispositivum) ou taxativa (jus cogens).13 No caso específico das normas classificada como de jus cogens, ai, sim, devemos falar em hierarquia de normas, nos termos conceituais da Convenção de Viena sobre o 33 Direito dos Tratados, conforme veremos a seguir. Em seu Projeto de Convenção sobre Direito dos Tratados, concluído em 1966, a Comissão de Direito Internacional da ONU consagrava, num proposto Artigo 50, que “um tratado é nulo se for incompatível com uma norma imperativa de Direito Internacional geral à qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma norma subsequente de Direito Internacional Geral da mesma natureza”. Por aí se vê que a Comissão de Direito Internacional reconhecia a existência de normas imperativas, propondo a sua positivação.14 Vale registrar que a Assembléia Geral da ONU, em sua XVIII reunião, ao apreciar o Relatório da Comissão de Direito Internacional, aprovou a proposta de positivação dos princípios relativos ao jus cogens internacional, com base nos seguintes argumentos: “A Comissão de Direito Internacional da ONU reconhece que no atual estágio do Direito Internacional positivo e geral existem determinadas normas fundamentais de direito público, com caráter internacional, contra as quais os Estados não podem acordar compromissos que as contradigam por se definirem como de jus cogens. A matéria 12 Op. cit. págs. 286/287. Op. cit. pág. 81. 14 Ao incluir no Projeto o jus cogens, a Comissão de DI da ONU tornava realidade as propostas teóricas de doutrinadores como Verdross e George Scelle, que antes da II Guerra Mundial defendiam a existência das normas imperativas de Direito Internacional. Sublinham André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, que a ideia da existência de tais normas não é de hoje. “Já Grocio se lhe referia por 15 vezes, sob a designação de jus strictum, no Livro I de De Jure Belli ac Pacis, atribuindo-lhe fundamento no jus divinum”. Op. cit. pág. 278. 13 foi considerada por todos os que dela cuidaram como de suma importância, um passo enorme para o progresso do Direito Internacional”.15 Posteriormente, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969) acatou, tomando uma posição nitidamente antivoluntarista,16 o Projeto da Comissão de DI ao consagrar a matéria em seus Artigos 53, 64 e 7l. Pela natureza da matéria, foram acirradas as discussões sobre o tema durante a Conferência de Viena. A Delegação da França, por não aceitar a consagração do jus congens, votou contra a aprovação da Convenção. Toucoz sublinha que “muitos Estados rejeitam este conceito (de jus cogens) vendo nele uma ameaça intolerável à sua soberania”.17 Vale também registrar a opinião de Charles de Visscher segundo a qual “aquele que invocar uma regra de jus cogens, (...) suportará um ônus de prova considerável”.18 Vejamos o que expressa o Artigo 53: “É nulo um tratado que, no momento da sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, como 15 Doc. A/5601, 6 de novembro de 1963. Tradução livre do autor. Cf. R. Brobov . Basic Principles of Present-Day International Law. In Contemporary International Law. Moscow: Progress Publishers, 1969, págs.41/42. 16 “Em conclusão, deveremos dizer que a admissão do jus cogens, e, portanto de um Direito Imperati34 vo, no topo da hierarquia das fontes do Direito Internacional representa mais um fator de crise no voluntarismo e, ao mesmo tempo, um robustecimento da fundamentação do Direito Internacional no Direito Natural, porque ela foi acolhida pela CV quando esta admitiu o ius cogens”. André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros, Op.cit. pág. 285. “Consecuencia de este positivismo voluntarista era la negación de la existencia de normas universales. Triepel lo afirmó tajante: “Una voluntad común surgida en el ámbito del derecho internacional, no puede tener su origem de ningún modo en un acuerdo de mayoria (...) sólo la voluntad de todos puede constituir el medio para la creación de uma voluntad común (...) Se excluye totalmente que una norma de derecho internacional surgida de un acuerdo colectivo (Vereibarung) sea válida para Estados que no han participado en su estipulación (...) Puesto que el derecho internacional solo puede surgir de tal acuerdo, y un acuerdo en el que se hubieran aunado todos los Estados existentes no puede probarse, quede claro que no puede haber un derecho internacional general, en el sentido de obligar igual a todos los Estados del mundo. Antes bien, cada norma de derecho internacional tiene una validez limitada que viene dada por el número de Estados que han participado en su formación y que en cada caso constituyen sólo una parte de los existentes. Existe, si bien puede decirse así, únicamente derecho internacional particular, únicamente normas que tienen validez para dos, tres o muchos Estados nunca sin embargo para todos”. Así pues, se trata de un derecho internacional marcado por el particularismo y la reciprocidad entre los Estados soberanos que han dado su consentimiento. En esta concepción, todo Estado tiene un derecho a que una norma internacional sea respetada frente a él (á son égard), pero no tiene derecho a que el conjunto del derecho internacional y de las obligaciones que comporta sean respetadas en si mismas (en lui-même). Lloréns, Jorge Cardona. La Responsabilidad Internacional por violación grave de obligaciones esenciales para la salvaguarda de intereses fundamentales de la comunidad internacional. In Anuario de Derecho Internacional – VIII, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1985, pág. 272. 17 Direito Internacional. Mira-Sintra Mem Martins, Portugal: Publicações Europa-América, 2000, pág. 211. 18 Cf. Brownlie Ian. Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pág. 538. uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma norma de direito internacional geral da mesma natureza”. O Artigo 64 estabelece o seguinte: “Se aparecer uma norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer Tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e termina”. Dos textos dos artigos supra citados,19 destacamos a caracterização do jus cogens como norma imperativa e universal de Direito Internacional, que obriga os Estados no seu conjunto e têm caráter evolutivo, na medida em que é admitida a sua substituição, desde que a nova norma tenha a mesma natureza, o que nos leva à crença de expansão e de aparecimento de novas normas dessa categoria, considerando os constantes avanços na sociedade internacional. Além disso, proclamam a nulidade de qualquer acordo entre os sujeitos de Direito Internacional Público, cujo conteúdo conflitar com tal norma imperativa. É oportuno salientar que os mesmos mandamentos expressos pelo Artigo 53 são repetidos, sob o mesmo número, na Convenção também celebrada em Viena, em 1986, sobre Direitos dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais. Desde a aprovação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados surgem 35 vozes abalizadas criticando o teor dos citados artigos.20 Começam por apontar falhas básicas nos textos que positivaram o jus cogens. Toucoz, por exemplo, afirma que, em decorrência de sua imprecisão, a noção de jus cogens não é satisfatória e, por sua natureza, “corre o risco de estar no centro dos debates políticos e de contribuir para a instabilidade jurídica mais do que para o progresso do Direito Internacional”.21 Na mesma linha, Schwarzemberger vê a consagração do jus cogens pela Convenção de Viena como fonte de instabilidade nas relações estabelecidas por convenções.22 Como ficou dito na Introdução ao presente trabalho, as normas classificadas como de jus cogens compõem o campo da ordem pública internacional. Para o direito interno, o conceito de ordem pública é de substancial relevância. Contudo, considerando o fato de que este conceito é caracterizadamente evolutivo, ou, como ensina Jacob Dolinger, “é de natureza filosófica, moral, relativa, alterável e, portanto, indefinível”,23 não é fácil estabelecer o seu verdadeiro conteúdo em Direito Internacional Público, se levarmos 19 “Ces deux textes établissent une véritable hiérarchie entre les normes impératives et les autres; en aucune manière ils n’instituent une nouvelle catégorie de sources formelles du droit international (sur la distinction entre les notions de normes e de sources)”. Quoc Dinh, Op. cit. pág.201. 20 Ver Cunha, Joaquim da Silva e Pereira, Maria da Assunção do Vale. Manual de Direito Internacional Público. Coimbra: Editora Almedina, 2000, pág. 338. cf. os mesmo autores, “juristas como Schwarzemberger e Estados como a França consideram a noção de jus cogens perigosa, por ser susceptível de prejudicar a estabilidade das relações internacionais, introduzindo nelas um elemento de insegurança que pode diminuir a força obrigatória dos Tratados”. Pág. 338. 21 Op. cit. pág. 211. 22 Apud Brownlie, Op. cit. pág. 538. 23 Direito Internacional Privado, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997, pág. 349. em conta a circunstância de que a sociedade internacional não alcançou o grau de evolução das sociedades nacionais e, consequentemente, o Direito Internacional Público também não alcançou o estado de desenvolvimento do Direito Interno. Devemos considerar que as diferenças estruturais entre as ordens interna e externa criam obstáculos para que se possa, por analogia, aplicar os conceitos de ordem pública oriundos do Direito Interno no Direito Internacional Público. Conforme Charles Rousseau, essas diferenças estruturais decorreriam do seguinte: 1) no Direito Interno, as normas de ordem púbica são determinadas pelos órgãos de produção do Direito Estatal “fixando, por sua autoridade, as restrições à liberdade contratual delas decorrentes, enquanto, no Direito Internacional, não é concebível a existência de tais normas, posto não existir poder superior aos sujeitos de Direito Internacional que elaborem suas próprias normas; 2) a estatura do Tratado não equivale à do contrato dada a diversidade do meio social em que se materializa; 3) a sanção à transgressão das normas de ordem pública é certeira no Direito Interno, já que o próprio Estado, que centraliza a coação institucionalizada, se encarrega de impô-la, o que não ocorre na comunidade internacional, de estrutura descentralizada”.24 Na linha dos destaques das imprecisões do citado Artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, o problema mais grave está na questão do seu conteúdo. Segundo alguns autores, o sentido um tanto vago do seu texto, ao se referir ao Direito Internacional geral, acabou por deixar muita coisa por esclarecer, principalmente definir quais normas seriam imperativas. Neste caso, poderiam existir normas imperativas 36 regionais? É em razão disso que Browmlie assegura ser mais abundante a doutrina que existe em apoio da categoria do jus cogens do que a que existe em apoio do seu conteúdo concreto, não se desenvolvendo no Direito Consuetudinário regras que correspondam prontamente às novas categorias. Apontado as regras sobre o uso da força pelos Estados, sobre a autodeterminação e sobre o genocídio, como exemplos de matérias em torno das quais haveria acordo geral quanto a suas classificações como princípio de jus cogens, o mesmo autor conclui suas referências críticas asseverando que, no que diz respeito ao efeito da autodeterminação sobre a transferência de território, os problemas de aplicação não foram resolvidos. “Se um Estado usa a força para implementar o princípio da autodeterminação, será possível pressupor que um aspecto do jus cogens é mais importante do que outro”? E conclui: “Os corolários específicos do conceito de jus cogens estão ainda a ser explorados”. Ainda no campo das imprecisões contidas no Artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, como não há, no texto do mesmo Artigo, indicações para que possamos classificar como imperativa uma determinada norma de Direito Internacional, uma dificuldade logo se apresenta, ou seja, como saber se são normas de jus cogens as de natureza convencional ou somente aquelas que surgirem de fonte costumeira. Também nisso está instalada uma polêmica entre os doutrinadores, uma vez que boa parte identifica o jus cogens como formado apenas por normas costumeiras. Esta posição estaria, segundo seus defensores, alicerçada na realidade de que costume é uma fonte formal que encerra uma peculiaridade, ou seja, a norma internacional derivada do costume internacional geral, vincula todos os Estados, independentemente de sua acei24 Cf. Yamamoto, Op. cit. pág. 170. tação do mesmo costume. Correia Batista,25 professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por exemplo, diz que, por tutelarem interesses comuns, só devem ser consideradas normas de jus cogens as normas costumeiras dos Direitos Humanos, e, da mesma forma, as normas costumeiras com caráter humanitário do DIP dos conflitos armados, bem como a proibição do recurso da força e as normas que tutelam o patrimônio comum da humanidade: o alto mar, os fundos marinhos, o espaço exterior e os corpos celestes. Contudo, acreditamos que a melhor posição está em apontar, tanto o costume internacional geral ou comum, quanto o tratado multilateral geral, as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, e mesmo os atos unilaterais emanados de organismos internacionais de âmbito universal, como fontes do jus cogens. A propósito, vale lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem26 é vista, hoje, pela melhor doutrina como fonte costumeira de jus cogens. Diante disso, considerando as limitações que, nos dias atuais, são impostas ao Estado pelo Direito Internacional Público para o exercício da soberania, estamos frente a uma realidade político-jurídica que se expressa no fato de que não se pode invocar direitos soberanos para justificar o descumprimento de compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. “Pelo simples fato de integrar-se às Nações Unidas – para quem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se não era originalmente compulsória, tem força de jus cogens como direito costumeiro –, os Estados abdicam soberanamente de uma parcela da soberania, em sentido tradicional, obrigando-se a reconhecer o direito da comunidade internacional de observar e, consequentemente, opinar sobre sua atuação interna, sem contrapartida de vantagens concretas.”27 37 Como os Artigos 53 e 64 são, como vimos, bastante imprecisos, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, por meio de seu Artigo 66, estabelece que a Corte Internacional de Justiça é o Tribunal competente para interpretar os mencionados artigos e, ainda, ordena os procedimentos para a solução arbitral. O Artigo 103 da Carta das Nações Unidas dispõe o seguinte: “No caso de conflito entre as obrigações dos Membros das Nações Unidas em virtude da presente Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta”. 25 Op. cit. pág. 133. Segundo a Assessoria Jurídica das Nações Unidas, na prática da ONU, uma declaração é um instrumento solene, a que se deve recorrer somente em casos muito especiais, ou em questões de grande e verdadeira importância, e em situações em que se espera obter o máximo de observância por parte do maior número de Estados. Memorando da Oficina de Assuntos Jurídicos da Secretaria Geral das Nações Unidas à Comissão de Direitos Humanos em se 18º período de reuniões. Documentos Oficiais do ECOSOC, 34º período de reuniões. Apud Tomás, Antonio Fernandes. Derecho Internacional Publico – Casos e Materiales. Valencia, Espanha,: Editora Tirant lo Branch, 1990, pág. 68. 27 Lindgren Alves, J. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Editora Perspectiva, 1994, pág. 5. Segundo Kofi Annan, Secretário-geral da ONU: “Em nenhum país, o governo tem o direito de se esconder atrás da soberania nacional para violar os direitos do homem e as liberdades fundamentais dos habitantes deste país.” 26 O texto do Artigo supra, expressando princípios constitucionais oriundos da Carta da ONU, revela uma regra convencional de Direito Internacional geral, explicita uma hierarquia, figura, portanto, no rol das normas de jus cogens. A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (Artigo 71) estabelece as consequências da nulidade e extinção de um tratado que, conforme o Artigo 53, configure um conflito com uma norma de jus cogens, obrigando as partes a eliminar, na medida do possível, tais consequências e, da mesma forma, adaptar suas relações mútuas à norma imperativa de Direito Internacional geral. Se a nulidade e a extinção do Tratado se der em razão de confronto com as normas do Artigo 64, as partes restam liberadas do cumprimento do Tratado. O texto do citado Artigo 71 da Convenção de Viena completa a lista das consequências da nulidade de um acordo internacional conflitante com princípios de jus cogens, deixando claro que a terminação do Tratado “não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes, criados pela execução do Tratado, antes da terminação; entretanto, esses direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente, na medida em que sua manutenção não entre em conflito com a nova norma imperativa de Direito Internacional geral”.28 Normas de jus congens no contexto do Direito Internacional dos Direitos Humanos Um outro elemento importante a ser destacado nessa matéria reside no debate doutrinário sobre a incidência de normas imperativas no domínio dos Direitos Hu38 manos. Parte da doutrina, reduz o jus cogens exclusivamente ao Direito dos Tratados, posição da qual discordamos. Celso de Albuquerque Mello, lecionando sobre o tema, escreve: “Há quem alegue que o jus cogens faz parte apenas do D. dos Tratados e não existe em relação aos Direitos Humanos. Considero que o jus cogens pode abranger os mais diferentes setores do DIP”.29 Por outro lado, da análise do Artigo 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados fica bastante claro que as obrigações decorrentes da violação de uma norma de jus cogens, por afetar a sociedade internacional em seu conjunto, configuram obrigações erga omnes, que se definem como a obrigação internacional que vincula um Estado em relação a todos os outros Estados, que, por sua vez, estão vinculados pela mesma norma e se encontram na mesma situação jurídica. São obrigações relativas aos interesses comuns da comunidade internacional. O reconhecimento das obrigações erga omnes por todos os sujeitos do Direito Internacional funciona como garantia do interesse público internacional. Comentando a natureza das obrigações erga omnes, Eduardo Correia Batista sublinha que tais obrigações, traduzindo o sentido da expressão latina, são, pois, devidas em relação a todos os Estados vinculados pela norma e não bilateralmente em relação a cada Estado. “Assim, um Estado sujeito a uma destas obrigações encontra-se vinculado a respeitá-la em relação a todos os outros Estados sujeitos à norma que a impõe, independentemente de o seu desrespeito lhes acarretar qualquer dano”.30 Antônio Augusto Cançado Trindade, Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, discutindo o tema, afirma: 28 Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, artigo 71, nº 2, letra b. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro, Editora Renovar, volume I, 2000, pág. 795. 30 Ver Correia Batista, Op. cit. págs. 136/138. 29 “A consagração das obrigações erga omnes de proteção representa a superação de um padrão de conduta erigido sobre a pretensa autonomia de vontade do Estado, do qual o próprio direito dos Tratados buscou gradualmente se liberar ao consagrar o conceito de jus cogens. (...) Em suma e conclusão, nosso propósito deve residir em definitivo no desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial das normas peremptórias do Direito Internacional (jus cogens) e das correspondentes obrigações erga omnes de proteção do ser humano”.31 Como vimos, a noção de jus cogens encerra princípios que buscam tutelar valores universais, isto é, interesses gerais da comunidade internacional. Desta forma, não seria procedente, à primeira vista, apontar como normas dessa categoria hierárquica determinadas regras de Direito Internacional Regional ou Particular. Contudo, precisamos atentar para o fato de que uma das características do Direito Internacional Público contemporâneo é o seu caráter evolutivo. E assim, apesar das opiniões em contrário, podemos falar em jus cogens regional, conformando normas imperativas de validez limitada aos espaços regionais definidos. Os avanços no processo de integração europeia, por exemplo, levaram à constituição de instituições supranacionais que favorecem a possibilidade de existência de normas imperativas nesse espaço. Em relação ao Sistema Americano, desde os primórdios de sua institucionalização, princípios gerais e normas particulares que integram atualmente o Direito Internacional geral, como a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção, entre outras, vêm sendo criados e desenvolvidos, e, da mesma forma, normas específicas de aplicação 39 estritamente regionais, como a segurança coletiva, formando um conjunto normativo que não pode ser derrogado expressa ou tacitamente por um conjunto de Estados americanos em suas relações mútuas, mas que, por sua natureza corresponde a valores considerados essenciais para a manutenção do Sistema Americano no momento histórico atual. Nesta expectativa, essas normas podem ser enquadradas no rol das regras que configuram o jus cogens regional americano. Uma norma imperativa cuja validade é limitada a um espaço regional deverá, portanto, ser uma norma aceita e reconhecida por essa comunidade particular.32 Sob o aspecto jurisprudencial, podemos apontar algumas decisões da Corte Internacional de Justiça exaradas com base em princípios de jus cogens. No caso Barcelona Traction (Segunda Fase, 1970) a Corte Internacional de Justiça concluiu que as obrigações de um Estado para com outro Estado são distintas das obrigações para a comunidade internacional como um todo. “Tais obrigações”, asseverou a Corte Internacional de Justiça, “derivam, no Direito Internacional contemporâneo, da proibição, por exemplo, de atos de agressão e genocídio, como também dos princípios e regras que dizem respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive a proteção contra a escravatura e discriminação racial”.33 Da mesma forma, em outros importantes julgados a Corte Internacional de Justiça refere-se ao jus cogens em casos, por exemplo, como os relativos ao pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerã (Sentença de 1980), às atividades militares e para-militares na Nicarágua (Sentença de 27 de 31 Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro, Editora Renovar, volume I, 2000, pág. 795. Consulte-se R. Puceiro Ripol, Op. cit. pág. 396/398. 33 Ver Brownlie, op. cit. pág. 537. 32 junho de 1986), à aplicação da convenção sobre a prevenção e a repressão do crime de genocídio (Sentença de 1993), e no caso Etiópia e Libéria versus África do Sul (Sentença de 1998). Nessa mesma linha, ver a Sentença de 19 de novembro de 1999, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Villagrán Morales e outros, muito especialmente o voto concorrente conjunto dos Juízes Antônio Augusto Cançado Trindade e A. Abreu Burelli, e, entre outros casos julgados pela Corte Interamericana, os Casos La Cantuta Vs. Peru, Bairros Alves Vs. Peru, Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Ximenes Lopes Vs. Brasil e as Opiniões Consultivas números 17 – Condição Jurídica e Direitos Humanos da Criança e 18 - Condição Jurídica dos Imigrantes Indocumentados, entre outros julgados e opiniões consultivas. Neste mesmo contexto, ver os Pareceres nº 1 e 9, de 29 de novembro de 1991 e 4 de julho de 1992, respectivamente, da Comissão de Arbitragem da Conferência de Paz para a Iugoslávia.34 Identificação das normas de jus cogens A identificação das normas de jus cogens35 é uma das questões mais controvertidas no âmbito do Direito Internacional Público. A Comissão de Direito Internacional aponta como exemplos de normas imperativas as que proíbem a escravatura, a pirataria, o genocídio e as que qualificam o crime internacional. Celso D. de Albuquerque Mello indica que “única norma em relação à qual há uma concordância dos autores no sentido de considerá-la como jus cogens é a interdição ao uso da força nas relações internacionais 36 40 e, em consequência, a solução pacífica dos litígios.” (Artigo 2º da Carta da ONU). Escrevendo sobre o tema, Brownlie explica que os juristas têm tentado, em empreitada sem muito sucesso, classificar as regras, os direitos e os deveres no plano internacional, que poderiam ser tipificados como fundamentais ou, relativamente aos direitos, inalienáveis ou inerentes. Apontando Lauterpacht e Fitzmaurice, Brownlie diz ainda que em passado recente, “alguns autores eminentes defenderam a opinião de que existem certos princípios fundamentais de Direito Internacional que formam um corpo de jus cogens. A principal característica distintiva de tais regras é a sua não derrogabilidade. São regras de Direito Consuetudinário que não podem ser afastadas por tratados ou aquiescência, mas apenas pela formação de uma regra consuetudinária subsequente de efeito contrário. Os exemplos menos controversos deste tipo de regras são a proibição do uso da força, as regras sobre o genocídio, o princípio da não discriminação racial, os crimes contra a humanidade, e as regras que proíbem o comércio de escravos e pirataria.”37 34 Cf. Correia Baptista, op. cit. 133. “A seu turno, Alfred Verdross entende que o critério para identificação do jus cogens está no fato de que tal tipo de norma não existe para satisfazer as necessidades de um Estado singular, mas sim para atender o superior interesse de toda a comunidade internacional, razão pela qual englobaria grupos de normas como: 1) os que proíbem a violação dos direitos de terceiros Estados; 2) os que foram criados com o propósito humanitário; 3) os que foram introduzidos pela Carta da ONU. Quanto a estes últimos, há que se notar, todavia, que a Carta das Nações Unidas não declara que todas as suas disposições são normas de ordem pública, além de conter normas claramente dispositivas, tais como as previstas nos seus artigos 38, 52, 77, e 80”. Yamamoto, op. cit. pág. 177. 36 Direito Internacional Americano. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1995, pág. 9. 37 Brownlie, Ian, Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulbekian, 1997, págs. 536/537. 35 Outras normas são apontadas como de jus cogens: o princípio da autodeterminação38 dos povos, a igualdade jurídica dos Estados, o princípio da não intervenção, os princípios que regulam a liberdade dos mares e os direitos fundamentais do homem.39 Os direitos humanos fundamentais, como o direito à vida, o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, as normas contra a tortura, a escravidão e a servidão, o direito à integridade pessoal, o princípio da legalidade, a liberdade de consciência e de religião, a proteção da família, o direito ao nome, os direitos da criança, o direito à nacionalidade, os direitos políticos, bem como as garantias indispensáveis à proteção de tais direitos, estão, conforme o Artigo 27, (2) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incluídos no rol das normas imperativas de Direito Internacional, que obrigam todos os Estados, possuem eficácia normativa erga omnes e são, portanto, regras que não podem ser derrogadas, mesmo em situações excepcionais vividas pelo Estado. A tudo isso podemos ainda aduzir o disposto no Pacto de Direitos Civis e Políticos, que proíbe a suspensão do direito da pessoa não ser presa por não cumprir obrigação contratual e, da mesma forma, reafirma o princípio de que ninguém poderá ser privado de sua liberdade, “salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela contidos.”40 Nessa mesma linha, a Convenção Européia, em seu Artigo 15 (2), destaca os direitos inderrogáveis. Na Declaração Universal não encontramos disposições derrogatórias. O Artigo 28 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece que suas disposições serão aplicadas sem qualquer limitação ou exceção. Da mesma forma, não vamos encontrar cláusulas de suspensão de direitos na Convenção das Nações Unidas contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cru- 41 éis, Desumanas ou Degradantes. A Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 9 de junho de 1994, em seu Artigo X é bastante clara quando determina: “Em nenhum caso poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais, tais como estado de guerra ou ameaça de guerra, instabilidade política interna ou qualquer emergência pública, para justificar o desaparecimento forçado de pessoas”. É evidente que o descumprimento de normas aceitas como de jus cogens configura responsabilidade do Estado que as violou. Contudo, em situações extremas, que ameacem a própria existência do Estado, suspendem-se os efeitos de certas normas de Direitos Humanos, conforme podemos inferir pela leitura do Artigo 27 (l) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos: 38 Para um maior aprofundamento sobre o princípio da autodeterminação como jus cogens, ver Juan Antonio Travieso, Derechos Humanos y Derecho Internacional. Buenos Aires: Editorial Hiliasta, 1996, págs. 70/76. Nestas páginas o autor entra na polêmica acerca da inclusão da autodeterminação como princípio de jus cogens. Após levantar os argumentos das várias posições doutrinárias favoráveis e contrárias à aceitação da autodeterminação como norma imperativa, conclui citando Gross Espiell: “Segundo Gros Espiell la autodeterminación es norma de jus cogens y lo fundamenta en el derecho natural. (...) La violación por um Estado de derecho a la libre determinación de los pueblos constituy uma causa de responsabilidade internacional que `tipifica’ um `crimen internacional’. O sea, um tratado que viole el derecho de autodeterminación es nulo”. 39 Cf. Mello, Celso D. de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, I Volume, pág. 75. 40 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantias. (Arts. 27.2., 25,l y 7.6 – Convención Americana sobre Derechos Humanos) Assinala Cançado Trindade, que apesar das “duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados (Artigos 53 e 64) consagrarem a função do jus cogens no domínio próprio do direito dos tratados, parece-nos uma consequência inelutável da própria existência de normas imperativas do Direito Internacional não se limitarem estas às violações resultantes de Tratados, e se estenderem a toda e qualquer violação, inclusive as resultantes de toda e qualquer ação e quaisquer atos unilaterais do Estado.”41 O fato da Grécia, da Espanha e de Portugal só terem sido admitidos na CEE quando deixaram de ser ditaduras é apontado por Ténékidès como exemplo de que a legitimidade democrática dos Estados é um princípio de jus cogens europeu. Ao lado disso, o mesmo autor registra a existência de normas consagradas na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos “que o Estado não pode suspender mesmo em caso de ameaça a sua segurança”.42 Conclusões Conforme mencionamos na Introdução deste trabalho, a consagração pela Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados dos princípios que definem o jus cogens é um marco importante na evolução do Direito Internacional Público contemporâneo. Hoje, está bastante claro que, por cima do voluntarismo estatal, prevalecem valores comuns vitais para a comunidade internacional que, sob o prisma jurídico se expressam nas normas imperativas de Direito Internacional Universal. Estas normas, aceitas 42 e reconhecidas pela comunidade internacional, não admitem qualquer acordo entre sujeitos de Direito Internacional Público que as venham contradizer. Por força do Artigo 53 da referida Convenção só podem ser substituídas por outras normas de Direito Internacional geral de igual classificação. São normas de ordem pública internacional e as obrigações delas derivadas são obrigações erga omnes. Como vimos, a noção de jus cogens encerra princípios que buscam tutelar valores universais, especialmente aqueles consagrados no extenso corpus juris voltado para a proteção internacional dos Direitos Humanos. 41 Cançado Trindade, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos., V. II. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, pág. 416. 42 Cf. Mello, Celso D. Albuquerque. Direito Internacional Americano. Pág. 9. A função social da propriedade ambiental como concretização dos Direitos Humanos Rosângela Maria de Azevedo Gomes1 Resumo Refletir sobre a função social da propriedade ambiental traduz um esforço no sentido de compreender que o simples fato da proteção ambiental estar explícita no Art. 225 da Constituição de 1988, nas leis de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) e na de danos ao meio ambiente (Lei nº 7.802/89), não reflete a função social da propriedade ambiental que difere frontalmente do direito de propriedade que a cerca. A tutela ao meio ambiente se reflete na proteção normativa a ele dedicada, entretanto não há um contorno da propriedade ambiental, este deverá ser trazido através do esforço hermenêutico, associando-o ao perfil proprietário do Código Civil no que tange à propriedade ambiental deve ser observado o § 1º do Art. 1228, do Estatuto da Cidade (lei nº 10.257/01), leis especiais que tutelam os diferentes exercícios do direito de propriedade, como, por exemplo, a Lei nº 9.610/98, que trata da propriedade intelectual e das diferentes regras urbanísticas de cada Município, notadamente os Planos Diretores das cidades. Palavras-chave: Função social da propriedade. Direitos humanos. 43 Abstract To reflect on the social function of property environment brings an effort to understand the simple fact that environmental protection is made explicit in Art. 225 of the 1988 Constitution, in the law of environmental crimes (Law No. 9.605/98) and in the damage to the environment (Law 7.802/89) does not reflect the environmental function of property that differs from outright ownership rights that it is included. The protection of the environment is reflected in the normative protection dedicated to it, however there is an outline of the environmental property, it should be brought through the hermeneutic effort involving it in the profile owner Civil Code – as it pertains to property damage must be observed § 1 of Art. 1228 –, the City Statute (Law No. 10.257/01), special laws that oversee the different exercise of property rights – such as Law No. 9.610/98 which deals with intellectual property – and different rules for each urban municipality, especially the Master Plans of cities. Keywords: Social Function of Property. Human Rights. A função social da propriedade na ordem constitucional brasileira A relação jurídica dominial extrapola os rigores positivistas do direito civil clássico e adquire contornos dinâmicos com o elemento externo da propriedade, ou seja, a sua função social2. A relação passa a ser entre indivíduos e o papel que a propriedade adquire para eles no contexto social3. 1 Professora de Direito Civil da UERJ e da Faculdade de Direito de Valença. TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. pp. 267-291. 3 LAURO, Antonino Procida Mirabelli di. Immissioni e “rapporto proprietario” Napoli. Edizioni Scientifiche Italiane, 1984. p. 63-64. 2 A funcionalização do direito de propriedade teve origem nas chamadas Constituições sociais, notadamente a de Weimar4. A introdução nas Cartas brasileiras, no capítulo da ordem econômica, da função social da propriedade, traduziu um contexto histórico mundial em que o papel do Estado como coordenador das relações sociais tornou-se preponderante em face dos interesses econômicos. O Brasil na década de 1930 sofreu a sua primeira grande e tardia Revolução Industrial, fruto do contexto histórico e político que leva a burguesia ascendente a se rebelar contra a hegemonia exercida pela classe latifundiária. O movimento Tenentista (1922 e 1924) e as Revoluções de 19305 e 1932 refletem o quadro de insatisfação reinante à época. Em consequência desses movimentos sociais, ocorreu a instauração de uma nova ordem política com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A era Vargas trouxe ao país os ventos do desenvolvimento econômico, porém, para implementar as modificações necessárias a fim de atingir as metas almejadas, fizeram-se necessárias reformas jurídicas. O Decreto nº 19.459/30 criou uma Comissão Legislativa encarregada de revisão da legislação vigente e elaboração de codificação apropriada para os diversos setores da economia em que se pretendia a intervenção do Estado6. Entretanto, a Constituição de 1891, devido ao seu imobilismo, não permitia maiores avanços. A Nova República precisava de uma Carta fiel aos novos tempos. A Constituição de 1934, apesar da sua curta duração7, trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro o tempero da social-democracia. Elaborada nos moldes da Constituição de Weimar8, pela primeira vez aparecem no direito constitucional nacional diretrizes sobre a ordem econômica e social, dogmatizando uma nova perspectiva de ação para o Estado9. A passagem do Estado liberal para o social ocorre na Constituição de 1934. O 44 governo de uma determinada classe social se transforma no governo de todas as classes: do princípio liberal chega-se ao democrático10. Conforme ressalta Paulo Bonavides11, a filosofia política liberal, embasada nas teorias de Locke, Montesquieu e Kant, fundamentava-se na decomposição da soberania pela tripartição de poderes visando a resguardar a liberdade. A ação do Estado, com 4 Bismarck, na década de 1890, levou a termo reformas sociais que modificaram a forma de atuação do Estado em face da sociedade. É bem verdade que a ideia de reforma social com o objetivo de remediar as distorções do regime capitalista teve origem em países com tradição industrial anterior à alemã: a Inglaterra, por exemplo. Porém, com as reformas introduzidas por Bismarck, inaugura-se a era dos Direitos Sociais germânicos, que tem seu apogeu na Constituição de Weimar (1919), fruto de um governo socialdemocrata. GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social: a experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. pp. 30, 62 e 119. 5 “(...) a Revolução significou não apenas uma revolta regional de estados federais e sim o primeiro movimento no sentido de definir um caráter nacional no Brasil”. GUEDES, Marco Aurélio Peri. Ob. cit. p.101. 6 É fruto dessa Comissão, dentre outras codificações, as que seguem: Código de Águas, Código do Ar, Código Eleitoral, Código de Minas, Código Penal e Código de Processo. 7 Em 1937, durante a ditadura Vargas, foi promulgada uma nova Constituição, chamada “Polaca”, na qual a função social da propriedade não foi mencionada. 8 Coube a Osvaldo Aranha, como relator do capítulo da Ordem Econômica e Social da Comissão do Itamaraty, a responsabilidade pela influência weimariana na CF/34. GUEDES, Marco Aurélio Peri. ob. cit. p.115. 9 Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. 10 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 43. 11 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit. p. 45. tendência monopolizadora, estaria controlada pela polarização dos poderes. Assim, a liberdade natural estaria protegida transmudando-se em liberdade jurídica – sob a ótica rousseauniana do contrato social. No momento em que os caminhos da sociedade enveredam pela garantia da liberdade para todos, a separação clássica de poderes não é suficiente como suporte de uma segurança social. Não basta resguardar ao indivíduo seus direitos fundamentais perante o Estado – princípio liberal –, mas defender a participação do indivíduo na formação da vontade do Estado – princípio democrático12. A liberdade passa a ter um cunho social e econômico, diferente daquela do séc. XVIII. O Estado social tem por meta o controle das desigualdades sociais, mitigando conflitos e pacificando o desnível decorrente da dicotomia trabalho/capital; como nas palavras de Norberto Bobbio “a passagem do estado liberal para o estado social é assinalada pela passagem de um direito com função predominantemente protetora-repressiva para um direito cada vez sempre mais promocional”13. Esse é o perfil do Estado brasileiro na Constituição de 1934 e a funcionalização da propriedade nela incluída tem este sentido. Entretanto, a função social da propriedade, como outros dispositivos da ordem econômica e social, por ser de conteúdo programático, portanto sujeita à discricionariedade do Poder Público, não foi implementada. Mas plantou a semente que floresceu nas Constituições de 1946 e 1988. Na Constituição de 1946, a propriedade ingressa no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais (Art. 141), sendo o seu uso condicionado ao bem-estar social (Art.147). Coube à Constituição de 1946 a consolidação da ordem social-democrata 45 instaurada pela Constituição de 1934, assegurando, por quase 20 anos, um desenvolvimento pacífico e estável do país. A Constituição de 1946 “correspondeu a uma forma conciliadora dos princípios liberais advindos da Constituição de 1891 e dos sociais resultantes da de 1934”14. A utilização da propriedade privada ganhou um viés publicista com as limitações impostas ao seu exercício, visando a alcançar os princípios de justiça social contidos no capítulo da ordem econômica e social. A partir da Constituição de 1967, a propriedade adquire, expressamente, sua função social (Art. 160, III), no capítulo referente à ordem econômica e social15, alçada à categoria de princípio fundamental constitucional. A limitação legal ao exercício do direito de propriedade atendendo à função social foi mantida na Constituição de 1967 e na Emenda Constitucional de 1969, que a alterou. Portanto, pode-se dizer em consonância com os publicistas que as limitações ao exercício do direito de propriedade retiraram o perfil absoluto contido no Código Civil e corresponderam a uma prestação negativa quer do Estado – não violar a propriedade sem que a lei o permita – quer do proprietário – não exercer o seu direito de forma que prejudique ou viole interesse da sociedade. 12 BONAVIDES, Paulo. Ob. cit. p. 65-66. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 112. 14 MOTTA, Maria Clara de Mello. Conceito constitucional de propriedade: tradição ou mudança?, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 46. 15 Art.160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: (...) III - função social da propriedade. 13 A Constituição de 1988, ao inserir a função social da propriedade no capítulo dedicado aos direitos e garantias fundamentais (Art. 5º), deu uma nova interpretação às limitações constitucionais. O fundamento das limitações ao direito de propriedade corresponde à necessidade de proteção pelo Estado dos interesses da comunidade. Não representa mais apenas uma prestação negativa. A partir desse momento ela torna-se também positiva. Os poderes do Art. 1228, caput, do atual Código Civil (Art.524,CC/16) – usar, gozar e dispor – e os do Art. 1231, CC (Art. 527, CC/16) – exclusividade e perpetuidade – estão limitados pelo exercício do poder de polícia do Estado, instrumento pelo qual é assegurado o bem-estar da coletividade. Este poder de polícia que inicialmente impunha obrigação de não fazer com o tempo passou a impor obrigações de fazer, por isso, para parte da doutrina, as limitações representam um dever – ampliação do poder de polícia16. A atuação do poder estatal torna-se visível e peremptória quanto ao direito absoluto de propriedade civilista, diante da função social que essa propriedade deverá exercer. Mas pode-se dizer, então, que o direito de propriedade saiu do campo do direito privado e ingressou no do direito público? A distinção a partir da esfera de atuação do titular do direito subjetivo em face do Estado permanece? A estas questões a doutrina se biparte. Para parte da doutrina publicista, a propriedade transformou-se em uma moeda com dupla face: a pública, condicionada ao princípio e pressuposto da função social, e a privada, que se manifesta pela apropriação do bem, o interesse que a reveste e o desdobramento das relações privadas decorrentes da aquisição da propriedade17. A doutrina privatista de início alarmou-se e até proclamou a morte do direito civil. Temor infundado. O tempo demonstrou que a Constituição Federal de 1988 veio 46 derrubar fronteiras, arejar espaços enclausurados. A linha do direito civil constitucional marca a importância dos princípios constitucionais para a compreensão dos institutos que são de direito privado. Absurdo dizer que o direito civil perdeu sua autonomia e subordina-se ao direito público. A Constituição proclama princípios que direcionam o ordenamento jurídico como um todo. As transformações geradas pelos dois grandes confrontos mundiais propiciou o aparecimento de novos perfis para a economia, para o papel do Estado e do direito como implementador das expectativas sociais. Hoje a gama de interesses a serem tutelados pelo direito não permite mais que as fronteiras entre o público e o privado se resumam à vontade individual e ao exercício da cidadania, respectivamente. No momento em que a Constituição Federal de 1988 traz como valores máximos do Estado Democrático de Direito (Art. 1º, caput) a cidadania (inc. II), a dignidade da pessoa humana (inc. III), os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inc.IV), a dicotomia clássica perde sentido diante da perspectiva maior segundo a qual para o ser humano – e não apenas para o indivíduo proprietário, titular de direitos subjetivos – a proteção jurídica se reveste de um novo perfil, respaldado no estatuído no Art. 3º, Incisos I e III, que determinam ser um dos objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade justa e solidária, que vise a erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzindo as desigualdades sociais, pautadas no valor axiológico da dignidade da pessoa humana. Diante do Estado assistencial do séc. XX, que surge no Brasil na década de 30, o direito civil perdeu o seu poder centralizador das regras do jogo das relações privadas. A tendência à descodificação do direito civil através da legislação especial18 (microssiste16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 1995. CASTRO, Sonia Rabello de. Tombamento dos bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 12. 18 O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Terra são exemplos da importância da legislação extravagante, impondo às normas contidas no 17 mas) que veio indicar e regulamentar os novos anseios sociais demonstra que o direito civil sofreu uma transformação estrutural. Nesse quadro, é a Constituição, através dos seus princípios, que dará ao aplicador da lei as bases para interpretar as normas vigentes e aplicá-las no sentido do exercício da justiça social. O direito de propriedade adquiriu a partir de 1988 um novo papel nas relações de direito privado. A função social como princípio contido no Art. 5º, caput, XXII e XXIII, da CF assume o poder disciplinador das relações patrimoniais. A função social da propriedade “tem conteúdo pre-determinado, voltado para a dignidade da pessoa humana e para a igualdade com terceiros não proprietários”19. Assim é que, para uma total compreensão do perfil adquirido pelo direito de propriedade e sua função social após 1988, deve-se analisá-lo com a dimensão de garantia de direitos fundamentais e à luz dos princípios da hierarquia das fontes do direito, tendo por premissa que o direito público e o direito privado caminham juntos na construção de uma sociedade sem fronteiras, justa igualitária e solidária, almejando sempre o exercício de direitos que efetivem à pessoa humana uma vida digna. A propriedade ambiental e sua função social Refletir sobre a função social da propriedade ambiental traduz um esforço no sentido de compreender que o simples fato da proteção ambiental estar explícita no Art. 225 da Constituição de 1988, nas leis de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) e na de danos ao meio ambiente (Lei nº 7.802/89) não reflete a função social da propriedade ambiental que difere frontalmente do direito de propriedade que a cerca. A tutela ao meio ambiente se reflete na proteção normativa a ele dedicada, entretanto não há um contorno da pro- 47 priedade ambiental, este deverá ser trazido através do esforço hermenêutico, associando-o ao perfil proprietário do Código Civil – no que tange à propriedade ambiental deve ser observado o § 1º do Art. 1228 –, do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), leis especiais que tutelam os diferentes exercício do direito de propriedade – como por exemplo a Lei nº 9.610/98 que trata da propriedade intelectual – e das diferentes regras urbanísticas de cada município, notadamente os Planos Diretores das cidades. O exercício do direito de propriedade sobre um certo bem, especialmente em relação à propriedade fundiária, não deve mais ser visto de uma única forma, ou seja, existem diferentes meios de exercê-lo, pois a propriedade hoje é multifacetada. Surgem distintas propriedades que recaem sobre o mesmo bem, possibilitando, portanto, uma gama de aplicação do direito, coadunando-o aos interesses que deva refletir20. Assim, a propriedade ambiental deve ser dissociada da propriedade com o fim de moradia e/ou subsistência, bem como com aquela destinada à renda fundiária ou a que visa gerar produtos para o mercado de consumo. Porém, todas podem ser reflexo do mesmo direito proprietário exercido sobre o bem de diferentes maneiras conforme o interesse do proprietário ou titular do direito de propriedade, assim como o interesse da sociedade na qual o imóvel se inscreve. A proteção ambiental na Constituição de 1988 encontra-se sob o título da Ordem Social, que se embasa no primado do trabalho e tem por objetivo o bem-estar e a justiça sociais (Art. 193). CC uma outra leitura em virtude dos ditames da nova ordem constitucional que, por sua vez, traduz as tendências sociais. 19 TEPEDINO, Maria Celina B. M. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil. PUC/RJ, nº 65, p. 32. 20 LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de direito urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. Com o fim de orientar a efetividade do Art. 193 da Carta Constitucional, no que se refere ao meio ambiente, o Art. 225, § 1º estabelece os critérios e diretrizes de conduta que o Poder Público deve adotar para implementar a função social da propriedade, ou seja, cabe ao Estado preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas (inc. I); preservar as diversidades, a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético (inc. II); definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (inc. III); exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (inc. IV); controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (inc. V); promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (inc. VI); proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade (inc. VI). Além de, no parágrafo segundo, determinar ao proprietário a recuperação ambiental quando da exploração de recursos minerais. Verifica-se nitidamente a interferência no exercício do direito de propriedade, quer seja na sua dimensão mais simples (propriedade de um animal ou espécie em extinção), bem como na sua projeção fundiária, intelectual ou industrial. Assim, pode48 se dizer com segurança que, para o exercício do direito de propriedade, sob o aspecto da propriedade ambiental, a sua função social deve ser realizada a partir das premissas elencadas nos dispositivos constitucionais mencionados. Deixando ao proprietário um exercício limitado do direito, impondo-lhe um dever perante a sociedade que lhe será cobrado do Estado fiscalizador, inclusive através do Ministério Público. Portanto, a propriedade ambiental gera ao titular do direito de propriedade um dever de atender as diretrizes sociais (obrigação de fazer) e de não criar obstáculos à preservação ambiental e à sua tutela (obrigação de não fazer). Certo é que ao proprietário resta o critério de avaliação quanto ao exercício do seu direito diante das diversas possibilidades de propriedades que recaem sobre o mesmo bem. Isto quer dizer que, se o proprietário não realiza a função social por si, restará ao Poder Público a cobrança da sua implementação, ainda que através do conteúdo pecuniário da reparação dos danos causados pelo seu exercício inadequado à proteção ambiental. O direito ao meio ambiente e os Direitos Humanos Como disse Norberto Bobbio21 a propósito das liberdades, fundamental é o que cabe ao homem enquanto ser humano independente do consentimento do soberano/ Estado, o que lhe seja natural22. Assim se constroem os Direitos Humanos, a partir das necessidades fundantes da identidade humana. 21 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade : para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 4. 22 A terminologia direitos fundamentais é utilizada como sinônimo de Direitos Humanos. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993; BOBBIO, Norberto. Ob. cit. Entretanto, esta noção de universalidade nem sempre prevaleceu. Os direitos do homem, mesmo os considerados fundamentais, são direitos históricos, pois nasceram de circunstâncias históricas de defesa de novas liberdades em detrimento de velhos padrões ou poderes. Assim sendo, seguindo a linha de evolução histórica dos direitos do homem adotada por Canotilho e Norberto Bobbio, podem-se identificar, em síntese, três fases para a formação destes direitos23. Na primeira fase das declarações dos Direitos Humanos, eles nascem como teorias filosóficas24. Surge com John Locke a ideia de que o homem tem direitos inerentes à sua condição humana, direitos naturais (jusnaturalismo), que ninguém pode tirar, nem mesmo o Estado. Neste sentido, os direitos civis nada mais são do que uma criação artificial que permite a realização das liberdades e igualdades naturais. Assim sendo, qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer época, é titular de direitos inerentes à sua condição humana, direitos estes fundamentais ao homem. Com Jean-Jacques Rousseau25 e o igualitarismo, buscou-se atingir um patamar de justiça vinculada à ideia de igualdade. Assim ele se reporta em O contrato social aos dois valores máximos do ser humano: liberdade e igualdade. O homem com o contrato social perde a sua liberdade natural, mas ganha a liberdade civil, ou seja, o exercício livre da propriedade de tudo o que possui. A igualdade deve ser entendida sob dois aspectos: “quanto ao poder, esteja por cima de toda violência e, não se exercite senão em virtude das leis, e, quanto à riqueza, que nenhum cidadão seja bastante opulento para poder comprar a outro, e nenhum tão paupérrimo para necessitar vender-se, o que se supõe, por parte dos grandes, moderação de bens e de crédito; dos peque49 nos, moderação de ânsia e cobiça.”26 Para o filósofo genebrês, esta era a equação da justiça social, portanto dos direitos humanos de qualquer cidadão que realizasse o pacto social. Segundo a ótica de Jean-Jacques Rousseau, ao estado civil se opõe o estado de natureza. A lei nasce como fruto da vontade geral, para fixar os direitos de todos a partir do consenso. A Declaração de Direitos dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) aportadas com a Revolução Francesa, marcos formais27 23 Para uma evolução histórica detalhada dos Direitos Humanos, ver por todos, MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. cap. XXIX, pp. 765843. 24 José Joaquim Gomes Canotilho (op. cit. pp. 502-503) remonta a Platão e Aristóteles a ideia de direitos do homem, que na Antiguidade tinham um conteúdo negativo. Portanto, não se deve dizer que os direitos humanos surgem a partir do jusnaturalismo. Certamente, é através da concepção tomista de direito natural – em que prevalece a igualdade e a dignidade fundamentais do ser humano – que se traça um caminho para que as normas de direito positivo tornem-se compatíveis com as de direito natural. 25 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios de direito político. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1975, pp. 54. 26 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Ob. cit, p. 88 27 Deve-se falar em duas categorias de “fundamentalidade”: a formal e a material. Pela primeira, em regra associada à constitucionalização e ao ordenamento positivo, as normas consagradoras dos direitos fundamentais estão em grau hierárquico superior, por serem normas fundamentais, e portanto devem direcionar o ordenamento jurídico. A fundamentalidade material verifica-se por ser o conteudo dos direitos fundamentais constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade. CANO- dos Direitos Humanos acolhidos pela primeira vez por um legislador, inauguram a segunda fase dos Direitos Humanos em que não são mais um fim em si mesmo, mas meio para alcançarem-se fins “que são postos antes e fora de sua própria existência”, tornam-se “ponto de partida para a instituição de um autêntico sistema de direitos no sentido estrito da palavra, isto é, enquanto direitos positivos ou efetivos”28. A partir desse momento histórico, a cidadania se biparte em duas dimensões: universal, na qual todo homem é titular de direitos humanos; e outra nacional, reservada ao exercício dos direitos políticos, da qual apenas os nacionais podem usufruir. É certo que no momento em que os Direitos Humanos se tornam reconhecidos, concretamente positivados na lei, eles perdem a universalidade que caracteriza os da primeira fase. O pensamento iluminista, com sua exaltação às liberdades e aos valores individuais, faz com que os Direitos Humanos passem a valer apenas no âmbito do Estado que os reconheça. Assim sendo, mesclam-se os direitos inerentes ao homem considerado como ser com os do cidadão. Há um processo de inversão, que caracterizou a formação do Estado moderno, saído do absolutismo, em que priorizam-se os direitos dos cidadãos e não mais os deveres dos súditos. A relação política, por conta da ascensão econômica e política da burguesia, é vista pelo ângulo do homem como ser político, integrante de determinada sociedade. Seus interesses preponderaram em detrimento dos do soberano e da sociedade como um todo. A liberdade do Estado liberal não corresponde a do universo greco-romano, no qual o homem livre decidia sobre a paz ou a guerra, exercia funções públicas, votava leis, participava diretamente na gestão da sociedade, mas na esfera privada se submetia à vontade coletiva. No Estado liberal, a li50 berdade se traduz na impossibilidade de ingerência abusiva do Estado na esfera privada; trata-se na verdade de uma limitação ao poder do soberano. Por ser um processo histórico-dialético, a evolução dos Direitos Humanos caracteriza-se em corresponder às novas demandas trazidas pelo desenvolvimento técnico ao qual se vinculam condições sociais diversas. Assim sendo, não há uma rigidez na forma como as declarações se apresentaram ao longo do processo referido. Se a princípio assumiram o perfil de proclamações solenes, posteriormente passaram a integrar o preâmbulo das Constituições para, por fim, incorporar-se a elas como princípios norteadores. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, representa a terceira fase dos Direitos Humanos, na classificação adotada por Norberto Bobbio29. Ela contém a relação dos direitos do homem histórico, aquele que deveria ser protegido após o horror da II Grande Guerra, resgatando a universalidade dos Direitos Humanos. Como desdobramento deste compromisso internacional, nascem outros específicos, como um mergulho em regiões em que ainda fosse preciso um maior detalhamento, um mapeamento mais preciso, surgindo, assim, as Declarações dos Direitos da Criança, da Mulher, a Organização Internacional do Trabalho, etc. “(...) os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais.”30 TILHO, José Joaquim Gomes, op. cit, p. 499. BOBBIO, Norberto. Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 29. 29 BOBBIO, Norberto, Ob. cit. 30 BOBBIO. Norberto, Ob. cit, p. 30. 28 Portanto, fundamentais são os direitos que representam os anseios do homem universal. Exemplificando, pode-se dizer que intrínseco ao direito à vida encontra-se não só o direito à liberdade como também o direito de viver de forma digna, ou seja, direito ao trabalho em condições dignas, à remuneração justa (os chamados direitos sociais considerados de segunda geração), ao meio ambiente equilibrado, incluindo nas necessidades humanas fundamentais, além da preservação ambiental, propriamente dita, a proteção aos animais (direitos de terceira e quarta geração). As alterações na economia dos países, sobretudo após a II Grande Guerra, deram novas diretrizes ao direito enquanto agente integrador e representativo da ordem social. O fim do campesinato31 representou novas formas de apropriação de bens e novos valores sociais aliados ao poder econômico32. A terra passa a ter uma perspectiva diversificada quanto à sua utilização e os bens naturais ou os gerados pela inteligência humana não escaparam ao novo perfil econômico. Assim é que afirma-se que o Direito Ambiental possui um perfil econômico muito forte, uma vez que ele demanda o uso racional dos recursos ambientais visando à sua preservação e sustentabilidade, assegurando uma qualidade de vida digna ao ser humano33. Exatamente por ter uma forte influência na ordem econômica mundial, o Direito Ambiental vem sendo objeto de inúmeros tratados e convenções internacionais, que visam implantar um controle sustentável no desenvolvimento econômico dos países, dentre os quais pode-se citar o resultado advindo da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (Conferência de Estocolmo, 1972), a Conferência do Rio (Rio/92 ou ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, 1992) e o Protocolo de Kyoto (Japão, 1997), 51 como exemplos dos marcos que atualmente direcionam os países na condução das suas políticas econômicas. Conclusão Restou demonstrado no texto que o Direito Ambiental, embora seja um ramo autônomo do Direito, não deve ser interpretado de forma isolada, ele como todo direito que garante os valores essenciais à vida humana precisa se ancorar em outras áreas do Direito para que a sua plena efetividade. Portanto, a propriedade e o direito de propriedade são os valores essenciais para a adequada aplicação das normas ambientais, uma vez que, o Direito Ambiental possui um forte perfil econômico, logo interferindo diretamente nas diversas formas de exercício dos direitos de propriedade e nas suas múltiplas facetas. Conclui-se, assim, que uma vez funcionalizado o direito de propriedade, a propriedade ambiental também o estará. Esta é a questão primordial a ser focada, pois, para o aplicador da lei, o julgador, ao analisar o conflito de interesses deverá observar a função social da propriedade como vetor para a adequada aplicação da ponderação de interesses, ou seja, analisando o exercício do direito de propriedade não se pode furtar a 31 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras,1995, p. 284. 32 Para um aprofundamento das transformações sociais, econômicas e históricas que determinaram um novo perfil ao direito de propriedade, ver RODATÀ, Stefano. Il Terribile Diritto: Studi sulla Proprietà Privata. Imola: Società Editrice il Mulino, 1995, pp. 75-171. 33 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 9ª edição, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 18. observar se há ou não a adequada funcionalização do instituto e qual o melhor interesse a ser protegido pelo titular do direito. Entender que não se pode mais ter uma postura predatória em relação ao desenvolvimento, que o homem já sofre os reflexos perversos da devastação e da poluição, deixou de ser apenas um discurso para garantir a vida humana dos nossos descendentes, mas sim dar possibilidade de existência aos povos que hoje já estão vivendo no nosso planeta. Referências Bibliográficas ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 9ª edição, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. _______________. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. _______________. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1992. BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 1996. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. CASTRO, Sonia Rabello de. Tombamento dos bens culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 1995. GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social: a experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. GUERRA, Sidney. O direito internacional e a tutela do meio ambiente: para afirmação do di52 reito internacional do meio ambiente, em FONTENELLE, Miriam(coord.),. Temas de direito Ambiental, Coleção José do Patrocínio, vol. VI, Campos dos Goytacases: Ed. FDC, 2006, pp. 285-298. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras,1995. LAURO, Antonino Procida Mirabelli di. Immissioni e “rapporto proprietario”. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1984. LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de direito urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. MELLO, Celso de Albuquerque. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. MOTTA, Maria Clara de Mello.Conceito constitucional de propriedade: tradição ou mudança?, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997. RODATÀ, Stefano. Il Terribile Diritto: Studi sulla Proprietà Privata. Imola: Società Editrice il Mulino, 1995. ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios de direito político. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1975. TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 267- 291. ___________. A tutela da propriedade privada na ordem constitucional. Revista da Faculdade de Direito. Rio de Janeiro: UERJ, n.1, 1993, pp. 107-122. TEPEDINO, Maria Celina B. M. A caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil. PUC/RJ, nº 65, pp. 21-32. TORRES, Ricardo Lobo. A cidadania multidimensional na era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp 239-335. Novos paradigmas da legitimação democrática da jurisdição constitucional no Brasil1 Gustavo Sampaio Telles Ferreira Professor assistente do Departamento de Direito Público da UFF Doutor em Direito pela UERJ Resumo Tem-se feito crescente a interveniência da função jurisdicional do Estado nas relações sociais, com inexpugnável tendência à judicialização do debate público, à judicialização de escolhas que tradicionalmente a democracia confiou aos órgãos constituídos da atividade estatal legiferante. Da Revolução Francesa à contemporaneidade, mormente a partir do contributo da experiência norte-americana, a autoridade dos tribunais tem assumido amplitude cada vez mais evidente, com caráter substitutivo de parcela do território das manifestações majoritárias, materializadas pelo labor daqueles que se legitimam no sufrágio direto do cidadão, daqueles que recebem do eleitor a outorga de poder para construir a norma jurídica. 53 Palavras-chave: Democracia. Judicialização. Abstract It has been increasing the intervention of the courts of the State in social relations, with an unassailable tendency to legalization of public debate, the legalization of choices that democracy traditionally entrusted to the agencies composed of legislating state activity. From the French Revolution to contemporary times, mainly from the contribution of the American experience, the authority of the courts has assumed increasingly amplitude evidence, with a substitution character of a portion of the territory of the majority manifestations, embodied by those who work in legitimate direct suffrage of the citizen, those who receive from the voter the empowerment to build the rule of law. Keywords: Democracy. Judicialization. Nota introdutória Tem-se feito crescente a interveniência da função jurisdicional do Estado nas relações sociais, com inexpugnável tendência à judicialização do debate público, à judicialização de escolhas que tradicionalmente a democracia confiou aos órgãos constituídos da atividade estatal legiferante. Da Revolução Francesa à contemporaneidade, mormente a partir do contributo da experiência norte-americana, a autoridade dos tribunais 1 Este artigo foi apresentado à 9ª Reunião Anual do Grupo Cainã, no mês de fevereiro de 2009, na cidade de Teresópolis. tem assumido amplitude cada vez mais evidente, com caráter substitutivo de parcela do território das manifestações majoritárias, materializadas pelo labor daqueles que se legitimam no sufrágio direto do cidadão, daqueles que recebem do eleitor a outorga de poder para construir a norma jurídica. No Brasil, da proclamação republicana aos nossos dias, sob a crença no “princípio da jurisdição una”, verificou-se ascendente a intervenção dos juizes e dos tribunais no terreno das relações sócio-econômicas, com especial destaque para os resultados hauridos nas últimas duas décadas, com o País sob a regência da Carta Magna da redemocratização de 1988. Nestes vinte anos, os indicadores estatísticos vertentes sobre o desempenho da atividade judicante apontam para um crescimento de mais de mil por cento do número de demandas deduzidas perante os órgãos monocráticos e colegiados da estrutura judiciária nacional, com elevado grau de confiança depositada pelo cidadão na via judicial de solução de controvérsias. Consectário lógico deste quadro e por imperativo de outras dificuldades estatais, a morosidade da resposta judicial na solução das lides se apresenta como elemento constitutivo de um cenário de crise, a ponto de se positivar no núcleo das garantias fundamentais a celeridade como princípio a ser atendido pelo Estado na entrega da prestação jurisdicional às partes dos conflitos intersubjetivos de interesses compostos sob a presidência destes órgãos judiciários. Especialmente em nosso País, pelo alargamento do modelo de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, do Supremo Tribunal Fede54 ral extraem-se os mais notórios sinais deste processo. Muito embora tenha sido a Emenda nº 16/65 marco da fiscalização concentrada de constitucionalidade no Brasil, com sensível alteração introduzida à então vigente Carta Magna de 1946, foi nos trabalhos da Assembléia Nacional de 1987/88 que lograram êxito os esforços pelo implemento de um sistema efetivo, amplo e democrático de fiscalização judicial da parametricidade do produto legislado pelos órgãos constituídos de poder. À ação direta de inconstitucionalidade disposta no texto originário da Carta assomaram-se a ação declaratória da Emenda nº 3/93, a regulamentação da argüição de descumprimento de preceito fundamental e os acréscimos dispostos na Emenda nº 45/2004, com especial destaque para o advento da súmula vinculante. Mantidas as competências que já lhe eram classicamente cometidas, tudo isto elucida como o Supremo Tribunal Federal alçou posição de inegável importância no controle da vida política nacional, na atividade contra-majoritária que desempenha sobre a construção legislativa do Congresso Nacional e das Assembléias dos Estadosmembros. No quadro das competências constitucionalmente positivadas, com inegável acerto, o Supremo Tribunal na República Velha sequer pode ser comparado ao status que hoje assume e que o caracteriza, mas o mecanismo de escolha e aprovação de seus magistrados permanece inalterado, fiel ao modelo pelo qual a euforia americanista optou nos decretos institutivos da República e na Constituição de 1891. E pela manutenção do controle difuso de constitucionalidade entre as competências estabelecidas a todos os demais tribunais e juízos integrantes da imensa estrutura judiciária brasileira, a cautela com a judicialização do debate público e com o ativismo judicial não pode se adstringir à figura institucional da Suprema Corte, e, portanto, a atenção dos analistas merece que o estudo da matéria ocupe todo o espaço de atuação política do Poder Judiciário, aí incluídos os mecanismos de acesso às carreiras de magistratura. Com razoável grau de urgência, cumpre examinar novos mecanismos que se corporifiquem aptos a sanar o déficit de legitimação democrática do Poder Judiciário do Brasil. Do mecanismo de composição do Supremo Tribunal Federal e da escalada ascendente de suas competências Na passagem para a República, o Decreto Executivo nº 848, de 1890, concedia organização à Justiça Federal e dispunha acerca da composição e do rol de competências do então instituído Supremo Tribunal Federal, corte de alçada máxima e que se fizera substituta natural do Supremo Tribunal de Justiça erigido sob as bases do modelo constitucional do Império2. A euforia americanista dos próceres da nova ordem republicana fez valer o mecanismo instituído pela Carta Magna de 1787, conferindo-se ao Presidente da República a autoridade para indicar o nome a integrar a Corte, com a chancela do colegiado senatorial. Assim se fixou na Carta Magna de 1891, no elenco das competências privativas presidenciais disciplinadas no art. 48 do texto. Sem prejuízo das alterações pertinentes ao número de juizes, inicialmente de quinze e posteriormente de onze3, as constituições editadas no curso da experiência re- 55 publicana brasileira mantiveram íntegro este mecanismo de indicação executiva seguida do referendo do Senado, fiéis ao que se emoldurou para a cúpula da estrutura judiciária dos Estados Unidos da América. De certo que o exame da legitimação institucional da função judicante é sempre tema da mais densa controvérsia entre os estudiosos da matéria, quase sempre sem resposta que equacione as perspectivas democráticas de escolha popular e o dever de imparcialidade que dirige a prestação jurisdicional entregue pelo Estado aos seus magistrados. Mas admitir que se mantenham inalterados os mecanismos de provimento dos cargos da judicatura quando o Poder Judiciário recebe tão substanciais acréscimos de competência, com papel de maior intervenção nas relações sociais e de controle na atividade política, parece, ainda que na mais otimista perspectiva, menoscabar o conte2 Destarte, em brevíssima observação histórica, o Supremo Tribunal no Império ostentava estreito lastro de competências se comparado ao que se transformou no curso da República. Sobre a matéria, observam GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BLANCO: “O Supremo Tribunal de Justiça, instalado em 9–1–1829 e formado por dezessete Ministros (Lei de 1828), tinha competência limitada, que se restringia, fundamentalmente, ao conhecimento dos recursos de revista e julgamento dos conflitos de jurisdição e das ações penais contra os ocupantes de determinados cargos públicos (art. 164). O Tribunal jamais fez uso da competência para proferir decisões com eficácia erga omnes (assentos), que lhe outorgava a faculdade de interpretar, de forma autêntica, o direito civil, comercial e penal (Dec. Legislativo n. 2.684, de 23-10-1875, e Dec. N. 2.142, de 10-31876).” – “Curso de Direito Constitucinal”, 2ª Edição – São Paulo: Saraiva, 2008, página 937. 3 Já finda a República Velha, o Presidente Getúlio Dorneles Vargas patrocinou a redução do colegiado da Suprema Corte para o número de onze ministros, medida corporificada no Decreto Executivo nº 19.656, editado ainda no Governo Provisório. údo mínimo de legitimidade que o regime democrático erige como pressuposto para o desempenho de seus poderes constituídos4. E na escalada de poder de nossa Suprema Corte, à fiscalização difusa de constitucionalidade introduzida no Brasil pelo modelo da República Velha assomou-se o controle concentrado, este último por determinação da Emenda Constitucional nº 16, promulgada em 26 de novembro de 1965 e que tão profundas alterações introduziu à Carta Magna de 1946. No sincretismo que então assumia o sistema brasileiro de defesa da supremacia constitucional, com a coexistência do método tipicamente francês de controle preventivo parlamentar, da judicial review norte-americana e da matriz austríaca de concentração da competência judicial de controle5, reconhecia-se na cúpula da estrutura judiciária insofismável adição de autoridade pública. Com o implemento da então denominada representação de inconstitucionalidade, ao Supremo Tribunal Federal instituía-se o encargo da avaliação de parametricidade da lei federal e da lei estadual, o exame de sua adequação à dogmática constitucional para assegurar a superioridade da Lei Maior sobre a manifestação dos órgãos legislativos da União e dos Estados. Embora a conjuntura histórica de edição da Emenda houvesse em parte frustado as expectativas do controle concentrado, máxime na turbação da autoridade jurisdicional levada a efeito pela ditadura militar e na adstrição da legitimatio ad causam à figura do Procurador-Geral da República, sua edição configurou elemento de indissociável mudança à moldura do sistema de controle entre os poderes, e de inexpugnável acréscimo de competência à cúpula judiciária nacional. Foi contudo com o processo de redemocratização e com a Carta de 1988 que o 56 sistema brasileiro de controle de constitucionalidade conheceu seu êxito maior, alargado pela ação direta de inconstitucionalidade de leis e de atos normativos federais e estaduais, pela ação de inconstitucionalidade por omissão e por outras ferramentas processuais que resultariam da atividade constituinte derivada ou mesmo da regulamentação legal de mecanismos dispostos na redação originária do texto constitucional. A necessidade da coexistência de uma via de controle concentrado obstativa dos dissídios jurisprudenciais hauridos na fiscalização difusa conduziu à edição da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, que adicionou a ação declaratória de constitucionalidade para apreciação de leis e de atos normativos federais e para vincular as demais instâncias da estrutura judiciária ao que se entender constitucional por sua cúpula. A normatização legal da argüição de descumprimento de preceito fundamental, tornando-a de subsidiária aplicação e de emprego para o exame de adequação de direito pré-constitucional e de leis municipais diretamente em face da Constituição da República, prestou inominável auxílio ao alargamento da autoridade do Supremo Tribunal Federal no cotejo da guarda da Lei Maior. 4 Averba JORGE MIRANDA: “I – Em estritos termos jurídicos, a legitimidade do Tribunal Constitucional não é maior, nem menor do que a dos órgãos políticos: advém da Constituição. E, se esta Constituição deriva de um poder constituinte democrático, então ela há-de-ser, natural e forçosamente, uma legitimidade democrática.” – “Teoria do Estado e da Constituição” – Rio de Janeiro: Forense, 2007, tradução da edição portuguesa, página 533. 5 Com o advento da Emenda Constitucional nº 16/65, à alínea k do inciso primeiro do art. 101 da Carta Magna de 1946 concedeu-se redação determinadora de competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “ representação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da República”. Bem ainda, a dada regulamentação processual das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade autorizou a Corte à vivência da modulação temporal dos efeitos decisionais advindos do processo objetivo de controle abstrato6, com inegável alargamento de poder ao órgão judiciário máximo da Nação. Por último, nesta escalada de poder própria destes tempos de judicialização, a Emenda Constitucional nº 45, promulgada no mês de dezembro de 2004, aduziu ao Supremo Tribunal a competência para a edição de enunciados sumulares de caráter vinculante, com adstrição de todos os demais órgãos colegiados e monocráticos da estrutura judicial bem como das instâncias da Administração Públicas nos três níveis do sistema federativo. Foi este o último e imensurável mecanismo de alargamento da esfera interventiva da Corte na teia de controle dos órgãos constituídos de poder e de defesa da supremacia normativa da Carta de 887. Passada esta fulgurante trajetória e com a amplitude de poder que lhe foi conferida pelo ordenamento constitucional e por suas emendas, recai sobre os ombros do legislador constituinte derivado e sobre os estudiosos do Estado o encargo de emoldurar soluções e fórmulas hábeis a atualizar os mecanismos de legitimação do função judicante desempenhada pela Corte Suprema do Brasil. O modelo de indicação executiva seguida da chancela senatorial, embora trazida ao direito pátrio na 6 Em notável avanço normativo, a dicção do art. 27 da Lei nº 9.868 permitiu ao Supremo Tribunal 57 Federal a modulação de efeitos pro futuro, para além da mera retroatividade plena ou mesmo da retroatividade até um certo termo de data. Curiosamente, este próprio enunciado legal foi submetido ao controle de constitucionalidade, por se obtemperar que a atividade constituída legislativa não ostentaria legitimidade para tal disciplina, que, pela natureza, deveria resultar da construção constituinte derivada através de Emenda à Constituição. 7 Embora aqui se advogue a urgência da revisitação do sistema de legitimação de todo o Poder Judiciário da República Federativa do Brasil, apresenta-se acentuadamente mais sensível o papel desempenhado pelo tribunal de cúpula, já que por lá se instaura e se conduz o processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do poder público. Embora esta seja uma marca da jurisdição constitucional concentrada contemporânea, máxime no contributo oferecido pelo sistema da Lei Fundamental de Bonn de 1949 e pela Carta Italiana de 1947, já na sede do positivismo normativista teciam-se apontamentos esclarecedores desta permanente tensão entre a soberania manifestada nos órgãos legislativos constituídos e as instâncias judiciais de fiscalização da parametricidade do direito legislado. Em crítica à generalidade das normas constitucionais objeto da exegese dos magistrados, que supostamente conduziriam a uma transferência dita incoveniente de autoridade ao Pode Judiciário, HANS KELSEN averbara: “Essa porém não é uma questão específica da jurisdição constitucional; vale também para a relação entre a lei e os tribunais civis, criminais e administrativos que devem aplicá-la. Trata-se do antiqüíssimo dilema platônico: politéia ou nomoi?; reis-juízes ou legislador régio? Do ponto de vista teórico, a diferença entre um tribunal constitucional com competência para cassar leis e um tribunal civil, criminal ou administrativo normal é que, embora sendo ambos aplicadores e produtores do direito, o segundo produz apenas normas individuais, enqüanto o primeiro, ao aplicar a Constituição a um suporte fático de produção legislativa, obtendo assim uma anulação da lei inconstitucional, não produz, mas elimina uma norma geral, instituindo assim o actus contrarius corresposndente à produção jurídica, ou seja, atuando – como formulei anteriormente, como legislador negativo.” – KELSEN, Hans -“Quem deve ser o guardião da Constituição”, in “Jurisdição Constitucional”, introdução e revisão técnica de Sérgio Sérvulo da Cunha – São Paulo: Martins Fontes, 2003, página 263. euforia americanista do movimento republicano, parece hoje insuficiente a alicerçar a legitimidade democrática que se aguarda da cúpula da organização judiciária brasileira. Em busca de novos instrumentos para a legitimação democrática do Supremo Tribunal Federal Se o modelo em voga não atende mais às expectativas de conformação da instância judiciária máxima da República, com resistência de muitos a que este mecanismo se mantenha, não menos resistência é oferecida ao entendimento daqueles que postulam que a investidura de seus magistrados seja precedida do sufrágio direto pelo eleitorado nacional, atingido-se o respaldo popular que se exige à outorga dos mandatos parlamentares federais ou mesmo à chefia do Poder Executivo. Com efeito, reconhecer plausível o voto direto para a investidura da função judicial na Suprema Corte encontra resistência no princípio da imparcialidade que dirige a prestação judicante por esta devida. À obrigatoriedade da escolha popular daqueles que são providos de mandato parlamentar parece se opor a necessidade de se ter uma magistratura imparcial, infensa a pressões que não sejam emanadas das normas constitucionais e dos axiomas condutores da vontade geral expressos no ordenamento maior. Se não é o provimento eletivo a resposta curta e acabada para sanar o déficit de legitimidade do Supremo Tribunal Federal, remanesce à capacidade especulativa da 58 doutrina a construção de propostas que tornem mais formalizado, mais longo e mais sujeito ao controle mediato da opinião pública o modelo de acesso à investidura no mais alto pretório da Nação. Não é de hoje que algumas proposições têm sido levadas à análise parlamentar. Recentemente, o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a adoção de mandatos decenais para o desempenho das funções da alta magistratura, sem possibilidade jurídica de recondução, como forma de adequar o status da Suprema Corte aos novos tempos de judicialização da vida política. De iniciativa de um terço dos deputados federais, Proposta de Emenda Constitucional idealizada pelo Deputado Flávio Dino pretende a adoção de mandato de onze anos, também vedada a recondução, repartida a escolha dos magistrados através de frações distribuídas entre a Presidência da República, o Senado, a Câmara dos Deputados e o próprio Supremo Tribunal Federal, estes três últimos órgãos dispondo de duas vagas cada qual, remanescentes as outras cinco ao Chefe do Poder Executivo. Trata-se da PEC nº 342, recebida pela Mesa da Câmara no dia 25 de março deste ano de 2009, e que adiciona que as escolhas reservadas à Câmara, ao Senado e ao Supremo Tribunal decorrerão de listas tríplices formadas e encaminhadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos órgãos de deliberação colegiada das Faculdades de Direito que ostentem programas de doutoramento em curso há pelo menos dez anos. Aduz ainda que a chancela senatorial sobre as indicações presidenciais requererá a maioria qualificada traduzida por três quintos dos integrantes daquela casa parlamentar. Com efeito, a proposta parece inegavelmente inovadora, contribui para o adensamento do debate, mas não impede que outras tendências se manifestem e avolumem esforços no sentido de que sejam implementadas modificações de outro teor. A resolução deste dito déficit de legitimação não encontra resposta em fórmulas prontas, cartesianas, mas aguarda com boa vontade todas as propostas que tiverem por escopo a intensificação dos mecanismos de controle e de descentralização política na escolha da prateleira mas elevada da magistratura nacional. E na inexistência de uma resposta definitivamente satisfatória nesta matéria, já se configura consensual que o modelo em voga já não mais corresponde às perspectivas da hodierna democracia. Assim sendo, por mais onerosos que venham a aparentar, os acréscimos a serem instituídos ao processo político de seleção dos juizes do Supremo Tribunal Federal constituem-se imperativo à sua legitimação. Se a atividade contramajoritária hoje confiada à Corte a define como um dos mais relevantes e prestigiosos órgãos da República, se onze ministros podem pronunciar a nulidade de uma norma erigida pela manifestação legislativa de mais de quinhentos parlamentares e aquiescida pela sanção presidencial, se um tão expressivo quinhão da soberania interna da nação tem sido confiada à sua instância judiciária máxima, não se poderá considerar excessivo nem demasiadamente custoso um novo mecanismo de escolha e de provimento das vagas deste pretório. Então, faz-se aqui um brevíssimo e despretensioso conjunto de sugestões modificativas. Um primeiro elemento que parece indispensável ao conjunto destas transformações é a manifestação das indicações presidenciais ao aprovo da Câmara dos Deputa- 59 dos. Se o Senado é a casa da federação, com representação paritária das unidades que a compõem, é na Câmara que o povo brasileiro consolida seu perfil democrático representativo, com bancadas proporcionais aos corpos eleitorais de cada estado-membro. Deste modo, além da manifestação senatorial, tal como hoje feita mediante sabatina da comissão competente seguida de votação plenária, não será admissível que se mantenha alheia ao processo a vontade nacional representada no colegiado da maior casa parlamentar do País. Deste modo, a chancela bicameral informará elemento imprescindível à investidura dos magistrados da Corte Suprema. Um segundo acréscimo que se constitui necessário ao aperfeiçoamento do mecanismo de investidura nas vagas do Tribunal é o controle democrático a posteriori. Se é vencedor o argumento contrário ao sufrágio popular direto para a escolha de magistrados, pelas razões destarte apresentadas, a manifestação do eleitor nas urnas pode ser levada a efeito mediante referendo, revelando a aquiescência popular sobre a escolha levada a efeito pelos órgãos competentes. Com a adição deste instrumento de controle, cingir-se-ia o cidadão à concordância ou à não concordância quanto à opção feita pelo Presidente da República e pelas casas do Congresso Nacional, mas informaria condição de procedibilidade à nomeação e, muito acima disto, alargaria a carga de legitimação ansiada ao preenchimento das cadeiras do Pretório. Sob todos os ângulos de visada, esta conditio agregaria emolumentos relevantes à participação do povo nas grandes decisões de Estado, com notável contributo ao que preceitua o parágrafo único do art. 1º da Carta Magna, quando firma como cláusula pétrea a dicção principiológica da democracia semidireta. Como reflexo positivo desta mudança, agregar-se-ia boa margem de rea- lização prática ao conjunto dos mecanismos de participação direta dispostos no elenco do art. 14 da Constituição da República. Não se pode desconsiderar que o crédito depositado pela Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88 nos instrumentos de participação direta que alinhavou no art. 14 do texto promulgado não encontrou a acolhida da vivência prática destes vinte anos de vigência da Carta Magna, que pouco ou quase nada ensejou a experimentação real dos institutos. Afora o plebiscito para a escolha do sistema e da forma de governo realizado em 1993, que destarte não mais que decorreu de uma exigência constitucional lavrada no Ato das Disposições Transitórias, e ainda do referendo sobre a permissão da mantença do comércio de armas de fogo, nenhum outro episódio de escala nacional tivemos para dar efetividade e concretude ao que positivou a redação constitucional no título dedicado aos princípios fundamentais. Ressalte-se que a opção reduzida a termo pelo Constituinte Originário não foi a da democracia representativa pura, mas, isto sim, a de um regime democrático semi-direto, que pressupõe efetivo e freqüente emprego dos mecanismos plebiscitários e referendatórios. Embora o que ora se propõe neste artigo não diga respeito ao processo legislativo, mas apenas ao aprovo da escolha dos magistrados para a composição colegiada do Supremo Tribunal Federal, a exigência de referendo como conditio sine qua non à nomeação dos magistrados da Corte per se agregaria inegável realização à prática da participação popular nas grandes decisões políticas da Nação. 60 Controle difuso de constitucionalidade e o papel da magistratura brasileira na interpretação constitucional. Na história do Brasil, a Constituição de 1891 foi a primeira a conceder ao Poder Judiciário autoridade para o exercício do controle sucessivo de constitucionalidade das leis8. No anseio de levar à xeque as instituições monárquicas positivadas no sistema de 1824, a crença nos valores norte-americanos acirraram a euforia dos próceres do republicanismo e trouxeram à lavratura da nova carta os elementos fundamentais da dogmática estadunidense, com o requinte dos acréscimos conduzidos pela construção jurisprudencial da Suprema Corte daquele País. Assomado ao sistema presidencialista de governo, à forma de governo republicana e à forma estatal federativa e ao conceito de jurisdição una, o modelo judicial de fiscalização da supremacia constitucional configurou importante e expressiva mudança nos mecanismos de contenção do poder político, concedendo-se aos órgãos do Poder Judiciário a possibilidade de afastar a aplicação de normas por eles consideradas em antinomia à Lei Maior. Isto configurava inegável adoção do mecanismo inaugurado 8 Sob a égide da Carta Republicana de 1891, o controle sucessivo de constitucionalidade ganhou sede normativa, porém ainda de adstrita aplicação. Preleciona PAULINO JACQUES: “Sob o regime de 1891, existia um judicial control mitigado (Constituição federal, art. 59, §1º, al. B), porque só admitia a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual em face da Constituição Federal. Com a Lei nº 221, de 1894, art. 13, § 10, atribuiu-se aos Tribunais deixar de aplicar as leis “manifestamente inconstitucionais, pelo que podiam declarar-lhes, evidentemente, a inconstitucionalidade (veja de RUI BARBOSA Os atos inconstitucionais do Congresso). Sob a Reforma de 1926, instituiu-se o judicial control pleno (art. 60, § 1º, al. a), porém, ainda implícito, porque só se explicitaria a partir de 1934 (Constituição Federal, art. 179).” – “Curso de Direito Constitucional” – 2ª Edição – Rio de Janeiro: Forense, 1958, página 270. pelo precedente Marbury v. Madison, a permitir que os juizes federais brasileiros pudessem exercer no caso concreto a guarda do novel texto constitucional republicano, na tutela do interesse subjetivo deduzido em juízo contra a iminência do emprego de um comando legal maculado pela contrariedade à Carta Magna9. Ainda que a praxis da atividade judiciária da República Velha haja pouco efetivado o instituto, sua positivação representou inexpugnável avanço no ordenamento do Brasil, sobretudo se considerado que a Europa Continental, naquela conjuntura histórica, encontrava-se ainda distante da consolidação dos seus sistemas de defesa da supremacia das suas constituições nacionais. Com o passar das décadas e com a superveniência das suas freqüentes transformações constitucionais, o modelo brasileiro de controle de constitucionalidade assumiu notório perfil sincrético, somando-se à judicial review dos albores republicanos e ao controle preventivo da autoridade parlamentar o sistema de controle concentrado de inspiração austríaca, bem como aquele firmado pela jurisprudência do Bundesverfassungsgericht na Alemanha do Pós-Guerra. Mas sem embargo deste sincretismo, os juízos monocráticos de primeira instância e os tribunais estaduais e regionais federais mantiveram-se competentes para o desempenho do controle da supremacia constitucional nos casos concretos sob sua apreciação, nos conflitos intersubjetivos de interesses submetidos ao seu encargo judicante, o que até hoje agrega ao Poder Judiciário relevantíssimo papel na guarda da Lei Maior. Destarte, se a Emenda nº 3/93 à Carta Magna de 1988 firma a ação declaratória de constitucionalidade como instrumento capaz de converter a presunção relativa 61 de constitucionalidade em presunção de teor absoluto, adstringindo-se a partir daí os demais juízos e tribunais da organização judiciária às suas decisões, enquanto não realizado o julgamento da constitucionalidade no processo objetivo de controle abstrato, permanecem livres os magistrados de primeiro grau e os juizes dos tribunais para decidir pela aplicação ou pelo afastamento da norma legal ao caso concreto, de acordo com suas convicções em torno da parametricidade do direito legislado à vinculação exercida pelos comandos firmados no altiplano constitucional. Ora, se assim se verifica a essência do modelo pátrio de defesa da supremacia da Constituição, tão fundamental quanto revisitar o modelo de escolha dos magistrados do Supremo Tribunal Federal é examinar os mecanismos de legitimação de todos os juizos integrantes do Poder Judiciário Brasileiro. O alegado déficit de legitimação democrática da jurisdição constitucional no País não se encerra na outorga de um novo modelo de composição da cúpula do poder judicante, mas, muito além disso, reclama que se leve ao intenso debate político a reavaliação de velhos dogmas creditados aos mecanismos de acesso à investidura vitalícia nos cargos da magistratura nacional. 9 Sobre a matéria, averba CLÈMERSON MERLIN CLÈVE: “A Constituição de 1891 admitiu a fiscalização, pelo Judiciário, da legitimidade das leis. Antes da promulgação da Carta, a Constituição Provisória de 1890 (Decreto 510, § 1º, a e b) conferiu ao Judiciário idêntica competência, mesmo ocorrendo com o Decreto 848, de 11 de outubro do mesmo ano, que instituiu a Justiça Federal. A competência do Supremo Tribunal Federal para a declaração de inconstitucionalidade foi disciplinada no art. 9º, a e b, do referido decreto.” “A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, Segunda Edição, Segunda Tiragem – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, páginas 82 e 83. Da formação da magistratura. Função política do juiz e crítica ao sistema de acesso às carreiras do Poder Judiciário Do texto originário da Carta de 88 extraiu-se a crença idolátrica no concurso público como princípio, como cláusula inafastável ao provimento dos cargos públicos no âmbito dos três poderes constituídos da Nação, ainda que atendidas as ressalvas dispostas na normatização legal. De certo que a obrigatoriedade do concurso configurou passo relevante à efetivação da moralidade, da impessoalidade e da eficiência dos serviços entregues pelo Poder Público ao cidadão, mas sua extensão à investidura nos cargos das classes iniciais das carreiras da magistratura recomenda que se reavaliem suas balizas e suas características gerais, pena de se negar à composição do poder judicante a devida formação humanística, social e política que o jurisdicionado aguarda dos seus juizes. Ainda que não se ponha em questionamento a fundamentalidade do concurso público como expediente de seleção dos magistrados integrantes da primeira instância da estrutura judiciária federal e estadual, mesmo porque outro mecanismo mais autorizado ainda não se formulou, o encargo da prestação jurisdicional deflui de uma das três clássicas funções estatais, caracteriza atuação política decisória e se exprime no exercício da soberania interna do País, a requerer portanto que os atributos pessoais e cognitivos exigidos aos candidatos à judicatura não se adstrinjam à dogmática jurídica e ao tecnicismo da norma escrita. E este parece ser o ponto fulcral do problema. Se feita superficial análise nos certames públicos realizados nas duas últimas déca62 das como requisito de ingresso nas carreiras da judicatura da União e dos Estados-membros, disto se extrairá a clara constatação do rigor e da exigência de vasto conhecimento do direito posto e da jurisprudência dos tribunais. Perfazem-se concursos desmembrados em fases distintas, com provas escritas e orais, sempre revestidas de elevado grau de dificuldade. Os candidatos muitas vezes se dedicam por anos à preparação intelectual para os exames. Instituições de ensino, algumas até oficiais, vergam seus esforços à realização de cursos dirigidos à formação daqueles que anseiam e que se direcionam ao ofício judicante. Todavia, o conteúdo programático destes certames quase sempre se mantém preso aos limites da dogmática, do conhecimento técnico-legal haurido pelos candidatos no estudo dos ramos tradicionais da classificação do direito positivo, ainda que se lhes requeira extenso domínio destas disciplinas técnicas. De certo que a crítica que se formula a este standard de aferição intelectual não pode resvalar para o terreno da utopia, a ponto de reconhecer como dispensável ao magistrado o savoir-faire técnico do direito. Este excesso inexoravelmente nos conduziria a equívoco da mesma gravidade, ainda que no extremo oposto do problema, e dispensaria a natureza instrumental que o manejo do direito positivo traduz na atuação do julgador. O que aqui se advoga, isto sim, é a necessária ou mesmo indispensável modificação dos padrões de avaliação de desempenho intelectivo daqueles que postulam o integrar as fileiras da magistratura, acrescendo-se aos exames de ingresso provas de conhecimento vertentes sobre áreas outras das ciências humanas e sociais, prontas a exigir dos postulantes o conteúdo mínimo de conhecimento transdisciplinar que se presume necessário àqueles que compõem um dos três poderes do Estado Nacional. Se é a própria doutrina brasileira de direito constitucional e administrativo que reconhece ao juiz o destaque especial de agente político, retirando-lhe do território amplo dos funcionários públicos, daquele se aguarda denso alicerce intelectual e compreensão plena da realidade social, política e econômica no seio da qual prestará jurisdição. Nesta linha de entendimento e de percepção do problema, constitui-se razoável que os exames de conteúdo técnico-dogmático regularmente realizados nos concursos para a magistratura de carreira sejam obrigatoriamente precedidos de uma fase de aferição de conhecimento geral, a compreender a abordagem sociológica, econômica, histórica, política, antropológica e de outros matizes que mantenham direta causalidade com a nobre investidura no ofício jurisdicional. Destarte, dispensar-se-ia nesta etapa a avaliação do preparo jurídico-normativo, já que reservado à íntegra de todas as demais fases do certame público que ordinariamente sucederiam este preliminar exame do lastro intelectual do candidato. O desmembramento da primeira fase de avaliação escrita do certame, com disciplinas apartadas tais como ciência política, sociologia do direito, economia política, antropologia social, história universal e filosofia do direito, consubstanciaria notável alento e bom acréscimo às fases posteriores, estas sim adstritas à avaliação cognitiva de caráter técnico-jurídico. Ao menos assim, o perfil legalista do concurso público para ingresso na magistratura de carreira perceberia a necessária mitigação, com a consequência imediata da formação de juízes mais aproximados da realidade social e econômica da sociedade brasileira, corporificando-se meio mais próspero à adequação do sistema judiciário brasileiro à importância ascendente que tem assumido nestes tempos de judicialização da política e do debate público. Esta pressuposição de conhecimento transdisciplinar coincide portanto com a 63 própria estatura política da magistratura brasileira, adequa-se ao modelo de descentralização horizontal que estabelece os três poderes constituídos como esferas independentes e harmônicas entre si e seleciona o juiz com fundamento em critérios mais próximos daquilo que se pretende à formação dos agentes políticos integrantes das estruturas formais do poder público. Ainda que isto que ora se propõe torne ainda mais oneroso e inegavelmente mais complexo o processo seletivo de acesso às carreiras da função jurisdicional, também alheio a questionamento é que, se implementada, esta mudança ajudará a conduzir à real conformação do magistrado brasileiro seu status de agente político, estatura tão freqüentemente apontada pela doutrina para destacá-lo dos demais segmentos do funcionalismo público e para registrar a independência da atividade judicial alicerçada no princípio da separação de poderes. Conclusão Aqui e alhures, o aumento da confiança depositada na autoridade judicial tem definido tendência das relações entre os poderes constituídos dos estados nacionais. O alargamento da margem de acesso à Justiça e a intensificação do controle materializado na jurisdição constitucional fazem sensivelmente mais elevado o grau de interveniência do Estado-Juiz no domínio das relações sociais, com nítida transferência de encargo político aos órgãos colegiados e monocráticos do Poder Judiciário. Este processo de gradual valorização do direito em detrimento da política encerra inegável acréscimo de poder aos agentes políticos investidos da função jurisdicional. À função clássica de compor os conflitos intersubjetivos de interesses para pacificação das relações sociais assoma-se o desenvolvimento dos mecanismos de jurisdição constitucional, mormente aqueles relacionados ao processo objetivo de controle abstrato, a conceder à cúpula da organização judiciária a tarefa de fiscalizar a manifestação de centenas de parlamentares democraticamente eleitos adicionada da aquiescência presidencial. Se esta se estabelece como inexorável tendência contemporânea, o equilíbrio das relações firmadas entre os três poderes depende da revisitação dos mecanismos de legitimação democrática da magistratura e dos tribunais, para que se lhes atribua o respaldo exigível à velocidade da expansão de suas competências e de sua intervenção no espectro político e social. Na medida em que ao Poder Judiciário foram acrescidos os instrumentos processuais de defesa da supremacia constitucional, a guarda da Carta Magna se expandiu a todas as instâncias judicantes, com especial relevo para o Supremo Tribunal Federal na sede da fiscalização concentrada. A crença no sistema de jurisdição una torna este poder monopolista do controle de adequação dos atos normativos primários à Lei Maior, a exigir mecanismos modernos de legitimação do juiz e das cortes judiciárias. Por manifesta consequência, urge seja levado à prática novo sistema de escolha para a investidura nas mais elevadas funções jurisdicionais da Corte Suprema do Brasil, de modo a que nesta se tenha presumível o conteúdo de legitimidade imposto pelos nossos tempos, e a mesma adaptação se deve verificar nos padrões reconhecidos aos concursos públicos para provimento dos cargos iniciais das carreiras da magistratura nacional, com a seleção de candidatos que se apresentem titulares do conhecimento 64 necessário a compreender o ofício judicante na sua inteireza, na sua dimensão política, histórica e social. Referências Bibliográficas CLÈVE, Clèmerson Merlin – “A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade das Leis no Direito Brasileiro”, 2ª Edição, 2ª Tiragem – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. JACQUES, Paulino – “Curso de Direito Constitucional”, 2ª Edição – Rio de Janeiro: Forense, 1958. KELSEN, Hans – “Jurisdição Constitucional” – introdução e revisão técnica de Sérgio Sérvulo da Cunha – São Paulo: Martins Fontes, 2003. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet – “Curso de Direito Constitucional”, 2ª Edição – São Paulo: Saraiva, 2008. MIRANDA, Jorge – “Teoria do Estado e da Constituição” – Rio de Janeiro: Forense, 2007, tradução da edição portuguesa. A Utilização dos Direitos Humanos como Dominação José Luiz Quadros de Magalhães1 Carolina dos Reis2 A concepção dos direitos do homem baseada na suposta existência de um ser humano como tal, caiu em ruínas tão logo aqueles que a professavam encontraramse pela primeira vez diante de homens que haviam perdido toda e qualquer qualidade e relação específica – exceto o puro fato de serem humanos3. Resumo O presente artigo pretende analisar o papel desempenhado pelos direitos humanos na atualidade, dado que, em que pese a existência de inúmeras Convenções e organismos de proteção, eles continuam sendo maciçamente violados. Palavras-chave: Direitos Humanos- encobrimento –símbolo. Abstract This article analyzes the role of human rights today because despite the existence 65 of numerous conventions and protection agencies, they are still massively violated. Keywords: Human Rights-masking-symbol. Introdução Ao lado do processo de internacionalização dos direitos humanos, que desenvolveu o conceito de universalidade e indivisibilidade, tem-se uma violação maciça destes direitos. A pergunta é: trata-se de uma questão de ineficácia jurídica simplesmente ou existem outros motivos? Esse artigo se propõe, em linhas gerais, a responder essa questão. Inicialmente, analisa o processo de criação da concepção contemporânea dos direitos humanos. Posteriormente, utiliza a teoria desenvolvida pelo professor Marcelo Neves, na obra Constitucionalização Simbólica, para desvendar o que está latente no descumprimento dos direitos humanos. Concepção Contemporânea de Direitos Humanos A história da humanidade registra conflitos que provocaram a morte de muitas pessoas, conflitos que foram incrivelmente destrutivos, porém nenhuma guerra provocou tanto horror e repulsa como a Segunda Guerra Mundial. 1 Mestre e Doutor em direito pela UFMG. Professor da graduação, mestrado e doutorado da PUCMinas, UNIPAC e UFMG. 2 Mestranda em Direito Internacional Público na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 3 Hannah Arendt citada por Giorgio Agamben em Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I (AGAMBEN,2007,p.132). Ela causou aversão não somente pela quantidade de pessoas mortas, mas por ter sido, uma guerra impessoal, a tecnologia transformou o ato de matar em automatismo, em apertar um botão. “A tecnologia tornava suas vítimas invisíveis (...) Lá embaixo dos bombardeios aéreos estavam não as pessoas que iam ser queimadas e evisceradas, mas somente alvos”. (HOBSBAWN. 1995, p.57). Além disso, foi um conflito que envolveu todos os setores produtivos, grande parcela da população européia (militares e civis) lutou e o sentiu diretamente. Para sustentá-lo foi preciso criar uma imagem distorcida do adversário, estava-se em guerra contra o mal, o demônio e não um outro ser humano, igual e movido por paixões e desejos. Combater violentamente o mal é mais fácil que combater um igual. No pós-guerra, os efeitos foram fortemente sentidos, haviam inúmeros mortos, milhões de deslocados, dentre eles alemães, expulsos da Alemanha ocupada pela Polônia e URSS, e judeus. Ademais, toda a infra-estrutura dos países europeus estava destruída. Neste contexto desolador, ressurgiu, ainda durante a Segunda- Guerra Mundial, a idéia de criar um novo projeto de união entre todos os Estados com objetivo de manter a paz, a segurança internacional e proteger os Direitos Humanos. Em 1945, foi assinada a Carta das Nações Unidas, tratado constitutivo da Organização da Nações Unidas (ONU), que em seu preâmbulo declara: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indivisíveis a humanidade (...) concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas.” (CARTA das Nações Unidas, 2006, p.37). 66 No seio da organização, em 10 de Dezembro de 1948, foi adotada uma declaração que proclamou os direitos mais elementares do ser humano. Essa declaração é considerada o marco inicial do processo de internacionalização dos direitos humanos. Dessa forma, a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas inaugurou a concepção contemporânea desses direitos, como direitos universais e indivisíveis. Universais porque todo ser humano deve ser protegido contra todo e qualquer ato atentatório a sua dignidade, inclusive quando perpetrado por seu Estado de origem. E indivisíveis porque direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais formam um todo interdependente, onde o exercício pleno de um deles somente é possível por meio da garantia e efetividade dos demais. A partir da declaração da ONU inúmeros outros textos foram assinados, tanto no âmbito regional quanto mundial, com a finalidade de complementar e reforçar os ideais ali expostos, dentre eles o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinados em 1966. Em Teerã, 1968, foi realizada a primeira conferência Mundial sobre Direitos Humanos, que representou a passagem da fase de codificação4 dos instrumentos para a fase de implementação dos mesmos. 4 A divisão em fases do processo de construção dos Direitos Humanos facilita a análise evolutiva desses direitos, porém o início de uma nova fase não significa que houve um encerramento da anterior. As fases se misturam. Nesta conferência foram definidos alguns procedimentos a serem adotados para supervisionar a aplicação das regras previstas nos Tratados de Direitos Humanos, uma vez que até aquele momento o único grupo de supervisão existente era o Comitê para a Eliminação de Todas as formas de Discriminação racial. Segundo ensina Antônio Augusto Cançado Trindade (2000) no decorrer da década de setenta e oitenta foram criados novos grupos de cuja atuação segue três métodos: os mecanismos de petições ou reclamações, de relatórios, e de determinação dos fatos ou investigações. Em 1970 foram instituídos o Comitê de Direitos Humanos (Pacto de Direitos Civis e Políticos), o Grupo dos Três (Convenção contra o Apharteid). Além do Comitê contra a tortura, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Comitê sobre os Direitos da Criança criados na década de oitenta. A atuação desses grupos auxiliou na reparação de muitos danos, por outro lado, atualmente, sua atuação está comprometida pela multiplicidade de violações que lhes exigem uma ação rápida e grande adaptação. Em Viena, 1993, ocorreu a segunda Conferência Mundial que procedeu a uma análise geral dos métodos de implementação dos direitos humanos. Os relatórios revelaram dados considerados surpreendentes. “No plano global até fins da década de oitenta, somente sob o chamado sistema da resolução 1503 do ECOSOC, o Grupo de Trabalho sobre comunicações tinha examinado mais de 350.000 denúncias de “quadro persistente de violações”. (TRINDADE, 2000, p.61). 67 Contudo, mesmo com todos os instrumentos de codificação e implementação dos direitos humanos estes continuam sendo maciçamente violados, o que nos deixa dois problemas, quais sejam, porque os direitos humanos são constantemente desrespeitados e qual é o papel que eles exercem na atualidade? A Força Simbólica dos Direitos Internacionais dos Direitos Humanos Inicialmente, convém conceituar em que sentido emprega-se a palavra simbólica. Marcelo Neves em seu livro A constitucionalização Simbólica desenvolveu este termo, em suma, com o sentido de algo que “importa uma linguagem ou discurso em que há um deslocamento do sentido para outra esfera de significações”. (NEVES, 2005, p.4). Isso significa que a um texto pode ser atribuído significados outros que não aqueles pretendidos pelos autor. Várias são as formas de dominação. Tem poder quem domina os processos de construção dos significados dos significantes5. Tem poder quem é capaz de tornar as coisas naturais, 5 Os significantes são os símbolos. Exemplo: a palavra liberdade é um significante composto de signos diversos. A combinação das letras LIBERDADE resulta na palavra que ganha sentido ou significados diferentes em diferentes épocas e lugares. O texto não existe se não for lido e a partir do momento que é lido são atribuídos sentidos aos seus significantes. É impossível não interpretar e interpretar significa atribuir sentido, o que por sua vez significa jogar toda uma carga de valores, de pré-compreensões que pertencem a uma cultura específica, e mesmo a pessoas específicas. “a automatização das coisas engole tudo, coisas, roupas, móveis, a mulher e o medo da guerra.”6 Diariamente repetimos palavras, gestos, rituais, trabalhamos, sonhamos, muitas vezes sonhos que não nos pertencem. A repetição interminável de rituais de trabalho, de vida social e privada nos leva a automação a que se refere Ginsburg. A automação nos impede de pensar. Repetimos e simplesmente repetimos. Não há tempo para pensar. Não há porque pensar. Tudo já foi posto e até o sonho já está pronto. Basta sonhá-lo. Basta repetir o roteiro previamente escrito e repetido pela maioria. Tem poder quem é capaz de construir o senso comum. Tem poder quem é capaz de construir certezas e logo preconceitos. Se eu tenho certeza não há discussão. O preconceito surge da simplificação e da certeza. A dominação passa pela simplificação das coisas: o bem e o mal; a democracia e o fundamentalismo; oriente e ocidente; civilização e selvageria; capitalismo e comunismo; natureza e tecnologia. Duas técnicas comuns neste processo de dominação: a) a nomeação de grupos, criando identidades ou identificações; b) a explicação de uma situação complexa por meio de um fato particular real. O problema não é que o fato particular seja real, o problema consiste na explicação de algo complexo com um exemplo particular que mostra uma pequena parte do todo que ele quer explicar. Comum assistir a este tipo de geração de preconceito na mídia, diariamente. Um exemplo comum diz respeito a recorrente crítica, das ultimas duas décadas, ao estado de bem estar social: o estado de bem estar social tem uma história longa e complexa, que apresentou e apresenta fundamentos, objetivos e resultados diferentes em momentos da história diferentes e em culturas e países diferentes. Entretanto é comum ouvirmos, inclusive de intelectuais, que o estado social é assistencialista (ou pior cliente68 lista) e logo gera pessoas preguiçosas que não querem trabalhar. O processo ideológico distorce a realidade e cria certezas construídas sobre fatos pontuais que procuram explicar uma situação complexa. O elemento de dominação presente procura construir certezas na opinião pública uma vez que a afirmação vem acompanhada de um fato real que a pessoa pode constatar e a televisão o faz ao trazer a imagem. Portanto, a partir de uma situação que efetivamente ocorre mas que de longe não pode ser utilizada para explicar a complexidade do tema “estado de bem estar social”, quem detém o controle da mídia constrói certezas e as certezas são o caminho curto para o preconceito. Quanto mais certezas as pessoas tiverem, quanto mais preconceituosas forem as pessoas, mas facilmente elas serão manipuladas por quem detém o poder de criar estas “verdades”. A certeza é inimiga da liberdade de pensamento e da democracia enquanto exercício permanente do dialogo. Quem detém o poder de construir os significados de palavras como liberdade, igualdade, democracia, quem detém o poder de criar os preconceitos e de representar a realidade a seu modo, tem a possibilidade de dominar e de manter a dominação. 6 GINSBURG, Carlo. Olhos de Madeira – novas reflexões sobre a distância, Editora Companhia das Letras, São Paulo, 2001, pg. 16. Nesta página Gisnsburg cita Chklovski que diz o seguinte a respeito do estranhamento: “Para ressuscitar nossa percepção da vida, para tornar sensíveis as coisas, pra fazer da pedra uma pedra, existe o que chamamos de arte. O propósito da arte é nos dar uma sensação da coisa, uma sensação que deve ser visão e não apenas reconhecimento. Para obter tal resultado, a arte se serve de dois procedimentos: o estranhamento das coisas e a complicação da forma, com a que tende a tornar mais difícil a percepção e prolongar sua duração. Na arte, o processo de percepção é de fato um fim em si mesmo e deve ser prolongado. A arte é um meio de experimentar o devir de uma coisa; para ela, o que foi não tem a menor importância.” Não podemos esquecer quais foram os fundamentos do Direito Internacional, Direito que é de origem essencialmente européia e portanto fundado nas matrizes ideológicas que sustentaram o mito da supremacia da cultura européia no mundo. O inicio da modernidade, marcada pela formação dos estados nacionais, fundouse em três matrizes européias, ideológicas e poderosas, que por isto permanecem, em certa medida, até hoje, embora não oficialmente. Embora o discurso de igualdade tenha se afirmado lentamente no final do século XX, a ordem internacional e as relações entre os estados ainda se funda em mitos (idéias falsas) que sustentam ideologias (encobrimentos) como, por exemplo, o mito do selvagem, do oriental e da natureza. Conforme nos lembra Boaventura de Souza Santos7, estas três matrizes justificaram, e ainda justificam crimes cometidos pelo invasor europeu nas Américas, África e Ásia. A presença destes mitos ainda hoje e bastante clara: a) O selvagem como ser inferior, não humano. Assim eram vistas as populações originarias das Américas desde a época da invasão européia nos século XV, XVI e seguintes. A repercussão disto ocorre até hoje, quando finalmente as populações originárias começam a assumir seu próprio destino de forma democrática na Bolívia, Equador (com governos democráticos e novas Constituições) e Paraguai com a eleição de Lugo. b) O oriental e o oriente como uma cultura rica que ficou no passado. O inimigo perigoso, pois diferente dos selvagens americanos, tem forte cultura que, entretanto, foi superada pela civilização européia. Os crimes de guerra comuns 69 contra os povos islâmicos pode ser um dos exemplos deste mito, ainda hoje. c) A natureza como algo a ser domado e explorado, fundamenta toda a relação que ainda temos com o meio ambiente. A natureza é selvagem e nós, humanos, somos postos fora deste espaço. Não somos parte integrante da natureza. A natureza nos oferece recursos a serem explorados. Este mito fundamenta o sistema econômico vigente e nos leva de forma acelerada para a destruição da “espécie” humana no planeta. É impressionante como as palavras se desconectam de seu sentido originário.8 Isto é um perigoso anuncio de uma forma mais sofisticada de totalitarismo. Como afirma o filósofo esloveno Slavoj Zizek, vivemos uma luta internacional pela construção do senso comum.9 Quem é capaz de dizer o que é “liberdade”, “justiça”, “segurança” e “desenvolvimento”, entre outras “palavras-chave”10 deterá o poder sobre as pessoas e suas consciências. 7 No livro “A gramática do tempo: por uma nova cultura política”, Boaventura de Souza Santos faz uma excelente análise das matrizes ideológicas que sustentam a noção de inferioridade do outro, fundamental para justificar interna e externamente a dominação e a exploração colonial, imperial e póscolonial. (SOUZA SANTOS, Boaventura de. A gramática do tempo: por uma nova cultura política; Editora Cortez, São Paulo 2006, paginas 184 a 190). 8 O filósofo Alain Badiou observa que um dos sintomas da decomposição da democracia é a ruína da língua. A capacidade das palavras de nomear é atacada e comprometida. BADIOU, Alain. “Le Siécle”, Editions du Seuil, Paris, 2005, pagina 73. 9 O filosofo esloveno Slavoj Zizek tem uma serie de livro onde analisa de forma instigante os mecanismos de encobrimento do real. A ideologia como mecanismo de manipulação do real e dominação das pessoas. ZIZEK, Slavoj. “Plaidoyer em faveur de l’intolerance”, Éditions Climats, Castelnau-le-lez, 2004. 10 Recomendamos o livro de Raymond Williams sobre a origem e as transformações do sentido de Zizek denuncia em seus textos o uso do discurso dos direitos humanos para encobrir interesses econômicos que sustentam as intervenções em países que efetivamente violam os direitos humanos. Observa o filósofo esloveno que a questão não é o fato de países violarem ou não os direitos humanos, ou se a intervenção não se justifica sob a lógica da proteção destes direitos, mas a questão central é que, quase que invariavelmente, as intervenções em nome dos direitos humanos ocorrem para encobrir outros interesses, que verdadeiramente são os reais interesses que justificam a intervenção: quase sempre interesses econômicos das potências interventoras. A despolitização dos direitos humanos é um poderoso instrumento ideológico. A despolitização do mundo é uma ideologia recorrente utilizada pelo poder econômico manter sua hegemonia. Nas palavras de Slavoj Zizek “a luta pela hegemonia ideológicopolitica é por conseqüência a luta pela apropriação dos termos espontaneamente experimentados como apolíticos, como que transcendendo as clivagens políticas.”11 Uma expressão que ideologicamente o poder insiste em mostrar como apolítica é a expressão “Direitos Humanos”. Os direitos humanos são históricos e logo políticos. A naturalização dos Direitos Humanos sempre foi um perigo pois coloca na boca do poder quem pode dizer o que é natural o que é natureza humana. Se os direitos humanos não são históricos mas são direitos naturais quem é capaz de dizer o que é o natural humano em termos de direitos? Se afirmamos os direitos humanos como históricos, estamos reconhecendo que nós somos autores da história e logo, o conteúdo destes direitos é construído pelas lutas sociais, pelo diálogo aberto no qual todos possam fazer parte. Ao 70 contrário, se afirmamos estes direitos como naturais fazemos o que fazem com a economia agora. Retiramos os direitos humanos do livre uso democrático e transferimos para um outro. Este outro irá dizer o que é natural. Quem diz o que é natural? Deus? Os sábios? Os filósofos? A natureza? Os direitos humanos foram exaustivamente codificados e o objetivo desses textos são, em tese, proteger o ser humano contra ameaça de agressão ou agressão a sua dignidade12. Porém, hodiernamente esses direitos carecem de força normativa, ou seja, não produzem os efeitos esperados, não protegem os seres humanos. Marcelo Neves questiona se esse “seria apenas uma questão de ineficácia da norma jurídica ou não.” E afirma que “a resposta negativa a essa questão nos coloca diante do debate em torno da função simbólica de determinadas leis” (no caso, normas, convenções, tratados) (NEVES, 2007, p.30). Muitas normas exercem funções distintas daqueles representadas em seu texto, uma função que não se manifesta claramente, oculta. Isso porque o ato de legislar (aspalavras-chave. WILLIAMS, Raymond. “Palavras-chave (um vocabulário de cultura e sociedade)”, Boitempo editorial, São Paulo, 2007. 11 ZIZEK, Slavoj. Plaidoyer en faveur de l´intolérance. Climats, 2004, Paris, pag. 18. Interessante não apenas ler este livro como a obra deste fascinante pensador esloveno. Vários livros já foram traduzidos e publicados no Brasil: Bem vindo ao deserto do real e As portas da revolução são duas obras importantes. 12 Dignidade aqui entendida como o mínimo existencial necessário para que o ser humano desenvolva sua potencialidade, acesso aos direitos. Sem definir o conteúdo do que seja uma vida digna, posto que esse conceito é altamente subjetivo, variando conforme a cultura de um povo. Tanto o genocídio quanto a pobreza são formas de violação contra os direitos humanos, limitam as possibilidades de existência de um indivíduo. sim como o ato de negociar o texto de um tratado) é uma confluência de dois sistemas: o jurídico e o político. Uma norma, portanto, poderá exercer uma função simbólica quando o sistema político se sobrepor ao sistema jurídico. Por outro lado, uma norma criada para atender interesses políticos ocultos pode apresentar, posteriormente, uma força normativa. Friedrich Müller: “Afinal de contas, não se estatuem impunemente textos de normas e textos constitucionais, que foram concebidos com pré-compreensão insincera. Os textos podem revidar”. (NEVES, 2005.p.5). A identificação de um texto como simbólico pode produzir dois efeitos: um positivo e um negativo. Identificada a força simbólica de um texto, a sociedade pode se organizar e lutar pela concretização das normas ali previstas, reivindicando o fim da atuação deturpada da norma, dessa forma, uma norma que não estava destinada a ter força normativa pode vir a ter. Em contrapartida, a sociedade, pode perder a confiança no sistema jurídico e cair em uma inércia que impedirá a obstruirá, em parte, a evolução dos direitos. Especificamente nos direitos humanos, o efeito positivo se manifesta com a implementação dos direitos. O efeito negativo conduz à “manipulação política, seja para encobrir situação de carência de direitos, seja mais bruscamente, para dar ensejo a opressão política”. (NEVES, 2005, p.3) e impedir sua efetivação. “As declarações liberais clássicas de direitos, no contexto da revolução francesa e do movimento da independência americana, já continham uma força simbólica que veio a contribuir, em muito, para a realização posterior dos direitos humanos. Nesse sentido, Lefort refere-se a relevância das declarações “legais” dos direitos 71 humanos no Estado Democrático de Direito, cuja função simbólica teria servido a conquista e a ampliação desses direitos.” (NEVES, 2005, p.17). É importante observar que possibilidade da força simbólica dos direitos humanos gerar, no âmbito interno dos Estados, efeitos positivos é maior em Estados efetivamente democráticos, onde o espaço de diálogo entre a população e o governo é ampliado. No âmbito internacional, em que pese a Carta das Nações Unidas dispor que todos os Estados são soberanos e iguais, não há uma relação democrática entre os Estados. Os poderosos utilizam o direito internacional para justificar condutas contrárias ao próprio direito. Em relação aos direitos humanos não é diferente. O discurso dos direitos humanos é frequentemente utilizado como arma política monopolizadora, o que é possível em virtude da ausência de mecanismos efetivos que sancionem os “todos” os Estados que os violem. A Carta das Nações Unidas prevê que o Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça a paz, ruptura da paz ou ato de agressão, lhe compete, ainda, decidir quais serão as medidas a serem tomadas. Bem, esse Conselho é composto por quinze membros, dos quais cinco são membros permanentes e possuem direito de veto. É evidente que compete a esses cinco membros decidirem em que casos de violação dos direitos humanos a ONU13 deverá interferir. A Carta, portanto, forneceu os meios para a atual política intervencionista, 13 A Organização da Nações Unidas possui atualmente 192 Estados-membros. levada as últimas conseqüências pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Georg W Bush. Neste caso, no entanto, ao menos no caso do Iraque, sem aprovação inicial da ONU. Todos esses fatores contribuem para a ausência de força-normativa dos Direitos Humanos. A força simbólica, portanto, se manifesta na utilização do discurso dos Direitos Humanos pelo Conselho de Segurança para justificar suas ações intervencionistas, atendendo aos interesses espúrios dos Estados mais fortes. Ações intervencionistas do Governo dos Estados Unidos da América Não é novidade que um dos países mais poderosos do mundo utilizaram e utilizam o discurso dos Direitos Humanos para justificar as interferências em outros Estados-soberanos, com o escopo de preservar seus interesses. No período da Guerra-Fria, esse país auxiliou, financiou e incentivou os golpes de Estado na América Latina que implementaram ditaduras, responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Exemplo emblemático é o caso das atividades militares e paramilitares na Nicarágua. Os Estados Unidos acusaram o governo sandinista da Nicarágua de incitar a subversão na América Central, o que para o governo dos EUA assegurava o direito de agir em legítima defesa coletiva e auxiliou, financiou atividades militares e paramilitares para 72 tomarem o poder na Nicarágua. O caso foi levado a Corte Internacional de Justiça, que se considerou competente, tendo em vista que os dois países aceitaram sua jurisdição. “Em 26 de junho de 1986, a Corte decidiu que os EUA, ao treinar, equipar, financiar (...) e assistir, de qualquer maneira as atividades militares e paramilitares na Nicarágua, e contra ela, violaram (...) a obrigação que lhes impõe o Direito Internacional costumeiro de não intervir nos negócios internos de outros Estados”. (BRANT, 2005, p.261).” Portanto, a Corte decidiu favoravelmente a Nicarágua. Os EUA se recusaram a cumprir a sentença. A Nicarágua recorreu ao Conselho de Segurança com base no artigo 94 (2) da Carta das Nações Unidas que prevê: “Se uma das partes num caso deixar de cumprir as obrigações que lhe incumbem em virtude de sentença proferida pela Corte, a outra terá direito de recorrer ao Conselho de Segurança que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença.” (CARTA das Nações Unidas, 2006,p.53). Contudo, o Conselho de Segurança foi impedido de agir, em virtude do veto dos EUA. O instituto previsto para assegurar a efetividade dos direitos previstos na Carta das Nações Unidas restou sem efeito por razões de interesse político de um de seus membros. Algumas décadas depois, o governo dos EUA, após o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, iniciou uma perseguição aos terroristas responsáveis pelo referido atentado, denominada guerra contra o terror. (Essas ações foram iniciadas sem autorização do Conselho de Segurança). Alegou que o Iraque apoiava essas organizações e enviou tropas norte-americanas (apoiado pelo Canadá e Inglaterra) para “garantir” a paz e a segurança mundial. Bombardeou o Iraque com armamentos que possuíam probabilidade “mínima” de errar o alvo indicado. As bombas acertaram escolas, hospitais e casas de civis, mataram milhares de iraquianos. Num documentário intitulado razões para a guerra, um soldado americano afirmou: não entendo o povo iraquiano. Nós estamos aqui para defendê-los e eles nos atacam. No mesmo documentário, o pai de uma vítima do atentado contra o World Trade Center, desejando vingar-se enviou um pedido para o exército americano, requereu que o nome do seu filho fosse escrito em uma das bombas endereçadas ao Iraque. A bomba com o nome do filho do patriótico americano atingiu uma escola e matou todas as crianças que assistiam aula. Algum tempo depois, esse homem assistiu ao ex-presidente dos Estados Unidos, Georg W Bush, afirmar, em rede nacional, que o Iraque não estava envolvido do atentado de 11 de setembro. A Organização das Nações Unidas não atuou no caso do Iraque, parece que não houve violação de direitos humanos nesse caso. Em 2007, Bagdá, soldados da Blackwater14 atiraram contra civis iraquianos na 73 Praça Nisour. Os soldados não foram punidos, o Ministro do Interior do Iraque ensaiou uma revolta, mas não houve conseqüências mais drásticas. A ONU não se manifestou. São exaustivos os exemplos de impunidade quando se trata de violação dos direitos humanos. Os textos existem, os direitos estão garantidos, falta-lhes, porém, força normativa, e um sistema de proteção efetivo. Necessário, menos influência do político sobre o jurídico. Conclusão Os direitos humanos são frutos da criação humana, eles são historicamente construídos. A concepção contemporânea desses direitos surgiu graças a muito sangue e luta. Contudo, presencia-se uma banalização do discurso dos direitos humanos. A ausência de força normativa conduziu a uma descrença no poder que esses direitos têm de transformar a realidade. Porém, como ficou demonstrado no texto, não se trata de um problema apenas de ineficácia jurídica. O sistema de proteção instituído pela Organização das Nações Unidas, sistema nada democrático, possibilitou a utilização desses direitos como forma de legitimar o intervencionismo de alguns Estados em outros, contrariando os princípios da não – intervenção e da soberania. 14 Empresa de segurança privada, contratada para proteger militares americanos no Iraque. Sobre o tema da privatização da guerra, entre diversos livros recentes citamos o livro de Dario Azzelini, El Negocio de la Guerra. (AZZELINI, El negocio de la guerra, Editora Txalparta, Buenos Aires, Argentina, 2008). Os Estados poderosos se apropriam do direito para garantir que seus interesses políticos e econômicos prevaleçam. É necessário criar uma nova alternativa, revisar o processo de decisão nas Nações Unidas, democratizá-lo. A solução não é simples e muito menos fácil, mas é necessário iniciar a mudança. O direito não pode servir a política e a economia, ele é uma ciência autônoma, com objetivos e princípios próprios e deve ser forte para limitar os excessos da política e da economia. Referências AZZELINI, El negocio de la guerra, Editora Txalparta, Buenos Aires, Argentina, 2008 AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, Editora UFMG, Belo Horizonte, 2007. BADIOU, Alain. “Le Siécle”, Editions du Seuil, Paris, 2005, pagina 73. SOUZA SANTOS, Boaventura de. A gramática do tempo: por uma nova cultura política; Editora Cortez, São Paulo 2006 GINSBURG, Carlo. Olhos de Madeira – novas reflexões sobre a distância, Editora Companhia das Letras, São Paulo, 2001 COLETÂNEAde Direito Internacional. Organizador Valério de Oliveira Mazzuoli. São Paulo: RT, 2006. HABERMAS, Jürgen. Sobre a legitimação baseada nos Direitos Humanos. Revista de 74 Direito, Estado e Sociedade, n˚17, agosto-setembro. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 2000. HOBSBAWN. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das letras, 1995. MAGALHÃES, José Luiz Quadros. Direito Constitucional: Tomo I. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. NEVES, Marcelo. A Força Simbólica dos Direitos Humanos. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n˚ 4, outubro/novembro/ dezembro, 2005. Disponível em http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em: 07 de março 2008 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Democracia e Integração Regional: Os Desafios da Globalização. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Ano 9, outubrodezembro de 2001. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. RAZÔES para a guerra (why we fight). Disponível em http://www.interfilmes.com/ filme_17003_Razoes.Para.a.Guerra(Why.We.Fight).html. Acesso em 10 de janeiro de 2009. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado.Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. (...) , 2000. WILLIAMS, Raymond. “Palavras-chave (um vocabulário de cultura e sociedade)”, Boitempo editorial, São Paulo, 2007 ZIZEK, Slavoj. “Plaidoyer em faveur de l’intolerance”, Éditions Climats, Castelnau-le-lez, 2004. A dignidade humana em Giovanni Pico Della Mirandola Bruno Amaro Lacerda1 Resumo O presente artigo pretende analisar o papel desempenhado por Giovanni Pico della Mirandola na questão da dignidade humana. Palavras-chave: Direitos Humanos. Dignidade Humana. Abstract This article intends to analyze the role played by Giovanni Pico della Mirandola on the issue of human dignity. Keywords: Human Rights. Human Dignity. Giovanni Pico nasceu em Mirandola, norte da Itália, em 24 de fevereiro de 1463, e faleceu em Florença, também na Itália, em 17 de novembro de 1496. Teve uma vida curta, mas marcada por grande entusiasmo intelectual e dedicação à filosofia. Oriundo 75 de uma família nobre, ainda muito jovem foi enviado para Bolonha pela mãe, a fim de estudar Direito Canônico. Após dois anos de estudo, porém, percebeu que seu destino não era se tornar jurista, mas filósofo. O desejo pelo saber filosófico, que lhe parecia mais fundamental e profundo que o saber jurídico, motivou-o a abandonar Bolonha e a se dirigir para Ferrara, onde, por dois anos, sob orientação de Battista Guarino, leu vários clássicos gregos e latinos. Entre 1480 e 1482, residiu em Pádua, onde tomou contato com o pensamento escolástico e sua forte influência aristotélica. Em 1484, dirigiu-se para Florença, onde entrou em contato com os platônicos (entre eles, Marsílio Ficino). O contato com o platonismo levou-o a pensar pela primeira vez naquilo que viria a ser sua tese principal: o acordo (concórdia) entre Platão e Aristóteles, ou, de modo mais geral, entre todas as concepções filosóficas divergentes. No ano seguinte, foi para Paris, centro cultural da época, onde passou a dedicar-se integralmente à filosofia, sua verdadeira vocação. Dentre suas obras, a mais conhecida, e que condensa melhor suas teses, é o Discurso sobre a dignidade do homem, que passou a posteridade como uma espécie de manifesto renascentista do homem, descrito como centro do mundo (antropocentrismo). Mas por que esta obra, verdadeiro elo entre filosofia medieval e filosofia moderna, mereceria ser lida nos dias de hoje? Ora, mais do que um valor, ou uma constatação metafísica, a dignidade humana é hoje um princípio jurídico, encontrando-se protegida como norma nas Constituições das nações civilizadas. As Constituições, todavia, não dizem o que é a dignidade humana, apenas garantem-na em seu texto como princípio fundamental. É 1 Mestre e Doutor em Filosofia do Direito pela UFMG. Professor no Mestrado em Direito da Unipac (Juiz de Fora) e na Faculdade Pitágoras (Divinópolis). preciso, então, preencher a norma de sentido: devemos compreender o que é o homem e por qual razão ele possui uma dignidade que deve ser socialmente protegida. Para esta tarefa, a ciência jurídica deve buscar o apoio da filosofia. Neste breve artigo, limitar-me-ei a mostrar o fundamento filosófico que Giovanni Pico, em seu Discurso, apresenta para a questão da dignidade humana. Suas idéias, aparentemente circunscritas a um período determinado da história do pensamento (o Renascimento), ultrapassam esta perspectiva, alcançando validade atemporal. A questão, na verdade, não era nova. Filósofos antigos e medievais haviam se preocupado com a questão do homem e do seu valor. Na Grécia antiga, Sócrates pode ser considerado um precursor nesse campo, pois todo o seu pensamento (que sobreviveu graças aos escritos dos discípulos) centra-se na idéia de que o homem é um ser diferenciado, pois é o único que possui uma psyché, uma alma que o torna capaz de pensar e de querer. A alma, dizia Sócrates, faz do homem um ser consciente e inteligente, dotando-o também de uma grande responsabilidade: a de cuidar de si mesmo, a de buscar uma vida em conformidade com o conhecimento, mantendo sua alma sempre em boas condições. Sócrates não falava em “dignidade” (palavra de origem latina), mas em areté (excelência, virtude): o homem é um ser único porque não pode se preocupar somente com a conservação do seu corpo, mas também com a preservação e melhoria da sua alma. O cultivo da alma, da inteligência, que ocorre por meio da ciência, é a areté humana, aquilo que torna o homem um ser singular face aos demais seres que com ele coexistem no mundo2. Na Idade Média, encontramos a temática da dignidade humana em Tomás 76 de Aquino, expressão máxima do pensamento da época. Partindo da definição de “pessoa” formulada por Boécio (“substância individual de natureza racional”), Santo Tomás explica que o homem é uma substância racional porque tem o domínio de seus atos, agindo por si mesmo e não pelo comando de outros seres. Em outras palavras, o homem é livre, pois tem o poder de determinar-se, de agir por si mesmo. Isso lhe confere uma superioridade em relação a todas as outras substâncias (entes) que não compartilham da mesma potência. Essa superioridade é chamada expressamente de dignidade: “Ora, é grande dignidade subsistir em uma natureza racional. Por isso dá-se o nome pessoa a todo indivíduo dessa natureza, como foi dito” (Suma Teológica, I, 29, 3). Estes dois exemplos (um antigo e outro medieval) mostram que a filosofia pré-moderna identificou a dignidade ou o valor do homem com a razão, isto é, com a capacidade humana de ordenar e conhecer o que está no mundo. A excelência humana é o conhecimento que garante o bem-estar da alma, diz Sócrates. A dignidade humana deriva da racionalidade, afirma Tomás de Aquino. Portanto, quando Giovanni Pico enfrenta a questão, não parte da estaca zero, mas de idéias consolidadas sobre o tema. Resta saber se sua obra é uma reprodução criativa dessas idéias, ou se, como dizem os que admiram seu pensamento, ela trouxe alguma contribuição original para esse fundamental e perene debate. Giovanni Pico inicia seu Discurso afirmando que leu em escritos árabes que, tendo sido perguntado sobre qual seria o espetáculo mais maravilhoso do mundo, Abdala 2 Sobre Sócrates e o conceito de alma, conferir REALE, p. 187-231. Sarraceno teria respondido: o homem. Resposta que concordaria com a frase atribuída a Hermes: “Grande milagre, ó Asclépio, é o homem”. O autor, então, indaga-se sobre o sentido dessas contestações: por qual razão seria o homem um grande milagre? Pelos seus sentidos agudos? Pelo poder da sua razão? Por ser soberano das criaturas inferiores? Estas coisas, reconhece, são importantes, mas “não tais que consintam a reivindicação do privilégio de uma admiração ilimitada” (p. 49). Por que os seres humanos deveriam ser mais admirados, por exemplo, que os anjos (criaturas que, na religião judaico-cristã, situam-se entre os homens e Deus)? Para explicar isso, Pico vale-se de um discurso que, à maneira de Platão, mais se assemelha a um mito. Narra o autor que, após a construção do mundo, Deus desejou que houvesse nele um ser “capaz de compreender a razão de uma obra tão grande”. Por isso, após tudo criar, pensou em criar também o homem. Dos arquétipos utilizados para a modelação das criaturas, porém, nada havia sobrado. Os lugares do universo também já estavam todos ocupados. Como então poderia ser feito o homem? E qual seria a sua posição no cosmos? Não seria compatível com a inteligência divina desistir da proposta, nem deixar de se superar para realizá-la. A solução encontrada por Deus foi a seguinte: como não podia oferecer ao homem mais nada específico, determinou que a ele “fosse comum tudo o que tinha sido parcelarmente dado aos outros” (p. 51). O homem foi criado, assim, como ser de “natureza indefinida” e colocado “no meio do mundo” (p. 51). Não possuindo, portanto, uma “natureza”, uma essência definida e imutável. Sua natureza, indefinida, carece ainda de uma definição, de uma determinação. Para realizar a si mesmo, para se determinar, o homem foi colocado no centro do mundo, ou seja, 77 em uma posição que lhe permite buscar o mais adequado para definir sua própria essência. Imaginando o que Deus disse a Adão quando o criou, Pico diz: Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de si mesmo, te plasmasses e te informasses, na forma que tiveres seguramente escolhido. Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo (p. 53). Nesta passagem decisiva, aparece com força o antropocentrismo do autor. O homem está no “meio do mundo” não em um sentido físico ou topográfico, mas em um sentido ontológico: ao homem são abertas possibilidades diversas para sua própria realização. Quem está “no meio”, afinal, tem mais facilidade para tomar qualquer direção. A existência humana não foi limitada por Deus a um destino único ou a uma só vontade. O homem está no meio para que ele possa escolher a sua direção, o seu caminho próprio, para que ele se torne o que quiser ser. Note-se que a palavra “antropocentrismo”, aplicada ao pensamento de Pico della Mirandola, não significa que o homem esteja livre de Deus. Tampouco que Deus não exista, ou ainda que não se interesse pelo que é humano. O homem é, e será sempre, criatura de Deus, e é pelo Seu desejo que ocupa o lugar central no mundo. O “antropocentrismo” de Pico não exclui Deus, pelo contrário: como foi Deus quem deu ao homem o seu lugar central, a realização humana de seu próprio destino é fruto da graça divina. O homem não é um ser que Deus abandonou à própria sorte, mas uma criatura que Ele emancipou. O homem, assim, é um ser livre, “árbitro e soberano de si mesmo”. Isso implica que sua natureza indefinida não deve permanecer indefinida. Ela deve ser definida, determinada, como a natureza dos outros seres criados por Deus, como os anjos e as bestas. Ocorre que quem determinará a natureza humana é o próprio homem, ou melhor, cada homem considerado individualmente. A liberdade, para Pico, não é meramente um “dom” dado por Deus ao homem, mas a capacidade de escolher dentre diversas possibilidades. Cada homem, ao decidir seu destino, decidirá também o que é. Poderá degenerar e se tornar semelhante aos animais ou regenerar-se e tornar-se como os anjos. Afastar-se ou aproximar-se da perfeição, eis as possibilidades que estão diante do ser humano. A felicidade do homem, diz Pico della Mirandola, é “ser aquilo que quer”. As bestas, ao contrário, desde o momento em que são concebidas, trazem consigo, no ventre materno, “tudo aquilo que depois serão”. Algo semelhante ocorre com os espíritos superiores (como os anjos), que desde a sua criação foram o que eternamente serão. No homem, ao contrário, estão presentes as sementes de tudo, que crescerão e frutificarão “segundo a maneira de cada um as cultivar”. Conclui, então, o autor: 78 Ao homem nascente o Pai conferiu sementes de toda a espécie e germes de toda a vida, e segundo a maneira de cada um os cultivar assim estes nele crescerão e darão os seus frutos. Se vegetais, tornar-se-á planta. Se sensíveis, será besta. Se racionais, elevar-se-á a animal celeste. Se intelectuais, será anjo e filho de Deus, e se, não contente com a sorte de nenhuma criatura, se recolher no centro da sua unidade, tornado espírito uno com Deus, na solitária caligem do Pai, aquele que foi posto sobre todas as coisas estará sobre todas as coisas (p. 53). Esta passagem mostra que há no homem possibilidades que podem ou não se realizar. A mais elevada de todas é a vida contemplativa, que torna o homem uno com Deus. Neste sentido, o homem é imagem de Deus, pois traz em si possibilidades infinitas, que o tornam criador do seu próprio destino. Como imagem, o homem é um microcosmo, uma realidade intermediária entre o mundo e Deus. Diante disso, devemos repetir o questionamento feito acima: há algo novo na concepção de Giovanni Pico della Mirandola, ou apenas uma exposição original de idéias já sustentadas por outros filósofos? A meu ver, não há originalidade na escolha da temática (dignidade humana). As possibilidades inerentes à alma humana (vegetativa, sensitiva e racional) foram objetos de estudo da filosofia desde a Antiguidade. O livre-arbítrio, como possibilidade de escolha dada por Deus ao homem, foi tratado por muitos escritores cristãos desde Santo Agostinho. E a idéia de uma hierarquia entre os seres (vegetais/animais/homens/anjos/Deus) é comum a todo o pensamento medieval. A originalidade de Pico não está, assim, na escolha do tema que aborda, mas no modo pelo qual, em função do espírito do seu tempo, articula de forma criativa elementos teóricos que estavam em discussão há séculos. Com efeito, o autor não se limita a dizer que o homem é livre para escolher seus próprios fins, mas que, ao escolhê-los, o homem encontra a sua própria essência. O homem não é apenas o “animal racional” capaz de escolher, mas o ser que está fadado a escolher. É como se Deus houvesse condenado o homem à escolha, dado a ele a capacidade de, por seus atos livres, tornar-se o que deve ser. Percebe-se, então, que o homem está acima dos animais não simplesmente por ser racional, mas porque a razão o impele em direção a algo que nenhum animal pode conseguir: a determinação do seu próprio ser. É interessante relacionar essa constatação com outro aspecto da filosofia de Pico, o apreço pela magia, vista não como poder sobrenatural, mas como capacidade de conhecer a natureza, de descobrir seus segredos e transformá-la. O homem não está apenas “no mundo”; ele também atua “sobre o mundo”, coloca-o a seu serviço. Comentando a questão na Introdução à sua tradução de Pico, Maria de Lurdes Sirgado Ganho afirma: Tal questão inscreve-se na dignidade do homem, enquanto ser capaz de encontrar, pela razão, a íntima harmonia do universo, dominando o seu poder, colocando-o a seu serviço e desvendando os seus mais arcanos segredos. Tal concepção e magia seria a antecessora da ciência experimental moderna e da ciência tecnológica contemporânea. Daí algumas referências a Pico antecipando intuitivamente a concepção de um homem tecnológico, enquanto defensor de uma ciência de domínio da natureza (p. 30). Isto é interessante porque mostra de que modo o homem é semelhante a Deus. O homem, ser livre, é capaz de atos de criação, de transformação de si mesmo e do mundo 79 onde vive. Sua dignidade decorre dessa capacidade criadora e inovadora, que o torna imagem de Deus, microcosmo que reflete, em escala menor, o poder divino da criação. O que torna Pico um dos primeiros renascentistas é essa visão da dignidade humana como capacidade de autodeterminação e criação a partir da transformação da natureza. A razão e a inteligência do homem não possuem exclusivamente um alcance ético, mas também um viés poiético (de poiésis: produção, fabricação). A originalidade de Pico, que o torna elo entre duas eras, a medieval e a moderna, está nessa visão do homem. A liberdade é o dom que o homem recebeu. Sua dignidade está em saber usá-lo bem, transformando o mundo e a si mesmo em direção ao melhor: Que a nossa alma seja invadida por uma sagrada ambição de não nos contentarmos com as coisas medíocres, mas de anelarmos às mais altas, de nos esforçarmos por atingi-las, com todas as nossas energias, desde o momento em que, querendo-o, isso é possível (p. 55). O melhor, assim, é tudo aquilo que eleva o homem, que o torna construtor, criador, uma espécie de demiurgo do mundo, aproximando-o de Deus. É isso que, segundo Pico, converte o homem em um ser digno, merecedor de respeito por parte dos outros homens: o auto-aperfeiçoamento, a capacidade de se tornar, pelo uso da razão, um “animal celeste”, próximo à máxima perfeição. Referências Bibliográficas PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. Discurso sobre a dignidade do homem. Tradução e introdução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. Lisboa: Edições 70, 2001. REALE, Giovanni. Socrate. Alla scoperta della sapienza umana. Milão: BUR, 2000. TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. v. I. São Paulo: Loyola, 2001. 80 Novas Considerações Sobre a Fundamentação dos Direitos Humanos e os Desafios Contemporâneos da Dignidade da Pessoa Antonio D’Elia Jr1 Resumo Por meio de uma breve evolução histórica, descreve-se a trajetória da representação dos direitos humanos, passando pelo exame do quadro contemporâneo desta representação tanto no cenário externo quanto no interno, de que forma encontra-se estabelecido seu paradigma trançando-se o panorama internacional após o 11 de Setembro de 2001 e a necessidade da afirmação da condição da cidadania. Palavras-chave: Direitos Humanos. Dignidade Humana. Cidadania. Abstract Through a brief historical review, the trajectory representation of human rights, throu- 81 gh the examination of the contemporary framework of representation in both the external as the internal scenario, how its paradigm is set up, establishing the international situation after September 11, 2001 and the need to affirm the condition of citizenship. Keywords: Human Rights. Human Dignity. Citizenship Introdução Dentre as diversas conquistas alcançadas pala Humanidade ao longo do último século, nenhuma foi mais significativa do que a consolidação global da noção que se verifica a existência de um conjunto mínimo de direitos dos indivíduos, independentemente de qual seja o seu grupamento social, cultural ou étnico, que deveria ser escrupulosamente respeitado, momento este coroado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Contudo, com o passar dos anos, percebemos que, apesar das solenes declarações, a problemática dos direitos humanos não mais envolve a mera compreensão de seu cerne, mas passa a ultrapassar a sua própria evolução e historiciedade, a sua objetividade e subjetividade. Assim, há a evocação contemporânea desse direito como gênese lógica da busca das garantias dos seus plenos efeitos, para impedir que o próprio entendimento fundamental da Humanidade seja continuamente aviltado e violado. 1 Doutorando em Direito pela UERJ. Mestre em Direito pela UERJ. Supervisor Geral do Curso de Direito da Universidade Castelo Branco. Assessor do Centro de Ensino Superior de Valença – CESVA. Professor da FDV. O objetivo desta forma, passa a ser uma consideração contemporânea dos fundamentos dos direitos humanos, tecendo uma brevíssima avaliação panorâmica da situação dos direitos humanos na atualidade, avaliando-se de que forma e sob que meios as matérias protetivas dos direitos humanos se encontram representadas e suas problemáticas, dilemas e perspectivas, sempre voltados a ótica do paradigma urbano, do conflito de baixa intensidade e assimétrico dos novos tempos. A evolução histórica da representação dos direitos humanos A gênese dos direitos humanos encontra-se na Grécia, posto que o nosso modo de pensar, seja filosoficamente, seja cientificamente, foi herança de todo o legado helênico. Na mitologia Grega, já havia o enfoque dos direitos humanos, que eram chamados de direitos naturais, aclamados pelos seguidores e devotos de Orfeu, os quais defendiam a origem comum de plantas, animais e homens, fato que levou Melanipa, filha de Éolo que mantivera um relacionamento amoroso com Posídon, a defender a vida como um direito natural2. Influenciado por esta idéia da filosofia órfica, o Pitagorismo formula um conceito de justiça como justa igualdade, face ao alto valor dado ao número e ao raciocínio numeral. Foram eles precursores dos tempos modernos, por valorizarem a mulher, que tinha o mais alto valor social e familiar para estes.3 Posteriormente, Heráclito vai fundamentar a sua conceituação de moral na lei natural, extraída do logos, que seria a porção imutável do Cosmos, aquilo que mantém os astros em suas órbitas. Esse conceito de logos irá originar o conceito cristão de lex aeterna. Já Sófocles foi um dos cultores do direito natural, pois entendia ele que nenhuma 82 lei humana poderia se contrapor as leis dos Deuses, imutáveis por si, por pena de assim se tornaram inválidas.4 Posteriormente, dentre os sofistas, como Antifonte, elaboraram a sua concepção do direito natural a um modo mais realista, afirmando a igualdade natural de todos os homens de todas as estirpes e considerando todas as distinções entre os homens como indo de encontro à natureza, como tal, Sócrates também admitia a existência de leis não escritas. Aristóteles também discute o tema, no Ética a Nicômacos, que em seu Livro V trata justamente da justiça e suas considerações. Os Estóicos atribuiram sobremaneira um valor fundamental à igualdade, valorizando-a de forma geral e absoluta, o que significa um universalismo bastante contemporâneo.5 Em ligeiro exame temporal do que foi a evolução histórica pré-Declaração Universal dos Direitos do Homem, dentro de uma consideração codicial, encontramos como a primeira representação de direitos inerentes à pessoa, a Magna Carta de 1215, assinada pelo Rei Inglês João, mais conhecido como João Sem-Terra, onde o mesmo reconhece os mais amplos direitos de Nobres e Vassalos, que é a principal influência da igualmente inglesa Petition of Rights, de 1628, onde são retificados os direitos perante o Rei Eduardo III. No bojo desta iniciativa, ainda na Inglaterra, segue-se o instituto do Habeas Corpus em 1679. 2 KERÉNYI, KARL. Os heróis gregos. São Paolo: Cultrix, 1996, p. 68 SERRA, A. TRUYOL. História da filosofia do direito e do estado. Portugal, Instituto das Novas Profissões, s/d, p. 88. 4 __________________. Op. cit, p. 90. 5 CANOTILHO, J. J. GOMES. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra, Almedina, 1998, 2ª edição, p. 351. 3 Em sequência, a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, nos Estados Unidos, de 1776, que expressam com clareza os fundamentos do regime democrático: o reconhecimento de “direitos inatos” de toda a pessoa humana. Um grande marco histórico se dá no fim do século XVIII na França, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que reconhece que homens nascem e são livres e iguais em direitos e que as distinções sociais só poderiam fundamentar-se na utilidade comum. No século seguinte, a Convenção da Cruz Vermelha assinada em 22 de agosto de 1864 em Genebra, Suíça, reconhece as regras e a necessidade ao respeito de socorro aos feridos nos campos de batalha. No início do século passado, trás a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, que é a carta dos princípios dos Sovietes Russos, que introduzindo os princípios socialistas como premissas dos direitos dos cidadãos, pregavam como base do entendimento do novo homem socialista6, a liberdade e o voluntarismo. Após a 1º Guerra Mundial, na Conferência de Paz de Versailles, é elaborada o Pacto da Sociedade das Nações, em 1919. Neste diploma, aparece um primeiro ensaio de se criar um entendimento supranacional, onde há o explícito entendimento da necessidade da manutenção da paz e o banimento das agressões bélicas entre as nações signatárias, e procura também introduzir novos instrumentos de solução de litígios, como a arbitragem, além de condenar quaisquer outras iniciativas e entendimentos que sejam diversos do mesmo. O Pacto também abrange entendimento em relação a condições de trabalho equitativas e humanas, tratamento justo as populações indígenas, a condenação e o combate ao tráfico de mulheres e crianças, ao comércio do ópio e de outras drogas nocivas, a fiscali- 83 zação geral do comércio de armas e munições e a garantia e manutenção da liberdade do comércio e de trânsito entre as nações, além da profilaxia a infecções e moléstias. Completando este breve histórico, não podemos deixar de citar o Protocolo Especial relativo à Apatridia7, de 1930, e a Convenção Internacional relativa à repressão do tráfico de mulheres maiores, de 1933. O quadro contemporâneo da representação dos direitos humanos Modernamente, os direitos humanos encontram-se fragmentados e representados por uma vasta e extensa míriade de interesses de largo espectro. O Marco inicial de nossa leitura passa necessariamente pela Carta das Nações Unidas de 1945, onde, em seu preâmbulo, destaca-se a idéia que a Guerra seja um flagelo, reafirmando-se a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e nos valores humanos da pessoa, na igualdade entre os direitos dos homens e mulheres, independentemente de nacionalidade. E que estes indivíduos reconhecidos como tal, estabeleceriam condições nas quais o respeito e a justiça das obrigações aos tratados e outros recursos que as leis internacionais possam manter a paz, gerando o progresso social e melhores padrões de vida em plena liberdade. Praticar a tolerância e a convivência em comum, assegurando a aceitação dos princípios e da instituição de métodos de entendimento das Nações Unidas e empre6 7 Conforme a noção concebida por Lenin na obra intitulada “O que fazer?”. Trata-se da condição juridical daquele que, tendo perdido sua nacionalidade de origem, não adquiriu outra; que ou o que se encontra oficialmente sem patria. A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 15, os direitos de nacionalidade. gar os instrumentos internacionais para a promoção dos avanços econômicos e sociais distribuídos a todas as pessoas, também são pontos-chave ao entendimento da gênese volitiva da organização. Dentre os tratados internacionais surgidos da iniciativa da Nações Unidas, temos a seminal Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n.º 217 A (III) da Assembléia Geral da Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. A acompanham, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Protocolo Facultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, adotados pela Resolução n.º 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, estabelecido no bojo da Carta das Nações Unidas. Não podemos deixar de lembrar também, as diversas e extensas tratativas e garantias extensivas do Direito ao Desenvolvimento, dos Direito da Família, da Mulher e da Criança, do Direito ao emprego e contra a escravidão, contra a discriminação e proteção das Minorias, os Direitos dos Povos Indígenas, os Direitos Humanos na administração da justiça, a proteção dos prisioneiros e detidos, a proteção contra a tortura, maus-tratos e desaparecimento, os Direitos dos Portadores de Deficiência, a Liberdade de Associação, de Informação e Direito à cultura, Direito a educação, aos refugiados e asilados, a garantia ao bem estar, paz, progresso e desenvolvimento social, e também a proteção aos Direitos Difusos, como a preservação do Meio-Ambiente. 84 A leitura doméstica da representação dos direitos humanos No Brasil, encontramos em nossa Constituição, as premissas fundamentais à proteção das pessoas. Os artigos referentes aos direitos humanos podem ser encontrados em seu Título II, Capítulo I que trata ‘Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos’, que no caput do Artigo 5º apregoa; Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade... Apesar de nosso país ter sido precursor no Direito Constitucional, em tornar os Direitos Humanos como direitos subjetivos concretos na Constituição de 1824, como bem nos recorda JOSÉ AFONSO DA SILVA8, outrossim, a leitura e principalmente a manutenção e verdadeira garantia dos Direitos Humanos em nosso país, passa por uma série de fatores e influências sociais particulares. Não é um fator ignorado que a luta pelos Direitos Humanos no Brasil se desenvolve de forma fundamentalmente isolada em relação as grandes massas, que mormente, não se identificam com suas reivindicações, razões estas advindas pelo acelerado processo hodiermo de privatização do bem público e da corrente segregacionista social, alimentada por uma leitura hermética e catedrática baseada em discursos políticos de teor iluminista, voltados só e essencialmente para a liberdade e a felicidade. Compreendemos que torna-se necessário superar o isolamento deste tipo de visão, pois pelo atual estágio, vínhamos a abordando-a e admitindo-a como mero vínculo discursivo, remetendo-a restritivamente a discussão da penalização que nos leva, fundamentalmente, a um conservadorismo de posições. 8 SILVA, JOSÉ AFONSO DA. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 169. Assim, é fácil constatar que quaisquer discussões, sejam elas relacionadas a discriminação racial, igualdade de oportunidades para ambos os sexos, abusos sexuais, violência policial, corrupção entre tantas outras, centraliza-se em torno da penalização e da a criminalização de um conjunto de práticas, ficando mormente prejudicado o debate sobre a essência dos Direitos Humanos e de que forma o queremos presente em nossa sociedade. Entretanto , é necessário enfatizar é que os discursos e as práticas sobre os direitos humanos não chegam a maior parte da população sob o formato original do liberté, egalite et fraternité, mas sim de da tríade da culpabilização/penalização /punição, integrando uma tentedência global de obsessão punitiva crescente. A mudança de paradigmas à interpretação dos direitos humanos Parece óbvio que massificação da discussão relativo dos direitos humanos em torno da mera penalização dos que atentam contra seus princípios, trata-se na verdade de uma tendência apelativa da sociedade como um todo em relação a emergência de um novo tipo de Estado, de tendência majoritariamente penal e policial-punitivo, que vai ganhando contornos cada vez mais nítidos, com a falência presuntiva de sua vertente socializante, benemerente e inclusiva de seus cidadãos. Esta deterioração do Estado do Bem-Estar para o Estado Securitivo, leva a transformações radicais, pois, se tendemos a substituir a inserção social pela criminalização da miséria e da marginalidade, temos como resultante a potencialização econômica da industria de segurança, que tem como premissas básicas, garantir a integridade dos indivíduos, com a oferta básica de consumo dos mais diversos produtos resguardativos. São armas das mais variadas, carros blindados, alarmes, construção de bunkers em casa, vigilância dos mais diversos tipos. Encontramos assim, em NORBERTO BOBBIO9, afirmação corroboradora de 85 tal fato quando afirma: O problema fundamental em relação aos direito do homem, hoje, não é o tanto o de justificá-los, mas sim, o de protegê-los. Isso também empurra o Estado a alimentar seu entendimento punitivo, que tem como premissa entender que as penas restritivas de liberdade são o meio mais eficaz de controle do crime, levando-se assim a criação de espectros com interesses econômicos próprios em uma enorme estrutura que envolve desde os serviços de construção das prisões (que devem ser rápidos e eficientes), até o fornecimento de equipamentos de alta tecnologia que possibilitem não só o controle da comunicação interna e externa, mas também do combate ao ilícito em suas dependências. Como nos explica a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, HELENA SINGER10, o crescimento das taxas de encarceramento, que expressam o anseio de punição, e a reivindicação de direitos civis têm em comum o anseio de superação de um momento, em que as desigualdades econômicas garantem privilégios em todas as áreas da vida social, inclusive na superioridade em relação à justiça: apenas os mais pobres são punidos, o crime do colarinho branco passando incólume pela justiça. A bem da verdade, o anseio por punições mais enérgicas, aplicáveis aos diversos autores de crimes, emerge como reação lógica e facilmente compreensível, tal o quadro de pavor, causado pelos alarmantes índices de violência nas grandes cidades. Entretanto, se o temor é compreensível, não se pode, contudo, se deixar levar por essa emoção, na hora de se propor soluções efetivas no enfrentamento da violência. Ao contrário do que oportunísticamente alguns políticos de ocasião têm feito, o combate à violência envolve muito mais que um mero reforço ao aparato punitivo esta9 Apud BARRETO, VICENTE DE P. Reflexões sobre os direitos sociais, 2002, pg. 2. SINGER, HELENA. Direitos humanos e volúpia punitiva. disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/bibliografia/helena.html, Acesso em: 24 de março de 2000. 10 tal, demandando-se, também, a necessidade de ações sociais que possibilitem condições de vida para as pessoas, que vivem em regiões mais pobres. Além disso, não se pode esquecer que não é solução, mas ao contrário, torna-se aí sim, a geração de um problema, a limitação de direitos e garantias individuais, consolidados ao longo de processos históricos, como se sugere em demagógicos discursos de lei e ordem11. Deve-se pois, ao invés de questionar os direitos humanos, reafirmá-los, pois a gênese da agressividade e da violência, perpassa pela inobservância desses direitos. O panorama internacional após o 11 de Setembro de 2001 Entende-se que a partir dos acontecimentos das Torres Gêmeas de Nova Iorque, o colapso de suas estruturas fez cair por terra um dos últimos paradigmas de inviolabilidade dos Direitos Humanos na estrutura ideológica e política de uma superpotência, que assim emergira por justamente se erguer sobre as tenebrosas forças evocadas durante a 2ª Guerra Mundial, que que representaram greve ameaça de mergulharem a humanidade num imenso mar de sangue e barbárie. Tendo exigido e liderado o grande movimento de passar às barras do tribunal os responsáveis pela guerra de agressão, ajudara a criar o conceito de crime contra a humanidade, por meio do Tribunal de Nuremberg e de Tóquio12, ocorridos no final da década de 1940, o chamado Ato Patriótico – Patriot Act, de 2001, contém um manancial de perturbadores instrumentos que representam um refluxo na progressiva imanação da prevalência e ampliação das demandas inclusivas dos direitos fundamentais. 86 A necessidade da afirmação da condição de cidadania Nos últimos cinqüenta anos, a violência nos grandes centros urbanos experimentou um avassalador crescimento, gerando uma espécie de pavor coletivo, alterando, até mesmo, a maneira de viver e de se relacionar com as pessoas, em geral, nas grandes cidades. Atitudes como a colocação de porteiros eletrônicos nos prédios, aumentar os muros das casas, andar de carro em pleno verão com as janelas fechadas, ou mesmo, contratar profissionais de segurança para vigiar as ruas, tomaram parte do cotidiano urbano. No Brasil, o acréscimo dos índices de violência urbana, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, foi de tal ordem exorbitante, que o tema passou a ser discussão obrigatória nas agendas dos governantes, sendo objeto das políticas públicas, 11 Exemplo mais notório disso é o chamado USA Patriot Act, comumente conhecido como Patriot Act, é um controverso ato do Congresso dos Estados Unidos da América tornado lei em 26 de outubro de 2001. Curiosamente, o seu acrônimo significa “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001” – Lei para Unir e Fortalecer a América Providenciando Ferramentas Apropriadas e Necessárias para Interceptar e Conter o Terrorismo, de 2001. 12 O Tribunal de Nuremberg (oficilmente Tribunal Militar Internacional vs. Hermann Göring et al.) se constituiu na abertura dos primeiros processos contra os 24 principais criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial dirigentes do nazismo, ante o Tribunal Militar Internacional (TMI) entre 20 de novembro de 1945 e 1º de novembro de 1946, na cidade alemã de Nuremberg. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente (The International Military Tribunal for the Far East IMTFE), também conhecido como Julgamento de Tóquio (Japão) ou Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, foi reunido para julgar os líderes do Império do Japão por crimes cometidos durante a II Guerra Mundial entre os dias 3 de maio de 1946, e 12 de novembro de 1948. não só o combate direto à criminalidade urbana, mas também a possibilidade de ressocialização da massa carcerária. Apesar de uma queda de aproximadamente 5% no crescimento da população carcerária entre 2006 e 2007, os números são bastante preocupantes. Pôde ser constatado entre 2003 e 2007 um crescimento real da população carcerária brasileira de 37%. Isto representa uma taxa média de crescimento anual de aproximadamente 8,19%. A taxa nacional de encarcerados era em Dezembro de 2007 de 194,07 por 100 mil habitantes13. Com efeito, estudiosos de diversas áreas das ciências sociais e humanas, em geral, têm se ocupado em buscar uma melhor compreensão do fenômeno da criminalidade, sendo objeto de análise as causas de sua existência, bem como a solução desse problema. No âmbito das ciências jurídicas, o tema ganha especial relevo se considerarmos que a definição de uma política criminal adequada ao fenômeno, não pode ser produzida sem que haja um melhor entendimento do problema. Neste sentido, parece ser consensual a idéia de que o abismo de desigualdade social verificado em nosso país, senão pode ser apontado como causa exclusiva desse problema, há de ser considerado como um dos grandes, talvez o maior, fomentador. A precariedade das condições de vida de muitos contrastada ao elevado grau de qualidade de vida de poucos, é lugar quase que comum na origem dos índices de violência. Como reflete AMARTYA SEM14, o fator desenvolvimento como a possibilidade de expansão das liberdades individuais e coletivas tem suas armadilhas, se refletindo de maneira clara no cotidiano das classes populares dos países do 3o Mundo. A liberdade, finalidade essencial do desenvolvimento, não se encontra necessariamen87 te referida a igualdade de oportunidades ou à criação de redes de cidadania mais efetivas. Como vemos nas sociedades em desenvolvimento, a complexidade crescente das redes produtivas, a mecanização dos sistemas produtivos e as exigências da globalização, não caminham juntas com a capacitação e melhoria do nível sanitário e educacional da população gerando uma exclusão social, não só dos mercados como da própria capacidade de transformar a realidade pelo exercício da cidadania. Não é mera coincidência que os níveis de criminalidade relacionados às drogas tenham crescido nos grandes centros e estejam mais concentrados nas populações jovens de baixa escolarização, pois as oportunidades sociais de melhoria de vida não são referidas às conquistas obtidas pelo trabalho remunerado, mas associadas ao meandros da política e do tráfico de entorpecentes. A criminalidade, em certa parte, pode ser entendida como uma das conseqüências da negação das liberdades nos sistemas produtivos, se referindo a rejeição em participar dos mercados de trabalho como “uma das maneiras de manter a sujeição e o cativeiro da mão-de-obra” 15, onde não possibilitar a uma grande parte da população os mecanismos adequados de exercício da cidadania é reforçar as exclusões e favorecer a quebra das liberdades individuais e coletivas e o desrespeito a tais institutos sociais16. a privação da liberdade econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica. 13 Dados da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Sistema Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, em seu relatório do quinquênio 2003-2007. 14 SEM, AMARTYA. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2000. 15 ________________. Op.cit. p. 21. ________________. Op.cit. p. 23. 16 Historicamente, a cidadania, se originou na Roma Antiga, estatuindo a igualdade de direitos a todos os cidadãos e a capacidade de exercer plenamente os direitos da cidade, incluindo-se os direitos de acesso às decisões políticas. A cidadania, então, desponta como um conceito que se funda na igualdade dos cidadãos e no acesso ao poder. Modernamente, o foco do conceito de cidadania se deslocou do cidadão, tal qual entendido na Roma Antiga, para o Homem detentor e sujeito de direitos. A cidadania moderna se funda, então, nos conceitos de Estado, de Governo e de Homem, que passam a referenciar o ideário moderno, aparecendo na Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, sob o estatuto da liberdade e igualdade em dignidade e direitos, representada nos direitos civis, políticos e econômicos expressos nas leis que regulam as relações sociais. Dentro desta perspectiva, VIEIRA17, aponta como definição de cidadania o o direito a ter direitos, onde três ou quatro gerações de direitos são exploradas e se colocam como essenciais ao entendimento que nos propomos a abordar neste trabalho. A primeira geração diz respeito aos direitos civis e políticos, onde se pressupõe a interferência mínima do Estado nos mecanismos sociais. Esta vertente é eminentemente Liberal e se baseia na filosofia individualista, onde o foco está na garantia dos mecanismos econômicos, não se propondo a focar direitos e garantias sociais. Com as teorias de cunho socialista, se originaram os direitos de segunda geração, apontando-se como origem do conceito de cidadania os direitos sociais e econômicos que demandam uma presença mais forte do Estado para a realização efetiva dos direitos na sociedade. Tal perspectiva traz em si mesma a crítica aos direitos formais do liberalismo, apontando as desigualdades sociais como impecílios à realização plena da cidadania. A terceira geração de direitos nasce das concepções pós-modernas da coletividade 88 e dos fenômenos sociais, políticos e econômicos, apontando o conceito de cidadania como originário da emergência dos direitos da coletividade como a real detentora dos direitos, referidos a autodeterminação dos povos e aos direitos coletivos e difusos. Tal qual as concepções de terceira geração, a quarta geração de direitos é referida a uma racionalidade nascida da ciência e da tecnologia, bem como da instrumentalização de seus conceitos, estando referida à bioética, a preservação da vida e a regulação da criação de novas formas de vida por meio da manipulação genética. O exercício da cidadania é citado como próprio das sociedades ditas democráticas, pois a possibilidade de criação de espaços sociais revigorados é muito mais freqüente no exercício da democracia, muito mais permeável a criação de novos direitos e mais propício a organização de movimentos sociais efetivos. Tal forma de atuação social é chamada por VIEIRA18, de; cidadania ativa, na qual o cidadão, portador de direitos e deveres, é essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política. Usando o mesmo tipo de referencial, BIRMAN19, faz uma crítica ao conceito de cidadania, ao discutir a exclusão social da loucura, apontando uma condição negativa de cidadania, onde há a necessidade efetiva de resgate por meio dos movimentos sociais, do lugar social de cidadão. Com base neste argumento, BIRMAN20, aponta um paradoxo estrutural no conceito de cidadania criado a partir dos ideais modernos, onde ao questionar a loucura o autor problematiza o lugar social marcado pela exclusão, generalizando sua assertiva ao 17 VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1997. p.22 CHAUÍ (1984) apud VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1997. p.40 19 BIRMAN, Joel. A cidadania tresloucada: notas introdutórias sobre a cidadania dos doentes mentais. In AMARANTE, Paulo e BEZERRA Jr., Benilton Psiquiatria sem Hospício: contribuições ao estudo da reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. p.71-90 20 Idem. 1992. p.74 18 apontar a universalidade de direitos como geradora das desiguais formas de tratamento de indivíduos e grupos sociais legalmente considerados iguais. (...) com a aurora da modernidade as individualidades passaram a ser representadas como sendo iguais perante a lei, não obstante a evidente existência de suas diferenças. Com isso foi reconhecida a condição de cidadania plena para o conjunto dos indivíduos e se instituiu no registro político um modelo universal de direitos sociais (liberdade, igualdade e fraternidade). Ao referir sua crítica a “cidadania plena”, o autor aponta que a exclusão social pode se dar em outros níveis sociais, se referindo à liberdade, igualdade e fraternidade como categorias parciais ou excluídas do cotidiano daqueles que, pela própria concepção de Estado Moderno, se encontram desassistidos e necessitam das benesses e proteções do Estado, colocando-se às margens da concepção de “sujeito do contrato social”. Nesta mesma direção aponta SEM21, ao referenciar a liberdade como consequência do processo de desenvolvimento, apontando que os maiores entraves à realização das liberdades individuais e coletivas são: a pobreza e a tirania; a carência de oportunidades econômicas e a destituição social sistemática; a negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva dos Estados repressivos. Desta forma a ausência de liberdades substantivas, a privação e a violação das liberdades são resultantes diretas da negação das liberdades políticas e civis e das restrição impostas à participação da vida social, política e econômica da comunidade, aspectos estes que se encontram em todas as sociedades, autoritárias ou não, onde a desigualdade de oportunidades e condições se encontram presentes de forma clara e inequívoca. Conclusão Vimos que a compreensão e a conquista dos Direitos Humanos tem tido fluxos e contrafluxos na sua aplicação e consideração no sentido de condição sine qua non ao entendimento do imperativo social e da convivência dos povos em seus interelacionamentos. Entende-se que seja necessário afirmar uma série de características que devem ser inerentes aos direitos humanos, tal como sua individualidade, pois na verdade eles visam a proteger basicamente a liberdade individual, na medida que se entendem como salvaguardas ao livre pensar e a existência guiada pelo livre arbítrio, enauanto criadas as condições sociais para tanto, sem estarem atreledas as grandes falácias como a reserva do possível e do mínimo existencial, como bem nos lembra BARRETO.22 Também importante, é preciso resguardar a sua característica de universalidade, não num sentido do direito estrito, mas sim num resgate ético, que são suficientemente abstratos para serem absorvidos pelas mais diversas culturas, e assim serem passivos de aplicabilidade, pois a liberdade, a igualdade e a solidariedade são valores recorrentes a compreensão geral. Vide a própria declaração de 1948, que tinha por fulcro estabelecer pesos universais de entendimento e consideração entre todos os povos. Assim, o caráter de irreversabilidade desses direitos torna-se importante, pois esses direitos não são passíveis do seu melhor entendimento fora de regime democrático, que possibilite o aperfeiçoamento dos direitos sociais, que atualmente, são resguardados de forma muito tênue e fragilizada, onde é preciso atrelá-los de acordo com valores éticos fundamentalmente exigidos na justiça, na medida que são essenciais para a promoção da pessoa humana em sua dignidade, e indispensáveis à consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, como nos fala BARRETO23; 21 SEM, AMARTYA. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2000. p. 18 BARRETO, VICENTE DE P. op.cit., p. 12-16. 23 BARRETO, VICENTE DE P. op.cit., p. 21-22. 22 89 O Estado Social de Direito, fundado sobre o princípio democrático, deve assegurar inclusão social, o que pressupõe participação popular e exercício dos direito de cidadania. E esse exercício da cidadania, associado ao princípio da dignidade humana, é que nos dá a certeza que os direitos humanos são direitos que tem a qualidade inerente de serem sempre merecedores de aperfeiçoamento e melhorias, pois isto passa necessariamente a vislumbrar as novas situações que sempre podem sugerir algum perigo a entendimentos que modernamente são indiscutíveis; a individualidade, por exemplo, sempre sendo exposta face as novas tecnologias. Por outro lado, as demandas do mundo pós-modernos nos voltam a outras considerações de matiz premente, tais como os fluxos migratórios entre os países periféricos e centrais, as novas ameaças do terrorismo e seu combate não codificado pelas potências centrais. Só desta forma, que que poderemos verdadeiramente partir ao exame dos Direitos Humanos, é mostrar quem sofre mais com a ausência destes, e onde eles se encontram menos presentes e em que partes e por quem eles são menos respeitados Referências Bibliográficas ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos, Brasília: Ed. UnB. 2001. BARRETO, Vicente de P. Reflexões sobre os direitos sociais, Rio de Janeiro: [s.n]2002. BIRMAN, Joel. A cidadania tresloucada: notas introdutórias sobre a cidadania dos doentes mentais. In AMARANTE, Paulo e BEZERRA JR., Benilton. Psiquiatria sem Hospício: contribuições ao estudo da reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. (p.71-90) 90 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, São Paulo, Ed. Saraiva, 2009. BRASIL, Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional, Comissão de Monitoramento e Avaliação, Relatório sobre a População Carcerária Brasileira, Quinquênio 2003-2007, Evolução e Prognósticos. Brasília: 2009. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra, Almedina, 1998. COMPARATO, FÁBIO KONDER. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo, Ed. Saraiva, 1999. FERREIRA FILHO, Manoel G. et. alli. Liberdades Públicas. São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. KERÉNYI, Karl. Os heróis gregos. São Paolo: Cultrix, 1996 NAÇÕES UNIDAS, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Relatório do desenvolvimento humano. Edição 2000, disponível em dlis.undp.org.br/.../ db0dc52ee6b6cf708325681100537910/c692ea247f4447e583256981004299c0/ $FILE/ Sintese+RDH.pdf, 12 de Março de 2002. SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2000. SERRA, A. Truyol. História da filosofia do direito e do estado. Portugal, Instituto das Novas Profissões, s/d. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1997. SINGER, Helena. Direitos humanos e volúpia punitiva. disponível em http://www.direitoshumanos.usp.br/bibliografia/helena.html, em 24 de março de 2000, 18:52. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP, http://www.direitoshumanos.usp.br VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1997. As Dimensões da Personalidade e a Analítica Existencial: a Estrutura Prévia da Compreensão do Ordenamento Jurídico Cleyson de Moraes Mello1 Resumo A Constituição de 1988 representa uma mudança de paradigma no Direito brasileiro. A partir dessa mudança de modelo, é necessário investigar a realização do direito, a partir da tutela da dignidade da pessoa. O Direito alinhado a hermenêutica filosófica assume, pois, um viés transformador. Daí a necessidade de compreender o Direito a partir do serno-mundo. O pensamento jurídico não pode ser concebido a partir de um predomínio causado pelos limites da razão e edificado com os poderes da racionalidade abstrata. É, neste sentido que, em face da flagrante inefetividade da hermenêutica clássica, originariamente metodológica, torna-se necessária à construção de uma resistência teórica que aponte para a construção das condições de possibilidade da compreensão do direito, como modo de 91 ser-no-mundo. Palavras-chave: Direito. Dignidade humana. Ser-no-mundo, Dasein. Abstract The Constitution of 1988 represents a change of paradigm in the Brazilian law. From this change of model, it is necessary to investigate the performance of duty, from the protection of the dignity of the person. The Right aligned the philosophical hermeneutics is therefore a bias processor. Hence the need to understand the law from being-in-the-world (In-der-Welt-Sein). The legal thought can not be designed from a predominantly caused by the limits of reason and built with the power of abstract rationality. It is in this sense that, given the striking ineffectiveness of classical hermeneutics, methodological in your origin, it is necessary to construct a theoretical strength that point to the construction of the conditions of possibility of understanding the law, as a way of being-in-the-world. Wordkeys: right. human dignity. being-in-the-world, Dasein. 1 Doutor em Direito pela UGF-RJ; Mestre em Direito pela UNESA; Professor de Direito Civil, Hermenêutica e Introdução ao Estudo do Direito (Pós-Graduação e Graduação) UNESA, UFF, UNIPAC, FAA-FDV, ESA-OAB (Rio de Janeiro e Espírito Santo); Professor do Programa de Mestrado em Direito da UNIPAC – Juiz de Fora - MG; Advogado; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB; Membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica – Porto Alegre – RS. Membro da Academia Valenciana de Letras. Vice-Presidente da Academia de Ciências Jurídicas de Valença-RJ. Autor e coordenador de diversas obras jurídicas. Introdução O rompimento da subjetividade do pensamento ocidental é realizado por um método fenomenológico que visa precisamente a superação do esquema sujeitoobjeto. Com isso, a analítica existencial de Heidegger ganha destaque e a questão do sentido do ser é colocada como uma questão privilegiada. O Dasein (Ser-aí, Presença) é o ente privilegiado que compreende o ser e tem acesso aos entes. Ele faz parte da condição essencial do ser humano. Nas palavras de Heidegger: “esse ente que cada um de nós somos e que, entre outras, possui em seu ser a possibilidade de questionar, nós o designamos com o termo pre-senca.”2 O ser-aí sempre se compreende a si mesmo a partir da sua existência.3 A análise das estruturas ontológicas do ser-aí é um existencial. Isso significa dizer que os caracteres não são propriedades de algo simplesmente dado, mas modos de ser essencialmente existenciais. Heidegger afirma que a pre-sença (ser-aí, dasein) “é um ente que, na compreensão de seu ser, com ele se relaciona e comporta.”4 Assim, o Dasein, pela compreensão, inaugura uma circularidade. É, pois, uma circularidade hermenêutica. Ou seja, a recíproca relação entre ser e ente somente ocorre porque há o Dasein, isto é, porque há compreensão. Assim, o acesso ao ser é colocado a partir da compreensão do ser e tal compreensão é dada a partir da compreensão que o Dasein possui de si mesmo. O círculo hermenêutico e a diferença ontológica 92 são os pilares que suportam a teoria heideggeriana. Em relação à metafísica, colocamse novos paradigmas: o ser é entendido por um conceito ontológico dado pela compreensão e a diferença entre ser e ente impede a entificação do ser (matriz da tradição metafísica). A diferença ontológica é a diferença entre ser e ente, uma vez que o ser é o elemento através do qual ocorre o acesso aos entes, isto é, sua condição de possibilidade. Essa condição é realizada por meio da compreensão pelo Dasein, pelo ser humano que se compreende e que sempre se dá pelo círculo hermenêutico. Dessa forma, a circularidade hermenêutica substitui o modelo da tradição metafísica ancorado na relação sujeito-objeto. De acordo com um modo de ser que lhe é constitutivo, a pre-sença tem a tendência de compreender seu próprio ser a partir daquele ente com quem ela se relaciona e se comporta de modo essencial, primeira e continuamente, a saber, a partir do “mundo”.5 A compreensão é a própria abertura do ser-no-mundo, bem como é um existencial. Destarte, todo o compreender é derivado dessa compreensão existencial, que é a própria luz, iluminação, abertura, clareira, revelação do ser-aí, Alethéia. Considerando que a compreensão é um existencial, não existe explicação sem a prévia compreensão. A compreensão prévia é um existencial do ser-aí que 2 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo: Parte I, Tradução Marcia Sá Cavalcante Schuback. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002, p.33. 3 Ibid., p.39. 4 Ibid., p.90. 5 Ibid., p.43. como sua abertura, clareira, luz sempre se apresenta à medida que é buscada. Aí está o círculo hermenêutico. Nas palavras do próprio Heidegger, esse círculo da compreensão “não é um cerco em que se movimentasse qualquer tipo de conhecimento. Ele exprime a estrutura-prévia existencial, própria da pre-sença.”6 O que o Heidegger procura mostrar é que devemos compreender as coisas de modo originário e autêntico, “a partir das coisas elas mesmas” desatrelado e desvinculado dos conceitos ingênuos e opinões que a tradição em si as carrega. Portanto, o círculo da compreensão pertence à estrutura do sentido, cujo fenômeno tem suas raízes na constituição existencial da pre-sença, enquanto compreensão que interpreta. Por conseguinte, o círculo da compreensão sustenta o método fenomenológico hermenêutico de Heidegger. Hans-Georg Gadamer, na obra Verdade e Método II, também discorre sobre o círculo da compreensão (1959) e informa a necessidade em manter o olhar firme para as coisas elas mesmas, até o momento de superar as errâncias que atingem o processo de interpretação. Alerta, ainda, que quem quiser compreender um texto deverá sempre realizar um projeto. O intérprete deverá projetar de antemão um sentido do todo, tão logo se mostre um primeiro sentido no texto. Vale destacar que esse primeiro sentido somente se mostra porque lemos o texto já sempre com certas expectativas, na perspectiva de um certo sentido. A compreensão daquilo que está no texto consiste na elaboração desse projeto prévio, o qual sofre uma constante revisão à medida que aprofunda e amplia o sentido do texto.7 O sentido da pre-sença é dado pela temporalidade (Zeitlichkeit), ou seja, o tempo 93 é o ponto de partida do qual a pre-sença (ser-ai) sempre compreende e interpreta o seu ser. Dessa forma, o ser-aí é de tal modo que realiza uma compreensão do ser no horizonte do tempo.8 É dessa forma que, em Ser e Tempo, Hedeigger sustenta a tese da Presença e Temporalidade (Segunda Seção de Ser e Tempo) que faz desmoronar radicalmente a equivalência metafísica entre ser e eternidade. Por outro lado, a abertura do ser-aí, ou seja, o ser do ser-aí é a preocupação (cura, sorge). Essa é a luz que constitui a luminosidade da pre-sença, isto é, aquilo que o torna “aberto” e também “claro” para si mesmo. É a cura que se funda toda abertura do pre e a temporalidade ekstática que o ilumina originariamente. Heidegger afirma que somente partindo do enraizamento da pre-sença na temporalidade que se consegue penetrar na possibilidade existencial do fenômeno, ser-no-mundo, que, no começo da analítica da pre-sença, fez-se conhecer como constituição fundamental.9 O Homem como Dasein Heidegger realiza uma investigação ontológica “concreta”, partindo do ente que compreende o ser, ou seja, único para o qual há ser, a saber, o próprio homem 6 Ibid., p.210. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II: Complementos e Índice. Tradução Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2002. p.75. 8 HEIDEGGER, op.cit., 2002, p.45. 9 Ibid., p.150. 7 (vale destacar que aqui não há falar-se de “consciência” ou “sujeito” da filosofia moderna). O homem é Dasein. O filósofo afirma: “a pre-sença (Dasein) existe. Ademais, a pre-sença é o ente que sempre mesmo eu sou.”10 Logo, Dasein é existência, ou seja, o fato de ser fora de si, de possuir uma estrutura ekstática, em detrimento ao sujeito da filosofia moderna fechado sobre si mesmo (Ser e Tempo, § 69). A abertura essencial do ser do homem é chamada cuidado, preocupação e o sentido propriamente temporal da existência enquanto modo de ser humano é a temporalidade. É o por à luz com sentido temporal da existência enquanto modo de ser humano. Daí a ontologia da finitude, já que o Dasein é finito, isto é, mortal (Ser e Tempo, Primeiro Capítulo da Segunda Seção – A possibilidade da Pre-sença ser-toda e o ser-para-a-morte). Assim, Heidegger propõe a tese da finitude do tempo original, em detrimento à tese clássica da infinitude do tempo da natureza. Assim, podemos dizer que não há ser nem tempo senão na medida em que há Dasein. O Dasein dá a si mesmo o seu tempo. O fundamento ontológico originário da existencialidade da presença é a temporalidade. A totalidade das estruturas do ser da pre-sença articuladas na cura só se tornará existencialmente compreensível a partir da temporalidade.11 A compreensão do ser é tornada possível mediante a temporalidade ekstática do Dasein, ou seja, o tempo passa a ser o locus da compreensão do Dasein. É, com efeito, no § 65 de Ser e Tempo que a temporalidade é revelada como constituindo o sentido do cuidado, sorge, cura. Heidegger afirma que “enquanto cura, a 94 totalidade ontológica da pre-sença diz: preceder-se-a-si-mesma-em (um mundo) enquanto ser-junto-a (entes que vêm ao encontro dentro do mundo).”12 Assim o filósofo fixou a articulação da estrutura originária da cura na temporalidade. Isso quer dizer que o Dasein (pre-sença) nunca perde a sua integralidade; que ela perdura no tempo, porque ele é formado por momentos inseparáveis uns dos outros. Daí Heidegger falar em estrutura do ser-aí. Esta estrutura fundamental é chamada ser-no-mundo. É sendo que a pre-sença está aberta para si mesma em seu ser.13 Há que se buscar uma abertura mais abrangente e mais originária dentro da própria pre-sença (Dasein).14 Portanto, não é no terreno da quotidianidade que vamos conseguir encontrar a unidade do Dasein (pre-sença). Isso porque a interpretação cotidiana da pre-sença encobre onticamente o ser próprio da pre-sença.15 Assim, o modo de ser da pre-sença exige uma interpretação ontológica. A interpretação ontológica projeta o ente preliminarmente dado em seu próprio ser, de modo a chegar ao conceito de sua estrutura.16 É o salto para dentro do círculo hermenêutico que assegura o ponto de partida da análise 10 Ibid., p.90. HEIDEGGER, Ser e Tempo: Parte II, Tradução Marcia Sá Cavalcante Schuback.11.ed. Petrópolis: Vozes, 2004. p.13. 12 Ibid., p.121. 13 HEIDEGGER, op.cit., 2002. p.245. 14 Ibid., p.245. 15 HEIDEGGER, op.cit., 2004. p.104. 16 Ibid., p.104. 11 do Dasein (pre-sença).17 O próprio desejo e esforço para fugir do círculo reside na condição de decaída da pre-sença.18 Segundo Heidegger, este termo não exprime qualquer avaliação negativa. Pretende apenas indicar que, em primeira aproximação e na maior parte das vezes, a pre-sença está junto e no “mundo”.19 Este estar junto possui, frequentemente, o caráter de perder-se na publicidade do impessoal, eis que a própria pre-sença já sempre caiu de si mesma e de-caiu no “mundo”.20 O fenômeno da decadência apresenta-se em um modo existencial de serno-mundo.21 Em sua obra Sobre o Humanismo,22 Heidegger afirma que o esquecimento da Verdade do Ser em favor da avalanche do ente, não pensado em sua essência, é o sentido da “decadência”, mencionada em Ser e Tempo. Ora, é a desconstrução da metafísica ocidental, operada pela analítica do Dasein como “ser-no-mundo”, que introduz a possibilidade de uma essência do homem como lócus hermenêutico do ordenamento jurídico. Daí que o conceito de Dasein introduz uma nova dimensionalidade da personalidade na contemporaneidade, já que procura inserir a personalidade numa via em direção a questão do ser. Melhor dizendo: a dimensionalidade ética da personalidade como Dasein procura superar a metafísica moderna que tem o homem como subjectum. A desconstrução da metafísica ocidental em Heidegger é desenvolvida no parágrafo 6o de Ser e Tempo, no qual o filósofo, a partir da categoria do tempo, pretende retomar o problema da fundamentação da metafísica. Martin Heidegger afirma que “o ser da pre-sença tem o seu sentido na temporalidade.23 Esta, por sua vez, é também a condição de possibilidade da historicidade enquanto um modo de ser temporal próprio 95 da pre-sença.”24 Assim, a partir do conceito de tempo, o filósofo pretende rever os parâmetros da ontologia da tradição, a partir das seguintes teses: em primeiro lugar, a fundação da metafísica tem a forma de uma Ontologia fundamental; em segundo lugar, esta ontologia fundamental realiza-se como Analítica do ser-aí, ou seja, a base dessa revisão é a analítica existencial. 17 Ibid., p.109. Ibid., p.109. 19 Na preocupação quotidiana, o mundo é tomado como a soma dos entes e não como um existencial. 20 Nesse sentido, Heidegger afirma que “a de-cadência da pre-sença também não pode ser apreendida como ‘queda’ de um ‘estado original’, mais puro e superior. Disso nós não dispomos onticamente de nenhuma experiência e, ontologicamente, de nenhuma possibilidade e guia ontológicos para uma interpretação. Enquanto ser-no-mundo de fato, a pre-sença na de-cadência, já de-caiu em algo ôntico com o que ela se deparou ou não se deparou, no curso de seu ser, e sim no mundo que, em si mesmo, pertence ao ser da pre-sença. A de-cadência é uma determinação existencial da própria presença e não se refere a ela como algo simplesmente dado, nem a relações simplesmente dadas com o ente do qual ela ‘provém’, ou com a qual ela posteriormente entra em commercium.” HEIDEGGER, Martin. op.cit., 2002. p.236-237. 21 Ibid., p.238. 22 HEIDEGGER, Martin. Sobre o Humanismo. Tradução Emmanuel Carneiro Leão. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. p.53. 23 Ser e Tempo gira precisamente sobre a questão do ser, destacando a efetividade da existência (historicidade do ‘espírito vivente’ e validade intemporal da lógica) no sentido de não ser possível identificarmos o sujeito do conhecimento como sujeito puro, ou seja, dissociado de sua historicidade. 24 Historicidade para Heidegger indica a constituição ontológica do “acontecer” próprio da pre-sença como tal. 18 Heidegger pretende superar o esquema sujeito-objeto25 e qualquer tipo de fundamentação da metafísica ligada ao infinito, ao real, a uma teologia ou a uma consciência, busca a partir do Dasein, enquanto ser-no-mundo, através da analítica existencial (ontologia fundamental) e a finitude do ser uma nova fundamentação da metafísica, na medida em que a faticidade e a historicidade determinam o próprio ser-no-mundo.26 Na esfera do mundo jurídico, isto significa dizer que o julgador e o intérprete jurídico não podem ver o mundo somente pelo viés normativo do dever-se, mas deve considerar as possibilidades do ser do homem, isto é, como poder-ser. O homem não pode ser visto como um homem abstrato inserido nos padrões normativos de uma dada 25 Em relação ao binômio sujeito-objeto, vale lembrar as lições de Emmanuel Carneiro Leão no sentido de que nas relações de objetividade-subjetividade, a alternativa de sujeito e objeto exerce uma decisão de essência. Vejamos: “a decisão de que na funcionalidade de tudo e de todos reside o sentido de ser e realizar-se, mora o vigor originário do valor e da verdade, se gera a dinâmica de temporalidade de todo o processo histórico. Trata-se de uma dominação a tal ponto fundamental que não é fácil perceber-lhe as distorções, nem é possível falar de objetividade sem falar de subjetividade e vice-versa. A funcionalidade da correlação de sujeito-objeto se impõe, então, como o objetivo supremo de todas as funções de crer, saber, fazer e sentir, vigentes no mundo moderno. Constitui mesmo o maior escolho na caminhada do pensamento para pensar radicalmente uma realidade. Senão vejamos. Façamos uma prova conosco e com os outros. Afirmar que a objetividade é o que mais nos impede de investigar alguma coisa radicalmente, provoca logo duas reações contrárias, embora indissoluvelmente solidárias uma da outra. Uma primeira reação diz: mas como é possível uma afirmação dessas? Não devemos ser objetivos em todos os nossos empenhos de pensar e desempenhos de saber? Então a ciência e suas investigações são coisas subjetivas? Para ser verdade, a verdade não tem de ser objetiva? Proclamar o sujeito como critério para se saber e pensar a realidade, não é isso subjetivismo, idealismo e relativismo? O que há 96 de mais óbvio e evidente do que a conversão lógica: o que não for objetivo, é subjetivo, o que não for realismo, é idealismo, o que não for objeto, é sujeito? – Mas na vigência de seu vigor, esta reação não é a única, nem unívoca. Está montada na correspondência de uma gangorra: ao dizer objeto, diz também, sempre e necessariamente, sujeito. É o que nos permite ver a segunda reação. Se a primeira reação discorda, a segunda concorda com a afirmação do empecilho da objetividade, dizendo: é isso mesmo, a realidade não pode ser objetivada. Nunca fica estática como um objeto parado sem movimento nem vida, que pudesse ser definido pela razão e medido pelo raciocínio. Pela vivacidade das vivências e o dinamismo da experiência, o sujeito é o único modo de ser adequado à profundeza e variedade do real. Para que tanta discursividade, de que nos valem todas as teorias? O que importa mesmo são as emoções e os sentimentos concretos do sujeito. A ironia destas duas reações está na fatalidade com que ambas se instalam e vivem de uma mesma jogada. Tanto quem rejeita a subjetividade e tem a objetividade em conta de norma absoluta e parâmetro supremo da realidade, como quem valoriza a subjetividade e desfaz da objetividade, dizem a mesma coisa. Contra esta voz de dizerem a mesma coisa, tanto o objetivista, como o subjetivista concordam em tocar o mesmo acorde de protesto: como é que dizem a mesma coisa? Não se diz, de um lado, objeto, objetividade e objetivo e, de outro, sujeito, subjetividade e subjetivo? E sujeito e subjetivo não se opõem a objeto e objetivo? Como, então, podem dizer a mesma coisa? Não se quer negar que subjetivista e objetivista se contraponham um ao outro na valorização. De certo que há polaridade entre ambos, enquanto um valoriza o objeto, o outro valoriza o sujeito. Mas não está aí, na dimensão dos valores e da valorização, a raiz do problema. É que valorizar já supõe constituídos parâmetros de avaliação e estabelecidos valores de julgamento. A concordância pretendida está no nível de constituição dos parâmetros e no âmbito em que se estabelecem os valores de julgamento.” LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprendendo a Pensar. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2000, V.2. p.169-170. 26 Na mesma obra, o filósofo Emmanuel Carneiro Leão afirma que a essência de alguma coisa só pode ser pensada e a impossibilidade de uma investigação científica da essência de toda e qualquer ciência é condição de sua própria possibilidade. Afirma ainda que “desde o Poema de Parmênides, pensador é aquele que não cessa de questionar as raízes, onde se encontram, numa encruzilhada de Verdade, os caminhos do ser, do não ser e da aparência. [...] Entre cientistas e filósfos não é possível um diálogo de essência sem que o cientista deixe de ser só cientista e se faça também filósofo. Ibid., p.177-178. sociedade, mas devemos considerá-lo no processo hermenêutico através de seu modo de ser médio e quotidiano do próprio homem, isto é, como ser-no-mundo (Dasein, estar-aí). Assim, o processo de interpretação judicial deve ser construtivo, prospectivo, alinhado com a dinâmica do homem, ou seja, no seu modo de poder ser. 27 A dimensão da personalidade como finitude, temporalidade e liberdade A existência, a temporalidade, são identificadores e elementos basilares da existência do homem. Heidegger insere a essência da Verdade no plano ontológico fundamental da analítica existencial, ou seja, o ser-verdade como ser-descoberto só é ontologicamente possível quando fundamentado e consubstanciado no ser-no-mundo. Em sua obra Ser e Tempo, no parágrafo 44, o filósofo determina28 Se verdade encontra-se, justificadamente, num nexo originário com o ser, então o fenômeno da verdade remete ao âmbito da problemática ontológica fundamental. [...] O ser-verdadeiro (verdade) da proposição deve ser entendido no sentido de serdescobridor. Verifica-se, pois, que Heidegger relaciona de forma direta a constituição funda- 97 mental do Dasein com o fundamento do fenômeno originário da verdade, negando, de certa maneira, que a verdade possua uma estrutura de concordância entre o sujeito e objeto. Através de Heidegger, a “definição” proposta da verdade assume uma conotação de apropriação originária. Heidegger diz que a “definição” de verdade nasce da análise dos comportamentos da pre-sença, que se chama “verdadeiros”. Vejamos:29 27 Antonio Osuna Fernández-Largo, da Universidad de Valladolid ensina que “tiene que existir uma justificación del contenido de las leyes y de su aplicación jurisprudencial. El camino para ello es el de la inserción de lo jurídico em las realidades culturales, históricas, éticas y sociales em que se enmarcan las leyes. Por eso, la teoria del derecho guarda conexión com la teoría de las ciencias humanas y, a la postre, com la teoría del saber científico y del mismo hombre al que sirve. Es um hecho reiteradamente comprobado el que las teorías del derecho están em función de las teorías filosóficas y científicas em boga. Luego es em esse horizonte donde su planteamiento ofrece garantías de solución o, al menos, de um tratamiento congruente com la materia. Construir uma ciencia jurídica sin replanteamientos terórico-filosóficos es lo mismo que erigir uma praxis sin tería que la convalide. La herméneutica moderna há propiciado el estudo de las condiciones generales del comprender y del interpretar como paso previo y condicionamiento de todo outro planteamiento metódico de la ciencia; algo así como la gnoseología prima sobre toda epistemología. Tal estudio, de índole metacientífica y metajurídica, fuerza a sobrepasar los métodos particulares y a construir um discurso de condición filosófica. Ahora bien, esta filosofia no se entiende como uma teoría aplicable al derecho y sí como uma metateoría de la ciencia jurídica. La interpretación jurídica es um problema también filosófico y no sólo um problema que reclame a filosofia acerca del derecho. Por eso, aunque la moderna discusión hermenéutica naciera em otros a´mbitos, como el estético y el lingüístico, pronto vio en consecuencia, a um replanteamiento de la misma ciencia jurídica.” FERNÁNDEZ-LARGO, Antonio Osuna. La Hermenéutica jurídica de HansGeorg Gadamer. Valladolid: Secretariado de Publicaciones, 1992. p. 38. 28 HEIDEGGER, op.cit., 2002, p.281-287. 29 Ibid., p.288. Ser-verdadeiro enquanto ser-descobridor é um modo de ser da pre-sença. O que possibilita esse descobrir em si mesmo deve ser necessariamente considerado “verdadeiro”, num sentido ainda mais originário. Os fundamentos ontológico-existenciais do próprio descobrir é que mostram o fenômeno mais originário da verdade. Descobrir é um modo de ser-no-mundo. A ocupação que se dá na circunvisão ou que se concentra na observação descobre entes intramundanos. São estes o que se descobre. São “verdadeiros” num duplo sentido. Primordialmente verdadeiro, isto é, exercendo a ação de descobrir, é a pre-sença. Num segundo sentido, a verdade não diz o ser-descobridor (o descobrimento) mas o ser-descoberto (descoberta). Heidegger procura mostrar que a essência da Verdade no plano ontológico fundamental da analítica existencial se funda na abertura do mundo. Somente com esta é possível o alcançamento do fenômeno mais originário da verdade. O filósofo afirma no citado parágrafo 44 de Ser e Tempo que a pre-sença é e está na verdade, indicando seu sentido ontológico-existencial. O homem não pode ser visto como uma coisa simplesmente dada, de forma objetiva, mas, ao contrário, visto e entendido como forma de realização cuja existência está fulcrada no ser-no-mundo. Nesse sentido, existência e sentido, pre-sença e verdade não estão em distonia, mas entrelaçam-se uns nos outros. Se quisermos sintetizar o que acabamos de sublinhar, diremos que ser-no-mundo é uma estrutura de realização, ou seja, o homem “não é uma coisa simplesmente dada, 98 nem uma engrenagem numa máquina e nem uma ilha no oceano.”30 Na obra Sobre a Essência da Verdade, Heidegger afirma que a essência da verdade é a liberdade.31 Tal assertiva está relacionada ao problema da essência do homem, dentro de uma perspectiva que garanta a experiência de um fundamento original oculto do homem (do ser-aí) e isto de tal maneira que a essência da verdade se desdobre originariamente.32 Note-se que a relação da essência da verdade com a liberdade não exprime que a verdade seja algo de subjetivo ou relacionado ao arbítrio humano – nesse caso, a liberdade não é uma propriedade do homem. A liberdade, na concepção heideggeriana, é no sentido de liberdade como manifestação no seio do aberto, ou seja, “a liberdade em face do que se revela no seio do aberto deixa que cada ente seja o ente que é. A liberdade se revela então como o que deixar-ser o ente.”33 Deixar-ser significa o entregar-se ao ente, como ente que ele é. Ou seja, significa entregar-se ao aberto e à sua abertura, na qual todo ente entra e permanece, e que cada ente traz, por assim dizer, consigo.34 Assim, o abrir-se ao ente não é algo que o homem possa escolher de forma arbitrária (não é uma faculdade do homem), uma vez que constitui o próprio Dasein enquanto ser-no-mundo. Deixemos que as lições de Heidegger falem por si:35 30 Ibid., p.217. HEIDEGGER, Martin. Sobre a Essência da Verdade. Tradução Ernildo Stein. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1970, p.30. 32 Ibid., p.31-32. 33 Ibid., p.32. 34 Ibid., p.32. 35 Ibid., p.33-35. 31 Deixar-se significa que nós nos expomos ao ente enquanto tal e que transferimos para o aberto todo o nosso comportamento. O deixar-se, isto é, a liberdade, é, em si mesmo, exposição ao ente, isto é, ek-sistente. A essência da liberdade, entrevista à luz da essência da verdade, aparece como ex-posição ao ente enquanto ele tem o caráter de desvelado. [...] A ek-36sistência enraizada na verdade como liberdade é a ex-posição ao caráter desvelado do ente como tal. [...] O homem não possui a liberdade como uma propriedade, mas antes pelo contrário: a liberdade, o ser-aí, ek-sistente e desvelador, possui o homem, e isto tão originariamente que somente ela permite a uma humanidade de inaugurar a relação com o ente em sua totalidade e enquanto tal, sobre o qual se funda e esboça toda a história. Somente o homem ek-sistente é historial. A ‘natureza’ não tem história. A liberdade assim compreendida, como deixar-ser do ente, realiza e efetua a essência da verdade sob a forma de desvelamento do ente. A ‘verdade’ não é uma característica de uma proposição conforme, enunciado por um ‘sujeito’ relativamente a um ‘objeto’ e que então ‘vale’ não se sabe em que âmbito; a verdade é o desvelamento do ente graças ao qual se realiza uma abertura. Em seu âmbito se desenvolve, ex-pondo-se, todo o comportamento, toda a tomada de posição do homem. É por isso que o homem é ao modo da ek-sistência. Dessa maneira, a essência da verdade é compreendida por Heidegger da seguinte forma: a essência da verdade se desvelou como liberdade; a liberdade é o deixar-se eksistente que desvela o ente; e todo o comportamento do homem historial está disposto 99 no ente em sua totalidade. Pensar o Homem a Partir do homem humanus Existe um pensar que é um modo de ser-no-mundo. Este pensar não se restringe às atividades lógico-científicas, mas vai além, como um modo de ser. O ponto nodal está na busca de uma visão não objeticadora do ser. A visão objetivista dos entes, com seu impulso objetificador, “eliminador da vida, des-historicizador, des-significador e des-mundanizador da vida”37 está em distonia com o mais digno de ser pensado. 36 No mesmo sentido, Gianni Vattimo afirma que “o facto de que a abertura originária do mundo, que torna possível toda a conformidade com o ente (verdade) e toda a escolha prática, não dependa de uma escolha do homem, mas antes o precede e o constitui, significa que o Dasein pode entrar em relação com os entes enquanto já está lançado em certa abertura histórica, isto é, enquanto já dispõe de um conjunto historicamente dado de critérios, de normas, de pre-juízos, devido aos quais o ente se lhe torna acessível. Toda a nossa possibilidade em aceder ao ente está condicionada pelo facto de dispor já de certos instrumentos: de certa lógica, de certa moral, etc. Mesmo quando nos pomos a examinar criticamente os pré-juízos herdados, servimo-nos sempre, porém de certos instrumentos conceptuais que não são algo de ‘natural’, mas que constituem justamente a nossa abertura histórica. Assim, e definitivamente, o facto de ser a liberdade a dispor do homem significa que o homem chega ao ente (e também a si mesmo enquanto se torna objecto de conhecimento) a uma luz na qual se encontra desde sempre, isto é, devido a uma pré-compreensão que o homem não escolhe, mas que o constitui enquanto ser-aí. VATTIMO, Gianni. Introdução a Heidegger. Tradução João Gama. Lisboa: Edições 70, 1989. p.74-75. 37 HEIDEGGER, Martin. op.cit., 1970, p.41. Heidegger afirma “sem rodeios, o pensamento é o pensamento do Ser”38 relacionado à sua essência e o seu destino histórico. Com o pensar filosófico, Heidegger pretende reconduzir o homem de volta à sua Essência, ou seja, “cuidar que o homem seja humano e não inumano, isto é, estranho à sua Essência.”39 “A metafísica pensa o homem a partir da sua animalitas. Ela não pensa na direção de sua humanitas.”40 Daí a necessidade de se pensar para além de um pensar metafísico.41 Dessa forma, “a compreensão do Ser, pode ser pensada no âmbito da ‘Analítica existencial’ do ‘Ser-no-mundo’, a saber, como re-ferência ec-estática à clareira do Ser”.42 “Isto quer dizer: a Verdade do Ser, como a própria clareira, permanente oculta à metafísica.”43 Assim, procura-se fugir da objetificação, ou seja, procura-se evitar um dualismo presente na metafísica ocidental, que consiste no império da relação ‘sujeitoobjeto’, “através da” e “para além da” segunda forma de pensar (a lógica), a adoção de um modo novo de pensar que é um modo de ser-no-mundo. É a analítica existencial e a diferença ontológica que possibilitará o não esquecimento do Ser, através de um acontecer e um vir-ao-encontro. Não há que se confundir a lógica hermenêutica baseada na lógica da diferença ontológica e do círculo hermenêutico com a lógica clássica sustentada pelos princípios da não-contradição e da identidade. Desse modo, torna-se necessário diferenciar a lógica dos entes (lógica clássica, lógica do discurso, lógica da metafísica ou lógica apofântica) da lógica do ser (lógica hermenêutica, lógica da diferença ou lógica do esquecimento do ser).44 38 HEIDEGGER, op.cit., 1995, p.28. Heidegger explora a seguinte questão: “O que significa senão tornar o homem (homo) humano (hu100 manus)? Destarte é a humanitas a preocupação de um tal pensamento. ‘A Cura’ caminha no sentido de reconduzir o homem de volta à sua Essência. “A Cura” – “die Sorge”: É um termo característico da Analítica existencial desenvolvida em Sein und Zeit. Exprime a estrutura ontológica que unifica todos os momentos constitutivos do ‘Ser-no-mundo’.” Ibid., p.34. 40 HEIDEGGER, op.cit., 1995. p.40. 41 Vale aqui o esclarecimento de Heidegger: “O que o homem é, - isso significa, na linguagem tradicional da metafísica, a ‘essência’ do homem – repousa na ec-sistência. Mas a ec-sistência aqui pensada não se identifica com o conceito tradicional de existentia que, distinguindo-se de essentia, concebida como possibilidade, significa realidade. [...] O homem se essencializa, de tal sorte que ele é o ‘’lugar’ (Da), isto é, a clareira do Ser. Esse ‘ser’ do lugar (Da), e só ele, possui o caráter fundamental (Grundzug) de ec-sistência, isto é, da in-sistência ec-stática na Verdade do Ser. A Essência Ec-stática do homem repousa na ec-sistência, que é e permanece diferente da existentia pensada metafisicamente. Essa última é entendida pela filosofia medieval como actualitas. Kant apresenta a existentia como sendo realidade, no sentido de objetividade da experiência. Hegel determina a existentia, como a idéia da subjetividade absoluta, que se sabe a si mesma. Nietzsche concebe a existentia, como eterno retorno do mesmo. [...] Pensada de maneira ec-stática, a ec-sistência não coincide com a existentia nem quanto ao conteúdo nem quanto à forma. Em seu conteúdo, ec-sistência significa exportar a Verdade do Ser. Existentia (existence) diz, ao contrário, actualitas, realidade, distinguindo-se da simples possibilidade concebida como idéia. Ec-sistência evoca a determinação do que o homem é no destino da Verdade do Ser. Existência permanece o nome para a realização do que uma coisa é, enquanto aparece em sua idéia. A frase ‘o homem ec-siste’ não responde à pergunta, se o homem é ou não real. Ela responde à pergunta pela ‘Essência’ do homem. [...] Enquanto ec-sistente, o homem suporta o Da-sein, assumindo na ‘Cura’ o lugar (Da), como a clareira do Ser. O Da-sein mesmo, porém, se essencializa num ‘lançamento’.” HEIDEGGER, op.cit., 1995. p.42-46. 42 Ibid., p.47. 43 Ibid., p.52. 44 STEIN, Ernildo. Pensar é Pensar a Diferença: Filosofia e Conhecimento Empírico. Ijuí, Rio Grande do Sul: Unijuí. 2002. 39 A compreensão é, dessa forma, ontologicamente fundamental e anterior a qualquer ato de existência, haja vista que não podemos compreender e pensar o ser metafisicamente como simples-presença e esquecimento. O ser deve ser compreendido a partir do homem em seu próprio acontecer, historicamente situado. Para Heidegger, a faticidade da vida, o ser-no-mundo, o mundo da vida, é o ponto de partida necessário para sua investigação. A hermenêutica com viés da ontologia fundamental procura interrogar o ser através da historicidade e temporalidade do ser-aí, ou seja, compreender a questão do ser fora do contexto da tradição metafísica. Deste modo, ela é contra toda a tradição transcendentalista e subjetivista da metafísica ocidental. O mundo da faticidade do ser-aí seria, então, elemento norteador no sentido de impedir a redução de tudo à subjetividade ou a um caminho que propunha transformar tudo em “objeto”.45 Dessa forma, as entidades que formam o mundo físico do homem não são o mundo, mas estão no mundo. Para se ver o mundo, torna-se necessário investigar o ser-nomundo. A compreensão se dá através do mundo, isto significa dizer que a compreensão e o mundo são lados inseparáveis da mesma moeda, ou seja, representa a constituição ontológica da existência do Dasein. Ernildo Stein afirma que “o que o Direito, por exemplo, espera da Filosofia para vencer o fantasma da positividade é a possibilidade de um compromisso intersubjetivo escondido numa determinada forma de descrição do mundo”.46 É o compromisso com o outro, não focado apenas na norma, mas sim no homem e sua relação de vivência com o mundo, historico-temporalmente situado. A filosofia hermenêutica de Heidegger poderá abrir novos horizontes à fundamentação jurídica a partir dos modos de ser-no-mundo do Dasein, sobrepujando o 101 como apofântico, manifestativo, argumentativo e lógico, com um como hermenêutico. É uma condição de possibilidade, no sentido de que nos compreendemos e explicitamos em nosso modo de ser. A racionalidade proposta por Heidegger é explicitada pela fenomenologia hermenêutica47 que põe à vista um modo de ser fundamental do ser humano.48 Daí a importância da pre-compreensão. 45 Emmanuel Carneiro Leão, na introdução da obra Sobre o Humanismo, de Martin Heidegger, esclarece que “A época da Técnica e da Ciência se essencializa numa ‘época’ em que o Ser como o Ser é nada, por se destinar tanto na objetividade do ente como na subjetividade do homem. O homem só é homem quando realiza sua humanidade como o ‘sujeito’ da objetividade. A objetividade é tanto mais objetiva quanto mais for controlada e estabelecida em sua objetividade, vale dizer, quanto mais o homem for ‘subjetividade’. Correlativamente, o ente só é ente quando afirma sua entidade como objeto da subjetividade, isto é, no grau em que se presta ao controle exato da subjetividade. A objetividade é o valor supremo. A arte, a poesia, a religião, a filosofia só possuem valor, se passarem no controle da objetividade. A vigência da correlação de subjetividade e objetividade, que hoje vai atingindo seu paroxismo, é, pensada como ‘época’, o destinar-se do Ser no esquecimento. Nesse esquecimento moderno, isto é, nas fases do progresso da técnica e da ciência, se derrama a escuridão da ‘Noite Histórica’ na qual, o homem, perdendo os fundamentos de sua humanidade, ‘erra’, sem pátria, no turbilhão de uma objetividade sempre mais absorvente de subjetividade. A ‘época’ da técnica e da ciência é o império do homem a-pátrida em sua Essência.” In: HEIDEGGER, op.cit., 1995. p.16-17. 46 STEIN, Ernildo. Exercícios de Fenomenologia: Limites de um Paradigma. Ijuí, Rio Grande do Sul: Unijuí. 2004 p.155. 47 Consoante os ensinamentos de Ernildo Stein, a novidade que constitui o “standard de racionalidade” da fenomenologia hermenêutica é “que com ela se supera toda a questão extrínseca de fundamentação de um discurso e também qualquer veleidade de autofundamentação e qualquer discurso científico. [...] Nada há exterior que dê legitimidade a essa dimensão transcendental e compreensiva pela qual a fenomenologia hermenêutica estabelece a racionalidade estruturante, processual e organizadora de qualquer discurso.” STEIN, op.cit., 2004a. p.167. 48 Ibid., p.162. Essa dimensão hermenêutica heideggeriana, pautada na pre-compreensão, não permite uma fundamentação última de um sistema, pois ela se dá como modo de ser do ser-aí, da condição humana de ser-no-mundo. Isso quer dizer que quando falamos em fundamento, falamos num fundamento sem fundo, um fundamento abissal. É a partir de Heidegger que se apresenta um novo standard de racionalidade relacionado à questão do ser ligada à compreensão do ser pelo Dasein. É na pré-compreensão, em que o “ser-aí se compreende em seu ser e assim se explicita, compreendendo o ser como tal”.49 Por conseguinte, a questão encontra-se sustentada por uma antecipação de sentido que acompanha todo o nosso conhecimento. É dessa forma que a hermenêutica heideggeriana, pela qual o Dasein como ser-nomundo, ao incorporar o ser-em como condição prévia de todo o conhecimento opõe-se ao conceito objetivista do conhecimento, suprimindo assim o esquema sujeito-objeto (o sujeito cognoscente conhece o objeto na sua pura objetividade) no fenômeno de compreensão. Às avessas, o sujeito que compreende insere-se no “horizonte de compreensão” não se restringindo a representar passivamente o objeto da compreensão na sua consciência. Referências Bibliográficas GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II: Complementos e Índice. Tradução Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2002. 102 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo: Parte I, Tradução Marcia Sá Cavalcante Schuback. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2002. _____. Ser e Tempo: Parte II, Tradução Marcia Sá Cavalcante Schuback.11.ed. Petrópolis: Vozes, 2004. _____. Sobre o Humanismo. Tradução Emmanuel Carneiro Leão. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. _____. Sobre a Essência da Verdade. Tradução Ernildo Stein. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1970. LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprendendo a Pensar. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2000, V.2. STEIN, Ernildo. Pensar é Pensar a Diferença: Filosofia e Conhecimento Empírico. Ijuí, Rio Grande do Sul: Unijuí. 2002. ______. Exercícios de Fenomenologia: Limites de um Paradigma. Ijuí, Rio Grande do Sul: Unijuí. 2004. VATTIMO, Gianni. Introdução a Heidegger. Tradução João Gama. Lisboa: Edições 70, 1989. 49 Ibid., p.160. Una Relectura del Principio de Dignidad de la Persona Humana: su Fundamentación Kantiana y su Proyección Actual1 Nuria Belloso Martín2 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948) Resumo A noção de dignidade é de particular importância nos principais textos jurídicos nacionais, internacionais e constitucionais. No entanto, não tem sido debatido especialmente um conceito pela filosofia moral e jurídica nas últimas décadas. A idéia da dignidade da pessoa nos remete a considerar que cada ser humano tem em si um valor intrínsicamente valioso, o que lhe confere especiais características e que, em situações precárias, ainda os conserva. É algo inegociável, indisponível pelo próprio sujeito 103 e pelo poder público. Palavras-chave: Dignidade Humana. Kant. Resumen La noción de dignidad reviste una especial importancia en los principales textos jurídicos nacionales, internacionales y constitucionales. Sin embargo, no ha sido un concepto especialmente debatido por parte de la filosofía jurídica y moral de las últimas décadas. La idea de dignidad nos remite a considerar que cada ser humano tiene en sí algo intrínsecamente valioso, que le dota de unas especiales características y que, incluso en situaciones precarias, lo sigue conservando. Es algo no negociable, ni disponible ni por el propio sujeto ni por el poder político. Palabras-clave: la dignidad humana. Kant. 1 El presente trabajo, en una versión anterior, ha sido publicado como: “El principio de dignidad de la persona humana en la teoría kantiana algunas contradicciones”. En: Direitos Fundamentais e Justiça. Revista do Programa de Pós-Graduaçâo Mestrado e Doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul -PUCRS-, Porto Alegre, HS Editora, Ano 2, nº4, julio- septiembre, 2008, pp.40-60. Y también en: “ El principio de dignidad de la persona humana en la teoría kantiana: algunas contradicciones”. En Mª. Elósegui Itxaso y F. Galindo Ayuda (Editores), El pensamiento jurídico. Pasado, presente y perspectiva. Libro Homenaje al prof. J.J. Gil Cremades. Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2008, pp. 77-143 2 Nuria Belloso Martín es Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos (España). Es Coordinadora del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Público “Sociedad plural y nuevos retos del Derecho”. Es Directora del Curso de Especialista Universitario en Mediación Familiar. Colabora en Cursos de Mestrado y Doctorado en diversas Universidades brasileñas. Participa en varios Programas de Investigación –CNpQ-. Introducción Hace pocos meses acabamos de conmemorar los sesenta años de la Declaración Universal de Derechos humanos. No es momento ahora de reiterar algunas cuestiones, ya ampliamente tratadas por la doctrina, en cuanto al contenido, características y juicio que merece la citada Declaración. Pero no podemos dejar de subrayar un aspecto que consideramos esencial en orden a una adecuada valoración de la misma. Se trata de la fundamentación de esta Declaración en el principio filosófico-jurídico de dignidad de la persona humana, del que se derivan los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, como se infiere de su Preámbulo y del artículo primero. Para ello, vamos a referirnos al principio de dignidad, realizando una adecuada relectura de algunos textos significativos que se han ocupado del mismo. La noción de dignidad reviste una especial importancia en los principales textos jurídicos nacionales, internacionales y constitucionales. Sin embargo, no ha sido un concepto especialmente debatido por parte de la filosofía jurídica y moral de las últimas décadas. Como algunos autores han advertido, una muestra de ese abandono lo constituye el que el vocablo ni siquiera aparezca en el índice analítico de la obra de Rawls, Teoría de la Justicia. La idea de dignidad nos remite a considerar que cada ser humano tiene en sí algo intrínsecamente valioso, que le dota de unas especiales características y que, incluso en situaciones precarias, lo sigue conservando. Es algo no negociable, ni disponible ni por el propio sujeto ni por el poder político. Y sobre todo se pone de manifiesto cuando hay conductas que atentan contra esa dignidad, innata al hombre y que no poseen las demás criaturas. La dignidad de la persona humana resulta difícil de definir y conceptuar. De 104 ahí que vayamos a utilizar dos dimensiones para poder ofrecer una caracterización básica de la misma: la primera va a ser la dimensión histórica deteniéndonos concretamente, en la formulación kantiana acerca de la dignidad, que fue quien inauguró una sistematización sobre este principio; en segundo lugar, haremos referencia al marco de los derechos humanos, como aquellos que permiten configurar una delimitación jurídica –ya no sólo moral- de la dignidad de la persona, al poner en relación los derechos fundamentales con lo que es su fundamento: la dignidad. Una de las primeras cuestiones a dilucidar que se nos presenta es la relativa a su concepto: ¿qué es la dignidad humana?3 Es un término que resulta familiar a todos, 3 En relación a los diversos significados del término dignidad, vid. PÉREZ TRIVIÑO, J.L., La letra escarlata, Colección CineDerecho, Valencia, tirant lo blanch, 2003, espec. pp.57-60. También se ocupa de la dignidad en I. Kant (pp.71-76). Generalmente, en los últimos años se ha atribuido a la dignidad el significado de la imposibilidad de tratar a quien lo posee únicamente como un medio y no como un fin en sí mismo. Algunas definiciones en la doctrina española han optado por esta perspectiva. Así, por ejemplo, E. Fernández define la dignidad como “el valor de cada persona, el respeto mínimo a su condición de ser humano, respeto que impide que su vida o su integridad sea sustituida por otro valor social” (Cfr. FERNÁNDEZ, E., Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita, Madrid, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III-Dykinson, 2001, p.20); Peces Barba la califica como “el valor intrínseco de la persona, derivado de una serie de rasgos que la hacen única e irrepetible, que es el centro del mundo y que está centrada en el mundo” (PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, Madrid, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”-Universidad Carlos III de Madrid, 2002, p.65); el propio Tribunal Constitucional español la ha calificado como “el valor espiritual y moral inherente a la persona” (STC 53/1985, fundamento jurídico 8º). Mª. L. Marín Castán subraya la doble categoría de la dignidad: a) pluridisciplinar, porque en su con- incluso a los no versados en derecho. La referencia al principio de dignidad puede encontrarse en el área jurídica, así como también en la religiosa, la antropológica, la ética y la política. De ahí deriva su dificultad, pues rebasa el campo estrictamente jurídico para colocarse como un “comodín” del que podemos servirnos para justificar conductas y para reclamar comportamientos. La dificultad de su concepto no se circunscribe a los diversos campos en que se pueda aplicar sino también, como ha señalado J. González Pérez que “en nombre de la dignidad se llegue a soluciones radicalmente contrarias sobre temas fundamentales tan de nuestros días como la admisibilidad de ciertas formas de provocación y manipulaciones genéticas, el aborto, la disponibilidad de órganos humanos, los experimentos médicos con personas y la eutanasia”4. No cabe duda de que las nuevas tecnologías y los avances científico-técnicos dejan su impronta en la concepción y evolución del hombre y de sus derechos y, por lo tanto, también en el propio concepto de dignidad de la persona humana en la actualidad, tema al que nos referiremos más adelante. Una segunda cuestión sería la relativa de dónde proviene la noción de dignidad de la persona. El Profesor G. Peces-Barba Martínez ha trabajado ampliamente el tema de la dignidad de la persona y, de entre los diversos enfoques bajo los que se puede analizar la dignidad, ha prestando especial atención al histórico, al estudio del origen y desarrollo de la dignidad humana en la historia del pensamiento: desde el pensamiento antiguo y medieval, transitando por el renacimiento y la Ilustración hasta llegar a la modernidad5. figuración confluyen diversas disciplinas; b) pluridimensional, por lo que siguiendo a J. Ruiz Jiménez, distingue cuatro niveles de divinidad: la dimensión religiosa –en cuya virtud se concibe al hombre a 105 imagen y semejanza de Dios-; la dimensión ontológica –en la que se considera al hombre como ser dotado de inteligencia racional, con conciencia de sí mismo y de su superioridad en el orden de la naturaleza-; la dimensión ética en el sentido de la autonomía moral –coincidiría con el planteamiento kantiano-; la dimensión social, como estima o fama dimanante de un comportamiento valioso (MARÍN CASTÁN, Mª.L., “La dignidad humana, los derechos humanos y los derechos constitucionales”, Revista de Bioética y Derecho, nº9, enero 2007, p.2 (http://www.bioeticayderecho.ub.es). 4 GONZÁLEZ PÉREZ, J., La dignidad de la persona, Madrid: Civitas, 1986, p.19-20. R. Valls apunta que la discusión levantada en España acerca de la legitimidad de la eutanasia ha puesto de manifiesto que el término dignidad “cobija dos conceptos bien distintos de esa dignidad, en el fondo incompatibles. Para unos, aferrados a la concepción católica tradicional, la dignidad común a todos los seres humanos procede de su condición de hijos de Dios y reside en la capacidad de acatar y observar la ley moral, la cual de ninguna manera emana de los humanos mismos. La razón puede conocerla y de hecho la conocen –dicen- pero no la crea ni la promulga, porque el deber procede de una instancia ajena, llámese ésta Dios, finalidad de la naturaleza o como sea. Para otros, por el contrario, la dignidad humana consiste en la capacidad que tenemos los humanos de darnos ley moral a nosotros mismos. En la jerga kantiana, los primeros profesan heteronomía moral (ley de otro), mientras los segundos proclamamos la autonomía moral del ser humano (ley de uno mismo). Consiguientemente, la eutanasia es considerada inmoral por los primeros, en tanto no acata el precepto divino de no matar, mientras para los segundos es legítima una ley que la permita y, sin imponerle a nadie, por supuesto, exija garantías de plena libertad en quien la pida y en quien la lleve a cabo” (VALLS, R., “El concepto de dignidad humana”, Revista de Bioética y Derecho, nº5, diciembre 2005, p.1 ((http://www.bioeticayderecho.ub.es). 5 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., op.cit.. Vid. también, sobre el mismo tema, GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, J., Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos, Valencia, tirant lo blanch, 2004, p.417 ss. G. Peces-Barba apunta que a lo largo de la historia podemos distinguir dos concepciones de la dignidad humana: la heterónoma y la autónoma. Los rasgos de la concepción heterónoma se encuentran Apunta que el sentido actual de dignidad humana arranca del tránsito a la modernidad, donde surge el concepto de hombre centrado en el mundo y centro del mundo. Sin embargo, ya desde la antigüedad podemos encontrar materiales que servirían después para la construcción del modelo moderno de la dignidad. Resulta común que se atribuya la primera enunciación del principio de dignidad humana al pensamiento de Inmanuel Kant. Ciertamente tal atribución deriva del hecho de que Kant ha sido uno de los primeros teóricos en reconocer que al hombre no se le puede atribuir un valor – entendido como precio –, justamente en la medida en que debe ser considerado como un fin en sí mismo y en función de su autonomía en cuanto ser racional.6 Sin embargo, el pensamiento kantiano acerca de la dignidad de la persona humana, al ser confrontado con sus concepciones acerca de las reglas del derecho, parece que no refleja con exactitud aquello que hoy se entiende como tal. Para llevar a cabo esta labor de comprensión somera del principio de dignidad en el pensamiento de Kant, vamos a tomar como referencia básica dos de sus obras, la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785)7 y la Metafísica de las costumbres (1797)8. Concretamente, la concepción fuera del propio individuo (Vg. La ciudadanía romana). Se vincula al puesto o rango que ocupa la persona. Llega a nuestros días manifestándose en el dinero y la riqueza (la dignidad se mide en función de la riqueza de cada uno). La segunda, la autónoma, es la que está situada en el interior de cada persona y depende de rasgos de la concepción humana. Desde el Renacimiento se va desgranando el concepto de dignidad humana hasta llegar a Kant que formalizará esta corriente. Somos seres que nos diferenciamos de los demás animales. Luis Vives y los gramáticos españoles que inauguran los cursos universitarios de los siglos XVI y XVII apuntan algunos: 1) Somos seres capaces de decidir o elegir (Vg. Max Scheller: “el hombre es el único animal capaz de decir ‘no’)”; 2) Capacidad de constituir conceptos generales y razonables: filosofía, técnica, ciencia; 3) Capacidad de comunicación y de diálogo y de crear cultura; 4) Capacidad para convivir en un sistema social con reglas sofisticadas y complejas: el derecho regula la escasez. En la abundancia no sería necesario el derecho; 5) Capacidad de buscar unos fines últimos que se vinculen a la salvación, a la felicidad: Kant formalizará esta corriente cuando formule que somos dignos porque somos seres de fines, porque no tenemos precio. Sobre estas características podemos asentar los derechos humanos, libertad, igualdad, solidaridad, seguridad. Todos los demás derechos derivan de estos principios y desarrollan estos principios. (Conferencia pronunciada por G. Peces-Barba en el I Congreso Internacional de Derecho Humanos. La segunda controversia de Valladolid, celebrado en Valladolid, en octubre de 2006). 106 6 7 Alexandre dos Santos Cunha destaca la actualidad del tema y el reconocimiento que se debe a Kant por su formulación: “(…) El gran legado del pensamiento kantiano para la filosofía de los derechos humanos, con todo, es la igualdad en la atribución de dignidad. En la medida en que la libertad en el ejercicio de la razón práctica es el único requisito para que un ente se revista de dignidad, y que todos los seres humanos gozan de esa autonomía, se tiene en la condición humana el soporte fáctico necesario y suficiente para la dignidad, independientemente de cualquier tipo de reconocimiento social (SANTOS CUNHA, A. (dos), A normatividade da pessoa humana: o estudo jurídico da personalidade e o Código Civil de 2002, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 85-88). Citaremos tomando como referencia la edición bilingüe y traducción de J. Mardomingo, Barcelona, Ariel, 1999. 8 Citaremos tomando como referencia la edición de Ed. Tecnos con estudio preliminar de A. Cortina y trad. y notas de A. Cortina y J. Conill, 4ª ed., Madrid, 2005. En el estudio preliminar, A. Cortina nos recuerda que la historia de la aparición de esta obra fue accidentada. Desde 1765 Kant anunciaba que contaba con los materiales necesarios para unos kantiana de la dignidad humana, contenida en estas dos obras, a juicio de Hoerster, y que vamos a ir analizando en estas páginas, es: la dignidad es un atributo “de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley más que a la que él mismo se da”; “Por lo tanto, la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana o de toda naturaleza racional”; “Cuando algo tiene un precio, en su lugar puede colocarse algo diferente como equivalente en cambio, aquello que está por encima de todo precio y, por lo tanto, no tiene ningún equivalente, posee dignidad”; por último, “La persona no puede ser tratada (ni por otra persona ni por sí misma) meramente como un medio sino que tiene que ser en todo momento utilizada al mismo tiempo como fin; en ello consiste su dignidad”9. Es cierto que vamos a encontrar dificultades en precisar el concepto de dignidad humana a la luz de estas formulaciones kantianas y en poder objetivar su determinación. Pero si tomamos como referencia las tradiciones culturales en las que se ha utilizado el principio de dignidad humana entendido como valor de cada persona -como apunta E. Fernández García-10, la tarea se hará más simple. En este sentido, un análisis de la historia y de la fundamentación de los derechos fundamentales, entendida como el origen y la evolución de esas exigencias de la dignidad humana, puede resultar de gran ayuda. Así, a la pregunta kantiana de cuándo o en qué casos la persona es tratada como un medio, podríamos responder que cuando se atenta injustificadamente contra su autonomía, su seguridad, su libertad o su igualdad. En el mismo sentido, podríamos responder que se trata a la persona como un fin, es decir, se la reconoce su dignidad, cuando se crean normas y se establecen instituciones que fomentan el respeto y la garantía de los derechos humanos. 107 La doctrina y el ideario kantiano de la dignidad humana Conviene partir de la premisa de que en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant pretendió formular raciocinios en el campo de la filosofía moral, para comprender cómo los seres humanos formulan su universo axiológico, a pesar de que no esté dotado de coerción. En la obra Metafísica de las costumbres, Kant quiso demos“principios metafísicos de la sabiduría cósmica práctica” pero hasta 1997 no se publica la primera edición de los principios metafísicos de la Doctrina del Derecho. Razones de un triple orden pueden apuntarse para su justificación: las dificultades en la resolución de algunos de los problemas, como es el caso del derecho de propiedad –cuestión precisamente a la que vamos a hacer especial referencia-, tan polémico ya en su época; la avanzada edad del autor, y, por último, una razón de orden político como era el temor a la censura, dado que, como ya sabemos, Kant se había visto obligado a renunciar a escribir sobre filosofía de la religión (CORTINA, A., op.cit., p.XVIII-XIX). 9 HOERSTER, N., “Acerca del significado del principio de la dignidad humana”, en En defensa del positivismo jurídico, trad. J. M. Seña y rev. E. Garzón Valdés y R. Zimmerling, Barcelona: Gedisa, 1992, p.92. Son varios los estudios y trabajos que se han ocupado del análisis del principio de dignidad humana en Kant y sus diversas aplicaciones. Podemos destacar: V. CAMPS, “La dignidad según Kant” en Historia, lenguaje, sociedad. Homenaje a Emilio LLedó, Barcelona, Crítica, 1989, p.416 ss; también, J. MUGUERZA, “La alternativa del disenso”, en El fundamento de los derechos humanos, edic. preparada por G. Peces-Barba, Madrid, Debate, 1989, p.43 ss. 10 Cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, E., Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita, Madrid, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”-Universidad Carlos III de Madrid, 2001, p.24. trar cómo y porqué se deben formular preceptos jurídicos, estos sí dotados de coerción para viabilizar la convivencia social. La distinción, aunque tenue –como veremos más adelante-, entre las dimensiones moral y jurídica en la obra de Kant se delinea claramente en las palabras de Jean-Louis Bergel: “(...) Kant, negando el fundamento metafísico de todas las morales transcendentes, extrae la regla moral de la voluntad autónoma de los hombres. Así, según él, la moral deriva de la ‘voz interior’ de cada cual y no de un mandato exterior, en cuanto el derecho es una regla de vida trazada y aplicada bajo la coerción social. Del mismo modo, para Kant, el derecho se interesará por las acciones, por el ‘fuero externo’, y no por los móviles que las inspiran, a la vez que la moral sólo se concentrará en las intenciones y en los motivos del hombre, en su ‘fuero interno’ y no en sus acciones”.11 También existe, en el universo kantiano, una separación de carácter meramente formal entre moral y derecho, ya que esencialmente estos dos órdenes son idénticos en sus fundamentos, que se resumen en la autonomía racional. En la teoría kantiana, se procesa la separación entre derecho y moral, bajo el prisma formal y no material, es decir, la distinción depende del motivo por el cual se cumple la norma jurídica o moral. En el acto moral, el acto sólo puede ser la propia idea del deber, a pesar de que sea directamente deber jurídico y solo indirectamente deber moral. Por ello, en el mismo acto jurídico, el motivo de actuar puede ser, además del motivo moral de cumplir el deber, el miedo a la sanción, ya sea una pena corporal o pecuniaria. Kant identifica el derecho con el poder de constreñir. El criterio de distinción entre derecho y moral, según Kant, no es el de la exteriori108 dad para el derecho y la interioridad para la moral, como habían formulado Puffendorf y Tomasio, sino el motivo por el cual se obedece la legislación: el motivo absoluto del deber por el puro deber en el caso de la legislación moral (que por lo tanto es interna) y un motivo empírico en el caso de la legislación jurídica (que por tanto es externa). Como afirma F. González Vicén, “Kant quiere distinguir, pero no separar, la moral del Derecho; más aún, todo su esfuerzo está dirigido en este punto, al contrario, a la fundamentación del cumplimiento del Derecho como un deber moral. La diferenciación de las obligaciones morales y éticas por el motivo de la acción, (…) hace referencia exclusivamente a la estructura formal de la obligación misma, sin que implique ni una inconciabilidad ni una irreductibilidad de las dos clases de obligaciones”12. Como afirma Kant, todos los imperativos mandan, ya hipotética, ya categóricamente. El primero representa la necesidad práctica de una acción posible, como medio de conseguir otra cosa que se quiere. El segundo, el categórico, sería el que representase una acción por sí misma, sin referencia a ningún otro fin, como objetivamente necesaria. Si la acción es buena sólo como medio para alguna otra cosa, entonces es el imperativo hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es, como necesaria en una voluntad conforme con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces es el imperativo categórico. Se trata de un imperativo que, sin poner como condición ningún propósito a obtener por medio de cierta conducta, manda esa conducta inmediatamente. Este imperativo es categórico y puede llamarse de la moralidad. “Cuando 11 BERGEL, J.L., Teoria geral do direito, trad., Mª. E. Galvão, São Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 48. 12 GONZÁLEZ VICÉN, F., “Introducción” a la Introducción a la teoría del Derecho de I. Kant, trad. e introduc. de F. González Vicén, Madrid, Marcial Pons, 2005, p.25. pienso en general un imperativo hipotético, no sé de antemano lo que contendrá; no lo sé hasta que la condición me es dada. Pero si pienso un imperativo categórico, ya sé el punto lo que contiene”. Según el imperativo hipotético “debo hacer algo porque quiero alguna otra cosa”; según el imperativo categórico, “debe obrar de este o del otro modo, aun cuando no quisiera otra cosa”. En la doctrina moral de Kant puede apreciarse la influencia de la tradición griega, de mirar con prevención las inclinaciones naturales y preferir la razón, como la que debe orientar las acciones del hombre. También hay una exaltación, de tinte cristiano, en relación al valor de la persona humana, que se eleva por encima de cualquier otro ser. Esta elevación se debe a la moralidad. Todas las cosas tienen un precio, según Kant, pero el hombre no, y lo que le corresponde en lugar del precio es la dignidad. En su obra, la Crítica de la razón pura, deja clara la relevancia de la moralidad: frente al mundo de la naturaleza, regido por la causalidad, está el mundo de la libertad, que no está vinculado a la concatenación causa y efecto, sino que decide lo que ha de hacer independientemente de lo que pase en el exterior. Sólo el hombre es capaz de obrar conforme a este principio de libertad. Esta manera de entender la libertad es sinónimo de dignidad y moralidad. La libertad no puede entenderse meramente como externa, de obrar sin violencia exterior, sino que la libertad tiene que ser también interna. Cuando el motivo que dirige la acción del hombre es moral, es decir, independiente de la búsqueda de la felicidad, la acción en el exterior sigue estando sometida a la ley de la causalidad, pero el hombre, en su fuero interno, se ha liberado, porque el determinante de su actitud está fuera del orden causal, es una 109 actitud moral. La concepción antropológica kantiana y la influencia que ejerce en su doctrina moral se ve más claramente en la segunda fórmula con que se expresa el imperativo categórico: “Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y no solamente como un medio”. Esta concepción de la moralidad pone de manifiesto la influencia rousseauniana de la libertad y de la fórmula de la voluntad general, “cada uno, uniéndose a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes”. Esta segunda fórmula sirve muy bien a nuestro propósito de justificar la sistematización del principio de dignidad de la persona. Este segundo imperativo descansa, para Kant, en la convicción de que “el hombre existe como un fin en sí mismo” –lo que comúnmente se conoce en la teoría kantiana como el ‘reino de los fines’-.13 García Morente destaca de la segunda formulación del imperativo kantiano precisamente que el hombre debe ser siempre considerado como hombre y no como cosa ni como objeto14. 13 J. Muguerza, partiendo de esta segunda formulación kantiana, construye el imperativo de la disidencia. A diferencia del principio de universalización, desde el que se pretendía fundamentar la adhesión a valores como la dignidad, la libertad o la igualdad, lo que este imperativo habría de fundamentar es más bien la posibilidad de decir “no” a situaciones en las que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad. Es decir, se pregunta Muguerza si tras tanta insistencia en el consenso acerca de los derechos humanos, no extraeremos más provecho de un “intento de fundamentación desde el disenso, esto es, de un intento de fundamentación ‘negativa’ o disensual de los derechos humanos”, a la que llamará ‘la alternativa del disenso’ (MUGUERZA, J., op.cit., p.43). 14 Vid. GARCÍA MORENTE, M., y ZARAGÜETA BENGOECHEA, J., Fundamentos de Filosofía, 8ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1979. Lo cierto es que Kant defiende una legislación universal y un reino de fines, es decir, el conjunto de seres racionales guiados por unas leyes comunes. Los deberes del derecho pueden ser solamente externos mientras que los deberes de la moral no pueden ser solamente externos sino que también son internos, puesto que la moralidad radica en el fuero interno. Por ello, la moral no puede ser coaccionada, impuesta por coacción, mientras que el derecho sí puede imponerse mediante la coacción. Por ello nos presenta Kant el derecho desde una perspectiva racional: el conjunto de las condiciones en virtud de las cuales la libertad de cada uno puede coordinarse con la libertad de los demás, según una ley general15. En opinión de Kant, siendo el hombre racional y libre, es capaz de imponer a sí mismo normas de conducta, designadas por normas éticas, válidas para todos los seres racionales que, por su racionalidad, son fines en sí y no medios al servicio de otros. La norma básica de conducta moral que el hombre se puede prescribir es que en todo lo que haga debe siempre tratarse a sí mismo y a sus semejantes como un fin y nunca como un medio. Aplicada a la conveniencia jurídico-social, esa norma moral básica se transforma en norma de derecho natural. La obediencia del hombre a su propia voluntad libre y autónoma constituye, para Kant, la esencia de la moral y del derecho natural. Las normas jurídicas, para tal concepción, serán de derecho natural, si su obligatoriedad fuera cognoscible por la razón pura, independiente de ley externa o de derecho positivo, si dependieran, para obligar, de ley externa16. Pero, en esta hipótesis, se debe presuponer una ley natural, de orden ético, que justifique la autoridad del legislador, es decir, su derecho de obligar a otro por simple decisión de su voluntad. Tal ley natural, que es el 110 principio de todo derecho, deriva de la libertad humana, reconocida por mediación del imperativo moral categórico.17 15 No vamos a extendernos acerca de la distinción kantiana entre el reino empírico o fenoménico y el moral o nouménico. Sin embargo, como ha apuntado J. Muguerza, conviene destacar que en Kant el sujeto moral y el sujeto empírico no coinciden exactamente, no porque sean dos sujetos distintos sino porque el sujeto moral es el sujeto en su integridad. Es decir, no se puede reducir a los individuos a su condición de sujetos empíricos: “(…) ni el peor criminal podría ser nunca reducido a su conducta observable, puesta que ésta no nos permite escrutar sus más recónditas motivaciones ni intenciones (…)” (op. cit., p.49). 16 F. González Vicén apunta que hasta Kant, la fuerza vinculatoria del Derecho positivo se había hecho descansar, con algunas pocas excepciones, en la suma de bienes o ventajas que el ordenamiento estatal hacía posibles. En este sentido, “el Derecho positivo queda convertido en un medio al servicio de un fin, y su fuerza de obligar quedaba reducida a lo que Kant denomina “imperativo hipotético”, es decir, la paradoja de una regla técnica que nos dice, no qué es deber en absoluto, sino tan sólo qué hemos de hacer “si” queremos lograr algo o llegar a cierto resultado. A esta fundamentación “hipotética” Kant opone una fundamentación “objetivamente necesaria” del Derecho positivo. El Derecho positivo no es algo cuya obligatoriedad depende del logro de un fin que nosotros podamos querer o no, sino que, en tanto que orden cierto e inviolable de la convivencia, es condición para el ejercicio de la libertad trascendental en el mundo sensible y, por tanto, condición de la moralidad; es decir, que el Derecho positivo fundamenta la posibilidad de un fin cuya realización es para nosotros un imperativo absoluto, como predicado que es de nuestro propio ser racional y ético. De esta manera el concepto del Derecho positivo queda inserto en el ámbito del “reino de los fines” y dotado de una justificación ética formal incondicionada” (“Introducción” a la Introducción a la teoría del Derecho, de I. Kant, cit., p.24-25). 17 Cfr. DINIZ, Mª.H., Compêndio de introdução à ciência do direito, 7.ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 39-40. Sin embargo, a pesar de que esencialmente resultan idénticos los pilares del universo moral y del universo jurídico para Kant, hay que dejar constancia de que, en materia de dignidad de la persona humana, no siempre se muestran en sintonía la Fundamentación de la metafísica de las costumbres y la Metafísica de las costumbres, cuestión que merece un estudio más detallado. Sirve para su análisis la revisión de las bases teóricas del principio de dignidad de la persona humana – y, por consiguiente, de la teoría de los derechos fundamentales –, teniendo por premisa el siempre oportuno reconocimiento de la primacía del ser humano para el universo jurídico. Y es esto lo que pretendemos analizar en las páginas que siguen, prestando especial atención a algunos de los fragmentos de los textos de las dos obras ya citadas, a la vez que nos apoyaremos en referencias realizadas por otros autores contemporáneos en relación al pensamiento kantiano y acerca del concepto de dignidad. La dignidad de un ser racional consiste en el hecho de que no obedezca a ninguna ley que no sea también instituida por él mismo: “Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y no solamente como un medio”. El concepto de dignidad humana deriva de la afirmación primera de Kant de que a la dimensión moral de la persona no se la puede reconocer precio, y que tal premisa teórica tuvo a lo largo del siglo XX primordial importancia para la superación de regímenes totalitarios. Lo que tiene precio puede ser sustituido por alguna otra cosa equivalente; lo que es superior a cualquier precio, y por eso no permite ninguna equivalencia, tiene dignidad. Substancialmente, 111 la dignidad de un ser racional consiste en el hecho de “no obedecer a ninguna ley que no sea también instituida por él mismo. La moralidad, como condición de esa autonomía legislativa es, por tanto, la condición de dignidad del hombre, y la moralidad y la humanidad son las dos únicas cosas que no tiene precio. La relevancia de la teoría kantiana en orden a la comprensión de lo que actualmente se entiende por dignidad de la persona humana es evidente. Incluso el texto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre constituye un claro reflejo.18 Por su voluntad racional, la persona, al mismo tempo que se somete a las leyes de la razón práctica, es la fuente de esas mismas leyes, de ámbito universal, según el imperativo categórico –‘actúa únicamente según la máxima, por la cual tu puedas querer, al mismo tiempo, que se transforme en ley general’. (...) La esclavitud acabó siendo universalmente abolida, como instituto jurídico, en el siglo XX. Pero la concepción kantiana de dignidad de la persona como un fin en sí lleva a condenar muchas otras prácticas de conversión de la persona en condición de cosa, además de la clásica esclavitud, tales como el engaño de otro mediante falsas promesas, o de atentados cometidos contra los bienes ajenos. Además, añade Kant, si el fin natural de todos los hombres es la realización de su propia felicidad, no basta actuar de modo que no se perjudique a nadie. Esta sería una máxima meramente negativa. Tratar a la humanidad como un fin en sí implica el deber de favorecer, tanto como sea posible, el fin de otro. Siendo el sujeto un fin en sí 18 En sus Fundamentos de la metafísica (12ª sección), Kant afirma que el hombre no debe jamás ser utilizado únicamente como medio sin considerar que él es, al mismo tiempo, un fin en sí. La dignidad, tal como resulta definida en la moral kantiana, es el primer derecho fundamental de todo hombre, como proclama el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. mismo, es preciso que los fines de otro sean por mí considerados también como míos.19 Al tratar acerca de las raíces históricas del principio de la dignidad humana resulta referencia obligada vincularlo al ideario kantiano, principalmente a partir de las nociones de que el ser humano es un ente dotado de autonomía racional y que nunca debe ser considerado como un instrumento para la satisfacción de los intereses de otro. La dignidad de la persona humana en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres Kant, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, se preocupó por demostrar cómo los principios morales, dictados por la razón, deben ser valorados de modo que puedan llegar a asumir el papel de leyes universales. Al mismo tiempo, Kant valoró la vida humana y puso de manifiesto que el ser humano debe ser considerado como un fin en sí mismo, y jamás como un instrumento de sumisión a otro, bajo pena de que sus principios morales no sirvieran como leyes universales: “(...) el imperativo universal del deber también podría rezar así: obra como si la máxima de tu acción fuese a convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. (...) Uno que, por una serie de males que han crecido hasta la desesperanza, siente fastidio por la vida, está aún lo suficiente en posesión de su razón para poder preguntarse a sí mismo si quitarse la vida no será acaso contrario al deber hacia sí mismo. Prueba por tanto si la máxima de su acción puede quizá convertirse en una ley universal de la naturaleza. Su máxima es: 112 tomo por amor propio como principio acortarme la vida si ésta me amenaza a largo plazo con más mal que agrado me promete. Nos preguntamos aún solamente si este principio del amor propio puede convertirse en una ley universal de la naturaleza. Pero entonces se ve pronto que una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma por la misma sensación cuyo cometido es impulsar al fomento de la vida contradiría esa sensación misma y, así pues, no subsistiría como naturaleza, y por tanto es imposible que aquella máxima se dé como ley universal de la naturaleza, y por consiguiente contradice enteramente al principio supremo de todo deber”.20 Más adelante, Kant reafirma la procedencia del ser humano: “(...) En el supuesto de que hubiese algo cuya existencia en sí misma tuviese un valor absoluto, que como fin en sí mismo pudiese ser un fundamento de determinadas leyes, entonces en eso, y sólo en eso únicamente, residiría el fundamento de un posible imperativo categórico, esto es, de una ley práctica. Pues bien, yo digo: el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de esta o aquella voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres racionales, siempre a la vez como fin”.21 Después, buscando relacionar la idea de ley moral universal y del ser humano como un fin en sí mismo, Kant enuncia el imperativo práctico que deriva de ahí: “El imperativo práctico será pues el siguiente: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio”.22 19 20 KONDER COMPARATO, F., A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 21-22. KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cit., p. 173 (421, 17-21, 422, 1-14). KANT, I., cit., pp.185-187 (428, 3-10). 22 KANT, I., cit., p.189 (429, 10-14). 21 Kant también logró acentuar, como hemos mencionado anteriormente, que la conservación de la vida humana es fundamental, y que el hombre debe ser considerado como un fin en sí mismo: “(…) Según el concepto del deber necesario hacia sí mismo, quien está dando vueltas a la idea del suicidio se preguntará si su acción puede compadecerse con la idea de la humanidad como un fin en sí misma. Si, para escapar a un estado penoso, se destruye a sí mismo, se sirve de una persona meramente como un medio para la conservación de un estado soportable hasta el fin de la vida. Pero el hombre no es una cosa, y por tanto no es algo que pueda ser usado meramente como medio, sino que tiene que ser considerado siempre en todas nuestras acciones como fin en sí mismo. Así pues, no puedo disponer del hombre en mi persona para mutilarlo, corromperlo o matarlo”23. Más adelante, insiste en la idea de ley universal que rechaza la utilización del hombre como medio para otro fin que no sea él mismo: “Los seres racionales están todos bajo la ley de que cada uno de los mismos debe tratarse a sí mismo y a todos los demás nunca meramente como medio, sino siempre a la vez como fin en sí mismo”.24 Resulta célebre, en el pensamiento de Kant, la conceptuación de dignidad como la cualidad de aquello que no tiene precio y su atribución al ser humano, justamente porque no es un instrumento, sino un fin en sí mismo: “En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio puede ser puesta otra cosa equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio, y por tanto no admite nada equivalente, tiene una dignidad. Lo que se refiere a las universales inclinaciones y necesidades humanas tiene un precio de mercado; lo que, también sin presuponer necesidades, es conforme a cierto gusto, esto es, a una complacencia en el mero juego, sin fin alguno, de nuestras facultades anímicas tiene un precio afectivo; pero aquello que constituye 113 la condición únicamente bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un valor relativo, esto es, un precio, sino un valor interior, esto es, dignidad”.25 Especificando aún más el concepto de dignidad humana, Kant la equipara a la autonomía de su actitud racional para elegir los principios morales que puedan servir como leyes universales: “La autonomía es, así pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda la naturaleza racional”.26 Kant subraya que tal prerrogativa del ser humano racional en el sentido de ser “legislador universal” no lo exime de someterse a esta misma legislación: “(...) y la dignidad de la humanidad consiste precisamente en esta capacidad de ser universalmente legisladora, aunque con la condición de estar ella misma a la vez sometida precisamente a esta legislación”.27 En definitiva, en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant pretendió demostrar que la dignidad de la persona humana sería el resultado de la conjunción de la autonomía del ente racional para la formulación de principios morales universales, con el hecho de que el ser humano no tiene precio, y de que debe existir en cuanto fin en sí mismo y jamás como instrumento para la satisfacción de los intereses de otro28- 23 KANT, I., cit., p.189 (429, 15-25). KANT, I., cit., p.197 (433, 27-30). 25 KANT, I., cit., p.201-203 (434, 33-38, 435, 1-4). 26 KANT, I., cit., p.203 (436, 6-8). 27 KANT, I., cit, p.211 (440, 11-14). 24 28 Como apunta G. Peces-Barba, “La concepción formal de Kant, que basa la dignidad en la autonomía como postulado de la razón, tiene el gran valor de conectar dignidad, libertad, autonomía y moralidad, edificio que desde entonces se mantendrá como explicación bá- La dignidad de la persona en la Metafísica de las costumbres. Algunas contradicciones con la Fundamentación de la metafísica de las costumbres En la primera parte de la Metafísica de las costumbres, conocida como Doctrina del Derecho, Kant realiza unos raciocinios que se muestran aparentemente discrepantes con el principio de dignidad humana antes enunciado en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Si en la obra anterior la preocupación de Kant fue la de elaborar conceptos de filosofía moral, en esta nueva obra el filósofo alemán trata conceptos de filosofía jurídica. En cualquier caso, en materia de derecho, Kant casi siempre se refiere al ser humano en la condición de titular de derechos patrimoniales (derechos reales y personales) y en sus relaciones familiares y con sus empleados. Es lo que hoy podríamos entender como una teoría general de los derechos de la personalidad, entre los que Kant se limitó a tratar del derecho de libertad. La parte que ha sido objeto de principal atención por nuestra parte ha sido la de la doctrina de la propiedad. Como apunta A. Cortina, en el Estudio preliminar de la obra ya citada, en principio Kant entiende, como Fichte, que la verdadera posesión no es la de las cosas, sino la del uso de las cosas: poseer una cosa significa estar facultado para usarla. Pero en segundo lugar, esta facultad no se adquiere gracias al trabajo invertido en ella ni al intento de configurarla –como antes había sostenido J. Locke-, sino que se ad29 114 quiere por ocupación. La ocupación será condición de la posesión legítima . No vamos a entrar en el análisis de la potestad dominativa –conjunto de poderes que intervienen en las relaciones humanas que se desarrollan en el ámbito doméstico- de Kant. Vamos a limitarnos a exponer brevemente el poder doméstico que presentaba Kant, es decir, el vínculo de sujeción entre el jefe de la casa y los demás miembros de la misma, ya se trate de la esposa, de los hijos o de la servidumbre. Lo analizaremos en relación a su concepto de libertad y, sobre todo, al de dignidad de la persona humana. Destacaremos cómo se aprecia una contradicción en su teoría cuando sostiene la posibilidad de reducir a algunos individuos a cosas, en el tema de la propiedad. sica de esta dignidad humana”. Y más adelante subraya: “La dignidad humana se formula desde dos perspectivas (…) una más formal de raíz kantiana y otra más de contenidos, de carácter humanista y renacentista. Por la primera, la dignidad deriva de nuestra decisión de mostrar capacidad de elegir, de nuestra autonomía; por la segunda, la dignidad consiste en el estudio de los rasgos que nos diferencian de los restantes animales. Son dos perspectivas complementarias, casi podríamos decir la forma y el contenido de nuestro valor como personas” (op.cit., p.56 y p.65). 29 Continúa A. Cortina: “Naturalmente esta tesis ha suscitado duras críticas en el ámbito de la filosofía jurídica y política, en la medida en que Kant parece olvidar las exigencias de la razón en los puntos más delicados y plegarse a los hechos. Porque si en la doctrina del derecho político es la toma del poder la que legitima en definitiva a un determinado gobernante, en el caso del derecho privado parece que sea el hecho de la ocupación el que legitima la posesión (…) Limitándonos por el momento al derecho privado, creemos que la acusación es injusta porque la ocupación es uno de los momentos de la adquisición, pero no el único. Otros dos momentos son necesarios: la declaración del sujeto de que toma posesión del objeto y la apropiación como acto de la voluntad universalmente legisladora” (op.cit., p.XLVII). Para entender adecuadamente su línea de pensamiento, conviene que transcribamos algunos fragmentos de su obra, que nos servirán muy bien de ejemplo para exponer nuestras ideas. En primer lugar, a efectos de transposición de la idea de libertad que impregna su filosofía moral, Kant enuncia como principio universal del derecho la siguiente afirmación: “Una acción es conforme a derecho (Recht) cuando permite, o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal”.30 Kant buscó, por consiguiente, conciliar, en el plano jurídico, la libertad de cada uno con la libertad de todos. He aquí la argumentación de Kant: “El Derecho estricto puede representarse también como la posibilidad de una coacción recíproca universal, concordante con la libertad de cada uno según leyes universales. Esta proposición significa lo siguiente: el derecho no puede pensarse como compuesto por dos elementos, es decir, de la obligación según una ley y de la facultad de aquel que obliga a los otros por su arbitrio de coaccionarles a ello, sino que podemos establecer inmediatamente el concepto de derecho sobre la posibilidad de conectar la coacción recíproca universal con la libertad de cada uno. Así como el derecho en general sólo tiene por objeto lo que es exterior en las acciones, el derecho estricto, es decir, aquel que no está mezclado con nada ético, es el que no exige sino fundamentos externos de determinación del arbitrio; porque entonces es puro y no está mezclado con prescripciones referidas a la virtud. Por tanto, sólo puede llamarse derecho estricto (restringido) al derecho completamente externo”.31 En lo que concierne a la existencia de un derecho natural o innato, Kant reconoce 115 uno, consistente en la libertad, y que enuncia así: “No hay sino un derecho innato. La libertad (la independencia con respecto al arbitrio constrictivo de otro), en la medida en que puede coexistir con la libertad de cualquier otro según una ley universal, es este derecho único, originario, que corresponde a todo hombre en virtud de su humanidad. –La igualdad innata, es decir, la independencia, que consiste en no ser obligado por otros sino a aquello a lo que también recíprocamente podemos obligarles; por consiguiente, la cualidad del hombre de ser su propio señor (sui iuris); (...).32 En relación a lo que denominaba “Derecho Privado”, Kant formula unas propuestas que se revelan incompatibles con la idea de dignidad de la persona humana que se tiene actualmente, en la medida en que admitía que algunos seres humanos podían ser objeto de tal dominación: “Yo puedo llamar míos a una mujer, un niño, un siervo y, en general, cualquier otra persona, no porque yo los gobierne ahora como pertenecientes a mi casa, o los tenga bajo mi control, en mi potestad y posesión, sino, aunque se hayan sustraído a mi coerción y, por tanto, no los posea (empíricamente), sí puedo decir, sin embargo, que los poseo por mi simple voluntad mientras existan en cualquier sitio y en cualquier momento, por tanto, de modo meramente jurídico; de ahí que pertenezcan a mi haber sólo si y en la medida en que puedo afirmar lo último”.33 Más adelante, Kant reafirma la posibilidad de que las personas sean objeto de posesión jurídica ejercida por otra persona: “Lo mismo ocurre también con el concepto de 30 31 KANT, I., Metafísica de las costumbres, cit., p.39 (230). KANT, I., cit., p. 41 (232) 32 KANT, I., cit., p. 48-49 (237). 33 KANT, I., cit., p. 59 (248). la posesión jurídica de una persona, como perteneciente al haber del sujeto (su mujer, su hijo, su criado): que esta comunidad doméstica y la posesión recíproca del estado de todos sus miembros no se eliminan por la capacidad de separarse localmente unos de otros; porque lo que los une es una relación jurídica, y lo mío y lo tuyo exterior aquí, como en los casos anteriores, se apoya totalmente en la presuposición de la posibilidad de una posesión racional pura sin tenencia”.34 Kant continua presentando las personas como cosas, al tratar de la caracterización del derecho mixto que resulta de la combinación del derecho real con el derecho personal, con vistas a la adquisición de objetos: “(…) la adquisición es triple según el objeto: el varón adquiere una mujer, la pareja adquiere hijos y la familia, criados. –Todo esto que puede adquirirse es a la vez inalienable y el derecho del poseedor de estos objetos es el más personal de todos”.35 En relación al derecho doméstico, y en particular del matrimonio, Kant llega a admitir expresamente que hombre y mujer pueden ser considerados como cosas. En cualquier caso, al verificar la posibilidad de equiparación de personas y cosas, Kant trata inmediatamente de apartarse del absurdo que tal concepción podría representar, en la medida de la reciprocidad del débito conyugal, lo que daría lugar a que la personalidad inherente al hombre fuera limitada en la propia relación. Es lo que se deduce de sus reflexiones acerca del débito conyugal: “En efecto, el uso natural que hace un sexo de los órganos sexuales del otro es un goce, con vistas al cual una parte se entrega a la otra. En este acto un hombre se convierte a sí mismo en cosa, lo cual contradice al derecho 116 de la humanidad en su propia persona. Esto es sólo posible con la condición de que, al ser adquirida una persona por otra como cosa, aquella, por su parte, adquiera a ésta recíprocamente; porque así se recupera a sí misma de nuevo y reconstruye su personalidad. Pero la adquisición de un miembro del cuerpo de un hombre es a la vez adquisición de la persona entera, porque ésta es una unidad absoluta; por consiguiente, la entrega y la aceptación de un sexo para goce del otro no sólo es lícita con la condición del matrimonio, sino que sólo es posible con esta condición. Ahora bien, el hecho de que este derecho personal sea también de índole real (dingich) se funda en que, si uno de los cónyuges se ha separado o se ha entregado en posesión a otro, el otro está legitimado, siempre e incontestablemente a restituirlo en su poder, igual que una cosa”.36 Cuando se ocupa de los derechos del amo (patrón) sobre sus criados, Kant deja claro que se trata de la relación en la que una de las partes –el criado– por medio del contrato, da su libertad –y, por consiguiente, limita su condición de persona –, para someterse a la dominación de otra (patrón): “(…) La servidumbre pertenece entonces a lo suyo del dueño de la casa (...) porque sólo están en su poder por contrato, pero es en sí mismo contradictorio –es decir, nulo e inválido- un contrato por el que una parte renuncia a su entera libertad en beneficio del otro, por tanto, deja de ser persona (...)”.37 Conviene destacar, también, que el filósofo alemán acentúa en sus estudios el carácter real (incluso en parte) de los contratos que rigen tales relaciones, incluso aunque tengan por objeto la prestación de servicios por parte de un ser humano, como si este 34 KANT, I, cit., p. 67-68 (254). KANT, I., cit., p. 97 (267). 36 KANT, I., cit., p. 98-99 (278). 37 KANT, I., cit., p. 105 (283). 35 pudiera ser tratado como cosa y, por lo tanto, susceptible, por ejemplo, de reivindicación: “(...) hay un derecho personal de índole real (auf dingliche Art) (del dueño sobre los siervos): porque se les puede recuperar y reclamar como lo suyo exterior de cada poseedor (...)”.38 En suma, al tratar, en una perspectiva jurídica, acerca de los derechos que se pueden reconocer a la persona, Kant señala la premisa de la libertad y, seguidamente, afirma que el ser humano puede ser tratado como cosa, tal como sucede con aquéllos que están bajo la dominación del poder del dueño de la casa o del patriarca de la familia, es decir, las esposas, los hijos y los criados, en una relación de derecho también real. Al afirmar, pues, que el hombre puede ser jurídicamente tomado como cosa, Kant, al menos a los ojos del lector actual, entra en contradicción con la afirmación de que el ser humano debe ser siempre considerado como un fin, y jamás como un medio. Existe, por lo tanto, una nítida distancia – por no decir incompatibilidad - entre la enunciación teórica de la dignidad de la persona humana en Kant y su aplicación en el campo del derecho. Conveniencia de una relectura crítica del pensamiento de Kant acerca de la dignidad de la persona humana Como hemos podido observar, la doctrina actual de los derechos fundamentales, al tratar del principio de dignidad de la persona humana, atribuye a Kant su concepción original. Hemos visto también que Kant, al mismo tiempo que, desde la perspectiva de 117 la filosofía moral, ha procurado sustentar como fundamental la noción de dignidad de la persona humana -como consecuencia de su libertad racional, así como de su existencia en cuanto fin y nunca como medio-, ha tratado al ser humano como cosa desde la perspectiva jurídica, al tratar acerca de la condición de aquéllos que se sometían al marido, al padre y al patrón. Además, también hemos destacado cómo la doctrina actual, como consecuencia de la evolución de las generaciones de derechos fundamentales, vincula la noción de dignidad de la persona humana a la inviabilidad de tratar al ser humano como cosa. Resulta así evidente la insuficiencia de la mera noción de libertad racional propuesta por Kant para la plena fundamentación del principio de dignidad, sin contar la clara incompatibilidad entre los preceptos jurídicos enunciados por Kant y la idea de que el ser humano no puede ser tratado como medio u objeto. El universo temporal y espacial kantiano influyeron en su modo de pensar. Kant se nos presenta como un buen pensador impregnado de los idearios liberales de su época, que pretendían la protección del individuo contra los excesos de las monarquías absolutistas. Así, las ideas de libertad y de valorización de cada ser humano individualmente se adaptaron muy bien a la noción de autonomía racional de la persona, desembocando en la construcción de conceptos jurídicos que pudieran, desde el punto de vista privado, satisfacer las necesidades de cada uno individualmente.39 38 39 KANT, I., cit., p. 106 (284). Claudio de Cicco, en el prefacio de la traducción de la Doutrina do Direito –primera parte de la Metafísica de las costumbres- en la edición en portugués, establece el marco circunstancial del pensamiento de Kant a partir de las referidas condiciones y pone de manifiesto sus objetivos: “(...) el principio de libertad no podría valer sólo para algunos, pues entonces no sería un ‘principio’ sino Tal vez haya sido suficiente para Kant, consagrar la noción meramente teórica de que el ser humano está dotado de autonomía racional, y partiendo de ahí, con la protección estatal mediante la fuerza de la coerción de que está dotado el derecho, la posibilidad de la convivencia pacífica en sociedad, a pesar de que esto implicara, en la práctica y en algunas hipótesis, el tratamiento del ser humano como cosa40. una regla de solución del casuismo. Esto significa que debe valer para todos, todos deben gozar de libertad, de lo que resulta un postulado igualitario. Entretanto, la igualdad preconizada por Kant, garantizada por el Estado y por el Derecho, tanto como la libertad, es la igualdad de oportunidad, la igualdad en el punto de partida, todos tiene derecho a lo básico (actualmente enumeraríamos vivienda, salud, educación, trabajo, alimentación), pero queda el progreso de cada uno dependiendo de su esfuerzo y dinamismo, lo que distancia a Kant de todos aquéllos que pretenden una igualdad permanente” (Cfr. CICCO, C. (de), Prefacio a Doutrina do direito de I. Kant, trad. E. Bini, Sâo Paolo, Ícone, 1993, p. 9). 40 J. L. Pérez Triviño, en relación al examen de la concepción kantiana de la dignidad, concluye estableciendo tres puntos de referencia: “1) La dignidad humana es una propiedad de todo ser humano, es el producto de un cierto tipo de abstracción de los rasgos peculiares y contingentes de los humanos. Por esta razón, la dignidad kantiana se fundamenta no en los seres humanos de carne y hueso, sino en una concepción noumenal, esto es, una concepción abstracta de los individuos, y no una concepción realista y descriptiva de cómo son estos; 2) La dignidad es independiente de las emociones, lo cual significa que el respeto que se debe a un individuo (o el propio autorrespeto) está al margen de cual sea la impresión o percepción del propio individuo; 3) La dignidad está vinculada con la igualdad básica de todos los seres humanos” (op.cit., p.73). Destaca también Pérez Triviño que, en un trabajo, E. Garzón Valdés ha tratado de poner de manifies118 to la relevancia moral del concepto de dignidad humana. Garzón Valdés distingue entre dignidad, conciencia de la dignidad y expresión de la dignidad. Es decir, siendo la dignidad una propiedad adscriptiva que se predica de cualquier individuo que pertenezca a la especie humana, no se implica que cualquier individuo sea consciente de su dignidad o que la exprese correctamente. En efecto, un recién nacido puede no tener conciencia de la propia dignidad pero ello no equivale a despojarle del carácter de ser un agente moral, esto es, de tener dignidad. Por otro lado, “se puede tener conciencia de la propia dignidad y, sin embargo, expresarla indignamente”, como por ejemplo, puede suceder con alguien que se comporte servilmente. Es más, quien actúa indignamente tampoco destruye su dignidad. Treviño, aun estando de acuerdo con E. Garzón Valdés, señala que lo que denomina “conciencia y expresión de la dignidad” podrían ser vistos como los rasgos de un concepto bien conocido y que con el que la idea de dignidad está vinculada: el autorespeto” (PÉREZ TRIVIÑO, J.L., “La relevancia de la dignidad humana. Un comentario”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº30, Alicante, 2007, pp.159-163). (El trabajo de E. Garzón Valdés al que se refiere es: “¿Cuál es la relevancia moral de la dignidad humana?, en BULYGIN, E., El positivismo jurídico. México, Fontamara, 2006). Pérez Triviño advierte de la frecuente confusión entre los dos términos de dignidda y respeto. En su opinión, hay suficiente base para mantener que son dos conceptos distintos, a pesar de que exista una estrecha vinculación entre ambos. También se han puesto de manifiesto la conexión de la noción de dignidad con la de autorespeto. Siguiendo a Kant, (Kant, 1994: 274), “el autorespeto sería el valor que nos atribuimos por nuestra propia naturaleza como personas; en virtud de que somos fines en nosotros mismos, los individuos nos reconocemos y nos evaluamos como seres poseedores de dignidad. La dignidad conlleva que los seres humanos están obligados no sólo a reconocer y respetar la dignidad de todas las personas, sino también la suya propia. Estas obligaciones suponene seguir un conjunto de mandatos y de prohibiciones, así como actuar guiados por cierto tipo de razones. Debemos actuar de forma congruente con nuestro status moral como fines en sí mismo evitando cualquier tipo de acción que tenga como resultado la degradación. Esto significa, según Kant, que tenemos la prohibición de suicidarnos, de realizar conductas sexuales impropias, etc. (…) Ahora bien,a diferencia de lo que parece pensar Kant (…) creo que no se puede decir que esas conductas (u otras) En cualquier caso, en la medida en que superemos el universo temporal en que vivió Kant, resulta posible concluir que la utilización de sus preceptos teóricos para la fundamentación de la noción de dignidad de la persona humana en la actualidad debe realizarse con las debidas reservas. Si es verdadera la afirmación de que la noción de Kant acerca de la autonomía racional del ser humano sirve como uno de los fundamentos del principio de dignidad humana –y, por consiguiente, a la teoría de los derechos fundamentales–, no es menos verdadera la conclusión en el sentido de que su concreción en la actualidad se debe limitar, ya que resulta inadmisible, en la práctica, que el ser humano trate a su semejante como una cosa. El principio de dignidad de la persona humana y su concreción según la doctrina actual 1. A pesar de que no pueda negarse, como hemos visto anteriormente, que el principio de dignidad de la persona humana puede tener algunas de sus raíces históricas en el pensamiento de Kant, conviene destacar que la noción que se tiene actualmente de la dignidad supera la afirmación de la mera libertad racional. Comprender en nuestros días qué es el principio de dignidad de la persona humana significa tener como premisa que el ser humano, como fin de todo, es un ente real cuyas necesidades mínimas concretas no pueden estar sujetas a los modelos abstractos tradicionales: En primer lugar, la dignidad de la persona es de la persona concreta, en su vida real y cotidiana; no es de un ser ideal y abstracto. Es el hombre o la mujer, tal 119 como existen, a los que el orden jurídico considera irreductible e insustituible y cuyos derechos fundamentales enuncia y protege la Constitución. En todo hombre y en toda mujer están presentes todas las facultades de la humanidad. En cuanto a la concreción del principio de dignidad de la persona humana, merece especial atención la cuestión de la reducción del hombre a la condición análoga de esclavo en materia de relaciones de trabajo. Ciertamente, no se puede hablar de dignidad de la persona si esto no se materializa en sus propias condiciones de vida. ¿Cómo hablar de dignidad sin derecho a la salud, al trabajo, en fin, sin derecho de participar en la vida en sociedad con un mínimo de condiciones? Tener trabajo, y en condiciones dignas, es una forma de proporcionar al hombre los derechos que derivan de ese atributo que le es propio: la dignidad. Como apunta la OIT, ‘El control abusivo de un ser humano sobre otro es la antítesis del trabajo digno’.41 Resulta evidente que, cuando Kant escribió la Fundamentación para una metafísica de las Costumbres, no era consciente de que algún día serían utilizadas para solucionar las disputas filosóficas que copan actualmente buena parte del debate bioético. Kant no se llegó a plantear cuestiones tales como la de si un débil mental era menos digno que anulen o disminuyen nuestra dignidad. Quizá nos hagan parecernos a animales, como piensa Kant, o rasguen la etqiueta de la dignidad (como piensa Garzón), o muestran una carencia de autorespeto, pero no provocan la pérdida de la dignidad, y mucho menos, suponen la derogación del deber de respeto por parte de los otros” (PÉREZ TRIVIÑO, J.L., op.cit., p.162). 41 MONTEIRO DE BRITO FILHO, J.C., “Trabalho com redução do homem à condição análoga a de escravo e dignidade da pessoa humana”, en http://www.pgt.mpt.gov.br/ publicacoes/escravo.html, pp. 7-8, acceso el 6 de junio de 2005. otra persona. Sin embargo, el auge de la biotecnología nos ha obligado a encarar estas complejas preguntas42. Por ejemplo, en el caso de la clonación de seres humanos, el precepto kantiano de que el ser humano jamás debe ser considerado como cosa, nos puede hacer pensar en la conveniencia de actualizar la noción de dignidad de la persona: ¿Qué pensar de todo eso, a la luz del principio supremo del respeto a la dignidad humana en cualquier circunstancia? En teoría, la única práctica aceptable, en una perspectiva ética, parece ser la de la clonación humana para fines terapéuticos (por ejemplo, tratamiento de enfermedades neurodegenarativas, como el mal de Parkinson, o el Alzheimer), en el propio sujeto cuyas células fueran clonadas. Todas las otras prácticas de fecundación artificial o de ingeniería genética violan- -en opinión de algunos autores-, el principio kantiano de que la persona humana no puede ser nunca utilizada como simple medio para la obtención de una finalidad ajena, pues ella debe ser considerada siempre como un fin en sí misma. También en aquellas situaciones, cada vez más comunes, en que los padres conciban a un nuevo hijo para poder solucionar problemas degenerativos de otro hijo ya nacido y que, sin el transplante o el apoyo de algún órgano vital de su hermano –que garantiza la compatibilidad- morirá. Generalmente se realiza una selección de embriones en laboratorio previamente, al objeto de rechazar los que puedan estar dañados de la misma enfermedad genética o degenerativa. Y se aprovecha un embrión en buen estado, que garantice más posibilidades de éxito. ¿No es este un caso claro de utilización de una vida –la del hijo que se selecciona- como medio y no como un fin en sí mismo? Los padres no dan la vida al segundo hijo por amor en sí mismo a esa nueva vida sino que lo 120 utilizan como instrumento, como medio, para salvar la vida de su primer hijo. ¿Dónde queda la dignidad del segundo hijo? Hoy en día, por tanto, dada la evolución de la teoría de los derechos fundamentales, no sería posible convivir con la discrepancia entre la Fundamentación de la metafísica de las costumbres y la Metafísica de las costumbres de Kant en lo que se refiere a la dominación del hombre por el hombre, como si se pudiera inserir el elemento humano en el espacio destinado a las cosas en las relaciones jurídicas, y como si fuera suficiente con valorar apenas la noción de autonomía racional del ser humano. En definitiva, la relación entre dominio y propiedad en Kant, heredero de las doctrinas de filósofos y juristas relevantes anteriores, puede resultar discutible y controvertida en nuestros días. Si nos remitimos a su concepto de dignidad y a su defensa de la libertad, de la moral y otros muchos conceptos, podemos apreciar que “chirrían” al ponerlos en relación con la potestad dominativa en el ámbito de la familia. Cierto que resulta innegable su contribución en orden a configurar las bases del principio de dignidad de la persona, pero se hace necesaria una actualización de su significado en orden a su adscripción al marco de un Estado social y democrático de derecho, que se asienta en los pilares de la libertad y de la igualdad. 2. En cierta forma, la vaguedad del concepto de dignidad de la persona acaba remitiendo a una concreción en el marco de un debate abierto a consideraciones morales. Cabe pues preguntarse si la dignidad de la persona es más un concepto de tintes 42 Cfr. MIGUEL BERIAIN, I. de, “¿Es digno un ser que no es autónomo? Reflexiones acerca del concepto kantiano de dignidad humana”, en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. III. Teoría de la Justicia y Derechos Fundamentales. Madrid, Insituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-Dykinson- Santander, 2008, pp.415-429. jurídicos o de tintes morales. Su incorporación a textos jurídicos ha sido tardía y, sin embargo, a lo largo de la historia, ha sido un sustrato permanente a las construcciones que se iban formulando. G. Peces-Barba ha apuntado que “la dignidad humana tiene un puesto relevante aunque prepolítico y prejurídico” (…) no es contenido del derecho (…) más bien una construcción de la filosofía (…) un deber ser fundante (…) aunque muchas veces sea referencia en las argumentaciones o en la interpretación jurídica”43. El reflejo jurídico del principio de dignidad de la persona humana ha sido muy tardío. Hasta después de la segunda guerra mundial no se apreció la necesidad de que constara como tal en un texto jurídico. A partir de ahí, resulta común encontrarla en los textos de derechos humanos y Constituciones: textos de Naciones Unidas, Constitución española, jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, Carta de los derechos fundamentales de la Constitución europea, etc. Concretamente, en el ámbito internacional, se puede encontrar: en la Declaración Universal de 1948, que la recoge en el preámbulo y en el artículo primero donde se la vincula a la libertad y a la igualdad44. También en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, señalando en su preámbulo que los derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Asimismo, hay una referencia en el preámbulo del Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, también de 1966. La Constitución española de 1978 proclama, en su artículo 10.1, que: “la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esta caracterización de la dignidad como “fundamento” del orden político y de la paz social, y no como “valor superior” ni como “principio” ha dado lugar 121 a ciertos problemas semánticos y conceptuales. Es más, hay opiniones que sostienen que la dignidad de la persona ha sido devaluada en nuestra Constitución, defendiendo que su correcta ubicación – como fundamento ontológico de los demás valores – hubiera correspondido al artículo 1.1 en el que se “propugnan los valores superiores del ordenamiento jurídico. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo son exigencias derivadas de la dignidad de la persona, siendo la dignidad el valor de los valores. No estamos ante un derecho fundamental con existencia autónoma que se produzca al margen de “los derechos de esta índole expresamente previstos en la Constitución”45. Tampoco hay que confundir su vinculación con derechos fundamentales determinados con la afirmación de que esos derechos constituyan propiamente el contenido de la dignidad. Algunos autores entienden que el contenido de la dignidad de la persona incluye la igualdad, la protección de la identidad y la integridad física y moral. Y, según la fórmula del Estado social y democrático de Derecho, debería incluir también la garantía del mínimo vital de subsistencia. Otros autores, como López Pina, evocando a Kant, han entendido que debería integrar la libertad, igualdad, seguridad y autodeterminación política en un paradigma de relaciones entre Estado y sociedad en el que los derechos fundamentales desempeñan un papel crucial46. 43 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., op.cit., p.64 ss.. El preámbulo dice así: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; y el artículo primero proclama: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)”. 45 MARÍN CASTÁN, Mª. L., op.cit., p.6. 46 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., Dignidad de la persona y derechos fundamentales, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2005, p.75. 44 Así, aunque la dignidad de la persona no sea un derecho fundamental, de algún modo ha de determinarse su alcance, incluso a pesar de que, como apunta la doctrina española, como “cualidad del ser humano (…) no posee un contenido predeterminado ni vinculado a valores o creencias concretas” o que “la dignidad de la persona es un concepto jurídico indeterminado (…) de muy difícil, por no decir imposible, determinación”47. De ahí que algún sector de la doctrina apunte que “se puede afirmar paradójicamente que si no resulta posible determinar en qué consiste ésta, sí que es posible fijar, por el contrario, cuando se vulnera su contenido”. Es por eso que, en ciertas ocasiones la dignidad ha operado, de manera excepcional, de modo equivalente a un derecho fundamental. Es más, para algunos autores, la dignidad opera como fundamento del ordenamiento jurídico, como principio general del derecho, como criterio orientador de la interpretación del derecho, como instrumento para la integración del ordenamiento y como norma de conducta y límite en el ejercicio de los derechos. El legislador constitucional no consideró oportuno que el principio de dignidad tuviera la protección amplia de la que gozan los derechos que pueden ser sujetos del amparo ante el Tribunal Constitucional. Ello implica que no es posible fundar un recurso de amparo en la violación de la dignidad humana. Hay que advertir que aunque no goce de la protección del amparo, es un principio informador del ordenamiento jurídico, lo cual supone que cualquier norma o acto que se le oponga puede ser declarado inconstitucional. La jurisprudencia constitucional ha referido 122 a la dignidad de la persona los derechos fundamentales en su conjunto, como derechos inviolables que le son inherentes. Lo cierto es que los derechos inviolables, como parte del ordenamiento jurídico, han de resultar de los valores superiores: no sólo de la libertad y la igualdad sino también de la justicia y del pluralismo político. Se establece así un apoyo para una concepción integral y dinámica del contenido de la dignidad48. Con todo, y conforme dice la STC 120/1990, el artículo 10.1 CE “no significa ni que todo derecho le sea inherente – y por ello inviolable- ni que los que se califican de fundamentales sean in toto condiciones imprescindibles para 47 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., op.cit., p.93. I. Gutiérrez Gutiérrez apunta que por parte del Tribunal Constitucional parece haberse adoptado en ocasiones diversas versiones de la fórmula alemana de no-instrumentalización (inspirada en la fórmula kantiana). De ellas extrae el Tribunal Constitucional consecuencias en ámbitos diversos, pero que tienen una coherencia interna evidente: -La persona no puede ser patrimonializada; es sujeto, no objeto de contratos patrimoniales (STC 212/1996). -El trabajador no puede ver subordinada su libertad mediante su consideración como “mero factor de producción” o “mera fuerza de trabajo” (STC 192/2003). -La persona no puede ser, en cuanto tal, mero instrumento de diversión y entretenimiento (STC 231/1988). - En el mismo sentido, la persona es convertida en mero objeto en los casos de agresión o acoso sexual (SSTC 53/1985 y 224/1999). - La dignidad impone que la asunción de compromisos u obligaciones tenga en cuenta la voluntad del sujeto, al menos cuando son de peculiar trascendencia, como la maternidad (STC 53/1985). - Del mismo modo, la dignidad impone que sea reconocida al sujeto la posibilidad de participar en procesos judiciales en los que se atribuyen al sujeto graves responsabilidades penales, sin que pueda aparecer como mero objeto de dichos procedimientos (STC 91/2000). 48 su efectiva incolumidad, de modo que a cualquier restricción que a su ejercicio se imponga devenga un estado de indignidad”49. Por último, en relación al Derecho europeo, hay que apuntar que en el Convenio Europeo de 1950, elaborado y aprobado en el contexto del Consejo de Europa, no hay una referencia concreta a la idea de dignidad ni aparece recogida como tal en un precepto concreto. Sólo indirectamente mediante la remisión expresa a la Declaración Universal, contenida en su preámbulo. Sin detenernos en los diversos textos de ámbito regional europeo, llegamos a la proclamación de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada en la cumbre de Niza en diciembre de 2000. Su artículo se abría con la afirmación: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”50. La citada Carta se ha reconocido como vinculante por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007. El tema de la dignidad humana no está cerrado sino que continúa perfilándose al compás de la propia evolución de la sociedad y de las nuevas exigencias a las que el Derecho y la Ética deben ir dando respuesta adecuada. La conmemoración del sesenta aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un buen pretexto para reanudar con mayor entusiasmo las reflexiones que, un principio tan básico como la digniad de la persona humana, merece. Referências Bibliográficas BERGEL, J.L., Teoria geral do direito, trad., Mª. E. Galvão, São Paulo, Martins Fontes, 123 2001, p. 48. CAMPS, V., “La dignidad según Kant” en Historia, lenguaje, sociedad. Homenaje a Emilio LLedó, Barcelona, Crítica, 1989, p.416 ss. CICCO, C. (de), Prefacio a Doutrina do direito de I. Kant, trad. E. Bini, Sâo Paolo, Ícone, 1993. DINIZ, Mª.H., Compêndio de introdução à ciência do direito, 7.ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995. FERNÁNDEZ, E., Dignidad humana y ciudadanía cosmopolita, Madrid, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III-Dykinson, 2001, p.20. GARZÓN VALDÉS, E., “¿Cuál es la relevancia moral de la dignidad humana?”, en BULYGIN, E., El positivismo jurídico. México, Fontamara, 2006. GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI, J., Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos, Valencia, tirant lo blanch, 2004. GONZÁLEZ PÉREZ, J., La dignidad de la persona, Madrid: Civitas, 1986. GONZÁLEZ VICÉN, F., “Introducción” a la Introducción a la teoría del Derecho de I. Kant, trad. e introduc. de F. González Vicén, Madrid, Marcial Pons, 2005. 49 50 Cfr. GUTIÉRREZ GUTIÉREZ, I., op.cit., p.98. También en su preámbulo: “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores individuales y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad (…) Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. El primer capítulo de la Carta, dedicado a la dignidad, consta a su vez, de cinco artículos, referentes a la dignidad en general (art.1), al derecho a la vida (art.2), a la integridad de la persona (art.3), a la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes (art.4) y a la esclavitud o trabajo forzado (art.5). GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, I., Dignidad de la persona y derechos fundamentales, MadridBarcelona, Marcial Pons, 2005. HOERSTER, N., “Acerca del significado del principio de la dignidad humana”, en En defensa del positivismo jurídico, trad. J. M. Seña y rev. E. Garzón Valdés y R. Zimmerling, Barcelona: Gedisa, 1992. KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Edición bilingüe y traducción de J. Mardomingo, Barcelona, Ariel, 1999. …………… Metafísica de las costumbres. Estudio preliminar de A. Cortina y trad. y notas de A. Cortina y J. Conill, 4ª ed., Madrid, Tecnos, 2005. COMPARATO, F., A afirmação histórica dos direitos humanos, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 2003. MARÍN CASTÁN, Mª.L., “La dignidad humana, los derechos humanos y los derechos constitucionales”, Revista de Bioética y Derecho, nº9, enero 2007, p.2 (http://www.bioeticayderecho.ub.es). MIGUEL BERIAIN, I. de, “¿Es digno un ser que no es autónomo? Reflexiones acerca del concepto kantiano de dignidad humana”, en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. III. Teoría de la Justicia y Derechos Fundamentales. Madrid, Insituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas-Dykinson- Santander, 2008, pp.415-429. MUGUERZA, “La alternativa del disenso”, en El fundamento de los derechos humanos, edic. preparada por G. Peces-Barba, Madrid, Debate, 1989, p.43 ss. GARCÍA MORENTE, M., y ZARAGÜETA BENGOECHEA, J., Fundamentos de Filosofía, 8ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1979. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., La dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho, 124 Madrid, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”-Universidad Carlos III de Madrid, 2002, p.65. PÉREZ TRIVIÑO, J.L., La letra escarlata, Colección CineDerecho, Valencia, tirant lo blanch, 2003, espec. pp.57-60. ………………………… “La relevancia de la dignidad humana. Un comentario”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº30, Alicante, 2007, pp.159-163. SANTOS CUNHA, A. (dos), A normatividade da pessoa humana: o estudo jurídico da personalidade e o Código Civil de 2002, Rio de Janeiro, Forense, 2005. VALLS, R., “El concepto de dignidad humana”, Revista de Bioética y Derecho, nº5, diciembre 2005, p.1 ((http://www.bioeticayderecho.ub.es). A Pessoa Humana e a sua Dignidade J.A.Galdino da Costa Advogado; Especialista em Direito pela Universidade Estácio de Sá; Presidente da Academia de Ciências Jurídicas de Valença – ACJV, Ex-Diretor da Faculdade de Direito de Valença, Professor do Curso de Graduação e Pós-graduação da Universidade Candido Mendes; Professor do Curso de Graduação da Faculdade de Direito de Valença. Membro da Academia Valenciana de Letras. Resumo O presente artigo pretende analisar o significado de pessoa humana e sua dignidade. A história da humanidade registra uma sensível evolução ao respeito à pessoa humana e à sua dignidade, a despeito de ser resultado de lento progresso e rápidos retrocessos. Resultado dos resíduos de revoluções e guerras, lentamente o indivíduo como pessoa humana e a sua dignidade vão sendo reconhecidos pelos seus semelhantes e pelo próprio Estado. A despeito das inúmeras omissões, a Comunidade Internacional tem tomado posições em favor da pessoa e dignidade humanas. Palavras-chave: Direitos Humanos. Dignidade Humana. Abstract This article analyzes the significance of the human person and his dignity. Human history records a significant evolution to respect the human person and his dignity, despite being a result of slow progress and quick reversals. The result of revolutions waste and wars, slowly the individual as a human person and his dignity are being recognized by his peers and the State. Despite many omissions, the international community has taken positions in favor of the person and dignity. Keywords: Human Rights. Human Dignity. I. O significado de pessoa humana e sua dignidade. II. Efetividade da pessoa humana e sua dignidade. III. O tema à luz da doutrina. IV. O tema, na Constituição Federal. V. A positivação do direito, o tempo histórico e o método de interpretação do caso concreto. VI. O conceito de direitos fundamentais. VII. Tratados, convenções e protocolos internacionais ratificados pelo Brasil. VIII. O tema à luz da jurisprudência. XI Conclusão. O Significado de Pessoa Humana e sua Dignidade Cícero designava indivíduo àquilo que não podia ser dividido, sem que deixasse de ser o que é. Individua corpora, ou simplesmente individua dizia o Pensador Romano. Hic et nunc, aqueles que são dotados daquilo que se convencionou chamar de inteligência reflexa e podem observar as coisas à sua volta, objetivamente constatam a existência de outros indivíduos muitos dentre eles, semelhantes a quem observa. 125 A dificuldade começa a partir do momento em que o observador forma a própria imagem daquilo que está observando e busca a comunicação com o outro. A observação do outro é rica em significados e a comunicação das teorias formadas é, quase sempre cercada de equívocos. A proposta aqui será expor algumas formas extraídas da observação da pessoa humana e o tratamento que lhe dispensa a Constituição Federal e os tratados, convenções e protocolos ratificados pelo Brasil. O que é, pois, uma pessoa humana? Etimologicamente a palavra pessoa procede do vocábulo latino persona, termo atribuído aos atores de teatro que, por usarem máscaras, também as designava. Cícero utilizava-se do vocábulo para definir, dentre outros, o indivíduo humano, o estado, a dignidade, o cargo de cada um.1 A dignidade era vista pelo Pensador Arpino como o título, a honra, o posto, o cargo honorífico, o estado, a autoridade, o merecimento, a estimação.2 A Efetividade da Pessoa Humana e sua Dignidade Ocorre que, tanto a pessoa humana quanto a sua dignidade, para serem efetivas, é necessário que sejam reconhecidas e respeitadas. Aliás, o respeito é qualidade de quem é digno. Cícero, republicano convicto, anotou que: Uma arte qualquer, pelo menos, mesmo quando não se pratique, pode ser considerada como ciência; mas a virtude afirma-se por 126 completo na prática e seu melhor uso consiste em governar a República e converter em obras as palavras que se ouvem nas escolas. Nada se diz, entre os filósofos, que seja reputado são e honesto, que não o tenham confirmado e exposto aqueles pelos quais se prescreve o direito da República.. De onde procede a piedade? De quem a religião? De onde os direitos das gentes? E o que se chama civil, de onde? De onde a justiça, a fé, a equidade, o pudor, a continência, o horror ao que é infame e o amor ao que é louvável e honesto? De onde a força nos trabalhos e perigos? Daqueles que, informando esses princípios pela educação, os confirmam pelos costumes e os sancionam pelas leis.3 Não há dúvida de que Cícero fala, também, para a República Democrática Brasileira. O Tema à Luz da Doutrina A história da humanidade registra uma sensível evolução ao respeito à pessoa humana e à sua dignidade, a despeito de ser resultado de lento progresso e rápidos retrocessos. Resultado dos resíduos de revoluções e guerras, lentamente o indivíduo como pessoa humana e a sua dignidade vão sendo reconhecidos pelos seus semelhantes e pelo próprio Estado. A despeito das inúmeras omissões, a Comunidade Internacional tem tomado posições em favor da pessoa e dignidade humanas. 1 FERREIRA, Emmanuelis, Joseph, Magnum Lexicon, novissimum LATINUM ET LUSITANUM, Paris,,Ed.. Guillard, 1833, p.520. 2 Idem, ibidem, p.210. 3 CICERO, Marco Túlio, Da República, Tradução de Amador Cisneiros, São Paulo: Escala, s/d., Livro I, p.17. No contexto indivíduo-Estado, as formas legais adotadas decorrem de princípios constitucionais, previstos nas Constituições. A estes, costuma a doutrina designá-los por garantias constitucionais. Rui Barbosa, em notas à Constituição da República de 1891, adotou a designação de garantias constitucionais para as franquias que as Constituições usam outorgar aos indivíduos. Entre elas encontramos a liberdade religiosa (Const. Art. 72, §§ 3 e 28), encontramos o direito de ser não sentenciado senão por autoridade competente (Const. Art. 72, § 15), o direito de defesa penal (§ 16), o direito de propriedade (§§ 17, 26 e 27), a abolição da pena de morte (§ 21),o direito de resistir aos impostos não votados por lei (§ 30), o julgamento pelo jury (§ 31). Todas estas são garantias constitucionais no sentido mais estrito da palavra, e entram inquestionavelmente no quadro das garantias constitucionais propriamente ditas,4 O mesmo Autor faz, ainda, a distinção entre direitos e garantias: Ora, uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa os direitos de que essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança, política, ou judicial.Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana em sua existência subjetiva, ou nas suas situações de relação com a sociedade, ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais “stricto sensu” são as solenidades tutelares, de que a lei circunda alguns desses direitos contra os abusos do poder. 5 Canotilho anota que uma das bases da República Portuguesa está assentada na dignidade da pessoa humana.6 Na opinião do Mestre de Além Mar os postulados da República estão assentados, em primeiro lugar, na pessoa humana, em segundo lugar, na organização política: a pessoa humana não é objecto, é fim e não meio das relações juríco-sociais. Nestes pressupostos radica a elevação da dignidade da pessoa humana a trava mestra de sustentação e legitimação da República e da respectiva compreensão da organização do poder político. Com este sentido, a dignidade da pessoa humana ergue-se como linha decisiva de fronteira (“valor limite”) contra totalitarismos (políticos, sociais, religiosos) e contra experiências históricas de 127 aniquilação existencial do ser humano e negadoras da dignidade da pessoa humana (escravatura, inquisição, nazismo, estalinismo, polpotismos, genocídios étnicos).7 Não é, pois, sem razão que a dignidade da pessoa humana é vista como um standard de proteção universal que obriga à adoção de convenções e medidas internacionais contra a violação da dignidade da pessoa humana e à formação de um direito internacional adequado à proteção da dignidade da pessoa humana não apenas como ser humano individual e concretamente considerado, mas também da dignidade humana referente a entidades colectivas (humanidade, povos, etnias).8 A grande e permanente questão está no fato de tornarem-se efetivos as garantias e os direitos assegurados na Lei, porque sempre dependem das pessoas encarregadas em torná-los concretos. O Tema, na Constituição Federal A Constituição Brasileira afirma que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, governado sob forma republicana, sob o regime político democrático, estruturado como Estado federativo. Afirma explicitamente que os fundamentos do Estado Democrático de Direito tem por base a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, 4 BARBOSA, Ruy, COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, V Volume, São Paulo: Saraiva, 1934, p. 177. 5 Idem, ibidem, p. 178. 6 CANOTILHO, J.J. GOMES e Outro, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA ANOTADA, VOL. 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 198. 7 Idem, ibidem. 8 Idem, ibidem, p. 200. propriedade, devido processo legal, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político dentre outros. O fundamento do Estado Democrático do Direito tem a sua base na lei: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Expressões como: direitos humanos; direitos e garantias fundamentais; direitos e liberdades constitucionais e direitos e garantias constitucionais, estão referidos na Constituição Federal (inciso II do art.4º da CRFB/88); (Título II e parágrafo 1º do art.5º da CRFB/88) (inciso LXXI do art.5º da CRFB/88) (inciso IV, parágrafo 4º do art.60 da CRFB/88). A Positivação do Direito, o Tempo Histórico e o Método de Interpretação do Caso Concreto A positivação do direito é princípio elementar do Estado Democrático de Direito, pois o mundo do homem é condicionado pelo tempo histórico em que vive. Convém destacar que é inconcebível uma visão estática do Estado, que implique na cristalização da lei, porque traz por conseqüência a estagnação da própria Democracia. Estado e Democracia serão simples palavras ocas sem a visão da sociedade em constante movimento. Essa observação não passou desapercebida a Canotilho 9 Levando em conta o contexto histórico do mundo do homem e o sistema legal criado, é fundamental considerar o método de interpretação a ser utilizado no caso concreto hic et nunc. Gerhart Husserl afirma: Diversamente de outros produtos humanos – por exemplo, de um objeto físico -, a norma jurídica, desde o momento que existe, que está aí, não é de modo 128 nenhum independente do comportamento dos homens a que diz respeito. A norma jurídica insere-se no tempo histórico. O tempo não está imóvel e a norma jurídica acompanha-o por assim dizer no seu movimento. (...), por isso, a última palavra em questões de interpretação de uma lei não a pode dizer a vontade do legislador. (...) o que em última análise está em jogo na elucidação do sentido de uma proposição jurídica é o que ela significa para nós, ‘os de hoje’ os que vivemos sob esta determinada ordem jurídica. A interpretação de uma lei deverá, portanto, em primeiro lugar, remontar ao contexto histórico em que foi posta pelo ato criador , mas isto é apenas o ponto de partida para o processo da interpretação, porque a tarefa seguinte terá que consistir em arrancar, por assim dizer, a lei da sua relação com a época em que se formou e projetá-la em pensamento na atualidade10 É, ainda manifesto que de nada adiantam as teorias e palavras abstratas. A dignidade há de ser efetiva, ou efetivada ao menos na realidade histórica do pais. Nesse sentido, os princípios fundamentais relativos à dignidade da pessoa humana assumem na Democracia contornos concretos. Assim também anotou Canotilho.11 Não é possível falar-se na existência de Estado Democrático de Direito, sem a definição e efetivação dos direitos fundamentais, conforme salienta o Mestre Lusitano12. 9 Os princípios estruturantes bem como os subprincípios que os densificam e concretizam constituem princípios ordenadores positivamente vinculados. Em virtude do seu caracter estruturante, vêm todos enunciados no capítulo introdutório da CRP, intitulado “Princípios Fundamentais”(CRP, arts. 1° a 11°). Isto não significa que eles só aí venham consagrados, devendo procurar-se no conjunto global normativo da constituição as revelações e manifestações concretas desses mesmos princípios. CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito Constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1992, p. 352. 10 Direito e Tempo, 1955, p. 23 e 26. 11 “A Constituição, ao consagrar o princípio democrático, não se “decidiu” por uma teoria em abstracto. Procurou uma ordenação normativa para um país e uma realidade histórica. CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 287. 12 “Tal como são um elemento constitutivo do estado de direito, os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático. Mais concretamente: os direitos fundamentais têm O Conceito de Direitos Fundamentais O conceito da expressão direitos fundamentais não é unívoco e nem preciso. Isso pode ser explicado pela constante transformação da sociedade e, por conseqüência, a evolução desses direitos. O mesmo pode ser dito do conceito de direitos humanos Embora a doutrina clássica afirme que os direitos fundamentais seja aqueles que são reconhecidos pelo ordenamento constitucional interno de cada Estado, e os direitos humanos, inobstante possam também ter obtido a chancela desse ordenamento, recebem o reconhecimento do direito internacional, com mecanismos diretos e indiretos de proteção. Tratados, Convenções e Protocolos Internacionais Ratificados pelo Brasil O reconhecimento da dignidade da pessoa humana é matéria de vários tratados, convenções e declarações internacionais, servindo de exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas - 1948). 13 a Convenção Americana de Direitos Humanos14 (Pacto de São Jose da Costa Rica). Recentemente, o Parlamento Europeu editou declaração conjunta repudiando qualquer espécie de manifestação xenófoba, intolerância ou racista.15 uma função democrática, dado que o exercício democrático do poder: (1) significa a contribuição de todos os cidadãos para o seu exercício (princípio-direito da igualdade e da participação política); (2) implica participação livre assente em importantes garantias para a liberdade desse exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade de expressão, são, por exemplo, direitos constitutivos do próprio 129 princípio democrático); (3) coenvolve a abertura do processo político no sentido da criação de direitos sociais, econômicos e culturais, constitutivos de uma democracia econômica, social e cultural. Realce-se esta dinâmica dialética entre os direitos fundamentais e o princípio democrático”. Idem, ibidem, p 290. Artigo 1º - “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos” O Pacto de São José da Costa Rica foi ratificado pelo Brasil em 1992 no art. 11.1 prevê: “Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade” 15 D - Declaração comum do Parlamento Europeu, do Conselho, dos representantes dos Estados-Membros reunidos no seio do Conselho e da Comissão contra o racismo e a xenofobia, de 11 de Junho de 1986 (JO C 158 de 25.6.1986) O PARLAMENTO EUROPEU, O CONSELHO, OS REPRESENTANTES DOS ESTADOS-MEMBROS REUNIDOS NO SEIO DO CONSELHO E A COMISSÃO, Verificando a existência e o crescimento na Comunidade de atitudes, movimentos e actos de violência, dirigidos frequentemente contra imigrantes; Considerando a importância primoridal que as Instituições das Comunidades conferem ao respeito pelos direitos fundamentais proclamados solenemente na declaração conjunta de 5 de Abril de 1977, bem como ao princípio da livre circulação de pessoas tal como previsto no Tratado de Roma; Considerando que o respeito pela dignidade da pessoa humana e a eliminação de manifestações de discriminação racial fazem parte do patrimómio cultural e jurídico comum a todos os Estados-Membros; Conscientes da contribuição positiva que os trabalhadores originários de outros Estados-Membros ou de países terceiros têm dado e podem continuar a dar ao desenvolvimento do Estado-Membro em que têm residência legal e do benefício que daí decorre para a Comunidade no seu conjunto: Condenam com vigor todas as manifestações de intolerância, de hostilidade ou de utilização da força contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas em função de diferenças raciais, religiosas, culturais, sociais ou nacionais. Exprimem a vontade de defender a personalidade e a dignidade de qualquer membro da sociedade e de rejeitar qualquer forma de segregação em relação aos estrangeiros.Consideram indispensável que sejam tomadas todas as disposições necessárias para garantir a realização dessa vontade comum. Estão determinados a prosseguir os esforços já iniciados para proteger a individualidade e a dignidade de qualquer membro da sociedade e a recusar qualquer forma de segregação dos estrangeiros. Sublinham a importância de uma informação adequada e objectiva e da sensibilização de todos os cidadãos para 13 14 O Brasil, após o advento da Carta de 1988, ratificou outros importantes tratados internacionais de direitos humanos destacando-se: 1) A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20 de julho de 1989; 2) A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28 de setembro de 1989; 3) A Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24 de setembro de 1990; 4) O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 24 de janeiro de 1992; 5) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 24 de janeiro de 1992; 6) A Convenção Americana de Direitos Humanos, em 25 de setembro de 1992; 7) A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 27 de novembro de 1995; 8) O Protocolo à Convenção Americana referente à Abolição da Pena de Morte, em 13 de agosto de 1996; 9) O Protocolo à Convenção Americana referente aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), em 21 de agosto de 1996; 10) A Convenção Interamericana para Eliminação de todas as formas de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, em 15 de agosto de 2001; 11) O Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, em 20 de junho de 2002; l2) O Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 28 dejunho de 2002; 13) O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre o Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados, em 27 de janeiro de 2004; 14) O Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre Venda, Prostituição e Pornografia Infantis, também em 27 de janeiro de 2004; e 15) O Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, em 11 de janeiro de 2007. O Tema à Luz da Jurisprudência Dos debates ocorridos no Supremo Tribunal Federal, parece estarem delineadas 130 duas correntes sobre o status dos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. A corrente sustentada pelo Ministro Gilmar Mendes que confere o status de supralegalidade aos Tratados (RE/SP 466.343) e a corrente defendida pelo Ministro Celso de Mello que lhes confere status constitucional. A maioria dos Ministros acompanhou a opinião do Ministro Gilmar Mendes e, em decisão histórica, rechaçou a prisão do depositário infiel (Informativo do STF 531). Para o Ministro Celso de Mello, o status constitucional dos Tratados, no entanto, encontra base no art. 5º, §§ 2º e 3º da Constituição ao disporem que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte e os Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Conclusão É induvidoso que o Brasil está avançando no que se refere à proteção da dignidade da pessoa humana. Destacam-se, a nível de legislação infra-constitucional os Estatutos da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e as leis que protegem as minorias raciais e grupos étnicos. Além do papel indelegável que os Poderes Legislativo e Executivo têm desempenhado e devem continuar desempenhando, a efetivação dos direitos passa, na maioria das vezes, é realizada pela atuação do Poder Judiciário, com a observação do devido processo legal e a razoável duração dos processos. os perigos do racismo e da xenofobia, bem como a necessidade de uma vigilância constante para prevenir ou reprimir qualquer acto ou forma de discriminação.Feito em Estrasburgo, em 11 de Junho de 1986. Pelo Parlamento Europeu; Pelo Conselho e pelos representantes dos Estados-Membros reunidos no seio do Conselho; PelaComissão das Comunidades Européias. A Dignidade da Pessoa Humana na Sociedade de Risco Ricardo Lodi Ribeiro Professor Adjunto de Direito Financeiro da UERJ. Professor de Direito Tributário da FGV/RJ. Doutor em Direito e Economia pela UGF, Mestre em Direito Tributário pela UCAM. Advogado. Resumo O presente artigo pretende analisar o significado da dignidade da pessoa humana na sociedade de risco. a problemática da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial se agrava diante do quadro de negação dos direitos fundamentais pela histeria anti-terrorista que se seguiu ao 11 de Setembro, e pela apropriação das prestações estatais positivas, sempre condicionadas pela escassez de recursos orçamentários, pelas elites e camadas médias, com o inadimplemento do compromisso do Estado Social e Democrático de Direito com os mais pobres. Palavras-chave: Direitos Humanos. Dignidade Humana. Sociedade de Risco. Abstract This article analyzes the meaning of human dignity in the risk society. The issue of human dignity and the basic standard of living worsens for the situation of denial of basic 131 rights by the anti-terrorist hysteria that followed the September 11, and the appropriation of positive State resources, always conditioned by the scarcity of budgetary resources, elites and middle classes, with the breach of the commitment of the welfare state and democratic rule of law with the poorest. Keywords: Human Rights. Human Dignity. Risk Society. Partindo de uma concepção kantiana que elege o Homem como centro do Universo, sendo o Estado, a Sociedade e a Nação instrumentos para o seu desenvolvimento, a dignidade da pessoa humana aparece como a idéia central dos ordenamentos constitucionais estabelecidos a partir da segunda metade do século XX, com o florescimento das discussões doutrinárias a respeito da efetivação dos direitos fundamentais, tenham eles, conteúdo individual, político, social ou econômico.1 Sendo positivada na Constituição de 1988, como fundamento da República (art. 1º, III, CF), a dignidade da pessoa humana encontra como núcleo essencial o estabelecimento das condições mínimas à existência humana digna, seara onde acaba por se confundir com o mínimo existencial, sendo não só intangível pelo Estado, mas exigindo prestações estatais positivas.2 1 Sobre o tema, vide: BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais – O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 2 TORRES, Ricardo Lobo. “O Mínimo Existencial como Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais”, In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de e SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais – Fundamentos, Juricialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008, p. 314. Nesse sentido, a problemática da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial se agrava diante do quadro de negação dos direitos fundamentais pela histeria anti-terrorista que se seguiu ao 11 de Setembro, e pela apropriação das prestações estatais positivas, sempre condicionadas pela escassez de recursos orçamentários, pelas elites e camadas médias, com o inadimplemento do compromisso do Estado Social e Democrático de Direito com os mais pobres. Sem adentrar na polêmica sobre modernidade e pós-modernidade,3 que não é objeto deste estudo, é forçoso reconhecer que vivemos dias que colocam em xeque todo o ideal iluminista, com a sua certeza de que a humanidade caminha para frente e de que o desenvolvimento tecnológico torna o mundo mais estável e ordenado.4 Se por um lado, não há uma ultrapassagem da modernidade 5 caracterizada pela superação das explicações religiosas para o mundo e adoção do racionalismo,6 por outro, é imperiosa a aceitação de 3 O termo pós-modernidade é utilizado pela primeira vez, na Espanha, na década de 1930, por Federico de Onís para descrever um refluxo conservador dentro do próprio modernismo na literatura. Como expressão utilizada para designar uma época, é referida por Toynbee, em 1954, na Inglaterra, aludindo ao período posterior à Guerra Franco-Prussiana, em tese que acabou caindo no esquecimento. Por isso, o sentido contemporâneo da pós-modernidade, começa a ser cunhado em 1951. O norte-americano Charles Olson fala de um mundo pós-moderno, posterior à era imperial dos Descobrimentos e da Revolução Industrial. Contudo, o termo só se consolidou a partir de 1959, quando C. Wright Mills e Irving Howe o empregaram para designar uma época na qual os ideais do liberalismo e do socialismo tinham falido. A despeito dessa consolidação paulatina, a noção de 132 pós-modernidade só foi difundida a partir da década de 1970, com vários pensadores autores como David Antin, Jean-François Lytard e Jürgen Habermas. (ANDERSON, Perry. As Origens da PósModernidade. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 9-43). 4 GIDDENS, Anthony. Mundo em Descontrole – O que a Globalização Está Fazendo de Nós. Trad. Maria Luiza Borges. 4. ed., Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 14. 5 BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo – Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. Trad. Luiz Antônio Oliveira Araújo. São Paulo: UNESP, 2002, p. 19-20: “Primeiramente, seria preciso constatar que a PósModernidade nos deixa desamparados e sós em face da questão de como analisar a sociedade pós-moderna. Ela se divorcia da ciência e, com isso, não nos ajuda a desenvolver novos conceitos; pelo contrário, paralisa a tentativa científica de auto-renovação e de criação de quadros de referência, critérios e instituições adequadas para compreender as mudanças sociais e superá-las politicamente. Além disso, a palavrinha pós é a bengala de cego dos intelectuais. Estes só perguntam do que não se trata e não dizem do que se trata. Nós vivemos na era do posismo, do alemismo e do posteriorismo. Tudo é pós, é além, é posterior. Trata-se de um meiodiagnóstico, que simplesmente constata que já não podemos empregar os antigos conceitos. Por trás disso se oculta a preguiça e, de certo modo, também a desonestidade e a hipocrisia intelectuais, pois a tarefa dos intelectuais é desenvolver conceitos com a ajuda dos quais seja possível redefinir e reorganizar a sociedade e a política”. Contra, defendendo a superação da Modernidade e o advento da Pós-Modernidade, por todos: SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice – O Social e o Político na Pós-Modernidade. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 102-103: “Afirmar que o projeto da modernidade se esgotou significa, antes de mais, que se cumpriu em excessos e défices irreparáveis. São eles que constituem a nossa contemporaneidade e é deles que temos de partir para imaginar o futuro e criar as necessidades cuja satisfação diferente e melhor que o presente. A relação entre o moderno e o pós-moderno é, pois, uma relação contraditória. Não é ruptura total como querem alguns, nem de linear continuidade com querem outros. É uma situação de transição em que há momentos de ruptura e momentos de continuidade. A combinação específica entre estes pode mesmo variar de período para período ou de país para país”. 6 BECK, Ulrich. “A Reinvenção da Política: Rumo a Uma Teoria da Modernidade Reflexiva. ” In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 39. que o advento da sociedade pós-industrial7 e da Globalização aponta para um esgotamento dos instrumentos para a solução dos problemas da primeira modernidade.8 Nesse contexto, a Nova Era do misticismo e do fundamentalismo religioso dos dias atuais, mais que representar uma volta ao passado pré-moderno, ou o advento de uma etapa posterior à modernidade, se revela como uma reação irracional à ausência de respostas do paradigma iluminista, baseado na certeza binária da realidade. De acordo com Karl Popper, o misticismo se explica como expressão do anseio pelo fim da sociedade fechada e pela reação contra o racionalismo da sociedade aberta.9 Contudo, é inevitável constatar que com a Globalização se mostra rompida uma das principais premissas da Era Moderna: a de que vivemos em espaços delimitados pelos Estados Nacionais. Porém, o que pode ser considerado como a decadência da modernidade, pode também marcar o início de uma segunda modernidade, desde que sejam superadas as ortodoxias que levaram ao esgotamento da primeira.10 Com a Globalização não há o fim da política, mas seu recomeço. O desmoronamento do socialismo real não põe fim à crítica à sociedade industrial capitalista, mas ao contrário, abre novas perspectivas a partir da autocrítica social.11 Em conseqüência, é preciso reinventar a política, a partir de dados extraídos desses novos tempos. Se por um lado a Globalização econômica leva o comércio à escala internacional, gerando crescimento do poder das empresas transnacionais em detrimento dos Estados Nacionais12 e dos trabalhadores, de outro o avanço tecnológico e a revolução nos meios de informação e comunicação universalizam os direitos humanos e a democracia, despertando a atenção global sobre as questões ambientais, os direitos das minorias, a pobreza mundial. Nesse contexto dialético, onde o mercado globalizado difunde informação e idéias para todo o mundo, 133 a cultura local encontra espaços ampliados, sobrevivendo além do seu ambiente original. 7 Sobre o conceito de sociedade pós-industrial, vide MASI, Domenico de. A Sociedade Pós-Industrial. Vários Tradutores. 4. ed , São Paulo: Senac, 2003. 8 Ulrich Beck chama de Primeira Modernidade o período que vai do início da revolução industrial, no século XVII, até o começo do século XX (La Sociedad Del Riesgo Global. Trad. Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 221). 9 POPPER, Karl. A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Tomo I. 3. ed. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Itatiaia, 1998, p. 219-220. Para o filósofo liberal, “a sociedade fechada se acha caracterizada pela crença nos tabus mágicos, enquanto a sociedade aberta é aquela em que os homens aprenderam, até certa extensão, a ser críticos com relação a esses tabus, baseando suas decisões na autoridade de sua própria inteligência”. 10 BECK, Ulrich. O que é Globalização? - Equívocos do Globalismo, Reposta à Globalização. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 26 e 46. 11 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global. Trad. Jesús Alborés Rey. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 125. 12 Ao mesmo tempo em que a Globalização fragiliza o Estado Nacional, cria as condições para o aparecimento de novos deles, a partir do desmembramento das regiões mais ricas, ou ainda da concessão de maior autonomia aos entes periféricos. Nesse sentido: OFFE, Claus. “A Atual Transição da História e Algumas Opções Básicas para as Instituições da Sociedade” In: PEREIRA, L.C. Bresser; WILHEIM, Jorge; e SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em Transformação. São Paulo: UNESP, 2001, p. 125: “a Globalização envolve incentivos para “comportamento de bote salva-vidas” e separação subnacional dos grupos e regiões (relativamente) mais ricos que, de forma bastante racional do seu ponto de vista, lutam para defender, explorar e isolar suas vantagens competitivas locais e regionais, em vez de dividir os avanços com outras (e supostamente mais vulneráveis) unidades do Estado ao qual elas pertencem. Isso tem se dado preferencialmente por meio de secessão e construção de estados separados, ou então por meio de amplas formas de autonomia fiscal do conjunto da federação”. Assim, a Globalização cultural não é necessariamente uma via de mão única, uma vez que a “sociedade mundial não é, portanto, uma megassociedade nacional que reúne e dissolve todas as sociedades nacionais; representa um horizonte que se caracteriza pela multiplicidade e pela não-integração”.13 A reinvenção da política não se caracteriza pelo triunfo do neoliberalismo, mas, ao contrário, pela crítica ao domínio do plano econômico sobre todos os demais, e ao autoritarismo político a serviço da lógica do mercado.14 Se o desenvolvimento econômico escapa do controle do Estado Nacional, as suas conseqüências, como o desemprego, a pobreza, a imigração, a violência urbana, têm o seu equacionamento exigido do Estado Social,15 cada vez mais frágil para atender a essa crescente demanda, o que gera crises políticas que colocam em risco o futuro da democracia.16 Nesse panorama, as medidas tomadas pelo Estado acabam por originar outros problemas sociais e econômicos. Para se proteger da livre atuação das empresas transnacionais, garantindo os direitos de seus cidadãos, os Estados Nacionais adotam medidas que acabam por afugentar o fluxo de capitais, gerando mais desemprego e miséria. Por outro lado, o desenvolvimento econômico gerado pelos investimentos dos agentes transnacionais não se apresenta como solução ao crescimento da exclusão social e da concentração de renda. Como se vê, não estamos diante de uma pós-modernidade, e nem do abandono dos ideais iluministas, mas das conseqüências da imposição do modelo de modernidade ocidental para todo o mundo,17 gerando efeitos colaterais advindos da ambivalência e imprevisibilidade, caracterizadoras da sociedade de risco. Podemos denominá-la de modernidade reflexiva, como Ulrich Beck,18 de modernidade ambivalente, como Zygmunt 19 20 134 Bauman ou modernidade tardia, como Anthony Giddens. 13 BECK, Ulrich. O que é Globalização?..., p.31-32. BECK, Ulrich. O que é Globalização?..., p. 225. 15 BECK, Ulrich. O que é Globalização?..., p. 36. 16 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de Exceção Permanente – A Atualidade de Weimar. São Paulo: Azougue Editorial, 2004, p. 179. 17 FRANKENBERG, Günther. A Gramática da Constituição e do Direito. Trad. Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 33-34: “Uma coisa é inequívoca, o capitalismo transnacional e, sob sua guarita, a civilização ocidental ignoraram, inescrupulosamente, comunidades locais, sentimentos tradicionais e outras instituições, sobretudo de cunho religioso. Sua estratégia de conquista secreta, porque não abertamente militar, chamada de “modernização” da terra arrasada, ou melhor, das sociedades comercializadas, deixa para trás, na persecução da conquista político-econômica, uma cultura de ressentimento latente que se alimenta de uma mistura brisante de tradicionalismo militar com religião intolerante e nacionalismo étnico e que se pode desdobrar em um fogo aberto por qualquer ensejo. Unido à vontade de poder de figuras carismáticas de liderança ou ao desejo de destruição dos Warlords, esse ressentimento implanta-se em organizações terroristas e entrelaçamentos (redes) que querem defender sua mentira vital, valores supostamente “antigos” e formas de vida fundadas religiosamente, com evidente brutalidade e até agora, como a Al-Qaeda persistentemente demonstrou colocar em ação com precisão simbólica cruel, apesar de não haver um motivo obrigatório para declarar o fim da cultura agonal de conflito e entoar, novamente, um hino à teoria schmittiana da Política”. 18 BECK, Ulrich, “Autodissolução e auto-risco da sociedade industrial: o que significa?” In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 208. 19 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 20 GIDDENS, Anthony. “Risco, Confiança, Reflexidade”. In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 233. 14 A expressão sociedade de risco foi cunhada por sociólogo alemão Ulrich Beck, em 1986,21 após o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, para designar os dias em que vivemos, a partir da constatação de que os perigos hoje enfrentados pela humanidade são resultado dos efeitos colaterais da própria ação humana, o que acaba por gerar uma imprevisibilidade quanto às conseqüências das medidas adotadas, e o enfraquecimento da racionalidade baseada no conhecimento do passado.22 A partir dessa idéia, Beck defende que a produção social de riqueza na modernidade avançada vem acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos. Assim, os problemas e conflitos de repartição social de carências são substituídos por problemas e conflitos que surgem da produção, definição e repartição dos riscos produzidos de maneira tecno-científica.23 Até o séc. XIX os progressos da ciência faziam com que o homem acreditasse na possibilidade de se atingir a segurança total, com o desaparecimento da incerteza e do risco, evitando-se as catástrofes naturais, com base nos conhecimentos advindos dos avanços tecnológicos. Hoje, a natureza é percebida como benevolentemente protetora, enquanto que a ciência é temida como ameaça maléfica,24 o que acaba por romper o consenso social sobre o progresso.25 É que com o extraordinário avanço tecnológico 21 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro, Daniel Jiménez e María Rosa Borras. Barcelona: Paidós, 1998. 22 Vide crítica de Raffaele de Giorgi à expressão sociedade de risco, onde o autor italiano nega que o risco seja uma categoria ontológica da sociedade moderna ou uma condição existencial do homem (GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco – Vínculos com o Futuro. Vários tradutores. Porto Alegre: Sergio 135 Antônio Fabris Editor, 1998, p. 196/197). Também em sentido crítico à expressão de sociedade de risco, vide: COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos – Teoria Social, Anti-Racismo, Cosmopolismo. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 58-59: “Não se pode mesmo deixar de partilhar da crítica à periodização da modernidade proposta por Beck. Não há dúvida de que o autor deixa, em seu roteiro de análise, pelo menos dois nós mal atados que ricochetearão em suas explanações teóricas subseqüentes. O primeiro problema está relacionado com a apresentação das diferentes modernidades numa linha cronológica, como se a sociedade industrial se seguisse inevitavelmente a segunda modernidade; a primeira, coordenada por um padrão de racionalidade simples, a segunda por uma racionalidade reflexiva. O segundo nó mal atado relaciona-se com a tendência a tomar a sociedade industrial e modernidade simples como a dimensão empírico-descritiva (o ser) e segunda modernidade e modernidade reflexiva como a dimensão normativa (o deve ser) da sociedade de risco”. Porém, entendemos que as críticas não afetam a força das idéias de BECK, mas constituem uma advertência contra o uso acrítico de sua teoria, a partir de uma perspectiva universal que não considera as realidades díspares no que tange aos vários estágios de desenvolvimento da modernidade em cada sociedade. Aliás, é o próprio Beck que alerta sobre a existência não de uma, mas várias modernidades: BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo ..., p. 20: “A diferença entre a Primeira e a Segunda Modernidade – coisa que a própria denominação exprime – pressupõe que existam ‘as modernidades’, pressupõe uma comunhão de ‘modernidades’ que deve ser determinada, apreendida, desenvolvida, investigada e conquistada transnacionalmente, no confronto das experiências e projetos da periferia e do centro, asiáticas, africanas, chinesas, sul-americanas e do Atlântico Norte. Significa, pois, estabelecer uma diferença entre continuidade e ruptura. Em determinados elementos, há de se pressupor uma continuidade (por exemplo, no significado dos caminhos do desenvolvimento, dos direitos humanos e civis, assim como dos valores e dos pressupostos da democracia); outros em compensação, alteram-se fundamentalmente (por exemplo, o nacionalismo metodológico e o domínio do Ocidente, inclusive as ciências sociais, a serem superados por um ‘cosmopolitismo metodológico’)”. 23 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 25. 24 VEYRET, Yvette. Os Riscos – O Homem como Agressor e Vítima do Meio Ambiente. Trad. Dílson Ferreira da Cruz.São Paulo: Contexto, 2007, p.14-15. 25 PARDO, José Esteve. Técnica, Riesgo y Derecho – Tratamiento del Riesgo Tecnológico en el Derecho Ambiental. Barcelona: Ariel, 1999, p. 45. experimentado no século XX, o homem, que nos primórdios da Era Moderna tentava dominar a natureza, a fim de conter os riscos externos, passa a sofrer os efeitos de sua ação, com a reação do planeta à intervenção humana. É o que Anthony Giddens 26 chama de risco fabricado, que, como bem salienta Niklas Luhmann,27 não se confunde com o perigo, sempre exterior à ação do homem. São exemplos ilustrativos dos riscos naturais causados pela ação desordenada da humanidade, além do vazamento da usina nuclear de Chernobyl, o aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, o mau da vaca louca, na Inglaterra, as vicissitudes nas experiências genéticas e a devastação humana provocada pelos tsunamis na Ásia e na África. Apesar da repercussão recente dessas idéias entre os pensadores modernos, os riscos não são uma novidade de nossos tempos. A expressão risco surge nos idiomas espanhol e português nos séculos XVI e XVII para designar os perigos representados pelo desconhecido a ser encontrado nas grandes navegações por mares nunca dantes navegados. A precaução do risco nas navegações marítimas pela introdução dos seguros levou a expressão ao mundo dos negócios, onde foi utilizada para designar a álea dos contratos bancários e de investimentos, até ser generalizada para outras situações de incerteza.28 Ao contrário do que ocorria com os riscos naturais que eram pessoais, nos dias atuais, o risco é global,29 e atingindo as grandes massas e, em alguns casos, todos os seres humanos,30 como se dá com o efeito estufa ou com uma guerra nuclear. Da origem da palavra risco é extraída uma característica fundamental que, até hoje, é válida para a compreensão do fenômeno: a incerteza diante da novidade desconhecida e imprevisível. Mas se o risco diante da novidade desconhecida não é uma 136 exclusividade de nossos dias, devemos observar que hoje os riscos causados pelo próprio homem são tão ou mais importantes do que aqueles gerados pela natureza.31 Então, o que há de novo não é a incerteza ou o risco. Mas a origem deles, pois a maioria das incertezas que vivemos hoje foram criadas pelo próprio homem.32 Outra característica peculiar aos nossos tempos reside na imprevisibilidade desses riscos, o que se explica pelo incomparável avanço científico e tecnológico, que, embora deixe desconcertadas as pessoas comuns, são planejados pelos especialistas. Mas ao mesmo tempo, geram efeitos colaterais que não poderiam ser imaginados sequer pelos idealizadores de tais conquistas. Essa imprevisibilidade é mais óbvia quando consideramos que os riscos criados pelo homem nem sempre são fruto de uma ação consciente como os efeitos devastadores das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Quase sempre os riscos são frutos de medidas concebidas de acordo com fins que são caros à Era Moderna, como o desenvolvimento da ciência, o crescimento econômico e a busca do pleno 26 GIDDENS, Anthony. Mundo em Descontrole... , p. 24. LUHMANN, Niklas. Sociologia del Rischio. Trad. Giancarlo Corsi. Milano: Bruno Mondadori, 1996, p. 31-32, que identifica perigo como derivado do meio ambiente, e risco como fruto da decisão humana. No mesmo sentido: GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco... , p. 233. 28 GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco..., p. 32. 29 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 27. 27 30 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991, p. 43. 31 GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco... , p. 43. GIDDENS, “Risco, Confiança e Reflexidade”. In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 220. 32 emprego. No entanto, as medidas adotadas, mesmo quando atingem os seus esperados objetivos, acabam gerando efeitos colaterais imprevistos.33 Com a expansão da industrialização, os riscos se multiplicaram de forma nunca antes vista. O desaguadouro desse processo é a conjugação de crescimento econômico com a necessidade de isolamento dos riscos que ele produz,34 de acordo com consensos sobre estratégias gerais de proibição de atividades que, até então, eram consideradas vantajosas.35 Nesse contexto, diagnostica-se o fenômeno da ambivalência, com a resolução de determinados problemas gerando outros problemas,36 que muitas vezes causam danos que afetam gerações inteiras por muito tempo ou são até mesmo irreversíveis.37 A apuração da técnica na sociedade industrial disponibilizou a especialização para a resolução dos problemas. E quanto mais específico e concentrado se apresenta, o saber do especialista vai gerando a necessidade de novas especialidades para uma problemática que, até então, não era conhecida.38 Tamanha especialização, além de originar a crescente dependência de especialistas, acaba por gerar efeitos colaterais em outros campos da realidade, que não são dominados pela referida especialidade, gerando novos problemas, a exigir novas especialidades.39 Nessa lógica ambivalente, cada medida adotada para a solução de problemas de determinado grupo de pessoas traz em si mesma a criação de problemas para outro grupo de pessoas.40 Em consequência, a liberdade crescente de uns pode representar, ou até mesmo ser a causa, de uma maior opressão para outros.41 33 Ulrich Beck chega a falar em Era dos Efeitos Colaterais. (BECK, Ulrich. “Autodissolução e auto-risco da sociedade industrial: o que significa?” In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. 137 Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 208). 34 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 229. 35 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, p. 192. 36 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 227: “Cada resolução de problema gera novos problemas. (Somos quase tentados a dizer: o que passa por solução do problema A é a formulação dos problemas B, C, ... N que precisam ser resolvidos; o conhecimento aumenta durante a resolução de problemas, mas igualmente a quantidade de problemas.) De fato, é a ação voltada para um propósito que tem a maior responsabilidade pela geração dos aspectos da condição humana sentidos como desconfortáveis, preocupantes e que precisam ser retificados. Perseguindo um remédio específico para uma inconveniência específica, a ação induzida pelo especialista está fadada a desequilibrar tanto o ambiente sistêmico da ação quanto as relações entre os próprios atores. É o desequilíbrio artificialmente criado que se sente mais tarde como um “problema” e é visto assim como garantia para a formulação de novos propósitos”. 37 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Trad. Raúl Sanz Burgos e José Luis Muñuz de Baena Simon. Madrid: Trotta, 2006, p. 192. 38 FARIA, José Eduardo. “Estado, Sociedade e Direito”. In: FARIA, José Eduardo e KUNTZ, Rolf. Qual o Futuro dos Direitos? – Estado, Mercado e Justiça na Reestruturação Capitalista. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 61, comentando sobre os efeitos dos avanços científico-tecnológicos: “Afinal, quanto maior é a velocidade da sua expansão, de aumento da diversidade dos bens e serviços que sua evolução contínua propicia e do potencial de exploração da natureza, maior é a possibilidade de resultados não pretendidos e não previstos e maiores são as dúvidas, incertezas, perplexidades e perigos com relação aos seus efeitos e à gestão de seus desdobramentos, especificamente em matérias relativas ao bem-estar social e à segurança econômica”. 39 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 229. 40 A própria dinâmica do processo judicial revela essa ambivalência como observado por Ulrich Beck: “A ordem judicial não estimula mais a paz social, pois sanciona e legitima as desvantagens juntamente com as ameaças e assim por diante”. (BECK, Ulrich. “A Reinvenção da Política ...”, p. 29). 41 GIDDENS, “Risco, Confiança e Reflexidade”, p. 223. Como corolários do racionalismo característico da modernidade, a insegurança e o desconforto causados pela ambivalência tinham como resposta as classificações binárias, tão caras aos juristas seguidores da Jurisprudência dos Conceitos, e mais tarde, no século XX, aos positivistas normativistas. As classificações binárias ou duais pareciam conferir segurança em relação à ambiguidade, num verdadeiro culto à racionalidade.42 No entanto essa incessante busca pela ausência de incerteza mais corresponde a um suporte emocional43 utilizado para aplacar a ansiedade gerada pela ambivalência do que uma verdadeira representação da realidade,44 irredutível a essa lógica dual, mesmo no campo das ciências exatas onde há algumas décadas prepondera a lógica fuzzy.45 Diante da insuficiência dos modelos binários,46 tão caros à primeira modernidade, o desafio na sociedade de risco é conviver com a ambivalência, a partir de uma atitude 42 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 236: “O culto da racionalidade da escolha e da conduta é em si mesmo uma escolha, uma decisão de dar preferência à ordem sobre a surpresa, à constância de resultados sobre a sucessão aleatória de perdas e ganhos. Ela repudia a contingência e glorifica a ausência de ambigüidade. Além disso, apresenta a clareza plena do mundo da vida e uma chance de ganhos sem o risco de perdas como possibilidade real e um propósito sensato pelo qual lutar. Promete um mundo livre de incerteza, de tormentos espirituais, de hesitações intelectuais”. 43 GIDDENS compara essa necessidade de proteção contra a ansiedade gerada pela ambigüidade dos tempos modernos ao casulo protetor que os pais oferecem a seus filhos pequenos: “A confiança que a criança, em circunstâncias normais, investe nos que cuidam dela – argumento – pode ser vista como espécie de inoculação emocional contra ansiedades existenciais – uma proteção contra ameaças e perigos futuros que permite que o indivíduo mantenha a esperança e a coragem diante de quaisquer circunstâncias debilitantes que venha a encontrar mais tarde. A confiança básica é um dispositivo de triagem em relação a riscos e perigos que cercam a ação e a interação. É o principal suporte emocional de uma carapaça defensiva ou casulo protetor que todos os indivíduos normais carregam como meio de prosseguir com os assuntos 138 cotidianos,” (GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, p. 43). Em sentido mais radical, Jerome Frank, para quem a aspiração à certeza do Direito representa o prolongamento em adultos imaturos da necessidade infantil de buscar segurança na onipotência e infalibilidade do pai. Segundo o autor, típico representante do realismo norte-americano, a falta de maturidade de determinados homens, seu temor diante da responsabilidade e da liberdade, lhes faz projetar na lei, assim como na tutela jurisdicional, que encarnam a figura do pai-juiz, seu alento por redescobrir a segurança paterna perdida. (FRANK, Jerome. Law and the Modern Mind. New YorkLondon: Stevens, 6ª reimpressão, 1949, p. 7, apud PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica. 2.ed. Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 62). 44 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 70: “Nenhuma classificação binária pode se sobrepor inteiramente à experiência contínua e essencialmente não discreta da realidade. A oposição, nascida do horror a ambigüidade, torna-se a principal fonte de ambivalência”. 45 A Lógica Fuzzy foi criada em 1965 por Lofti Asker Zadeh e se baseia na teoria dos Conjuntos Fuzzy. De acordo com a lógica formal aristotélica, uma proposição lógica tem dois extremos: ou “completamente verdadeiro” ou “completamente falso”. Com a Lógica Fuzzy, uma premissa varia em grau de verdade de 0 a 1, o que leva a ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa. (KOSKO, Bart. Fuzzy Thinking. New York: Hyperion, 1993, p. 263). A importância da Lógica Fuzzy é encontrada na possibilidade de inferir conclusões a partir de informações vagas, ambíguas e imprecisas, aproximando os sistemas de bases da lógica humana, o que a torna extremamente relevante para as ciências humanas, notadamente a do Direito. Para Marco Aurélio Greco, a lógica Fuzzy melhor explica a realidade, que não mais se caracteriza pela lógica binária de que ‘algo é’ ou ‘não é’ alguma coisa ao mesmo tempo, mas pela idéia de que ‘algo é’ E ‘não é’ ao mesmo tempo. (GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética, 2000, p. 40): “O Homem é, por natureza, fuzzy”. 46 GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco ..., p. 197: “Nessa situação, portanto, a razão clássica, sustentada pela lógica binária, vai desarmada de encontro ao tempo. Nem a regularidade, nem a calculabilidade podem socorrê-la. A precariedade da razão deve ser assumida como ponto de partida. O risco, destarte, é uma modalidade secularizada de construção do futuro. Já que a perspectiva de risco torna plausível pontos de vista diferentes da racionalidade, na condição de que estes sejam capazes de rever os próprios pressupostos operativos e na condição de que, haja tempo para efetuar esta revisão, esta perspectiva é típica da sociedade moderna”. calculista em relação às possibilidades de ação,47 e do controle dos riscos pela probabilidade.48 Assim, pelo conhecimento da realidade passada, os agentes sociais assumem os riscos e procuram se precaver em relação à possibilidade de ocorrência dos perigos previstos por meio do seguro. Com a neutralização ou minimização dos riscos, num equilíbrio entre confiança e risco aceitável, atinge-se a idéia de segurança.49 No entanto, nem sempre é possível eliminar o risco, uma vez que este não se confunde com o dano, mas com o fim da confiança na segurança,50 o que antecede ao próprio dano, que muitas vezes acaba por não ocorrer. Assim, os riscos não são enfermidades a serem evitadas, pois neles residem as oportunidades51 para a evolução na sociedade de risco. Porém, é preciso promover a sua adequada distribuição e a arquitetura da sua definição, pois sua percepção quase nunca é imediata para a maioria das pessoas, uma vez que eles, não raro, se mostram invisíveis. A definição do risco se dá, inicialmente, por meio do conhecimento científico. Até bem pouco tempo atrás, o especialista era aquele que detinha as respostas objetivas, a partir da ciência. Seu posicionamento era inquestionável. Contudo, na sociedade de risco, a racionalidade científica não pode ser o único elemento dessa definição,52 dada a ambivalência geradora de efeitos colaterais a contrapor visões e interesses conflitantes na sociedade. Assim, há uma disputa pública quanto às definições de risco, não só em relação às conseqüências naturais e tecnológicas destes, mas especialmente sobre os seus efeitos secundários nos planos social, econômico e político.53 Portanto, na definição do risco se rompe o monopólio da racionalidade científica, guardando um significativo viés político.54 As constatações do risco são uma 139 simbiose entre as ciências naturais e as ciências do espírito, entre a racionalidade cotidiana e a racionalidade dos especialistas, entre os interesses e os fatos, a partir de uma 47 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade, p. 33. LASH, Scott. “A Reflexividade e seus duplos: Estrutura, Estética, Comunidade”. In: GIDDENS, Anthony, BECK, Ulrich e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Trad. Magda Lopes. 2. reimpressão. São Paulo: UNESP, 1997, p. 170. 49 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade, p. 43: “Pode-se definir ‘segurança’ como uma situação na qual um conjunto específico de perigos está neutralizado ou minimizado. A experiência de segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco aceitável”. Tanto em seu sentido factual quanto em seu sentido experimental, a segurança pode se referir a grandes agregações ou coletividades de pessoas – até incluir a segurança global – ou de indivíduos”. 50 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global, p. 214. 51 KAUFMANN, Arthur. Filosofía del Derecho. Trad. Luis Villar Borda e Ana María Montoya. Bogotá: Universidad Externato de Colombia, 1996, p. 530. 52 VEYRET, Yvette e RICHEMOND, Nancy Meschinet de. “Representação, Gestão e Expressão Espacial do Risco”. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os Riscos – O Homem como Agressor e Vítima do Meio Ambiente. Trad. Dílson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007, p. 56-57. 53 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 28 e 130. VIEILLARD-BARON, Hervé. “Os Riscos Sociais”. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os Riscos – O Homem como Agressor e Vítima do Meio Ambiente. Trad. Dílson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007, p. 305: “Tendo em conta a pluralidade dos atores implicados, a gestão dos riscos não pode ser colocada somente em termos técnicos ou estritamente securitários. Agora, essa gestão está inscrita na “era da negociação”, era que às vezes qualificamos ingenuamente como “nova”, mas que no decorrer da negociação coloca em evidência oposições manifestas entre interesses particulares, que são substituídos pelas associações com estreita base local, e interesses gerais, que são defendidos pelo Estado ou pelas grandes associações de utilidade pública”. 54 PARDO, José Esteve. Técnica, Riesgo y Derecho..., p. 68: “La opción sobre el tipo y nivel de riesgos que uma sociedad asume há de ser una decisión política, a través de sus instancias representativas”. 48 colaboração interdisciplinar dos grupos de cidadãos, empresas, governos, em que os pontos de vista dos diversos autores e vítimas não podem deixar de ser considerados, numa verdadeira luta de definições.55 Com isso, abre-se uma pluralidade conflitiva de definições sobre os riscos civilizatórios, numa variedade quase infinita de interpretações individuais,56 a ensejar a prevalência dos interesses dos grupos de pressão com maior poder econômico, legitimada pela burocratização cevada no autoritarismo científico.57 É que em face da ambivalência da sociedade de risco, a concepção tradicional de política perde a sua função de coordenação, tornando-se obsoleta, a partir da transnacionalização da economia e dos problemas ambientais, econômicos, migratórios e relativos à segurança pública. Nesse contexto, o Estado não mais consegue prevenir os riscos sociais, sem a ajuda dos especialistas,58 sendo obrigado, na elaboração normativa, a se valer de órgãos técnico-administrativos e organizações não-governamentais, a fim de não ficar refém de interesses privados, sempre tão articulados logística e tecnologicamente. É importante ressaltar que a ação desses grupos economicamente poderosos em escala global acaba sendo, em grande medida, facilitada pela lenta adaptação dos movimentos sociais organizados aos instrumentos de luta da sociedade pós-industrial, onde o conceito de classe,59 utilizado pela sociedade industrial para a divisão dos direitos sociais, não é suficiente para a divisão dos riscos sociais, a atingir indiscriminadamente (e em escala global) a todos os indivíduos, inclusive os causadores da atividade perigosa, naquilo que Beck denominou de efeito bumerangue. Não se está com isso sustentando uma postura ingênua de acreditar que a sociedade de risco tenha suprimido a sociedade de classes. Ao contrário, esta resta fortalecida, 140 com a concentração da riqueza na parte mais alta da sociedade e dos riscos na parte baixa, já que os ricos acabam por poder “comprar” segurança. É o que ocorre com o caso do aquecimento global causado pela emissão de gases, especialmente, pelos países mais industrializados, e que, de acordo com o II Relatório Mundial do Clima, divulgado em 55 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 35: “Al ocuparse de los riesgos civilizatorios, las ciencias ya han abandonado su fundamento en la lógica experimental y han contraído un matrimonio polígamo con la economía, la política y la ética, o más exactamente: viven con éstas sin haber formalizado el matrimonio”. 56 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 37. 57 FARIA, José Eduardo. “Estado, Sociedade e Direito”, p. 90: “Na medida em que provoca um deslocamento das tradicionais competências do Estado para organizações não-estatais capazes de promover a arbitragem em temas de alta complexidade técnica, forma encontrada pelo legislador para forjar consensos e/ou tentar neutralizar o inevitável desgaste político de decisões jurídicas tecnicamente equivocadas do ponto de vista material e com efeitos morais, sociais, econômicos e ambientais desastrosos, o problema da abertura do processo de elaboração legislativa aos saberes especializados e a determinados setores da sociedade está na sua ambigüidade. Em princípio, ela pode levar a um aprofundamento do regime democrático, uma vez que aumenta os mecanismos participativos, alarga o alcance dos procedimentos consultivos e amplia o escopo dos procedimentos deliberativos, permitindo assim maior envolvimento público na tomada de decisões vitais para a comunidade e, com isso, abrindo caminho para formas mais avançadas de cidadania. Mas, por outro lado, encerra o risco de sua ‘captura’ pelos setores sociais, econômicos e políticos interessados, que tendem a dispor e amplo controle da produção e circulação das informações específicas às suas respectivas áreas e campos de atuação, podendo assim resultar no retorno a velhas práticas decisórias de natureza corporativa ou, então, numa auto-produção do direito em circuito fechado e imune a controles externos”. 58 FRANKENBERG, Günther. A Gramática da Constituição e do Direito, p. 27-29. 59 Para Beck, o consumidor começa a substituir, em certa medida, o trabalhador como elemento de pressão social (BECK, Ulrich. O que é Globalização?..., p. 46). abril de 2007 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, provocará danos bem mais graves na África, Ásia e América do Sul, do que na América do Norte, Europa e Oceania.60 Todavia, é forçoso reconhecer que na sociedade de risco, notadamente nos países mais desenvolvidos, a utopia da igualdade, tão cara à sociedade industrial, tem sido muitas vezes substituída pela utopia da segurança. A solidariedade advém do medo e se transforma em nova força política, com a substituição da expressão “tenho fome”, que a caracterizou sociedade industrial, pelo grito “tenho medo”.61 Esse fenômeno explica o crescimento da extrema-direita, do racismo e da xenofobia nos países europeus e nos Estados Unidos, e constitui ameaça ao Estado de Direito, a partir do impulso em reorganizar o poder e as competências para o seu exercício, onde o estado de exceção ameaça em converter-se em estado de normalidade.62 Porém, como não é difícil perceber pelo exame da história recente da humanidade, o comprometimento da democracia a partir do reforço da segurança e do controle não passa de pretexto para a concentração de poder pelos governantes e a satisfação ilusória da necessidade de um conforto emocional para os governados, 63 dada à inocuidade da utilização dos mecanismos típicos da sociedade industrial nos dias atuais, por só combaterem os sintomas e não as causas da insegurança.64 As soluções baseadas no controle e no excesso de segurança são inócuas por partirem da lógica própria da primeira modernidade, que buscava a proteção quanto aos riscos em experiências vividas no passado, acabando por gerar mais insegurança.65 Contudo, na sociedade de risco o passado perde sua força para a explicação do presente,66 em virtude da imprevisibilidade dos perigos sociais e da ambivalência inerente às medidas 141 de proteção. Deste modo, os novos perigos globalizados destroem os pilares do cálculo convencional de segurança. A impossibilidade de explicar o presente com base no passado deriva da velocidade em que muda a forma de agir das pessoas, mais rápida do que o necessário para a sua consolidação em hábitos e rotinas. É o que Bauman chama de vida líquida, característica da sociedade líquido-moderna, em que as estratégias para a solução dos problemas, tornam-se obsoletas antes que possam ser apreendidas pelos seus agentes. 67 Assim, o 60 Jornal O GLOBO de 7 de abril de 2007, p. 26. BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 28, 41, 43, 55-56. 62 AGAMBEM, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci Poleti. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 19. 63 BAUMAN, Zygmunt. Em Busca da Política. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 56: “os governos não podem honestamente prometer aos cidadãos uma existência segura e um futuro garantido, mas podem, por ora, pelo menos eliminar parte da carga de ansiedade acumulada (e até lucrar com isso do ponto de vista eleitoral) demonstrando energia e determinação na guerra contra os estrangeiros à cata de emprego e outros alienígenas arrombadores de portões, intrusos que invadem os quintais nativos outrora limpos, tranqüilos, ordeiros, familiares”. 64 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global, p. 135. 65 TORRES, Ricardo Lobo. “A Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar”. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 436. 66 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global, p. 118. 67 BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 7-8: “Numa sociedade líquido-moderna, as realizações individuais não podem solidificar-se em posses permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos se transformam em passivos, e as capacidades, em incapacidades. As condições de ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se tornam obsoletas antes de os atores terem uma chance de aprendê-las efetivamente. 61 ideário do controle do pensamento social e da ação política pelo reforço da segurança, característico da primeira modernidade, está se tornando fictício na sociedade de risco, pois quanto mais tentamos colonizar o futuro, mais ele escapa ao nosso controle.68 Não se está com isso embarcando na onda da pós-modernidade conservadora que tende a considerar a segurança como inútil ou inalcançável. Mas de reconhecer que a recuperação da herança emancipatória da modernidade, ainda não realizada plenamente, leva implicitamente à revalorização da segurança como condição da existência coletiva,69 capaz de adequá-la aos nossos desafios. Com o pluralismo jurídico e a policentralidade do poder impostos pela Globalização, o que acaba por promover a flexibilização da soberania do Estado-Nação, os sistemas políticos e normativos baseados nos postulados deste encontram grandes dificuldades de atingir seus objetivos.70 Nesse contexto de crise da soberania do Estado Nacional, a Constituição deixa de ser reconhecida como uma norma fundamental71 e centro emanador de regras de todo o ordenamento jurídico e se converte em um centro de convergência de valores e princípios.72 Por isso, é imperiosa a busca de uma nova idéia de segurança jurídica, uma vez que na sociedade de risco, a certeza e a segurança não podem mais ser garantidas de forma absoluta no futuro, sendo relativas até mesmo em relação ao passado.73 Se no Estado Liberal o seguro Por essa razão, aprender com a experiência a fim de se basear em estratégias e movimentos táticos empregados com sucesso no passado é pouco recomendável: testes anteriores não podem dar conta das rápidas e quase sempre imprevistas (talvez imprevisíveis) mudanças de circunstâncias. Prever tendências futuras a partir de eventos passados torna-se cada dia mais arriscado e, freqüentemente, enganoso. É cada vez mais difícil fazer cálculos exatos, uma vez que os prognósticos seguros são ini142 magináveis: a maioria das variáveis das equações (se não todas) é desconhecida, e nenhuma estimativa de suas possíveis tendências pode ser considerada plena e verdadeiramente confiável. Em suma: a Vida Líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante”. 68 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global, p. 221. 69 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica, p. 23. 70 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 14-15: “E quanto mais veloz e acentuada é essa Globalização, dando origem a situações em que a idéia de um sistema econômico nacional auto-sustentado passa a ser visto como anacronismo, mais ela exerce um profundo impacto transformador nos sistemas políticos e normativos forjados em torno de determinados postulados (como o do monopólio do exercício legítimo da violência pelo Estado) e determinados princípios (como os da legalidade, da hierarquia das leis e da segurança do direito), levando seu poder de controle, decisão, direção e comando a ser crescentemente pressionado, condicionado e atravessado por uma pletora de entidades multilaterais, organizações transnacionais, grupos nacionais de pressão, instituições financeiras internacionais, corporações empresariais multinacionais etc.” 71 Para Kelsen, a norma fundamental é “o fundamento de validade das normas instituintes de uma ordem jurídica ou moral positiva, é a interpretação do sentido subjetivo dos atos ponentes dessas normas como de seu sentido objetivo”. (KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Trad. José Florentino Duarte, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986, p. 329). 72 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada, p. 34-35, que defende um papel constitucional na convergência de valores e princípios “em cujo âmbito teriam caráter absoluto apenas duas exigências constitucionais: do ponto de vista substantivo, os direitos fundamentais da cidadania e a manutenção do pluralismo axiológico, mediante a adoção de mecanismos neutralizadores de soluções uniformizantes e medidas capazes de bloquear a liberdade e instaurar uma sociedade amorfa e indiferenciada; do ponto de vista procedimental, as garantias para que o jogo político ocorra dentro da lei, isto é, de regras jurídicas estáveis, claras e acatadas por todos os atores”. 73 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2004, p. 58-59: “Segurança e certeza, portanto, só existem em relação ao passado porque este já aconteceu; mas não existem segurança e certeza absolutas para o futuro. A idéia de segurança e certeza para o futuro vinha de uma concepção de ciência objetiva que se apoiava numa idéia que via o mundo como algo estático era limitado à segurança dos negócios privados, no Estado Social evolui para a idéia de seguridade social, a prevenir os riscos advindos da doença, da velhice, do desemprego etc. Em qualquer desses cenários, o papel do segurador, seja a empresa seguradora a proteger os negócios privados, seja o Welfare State a tutelar os cidadãos em relação às misérias sociais, é o de redistribuir os riscos entre os integrantes do sistema. Assim, enquanto a empresa seguradora vai, a partir do cálculo de probabilidade de sinistro, distribuir o custo das indenizações pelos seus clientes, o Estado irá distribuir o custo das prestações sociais pelos contribuintes.74 O mesmo fenômeno ocorre em relação aos efeitos colaterais advindos da ambivalência da sociedade de risco, em que uma medida necessária para a coletividade acaba por gerar prejuízos a um determinado grupo.75 Se na sociedade industrial a discussão fundamental era como repartir a riqueza, na sociedade de risco o problema passa a ser como evitar, minimizar e repartir os riscos, num mundo onde a figura dos efeitos secundários, ocupa lugar de destaque.76 Da incessante busca de novos instrumentos de luta contra a ambivalência, em um ambiente em que o oferecimento de segurança torna-se tão importante quanto à garantia do bem-estar,77 o Estado é obrigado a distribuir não apenas benefícios, mas também os males sociais,78 a partir da análise do custo-benefício79 e da negociação entre e determinista. Esta idéia de segurança e certeza,que vinha de uma ciência e de uma filosofia deterministas, foi desmentida pela realidade porque o mundo está em mutação e a existência de sistemas longe do equilíbrio é algo sempre possível de ocorrer. (...) Em suma, certeza e segurança não temos para o futuro porque só podemos fazer previsões; e, para o passado, elas também são relativas porque vão depender dos documentos que tivermos e da interpretação que deles fizermos”. 74 GIDDENS, Anthony. Mundo em Descontrole... , p. 35: “O welfare state, cujo desenvolvimento pode ser retraçado até as leis de assistência social elisabetanas na Inglaterra, é essencialmente um sis- 143 tema de administração de risco. Destina-se a proteger contra os infortúnios que antes eram tratados como desígnio dos deuses – doença, invalidez, perda do emprego e velhice”.(...) “Os que fornecem seguro, seja na forma do seguro privado ou dos sistemas estatais de seguridade, essencialmente estão apenas redistribuindo risco”. 75 BECK, Ulrich. “A Reinvenção da Política ..”., p. 42: “Na sociedade de risco, as novas vias expressas, instalações de incineração de lixo, indústrias químicas, nucleares ou biotécnicas, e os institutos de pesquisa encontram resistência dos grupos populacionais imediatamente afetados. É isso, e não (como no início da industrialização) o júbilo diante deste progresso, que se torna previsível. Administrações de todos os níveis vêem-se em confronto com o fato de que o que planejam ser um benefício para todos é percebido como uma praga por alguns e sofre a sua oposição. Por isso tanto eles quanto os especialistas em instalações industriais e os institutos de pesquisa perderam sua orientação. Estão convencidos de que elaboraram esses planos “racionalmente”, com o máximo do seu conhecimento e de suas habilidades, considerando o “bem público”. Nisso, no entanto, eles descuram a ambivalência envolvida. Lutam contra a ambivalência com os velhos meios da não-ambiguidade”. 76 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia una nueva modernidad, p. 25-26. 77 GRIMM, Dieter. Constitucionalismo y Derechos Fundamentales, p. 191. 78 PARDO, José Esteve. Técnica, Riesgo y Derecho..., p. 58. No mesmo sentido: GIORGI, Raffaele de. Direito, Democracia e Risco..., p. 198: “O risco é modalidade de distribuição dos bads e não dos goods. O risco baseia-se na suportabilidade, na aceitação e não na certeza das próprias expectativas: por isso, os riscos não podem ser transformados em direito, ainda, que possam ser monetarizados. O risco sobrecarrega o direito: trata-se, no entanto, de estratégias de retardamento do risco, não de estratégias que evitam o risco. O sistema mais diretamente interessado é a economia: isto ocorre seja porque os riscos podem ser monetarizados, seja porque as possibilidades de dúvida são infinitas”. 79 SUSTEIN, Cass R. Risk and Reason – Safety, Law and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 7-8: “A deliberative Democracy does not simply respond to people’s fears, whether or not those fears are well-founded. Indeed, participants in a deliberative Democracy are alert to the fact that people might be frightened of risk that are actually quite small and different to risks that are extremely serious. In these circumstances, a quantitative analysis of risks, to the extent that it is possible, is indispensable to a genuinely deliberative Democracy. Deliberative democrats also know that “costs” are no mere abstraction. When the costs of regulation are high, real people will be hurt, through increased prices, decreased wages, os integrantes da sociedade,80 possibilitada pelo pluralismo político81 e conduzida com base no princípio da transparência.82 Em consequência, a idéia de segurança jurídica ganha uma nova dimensão, superando o modelo do Estado Liberal, onde representou a proteção do cidadão contra o poder do Estado, com a idéia de segurança jurídica, e do Estado Social, em que, na eterna busca da Justiça Social, ganhou a feição de seguridade social. No Estado Social e Democrático de Direito, marcado pela sociedade de risco, a segurança se traduz em seguro social.83 Nessa transição, que ainda não restou totalmente concluída nos dias atuais, a idéia de liberdade, que desde a Revolução Francesa se baseia na segurança do indivíduo contra o poder do Estado, ganha uma dimensão plural com a garantia da liberdade em relação ao outro.84 É por isso que Erhard Denninger,85 defende a superação do lema revolucionário de 1789, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, pela tríade Segurança, Diversidade e Solidariedade.86 Segundo o autor alemão, a Liberdade, de feição individual, passa a ser fundada na atividade estatal destinada a proteger os cidadãos contra os riscos sociais.87 A Igualdade and even greater unemployment. The key point is that the cost should be placed “on-screen”, so that if they are to be incurred, it is with knowledge and approval rather than ignorance and wishful thinking. An understanding of costs, no less than an understanding of benefits, is crucial to democratic deliberation”. 80 BECK, Ulrich. “A Reinvenção da Política”., p. 43. 81 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência, p. 60: “Só o pluralismo devolve a responsabilidade moral da ação a seu natural portador: o indivíduo que age”. 82 TORRES, Ricardo Lobo. “O Princípio da Transparência no Direito Financeiro”, Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Vol. VIII. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 136: “A transparência é o melhor princípio para a superação das ambivalências da Sociedade de risco. Só quando se desvenda o mecanismo do risco, pelo conhecimento de suas causas 144 e de seus efeitos, é que se supera a insegurança”. 83 TORRES, Ricardo Lobo. “O Princípio da Transparência no Direito Financeiro”, p. 136: “Os riscos e a insegurança da sociedade hodierna não podem ser eliminados, mas devem ser aliviados por mecanismos de segurança social, econômica e ambiental. A solidariedade social e a solidariedade do grupo passam a fundamentar as exações necessárias ao financiamento das garantias da segurança social”. Sobre a idéia do seguro social como fundamento do sistema tributário, vide DWORKIN, Ronald Is Democracy Possible Here? – Principles for a New Political Debate. Princeton: Princeton University Press, 2006, p. 116: “We can design a tax system to correct that unacceptable source of inequality by imagining what the total premium cost would be if everyone in the community bought that level of insurance and then by fixing aggregate annual taxes to provide a sum equal to that aggregate hypothetical insurance premium. By hypothesis, the aggregate premium would produce enough revenue that the community could then provide compensation to those with bad luck in the amount they would have been entitled to have if everyone had bought insurance at that level. That compensation might take the shape of direct transfers – for medical cost reimbursements or unemployment compensation, for instance – or public spending to provide the benefits such people would have insured to have through a single-payer health care system, for example”. 84 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro – Estudos de Teoria Política. Trad. George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 2002, p. 170. 85 DENNINGER, Erhard. “Segurança, Diversidade e Solidariedade ao invés de Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos 88: 21-45, 2003. 86 A nova tríade recebe a crítica de Habermas, para quem a proposta de Denninger não supera a tríade tradicional, mas apenas torna explícito o que é inerente a esta nas circunstâncias atuais. (HABERMAS, Jürgen, “Remarks on Erhard Denninger’s triad of diversity, security and solidarity”. In: Constellations, v. 7, n.4, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000, p. 524). Por sua vez, a proposta também é rechaçada por Michel Rosenfeld, que preconiza que a tese seria fortemente refutada nos EUA, uma vez que a doutrina americana demonstra-se muito vinculada ao individualismo liberal lockeano. (ROSENFELD, Michel. “O Constitucionalismo Americano Confronta o Novo Paradigma Constitucional de Denninger”. In: Revista Brasileira de Estudos Político 88: 47-79, 2003), muito embora, reconheça o autor americano, em outra obra (ROSENFELD, A identidade do Sujeito Constitucional. Trad. Menelick de Carvalho Netto. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 29-30), que o constitucionalismo moderno não pode evitar o outro como conseqüência do pluralismo que lhe é inerente. 87 DENNINGER, Erhard. “Segurança, Diversidade e Solidariedade ...”, p. 37: “ Segurança não significa mais, antes de tudo, a certeza da liberdade do cidadão individual, mas sim o prospecto da dá lugar à Diversidade, com o reconhecimento e a consideração das necessidades especiais de cada respectivo grupo, responsável por definir as suas próprias necessidades. Com cada um dos grupos acentuando alguns aspectos de uma compreensão do que seria o bemcomum, obtém-se uma síntese que produz uma concepção pluralista do bem-comum.88 A Fraternidade, que pressupõe a identificação com um grupo particular, é superada pela Solidariedade, que significa um vínculo de sentimento que independe de limites substantivos ou pessoais, se dirigindo ao ser humano, independentemente de quem seja.89 De acordo com esses novos paradigmas, a tolerância com o outro, como afirma Kaufmann, constitui uma das principais virtudes da sociedade de risco.90 Fazendo coro com Denninger, Günther Frankenberg sustenta que, embora a tríade de 1789 ainda não possa ser superada, deve ser adaptada à ambivalência da sociedade de risco, a partir de uma gramática normativa complexa que compreenda diferença, assistência, solidariedade, empatia, auto-responsabilidade pelas bases naturais da vida, pela próxima geração, pelos ainda não-nascidos etc.91 Para Peter Häberle,92 que sustenta a atualidade da tríade de 1789, a liberdade é atualmente representada pelo princípio da irrenunciabilidade do passado, com a preservação do conteúdo do art. 16 da Declaração de Direitos do Homem de 1789: separação de poderes e direitos humanos, e implicitamente, a primazia da Constituição; a igualdade pelo princípio da esperança, traduzido na idéia de sociedade aberta de Karl Popper, consagrando os direitos individuais e coletivos; e a fraternidade, segundo ainda o constitucionalista alemão, seria hoje identificada com o princípio da responsabilidade, de Hans Jonas,93 baseado no compromisso das gerações atuais com as futuras gerações, sobretudo em matéria de seguridade social. A partir dessa nova dimensão da segurança, o Estado garante proteção aos cidadãos contra os riscos sociais, a partir de “uma nova comunhão de responsabilidade entre o cida- 145 dão e o Estado, ou uma nova comunhão de riscos e chances.” 94 Por esta perspectiva, a idéia de segurança se desamarra da mordaça individualista liberal, bem como dos excessos socioatividade ilimitada e infindável patrocinada pelo Estado em favor da proteção dos cidadãos contra perigos sociais, técnicos e ambientais, bem como contra os perigos da criminalidade”. 88 DENNINGER, Erhard. “Segurança, Diversidade e Solidariedade ...”, p. 32. 89 DENNINGER, Erhard. “Segurança, Diversidade e Solidariedade ...”, p. 35.: “A solidariedade não conhece limites substantivos ou pessoais; ela engloba o mundo e se refere à humanidade. Ela reconhece o outro não apenas como um “camarada” ou como membro de um particular “nós-grupo”, mas antes como um “Outro”, até mesmo um “Estranho”. Isso distingue a solidariedade da “fraternidade”, que enfatiza o sentimento”. 90 KAUFMANN, Arthur. Filosofía del Derecho, p. 516. 91 FRANKENBERG, Günther. A Gramática da Constituição e do Direito, p. 29-30. 92 HÄBERLE, Peter. Libertad, Igualdad, Fraternidad. 1789 como Historia, Actualidad y Futuro del Estado Constitucional. Trad. Ignácio Gutiérrez Gutiérrez. Madrid: Trotta, 1998, p. 87-90. 93 JONAS, Hans. O Princípio da Responsabilidade – Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 89-90: “Já existe na moral tradicional um caso de responsabilidade e obrigação elementar não recíproca (que comove profundamente o simples espectador) e que é reconhecido e praticado espontaneamente: a responsabilidade para com os filhos, que sucumbiriam se a procriação não prosseguisse por meio da precaução e da assistência. (...) É um dever desse tipo que se trata, no caso da responsabilidade em relação à humanidade futura. Em primeiro lugar, isso significa um dever para com a existência da humanidade futura, independentemente do fato de que nossos descendentes diretos estejam entre ela; em segundo lugar, um dever em relação ao seu modo de ser, à sua condição”. 94 SILVA NETO, Francisco e IORIO FILHO, Rafael M. “A Nova Tríade Constitucional de Erhard Denninger”. In: DUARTE, Fernanda e VIEIRA, José Ribas (org.), Teoria da Mudança Constitucional – Sua Trajetória nos Estados Unidos e na Europa. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 282: “Esta diferença se traduz na figura de um cidadão ativo no processo de decisão política e administrativa e na sua vigilância e responsabilidade na co-participação da efetiva proteção e tutela dos princípios basilares do ordenamento jurídico e dos princípios invioláveis da pessoa”. lógicos da Jurisprudência dos Interesses, para atingir uma dimensão valorativa que vai atuar na legitimação de todos os direitos do cidadão, não mais como um apanágio da defesa do indivíduo contra um poderoso Estado-Nação, que, cada vez mais, vai perdendo importância como fonte de poder no mundo globalizado, mas sim um mecanismo de garantia aos direitos fundamentais de todos. Nesse sentido, o poder deixa de ser um obstáculo à liberdade, passando a ser o seu próprio veículo, a partir da capacidade de obter resultados,95 pois não tendo se concretizado a expectativa de que a sociedade estaria habilitada, a partir de si mesma, a conferir bem-estar social e justiça, estas passam a depender da atuação estatal.96 Como destaca Perez Luño, nos dias atuais, a segurança dos direitos do cidadão é muito mais ameaçada pela falta de resposta do Estado aos seus misteres sociais do que pela sua hipertrofia, como ocorria antes do advento do Estado Social.97 A insegurança social gerada pela ausência de cumprimento das prestações estatais vinculadas ao mínimo existencial é permanente motivo de crise que põe em risco o próprio regime democrático.98 Nesse sentido, “a liberdade individual só pode ser produto do trabalho coletivo,”99 sendo a atuação do Estado indispensável para garantir o mínimo existencial, a fim de proteger a massa de excluídos.100 Deste modo, a conscientização da insegurança inerente à sociedade de risco, fundada na auto-reflexão sobre os perigos da modernidade industrial desenvolvida,101 é uma oportunidade de superação dos modelos do individualismo liberal e excludente, para que seja encontrada mais igualdade, mais liberdade e mais capacidade de autoconstrução, a permitir que sejam afastados as limitações e imperativos funcionalistas do fatalismo do progresso da sociedade industrial,102 e que sejam abertos os caminhos para a construção de um modelo de segurança plural, que atenda aos interesses de todos os segmentos da sociedade. 146 É que a ambivalência da sociedade de risco e a tomada de consciência de que os custos dos direitos são repartidos por toda a sociedade, levam à relativização do caráter absoluto dos direitos fundamentais positivos quando apreciados sob uma perspectiva exclusivamente individual. A formulação de políticas públicas a partir de escolhas difíceis, que sempre vai deixar de atender a uma série de direitos fundamentais legitimamente reivindicados, é o preço a ser pago para a preservação de recursos destinados a atender, na maior extensão possível, os mais elementares direitos necessários ao atendimento à dignidade da pessoa humana, notadamente às prestações essenciais à sobrevivência digna dos mais pobres, o que reforça a necessidade da participação social na elaboração do orçamento, e a sua efetivação do Poder Executivo. 95 GIDDENS, Anthony. A Constituição da Sociedade. Trad. Álvaro Cabral. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 302-303. 96 GRIMM, Dieter. Constituição e Política, p. 64: “o bem-comum não mais pode ser aspirado apenas por limitação do Estado, mas exige também ativação estatal”. 97 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica, p. 22. 98 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de Exceção Permanente ..., p. 179: “A nova geopolítica monetária e a concentração de decisão sobre investimentos, segundo Fiori, torna a sua capacidade de retaliação econômica o fundamento último da soberania no que diz respeito às políticas econômicas dos Estados periféricos. Isto gera, no médio e no longo prazos, a deslegitimação democrática, o esfacelamento do Estado e formas cada vez mais sofisticadas de autoritarismo. Com a Globalização, a instabilidade econômica aumentou e o recurso aos poderes de emergência para sanar as crises econômicas passou a ser mais utilizado, com a permanência do estado de emergência econômico”. 99 BAUMAN, Zygmunt. Em Busca da Política, p. 15. 100 PIRES, Adilson Rodrigues. “O Processo de Inclusão Social sob a Ótica do Direito Tributário”. In: PIRES, Adilson Rodrigues e TÔRRES, Heleno Taveira. Princípios de Direito Financeiro e Tributário – Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 95. 101 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo Global, p. 127. 102 BECK, Ulrich. La Sociedad Del Riesgo – Hacia uma nueva modernidad, p. 287. Subsídios ao conceito de raridade poder e violência segundo J. P. SARTRE Sebastião Trogo Resumo O presente artigo pretende analisar o conceito de raridade poder e violência segundo SARTRE. Palavras-chave: Filosofia. Raridade. Sartre. Abstract This article analyzes the concept of rare power and violence according to Sartre. Keywords: Philosophy. Rarity. Sartre. A noção central da Crítica da Razão Dialética é a RARIDADE pois é nela que se enraizará a semântica do PODER POLÍTICO. Nem a violência, nem a mistificação, nem a alienação, nem o inimigo, nem a morte não são suficientes para a construção do conceito de PODER POLíTICO na análise ascendente que Sartre elabora na Crítica, para tecer o conceito de PODER. Entretanto, a semântica da raridade parece ser mais promissora. A raridade, de início, se funda no aspecto puramente quantitativo do termo. Diz 147 Sartre: "que/s que soient lês hommes et les événements, ils apparaissent dans le eadre de Ia rareté, e'est-á-dire d'une soeiété ineapable de s'affranehir de ses besoins, dane de Ia nature, et qui se définit par lá même selon ses teehniques et ses outils".1 A raridade se apresenta, portanto como fato empiricamente comprovável, como insuficiência de recursos na satisfação das necessidades de uma sociedade. Ela é universal, pois, afeta os homens e os acontecimentos "quaisquer que eles sejam", e também contingente, pois, podemos conceber uma sociedade livre da raridade, embora, de fato, a história de cada sociedade é uma luta sem quartel contra a raridade. Contingente e universal, é a raridade "que faz de nós estes indivíduos, produtores desta História e que se definem como homens.2 A raridade funda a possibilidade de nossa História, que até agora não passou da História de homens necessitados. "... dizer que nossa História é historia dos homens ou dizer que ela nasceu e se desenvolve no quadro permanente de um campo de tensão engendrado pela raridade, é uma só e mesma coisa".3 Nosso mundo é o mundo da raridade e, portanto da História. Não há história sem raridade. É evidente que esta não produz a história como uma espécie de causalidade material, mas a raridade é o seu topos, o seu caldo, o seu meio. Mesmo lutando permanentemente para ultrapassar a raridade, o homem a introjeta na sua práxis de tal forma que a raridade se transforma num monstro que renasce das próprias cinzas, sob a forma de contra finalidade. Assim a satisfação plena dos meios individuais de condução engendra outra raridade, a do espaço urbano. Enfim, este é o fato primordial: "i1 n'y a pas as-ez pour tout le monde".4 ________________ 1 C.RD., p. 85. 2 C.RD., p. 201. 3 C.RD., p. 204. 4 C.RD., p. 204. Aspecto Qualitativo da Raridade Na primeira parte da Crítica, destacamos algumas passagens que apontam para o qualitativo da raridade: - "a raridade como primeira unidade vem à matéria pelos homens e torna aos homens através da matéria5 - relação vivida de uma multiplicidade prática com a matéria e no interior da matéria6 - relação unívoca de cada um e de todos com a matéria7 - relação do indivíduo com o seu ambiente8 - determinação da relação geral de uma práxis dialética e múltipla com a materialidade9 Se a raridade enquanto quantitativa acusa a insuficiência material de alguma coisa, qualitativamente ela é uma substância segunda que se descobre a partir de uma práxis que modificou a natureza para obter a satisfação de uma necessidade concreta. A matéria transformada e totalizada pela práxis livre é o que Sartre chama de campo prático que une negativamente os homens numa espécie de totalização inerte. Esta negatividade aparece como mediação da matéria "enquanto humana". Assim, a vida do homem sobre a terra é inconcebível sem luta, mas luta não puramente contra a natureza, mas dos homens entre si, num antagonismo prático que se alimenta da preocupação em satisfazer necessidades. Pela raridade, a matéria, passivamente, totaliza a multiplicidade humana como conjunto em permanente ameaça de morte, uns contra os outros. É o outro que engendra a matéria rara. Daí, a união dos homens inspirar-se na possibilidade permanente de uma destruição de todos e de cada um através da práxis.10 A igualdade dos homens se funda na ameaça de que todos são algozes e vítimas: celeiros cheios e barrigas vazias são elos da mesma corrente. A multiplicidade humana se une pela negação da matéria estruturando a presença de todos com todos e por todos. Esta presença proveniente de uma compreensão que se origina da raridade tem a sua efetivação minada pela 148 própria raridade que os une pelo medo e os separa para sobreviver. Para estabelecer a igualdade entre consumidores e bens de consumo, só há uma saída cruel - eliminar consumidores, ou seja, definir os excedentes. De mil modos, os excedentes vão ocupando o seu lugar: – todos os crimes contra a vida – controle de natalidade – vilização do trabalho – inacessibilidade ao mlnlmo de saúde, instrução, moradia, alimentação, vestuário, condução, lazer, etc. – sistema automático de vilização do poder de compra por um expediente grosseiro de má fé chamado inflação.' Mas o que há de mais perverso na definição dos excedentes, é que a quantidade de bens define o número dos que vão morrer, mas não diz quais.11 Assim, ninguém tem a vida assegurada. Todos são ao mesmo tempo excedentes e eventuais sobreviventes. Assim que os bens se tornaram raros com a definição dos excedentes, o meio social se compõe de inimigos potenciais todos e reais concretos em cada situação vivida. Ao definir o inimigo, eu me incluo na definição. Cada um aparece como Outro a quem terei que ceder lugar na existência ou que me cederá seu lugar para que a vida prossiga. Esta é a forma mais radical de alienação e com ela se estabelece o campo da raridade. As relações deste campo são inumanas. "Nada { .. } poderia ser mais terrível para o homem do que uma espécie inteligente, cruel, que pudesse compreender e desmontar a inteligência humana e cujo fim fosse, precisa________________ 5 C.RD., p. 202. 6 C.RD., p. 202 7 C.RD., p. 207. 8 C.RD., p. 204. 9 C.RD., p. 202. 10 C.RD., p. 204. 11 C.RD., p. 205. mente, a destruição do homem. Esta espécie é evidentemente a nossa na apreensão de cada homem e de todos eles no meio da raridade.”,12 A Violência É neste momento que se criam as condições para o surgimento de uma fundação ética concebida como "a práxis que se aclara a si mesma sobre as bases de circunstâncias dadas". A primeira formulação do ético é constituir o Outro em mal radical, como aquele que traz em si a suprema negação: A MORTE! Esta tese, Sartre a defendeu em Saint Genet e a ilustra em O Diabo e o bom Deus. A máxima desta ética maniqueana se apresenta com um imperativo destrutivo: o mal deve ser eliminado, ou seja, o Outro como encarnação do mal deve desaparecer do campo prático. Assim, se constitui o inimigo não como simples concorrente, mas como um ser ontologicamente mau. Este é o caldo da violência que é exigida pela própria "estrutura da ação humana sob o reino do maniqueísmo e no quadro da raridade".13 A violência é a maneira particular com que os homens interiorizam o fato da raridade e que se traduz como destruição do Outro na sua práxis. A violência se instala como uma necessidade histórica que só desaparecerá com a raridade que a funda ... "14 Uma vez justificada a violência na sua forma originária, ela se desdobra sob formas derivadas, na figura da contra-violência, ou seja: há uma violência má, a do outro, há uma violência boa, a minha. A partir daí, estamos no reino da violência e as condições necessárias para o surgimento do poder político ou o Estado. O Poder Nesta luta - que é o trabalho do homem sobre o homem, o grupo favorecido por 149 uma correlação de força descobre sua atividade guerreira sob a forma de um poder que aparece como a "eficácia de uma práxis humana, através da matéria, contra a práxis de outro e a possibilidade de transformar um objeto objetivante em objeto absoluto"15 ou como dissera Sartre em 1956: "A política, qualquer que ela seja, é uma ação dirigida em comum por certos homens contra outros homens".16 O poder, portanto, é práxis, isto é, superação que se coloca contra uma outra práxis, ou melhor, trata-se de um conflito de liberdades, na medida em que práxis e liberdade são uma e mesma coisa. Quanto à eficácia, concebamo-Ia como a capacidade real de uma práxis de atingir um fim determinado: vencer o inimigo pela transformação do homem que age sobre a matéria (objeto objetivante) em homem matéria inerte (objeto absoluto). Na base do conceito de poder, nessa ótica sartreana, está o projeto fundante de superar a raridade como perigo de morte para cada um dos grupos antagonistas, colocando em destaque o caráter dramático do poder, de vez que, no fundo, ele é uma luta coletiva contra a morte. Em termos mais crus, o poder político é exatamente a performance de uma práxis - de uma classe - para determinar e impor uma determinada ________________ 12 C.RD., p. 208. 13 C.R.D., p. 209. 14 Vários intérpretes de Sartre, como Robberechts, Jean Lacroix, Dina Dreyfus, Remi Boucher, Hanna Adrendt, Frantz Fanon, Cfr. Robberechts, Ludovic, “Critique de Ia raison dialectique de Jean-Paul Sartre”. In La Revue Nouvelle (Tournai), Tome XXXV, N° 3, 15 mars 1962; Lacroix, Jean. Panorama de Ia philosophie française contemporaine. Paris, Presses Universtaires de France, 1968; Dreyfus, Dins. “J-P. Sartre et lê Mal radical: de l’Être et le Néant a Ia critique de Ia raison dialectique”. In: Mercure de France, Janvier, 1961: Arendt, Hanna. Du mensonge a Ia violence. Essais de politique contemporaine. Paris, Calmann-Levy, 1972; Boucher, Remi. “Quelques aspects moraux de Ia pensée de Sartre”. In: Revue Philosophique de Louvain, Tome 71, 1972. 15 C.R.D., p. 211. 16 Le Fantôme de Staline, p. 147. estruturação de raridade e uma certa escala de satisfação de necessidades aos diferentes grupos de uma sociedade. Enfim, é a capacidade de definir os excedentes absolutos os condenados a morrer, os sub-alimentados crônicos, os doentes, os analfabetos, etc. A sociedade contemporânea "escolhe discretamente seus mortos na simples repartição de postos17 { ... } "as instituições sociais não passam de escolha estratificada e inerte que uma sociedade faz de seus mortos"18 São as instituições que mediatizam a violência e suas manifestações práticas. Numa sociedade de classes, é preciso matar, mesmo se a matança tiver o nome de acidente de trânsito, acidente de trabalho, infecção hospitalar, mortalidade infantil, aposentadoria, desemprego, subemprego, salário mínimo, inflação, segurança, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Se a História deve ser inteligível, é porque a "negação deve ser dada a priori e na primeira indiferenciação, seja ela comuna agrícola ou horda nômade. E esta negação é a negação interiorizada de alguns homens pela raridade, isto é, a necessidade que tem a sociedade de escolher seus mortos e seus sub-alimentados."19 Quem define os excedentes detêm o poder, mas de tal modo que tal circunstância não o exclua do destino do grupo: um governante é passível de uma infecção hospitalar, de um atentado, de um acidente automobilístico. Como os membros do poder não produzem, eles agravam a raridade, daí decorre uma situação ambivalente: por um lado eles definem os excedentes, por outro, eles próprios são excedentes em potencial. Assim, como detentores do poder, isto é, deliberam sobre os que vão morrer, eles podem se colocar no final da lista, como agravadores da raridade, podem ser liquidados pela maioria. Deste modo, os detentores do poder interiorizam essa ambivalência e a re-exteriorizam comportando-se de dois modos distintos ou fundindo as duas modalidades: ou enfrentam os dominados como se fosse Outros que o homem, isto é, na qualidade de deuses; ou enfrentam os dominados como se 20 150 fossem, eles os mandantes, reduzida esta ao estado da sub-humanidade. Tais situações se estereotipam, líderes carismáticos uns, oligarcas, monarcas, classes dominantes, cidadãos da polis, reserva moral, defensores da pátria, etc. Se o desejo como ser da falta frustra a realização de seu conceito no objeto de sua satisfação. Se o objeto de sua satisfação tanto mais aguça a realização do desejo quanto mais raro for o seu ser. Segue-se que à suprema raridade corresponde ao supremo desejo. Ora o supremo desejo é o poder, porque só o poder pode satisfazer a todos os desejos, inclusive o de se colocar no último lugar da fila dos excedentes. Sendo o poder singular a satisfação do desejo do raro, ele é perseguido por todos, mas só realizável por poucos, porque ele se exerce na exata proporção da raridade de seu objeto. A ingente tarefa do poder será a de convencer a maioria de sua legitimidade. E seu argumento mais convincente, astucioso e sutil será o da representação. Todas as cartas do poder encimam esta mentirosa e tranquilizadora epígrafe: "Todo poder vem do povo e em seu nome será exercido". A astúcia de todas as democracias está o insano trabalho de convencer aos subordinados, as ditas bases, de que são eles os únicos e verdadeiros detentores do poder. Esta ingente tarefa do convencimento há de criar as categorias da ordem e da paz social. Há de criar e mobilizar instituições sob a égide da educação, da justiça, da religião para desviar a atenção dos excedentes. Tenho dito. Sebastião Trogo Maio de 2009 ________________ 17 C.RD., p. 205. C.RD., p. 206. 19 C.RD., p. 210. 20 C.R.D., p. 222. 18 Direitos Humanos à Boa Gestão Pública Antonio Carlos Flores de Moraes1 Resumo O presente artigo pretende analisar a relação dos direitos humanos à boa gestão pública. Palavras-chave: Direitos Humanos. Gestão Pública. Abstract This article aims to analyze the relationship of human rights to good public management. Keywords: Human Rights. Public Management. O preâmbulo da Declaração Universal Dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, demonstra de forma clara a mudança de perspectiva do tema em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, admitidos pela Convenção Nacional francesa em 1793 e afixada no lugar de suas reuniões. Enquanto esta2 estabelece os direitos de defesa dos cidadãos contra os atos do Governo que os oprimam ou aviltem pela tirania, aquela3 considera ser essencial que os direitos humanos sejam 1 Professor do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 2 Preâmbulo da Declaração de 1793: O Povo Francês, convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do Homem são as únicas causas das infelicidades do mundo, resolveu expor numa declaração solene estes direitos sagrados e inalienáveis, a fim de que todos os cidadãos, podendo comparar sem cessar os atos do Governo com o fim de toda instituição social, não se deixem jamais oprimir e aviltar pela tirania; para que o Povo tenha sempre distante dos olhos as bases da sua liberdade e de sua felicidade, o Magistrado, a regra dos seus deveres, o Legislador, o objeto da sua missão. 3 Preâmbulo da Declaração de 1948: Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum, Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 151 protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, clamando que o Estado participe diretamente da defesa à dignidade humana. Começa, então, a surgir uma nova forma de tratar os direitos humanos: eles se transformam em direitos fundamentais da cidadania. Trata-se de uma evolução à expressão direitos do homem utilizada pela Revolução Francesa, uma vez que confere a natureza social ao ordenamento jurídico internacional, fazendo com que o Estado reconheça ser a pessoa humana titular de Direito Público Subjetivo no que se refere à liberdade. Além do mais, esta Declaração sexagenária admite a intervenção do Estado no seio sociedade, como sendo necessária para que os indivíduos possam melhor desfrutar de seus direitos e de suas garantias. Tal garantia está expressamente prevista nos considerandos ao estabelecer que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Uma distinção entre direitos humanos (ou direitos do homem) e direitos fundamentais é estabelecida por Bruno Galindo, ao comentar que estes são representados por todos os direitos e garantias que estejam positivados seja em sede constitucional doméstica ou no âmbito internacional. De acordo com esta forma de classificação, pode-se concluir que a expressão “direitos dos homens” é usada no sentido de designar abstratamente e “com contornos mais amplos e imprecisos”, na forma dita por Galindo, os direitos naturais não positivados. O citado autor apresenta ainda uma definição para direitos humanos e direitos fundamentais, representando os primeiros aqueles positivados na esfera do direito internacional, enquanto 152 estes abrangeriam os direitos reconhecidos e protegidos pela Constituição. Neste mesmo ano de 1948, entrou em vigor a Constituição italiana, sendo a primeira pós II Guerra Mundial, trazendo em seu bojo toda a repulsa ao nazi-facismo e o respeito à dignidade humana. Assim, logo em seu início, a Constituição italiana define os Princípios Fundamentais, estabelecendo que: Art. 2 A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual quer nas formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social. Art. 3 Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais. Cabe à República remover os obstáculos de ordem social e econômica que limitando de fato a liberdade e a igualdade dos cidadãos, impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e a efetiva participação de todos os trabalhadores na organização política, econômica e social do País. Art. 4 A República reconhece a todos os cidadãos o direito ao trabalho e promove as condições que tornem efetivo esse direito. Todo cidadão tem o dever de exercer, segundo as próprias possibilidades e a própria opção, uma atividade ou uma função que contribua para o progresso material ou espiritual da sociedade. Inicia-se assim uma nova fase na formação do Estado, no qual o Poder Judiciário passa a garantir o respeito aos direitos fundamentais. Böckenförde ensina que, sobre a matéria, “há apenas duas possibilidades: decidir-se por direitos fundamentais como princípios e, com isso, por um Estado judiciário, ou decidir-se pela limitação dos direitos fundamentais à sua clássica função como direitos de defesa e, com isso, por um Estado legislativo parlamentar”.4 A nova fase é abraçada pelos Países membros da ONU ao adotar a Declaração de 1948, que concede uma face ativa aos Direitos Humanos, como se pode exemplificar com o art. XXI: 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. A Declaração de 1948 adota de forma clara os Direitos Humanos como princípios, contendo não apenas direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra o Estado, mas também e especialmente uma ordem objetiva de valores que fornecem diretrizes e impulsos para a legislação, a Administração Pública e a jurisprudência. Os oito artigos abaixo citados são o exemplo básico da objetividade das normas princípios5: Artigo XXII Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 153 organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo XXIII 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 4 Böckenförde, Ernest-Wolfgang, Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundechtsdogmatik in Ernest-Wolfgang Böckenförde (org.), Staat, Verfassung, Demokratie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991, pág. 198 apud ALEXY, Robert, Teoria dos Direitos Fundamentais – tradução da 5ª edição alemã (2006) de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pág. 578. 5 Robert Alexy (Teoria dos Direitos Fundamentais – tradução da 5ª edição alemã – 2006 - de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, pp. 90-91) diferencia regras e princípios da seguinte forma: O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio. (palavras com destaque feito pelo Autor) 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho 3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus interesses. Artigo XXIV Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Artigo XXV 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 154 Artigo XXVI 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de direito n escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Artigo XXVII 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Artigo XVIII Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. Artigo XXIV 1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. O mais importante nesses princípios, que envolvem não só o indivíduo, como também a sociedade e a Administração Pública, é que foram aceitos pela maioria dos governos signatários da Declaração de 1948, não se restringindo apenas a um só país, como a de 1793. Assim sendo, não há mais motivo para se preocupar na procura de um fundamento absoluto dos direitos do homem: o de que tais direitos derivam da essência ou da natureza do homem. Bobbio enfatiza que depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem “o problema dos fundamentos perdeu grande parte de seu interesse. Se a maioria dos governos existentes concordou com uma declaração comum, isso é sinal de que encontraram boas razões para fazê-lo. Por isso, agora não se trata tanto de buscar outras razões, ou mesmo (como querem os jusnaturalistas redivivos) a razão das razões, mas de pôr as condições para uma mais ampla e escrupulosa realização dos direitos proclamados [...] O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificálos, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político”. 6 Poucos meses após a assinatura da Declaração, a Assembléia Constituinte alemã promulgou a nova Constituição a 23 de maio de 1949, cujo texto foi aprovado por 53 votos a favor e 12 contra. Logo de início, a Constituição alemã estabelece os Direitos 155 Fundamentais, garantindo a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, devendo a autoridade pública respeitá-la e protegê-la. Os vinte e dois artigos que compõem esse capítulo estão assim divididos: Artigo 1 – Dignidade da pessoa humana; obrigatoriedade do respeito aos direitos fundamentais pelo Poder Público. Artigo 2 – Liberdade de ação; liberdade da pessoa; direito à vida. Artigo 3 – Igualdade perante a lei; igualdade de direitos entre homens e mulheres; proibição da discriminação. Artigo 4 – Liberdade de crença, de consciência e de confissão religiosa. Artigo 5 – Liberdade de opinião, de informação e de imprensa; liberdade de expressão artística e científica. Artigo 6 – Casamento e família; filhos naturais. Artigo 7 – Educação. Artigo 8 – Liberdade de reunião. Artigo 9 – Liberdade de associação. Artigo 10 – Sigilo da correspondência, do correio e das telecomunicações. Artigo 11 – Liberdade de circulação e de estabelecimento das pessoas. Artigo 12 – Liberdade profissional; proibição do trabalho forçado. Artigo 12ª – Serviço militar e alternativo obrigatório. Artigo 13 – Inviolabilidade de domicílio. 6 BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos - 13ª tiragem – tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, pp. 23-24. Artigo 14 – Propriedade, direito de sucessão, desapropriação. Artigo 15 – Socialização. Artigo 16 – Perda de nacionalidade; extradição. Artigo 16ª – Direito de asilo. Artigo 17 – Direito de petição. Artigo 17ª – Restrições aos direitos fundamentais no âmbito do serviço militar e do serviço alternativo. Artigo 18 – Privação dos direitos fundamentais. Artigo 19 – Restrição aos direitos fundamentais; respeito à sua essência e garantia do devido processo legal. Esse último artigo de número 197 trouxe uma novidade jurídica uma vez que adotou regras limitadoras do poder de regulamentação (seja por via legislativa ou executiva) dos direitos humanos sublimados na Constituição”.8 Sobre o tema, Siqueira Castro apresenta os seguintes exemplos: 1. Constituição da Alemanha de 1949, art. 19: Na medida em que, segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental pode ser restringido por lei ou com base numa lei, essa lei tem de ser genérica e não limitada a um caso particular. Além disso, a lei terá de citar o direito fundamental em questão, indicando o artigo correspondente. 2. Constituição portuguesa de 1976, com redação atualizada pela Lei Constitucional n° 1, de 1982, art. 18: 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições se limitar ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. 3. Constituição da Espanha de 1978, art. 53, item 1: Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, “a”. 156 Artigo 19 [Restrição aos direitos fundamentais; respeito à sua essência e garantia do devido processo legal] 7 8 1. Quando, segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental for restringido por lei ou em virtude de lei, essa lei será aplicada de maneira geral e não apenas para um caso particular. Além disso, a lei deverá especificar o direito fundamental afetado e o artigo que o prevê. 2. Em hipótese nenhuma um direito fundamental poderá ser afetado em sua essência. 3. Os direitos fundamentais se aplicarão igualmente às pessoas jurídicas nacionais, na medida em que a natureza desses direitos o permitir. 4. Quem tiver seus direitos lesados pelo Poder Público poderá recorrer à via judicial. Não havendo foro especial, o recurso deverá ser encaminhado à Justiça comum. Este parágrafo não interferirá no disposto na segunda frase do § 2 do artigo 10. SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto, A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais – ensaios sobre o constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, pág. 183. No Direito brasileiro, a Emenda Constitucional n° 3 de 1993 estabeleceu a possibilidade de ser arguida o descumprimento de preceito fundamental, bem como criou o efeito vinculante das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Esse texto sofreu alteração pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004, passando a vigir com a seguinte redação: § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. A Emenda n° 45 revoga também o § 3° do art. 103,9 constitucional, estabelecendo a legitimidade de quem pode propor as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. As novas regras constitucionais brasileira seguiram a tendência internacional adotada “a fim de proteger o conteúdo essencial dos direitos fundamentais e ao mesmo tempo salvar da mácula da inconstitucionalidade inúmeras leis que, ainda que tangencialmente, intercedem com o exercício das liberdades individuais, as Cortes com jurisdição constitucional conceberam engenhosas técnicas de orientação interpretativa dos atos legislativos, de maneira a precisar para os seus aplicadores o sentido e o alcance com que a norma deva ser aplicada (ou não deva ser aplicada), isto como condição para evitar a sua invalidação em face dos preceitos da Constituição. É que a 157 inconstitucionalidade ativa ou por via legislativa (que se distingue da inconstitucionalidade por omissão) decompõem-se em duas subespécies: a primeira delas configurada pela edição de ato incompatível com a Constituição, e a outra consistente na aplicação inconstitucional de norma primariamente válida”.10 Esta evolução do constitucionalismo decorreu do fato de que “a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa pretensão de eficácia (Geltungsanspruch) não pode ser separada das condições históricas de sua realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem ser desconsideradas”.11 9 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 10 SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto, 2005, PB.cit., pp. 183-184. 11 HESS, Konrad, A Força Normativa da Constituição – tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991, pp. 9-10. Assim, a partir da Constituição italiana de 1947 e alemã de 1949, influenciadas pela Declaração Universal Dos Direitos Humanos de 1948, o constitucionalismo deixa de ser estático, sendo tais modelos adotados posteriormente por Portugal, em 1976 e a Espanha, em 1978, bem como por nós em 1988. Diante desta nova realidade jurídica, torna-se indispensável que se defina o que venha a ser “direitos fundamentais”. Ferrajoli 12 propõe que direitos fundamentais são “aquellos derechos subjetivos que las normas de um determinado ordenamiento jurídico atribuyen universalmente a todos en tanto personas, ciudadanos y/o personas capaces de obrar. Los rasgos estructurales que, con base en esta definición, distinguen a estos derechos de todos los demás son tres, todos ellos independientes del contenido de las expectativas que tutelan: A) la forma universal de su imputación, entendiendo «universal» en el sentido lógico y no valorativo de la cuantificación universal de la clase de sujetos que, como personas, ciudadanos o capaces de obrar, sean sus titulares, B) su estatuto de reglas generales y abstractas, es decir, de lo que he llamado «normas téticas», en oposición a las «normas hipotéticas» que, en cambio, predisponen, como efectos hipotéticos, las situaciones singulares dispuestas por los actos, negociales por ejemplo, que prevén en hipótesis.13 C) su carácter indisponible e inalienable, en tanto incumben de igual forma y medida a todos sus titulares, por oposición a los derechos patrimoniales y las restantes situaciones singulares, que, en cambio,pertenecen a cada uno con exclusión de los demás. Gracias a la identificación de estos tres caracteres, uno corolario del otro, esta definición puramente formal dice – y no es poco – que, en caso de que se quiera tutelar un derecho como «fundamental», es preciso sustraerlo, de un lado, al intercambio mercantil, confiriéndolo igualmente mediante su enunciación en forma de una regla general 158 y, de otro, a la arbitrariedad política del legislador ordinario mediante la estipulación de tal regla en una norma constitucional colocada por encima del mismo”.14 Diante dessa definição de Ferrajoli pode-se concluir que a Teoria da Constituição é um desafio diante das posturas do pensamento positivista passadas e presentes, que procuravam retirar qualquer sentido axiológico às normas legais. A partir da segunda metade do Século XX, muda completamente a forma de interpretar as constituições porque os textos fundamentais passaram a se basear em valores, quando se referem à liberdade, à justiça, à igualdade, ao pluralismo político e sobre tudo à dignidade humana. 12 FERRAJOLI, Luigi, Los Funcdamentos de los derechos fundamentales – debate com Luca Bacelli, Michelangelo Bovero, Riccardo Guastini, Mario Jori, Anna Pintore, Ermanno Vitale y Danilo Zolo. Edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello - 3ª edición. Madrid: Editorial Trotta, 2007, pp. 291-292. 13 Na nota 5 do item III de seu livro, FERRAJOLI comenta que: como se recordará, he llamado «normas téticas» a las que inmediatamente disponen, em forma general y abstracta, lãs situaciones expresadas mediante ellas (por ejemplo, lãs que enuncian los derechos fundamentales, o las que imponen prohibiciones penales o las normas de la señalización vial) y «normas hipotéticas» a las que no disponen inmediatamente nada, sino que pre-disponen situaciones jurídicas como efectos de los actos previstos por ellas como hipótesis (por ejemplo, las normas del código civil que pre-disponen derechos patrimoniales u obligaciones civiles como efectos de actos negociales)(“Derechos Fundamentales”, supra, pp. 33-34, “Los Derechos Fundamentales en la teoría del Derecho,supra, pp. 155-156, n. 32). 14 Na nota 6 do item III de seu livro, FERRAJOLI comenta que: ambas técnicas de tutela son, obviamente, diferentes. En este sentido, solo la indisponibilidad de los derechos fundamentales em La contratación entre particulares – y no su inviolabilidad frente a la legislación ordinaria que se deriva, por su parte, de su rango constitucional y viene garantizada por la anulabilidad de las leyes que la contradigan – es corolario de mi definición, es decir, de la forma universal que a tales derechos otorga, independientemente de su contenido, su estatuto de reglas (por ejemplo: «todos tienen derecho a manifestar libremente su pensamiento»): un contrato en el que vendiera mi liberdad de manifestación del pensamiento sería inexistente, más que inválido, dado que no alteraría la regla constitucional o no, que atribuye tal libertad a «todos», yo incluído. A consequência imediata desta nova realidade é que se torna essencial a realização de uma profunda revisão das fontes do Direito, conforme opina Prieto Sanchís no sentido de que “sin duda menos estatalista y legalista, pero probablemente también más atenta al surgimiento de nuevas fuentes sociales”. Esta nova forma de conceber a norma jurídica permite definir a teoria de Direito neoconstitucionalista, conforme fez Prieto Sanchís, baseado em Paolo Comanducci, como “el positivismo jurídico de nuestros días”.15 Entre as fontes a serem levadas em consideração encontram-se os costumes, a ética e a moral, razão pela qual há uma nova discussão, agora com maior profundidade, acerca da possibilidade da ação política se submeter ao julgamento moral. Numa análise objetiva do tema deve-se fazer um retorno ao Estado pré-cristão, quando não existia uma moral institucionalizada, razão pela qual o contraste entre moral e política era menos evidente. No mundo grego não há uma moral, mas várias morais, aponta Bobbio.16 “Toda escola filosófica tem sua moral, prossegue o filósofo italiano, e onde existem diversas morais com que se pode confrontar a ação política, o da relação entre a moral e política não tem sentido preciso algum. O que despertou o interesse dos pensadores gregos não foi tanto o problema da relação entre ética e política, mas o da relação entre bom governo e mau governo, do qual nasce a distinção entre o rei e o tirano. Esta, porém, é uma distinção interna ao sistema político, que não diz respeito à relação entre um sistema normativo como a política e um outro sistema normativo como a moral. Isso ocorreria, porém, nos mundos cristão e pós-cristão”. (destaque nosso) No mundo de hoje, a união entre o bom governo e a moral é ressaltada por Raffaele Resta, quando conceitua que “boa administração exprime um conceito final: é a atividade 159 administrativa perfeitamente adequada no tempo e nos meios ao fim específico a alcançar”.17 Assim, a “boa administração” é um imperativo moral do Administrador público, “cuja violação, embora possa escapar às malhas da legalidade, pode prender-se nas da licitude”.18 O bom governo trata-se do “direito fundamental à boa administração pública eficiente e eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas, a tal direito corresponde o dever de a administração pública observar, nas relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios que a regem”.19 (destaques nossos) No conceito proposto, Juarez Freitas destaca que se abrigam, entre outros, os seguintes direitos: (a) o direito à administração transparente, que implica evitar a opacidade (princípio da publicidade, salvo nos casos em que o sigilo se apresentar justificável, e ainda assim não-definitivamente, com especial ênfase às informações inteligíveis sobre a execução orçamentária; 15 IDEM, pág. 135. BOBBIO, Norberto, Elogio da serenidade e outros escritos morais – tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora UNESP, 2002, p. 56. 17 RESTA, Raffaele, L’onere di buana amministrazione” In Scritti giuridici in onore di Santi Romano, 1940, apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 72. 18 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, 2000, ob.cit., p. 72 19 FREITAS, Juarez, Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 20. 16 (b) o direito à administração pública dialógica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa – é dizer, respeitadora do devido processo (inclusive com duração razoável), o que implica o dever de motivação consistente e proporcional; (c) o direito à administração pública imparcial, isto é, aquela que não pratica a descriminação negativa de qualquer natureza; (d) o direito à administração pública proba, o que veda condutas éticas nãouniversalizáveis; (e) o direito à administração pública respeitadora da legalidade temperada e sem “absolutização” irrefletida das regras, de modo que toda e qualquer competência administrativa supõe habilitação legislativa; (f) o direito à administração pública eficiente e eficaz, além de econômica e teleologicamente responsável, redutora dos conflitos intertemporais, que só fazem aumentar os chamados custos de transação.20 Além do mais, a boa administração e o bom governo têm um compromisso com a realidade, pois somente a partir dela se pode melhorar o presente para construir o futuro. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz comenta que “lo que llamamos el sentido de la realidad, la capacidad para disntiguir lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, lo pésimo y lo óptimo; el sentido práctico y la imaginación para abordar con decisión y con prudencia los problemas convenientemente priorizados; el equilibrio para que las soluciones no sean unidireccionales y tomen en cuenta a todos los sectores sociales, sin exclusión; la moderación, consecuencia lógica de todo lo anterior, que lleva de la mano a desechar 160 cualquier solución que se presente con pretensiones de globalidad y con etiqueta de definitiva; todo ello se puede denominar reformismo que, aplicado al gobierno y la administración, nos ayuda a entender una determinada versión de lo que puede ser el buen gobierno, la buena administración que, por supuesto, sólo faltaría, no puede tener aspiraciones de configuración úniva y universal, sino que se presenta como una aproximación al buen gobierno, a la buena administración desde los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario”.21 Estes pensamentos dos juristas italiano, brasileiro e espanhol demonstram por si só a relação entre o bom governo e a boa administração com o princípio da moralidade administrativa, sendo necessário observar, portanto, se o resultado da política pública adotada pela Administração visa a garantir a dignidade humana. E, na análise dos resultados das políticas públicas, deve-se ainda observar se as mesmas atenderam aos valores fundamentais da humanidade enfatizados na Declaração do Milênio das Nações Unidas22 que representa uma evolução da Declaração Universal Dos Direitos Humanos de 1948. Esta Declaração do Milênio de 200023, aprovada por refletir as preo20 IDEM, pp. 20-21. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime, El Buen Gobierno y La Buena Administración de Instituciones Públicas. Cizur Menor, Navarra: Editorial Aranzadi, 2006, p. 31. 22 NAÇÕES UNIDAS: Declaração do Milênio, pp. 3-4, disponível em http://www.pnud.org.br/ unv/ projetos.php?id_unv=22. A Declaração do Milênio foi aprovada pelas Nações Unidas no ano 2000 e os 191 países-membros da ONU, incluindo o Brasil, assumiram um compromisso universal com a erradicação da pobreza e com a sustentabilidade do Planeta. 23 Declaração do Milênio das Nações Unidas I - Valores e Princípios 1. Nós, Chefes de Estado e de Governo, reunimo-nos na Sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, entre os dias 6 e 8 de setembro de 2000, no início de um novo milênio, para re21 afirmar a nossa fé na Organização e em sua Carta como bases indispensáveis de um mundo mais pacífico, mais próspero e mais justo. 2. Reconhecemos que, para além das responsabilidades que todos temos perante nossas sociedades, temos a responsabilidade coletiva de respeitar e defender os princípios da dignidade humana, da igualdade e da equidade, no nível mundial. Como dirigentes, temos, um dever para com todos os habitantes de planeta, em especial para com os desfavorecidos e, em particular, com as crianças do mundo, a quem pertence o futuro. 3. Reafirmamos nossa adesão aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, que demonstraram ser atemporais e universais. De fato, sua pertinência e capacidade como fonte de inspiração aumentaram, à medida que se multiplicaram os vínculos e foi se consolidando a interdependência entre as nações e os povos. 4. Estamos decididos a estabelecer uma paz justa e duradoura em todo o mundo, em conformidade com os propósitos e princípios da Carta. Reafirmamos a nossa determinação de apoiar todos os esforços que visam respeitar a igualdade e soberania de todos os Estados, o respeito pela sua integridade territorial e independência política; a resolução dos conflitos por meios pacíficos e em consonância com os princípios de justiça e do direito internacional; o direito à autodeterminação dos povos que permanecem sob domínio colonial e ocupação estrangeira; a não ingerência nos assuntos internos dos Estados; o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais; o respeito pela igualdade de direito de todos, sem distinções por motivo de raça, sexo, língua ou religião; e a cooperação internacional para resolver os problemas de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. 5. Pensamos que o principal desafio com o qual nos deparamos hoje é conseguir que a globalização venha a ser uma força positiva para todos os povos do mundo, uma vez que, se é certo que a globalização oferece grandes possibilidades, atualmente seus benefícios, assim como seus custos, são distribuídos de forma muito desigual. Reconhecemos que os países em desenvolvimento e os países com economias em transição enfrentam sérias dificuldades para fazer frente a este problema fundamental. Assim, consideramos que, só através de esforços amplos e sustentados para criar um futuro comum, baseado em nossa condição humana comum, em toda a sua diversidade, pode a globalização ser completamente eqüitativa e favorecer a inclusão. Estes esforços devem incluir a adoção de políticas e medidas, a nível mundial, que correspondam às necessidades dos países em desenvolvimento e das 161 economias em transição e que sejam formuladas e aplicadas com a sua participação efetiva. 6. Consideramos que determinados valores fundamentais são essenciais para as relações internacionais no século XXI. Entre eles figuram: 1. A liberdade. Os homens e as mulheres têm o direito de viver sua vida e de criar os seus filhos com dignidade, livres da fome e livres do medo da violência, da opressão e da injustiça. A melhor forma de garantir estes direitos é através de governos de democracia participativa baseados na vontade popular. 2. A igualdade. Nenhum indivíduo ou nação deve ser privado da possibilidade de se beneficiar do desenvolvimento. A igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser garantida. 3. A solidariedade. Os problemas mundiais devem ser enfrentados de modo a que os custos e as responsabilidades sejam distribuídos com justiça, de acordo com os princípios fundamentais da equidade e da justiça social. Os que sofrem, ou os que se beneficiam menos, merecem a ajuda dos que se beneficiam mais. 4. A tolerância. Os seres humanos devem respeitar-se mutuamente, em toda a sua diversidade de crenças, culturas e idiomas. Não se devem reprimir as diferenças dentro das sociedades, nem entre estas. As diferenças devem, sim, ser apreciadas como bens preciosos de toda a humanidade. Deve promover-se ativamente uma cultura de paz e diálogo entre todas as civilizações. 5. Respeito pela natureza. É necessário atuar com prudência na gestão de todas as espécies e recursos naturais, de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. Só assim poderemos conservar e transmitir aos nossos descendentes as imensuráveis riquezas que a natureza nos oferece. É preciso alterar os atuais padrões insustentáveis de produção e consumo, no interesse do nosso bem-estar futuro e no das futuras gerações. 6. Responsabilidade comum. A responsabilidade pela gestão do desenvolvimento econômico e social no mundo e por enfrentar as ameaças à paz e segurança internacionais deve ser partilhada por todos os Estados do mundo e ser exercida multilateralmente. Sendo a organização de caráter mais universal e mais representativa de todo o mundo, as Nações Unidas devem desempenhar um papel central neste domínio. 7. Com vista a traduzir estes valores em ações, identificamos um conjunto de objetivos-chave aos quais atribuímos especial importância. II - Paz, Segurança e Desarmamento 8. Não pouparemos esforços para libertar nossos povos do flagelo da guerra - seja dentro dos Estados ou entre eles -, que, na última década, já custou mais de cinco milhões de vidas. Procuremos também eliminar os perigos que as armas de destruição em massa representam. 9. Decidimos, portanto: 1. Consolidar o respeito às leis nos assuntos internacionais e nacionais e, em particular, assegurar que os Estados-Membros cumpram as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, de acordo com a Carta das Nações Unidas, nos litígios em que sejam partes. 2. Aumentar a eficácia das Nações Unidas na manutenção da paz e segurança, dotando a Organização dos recursos e dos instrumentos de que esta necessita para suas tarefas de prevenção de conflitos, resolução pacífica de diferenças, manutenção da paz, consolidação da paz e reconstrução pós-conflitos. Neste contexto, tomamos devida nota do relatório do Grupo sobre as Operações de Paz das Nações Unidas e pedimos à Assembléia Geral que se debruce quanto antes sobre as suas recomendações. 3. Intensificar a cooperação entre as Nações Unidas e as organizações regionais, de acordo com as disposições do Capítulo VIII da carta. 4. Assegurar que os Estados participantes apliquem os tratados, sobre questões como o controle de armamentos e o desarmamento, o direito internacional humanitário e os direitos humanos, e pedir a todos os Estados que considerem a possibilidade de assinar e ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 5. Adotar medidas contra o terrorismo internacional e aderir o quanto antes a todas as convenções internacionais pertinentes. 6. Redobrar nossos esforços para pôr em prática o compromisso de lutar contra o problema mundial das drogas. 7. Intensificar a luta contra o crime transnacional em todas as suas dimensões, nomeadamente contra o tráfico e contrabando de seres humanos, e a lavagem de capitais. 8. Reduzir tanto quanto possível as conseqüências negativas que as sanções econômicas impostas pelas Nações Unidas possam ter nas populações inocentes, submeter os regimes de sanções a 162 análises periódicas e eliminar as conseqüências adversas das sanções para terceiros. 9. Lutar pela eliminação das armas de destruição em massa, em particular as nucleares, e não excluir qualquer via para atingir este objetivo, nomeadamente a possibilidade de convocar uma conferência internacional para definir os meios adequados para eliminar os perigos nucleares. 10. Adotar medidas concertadas para pôr fim ao tráfico ilícito de armas de pequeno calibre, designadamente tornando as transferências de armas mais transparentes e apoiando medidas de desarmamento regional, tendo em conta todas as recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio Ilícito de Armas Pessoais e de Pequeno Calibre. 11. Pedir a todos os Estados-Membros que considerem a possibilidade de aderir à Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Pessoais e sobre a sua Destruição, assim como às alterações ao protocolo sobre minas referente à Convenção sobre Armas Convencionais. 10. Instamos todos os Estados-Membros a observarem a Trégua Olímpica, individual e coletivamente, agora e no futuro, e a apoiarem o Comitê Olímpico Internacional no seu trabalho de promoção da paz e do entendimento humano através do esporte e do Ideal Olímpico. III - O desenvolvimento e a erradicação da pobreza 11. Não pouparemos esforços para libertar nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das condições degradantes e desumanas da pobreza extrema, à qual estão submetidos atualmente um bilhão de seres humanos. Estamos empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para todos e em libertar toda a humanidade da carência. 12. Em consequência, decidimos criar condições propícias, a nível nacional e mundial, ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza. 13. A realização destes objetivos depende, entre outras coisas, de uma boa governança em cada país. Depende também de uma boa governança no plano internacional e da transparência dos sistemas financeiros, monetários e comerciais. Defendemos um sistema comercial e financeiro multilateral aberto, eqüitativo, baseado em normas, previsível e não discriminatório. 14. Estamos preocupados com os obstáculos que os países em desenvolvimento enfrentam para mobilizar os recursos necessários para financiar seu desenvolvimento sustentável. Faremos, portanto, tudo o que estiver ao nosso alcance para que a Reunião Intergovernamental de Alto Nível sobre o Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará em 2001, tenha êxito. 15. Decidimos também levar em conta as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos. Neste contexto, parabenizamo-nos com a convocação da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos, que irá realizar-se em maio de 2001, e faremos tudo para que obtenha resultados positivos. Pedimos aos países industrializados: 1. que adotem, de preferência antes da Conferência, uma política de acesso, livre de direitos aduaneiros e de cotas, no que se refere a todas as exportações dos países menos desenvolvidos; 2. que apliquem sem mais demora o programa de redução da dívida dos países mais pobres muito endividados e que concordem em cancelar todas as dívidas públicas bilaterais contraídas por esses países, em troca deles demonstrarem sua firme determinação de reduzir a pobreza; e 3. que concedam uma ajuda mais generosa ao desenvolvimento, especialmente aos países que estão realmente se esforçando para aplicar seus recursos na redução da pobreza. 16. Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz os problemas da dívida dos países em desenvolvimento com rendimentos baixos e médios, adotando diversas medidas de âmbito nacional e internacional, para que a sua dívida seja sustentável a longo prazo. 17. Estamos também decididos a abordar de uma forma global e eficaz os problemas da dívida dos países em desenvolvimento com rendimentos baixos e médios, adotando diversas medidas de âmbito nacional e internacional, para que a sua dívida seja sustentável a longo prazo. 18. Reconhecemos as necessidades e os problemas especiais dos países em desenvolvimento sem litoral e por isso pedimos aos doadores bilaterais e multilaterais que aumentem sua ajuda financeira e técnica a este grupo de países, com o objetivo a satisfazer as suas necessidades especiais de desenvolvimento e ajudá-los a superar os obstáculos resultantes da sua situação geográfica, melhorando os seus sistemas de transporte em trânsito. 19. Decidimos ainda: 1. Reduzir pela metade, até o ano de 2015, a porcentagem de habitantes do planeta com rendimentos inferiores a um dólar por dia e a das pessoas que passam fome; do mesmo modo, reduzir pela metade a porcentagem de pessoas que não têm acesso à água potável ou carecem de meios para obtê-la. 2. Lutar para que, até esse mesmo ano, as crianças de todo o mundo - meninos e meninas - possam concluir o ensino primário e para que haja igualdade de gêneros em todos os níveis de ensino. 3. Até então, ter detido e começado a inverter a tendência atual do HIV/Aids, do flagelo da ma- 163 lária e de outras doenças graves que afligem a humanidade. 4. Prestar assistência especial às crianças órfãs devido ao HIV/Aids. 5. Até o ano 2020, ter melhorado consideravelmente a vida de pelo menos um bilhão de habitantes das zonas degradadas, como foi proposto na iniciativa “Cidades sem Bairros Degradados”. 20. Decidimos também: 1. Promover a igualdade de gêneros e a autonomia da mulher como meios eficazes de combater a pobreza, a fome e de promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 2. Formular e aplicar estratégias que proporcionem aos jovens de todo o mundo a possibilidade real de encontrar um trabalho digno e produtivo. 3. Incentivar a indústria farmacêutica a aumentar a disponibilidade dos medicamentos essenciais e a colocá-los ao alcance de todas as pessoas dos países em desenvolvimento que deles necessitem. 4. Lutar para que todos possam aproveitar os benefícios das novas tecnologias, em particular das tecnologias da informação e das comunicações, de acordo com as recomendações formuladas na Declaração Ministerial do Conselho Econômico e Social de 2000. IV - Proteção de nosso meio ambiente comum 21. Não devemos poupar esforços para libertar toda a humanidade, acima de tudo nossos filhos e netos, da ameaça de viver num planeta irremediavelmente destruído pelas atividades do homem e cujos recursos já não serão suficientes para satisfazer suas necessidades. 22. Reafirmamos o nosso apoio aos princípios do desenvolvimento sustentável, enunciados na Agenda 21, que foram acordadas na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento. 23. Decidimos, portanto, adotar em todas nossas medidas ambientais uma nova ética de conservação e de salvaguarda e começar por adotar as seguintes medidas: 1. Fazer tudo o que for possível para que o Protocolo de Kyoto entre em vigor de preferência antes do 10º aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, em 2002, e iniciar a redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa. 2. Intensificar nossos esforços coletivos em prol da administração, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas. 3. Insistir na aplicação integral da Convenção sobre a Diversidade Biológica e da Convenção das Nações Unidas da Luta contra a Desertificação nos países afetados pela seca grave ou pela desertificação, em particular na África. 4. Pôr fim à exploração insustentável dos recursos hídricos, formulando estratégias de gestão nos planos regional, nacional e local, capazes de promover um acesso eqüitativo e um abastecimento adequado. 5. Intensificar a cooperação para reduzir o número e os efeitos das catástrofes provocadas por seres humanos. 6. Garantir o livre acesso à informação sobre a seqüência de genoma humano. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio V - Direitos Humanos, Democracia e Boa Governança 24. Não pouparemos esforços para promover a democracia e fortalecer o estado de direito, assim como o respeito por todos os direitos humanos e liberdades fundamentais internacionalmente reconhecidos, principalmente o direito ao desenvolvimento. 25. Decidimos, portanto: 1. Respeitar e fazer aplicar integralmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. Esforçarmo-nos para conseguir a plena proteção e a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de todas as pessoas, em todos os países. 3. Aumentar, em todos os países, a capacidade de aplicar os princípios e as práticas democráticas e o respeito pelos direitos humanos, incluindo o direito das minorias. 4. Lutar contra todas as formas de violência contra a mulher e aplicar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 5. Adotar medidas para garantir o respeito e a proteção dos direitos humanos dos migrantes, dos trabalhadores migrantes e das suas famílias, para acabar com os atos de racismo e xenofobia, cada vez mais freqüentes em muitas sociedades, e para promover uma maior harmonia e tolerância em todas as sociedades. 6. Trabalhar coletivamente para conseguir que os processos políticos sejam mais abrangentes, de modo a permitirem a participação efetiva de todos os cidadãos, em todos os países. 7. Assegurar a liberdade dos meios de comunicação para cumprir a sua indispensável função e o direito público de ter acesso à informação. VI - Proteção dos grupos vulneráveis 26. Não pouparemos esforços para garantir que as crianças e todas as populações civis que sofrem 164 com as consequências das catástrofes naturais, de atos de genocídio, dos conflitos armados e de outras situações de emergência humanitária recebam toda a assistência e a proteção de que necessitam para poderem retomar uma vida normal quanto antes. Decidimos, portanto: 1. Aumentar e reforçar a proteção dos civis em situação de emergência complexas, em conformidade com o direito internacional humanitário. 2. Intensificar a cooperação internacional, designadamente a partilha do fardo que recai sobre os países que recebem refugiados e a coordenação da assistência humanitária prestada a esses países; e ajudar todos os refugiados e pessoas deslocadas a regressar voluntariamente às suas terras em condições de segurança e de dignidade, e a reintegrarem-se sem dificuldade nas suas respectivas sociedades. 3. Incentivar a ratificação e a aplicação integral da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos facultativos, sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados e sobre a venda de crianças, a prostituição infantil e a pornografia infantil. VII - Responder às necessidades especiais da África 27. Apoiaremos a consolidação da democracia na África e ajudaremos os africanos na sua luta por uma paz duradoura, pela erradicação da pobreza e pelo desenvolvimento sustentável, para que, desta forma, a África possa integrar-se na economia mundial. 28. Decidimos, portanto: 1. Apoiar plenamente as estruturas políticas e institucionais das novas democracias da África. Fomentar e apoiar mecanismos regionais e sub-regionais de prevenção de conflitos e de promoção da estabilidade política, e garantir um financiamento seguro das operações de manutenção de paz nesse continente. 2. Adotar medidas especiais para enfrentar os desafios da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável na África, tais como o cancelamento da dívida, a melhoria do acesso aos mercados, o aumento da ajuda oficial ao desenvolvimento e o aumento dos fluxos de Investimentos Estrangeiros Diretos, assim como as transferências de tecnologia. 3. Ajudar a África a aumentar sua capacidade de fazer frente à propagação do flagelo do HIV/Aids e de outras doenças infecciosas. VIII - Reforçar as Nações Unidas 29. Não pouparemos esforços para fazer das Nações Unidas um instrumento mais eficaz no desempenho das seguintes prioridades: a luta pelo desenvolvimento de todos os povos do mundo; a luta cupações de 147 Chefes de Estado e de 191 países, que participaram da maior reunião de chefes mundiais já realizada, realizada de 6 a 8 de setembro de 2000, em Nova York, tem como fundamento apontado Kofi Annan, Secretário-Geral da ONU na época, o seguinte: Vivemos numa era em que os assuntos internacionais já não são dominados pela actuação exclusiva dos Estados. Entre os participantes figuram as Organizações Não Governamentais, os parlamentos nacionais, empresas privadas, meios de comunicação, universidades, intelectuais, artistas e todas as mulheres e todos os homens que se considerem parte da grande família humana. A declaração de Kofi Annan reconhece que a sociedade organizada tem legitimidade de representar os seus próprios interesses, bem como serem os governos de democracia participativa baseados na vontade popular a melhor forma de garantir os direitos fundamentais. A participação dos cidadãos nas questões que lhes afetam faz parte da moralidade administrativa, tornando indispensável que os atos governamentais sejam públicos e transparentes. A transparência é, sem dúvida, fator de legitimidade do exercício do poder, instrumento de controle dos princípios jurídicos administrativos e de proteção dos adminiscontra a pobreza, a ignorância e a doença; a luta contra a injustiça; a luta contra a violência, o terror e o crime; a luta contra a degradação e destruição do nosso planeta. 30. Decidimos, portanto: 1. Reafirmar o papel central da Assembléia Geral como principal órgão deliberativo, de adoção de políticas e de representação das Nações Unidas, dando-lhe os meios para que possa desempenhar esse papel com eficácia. 2. Redobrar os esforços para conseguir uma reforma ampla do Conselho de Segurança em todos os seus aspectos. 3. Reforçar ainda mais o Conselho Econômico e Social, com base em seus recentes êxitos, de 165 modo a que possa desempenhar o papel que lhe foi atribuído pela Carta. 4. Reforçar a Corte Internacional de Justiça, de modo que a justiça e o primado do direito prevaleçam nos assuntos internacionais. 5. Fomentar a coordenação e as consultas periódicas entre os principais órgãos das Nações Unidas no exercício das suas funções. 6. Velar para que a Organização conte, de forma regular e previsível, com os recursos de que necessita para cumprir seus mandatos. 7. Instar o Secretariado para que, de acordo com as normas e procedimentos claros acordados pela Assembléia geral, faça o melhor uso possível desses recursos no interesse de todos os EstadosMembros, aplicando as melhores práticas de gestão e tecnologias disponíveis e prestando especial atenção às tarefas que refletem as prioridades acordadas pelos Estados-Membros. 8. Promover a adesão à Convenção sobre a Segurança do Pessoal das Nações Unidas e do Pessoal Associado. 9. Velar para que exista uma maior coerência e uma melhor cooperação em matéria normativa entre as Nações Unidas, os seus organismos, as Instituições de Bretton Woods e a Organização Mundial do Comércio, assim como outros órgãos multilaterais, tendo em vista conseguir uma abordagem coordenada dos problemas da paz e do desenvolvimento. 10. Prosseguir a intensificação da cooperação entre as Nações Unidas e os parlamentos nacionais através da sua organização mundial, a União Interparlamentar, em diversos âmbitos, principalmente: a paz e segurança, o desenvolvimento econômico e social, o direito internacional e os direitos humanos, a democracia e as questões de gênero. 11. Oferecer ao setor privado, às organizações não-governamentais e à sociedade civil em geral mais oportunidades de contribuírem para a realização dos objetivos e programas da Organização. 31. Pedimos à Assembléia Geral que examine periodicamente os progressos alcançados na aplicação das medidas propostas por esta Declaração e ao Secretário-Geral que publique relatórios periódicos, para que sejam apreciados pela Assembléia e sirvam de base para a adoção de medidas ulteriores. 32. Nesta ocasião histórica, reafirmamos solenemente que as Nações Unidas são a casa comum indispensável de toda a família humana, onde procuraremos realizar as nossas aspirações universais de paz, cooperação e desenvolvimento. Comprometemo-nos, portanto, a dar o nosso apoio ilimitado a estes objetivos comuns e declaramos a nossa determinação em concretizá-los. trados. “Por isso, mais adequado afirmar a pluralidade de funções do princípio da transparência administrativa: democracia, ética, legitimidade, juridicização conhecimento público, crítica, validade ou eficácia jurídica, defesa dos administrados e respeito aos seus direitos fundamentais, controle e fiscalização, convencimento, consenso, adesão, bom funcionamento, previsibilidade e segurança jurídica”.24 Conclui-se, portanto, para que se consiga encontrar um Governo que pratique seus atos voltados ao reconhecimento da dignidade humana, é necessária a construção de um novo Estado, resultado das reformas necessárias para que o habilitem “a desempenhar as funções que o mercado não é capaz de executar. O objetivo é construir um Estado que responda às necessidades de seus cidadãos; um Estado democrático, no qual seja possível aos políticos fiscalizar o desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar contas, e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar contas. Para tanto, são essenciais uma reforma política que dê maior legitimidade aos governos, o ajuste fiscal, a privatização, a desregulamentação – que reduz o ‘tamanho’ do Estado – e uma reforma administrativa que crie os meios de se obter uma boa governança”.25 Uma vez construído o Estado Gestor, ficará comprovada a veracidade a afirmação de que “el Estado democrático ya no se ciñe a elegir a sus gobernantes y presentarse a las elecciones, sino que va mucho más allá. El Estado está obligado a hacer transceder las estructuras y los comportamientos democráticos más que lo que representa la competencia parlamentaria y política, posibilitando la intervencion social en la planificación económica 166 del Estado y que los interesados participen en la gestión de los organismos públicos”.26 E, nada melhor para materializar os princípios esposados há sessenta anos pela Declaração Universal Dos Direitos Humanos de 1948 e mais recentemente na Declaração do Milênio das Nações Unidas do que tornar compatível a existência concomitante do Estado de Direito e do Estado Social, uma vez que a liberdade e a igualdade “forman parte del mismo el equilíbrio social, la redistribuición y la garantia de um mínimo en la participación de los bienes necesarios, sin obviar que en este contenido se explicita la relación con la democracia”.27 Ao se admitir a compatibilidade entre essas duas formas de Estado, chega-se à forma mais moderna, justa e aprimorada de organização estatal: o Estado Social e Democrático de Direito. 24 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva, Transparência administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 33. 25 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado In Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial – organizadores Luiz Carlos Bresser Pereira e Peter Spink - 7ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 36. 26 GÓMES, Maria Isabel Garrido, Derechos Fundamentales y Estado Social y Democrático de Derecho. Madrid: Editorial DILEX, S.L., 2007, p. 140-141. 27 BÖCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG, Estúdios sobre el Estado de Derecho y la Derecho y la democracia. Madrid: Trota, 2000, pp. 128-129 apud GÓMES, Maria Isabel Garrido, Derechos Fundamentales y Estado Social y Democrático de Derecho. Madrid: Editorial DILEX, S.L., 2007, p. 141 Geopolítica e Inserção do Brasil na Questão Energética Internacional João Eduardo de Alves Pereira1 Resumo O presente artigo faz uma rápida análise de fatores de natureza geopolítica que intervêm no funcionamento e estabilidade dos mercados de petróleo, gás natural e biocombustíveis, nesta primeira década do século XXI. Palavras-chave: Geopolítica. Energia Abstract This article is a quick analysis of geopolitical factors involved in the functioning and stability of oil markets, natural gas and biofuels, in this first decade of the twenty-first century. Keywords: Geopolitics. Energy Introdução Para o Brasil, que, com a nova redação do art. 177 trazida pela Emenda Cons- 167 titucional 09/95 e a edição da lei 9478/97, flexibilizou o monopólio estatal sobre os setores de pesquisa, lavra, transporte e refino de petróleo e gás natural, é importante o acompanhamento do cenário internacional, sobretudo quanto à questão da segurança energética mundial, para que se formulem estratégias eficientes à atração dos investimentos necessários ao alcance de uma sustentável situação de auto-suficiência. Na verdade, a realização desses investimentos poderá levar o país além, ou seja, à condição de fornecedor de petróleo e gás natural para os mercados de energia sul-americano e mundial. Isso parece se comprovar com a recente descoberta do mega-campo de Tupi, com cerca de seis bilhões de barris, na Bacia de Santos. Especula-se que o enorme potencial produtivo dessa província geológica levará a uma mudança considerável da posição ocupada pelo país na economia globalizada e em sua inserção geopolítica mundial. Novos desafios, portanto, parecem se colocar à política externa brasileira, cujas bases se assentam, a propósito, na defesa da cooperação e da paz entre as nações. Ocorre, contudo, que as vantagens competitivas do setor de petróleo e gás natural brasileiro têm fortes relações com o potencial de ocorrência de conflitos políticos e tensões diplomático-militares, sobretudo, naqueles países em que se verificam as maiores reservas mundiais e/ou os menores custos de prospecção, conforme os do Golfo Pérsico. Há ainda a percepção do risco de mudanças drásticas das regras e marcos regulatórios em outras regiões produtoras. Ou seja, sustenta-se aqui que a instabilidade política e regulatória em regiões concorrentes tende a elevar a importância estratégica da exploração em áreas alternativas, a exemplo da costa ocidental do Atlântico Sul. Nesse contexto, os custos ope1 Doutor em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ. Professor do Curso de Direito da F.A.A de Valença (RJ) e do Depto. de Disciplinas Básicas da Faculdade de Direito da UERJ. racionais mais elevados de exploração em águas profundas brasileiras se reduzem, assim, em termos relativos. Não há, pelo menos até a presente conjuntura, tensões maiores no Atlântico Sul - embora a Marinha dos EUA pareça ter avaliado recentemente como necessário mostrar-se presente nesse contexto estratégico com a reativação de sua IV Frota. Por se tratar de um artigo breve, a análise dos fatores e riscos geopolíticos à indústria internacional de petróleo e gás natural será feita em apenas uma seção. Após, serão apresentadas as conclusões. Segurança energética e geopolítica do petróleo e gás natural neste início de século Energia significa poder e riqueza, porque possibilita o crescimento dos níveis de produtividade social. O conhecimento de fontes energéticas e de suas aplicações foi uma fator decisivo para o desenvolvimento da civilização. Rifkin (2004) entende que os ciclos de formação, apogeu e decadência de diversas civilizações ao longo da história estão relacionados diretamente com as respectivas capacidades em garantir o abastecimento regular de suas demandas energéticas. Como ilustração, cita-se Roma que, assim como outras civilizações da Antiguidade Clássica, obtinha energia no trabalho dos bárbaros feitos escravos, após serem derrotados nas batalhas e guerras que fizeram o esplendor daquele grande império. Entre os fatores que levaram a sua desintegração no início da Era Cristã, aponta-se justamente a redução do uso do trabalho escravo, em virtude: da incapacidade de conquistar e/ou manter territórios (cada vez mais distantes); e, a extensão da cidadania a populações não-latinas. 168 Com relação à Idade Média, Rifkin (2004) sustenta que as florestas temperadas eram a base energética do sistema feudal. A partir do século XI, o feudalismo na Europa Ocidental entraria em um longo processo de decadência, culminado na ascensão do sistema capitalista no século XVIII. Novamente, haveria na base energética uma das explicações: não se encontrava madeira no volume necessário ao atendimento da demanda. Na Europa Centro-Oriental, em contrapartida, não houve a destruição das reservas florestais na mesma proporção que no oeste do continente. Talvez, isso tenha sido um fator fundamental, para que o sistema econômico feudal no Leste Europeu viesse a se manter por mais tempo. Na Rússia, aliás, verificavam-se práticas feudais ainda na primeira década do século XX. As ricas jazidas de carvão mineral e a tecnologia do vapor levaram a Grã-Bretanha - e depois outros países da Europa Ocidental - à invenção da máquina, à I Revolução Industrial (1760- 1860). O grande volume e a alta qualidade do carvão mineral inglês representavam a disponibilidade de energia durante todo o ano, ao contrário de fontes tradicionalmente utilizadas como os cursos d’água e os ventos. Os regimes fluviais variam segundo as estações, sendo que no inverno podem congelar. Ventos podem ser excessivamente fortes ou fracos. O incremento de produtividade com o advento da indústria foi, portanto, revolucionário, levando ao fim das práticas mercantilistas e à ascensão da economia de mercado. Além disso, a maior produtividade fez a confirmação da Europa Ocidental como o centro político-militar e econômico do mundo. O mundo do carvão mineral, contudo, assistiria a partir da II Revolução Industrial (1860-1960/70) à emergência do petróleo como fonte energética principal. Não que as reservas mundiais do primeiro se exaurissem. É que o último demonstrou ser mais eficiente e flexível em suas utilizações, desde que os norte-americanos tiveram êxito em perfurar o primeiro poço de petróleo economicamente viável em 1859, em Titusville, Pensilvânia. O querosene para iluminação, a gasolina nos motores dos automóveis de Henry Ford (1863-1947) e os óleos combustível e diesel - como substitutos das caldeiras a vapor dos navios - fizeram com que o setor de petróleo e de gás natural se transformasse na maior indústria de todo o século XX. Nas economias dos EUA e em algumas da União Européia, a propósito, a participação do setor se aproximava dos 20% do PIB ao final da década de 1990 (Economides e Oligney, 2000). Sendo os inventores da indústria do petróleo e do gás natural e os detentores das maiores reservas conhecidas e volumes de produção e exportação até os anos 1950, os EUA não coincidentemente já haviam se posicionado como a maior economia do mundo, mesmo antes do conflito de 1914-1918. Também os soviéticos eram ricos (aliás, bastante ricos) em jazidas de hidrocarbonetos, o que contribuiu para que vencessem a Alemanha de Hitler. Em suma, as duas superpotências vencedoras da II Guerra Mundial tinham soberania sobre jazidas de grande porte e/ou controlavam acessos àquelas localizadas em outros territórios. Economides e Oligney (2000, p.63), a esse respeito, trazem o relato de Nikholai K. Baibakov o “fundador” da indústria do petróleo e do gás soviético ao tempo de Josef Stalin (1879-1953): “In 1942, Stalin was told of what Hitler said: ‘We will get the oil from the North Caucasus or vitory will escape us.’ On july 1, Stalin summoned Baibakov and minced no words: ‘ You will go to the Caucasus and destroy the oil industry. If you leave for Hitler even one ton of oil, we shall shoot you. If Hitler does not enter the Caucasus, but in meantime you have destroyed the oil industry, we shall also shoot you.’ Baibakov told Stalin, ‘You leave me no choice.’, to which Stalin answered, ‘Think what to do.’ Baibakov assembled a team and began methodically destroying wells, starting first with poor-producing wells and , while wa- 169 tching the German military advance, progressively getting to better wells. The best wells were blown up jut before the German troops arrived at the giant reservoirs in Grosny and Maikop. Hitler’s army, without fuel and under constant harassment by the red Army, never went behind the main Caucasus. Baku was safe.” Contrariando à importância geopolítica do próprio relato que trouxeram de Baibakov, Economides e Oligney (2000), a exemplo de outros arautos da grande indústria norte-americana de petróleo e de gás natural (o “big oil”), defendem que a presença do Estado no setor traz graves problemas às próprias sociedades. As leis de mercado bastariam para manter o setor em equilíbrio, o que pressuporia que o preço justo será sempre o preço de mercado. Racionamentos, tabelamentos ou congelamentos de preços, regulamentações, cotas de produção interna e etc. desestimulariam os produtores, provocando quedas no volume ofertado – e, assim, elevações de preços ao consumidor final. Nesse contexto, petroleiras estatais (fundadas no Terceiro Mundo a partir do exemplo pioneiro da PEMEX em 1938) deveriam ser privatizadas em nome da eficiência inerente aos negócios dessa indústria. E até a regulação antitruste deveria ser branda, embora o setor seja marcado por óbvias barreiras à entrada de novos concorrentes. Fusões e incorporações ampliariam, contudo, a capacidade de investimento em novas e caríssimas tecnologias entre as empresas participantes da cadeia produtiva. Cabe, todavia, aceitar como válido um argumento da crítica de Economides e Oligney (2000) à ação do Estado: a instabilidade do ambiente político e a eventualidade de constantes mudanças nas legislações fiscais e trabalhistas podem inviabilizar projetos já implantados ou em vias de implantação ou expansão. Negócios de petróleo e gás natural são de longa maturação. Ilustram o fato as instáveis condições de operação impostas à Petrobrás na Bolívia pelo governo do Presidente Evo Morales, desde a sua assunção em 2006. Mas, poderia o Estado ficar alheio a essa indústria que tem uma cadeia produtiva bastante diversificada e uma grande capacidade de geração de empregos e impostos? Quando os preços sobem e a oferta de combustíveis e outros derivados de petróleo e gás natural (que são típicos bens de consumo inelástico) se torna escassa e/ou instável, não é ao Estado que a opinião pública exige a tomada de medidas e soluções, inclusive a de manter estoques estratégicos ou reguladores? E quando há acidentes ecológicos não cabe ao Poder Público socializar a recuperação do meio ambiente e financiar outros custos intangíveis? Em outros termos, o setor de petróleo e gás natural tem inegável significado geoeconômico e geopolítico, significado esse que fica mais claro nos momentos em que a oferta mundial é inelástica, ou seja, em que não se eleva na mesma proporção do crescimento da demanda. Ou ainda quando produtores reduzem orquestradamente a oferta mundial, a exemplo do que ocorreu no I Choque do Petróleo de 1973. Todavia, quando há abundância, ouvem-se as vozes do mercado afirmar que as leis deste bastam para o funcionamento do setor e que o caráter geopolítico deve ser negado, mesmo se o noticiário internacional mostre com clareza o contrário. Foi o que aconteceu entre meados da década de 1980 os anos de 1998/99. A entrada em produção, a partir do final dos anos 1970, de novos campos petrolíferos e de gás natural em águas profundas no Mar do Norte, no Golfo do México e nos litorais oriental e ocidental da América do Sul e da África, respectivamente, elevou a oferta internacional sobremaneira, reduzindo os preços que tiveram picos em 1973 (de Us$ 3,00 para Us$ 12,00) e em 1979 (de Us$ 17,00 para US$ 34,00). Regulamentações de fato excessivas do mercado de gás natural foram removidas nos EUA (o maior consumidor mundial), assim como novas tecnologias para sua armazenagem ampliaram o seu potencial de utilização. A maior eficiência no uso de combustíveis e outros derivados, associada ao desenvol170 vimento mesmo incipiente de fontes alternativas, também colaboraria para um quadro de abundância. Em 1986, o barril de óleo era então negociado a Us$10,00. Com isso, decaiu o percentual do mercado abastecido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em relação à produção de não-membros. A importância estratégica daquela organização parecia não mais causar receio ao Ocidente, conforme ocorrera nos dois choques dos anos 1970 (Economides e Oligney, 2000). Naquela época tudo parecia confirmar que a matriz energética mundial se livrara do intervencionismo estatal e das formulações estratégicas e geopolíticas. As bolsas de “commodities” e de futuros passaram a negociar contratos de curto prazo para entrega de petróleo e gás natural, substituindo de vez os tradicionais contratos de longos prazos entre produtores e consumidores. Dependentes da importação de tecnologias e assistência técnica, as empresas estatais de países do Terceiro Mundo tiveram de buscar parcerias com as grandes corporações transnacionais, abrindo muitas vezes seus capitais a investidores estrangeiros. Dificuldades financeiras dos respectivos tesouros nacionais – derivadas da própria queda dos preços do barril na década de 1980 – levariam petroleiras estatais - a exemplo da mexicana PEMEX em 1982 - a lançar títulos no mercado financeiro internacional (os “petrobonds”), ou seja, a tomada de decisões naquelas empresas passou a estar condicionada às avaliações do mercado financeiro. Por fim, a difusão do paradigma neoliberal, por sua vez, influenciaria a decisão de alguns governos em privatizar suas estatais ou flexibilizar as legislações pertinentes, a exemplo do fim da exclusividade da Petrobrás na execução do monopólio estatal, segundo a nova lei brasileira de petróleo e gás natural (lei 9478/97). Na realidade, dois fatores geopolíticos foram de fundamental relevância para o crescimento da oferta de óleo e gás no mercado internacional e a crise por excesso de demanda e baixas cotações de 1986: a- o primeiro se refere à Guerra Fria. Caso as cotações do barril se mantivessem em alta (em decorrência de uma eventual propagação no mundo árabe-muçulmano da revolução islâmica preconizada pela teocracia iraniana), a URSS, exportadora de petróleo ao Ocidente via mercado “spot” (à vista), teria obtido recursos suficientes, talvez, para que a “glasnost” e a “perestroika” de Mikhail Gorbatchev evitassem a desintegração daquela superpotência. Era preciso derrubar as cotações dos anos 1970. Para isso, a Arábia Saudita (com 25% das reservas mundiais de petróleo e 4,1% de gás natural) deveria colocar uma produção crescente nos mercados internacionais, pondo em xeque a política de cotas e a própria unidade da OPEP; b- o segundo se relaciona ao acirramento das tensões e conflitos diversos no mundo árabe-muçulmano. Um desses eventos era a disputa pela condição de potência regional principal que resultaria em grandes aquisições de armamentos ou no desenvolvimento de caros programas de produção de armas, inclusive, químicas, biológicas e nucleares. Armamentismo, revoluções e guerras (a maior delas entre Iraque e Irã, de 1980 a 1988) acabariam por erodir as finanças de países importantes da OPEP e por endividá-los. O corolário não foi outro senão o da maior oferta de óleo e o não-cumprimento das respectivas cotas de produção. Se por um lado as tensões entre países membros da OPEP e em especial os do Oriente Médio traziam uma maior oferta internacional de petróleo, por outro lado implicavam riscos à estabilidade econômica das grandes potências nos anos 1980. Os EUA, que haviam substituído os britânicos a partir da Crise de Suez (1957) no papel de prove- 171 dores da segurança regional, ampliaram ainda mais sua presença militar no Golfo Pérsico, embora já houvessem reduzido a importância relativa das importações de óleo cru do Oriente Médio em sua matriz energética. Sobre isso, escreveu Armitage (2002, p.5): “In face of a deterioring strategic outlook, the United States’ impertative to preserve access to the world’s main oil supply became an explicit declaratory policy. President Jimmy Carter announced that access to the world’s main crude oil supply was a ‘vital interest’ of the United States, and he vowed that the United States would repel efforts ‘by any outside force to gain control of the Persian Gulf region.’ Thereafter, this policy was known as the Carter Doutrine (...) Throughtout the 1980’s, the task of promoting stability and maintining positive influence in the Middle East was daunting for the United States, as Arab-Israeli, Arab-Arab, and inter-Islamic tensions of a political, social, and religious nature polarized and unsettled the peoples and governments of the area. The Gulf itself was consumed with the Iraq-Iran war. Maryland’s respected internacionalist, Senator Charles McC. Mathias Jr., writing in Foreign policy in 1986 (...) pleaded the case for continued American engagement in the Middle East as follows: The U.S. need for Persian Gulf oil may be less today than a decade ago, but does anyone want to gamble that this will be true in the 1990’s? Even if American needs remain low, America’s closest allies are likely to remain dependent. Japan today imports 60 percent, Western Europe, 20 to 25 percent, and the United States has agreed to share petroleum in the event of a shortage.” Armitage (2002) afirma que ao longo da década de 1990, excluindo-se as operações de patrulha das águas internacionais do Golfo Pérsico e ao evento de grande envergadura que foi a Guerra do Golfo (1991), os estrategistas norte-americanos, agora, no governo de Bill Clinton (1993-2001) efetivaram uma redução dos gastos militares na região: havia abundância de petróleo no mercado internacional. Em contrapartida, centralizaram sua ação na aplicação de sanções (61 no total), decididas com ou sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, a governos considerados hostis no mundo árabe-muçulmano. Em outras situações, bombardeios “cirúrgicos” eram realizados (no Iraque, por exemplo), o que não deixava dúvidas quanto à manutenção de sua a presença militar na região. Além disso, os então promissores avanços no processo de paz entre israelenses e palestinos faziam crer numa relativa redução das tensões no Oriente Médio. Para Armitage (2002), ocorreu, contudo, que a aplicação de sanções a países produtores, como o Iraque e a Líbia, resultaria numa redução significativa na oferta internacional de petróleo, numa conjuntura internacional marcada, entre outros fatores, pela: 172 a - ocorrência de forte crescimento da demanda de combustíveis nos EUA, em decorrência do incremento do produto interno nos oito anos do governo Clinton - a “exuberância irracional” de que falava à época o Presidente do Banco Central daquele país (FED), Alan Greenspan. A “exuberância” norte-americana sustentaria o crescimento econômico em outras partes do mundo, o que fez com que a demanda internacional por petróleo se elevasse à média de 2,0% ao ano. b - extraordinária taxa acumulada de crescimento econômico desde os anos 1980 na Ásia, especialmente, na China e na Índia – países, aliás, não-diretamente afetados pela crise de 1998. Apesar da crise, a demanda por óleo no continente chegaria a 1,8% ao ano na década de 1990. No caso chinês, de exportadores de petróleo até 1992, converteram-se rapidamente em grandes importadores, inclusive, de gás natural - apesar da ampliação significativa do consumo de carvão mineral; c - ampliação da dinâmica de transformação do mercado de petróleo e gás natural num mercado de “commodities”. Trata-se de um mercado “on-line”, aonde a rapidez de obtenção de dados e informações é preciosa à tomada de decisão pelos seus agentes (“brokers”, “traders”, arbitradores e especuladores). No “e-commerce” norte-americano, os negócios diários de gás natural alcançavam a 25% do total, em 1999. Embora as operações de “hedging” tragam certa segurança a produtores, refinadores e grandes consumidores (como as empresas de aviação aérea) num ambiente em que são raros os contratos de abastecimento de petróleo e derivados de longo prazo, a instabilidade inerente aos mercados financeiros passou a estar presente no setor energético. As elevadas cotações verificadas até julho de 2008 (cerca de US$ 140,00 o barril) foram mais uma decorrência do nível de especulação nas bolsas de Nova Iorque (Nymex), Londres (IPE) e Cingapura (Simex) do que o resultado de fortes desequilíbrios entre oferta e demanda internacionais; d - desvalorização do dólar norte-americano frente ao euro. Para os países produtores e exportadores de petróleo, membros ou não da OPEP, seria economicamente interessante ter como base de suas operações uma unidade monetária com maior capacidade de manter ou reservar valor que o dólar norte-americano. Se politicamente o uso do euro não for viável, em função da reação norte-americana a essa mudança, a solução, assim como em 1973, seria a de elevar as cotações do petróleo e do gás natural em dólar norteamericano. Ou seja, há uma tendência à elevação de preços para compensar o enfraquecimento da moeda nacional norte-americana; e - elevação da competição no setor, como resultado de processos de desregulamentação, privatização de companhias estatais, alianças e fusões entre grandes empresas de atuação transnacional. No tocante à privatização, registramos que a instabilidade própria da atividade empresarial saiu da esfera relativamente protegida dos tesouros nacionais, passando aos novos controladores; f - introdução de novas tecnologias, inclusive em setores de informação, tanto no “up” quanto no “down stream”, incorporando novos atores a esse mercado; g - incorporação de maiores taxas de risco e de custos de produção, em virtude de legislações ambientais recentes que seguem novos padrões de consumo e decorrem da ação política de atores da sociedade civil internacional, a exemplo de movimentos como o “Greenpeace”; h - perspectiva de elevação nos próximos anos da importância relativa da produção da OPEP, em virtude dos campos de petróleo das novas regiões produtoras dos anos 1980, a exemplo do Mar do Norte, estarem próximos do seu ápice ou mesmo já terem ultrapassado esse ponto. No Mar do Norte, aliás, o provedor de mais de 50% da elevação da demanda do Ocidente nos anos 1980/90, a produção “picou” em 2000. Doravante, o volume de óleo extraído começará a cair e os custos de exploração tendem a se tornar cada vez maiores. Em termos de Brasil, as reservas atuais sem o pré-sal (800 milhões de barris) cobririam cerca de 17 anos de consumo (em níveis presentes). Estima-se que em 2020, a OPEP terá recuperado o percentual de mercado anterior ao I Choque de 1973, qual seja: 60%; i - incorporação de ainda maior complexidade às tensões políticas internas em países da OPEP que podem desestabilizar o mercado, a exemplo da Arábia Saudita, aonde setores da população começaram a questionar a aliança do país com os EUA, após a “Guerra do Golfo”, em 1991. Concepções fundamentalistas 173 do Islã se difundem rapidamente entre os setores mais jovens das populações, bem como um sentimento anti-ocidental (senão, anti-americano). Alguns governos de países membros da OPEP, embora nos bastidores estejam alinhados com interesses do Ocidente e do Japão, têm benefícios políticos com esse ambiente hostil, à medida em que se imputa aos últimos a culpa pelo insucesso de suas estratégias econômicas e sociais. Além da Arábia Saudita, são fundamentais para a estabilidade da OPEP o futuro da teocracia iraniana (8,6% das reservas mundiais), os conflitos religiosos e separatistas da Nigéria (2,3%) e os desdobramentos da República Bolivariana de Hugo Chávez (7,4%); j - crescente instabilidade da política internacional, após os atentados de 11 de Setembro de 2001. Resultam e retro-alimentam a instabilidade internacional a campanha do Afeganistão sob as bençãos da ONU, o unilateralismo na ocupação do Iraque em 2003 e os atos terroristas de separatistas chechenos na Rússia. Cabe destacar que o unilateralismo norte-americano decorreu da adoção pelos neoconservadores de George W. Bush de um novo padrão de afirmação geopolítica baseado na ampliação da já forte presença militar desde o litoral oeste da África do Norte até o Oriente Médio (chamado de “Arco da Crise” por Del Valle, 2003), incorporando agora o Cáucaso e a Ásia Central pós-soviética. A história dirá se o novo governo de Barack Obama terá êxito na concretização do discurso sobre a pacificação entre o Ocidente e o Islã no século XXI (o que depende, por sua vez, do fator geopolítico abaixo); k - desintegração do processo de paz entre o Estado de Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP). Todos esses fatores geopolíticos e geoeconômicos atuais fizeram com que, desde o final dos anos 1990, as cotações do petróleo e do gás natural voltassem a apresentar um comportamento ascendente e instável. Os preços do barril de petróleo atingem picos, superam recordes anteriores, e caem em seguida com certa rapidez. Mas, não retornam a níveis considerados como efetivamente baixos. Mesmo com a eclosão da crise econômica mundial proveniente da insolvência de mercados “sub-prime” no final de 2008, esse padrão se manteve. Na verdade, os preços não caíram a níveis inferiores a US$ 30,00. Se houvessem, inviabilizariam a produção de campos e poços, cujos custos de prospecção são bem mais altos que os do Oriente Médio ou do Golfo do México. Esses campos e poços se localizam em águas profundas, em áreas de difícil acesso (no Alasca, por exemplo) ou são zonas antigas de produção reativadas ou ampliadas em sua vida útil, em decorrência do desenvolvimento de novas tecnologias de exploração, a exemplo da produção nos estados do centro e do sul dos EUA. Ou seja, encerrou-se a era do petróleo abundante e EFETIVAMENTE barato. De fato, não pode ser barato, porque isso, ao final, reforçaria a posição da OPEP no mercado internacional de energia, pela exclusão de áreas produtivas de custos mais altos fora do Oriente Médio. Ademais, os lucros extraordinários que as corporações transnacionais e mesmo as estatais de petróleo e gás natural vêm obtendo são fundamentais para o financiamento de projetos estratégicos que lhes permitirão atuar em outros negócios e ramos energéticos a médio e longo prazo. Em 1999, a título de ilustração, o barril do petróleo WTI (o denominado cru leve americano) negociado na NYMEX subiu de Us$ 12 para Us$ 27, ou seja, variou em mais de 100% durante um mesmo ano. Em 2004, as cotações superaram os Us$ 50 por barril. Em setembro de 2005, ultrapassaram os Us$ 70, em virtude da passagem de 174 mais de uma dezena de furacões de alta intensidade no Golfo do México e no sul dos EUA, mas não se estabilizaram nesse patamar. Em janeiro de 2006, por pouco, não se regressou aos mesmos Us$ 70 (US$ 69,20, mais precisamente), em razão da crise internacional provocada pela decisão – soberana – do Irã em retomar seu programa nuclear, a despeito das restrições das grandes potências com direito de voto e veto no Conselho de Segurança da ONU. Possibilidades de evolução nas negociações diplomáticas, apesar da radical retórica do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, foram capazes, porém, de fazer o barril recuar para Us$ 60,00 poucos dias depois. Em 2008, chegou, como já se disse anteriormente, a patamares superiores a US$ 140,00. Caiu para níveis próximos a US$ 40,00, sendo que em junho de 2009 voltou a superar o US$ 70,00, tendo em vista a recomposição de estoques pelo mercado internacional. Ou seja, o mercado de petróleo e de gás natural tornou-se estruturalmente mais instável do que já era no passado. A palavra no jargão do mercado é volatilidade. Em termos microeconômicos, isto significa que as empresas tendem a trabalhar com estoques pequenos de óleo cru e/ou de derivados, para não incorrerem em fortes prejuízos. A tendência a crises de desabastecimento cresceu, o que obviamente justifica a presença do Estado, inclusive, como proprietário de reservas estratégicas. Nos EUA, elas atingiam a 575 milhões de barris ou 55 dias de consumo, em 1999. Dados atuais do Departamento de Energia dos EUA informam que aquele país planeja em contar, em breve, com cerca de um bilhão de barris a serem estocados em cavernas escavadas em jazidas de sal ao longo da costa do Golfo do México. Já na UE, chegavam a 90 dias de consumo no início desta década (Armitage, 2002). Como estarão as cotações nos próximos dias, semanas ou meses? Que fatores naturais, econômicos, políticos, culturais e geopolíticos intervêm no setor de petróleo e de gás natural na atualidade? Eis as questões que aparecem todos os dias nos noticiários da grande imprensa internacional e figuram na agenda de estrategistas corporativos e estatais. A volatilidade estrutural do mercado, a elevação de tensões geopolíticas, a perspectiva de aquecimento global e o consenso entre os geólogos e engenheiros especializados, de que a humanidade consumiu desde 1859 a metade das reservas de petróleo e gás natural legadas pela natureza, não estariam a indicar a premente necessidade de substituição desses recursos fósseis por fontes renováveis? A resposta é obviamente positiva, mas a questão é de prazo (Rifkin, 2004). A curto e médio prazos, salvo fatos ou eventos extraordinários, não há previsão de que se possa obter em outras fontes, já conhecidas, o mesmo quantum energético proveniente da queima de petróleo e gás natural. Verifica-se, contudo, que a matriz energética mundial não teve alterações significativas em seus percentuais, desde o final dos anos 1990 (Economides e Oligney, 2000, p.06): Consumo Energético Mundial (1999) 400 quads (quad = um quadrilhão de unidades termais / Inglaterra ou BTU’s) ou 200 milhões de barris/dia Petróleo – 40 % (ou 75 milhões de barris/dia) Gás Natural – 22 % Carvão Mineral – 24 % Geração Nuclear – 6 % Hidreletricidade e Outras Fontes (Renov.) – 8 % Em 2020, a previsão de consumo mundial do Departamento de Energia dos EUA 175 (DOE) é de 612 quads ou 300 milhões de barris/dia. Em 2010, será de 90 milhões de barris/dia, mas a taxa de exaustão é de 10% ao ano. Isto significa ativar ou reativar 100 milhões de novos barris/dia, o que demandaria investimentos de aproximadamente Us$ 1 trilhão ao longo da década de 2000. Há que se saber, contudo, que desdobramentos a crise financeira internacional terá para a concessão de recursos doravante . Isso demonstra que a Geopolítica da energia caminha lado a lado com a Geoeconomia da moeda: economias de mercado (industriais ou pós-industriais, não importa) aprofundam a divisão social e espacial da produção e do trabalho. Não podem funcionar de modo eficiente sem as três funções exercidas pela moeda: meio de trocas, denominador comum monetário e reserva de valor. Em deflação, economias nacionais ou mesmo em fase de globalização param! Economias de mercado também não funcionam eficientemente sem a oferta regular de serviços de comunicações e transportes. Com relação aos últimos, cabe frisar que 60% do consumo mundial de petróleo e de gás natural se destinam diariamente à movimentação de cargas e pessoas. Sem transportes, o mundo moderno ou pós-moderno, não importa, pára! A percepção de insegurança energética cresceu, assim, neste início de século XXI, mas se trata de uma percepção nada homogênea. Os EUA, depois das crises dos anos 1970, diversificaram suas importações. Hoje, sua economia importa cerca da metade do que necessita diariamente. Nesse total, as importações de nações do Golfo Pérsico não perfazem 25%, sendo a maior parte proveniente do México, Canadá, Venezuela, restante da América Latina e Costa Oeste africana. União Européia e Japão, por sua vez, têm níveis mais elevados de dependência a fluxos de óleo do Oriente Médio e/ou da Ásia Central. O mesmo em relação ocorre à Índia e China. Nesse contexto, Armitage, Bloomfield e Kelly (2002, p.223) afirmam: “Just as U.S. national security interests will remain linked to the availbility and affordability of oil in the Persian/Arabian Gulf for at least the coming decade, the longer-term outlook is for na international environment in which oil may lose much of its strategic importance. The U.S. military services are engaged in elaborate planning and wargaming studies to anticipate the battlefield environment 15-25 years hence. Policy planners need to begin weighthening the implications of a world – perhaps not so far into the future – in which oil may no longer be a ‘causus belli’ to the United States or its principal security allies.” Para os estrategistas norte-americanos, a continuidade da presença de contingentes e bases militares no mundo árabe-muçulmano e de uma frota completa no Golfo Pérsico, a despeito do crescimento do anti-americanismo entre aquelas populações e entre alguns governos da região, permite aos EUA exercer influência decisiva nas economias das demais potências. Os europeus não parecem estar dispostos a arcar com os custos econômicos e em vidas desses gastos em segurança. Isto os mantém numa posição de clientes do poderio norte-americano, o que impede que disputem em igualdade a supremacia nesta nova ordem internacional (Del Valle, 2003). Na Geopolítica do Extremo Oriente, por sua vez, o Japão, desprovido por força constitucional de uma Armada com poder ofensivo, também continua a ser cliente da presença aeronaval norte-americana. Receiam os japoneses que a Marinha de Guerra da China possa obstruir ou ter o controle das rotas de abastecimento regular de óleo proveniente do Golfo Pérsico e de outras regiões de produção do Sudeste Asiático. A contenção 176 da pirataria no Estreito de Malaca também seria outro fato a justificar a presença naval norte-americana (Armitage, 2002). Agora, soma-se também a segurança das águas internacionais ao longo do litoral da Somália, da Etiópia e da Eritréia (o “Chifre da África”). Nesse contexto, a incorporação da produção de petróleo e gás natural do Cáucaso e da Ásia Central mostra-se importante ao abastecimento das principais economias mundiais, inclusive à própria economia norte-americana, mesmo sendo a população dessa região majoritariamente islâmica ou em processo de re-islamização, dadas às proibições ao exercício de religiões na antiga URSS. Durante o regime soviético, o planejamento centralizado priorizou investimentos na Sibéria, em detrimento da tradicional produção do Mar Cáspio e do Cáucaso, tendo em vista à maior vulnerabilidade estratégica destes, conforme se verificou durante a II Guerra Mundial. Há muito óleo e gás que não foi explorado, mas poderia ter sido. Numa avaliação otimista, há um volume de óleo na Ásia Central semelhante às jazidas existentes no Iraque, isto é, 110 bilhões de barris. Numa avaliação pessimista, de 55 bilhões de barris, um Mar do Norte (Kleveman, 2003). Embora os custos médios de produção sejam mais altos (Us$ 14,00) que no Golfo Pérsico e mesmo nas plataformas “offshore” do litoral ocidental africano (Us$ 2,00 e Us$ 4,00, respectivamente), a bacia do Cáspio se mostra interessante para as corporações transnacionais de petróleo e gás natural, porque há possibilidades de que mega-poços e campos de petróleo (a exemplo de Tengiz com 6 bilhões e de Kashagan com 12 bilhões de barris no Casaquistão) sejam encontrados com o uso de tecnologias de produção modernas (como a de “horizontal drilling”) – não disponíveis na era soviética (Armitage, 2000). A estratégia corporativa pede que uma empresa se antecipe às concorrentes e implante seus projetos, mesmo que num primeiro momento os riscos sejam altos. Para que riscos sejam reduzidos, nada melhor do que a sua socialização, isto é, que o Estado intervenha, investindo e assumindo parte dos riscos. Se há instabilidades políticas, eco- nômicas e étnicas no mundo no Cáucaso e na Ásia Central, além de um ambiente hostil e xenófobo, a presença militar não poderia representar uma situação de segurança para investidores? Armitage (2002) responde positivamente para o caso norte-americano, o que confirma a tese de Fiori (2004) de associação entre o capital transnacional com sede nos EUA e os rumos da política externa do país: Geoceconomia e Geopolítica andam juntas! Isso foi muito claro entre 2000 e 2008 com George W. Bush. Não me parece crível que com Obama será diferente em essência. O fato é que a presença de corporações de petróleo e gás natural e de contingentes militares norte-americanos e de outros países do Ocidente no Cáucaso e na Ásia Central intensificaram conflitos e disputas anteriormente existentes. Graças à mídia internacional, a opinião pública em todo o mundo passou a ter acesso a informações sobre a diversidade geográfica, religiosa e étnica dessas regiões, que durante séculos foram conhecidas como Transcaucásia e Turquestão. Neste último, a propósito, se localiza a rota da seda, por onde Marcopolo chegou à China de Gengis Khan no século XIII (Kleveman, 2003). Meyer (2003) lembra, por sua vez, que os geógrafos árabes na Idade Média denominavam o Cáucaso de “a montanha das línguas”, pois eram ouvidos mais de 70 idiomas no mercado de Tiblisi, capital da Geórgia, além do uso de cinco alfabetos: cirílico, armênio, georgiano, arábico e latino. No Daguestão, eram 11 as línguas oficiais e 14 os grupos étnicos numa população de cerca de 2 milhões de habitantes que ocupa território de 50.300 km2 – pouco maior que o Estado do Rio de Janeiro com 43.305 km2. Graças também à mídia, difundem-se rapidamente os efeitos de ações terroristas, a exemplo do atentado de setembro de 2004 que provocou a morte de centenas de pessoas inocentes numa escola da cidade de Beslan, na Ossétia do Norte. Esse atentado envolveu a disputa entre o governo russo e separatistas chechenos no norte do Cáucaso. 177 Trata-se de um conflito, cujas consequências têm inequívoco potencial de desestabilização do sistema político e da economia internacionais, porque o objetivo maior do terrorismo checheno, na visão do ex-líder M. Gorbachev, não seria apenas a independência dessa república em relação à Rússia, e sim a fundação de um Estado islâmico, reunindo populações muçulmanas de outras regiões do norte do Cáucaso, como: daguestanis, abkházios, ingushes, cherkéssios-kabardinos. Um novo Estado islâmico na Ásia Central significaria uma alteração relevante no que alguns analistas internacionais chamam de o “Novo Grande Jogo”, ou seja, a disputa por influência na Ásia Central pós-soviética. Os participantes do “Novo Grande Jogo” seriam a Rússia (que reclama naturalmente a herança imperial da extinta URSS), a China, os EUA e países europeus, a exemplo da Grã-Bretanha. As potências regionais envolvidas diretamente seriam a Turquia, o Irã, a Paquistão e a Índia. Compõem ainda esse campo de forças: empresas transnacionais; organizações não-governamentais; movimentos fundamentalistas; e, redes do narcotráfico e do terrorismo internacionais. O “Novo Grande Jogo” seria uma versão ainda mais complexa daquilo que Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), o primeiro escritor britânico agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, em 1907, denominou de o “Grande Jogo” entre os imperialismos russo e inglês pelo controle na Ásia Central ao longo do século XIX. Sobre o “Grande Jogo”, afirmou o Vice-Rei da Índia Britânica, Lord George Nathaniel Curzon (18591925), em 1898 (Kleveman, 2003, p.03): “Turkestan, Afghanistan, Transcapia, Persia - to many these names breathe only a sense of utter remoteness or a memory of strange vicissitudes and of moribund romance. To me, I confess, they are the pieces on a chessboard upon which is being played or a game for the domination of the world.” Algumas questões estratégicas atuais tiveram sua origem justamente no “Grande Jogo”, a exemplo da ocorrência de conflitos violentos no Afeganistão e nas montanhas do Cáucaso. A instabilidade política nesses territórios, a propósito, já estava relacionada às suas respectivas posições estratégicas na circulação de mercadorias e contingentes militares entre o interior da Ásia e portos no Oceano Índico e no Mar Negro (Kleveman, 2003; e, Meyer, 2003). Com referência ao Afeganistão, cabe lembrar as duas guerras ocorridas entre 18381840 e 1878-1881, quando tropas da Inglaterra buscaram a conquista do país, tendo, no entanto, sido derrotadas por exércitos tribais destemidos e aguerridos. Apesar de suas vitórias nos campos de batalhas, o Afeganistão se tornaria dependente de auxílio financeiro britânico, transformando-se numa espécie de “Estado-tampão” entre a Índia colonizada pelos ingleses e o sul do território imperial russo. Transformar-se-ia também num Estado incapaz de fugir a uma condição tribal e modernizar-se, sendo constantemente levado a situações de instabilidade política e ficando à mercê da influência geopolítica e econômica de vizinhos como o Paquistão e o Irã, assim como de potências estrangeiras, a exemplo da Grã-Bretanha, da ex-URSS e dos EUA (Kleveman, 2003; e, Meyer, 2003). Quanto ao norte do Cáucaso, a conquista dessas regiões montanhosas só se efetivaram após longa e brutal guerra-de-guerrilha travada de 1820 a 1859 contra o Exército russo pelos homens do Imã Shamil, conhecido então como o “Leão do Daguestão”. Shamil queria impedir a construção pelos russos de novas estradas que cruzariam a Chechênia e o Daguestão em direção ao Mar Cáspio e à Ásia Central, passando pelos reinos cristãos da Armênia e da Geórgia, aliados naturais de Moscou àquela época. Nesse contexto, autoridades russas fundaram, inclusive, em localização estratégica a cidade fortificada de Grosny (“Grosny” em russo significa terrível, sendo, portanto, 178 uma homenagem a Ivan IV), a atual capital da Chechênia. Ao declarar vitória russa sobre os “montanheses”, como eram chamados os homens do Imã Shamil, o General e Grão-Duque Mikhail Nikolaevich (Meyer, 2003, p.147) afirmaria: “It was necessary to exterminate half of the Mountaneers to compel the other half to lay down its arms.” Durante a II Guerra Mundial, entre os dias 24 e 28 de fevereiro de 1944, seria a vez do Estado soviético, a exemplo da Rússia Csarista, demonstrar sua brutalidade contra essas mesmas populações islâmicas. Temendo uma aliança entre elas e a Alemanha nazista, que buscava ter de vias de acesso pelo Cáucaso à grande produção de petróleo do Mar Cáspio sediada na cidade de Baku, o camarada Stálin, com o emprego de 119.000 agentes da polícia secreta (NKVD), patrocinaria durante o rigoroso inverno russo a deportação para as estepes do Casaquistão de 521.247 chechenos e ingushétios em 194 comboios de 64 caminhões cada. A Chechênia havia deixado de existir. Nos quatro anos seguintes, cerca da metade dos deportados havia perecido em campos de concentração. Somente em 1953, com a ascensão de Krushev, os chechenos e outras etnias caucasianas teriam a permissão de retorno às respectivas regiões de origem. Del Valle (2003) informa que a discriminação contra essas populações continuou mesmo após a permissão de retorno. Com o fim da URSS, essas populações mergulharam na pobreza, sendo, contudo, amparadas por uma rede islâmica sunita (wahhabita), patrocinada diretamente por membros da Casa Real saudita, relacionados nos bastidores do poder à criação da “Al-Qaeda” de Osama Bin Laden. Voltando ao “Novo Grande Jogo”, vale observar que, para que todos os recursos energéticos da Ásia Central sejam aproveitados, fazem-se necessários investimentos diversos em logística, entre os quais a construção de oleodutos e gasodutos entre o interior da Ásia e portos no Oceano Índico e nos Mares Cáspio e Mediterrâneo. A perspectiva de construção dessa infra-estrutura, todavia, é acompanhada de grande tensão internacional, devido ao fato de que, por onde passarem, esses dutos pagarão “royalties” e outros direitos ou impostos a Estados - e mesmo “pedágio” ou qualquer outra forma de extorsão por máfias e/ou redes diversas. Alguns portos podem ganhar grande movimento, enquanto outros receberão poucas embarcações num mesmo ano. A posição da Chechênia no “Novo Grande Jogo” passa por essa questão. Desde os tempos da ex-URSS, o seu território, mais precisamente a sua capital Grosny, é o nó que amarra toda uma rede de gasodutos e oleodutos que vêm do Mar Cáspio e do interior da Ásia em direção ao litoral do Mar Negro. Para o Estado russo, que tem o petróleo e o gás natural como responsáveis por 60% de seu PIB, o controle desses dutos e do porto profundo de Novorossisk (no Mar Negro) representa mais recursos para o seu tesouro e a possibilidade de manutenção de sua influência sobre as ex-repúblicas soviéticas muçulmanas. Talvez por isso, depois de ter aceitado a independência da Chechênia, logo após a desintegração do Estado soviético, em 1991, Moscou iniciasse duas guerras contra os chechenos, reincorporando-os à Federação Russa, em 1999. Outros conflitos ao sul do Cáucaso são importantes para a sua eventual estabilização, quais sejam: a - o enclave armênio de Nagorno-Karabakh em território do Azerbaijão. A auto- 179 nomia do enclave cristão-ortodoxo em meio ao território azeri, de maioria xiita, é mantida pela presença militar de Moscou através de bases existentes, desde os tempos soviéticos. Para contrabalançar a aliança entre armênios e russos, os azeris tiveram êxito em se aliar à OTAN, que veio a implantar uma base militar país; b - e, a região separatista da Abkhazia no litoral noroeste da Geórgia, no Mar Negro. Os russos têm forte influência sobre os grupos em armas contra Tiblisi. Tropas de paz da ONU tentam estabilizar a área. Houve outra região no sudoeste do mesmo litoral a demandar mais autonomia em relação ao governo da Geórgia: a Adjária. Esta, porém, foi pacificada recentemente. Tendo em vista a presença militar russa em seu território, a Geórgia em sua luta histórica por autonomia em relação à Moscou permitiu à OTAN a construção de base militar e treinamento de suas forças armadas. Para os EUA, a aliança com Tiblisi é crucial, para que se efetive a construção de um novo oleoduto entre Baku, capital do também aliado Azerbaijão, e o porto profundo de Ceyhan, no litoral turco do Mediterrâneo. O projeto do oleoduto cruza o território da Geórgia e evita o Mar Negro, aonde a presença naval russa é inquestionável. Se depender de Moscou, esse projeto não se concluirá. Para isso, a crise constante do Estado georgiano, mesmo agora aliado à OTAN, não é um fato que colida com seus interesses estratégicos no Cáucaso e na geopolítica do petróleo e do gás natural na Ásia Central.. Del Valle (2003) sustenta que a União Européia, mais precisamente o eixo ParisBerlim, tem interesse, em que o petróleo do Cáucaso e do Cáspio cheguem ao Velho Continente pelo Mar Negro. Barcaças transportariam o óleo pelo Rio Danúbio, cuja bacia nos anos 1990 foi interligada por eclusas à do Reno. Isso evitaria o cruzamento de navios petroleiros pelos Estreitos de Bósforo e Dardanelos, controlado pela Turquia, aliada dos EUA. Ancara pode limitar o número de navios trafegando por aqueles estreitos, tendo em vista legislação internacional sobre os riscos de acidentes com as cargas de petroleiros. Se a União Européia depende da Turquia para o abastecimento de óleo proveniente da extinta URSS, depende em última instância da OTAN e, assim, dos EUA. O mesmo autor sustenta a tese de que a desintegração da Iugoslávia teria sido incentivada pelos norte-americanos, através dos bombardeios da OTAN a posições sérvias e do retorno da influência dos turcos sobre populações muçulmanas da Europa Central, para enfraquecer os interesses que podem dar unidade a um eixo potencial de poder geopolítico, ligando Paris-Berlim-Moscou. Numa concepção que valoriza questões civilizacionais, a concretização desse eixo poderia significar a junção de dois ramos da cristandade, o católico-protestante do Oeste Europeu e o ortodoxo russo. Em termos geoeconômicos, estaria assegurada à União Européia o seu abastecimento energético e aos russos a possibilidade de investimentos que colocariam setores estratégicos de sua estrutura produtiva na III Revolução Industrial (1960/70*). Estrategistas dos EUA e da Grã-Bretanha, o ramo anglo-saxônico daquilo que se define como o Ocidente, avaliam que a eventual efetivação do eixo Paris-Berlim-Moscou no século XXI representaria o potencial desenvolvimento de um adversário à altura a disputar a liderança da nova ordem internacional. De uma certa forma, seria uma reedição do jogo geopolítico das primeiras décadas do século XX, marcado, entre outros aspectos, pelo trabalho da diplomacia britânica, visando a impedir que os Impérios Alemão e Russo estru180 turassem alianças e formassem um admirável eixo: a economia mais dinâmica da Europa com o exército mais profissionalizado associada a um Estado de base territorial eurasiática com o maior exército de então. Com a contribuição da forte influência francesa na Corte imperial russa, os britânicos tiveram êxito em impedir a aliança entre o Kaiser e o Csar, e, em decorrência, houve a formação da “Tríplice Entente”, em 1907. Cabe lembrar que o objetivo geopolítico de impedir alianças entre alemães e russos havia sido defendido com clareza em 1904 pelo geógrafo Halford J. Mackinder, com a publicação da obra “O Pivô Geográfico da História”. Nesta e em publicações posteriores, Mackinder argumentava que, com o desenvolvimento dos transportes terrestres durante o século XIX (a ferrovia, os automóveis e caminhões) e depois dos aeroplanos, houvera uma mudança na natureza do poder internacional. O rápido deslocamento de tropas e suprimentos pelo território havia colocado em segundo plano o poder marítimo que fundamentara a hegemonia britânica durante o século XIX. A territorialidade teria superado em importância estratégica a maritimidade. Tendo a Rússia, desde Ivan IV (1533-1584), conquistado a Sibéria, a Tartária, o Cáucaso, a Ásia Central e decidido construir a Ferrovia Transiberiana (Moscou-Vladivostok) em 1891, isto a transformara de fato numa das potências mundiais do século que então se iniciava. Os franco-britânicos não podiam permitir que a Alemanha - que projetava bloquear o poder naval britânico com a força de seus submarinos – se utilizasse da Rússia para ter acesso ao que Mackinder classificava como “área-pivô” ou “heartland”, isto é, à Ásia Central, grosso modo. O domínio do “coração continental” permitiria a supremacia sobre o “crescente marginal ou interior (um arco em meia-lua abrangendo a Alemanha, a Áustria, a Turquia, a Índia e a China). Daí, o domínio se estenderia a um “crescente exterior” ou insular (também em meia-lua, compreendendo o Reino Unido, a África do Sul, Austrália, EUA, Canadá e Japão). Do “crescente insular”, controlar-se- iam as demais terras emersas e os oceanos. A esse respeito, Reis (2004) acrescenta: “Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Mackinder continuou a considerar a Rússia como o pivô do mundo, chamando-a de ‘Heartland’. As idéias geoestratégicas de Mackinder resumem-se nesta sintética afirmação feita durante os trabalhos da Conferência de Paz em 1919: ‘Enquanto os nossos estadistas estão em conversação com o inimigo derrotado, algum querubim alado deveria sussurrar-lhes de tempos em tempos: quem dominar a Europa Oriental controlará o coração continental; quem dominar o coração continental controlará a ilha mundial; quem dominar a ilha mundial controlará o mundo.” Na Guerra Fria, a geopolítica de Mackinder seria atualizada pela obra de Nicholas J. Spykman.. Este último considerava que, para impedir que a URSS estendesse seu poder sobre o mundo, à medida em que ela controlava o “heartland”, seria necessário que os EUA valorizassem estrategicamente o “rimland”, arco correspondente ao “crescente insular” ou “ilha mundial”. Em sua interpretação, a história eurasiática seria caracterizada por disputas entre quem domina o “heartland” e as forças do “rimland” e entre as próprias forças internas a ele. Se os EUA pretendiam superar a URSS, seria preciso primeiro controlar o “rimland”, impedindo que outras forças o fizessem primeiro. Del Valle (2003) sustenta, com isso, que a política externa norte-americana visava entre 1945 e 1991, antes de tudo, a impedir que as potências européias do “rimland” se unissem e exercessem por sua própria conta a pressão sobre o “heartland”, deixando de ser clientes do poderio norte-americano. Com a desintegração da URSS, os norte-americanos não mudaram essa perspectiva quanto ao “rimland”, mas, aproveitando-se da conjuntura posterior aos atentados de 11 de setembro de 2001, tiveram êxito em fincar bases militares 181 suas ou da OTAN no interior da Ásia Central, isto é, no “heartland”, além da influência econômica junto aos novos Estados da região decorrente de investimentos em petróleo e gás natural de grandes corporações como a Exxon ou a Halliburton. Considerações Finais A importância do Brasil no cenário energético internacional – marcado pela perspectiva de elevação de riscos à segurança no abastecimento de petróleo e gás natural - se tornou relativamente maior nos últimos anos, em razão do potencial de crescimento da produção de petróleo, gás natural e ainda de biocombustíveis (sem contar o potencial nos campos das energias hidrelétrica, nuclear e de fontes alternativas). O Estado brasileiro, reconhecendo suas potencialidades e limitações estratégicas diante de vetores geopolíticos atuais, alguns dos quais rapidamente analisados ao longo do presente artigo, deve planejar a adoção de medidas que ampliem a eficiência de sua participação estratégica no setor de petróleo e gás natural, a exemplo da redução de custos diversos que interferem na atração de investimentos estrangeiros – especialmente aqueles feitos em parceria com a Petrobrás e com as empresas privadas nacionais que passaram a atuar no setor, após 1997. Isso pressupõe o desenvolvimento de tecnologias e o contínuo aperfeiçoamento de marcos regulatórios, com a consequente consolidação de um ambiente de segurança jurídica. Ao mesmo tempo, também é útil considerar o fato de que a história da indústria do petróleo e do gás natural é marcada, desde as primeiras décadas do século XX, por conflitos, guerras e tensões diversas, em que os protagonistas são as grandes potências econômicas e militares, de um lado, e nações periféricas, de outro. Trata-se de uma concepção realista das relações internacionais e não um exercício de especulação fútil sobre teorias conspiratórias, ainda mais quando são divulgadas informações promissoras sobre grandes reservas de hidrocarbonetos na Bacia de Santos: o país poderá se transformar, inclusive, em exportador de petróleo, gás natural e derivados (com uma produção estimada para 2020 de 5,7 milhões bbl por dia). Em outros termos, numa conjuntura de elevação da volatilidade das cotações das “commodities” energéticas e de propagação de uma percepção de insegurança no abastecimento de energia em todo o mundo, o Brasil deverá assumir posições mais destacadas no cenário geopolítico internacional, o que, todavia, não significa o abandono dos tradicionais postulados da política externa brasileira, pautada na defesa da cooperação e da paz entre as nações. Pelo contrário, significa o seu reforço. Referências Bibliográficas Armitage, R. L.. “The New Geopolitcs.” In: Bloomfield Jr., L. P. “Global Markets and National Interests: the new geopolitcs of energy, capital, and information.” Washington (D.C.): Center for Strategic and International Studies, 2002. p. 3-9. Armitage, R. L., Boomfield Jr., L P. e Kelly, J. A.. “Preserving U.S. and Allied interests in a New Era: toward a national strategy.” In: Bloomfield Jr., L. P. “Global Markets and National Interests: the new geopolitcs of energy, capital, and information.” Washington (D.C.): Center for Strategic and International Studies, 2002. p. 203-236. Del Valle, A.. “Guerras contra a Europa.” Rio de Janeiro: Bom Texto, 2003. Economides, M. e Oligney, R.. “The Color of Oil.” Katy, Texas: Round Oak Publishing 182 Company, 2000. Fiori, J. L.. “Formação, Expansão e Limites do Poder Global.” In: Fiori, J.L.. “O Poder Americano.” Petrópolis: Vozes, 2004. Kleveman, L.. “The New Great Game: blood and oil in Central Asia.” New York: Atlantic Monthly Press, 2003. Mann, C.. “Oil in the New Global Economy: international capital market integration and the economic effects of oil price extremes.” In: Bloomfield Jr., L. P. “Global Markets and National Interests: the new geopolitcs of energy, capital, and information.” Washington (D.C.): Center for Strategic and International Studies, 2002. p. 3-9. Meyer, K. E.. “The Dust of Empire: the race for mastery in the Asian Heartland.” New York: A Century Foudation Book, 2003. Reis, R.. “Mackinder(Escola Geopolítica de)” In: Teixeira da Silva, F.C. (Org.) et al.. “Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX. As grandes transformações do mundo contemporâneo: conflitos, cultura e comportamento.”Rio de Janeiro: Elsivier Editora, 2004. p.529-530. Reis, R.. “Spykman (Escola Geopolítica de)” In: Teixeira da Silva, F.C. (Org.) et al.. “Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX. As grandes transformações do mundo contemporâneo: conflitos, cultura e comportamento.”Rio de Janeiro: Elsivier Editora, 2004. p.854-855. Rifkin, J.. “A Era do Hidrogênio.” São Paulo: Makron Books, 2004. Teixeira da Silva, F.C. (Org.) et al.. “Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX. As grandes transformações do mundo contemporâneo: conflitos, cultura e comportamento.”Rio de Janeiro: Elsivier Editora, 2004. La Cooperación Internacional en la Unión Europea, como forma de garantizar los Derechos Humanos Fernando de Alvarenga Barbosa1 Resumen Este trabajo tiene por objeto demonstrar la necesidad de profundizar una larga cooperación entre los Estados, para garantizar los derechos del hombre y también los esfuerzos para encontrar aquellos que violan las protecciones internacionales. Busca verificar la utilización de la fuerza por el Estado y sus limitaciones. Dicha cooperación viene desarrollándose bajo los auspicios de la Unión Europea – UE, da la ONU y del continente americano. Palabras-clave: Derechos Humanos; Estado de Derecho; Seguridad Pública. Abstract This article aims to demonstrate the necessity of a deep cooperation with the government to guarantee the human rights as well the efforts for those who breaks the international protection. Analyzes the utilizations of the power from the States and the limitations. This cooperation happens with the European Union – EU, from UN on the american continent. Keyword: Human Rigths, State Law; Public Securit. Introducción “(…) La asamblea general proclama: La presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común a ser logrado por todos los pueblos y todas las naciones, con el objetivo de que cada individuo y cada órgano de la sociedad, teniendo siempre en la mente esta Declaración, trabaje través de la enseñanza y de la educación por promover el respecto a estos derechos y libertades y por la adopción de medidas progresivas de carácter nacional y internacional, por asegurar su reconocimiento y su observancia universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los propios Estados-Miembros, cuanto entre los pueblos de los territorios en su jurisdicción. (…) Articulo III – Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. (…) Artículo XXVII – Toda persona tiene derecho a una orden social y internacional en que los derechos y libertades establecidos en la presente Declaración posan ser plenamente realizados.” (Declaración Universal de los Derechos del Hombre/1948) 2 1 Doctorando en Derecho por la Universidad de Burgos, UBU, España; Profesor de Derecho Público de la UNESA-RJ y FDV/FAA-Valença/Brasil; Director del Departamento Jurídico y Miembro del Consejo de la Cruz Roja Brasileña, Filial Rio de Janeiro/Brasil. 2 MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma de Araújop Esteves. Direitos Humanos: Coletânea de Legislação. Ed. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 2003. P. 65 – 69. 183 En 2008, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –DUDH, creada bajo los auspicios de las ONU, hizo 60 años, con problemas y ofensas a los derechos por ella declarados. Para garantizarlos hay una búsqueda de cooperación entre los Estados, pero también una comprensión, no solo teórica, además práctica de la sociedad organizada, del hombre, su idealizador y formador por excelencia, de esta necesidad. La cooperación se hace más necesaria en la medida que, con la apertura de las fronteras exteriores se ha ido generalizando la inmigración, que crece exponencialmente en Europa sobre todo desde mediados de los años 903, aumentando, al mismo tiempo, el tráfico de personas. La policía de fronteras realiza una concreta actuación, aunque haya que tener cuidado, para no caer algunas veces en puro rechazo en distintos hogares4 o en la discriminación humana y personal.5 Lo que no es bueno para ningún país6. Con tratados de cooperación, los Estados intentan vencer o por lo menos, contener el avance de la criminalidad. En numerosos hogares la droga7, el tráfico de personas8, la corrupción9 y el blanqueo de capitales10, la pedofilia, las formas más distintas de crímenes, avanzan de manera avasalladora, en todas las sociedades11. En la primera década del siglo XXI, los Estados encuentran nuevas formas de integrarse y ayudarse, diferentes de matrimonios que venían celebrándose entre las monarquías siglos atrás en la historia. Hoy por hoy, los bloques económicos, cuyo paradig3 Es una cuestión que aparece de forma muy reincidente en los medios de comunicación social. Por poner algunos ejemplos: “União Européia propõe banimento de imigrantes ilegais: Projeto que segue para o Parlamento Europeu prevê detenção por até 18 meses e proibição de retorno por 5 anos”. In O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 23 de maio de 2008, p. 27. “La doctrina Corbacho en inmigración: L’Hospitalet, 184 con un 24% de extranjeros, ha sido un laboratorio de prueba”. In periódico La Vanguardia. España: 17 de abril de 2008, p. 28. “Imigrantes pagam o pato: em países da Europa e nos EUA, crise faz aumentar aversão a estrangeiro”. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 09 de março de 2009, p.41. 4 “Las fronteras nascen en la escuela: Una investigación constata que los alumnos españoles e inmigrantes se relacionan poco en el aula y que los de origen extranjero están menos integrados”. In periódico El País. España: 7 de abril de 2008, p. 40. 5 “La justicia europea admite pagar menos a los extranjeros: una sentencia aprueba que Alemania no aplique sus convenios a los polacos”. In periódico El País. España: 4 de abril de 2008, p. 28. 6 “Brown plantea que los inmigrantes paguen un 10% más por su visado: El premier británico propone aumentar el impuesto que abonan los extranjeros que pretenden permanecer más de seis meses en el país”. In periódico El Mundo. España: 21 de febrero de 2008, p. 35. 7 “Tráfico busca maconha paraguaia para Rio de Janeiro e São Paulo: Agentes federais investigam rotas de entrada da cocaína colombiana e aumento do uso de lança-perfume no Brasil”. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA:10 de setembro de 2006, p. 23. “Poder paralelo assola México: país enfrenta onda crescente de violência dos cartéis da droga e preocupa EUA. ‘Traficantes mexicanos atuam na Califórnia”. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 27 de maio de 2008, p. 24. 8 “Polícia Federal e Interpol investigam tráfico de pessoas: novas quadrilhas estariam aliciando mulheres no Rio de Janeiro para trabalharem como prostitutas em outros países”. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/ BRA: 17 de setembro de 2006, p. 30. 9 “Brasileiros presos por falsificação na França: quadrilha forjava documentos para empregar imigrantes em construtoras por salário menor”. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 31 de maio de 2008, p. 10. 10 “Liechtenstein califica de ataque alemán la investigación de Berlín sobre la evasión fiscal: La Policía germana busca en Mallorca al hermano del ex presidente del Deutsche Post tras implicarlo en la trama de corrupción”. In periódico El Mundo. España: 20 de febrero de 2008, p. 41. 11 “Las drogas conducen a 1500 españoles a cárceles foráneas: El 77% de los nacionales detenidos en el extranjero cometieron delitos de tráfico o consumo de estupefacientes. Suelen ser jóvenes que hacen de correos a cambio del viaje”. In periódico Diario de Burgos. Burgos, España: 18 de junio de 2008, p. 61. ma más emblemático es, sin lugar a dudas, la Unión Europea - UE, en cuyo seno, sus instituciones junto con sus Estados miembros, están trabajando para lograr éxito al que conduce el cumplimiento de los objetivos estipulados en los tratados constitutivos. Con una criminalidad internacional organizada con redes criminales anti sistema que se benefician de la imperfección que impera en la actual comunidad internacional, cuyo orden descansa aún hoy en los Estados separados por sus fronteras, por su población y su propia organización política, se hace imprescindible que se proyecte hacia el exterior la cooperación policial, para coordinarse con terceros Estados u Organismos internacionales, culminando en un mejor éxito para la seguridad pública, uno de los ejes de la Unión Europea. En resumidas cuentas, yendo de lo más general a lo más particular, se intenta demostrar la importancia de la cooperación para el desarrollo y protección de los derechos de toda sociedad. Es necesario comprender la naturaleza humana, la posibilidad de uno de hacer mal a otro, a querer más de lo que se puede, a no tener frenos en sus acciones y sus ganas. Esta comprensión tiene un largo grado de abstracción. Pero, este avance lleva a dejar profundas marcas en las sociedades y a cambios estructurales en las políticas de los gobiernos.12 El instinto: de la sociedad natural hasta la sociedad organizada El hombre es una criatura que está en constante búsqueda de sí y en este punto, está el real valor de la vida. Difiere completamente de la naturaleza pura y simple, una vez que tiene la consciencia de su existencia; y su juicio de individualidad lo distingue de los otros seres vivos. 185 El descubrimiento de la autoconsciencia, del entendimiento de sí, de su existencia, mientras parezca muy fácil, muchas veces se torna inaccesible y permanece en estado de desarrollo interior. El miedo se convierte en compañero fiel y tiene, como una de las causas, la ansiedad de perder la consciencia en sí, la sensación de estar perdido, sin saber diferenciar su mundo subjetivo del mundo objetivo que está a su alrededor.13 El ser humano es inepto para vivir solo. Precisa de la aprobación social de determinado grupo, pues solamente insertado en el grupo es reintegrado, como si volviese al vientre materno, olvidándose así de la soledad. Para ERICH FROM14, “é na infância (próximo aos três anos) que surge a autoconsciência, que a criança toma consciência de sua liberdade, sentindo-se no relacionamento com os pais, e a si mesma, como um indivíduo independente”. En el prisma de la consciencia15, SIGMUND FREUD propuso que la civilización si basa en la permanente subyugación de los instintos humanos.16 Su interrogación 12 “Os filhos perdidos do franquismo: Espanha abre discussão sobre o que foi feito das crianças tiradas de suas famílias.” In jornal o Globo. Rio de Janeiro/BRA: 21 de dezembro de 2008, p. 37. - “Uma geração já comprometida: Trauma vivido por crianças palestinas e israelenses pode dificultar paz no futuro.” In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 11 de janeiro de 2009, p30. - “Novos rebeldes desafiam poder na China: Jovens, que não aprenderam na escola o que houve há 20 anos na praça da Paz Celestial, reavivam contestação ao governo.” In jornal Folha de São Paulo. São Paulo/BRA: 31 de maio de 2009, p. A20. 13 FROM, Erich. A descoberta do inconsciente social: contribuição ao redirecionamento da psicanálise. Trad. de Lúcia Helena Siqueira Barbosa. São Paulo: Manole, 1992.p.22. 14 Ibid., p.69. 15 Termino que puede ser cambiado o entendido como cultura. 16 En acuerdo con la noción freudiana de Trieb, referese a los impulsos primarios del organismo humano que están sujetos a la modificación histórica, encontran representación tanto somática como mental. sobre si los beneficios de la cultura han compensado el sufrimiento así infringido a los individuos, no fue llevada mucho en serio, más aun cuando el propio considero el proceso inevitable e irreversible. La libre gratificación de las necesidades instintivas de los hombres es incompatible con la sociedad civilizada, pues en este hecho, renunciar y adiar la satisfacción primaria constituye el prerrequisito del progreso. Dice: “La felicidad no es un valor cultural. Debe estar subordinada a la disciplina de la reproducción monogamia, al sistema establecido de la ley y orden”. El sacrificio de la libido, la sujeción rígidamente impuesta a las actividades y expresiones socialmente útiles, es cultura. Estos aspectos negativos de la cultura moderna pueden indicar muy bien hasta qué punto están obsoletas las instituciones establecidas y la emergencia de nuevas formas de civilización: la represión17 es, quizás, mantenida con más vigor cuanto más innecesaria se convierte. La propia teoría de FREUD ofrece razones para sostener la identificación de civilización con represión. Según él, la historia del hombre es la historia de su represión. La cultura coacciona tanto su existencia social como la biológica, no solo como partes del ser humano, sino también debido a su propia estructura instintiva. La civilización empieza cuando el objetivo primario, o sea, la satisfacción integral de las necesidades, sea abandonada. La subyugación efectiva de los instintos, por controles represivos, no se impone por la naturaleza, sino por el propio ser humano. 186 La formación del Estado y las violaciones del orden social Es facto, que no se puede obtener la libertad total, la felicidad extrema en una sociedad, pues se llegaría a un gran desorden, la explicación del origen del Estado para THOMAS HOBBES, está basada en el orden social y político. El hombre vive en estado de naturaleza, o sea, posee el derecho a todo, no hay delimitación. Es egoísta y vive en situación de guerra y por consecuencia, aparecen las inconstancias sociales. En este momento, se forma el pacto social que para él, es el pacto con el Rey, detentor de la soberanía, el Estado absoluto, pues él no puede ser cuestionado. Todo lo que hace se basa en la autoridad concedida por el súbdito y por Dios. “Autorizo e cedo meu direito de governar a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de cederes teu direito a ele, autorizando todas as suas ações da mesma maneira.”18 Para el filósofo JONH LOCKE, así como para HOBBES, el hombre vive en estado de naturaleza y se une a través un contracto para construir una sociedad civil. Este autor no ve al hombre como egoísta que vive en estado de guerra, pues como vive en estado natural, cada uno es responsable y juez para sus causas. El estado natural del hombre no desaparece, pues es éste el que servirá para delimitar el poder del soberano. Si este último no efectúa comportamientos de conformidad con el Derecho Público, puede ser depuesto de su cargo. Vive en libertad natural, bajo las leyes que ayudó a crear. 17 Represión o represivo - utilizados en la manera no técnica de la palabra para designar los procesos conscientes y inconscientes, externos o internos, de la restricción, coerción y supresión. 18 MORRIS, Clarence (org.). Os Grandes Filósofos do Direito. Martin fontes: São Paulo, 2002. p.115. JEAN-JACQUES ROUSSEAU legitima el poder través del contrato social. Para ellos el estado de naturaleza en que vive el hombre es bueno, pues viven todos sanos, cuidando de su supervivencia. Este estado va durar hasta el momento en el que desaparecen las desigualdades. Entiende ser el contrato falso y lo mas atingido es el hombre por lo que hay en este documento ficticio, pues para ser legitimo debería lo ser para quien concede el poder, como para aquellos que lo reciben, en similar igualdad. Con relación al gobierno y a la soberanía, son inalienables y pertenecen al pueblo, pues el soberano formase por el cuerpo social, o sea, por la voluntad general y si expresa por las leyes. Para él, el gobierno es instituido por el pueblo y este no si somete aquel. Hablando de la democracia directa, entiende que aquellos que forman el gobierno se subordinan al soberano que es el propio pueblo. “Se o Estado é uma pessoa moral cuja vida está na união de seus membros, e se o mais importante de seus cuidados é o cuidado que visa a sua própria preservação, deve ter uma força universal e coercitiva, a fim de mover e dispor cada parte da maneira que seja mais vantajosa para o todo. Assim como a natureza dá a cada homem poder absoluto sobre todos os seus membros, o pacto social também dá ao corpo político poder absoluto sobre todos os seus membros; e é esse poder que, sob a direção da vontade geral, tem como eu disse, o nome de soberania...”19 Lo que es verdad es que la civilización vive la inmersión en su propio interior, o sea, tras en si la posibilidad de regreso de la barbarie, pues este es su contrapunto. Por muchas veces, es posible observar que en lugar de una barbarie declarada, las civiliza- 187 ciones contemporáneas ejercen una violencia disimulada. Para NIETZSCHE, la civilización es el “dominio y represión sobre el individuo”.20 En el Estado de Derecho, la ley, como sinónimo del orden jurídico, subordina al pueblo, los gobernantes y las instituciones, existiendo ciertos principios básicos inalterables. El cambio de la ley solo puede ser hecho bajo la voluntad del pueblo, representado por el poder Legislativo, que establece las reglas para las alteraciones de su contenido, según la necesidad que viene con los cambios sociales. Por supuesto, solo hay una orden vinculada al propio Estado, pues él es quien detiene la soberanía. Desde este punto, él detenta el monopolio del sistema jurídico. Puede exigir la obediencia a las normas, no tolerando el incumplimiento, pues si así fuera, no tendría sentido su existencia. Con el desvío de la conducta correcta, se utiliza la coerción que es una forma de violencia, física o mental. Pero, solo cabe a él, aplicarla. Es su monopolio legítimo. La violación de la norma lleva a la sanción, que puede ser una reprensión o llegar al encarcelamiento perpetuo o la pena de muerte, cuando el Estado las acepta. Solo el Estado puede obligar alguien o alguna organización a hacer o no alguna cosa. Cuando no más si reconoce la legitimidad del Estado, llegamos a la beligerancia o insurgencia: grupos que desean derribar el gobierno o separar el Estado, pues no aceptan más la vigencia de la ley existente en sus caminos.21 19 Ibid. p. 220. NOVAES, Adauto (org). Civilização e Barbarie. Companhia das Letras: São Paulo, 2004. p. 14. 21 Esto paso en Timor Leste, finando en 1999, cuando deseo separarse de Indonesia. Con Tíbet, en febrero de 2008, con embates violentos entre los monjes y las fuerzas chinas. También pasó en Kosovo, en febrero de 2008, cuando hicieran una declaración de independencia de Serbia, por la autodeterminación de los pueblos. Hasta hoy, ago/09, Kosovo no es oficialmente un país. Esto pasa y pasará en sitios donde el pueblo sienta la opresión excesiva del Estado. 20 La sociedad globalizada y el poder de policía del Estado Cuando se desmantelan las fronteras interiores entre los Estados miembros de la UE, en 1992, la cuestión de la cooperación entre los departamentos de policía y la cooperación judicial se convierten en un eje sus políticas. Para este desarrollo necesita la supresión de las fronteras interiores, para que las personas sean libres para caminar, lo que lleva a “adoptar medidas compensatorias o complementarias que permitan reforzar los controles en las fronteras exteriores, esto es, las que separan a los Estados miembros de terceros Estados”.22 Aunque unas personas no estén en situación regular en el territorio de estos, deben tener “políticas nacionales de inmigración, asilo y refugio, tradicionalmente vinculadas al núcleo duro de la soberanía de los Estados.” El Estado, en su definición clásica, es un ente jurídico, que tiene en sus elementos constitutivos, un territorio delimitado, donde aplica su jurisdicción y su soberanía interna, poder no sobrepasado por ninguno otro externamente. Una sociedad vinculada jurídicamente a él y un gobierno capaz de relacionarse con otros Estados.23 Para la cooperación internacional, deben conducir los retos por el principio de la igualdad,24 donde va a ser importante ceder en algunos puntos. En este contexto, lo de ser soberano internamente,25 en su propia jurisdicción (decir su derecho), supone la responsabilidad de ordenar, proteger y disponer condiciones para que la sociedad consiga desarrollar sus propósitos.26 Al Estado cabe la responsabilidad de tener todo lo necesario para su gente. Quizás, sin embargo, deba hacer lo posible por disponer de medios para que logren su éxito, sin ser un Estado que todo 188 “le ponga en las manos”. El gobierno que percibe esto, utiliza políticas “populistas y paternales” conduciendo a sus ciudadanos hacia donde le interesa, dictando leyes de la forma que quiere. En la mayoría de las veces con innumerables gastos, aumentando el déficit público. En realidad, los ciudadanos, en su mayoría, son “entrenados para obedecer a las leyes, pero no para juzgarlas. Los gobernantes se benefician de un mecanismo psicológico resultante del hecho de que nosotros, muchas veces, cumplimos las leyes que, si sobre ellas meditásemos, no las cumpliríamos.”27 Las leyes son una forma de coacción y también, por supuesto, de ordenar a la sociedad: “no hagas esto porque se quedará sin libertad; si hace así va a recibir una multa; si hablas de esta forma con el otro, vas a ser demandado judicialmente”. 22 FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel y BACIGALUPO SAGGESE, Mariano. Las Políticas de la Unión Europea: La cooperación policial y judicial en materia penal. Ed. Colex. Madrid: 2002. p.101. 23 ZIMMERMANN, Augusto. Curso de Direito Constitucional. 4ªed. Ed. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2006, p.29. 24 Carta de las Naciones Unidas, de 1945: Artículo 2º - A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 1, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 1. A Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros. 25 Op. Cit.: “Artículo 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” En el Estado está la responsabilidad, pues la soberanía esta con el pueblo. Por lo tanto, aquel tiene que contestar por sus actitudes a este. 26 Op. Cit.: “Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 27 In Zimmermann, op. cit. p.8: Manoel G. Ferreira da Silva. O Poder Constituinte, p. 49. Pero no se puede olvidar, que la solución dada por la ley es taxativamente más democrática que aquella dada por un tribunal, pues suele ser fruto de debates que se desarrollan en el Parlamento o asamblea y entre la propia sociedad, han de sufrir influencias de grupos de presión capaces de frenar la voluntad del legislador y forzarlo a presentar una solución más ecuánime. Este poder de coacción, que puede ser física o psicológica, que es más eficiente que la primera, presupone un mínimo de legitimidad sobre determinado grupo social. Un gobierno debe ser legítimo, electo por procesos democráticos y también, legitimado, en realidad, que su sociedad reconozca su liderazgo.28 Si la legitimidad desaparece, el poder no es más sustentable. Más allá de ella, un otro elemento que esta con el gobierno, dentro de sus responsabilidades y competencias, es la fuerza, pero aquí debe tener cuidado, pues mal utilizada va a encontrar la dictadura. El elemento fuerza es secundario ante el ejercicio del poder legitimo. Ella, como parte de la coacción, solo va a utilizarse en ocasiones muy excepcionales, no representando mayores problemas a la imposición de su voluntad, Estado. En este sentido parece haberse posicionado DUVERGER: “O poder legítimo não tem necessidade da força para se fazer obedecer. A força só intervém nos casos-limites, contra os desajustados sociais, os minoritários. Se a legitimidade é sólida, o poder pode ser suave e moderado. Sós, os regimes legítimos podem ser fracos. Porque, se a legitimidade desaparece, o poder não é mais sustentado senão por seus elementos materiais. Se, em um Estado ou grupo social qualquer, desaparece o acordo sobre um tipo de legitimidade, estaremos em situ- 189 ação revolucionária: o poder torna-se contestado e se desmorona, a menos que os seus titulares empreguem efetivamente a coação para se fazerem obedecer.” 29 Para ordenar las cosas, proteger y crear condiciones iguales, cabe al Estado, entre sus deberes, mantener la Orden Pública y entre sus derechos legitimados esta el Poder de Policía o Limitación, “se entiende aquella forma de intervención mediante la cual la Administración restringe la libertad o derechos de los particulares, pero sin sustituir con su actuación la actividad de éstos”.30 MARCELO CAETANO relata que: “O poder de regular, também conhecido como poder de polícia (police power), é o poder de promover o bem público pela limitação e regulação da liberdade, do interesse e da propriedade”.31 El fundamento de este poder que les dio la sociedad y por eso legítimo, tiene un eje según el jurista brasileño, JOSÉ MARIA P. MADEIRA. El entiende que “O fundamento do poder de polícia decorre da supremacia exercida pelo Estado sobre todas as pessoas, bens e atividades existentes no meio social”.32 La administración debe servir a lo interés público. El orden público es una de las finalidades más grandes de la policía administrativa. Pode llamarla de actividad coactiva, de ordenación, garantía. 28 Pasó en España en 9 de marzo de 2008, siendo electo y reconocido, el sr. José Luís Rodríguez Zapatero, como Jefe del Gobierno español y en Brasil, en 29 de octubre de 2006, siendo presidente, el sr. Luis Inácio Lula da Silva. Ambos por uma segunda vez. 29 In Zimmermann, p.3. Ciência Política – Teoria e Método, p. 15. 30 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo I. 14ªed. Ed Marcial Pons: Madrid, 2003. p. 372. 31 CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. 14ªed. Coimbra: Ed. Coimbra, 1992. p. 238. 32 PINHEIRO MADEIRA, José M.: O Poder de Polícia. Ed. Lúmen Júris, RJ, 2000. , p. 9 El orden público es un concepto de mayor significado en el derecho pero hay dudas bajo su efectividad. Es un concepto complejo, cambiante y difícil en razón de haber como definirlo por su época, lugar y aspectos regionales y morales del sitio. Un concepto jurídico indeterminado o normativo indeterminado. En estos casos se traen los conceptos de otras normas. El derecho busca la seguridad jurídica. Para los civilistas el concepto de orden público es amplio. Identifica con los principios esenciales de la sociedad. Para los penalistas el orden público es un bien jurídico para la convivencia social. Así, esta orden dice respecto a la persona y a la defensa de estos derechos. Busca la dignidad de la persona humana. Lo que va a interesar es el correspondiente moral. El poder de policía tiene el deber de seguridad, salubridad y la buena orden pública. En la buena orden está la moralidad y tranquilidad. En cambio, el desorden público fue lo que pasó, por ejemplo, en el atentado de 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, cuando se destruye el World Trade Center. Muchos consideran un marco de cambio en la seguridad internacional, que aún está cerca para que tengamos la real percepción de ello. Es lo que alerta HILDEBRANDO ACCIOLY: “Ainda temos que alcançar o distanciamento necessário para poder avaliar o impacto e as conseqüências, nefastas e irreversíveis, dos ataques terroristas, ocorridos nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, marcando acontecimento da maior gravidade e repercussão, cujas conseqüências no direito internacional já se fazem sentir e certamente terão seqüelas graves sob todos os pontos de vista, sobretudo para cidadãos dos Estados ditos democráticos do Direito”. 33: 190 En este sentido CANÇADO TRINDADE, hoy en la Corte de La Haya, entende que el derecho internacional enfrenta, en el século XXI, nuevas amenazas a la paz y seguridad internacional, en medio a una gran crisis. “Nunca, como nas últimas décadas, tem se constatado tanto progresso na ciência e tecnologia, acompanhado tragicamente de tanta destruição e crueldade. Nunca, como em nossos tempos, tem se verificado tantos sinais da prosperidade acompanhados, de modo alarmante, de tanto aumento das disparidades econômicosociais e da pobreza crônica e extrema.” 34 Atentados terroristas como éste en EEUU, el del teatro de Moscú en 2002; el de Beslán en Rusia en 2004, el 11 de marzo de 2004 y el 7 de julio de 2005, en Madrid, 33 ACCIOLY, Hildebrando y SILVA, Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 15ª ed. Ed. Saraiva. São Paulo: 2002. Prefacio. Cabe recordar que en este fallo, los héroes fueron los bomberos y los policías. Su pueblo los tuvo tan a gusto, que la gran empresa de películas de Hollywood, hizo uno de sus grandes éxitos. Las Torres Gemelas, una historia real de coraje y supervivencia. Una película de Oliver Stone, con Nicolas Cage y Michael Peña”. Es sobre estos hombres que ayudan, muchos de los cuales han perecido, sacrificando a sus familias por su profesión y por ayudar a los demás. 34 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Del Rey: Belo Horizonte, 2006. Prefácio, p. VII-IX, cit.p. VII. In ACCIOLY, Hildebrando y SILVA, Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 17ª ed.(actualizada por CASELLA, Paulo Borba). Ed. Saraiva. São Paulo: 2009. P. 5. España, el aumento de la delincuencia organizada en el mundo, la inmigración ilegal, los problemas y deficiencias de las instituciones judiciales y de las fuerzas de seguridad, la necesidad de mayores cuotas, la eficiencia y eficacia jurídica en las transacciones transfronterizas de una economía cada vez más global, hacen de la cooperación policial y judicial una prioridad. Trabajo, honestidad e información, entre otras cualidades, es lo que mueve la cooperación. La información es vital y la cooperación, en estas sociedades “globalizadas”, por supuesto, necesarias. Sobre la sociedad de la información, relata el profesor GARCÍA-MORENO: “La sociedad de la información, qué duda cabe, conlleva notables e innegables ventajas para la totalidad de la población, pero junto aquellas, también una serie de inconvenientes, como por ejemplo y entre otros, sin ánimo de exhaustividad, la posibilidad de poder vulnerar la privacidad, y incluso, la intimidad individual; el poder ejercer un excesivo control y dirigismo mediático sobre las personas; facilitar y evacuar tal cantidad de información a los ciudadanos, mucha de ella sin ser debidamente ‘filtrada’, en cuanto que contrastada o verificada, que resultándoles a estos imposible de ‘digerir’ y madurar la misma y sobre todo, diferenciar la buena y correcta, de la mala y falsa, terminen estando finalmente desinformados o lo que es peor, mal informados, etc..“ 35 En EEUU, aún se habla, en los bastidores del poder y de los grupos de investiga191 ción federal, que el gobierno no dio el valor que requerían los informes sobre un posible 36 ataque dentro del territorio estadunidense. Así, si queda con los prisioneros que hizo, en las prisiones de Guantánamo – Cuba37 y con la guerra que no consigue acabar. Mantéenlos encarcelados, contra las normas de Derecho Internacional Humanitario - DIH y por supuesto, contra el mundo que defiende los Derechos Humanos - DDHH. El nuevo gobierno del presidente Barack Obama que comienzo en enero de 2009, se quedó con la responsabilidad de resolver estos hechos. Por lo tanto, gobernar está más allá de hacer política en el G7 o G2038. Es observar los derechos y deberes de un Estado, frente a su sociedad y la sociedad internacional. Debe saber lo que quiere y necesita su mundo interno, para el trabajar, sin si olvidar del equilibrio, del relato de sus órganos, de las informaciones que llegan de distintas formas y hasta de las video cameras,39 cada vez más presentes en ciudades, 35 GARCÍA-MORENO RODRIGUEZ, Fernando. Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la Información y nuevas tecnologías, (Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho). 2005. p. 305 36 CSETTKEY, Marcelo y GIL, Marcelo. Crime de Estado: a verdade sobre o 11 de setembro. Talagarça. Rio de Janeiro: 2006, p.167. 37 En razón del atentado del 11 de setiembre de 2001, invade Afganistán en fines del mismo año y en marzo de 2003, Iraq 38 “A nova orden financeira mundial: Documento do encontró faz cerco a paraísos fiscais e diz que ‘era do segredo bancário acabou’.” Enfim estadista: Obama usa cúpula do G20 para articular acordos bilaterales, aparar hostilidades e discutir temas estratégicos para a política externa dos EUA.” In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BRA: 03 de abril de 2009, p. 19 y 25. 39 Donde su utilización en distintas ciudades, se quedo conocida como “El gran Hermano.” El “Gran Hermano” es un personaje ficticio en el romance 1984 de GEORGE ORWELL, el enigmático dictador de la Oceanía. Mil Novecientos y Ochenta y Cuatro (título original Nineteen Eighty-Four) como Londres, San Pablo, Rio de Janeiro, Nueva York y Madrid, para observar y inhibir distintos crimines, principalmente por razón de la prostitución callejera, que tiene sus vinculaciones con el tráfico de personas y la criminalidad organizada transnacional. En realidad, es para ella, sociedad, que él, Estado, existe. Para llegar al bien común,40 llevarla al estado de bienestar.41 En el hecho de la seguridad, esta la cooperación policial: el Estado como ente y la policía como parte integrante y directa de este sujeto legal. Esto es creado para dar seguridad a la gente, que le dio el poder para eso cuando lo elige. Hay que tener, entre otras necesidades, un “brazo” para que haga lo que no quiere y no puede hacer por si, pues debe poseer habilidades, entrenamiento constante y voluntad para combatir una violencia que crece y cambia todos los días, junto con el desarrollo de las sociedades. CELSO D. DE ALBUQUERQUE MELLO, decía en una conferencia en 1997 que: “…el mundo camina para la droga, ya que la soledad de unos, los impulsa para encontrar alivio en ellas, ingresando en un ciclo continuo de pérdidas.” 42 En este momento, hace referencia AGNES HELLER que escribe en su texto: “A modernidade é uma grande possibilidade e também um grande ônus. Desenvolve-se muito rapidamente, dificultando a adaptação dos seres humanos.Oferece a grande possibilidade, particularmente nas democracias liberais, de todos participarem das decisões políticas e tornarem-se senhores de suas vidas. Mas, em função da rapidez do processo de transformação homens e mulheres têm pouca 192 es el título de un romance escrito por ERIC ARTHUR BLAIR bajo el pseudónimo de GEORGE ORWELL y publicado en 8 de junio de 1948 que retrata el cotidiano de una sociedad totalitaria. El título viene del cambio de lo dos últimos dígitos del año en que el libro fue escrito, 1948 En la sociedad descrita por Orwell, todas las personas están bajo constante vigilancia de las autoridades, principalmente por telescreen, siendo constantemente recordados por la frase propaganda del Estado: “El Gran Hermano observa por ti” o “El Gran Hermano está observándote” (del original “Big Brother is watching you”). La descripción física del “Gran Hermano” asemillase a Josef Stalin o Horatio Herbert Kitchener. El concepto originado y puesto para la sociedad moderna, es el dominio de las masas por la prensa, si no totalitarias, mas en la condición de casi monopolio de audiencia. Ellas poden dictar reglas a los costumbres, hacer y/o deshacer idolatrías y hacerse de vías para la conducción de una cultura. El programa televisivo Big Brother presenta la inversión de papeles, configurando un paradojo inquiridor: quien está bajo el jugo de quien? 40 CRETELLA JR, José y CRETELLA NETO, José. 1000 perguntas e respostas sobre Teoria Geral do Estado. Forense: Rio de Janeiro, 2004. p.9. El Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris, lo definió como “El conjunto de todas las condiciones de vida social que consistan y favorezcan el desarrollo integral de la persona humana.” Para algunos autores seria un elemento esencial al Estado, para otros seria un elemento caracterizador do Estado, mas no sería su esencia. La doctrina Moderna, en su mayoría coloca como esencial, determinando, por lo tanto, que son elementos esenciales del Estado su Pueblo, su Territorio, la Soberanía y la Finalidad. 41 Este modelo incorporo estructuras estatales excesivas y caras, del Estado Liberal y del Estado Intervencionista o asistencialista, para el atendimiento de la sociedad, alargando en mucho el papel, el tamaño y el costo de la máquina estatal, generando un escenario de mal atendimiento y insatisfacción. Todo ese cuadro, encontrase en fases de debates, pues los Estados buscan reformas para adecuación de los instrumentos jurídicos y administrativos al contexto de la globalización. Buscase un Estado eficiente, con menos costos e mejores resultados, afín de que sea capaz de atraer recursos privados para el desarrollo. 42 ALBUQUERQUE MELLO, Celso Delmanto de. Curso de Direito Internacional Público. 14ª Ed.. Renovar: Rio de Janeiro, 2002. p. 43. clareza dos resultados de suas ações, talvez estejam conscientes das suas responsabilidades diante das gerações futuras, mas apenas em termos abstratos. Dificilmente podem imaginar a vida dessas gerações. No mundo pré-moderno todos podiam imaginar como seus netos viveriam e o que fariam. Hoje, nenhum de nós sabe grande coisa sobre os netos. Viver na incerteza é traumático. Viver na incerteza dos significados e valores é ainda mais. Um trauma tem consequências psicológicas e, através de mediações sociopolíticas, perigos. O trauma moderno não é um acontecimento, mas um estado de coisas, pois é contínuo”. 43 El órgano gubernamental: La Policía Policía en español; police en ingles; polícia44 en portugués; polizia en italiano; policija en la Croacia, polizei en Alemania. Sea lo que sea el idioma, la palabra tiene el mismo radical y el mismo significado en lejanos sitios y sus miembros, reconocen la palabra en las distintas lenguas. Su agente, aquél que la representa junto a la sociedad, también se llama policía, pues pertenecen a dicha organización. Por supuesto, también tienen las mismas responsabilidades, aunque los Estados sean diferentes en su administración interna y en sus ordenamientos jurídicos. En la medida que aumente el desorden, aumenta la tolerancia de la sociedad sobre actitudes más opresoras por parte de estas instituciones estatales. El nombre de esta institución empieza o en realidad, deriva de la polis, que era la ciudad griega, donde estaban los ciudadanos vinculados a la ciudad-Estado. Nace de un vocablo griego, politéia, que derivo para el latin, politia, los dos con el mismo significa- 193 do: gobierno o administración de una ciudad o también una forma de gobierno. Este dirige una sociedad, que, según LIMA en su concepto lato sensu: “es el mundo de la cultura, nivel de la realidad donde ocurren los fenómenos políticos, sociales y económicos y, como tal, distinguiese de la Naturaleza, nivel de la realidad donde ocurren los fenómenos físicos, químicos y biológicos.” 45 La Policía es esencial porque implica la participación del Estado para ordenar la libertad de los ciudadanos, garantizando el derecho de los demás. La actividad policial es irrenunciable. Este poder es una atribución de los funcionarios federales, estatales y municipales, que hacen parte de la fuerza pública organizada que constituye los distintos departamentos de Policía, aunque sean creados según las condiciones y disposiciones políticas y legislativas de los Estados. 43 HELLER, Agnes. Uma crise global da civilização: os desafios do futuro. In A Crise dos Paradigmas em Ciências Sociais e os Desafios para o Século XXI. 2000. ALBUQUERQUE MELLO, Celso Delmanto de. Curso de Direito Internacional Público. 14ª Ed.. Renovar: Rio de Janeiro, 2002. p. 43. 44 GERALDO da CUNHA, Claudio y otros. Diccionario Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2ª ed. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1997. p. 619. Substantivo feminino, acepção original de (boa) educação; “conjunto de leis ou regras impostas ao cidadão para asegurar a moral, a orden e a asegurança pública”; “a corporaçao encarregada de fazer respeitar as leis”; “indivíduo pertencente à corporação policial”. Su primera ocurrencia en la lengua portuguesa fue en lo siglo XV o XVI, como pulyçia. 45 LIMA, Antonio Sebastião de. Teoria do Estado e da Constituição: Fundamentos do Direito Positivo. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1998. p. 14. Las Constituciones de ellos traen retos para el Orden público en la parte de seguridad pública, como en la Constitución brasileña de 1988, en el artículo 14446 o de seguridad del Estado, como en la Constitución española - C.E., en el artículo 8.1.47 Algunos entienden que el orden público está relacionado con la aparición del desorden, es decir, que hay que instalar el desorden y desde ahí los aparatos institucionales estatales van a poder buscar el orden, como se encuentra en el libro de JOÃO DE DEUS LACERDA MENNA BARRETO: “Não nos parecem procedentes os argumentos de que a ronda ou a vigilância, sejam forma de manutenção da ordem pública. A expressão contida no preceito constitucional (CRFB/88: art. 144, parágrafo 5º) exige, naturalmente, como pressuposto da intervenção da Polícia Militar, a quebra da ordem pública, ou a ameaça dessa ruptura, isto é, da desordem”. 48 Es necesaria la cohesión y colaboración, entre los departamentos de policía, pues ella trabaja directamente por la gente y para eso fue creada. Las fuerzas armadas de los Estados, son para proteger el territorio y las soberanías de ellos. Si entiende aquí que la cuestión de seguridad es algo más allá de tener una Policía. Es un concepto que los departamentos deben tener en cuenta y ponerlos en práctica, para que puedan cumplir sus responsabilidades.49 El Estado y la utilización política de la Policía Encontrar un concepto de Estado que satisfaga a todas las vertientes doctrinarias 194 es imposible, en razón de ser el un ente complejo. Por lo más que intenten encontrar un concepto más objetivo, habrá un quantum de subjetividad. Hay conceptos que están más ligados al concepto de fuerza y que podrían ser clasificados como políticos, pero aun así, no se olvida del intento de la connotación jurídica al Estado. DUGUIT, que se orienta por la idea de que el Estado es “como força que se põe a si própria e que, por suas próprias virtudes, busca a disciplina jurídica”50, conceptuado como fuerza material irresistible, donde ella es limitada y reglada por el derecho. 46 CRFB/1988: “Capítulo III – da Segurança Pública Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.” 47 C.E./78: “Artículo 8.1: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” 48 MENNA BARRETO, João de Deus L. Violência e criminalidade: propostas de soluções. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 75. 49 En la sentencia 123/1984, de 18/12/1984, del Tribunal Constitucional Español, en un hecho que esta el Estado nacional contra el país Vasco, la defensa del país Vasco define seguridad: “El concepto de seguridad pública es mucho más amplio de lo que se pretende y no puede ser interpretado en el sentido de atribuir al Estado todas las competencias que tienen por objeto la defensa de la seguridad pública o del orden público, (…). En el Estado moderno la actividad de orden público no es algo a posteriori de la ruptura del orden jurídico, con mínimos establecidos en el Código Penal. Es una actividad preventiva, correctora de equilibrios y desigualdades. La determinación de quién sea competente para garantizar la tranquilidad ciudadana y el pacífico disfrute de los derechos deberá determinarse de acuerdo con el reparto competencial que existe entre los distintos Entes territoriales en diversas materias, conectadas, mediante el principio de entrecruzamiento, a esa seguridad ciudadana entendida en sentido amplio”. 50 In ABREU DALLARI, Dalmo de. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25ª ed. Saraiva: São Paulo, 2005. p. 117. DUGUIT, León. Traité de Droit Constitutionnel. Bocard: Paris, 1923/1927. El Estado visto por la teoría anarquista, la policía es entendida como la responsable de defender los intereses y privilegios de la burguesía, manteniendo el status quo, o sea, las cosas como están, principalmente con la protección de la propiedad privada y el capital. Cambiar contraria a los intereses de las vulnerables y vulneradas clases sociales, como el proletariado o las minorías étnicas por ejemplo. Los anarquistas argumentan que si bien la policía es la responsable de mantener la seguridad de los ciudadanos, la verdadera amenaza casi siempre se origina de la desigualdad de clases. No que sea un obstáculo en concreto, pero el capitalismo exagerado del consumo lo hace así. Ella causa el efecto contrario por lo que dice luchar. El monopolio de la fuerza y el armamento, evidencia que la policía trabaja por el control y la opresión del pueblo en general. Una alternativa tradicionalmente defendida desde sectores libertarios para la erradicación de aquellos crímenes no ligados a la desigualdad social, es hacer un mayor énfasis en la educación. Siguiendo el ejemplo de los crímenes pasionales o de la violencia machista como un componente cultural, dado que su incidencia varía de unas sociedades a otras, ha que sé hacer una educación basada en el respeto a la persona y su dignidad. La idea de educación para la sociedad, en el sentido de conocer y trabajar por el Estado y también de seguridad, está presente en distintas cuestiones y así debe ser, pues encontrase entre sus funciones. WEBER define al Estado, en 1919, como una organización que reclama para sí, con éxito, el “monopolio de la violencia legítima”.51 Esta legitimidad está para KELSEN como una “ordem coativa normativa da conduta humana” 52 y aquí parece un tanto limitada esta noción jurídica. Hay que enfatizar el factor jurídico, sin dejar al lado los factores no jurídicos indispensables. Observarse que el pasaje del status naturalis al status civilis, es el momento 195 decisivo para el surgimiento del Estado y la garantía del Derecho. Deja de ser mera pretensión en las relaciones entre los individuos (status naturalis) para ser posibilidad, basado en un poder externo, inviolable, tutelar, creado en beneficio de todos, el EstadoInstitución (status civilis). En las palabras de KANT: “O homem não sacrificou parte de sua liberdade externa e inata, a um fim determinado, quando entrou na comunidade estatal, senão que, abandonou a liberdade feroz e anárquica, para reavê-la depois, intacta, na dependência da lei, ou seja, num estado jurídico, visto que esta dependência deriva de sua própria vontade legislativa”. 53 Desde ahí, se puede diagnosticar que la Institución policial es eficiente o no, es buena o mala, trabaja o deja de trabajar, sino en acuerdo con las políticas de su gobierno, del Executivo. La sociedad cobra la actuación policial y debería cobrar antes de su gobierno actitudes conducentes con las promesas de su elección, o sea, que cumpla su deber y finalidad. Los gobiernos si aprovechan de las dicotomías para controlar y conducir la sociedad. Muchas veces, solo quieren poner una máscara en ella, para atraer la confianza de inversores externos. Utilizase de la Policía para limpiar la “basura” de las calles: pobres, mendigos y ladrones. En este contexto, escribe ZYGMUNT BAUMAN: 51 WEBER, Max. Sociologia. Ática: São Paulo, 1989. ABREU DALLARI, Dalmo de. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25ª ed. Saraiva: São Paulo, 2005. p. 119. 53 LIMA, Antonio Sebastião de. Teoria do Estado e da Constituição: Fundamentos do Direito Positivo. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1998. p. 17. 52 “Fazer o melhor policial possível é a melhor coisa (talvez a única) que o Estado possa fazer para atrair o capital nômade a investir no bem-estar dos seus súditos; e assim o caminho mais curto para a prosperidade econômica da nação e, supõe-se, para a sensação de bem-estar dos eleitores, é a pública exibição de competência policial e destreza do Estado.” 54 Compartiendo esta idea, GEORGE ORWELL relata que caminamos “por la guerra y la paz, por la libertad y la esclavitud, por la ignorancia y por la fuerza” 55. Parece que al “placer” del gobierno electo. Observados desde una perspectiva social, histórica y cultural de una sociedad, son factores no jurídicos. Los principales instrumentos de la cooperación internacional Con la intención de posibilitar el juicio por sus tribunales, hacer cumplir su Derecho y cobrar directamente de aquellos que lo violaran, los Estados han desarrollado mecanismos internacionales que comportan el auxilio recíproco en la búsqueda y entrega de personas acusadas de incurrir en conductas consideradas ilícitas en sus derechos internos, a la par que obtener evidencias para llevar adelante una investigación, sea donde sea, ya que la vertiente criminal no camina por la burocracia y si, de manera más lista que el Derecho. En el caso de la UE, consigue desarrollar un gran y profundo bloque, que en otros territorios, aun no se logro éxito. Hay problemas y cuestiones presentes, pero todavía 196 camina a pasos largos. MARTÍN ARRIBAS demuestra en su trabajo: “En estos últimos lustros, Europa se ha transformado. Ha pasado de ser un continente dividido por los bloques enfrentados, a estar unido; y de ser un espacio geográfico en guerra,56 a salvaguardar, ahora, el imperio de la paz, si bien es cierto que todavía la violencia suele tener lugar en diversos puntos, produciéndose a diversos niveles y adquiriendo una pluralidad de formas.”57 Entre tantos tratados y documentos, uno dos más importantes para el tema elegido es el que llamaran Programa de La Haya. Fue una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad y la justicia.58 Se adoptó en el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 2004: 1. Reforzar los derechos fundamentales y la ciuda54 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Jorge Zahar Ed.: Rio de Janeiro, 1999. p. 128. 55 ORWELL, George. Mil Novecientos y Ochenta y Cuatro. 18ªed.. Ed. Nacional: São Paulo, 1984. p. 99. 56 In MARTÍN ARRIBAS, Juan José. Derecho Internacional: Bases y tendencias actuales. Entimema: Madrid, 2007. P.115. “En las Repúblicas de la antigua Yugoslavia.” 57 MARTÍN ARRIBAS, Juan José. Derecho Internacional: Bases y tendencias actuales. Entimema: Madrid, 2007. p. 87. Op. Cit.. p. 115-116. “La presencia del terrorismo islámico en diversos países y momentos, el etarra que tanto hace sufrir a España, la camorra, la mafia, los ajustes de cuentas, las redes criminales transnacionales organizadas, etc., pueden ser considerados, a este respecto, como buenos exponentes, aunque podrían añadirse otros muy aireados por la opinión pública europea, entre los que destacan numerosos delitos cometidos por redes criminales organizadas que ejercen violencia contra las personas.” 58 http://europa.eu, encontrase el texto completo sobre cada una de las prioridades del Programa de Haya, buscando el objetivo “Justicia y Seguridad”, donde también se encontrara referencia a la COM (2005) 184 final. danía; 2. Lucha contra el terrorismo; 3. Definir un enfoque equilibrado de la inmigración; 4. Establecer un procedimiento común en materia de asilo; 5. Maximizar las repercusiones positivas de la inmigración; 6. Elaborar une gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión; 7. Encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la vida privada y la seguridad al compartir información; 8. Elaborar un concepto estratégico relativo a la delincuencia organizada; 9. Garantizar un auténtico espacio europeo de justicia; 10. Compartir las responsabilidades y velar por la solidaridad”. La Comisión adoptó en el 18 de mayo de 2004, una Comunicación para reforzar la cooperación policial y aduanera. En ella se recomendaba intensificar los intercambios de información y reforzar la cooperación transfronteriza. Es necesario crear una cultura, instrumentos y métodos comunes. La necesidad de avanzar en este ámbito político se manifiesta en los retos del mundo actual, en particular, la lucha antiterrorista. Los factores que obstaculizan la cooperación policial y aduanera son: la naturaleza del trabajo de la policía; la ausencia de un enfoque estratégico; la proliferación de textos no vinculantes; el procedimiento de decisión del tercer pilar; la insuficiente aplicación de los instrumentos jurídicos adoptados por el Consejo; la ausencia de investigación sobre la cooperación policial y aduanera; la naturaleza de la cooperación entre la policía y las aduanas; las bases de datos y los sistemas de comunicación. La creación de la EUROPOL La idea de una Oficina Europea de Policía - EUROPOL, que tiene su funda- 197 mento en el artículo K-1 del Tratado de Maastricht, nació en el Consejo Europeo de Luxemburgo (1991), como órgano para el desarrollo de la cooperación policial entre los Estados miembros de la Unión en los ámbitos de la prevención y la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional organizada. Con el Tratado de la Unión Europea celebrado en Maastricht, en 1992 hubo un reforzamiento de la cooperación policial y judicial en la lucha contra el crimen organizado a través de una mayor cooperación entre las fuerzas policiales e otras, o a través de la EUROPOL creando una red de investigación sobre la delincuencia transfronteriza y una cooperación mejor entre las autoridades judiciales para acelerar la cooperación, facilitando la extradición y la prevención de conflictos de jurisdicción.59 El Tratado viso no retirar su carácter intergubernamental, o sea no trató esto asunto de forma a tórnalo comunitario. El Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, fue un marco significativo en la materia en la medida que mejoro y simplificó el tercer pilar de la UE reducido ahora en la cooperación policial y judicial en materia penal, introduciendo un nuevo título IV en el TCE (arts. 61 a 69), además de incorporar la UE al Sistema SCHEGEN – el espacio territorial de los países de la UE. Modifica, aunque no sustancialmente, el modelo, con la tendencia a dotarle de algún tipo de competencias operativas, con facultades de propuesta a los Estados miembros de investigaciones específicas, en casos concretos, incluida la formación de equipos conjuntos de investigación.60 59 60 Título VI del Tratado de la UE/1992. El Plan de Acción de Viena de 1998, sobre el Espacio de libertad, seguridad y justicia, insistió en la conveniencia de profundizar en sus capacidades operativas, de suerte que sus análisis deben llevar, siempre que sea posible, a conclusiones operativas (puntos 41 y 42). El Consejo Europeo de Bruselas de 20 de septiembre de 2001, que ocurrió logo después de los atentados del 11 de septiembre, planteó como objetivo la constitución de equipos conjuntos compuestos de oficiales de policía y fiscales especializados en la lucha antiterrorista. Cada Estado miembro designará una Unidad Nacional encargada de ejecutar las funciones y que será el órgano de enlace con los servicios competentes de los demás Estados miembros. Además, cada Unidad Nacional enviará a EUROPOL por lo menos un funcionario de enlace, encargado de la defensa de los intereses de su unidad nacional, de acuerdo con el Derecho nacional del Estado miembro acreditante. La INTERPOL En el principio del siglo XX, en el X Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal, que fue celebrado en Hamburgo, en 1905, han llegado a la conclusión de que la cooperación internacional se hacía necesaria. Culmino entonces, en la creación de una cooperación policial internacional, mediante una “Comisión Internacional de Policía Criminal”, que en 1956 pasó a llamarse “Organización Internacional de Policía Criminal” y que canaliza, a través de las Oficinas Centrales Nacionales”, los requerimientos de información y de actuación en actividades de investigación en la fase de instrucción sumarial procedentes de los cuerpos de Policía de los Estados europeos.61 Su finalidad está en el art. 2º del estatuto: “Conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del respecto a la DUDH62, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal” y “establecer y desarrollar 198 todas las instituciones que puedan contribuir a la prevención y la represión de las infracciones de derecho común.” BUENO ARÚS y MIGUEL ZARAGOZA63 señalan la importancia de la cooperación y de sus organismos, cuando demuestran: “Los organismos que constituyen las Oficinas Centrales Nacionales aseguran el enlace con los diversos servicios del país, con los organismos de otros países que tengan la condición de OCN y con la Secretaria General de la Organización.” El órgano supremo es la Asamblea General, que se reunirá por lo menos una vez al año. La INTERPOL,64 es la más grande organización de policía internacional, con 186 países miembros, por lo cual es la tercera organización internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de la ONU y la FIFA – la Federación Mundial de Fútbol. Creada en 1923, en Viena, Austria, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia internacional. Su sede está en Lyon, Francia. En 1971, las Naciones Unidas la reconocen como una organización intergubernamental. Un ejemplo reciente de su participación es el hecho del desaparecimiento de la niña MADELEINE MCCANN, inglesa que desapareció en un Hotel en Portugal, en 2007. 61 Su Estatuto y Reglamento vigentes datan del 15 de enero de 1989. In MACIEL TAVARES, Francisco de A. y COUTINHO NETO, Alfredo de S. (Organizadores). Direito Internacional - Estrutura Normativa Internacional: Tratados e Convenções. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006. p. 305. “A 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas, adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.” 63 BUENO ARÚS, Francisco y MIGUEL ZARAGOZA, Juan de. Manual de Derecho Penal Internacional. Comillas: Madrid, 2003. p. 65. 64 Sitio oficial en la web: http://www.interpol.int/, en inglés, teniendo como lenguas oficiales: inglés, francés, español y árabe. 62 Debido al papel políticamente neutro que debe jugar, su constitución prohíbe cualquier tipo de relación con crímenes que no afecten a varios de sus países miembros, ningún tipo de crímenes políticos, militares, religiosos o raciales. Su trabajo se centra en la seguridad pública, en el terrorismo, en el crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas, de personas, blanqueo de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y la corrupción. Por no citar más que el continente asiático, se han registrado algunos ejemplos: 1. detención en Tailandia del presunto agresor sexual de menores más buscado del mundo, Christopher Paul Neil, en el marco de la operación Vico de la Interpol; 2. detención en Nepal de una persona sospechosa de efectuar trasplantes ilícitos de órganos, el Dr. Amit Kumar, tras la publicación de una notificación roja de la Interpol a petición de la India; 3. detención en Tailandia de Viktor Bout, acusado del delito de asociación ilícita destinada a suministrar apoyo material a una organización terrorista. Para hacer frente a la delincuencia organizada internacional, al turismo sexual infantil y contra el terrorismo, la posición común responde a la exigencia de establecer un sistema integrado de intercambio de información sobre los pasaportes robados y extraviados basándose en el Sistema de Información de Schengen – SIS, un sistema de información común que permite a las autoridades competentes de los Estados miembros disponer de información relativa a algunas categorías de personas y objetos y la base de datos de la INTERPOL65 y sus homólogos de países terceros mediante el intercambio de datos sobre pasaportes. Los tratados Internacionales FRANCISCO RESEK, que fue juez de la Corte de Haya, define que “Tratado é 199 todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional público e destinado a produzir efeitos jurídicos”.66 Entretanto, gran parte de la doctrina prefiere el concepto que encontrase en el artículo 2º, “a”, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados, de 1969: “Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica.” 67 La estructura formal de los tratados es dividida en dos partes: preámbulo – parte del tratado donde son descritas las razones de su creación – y la dispositiva, en que si encuentra la cuestión normativa propiamente dita o los artículos, que regulan la materia acordada entre las partes signatarias del tratado. Dista forma, es un acuerdo internacional por estar en el ámbito de aplicación de la sociedad internacional, celebrado por Estados, no excluyendo la posibilidad de validez de los tratados celebrados por otros sujetos de Derecho Internacional. Tales tratados serán considerados válidos desde que los requisitos para su celebración sean cumplidos: la capacidad de las partes contratantes; la habilitación de los agentes plenipotenciarios; el consentimiento mutuo, base del DI y que el objeto del tratado sea lícito y posible. 65 ACTO: Posición común 2005/69/JAI del Consejo, de 24 de enero de 2005, relativa al intercambio de determinados datos con Interpol. DO L 27 de 29.1.2005. 66 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 10ª ed. Saraiva: Rio de Janeiro, 2006. p. 14. 67 In TAVARES. p. 8. “Hay, hoy por hoy, tantos tratados cuantos se pueda concebir. Las necesidades y los cambios constantes en las sociedades, han desarrollado centenas de documentos internacionales. En el tema propuesto, la UE, trabajando por la cooperación policial, ha vinculado a unos tantos con distintos temas, que necesitan de un trabajo conjunto.” 68 El objeto de vincularse jurídicamente a tantos documentos internacionales69 es una búsqueda incansable para llegar al orden público y la paz social. La extradición Quizás el más antiguo de los mecanismos de cooperación internacional, de manera sencilla comporta la entrega por el Estado en cuyo territorio se encuentra el individuo, al otro Estado que lo requiere para juzgarlo o para que se cumpla una condena. Este instituto se basa en el acuerdo de voluntades entre el Estado requirente y el requerido, sea por cumplir un tratado vigente entre ambos, sea en función del principio de la reciprocidad. Por definición, DOLINGER entiende que: “É o processo pelo qual um Estado atende ao pedido de outro Estado, remetendolhe pessoa processada no país solicitante por crime punida na legislação de ambos os países, não se extraditando, via de regra, nacional do país solicitante.” 70 200 Puede ser analizada a partir de dos puntos distintos: la activa, cuando el Gobierno requiere la extradición de un forajido de la justicia a otro Estado y la extradición pasiva, cuando un determinado Estado solicita la extradición de un individuo forajido que se encuentra en territorio ajeno. El pedido no se limita a los países con los cuales el Estado posee tratado, pudiendo ser requerido por cualquier Estado y para cualquier Estado. Cuando no haya tratado, el pedido será instruido con os documentos y deberá ser solicitado con base en la promesa de reciprocidad de tratamiento para casos análogos, siendo esta de la competencia del Poder Executivo. En el caso de Brasil, la extradición pasiva solo puede ser concedida con la previa autorización del Supremo Tribunal Federal a quien compete la análisis del mérito del pedido, conforme previsto en el art. 102, inciso I, alinea g, de la Constitución de la República Federativa del Brasil - CRFB, de 1988. La decisión será tomada por el Plenario, posteriormente al examen de la legalidad y la procedencia del pedido. No cabrá ningún recurso. La extradición pasiva, que está regulada por la ley brasileña 6.815⁄80, debe ser requerida por vía diplomática o, aún, de Gobierno a Gobierno. Siendo el pedido instruido con copia auténtica de la carta de la sentencia condenatoria o de la que decretar la prisión. El Ministro de las Relaciones Exteriores remeterá el pedido al Ministro de 68 GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D. y SÁENZ de SANTA MARÍA, Paz Andrés. 7ª ed.. Legislación Básica de Derecho Internacional Público. Tecnos: Madrid, 2007. 69 En una búsqueda en la página web de la ONU: www.onu.org, es posible encontrar distintos tratados de cooperación sobre la violencia internacional. Desde el terrorismo, pasando por el tráfico, hasta la proliferación de armas nucleares. 70 DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Renovar: Rio de Janeiro, 2001, p. 238. la Justicia, que ordenará la prisión del extraditando, colocándolo a la disposición del Supremo Tribunal Federal - STF/BRA.71 De acuerdo con el art. 5o, LI, de la CRFB/88, no se admite la extradición de brasileños natos y de los naturalizados. Solo será cabido, si los delitos practicados en territorio extranjero fueren anteriormente a su naturalización o aun, si comprobarse envolvimiento en tráfico ilícito de estupefacientes. Además, el art. 77 de la Ley 6.815⁄80 define que no será concedida la extradición por el STF cuando: el hecho que motivar lo pedido no considerarse crimen en Brasil; la ley brasileña poner al crimen la pena de prisión igual o inferior a un año; si extinta la punibilidad en Brasil o en el Estado requirente; cuando el hecho considerarse crimen político72; cuando el extraditando responder delante del tribunal de excepción o aún, cuando el crimen no cometerse en territorio del Estado requirente. La extradición activa, regulada por el art. 20, del Decreto-ley nº 394, de 28 de abril de 1938, procesase con estos pasos: el Ministro de la Justicia recibe del Poder Judicial la documentación referente al pedido de extradición, que posteriormente será encaminado para el Ministerio de las Relaciones Exteriores, por medio de aviso ministerial, con la finalidad de formalizar el pedido al Estado requerido.73 O extranjero después de extraditado puede volver a Brasil, desde que no tenga sido expulso del territorio brasileño. Consideraciones Finales Aunque la palabra policía sea igual en distintas lenguas, no lo es la forma de tra- 201 bajo o la comprensión de su importancia, sus métodos o su fuerza en actuar. Está más allá de la seguridad pública o de la necesidad de los gobiernos en mantener el orden público. Tampoco el hombre es igual. Hay que reconocer las distintas vertientes de estudios sobre la mentalidad del hombre. Hay aquellos que son malos y así serán. No importa la cuantidad de derechos que ellos tengan, estarán contra la sociedad. No es tampoco verdad que siempre la culpa está en la sociedad, que lo deja sin oportunidades. Hay el libre arbitrio. Por lo tanto, proteger derechos muchas veces favorece a ellos, que conocedores, si valen para huir a las sentencias penales por sus actos bestiales. Hay que pensar en la educación de los niños en los distintos ámbitos y no solo en las escuelas, pues en primer término, si no los educa en sus familias, el brazo de freno de la sociedad, la policía, lo hará en las calles. La violencia primaria está en la primera célula de la sociedad: la familia. Cuando no cuida de sus niños; cuando no piensa en su responsabilidad en tenerlos; el peso que va a dejar en otras manos sin lo primer derecho, que es de una vida digna, falla en su fin. 71 Es lo que pasó en Brasil con el gobierno italiano en el fallo “Cesare Battisti. Governo concede asilo político a Cesare Battisti: Tarso contraria Comitê de Refugiados; Garibaldi teme crise diplomática com Itália, que pediu extradição de ativista. In O Globo. Rio de Janeiro/BR: 14 de janeiro de 2009, p. 9. Refúgio opõe Lula e Itamaraty: Presidente defende benefício dado por Tarso a italiano; já diplomacia pedirá extradição. In jornal O Globo. Rio de Janeiro/BR: 16 de janeiro de 2009, p. 3. 72 Según el art. 77 de la Ley 6.815⁄ 80, el STF puede dejar de considerar crimen político o atentado contra jefe de Estado o otras autoridades, como, también, actos de anarquismo, terrorismo, sabotaje secuestro de personas o propaganda de guerra 73 FINKELSTEIN, Cláudio, op.cit., p. 104. Si no hubiera límites o freno, se buscaría alcanzar mayores cuotas de poder y de gloria y también nuevos desafíos o intereses. Volveríamos a los tacapes.74 Se llega a las drogas, con otros “amigos” ya que muchas veces, al no adaptarse a la sociedad, se apoyan en los estupefacientes que han traído sus “nuevos compañeros”. Las drogas vician cada vez más, a los más listos y mayor número de gente. Desde este punto de vista, van realizando pequeños robos y hurtos, muchas veces para satisfacer la necesidad de comprar la droga, para después llegar a crímenes más violentos y formar grupos organizados, para “lucros” más expresivos. El criminen organizado no utiliza reglas, no hay burocracia, está a unos pasos delante del Estado, al tiempo que ellos la utilizan por demás y están, por supuesto, detrás de la criminalidad organizada. La utilización de varios instrumentos técnicos, aumenta la burocracia y dificulta el trabajo de protección de la gente, como también la manutención del orden público. Hacer lo que es correcto es una premisa de convivencia entre seres humanos. Es ético y moral. Pero esto no posibilita el dinero fácil, aquello que proviene de la corrupción, de las bandas organizadas, del tráfico, que produce mucho más capital que en muchos países. Los países, en realidad sus gobiernos que le dan vida como persona jurídica, no comprenden o no quieren entender que el dinero desviado o blanqueado, hace falta para sacar adelante sus propios proyectos. La gente puede y debe combatir la corrupción. Envueltos en el Derecho internacional, el Estado pierde centralidad. O sea, el poder 202 por el poder no es más la cuestión principal, sino su sociedad y el desarrollo al que puede llevarla. Si esa sociedad participa en la creación de normas jurídicas, representada en el poder legislativo, también puede negar esas normas, “negar derechos” a aquellos que trasgreden. La UE que se integra año tras año, da un largo paso para disponer de una policía común o, por lo menos, algo muy cerca de esto. Si el Estado detenta el monopolio de la fuerza y la UE todavía no es Estado, y no desea serlo, debe y puede flexibilizar este concepto. Las normas de cooperación deben venir de su Poder Executivo, el Parlamento Europeo, estableciendo métodos y prácticas sencillas, para que no se pierda su eficacia. La plena protección para el cumplimiento de la DUDH, de 1948, está en las manos del Estado. En la utilización que hace de su brazo fuerte, para lograr la protección de su sociedad: la Policía. En realidad, el verdadero poder no reside en aquellos que están encastillados – el gobierno, los tres poderes, la nobleza - y sí en aquellos que están en las calles, como fue asaltada la Bastilla; como la caída del gobierno boliviano hace unos años, cuando vendió gas más barato para EEUU que para su pueblo; como en la independencia de Timor Leste de Indonesia o la declaración de independencia de Kosovo, en febrero de 2008. Está en aquellos que pueden sentir el olor de las calles. Desde ahí, el olfato de la Policía, en distinguir la gente en las calles. Está en ellas y en ellas camina. Puede sentir “el olor de las calles”. 74 Instrumento utilizado por los indígenas brasileños contra sus enemigos. Una madera pesada que usaban para quebrar los miembros y la cabeza, en la pelea. Referências Bibliográficas ABREU DALLARI, Dalmo de. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25ª Ed. Saraiva: São Paulo, 2005. ACCIOLY, Hildebrando y SILVA, Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 15ª ed. Ed. Saraiva: São Paulo: 2002. ALBUQUERQUE MELLO, Celso Delmanto de. Curso de Direito Internacional Público. 14ª ed.. Renovar: Rio de Janeiro, 2002. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Jorge Zahar Ed.: Rio de Janeiro, 1999. BUENO ARÚS, Francisco y MIGUEL ZARAGOZA, Juan de. Manual de Derecho Penal Internacional. Comillas: Madrid, 2003. CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. 14ªed. Ed. Coimbra: Coimbra: 1992. Carta de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945. Constitución de España, de 27 de diciembre de 1978. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. CRETELLA JR, José y CRETELLA NETO, José. 1000 perguntas e respostas sobre Teoria Geral do Estado. Forense: Rio de Janeiro, 2004. DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Renovar: Rio de Janeiro, 2001. FREUD, Sigmund.: O mal-estar na Civilização (1930). In Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI. 1ª ed. Ed. Imago: Rio de Janeiro, 1987. FROM, Erich. A descoberta do inconsciente social: contribuição ao redirecionamento da psicanálise. Trad. de Lúcia Helena Siqueira Barbosa. Ed. Manole: São Paulo, 1992. 203 FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel y BACIGALUPO SAGGESE, Mariano. Las Políticas de la Unión Europea: La cooperación policial y judicial en matéria penal. Ed. Colex: Madrid, 2002. GARCÍA-MORENO RODRIGUEZ, Fernando. Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la Información y nuevas tecnologías, (Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho). 2005. GERALDO da CUNHA, Antônio y otros. Dicionario Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. 2ª ed. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 1997. GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D. y SÁENZ de SANTA MARÍA, Paz Andrés. 7ª ed.. Legislación Básica de Derecho Internacional Público. Tecnos: Madrid, 2007. LIMA, Antonio Sebastião de. Teoria do Estado e da Constituição: Fundamentos do Direito Positivo. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1998. MACIEL TAVARES, Francisco de A. y COUTINHO NETO, Alfredo de S. (Organizadores). Direito Internacional - Estrutura Normativa Internacional: Tratados e Convenções. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006. MARTÍN ARRIBAS, Juan José. Derecho Internacional: Bases y tendencias actuales. Entimema: Madrid, 2007. MENNA BARRETO, João de Deus L. Violência e criminalidade: propostas de soluções. Forense: Rio de Janeiro, 1980. MELLO, Cleyson de Moraes e FRAGA, Thelma de Araújop Esteves. Direitos Humanos: Coletânea de Legislação. Ed. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 2003. MORRIS, Clarence (org.). Os Grandes Filósofos do Direito. Martin fontes: São Paulo, 2002. NOVAES, Adauto (org). Civilização e Barbárie. Companhia das Letras: São Paulo, 2004. ORWELL, George. Mil Novecientos y Ochenta y Cuatro. 18ªed.. Ed. Nacional: São Paulo, 1984. PARADA, Ramón. Derecho Administrativo I. 14ªed. Ed Marcial Pons: Madrid, 2003. PINHEIRO MADEIRA, José M.: O Poder de Polícia. Ed. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2000. REZEK, Francisco. Direito Internacional Público – Curso Elementar. 10ª ed. Saraiva: Rio de Janeiro, 2006. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do Direito Internacional. Del Rey: Belo Horizonte, 2006. WEBER, Max. Sociologia. Ática: São Paulo, 1989 ZIMMERMANN, Augusto. Curso de Direito Constitucional. 4ªed. Ed. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2006. Periódicos: Diário de Burgos. Burgos, España. El País. España. El Mundo. España. Folha de São Paulo. São Paulo, Brasil. La Vanguardia. España O Globo. Rio de Janeiro, Brasil. Sítios Web: http://europa.eu/ http://www.interpol.int/ 204 La Dignidad Humana como Parámetro de Valoración Jurídica de las Modernas Biotecnologías Reproductivas Ian Henríquez Herrera1 (Chile) Resumo Utilizaremos a dignidade humana como um parâmetro estritamente legal para a valoração das modernas biotecnologias reprodutivas. Em outras palavras, argumentaremos que a dignidade humana é um conceito relevante não só para a antropologia filosófica, bioética ou filosofia moral, mas também é baseada na esfera jurídica. Palavras-chave: Didnidade Humana. Biotecnologia. Resumen En lo que sigue, utilizaremos la dignidad humana como un parámetro estrictamente jurídico para la valoración, de igual índole, de las modernas biotecnologías reproductivas. 205 Dicho de otro modo, sostenemos que la dignidad humana es un concepto no sólo relevante para la antropología filosófica, para la bioética o para la filosofía moral, sino que también lo es en estricta sede jurídica. Palabras clave: la dignidad humana. Biotecnologia. Introducción Para los efectos de nuestra exposición, comenzaremos efectuando una valoración general de dichas técnicas, argumentando que la manufactura de suyo contraría la dignidad debida al ser humano. En segundo término, polemizaremos con la tesis que sostiene la futilidad e inutilidad del concepto de dignidad humana. En conexión con ello, pasaremos, luego, a revisar la jurisprudencia constitucional chilena que ha tratado expresamente sobre la dignidad. En un cuarto apartado, comentaremos el precedente sentado al efecto por la Corte Suprema de Costa Rica. A continuación, expondremos la principal objeción efectuada a los fundamentos últimos de esta jurisprudencia, conocida como “argumento del especieísmo”, respecto de la cual presentaremos lo que a nuestro juicio implican importantes inconsistencias teóricas. Finalmente, como un subsidium, reseñaremos el principio precautorio de Hans Jonas, afirmando la conveniencia de su aplicación a estas materias. 1 Profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes. Licenciado en Derecho (Universidad de Chile). Magíster en Derecho Privado (Universidad de Chile). Magíster en Investigación Jurídica (Universidad de los Andes). Investigador visitante, Juristische Facultät George Augusta Universität Göttingen (Alemania). Concebidos, no hechos Por cierto, el oficio del jurista exige estudiar las consecuencias dogmáticas de un determinado suceso. Pero no puede omitirse un pronunciamiento sobre la rectitud del fenómeno que origina tal suceso, so pretexto de exceder de la esfera de su competencia. Lo más propio del oficio es separar lo justo de lo injusto, lo inicuo de lo equitativo, lo bueno de lo malo. Aquí se expresa la esencia del ars bonum et aequi. Así, por ejemplo, podemos estudiar con celo y modo prolijo los efectos patrimoniales que generan los secuestros permanentes y las desapariciones forzadas. Pero nada obsta, más bien nos viene exigido, reafirmar la manifiesta ilicitud de la situación que origina los efectos patrimoniales estudiados. El silencio del profesor, luego leído por novatos, se transforma en connivencia, en letargo del juicio crítico, a la larga, en una sutil forma de complicidad. En vistas lo anterior, no puedo sino comenzar señalando que, a mi juicio, existen poderosas razones jurídicas para afirmar la intrínseca ilicitud de la aplicación de biotecnologías reproductivas en humanos, comenzando por la ya aparentemente validada fecundación in vitro, aun en lo que se ha dado en llamar the simple case, es decir aquella que no ofrece ninguna objeción adicional: un matrimonio, que aporta sus propios gametos, y que todos los embriones son implantados2. Ésta, como otras, es contraria a bienes humanos básicos, y a normas de derecho positivo vigentes. En lenguaje de Hart, estamos ante critical problems, y por consiguiente resulta justificada la intervención del derecho (Law, Liberty and Morality, Oxford, 1963), la que, sostengo, debe operar mediante la proscripción3. La brillantez de muchos se ha plasmado en la concisión de sus palabras. Ro206 bert Spaemann ha tocado la médula del problema de las biotecnologías reproductivas al señalar que los seres humanos requerimos ser “concebidos, no hechos”4. Si somos “hechos” nuestra dignidad originaria resulta violentada, puesto que estamos indefectiblemente mediatizados. El amor humano es la única causa eficiente y material que se condice con la dignidad humana originaria. Y la cópula es el único acto humano capaz de manifestar simbólicamente de un modo cabal el don de sí que expresa ese amor originario y originante. O cópula o manufactura. Concebidos o hechos. Pertinencia y relevancia jurídica de la dignidad Si la dignidad no tuviere relevancia ni aplicación jurídica, el razonamiento anterior sería fútil e impertinente en este breve ensayo. Déjese para un tratado de ética. El punto está en que el respeto de la dignidad humana es un imperativo jurídico5 y no una categoría inútil, como lo ha sostenido, entre otros, Macklin6. 2 Singer, Peter, “Creating embryos”, en Arras, John, Steinbock, Bonnie (eds.), Ethical issues in modern medicine, Mayfield Publishing Company, California, 1995, p. 436. 3 En igual sentido, Laferrière, Jorge Nicolás, “Técnicas de Procreación Humana. Propuesta para la tutela legislativa de la persona concebida”, en El Derecho, (Buenos Aires) 18 de septiembre de 2006, Nº 11.595, año XLIV, p. 1. 4 Spaemann, Robert, “Gezeugt, nicht gemacht. Die verbrauchende Embryonenforschung ist ein Anschlag auf die Menschenwürde”, en Geyer, Christian, Biopolitik. Die Positionen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2001, p. 43. 5 Andorno, Roberto, “La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique?, en Revue Générale de Droit Médical, n° 16, 2005, p. 95-102; esp. 97-8. 6 Macklin, Ruth, “Dignity is a useless concept”, British Medical Journal, 2003, vol. 327, p. 1419. Aproximación desde el modelo kantiano En una primera aproximación, el modelo deontológico kantiano resulta adecuado en su aplicación a la cuestión que ahora nos ocupa. Como se sabe, Kant sostiene que las cosas en el mundo tienen precio, no así las personas, que tienen dignidad. Tal dignidad exige que sean tratadas como un fin en sí mismas, y nunca solamente como un medio: “Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch ein anderes als dessen Äquivalent gesetz werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde”7. “Vernunflose Wesen haben nur einen relativen Wert, als Mittel, und heisen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen gennant werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, das it etwas, das nicht bloss als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet”8. SØren Holm, tratando sobre una objeción a la creación de embriones para investigación, sostiene, correctamente en nuestro parecer, que todos los embriones son creados como medios para el proyecto de alguien más, sean éstos los padres, sean los investigadores9. Aquí está el iuris quid del problema. Si Holm está en lo correcto, como lo parece, las biotecnologías reproductivas son contrarias a derecho por contrariar precisamente la dignidad humana, puesto que per se hay un ser humano hecho para. Es decir, indefectiblemente el embrión así creado surge como un medio para un fin buscado y querido por otros. Quién sea ese otro resulta, al efecto, irrelevante. A nivel intuitivo, genera adhesión la idea de que puedan ser los futuros progenitores quienes busquen y quieran producir el embrión, y rechazo que sean los investigadores. Esa diferenciación 207 no se justifica racionalmente. Por el contrario, resulta imperativo que todo ser humano resguarde la dignidad de todo ser humano, y, prima facie, es dable exigir un mayor deber de cuidado de ese bien a los usuarios de las técnicas biorreproductivas, puesto que, de ser éstas exitosas, el agraviado será su propio hijo. Si la dignidad humana es relevante jurídicamente, y si el modelo deontológico kantiano es válido, el acceso a las técnicas biorreproductivas resulta vedado a todos. La doctrina alemana, para referirse a los usuarios de técnicas biorreproductivas, hace uso de un término que resulta especialmente expresivo y útil para el análisis: Kinderwunsch, esto es “quienes desean un niño”10. Bien se sabe que el mero deseo no constituye derecho. Las corrientes utilitaristas son incompatibles con el carácter absoluto de la dignidad La afirmación “la dignidad humana es relevante jurídicamente”, no nos parece susceptible de controversia seria desde el punto de vista dogmático y de lege lata. Cosa distinta parece ocurrir con la aplicabilidad del modelo deontológico kantiano. Otra tradición ética es especialmente influyente e importante en el debate ético contemporá7 Kant, Metaphysik der Sitten, 37. Kant, Grundlegun zur Metaphysik der Sitten, 37. 9 Holm, SØren, “Ethics of Embriology”, en The concise encyclopedia of the ethics of new technologies, Academic Press, California, 2001, p. 92. 10 Wendehorst, Christiane, “Rechtliche Anforderungen an ein küntfiges Fortpflanzungsmedizingesetz”, en Oduncu, Fuat, Platzer, Katrin, Henn, Wolfram (eds.), Der Zugriff auf den Embryo, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2005, pp. 35 y ss. 8 neo, cual es el utilitarismo. En rigor, debiésemos usar la expresión en plural, puesto que son diversas las corrientes utilitaristas. Sin embargo, en el plano estrictamente jurídico, en el cual nos situamos y nos esforzamos por mantenernos, el utilitarismo pareciere no tener cabida, puesto que es incompatible en la base con la noción de derechos humanos o de derechos fundamentales. Allí donde hay un absoluto, no cabe un razonamiento consecuencialista, y por ende se excluye cualquier forma de utilitarismo. Jurídicamente sabemos muy bien que las siguientes afirmaciones son diversas: La dignidad humana es inviolable La dignidad humana es inviolable a veces. Si jurídicamente la afirmación b) es incorrecta, como todo lo indica, el utilitarismo no es un modelo conceptual aplicable en el razonamiento jurídico. Gómez-Lobo ha hecho notar el sinsentido que implica la adhesión a un concepto de dignidad parcial o transitoria: “If dignity were an intermittent attribute or property, it would be worthless.If I had dignity every week from Wednesday to Sunday, but it were morally permissible to kill me on Monday or Tuesday, then dignity during those later days would cease to be a meaningful attribute for me. It would not afford the moral protection that is part of its conceptual core because I may no longer be there to be protected. I could have been eliminated in a morally acceptable way in the earlier days”11. Análisis simbólico de un arquetipo utilitarista 208 Como lo nota Claude Lévi-Strauss, los mitos y cuentos, en tanto manifestaciones culturales, son un compendio precioso de la ideología de una sociedad, o, en lenguaje más contemporáneo, de los valores presentes en ella12. Hay un pasaje de Hänsel y Gretel que, a nuestro juicio, sintetiza muy bien el debate respecto de la aplicabilidad de la ética utilitarista. Hagamos memoria. Una hambruna muy grande acaeció en el pueblo donde vivía la familia. Los padres de ambos niños sostienen el siguiente diálogo: “Mujer, qué podremos hacer, cómo alimentaremos a nuestros niños si ni siquiera tenemos suficiente para nosotros”, “Te diré qué hacer- respondió la mujer-. Mañana muy temprano dejaremos a los niños al interior del bosque, junto a un fuego y con algo de pan. Luego nos iremos al trabajo y les abandonaremos. No podrán encontrar el camino a casa y se perderán”, “¡No mujer! – dijo el hombre-, no lo haré, cómo podría tomar mi propio corazón, cómo habría de dejar a mis niños solos en el bosque, llegarían los animales y les devorarían”, “Has perdido el juicio – dijo la mujer-. Si no lo hacemos, moriremos todos de hambre”13. El argumento de la madre es plausible y atendible. Su razonamiento es lógico, y aún más, es socialmente eficiente. Es mejor que mueran dos personas de hambre a que mueran cuatro. Desde el punto de vista utilitarista sería correcto seguir su consejo. Sin embargo, a nivel intuitivo no nos genera adhesión la respuesta de la madre. Tanto así, 11 Gómez-Lobo, Alfonso, “The ethical evaluation of human cloning for biomedical research”, en Honnefelder, Ludger, Lanzerath, Dirk (eds.), Klonen in biomedizinischer Forschung und Reproduktion/ Cloning in biomedical research and reproduction, Bonn University Press, Bonn, 2003, p. 638. 12 Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale deux, Plon, Paris, 1996, p. 315. 13 Grimm, Wilhem, Grimm, Jacob, “Hänsel und Gretel”, en Grimm, Wilhem, Grimm, Jacob, Märchen der brüder Grimm, Droemer Knaur, Berlin, 1937, p. 236. La traducción es nuestra. que se trata de un personaje prototipo de felonía. Normativamente viene exigida una conducta diversa, puesto que el bienestar de los adultos no puede ser a costa de la vida ni de la dignidad de los niños. Adherir al utilitarismo significa transformar a la madre de Hänsel y Gretel de villana en heroína. Con ello, los paradigmas éticos de occidente resultarían completamente trastocados. La jurisprudencia constitucional chilena sobre la dignidad Con todo, en Chile el asunto está zanjado por la jurisprudencia constitucional. En efecto, el Tribunal Constitucional en causa rol Nº 389 expresó en el considerando 17º: “por ser base del sistema institucional imperante en Chile, el artículo 1º inciso primero de la Constitución, el cual dispone que ‘las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos’. Pues bien, la dignidad a la cual se alude en aquel principio capital de nuestro Código Supremo es la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto, porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean resguardados”14. Esta doctrina jurisprudencial se corrobora en causa rol Nº 433, en los considerandos 23º y 24º, del mismo tribunal: “Que, el artículo 1º de la Carta Fundamental, norma con que se inicia el Capítulo denominado ‘Bases de la Institucionalidad’, contempla la concepción acerca de la persona, la familia, la sociedad y el Estado que la Constitución consagra. De 209 este modo, su contenido y ubicación demuestran la importancia que tiene; Que, en su inciso primero, dicho precepto dispone: ‘Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos’ realzando así, como principio fundamental de nuestro orden constitucional, la dignidad del ser humano, la cual implica que éste ha de ser respetado en sí mismo por el sólo hecho de serlo, con total independencia de sus atributos o capacidades personales”15. De ambas sentencias, siguiendo a Fernández, es posible extraer como reglas emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “Primero, la dignidad exige siempre, o sea sin excepciones, que el ser humano sea tratado con respeto, lo cual no depende de sus atributos, capacidades, cualidades o defectos; Segundo, que aquella dignidad es el fundamento y la fuente de la cual emanan tanto los derechos esenciales de las personas cuanto las garantías que los protegen; y Tercero, como corolario ineludible, que vulnerar los derechos o las garantías es lesionar la dignidad y afectar ésta es quebrantar aquellos”16. Ahora bien, haciéndonos cargo de tales conclusiones, parecería claro que las técnicas biorreproductivas no satisfarían el estándar de respeto debido al ser humano. De ser así, no cabría sino su proscripción. 14 En Fernández, Miguel Ángel, Los derechos fundamentales en 25 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 1980-2005, Cuadernos del Tribunal Constitucional, 33 (2006) p. 29. 15 En Fernández, Miguel Ángel, Los derechos fundamentales en 25 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 1980-2005, Cuadernos del Tribunal Constitucional, 33 (2006) p. 31. 16 Fernández, Miguel Ángel, Los derechos fundamentales en 25 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 1980-2005, Cuadernos del Tribunal Constitucional, 33 (2006) p. 31. El precedente de la Corte Suprema de Costa Rica Existe un precedente de jurisprudencia constitucional en el sentido sugerido. En efecto, resulta clarificador el criterio expresado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que declara la inconstitucionalidad de las técnicas de fertilización asistida: “El desarrollo de técnicas de reproducción asistida ha posibilitado que muchas parejas estériles alrededor del mundo consigan tener hijos. Sin embargo, es preciso cuestionarse si todo lo científicamente posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana, vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento técnico de producción. Cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser humano, como en la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones el análisis debe superar el plano de lo técnicamente correcto o efectivo. Debe prevalecer el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país: el ser humano nunca puede ser tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de otra cosa. Si hemos admitido que el embrión es un sujeto de derecho y no un mero objeto, debe ser protegido igual que cualquier otro ser humano”17. Nos parece correcta la doctrina expresada por la Corte costarricense, y pensamos que el cuerpo constitucional y de derecho internacional de derechos humanos vigente en dicho país, es análogo al chileno, por lo cual tal razonamiento resulta correcto también en el sistema chileno. 210 El argumento del especieísmo y sus inconsistencias En contra de la jurisprudencia reseñada, una corriente de pensamiento filosófico sostiene que es falsa la afirmación “todos los seres humanos tienen dignidad”, o bien “todo ser humano es persona”18. Esta corriente de pensamiento contemporánea tiene, a nuestro juicio, en Peter Singer y Reinhard Merkel a sus principales exponentes19. Peter Singer y la disociación entre ser humano y persona Singer ha acuñado el nombre “especieísmo” para referirse a la tesis que sostiene que todo ser humano es persona por el mero hecho de ser tal, y afirma que el argumento de la dignidad tiene raíces religiosas, que no son persuasivas en una sociedad pluralista20. 17 Sentencia nº 2000-02306 de 15 de marzo de 2000. Para una síntesis e historia de los argumentos que disocian “ser humano” y “persona”, véase: Braun, Kathrin, Menschenwürde und Biomedizin. Zum philosophischen Diskurs der Bioethik, Campus, Frankfurt, 2000, pp. 108 a 134. 19 Singer, Peter, Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980; Merkel, Reinhard “Contra Speziesargument: Zum normativen Status des Embryosund zum Schutz der Ethik gegen ihre biologistische Degradierung”, en Damschen, Gregor, Schönecker, Dieter (eds.), Des moralische Status menschlicher Embryonen, Walter de Gruyter, Berlin/New Cork, 2003pp. 35 a 56 esp. 55-6. Otro pensador representative de esta corriente: Norbert Hoerster: Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt am Main, 1995, Sterbehilfe im säkularen Staat, Frankfurt am Main, 1998, “Menschenrecht auf Leben und Tötungsverbot”, en Breuninger, Renate, Leben-Tod Menschenwürde. Positionen zur gegenwärtigen Bioethik, HumboldtStudienzentrum, Universität Ulm, 2002, pp. 129 a 148. 20 Singer, Peter, Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980, pp. 48, 77-8. 18 Asimismo, utiliza una definición de persona en la que no subsume a todos los seres humanos, y por el contrario, sí subsume a otros mamíferos como los grandes simios, las ratas y los cerdos: “In any case, I propose to use ‘person’, in the sense of a rational and self-conscious being, to capture those elements of the popular sense of ‘human being’ which are not covered by ‘members of the species homo sapiens”21. “It sounds odd to call an animal a person. This oddness may be no more than a symptomof our habit of keeping our own species sharply separated from others. In any case, we can avoid the linguistic oddness by rephrasingthe question in accordance with our definition of ‘person’. What we are really asking is whether any nonhuman animals are rational and self-conscious beings, aware of themselves as distinct entities with a past and a future. Are animals self-conscious? Evidence that some animals, at least, are self-conscious has been provided by recent efforts to teach American Sign Language to apes (…)”22. Adentrándonos más en el punto, Singer señala, también, que el argumento standard a favor de la protección del embrión humano es el siguiente: a) Todo ser humano tiene derecho a la vida b) El embrión humano es un ser humano c) Luego, el embrión tiene derecho a la vida. De igual modo, indica Singer que existe una respuesta u objeción también standard, que cuestiona la segunda premisa, esto es que el embrión no es un ser humano. 211 Singer afirma que tal objeción es insostenible, en el entendido que por ser humano se comprende la pertenencia a la especie zoológica homo sapiens. La nueva objeción que elabora Singer intenta controvertir ya no la segunda, sino la primera premisa: “Can the argument be rescued? It obviously a cannot be rescued by claiming that the embryos is a being with the requisite mental qualities. That might be arguable for some later stage of the development of the embryo or fetus, but it is impossible to make out the claim for the early embryo. If the second premise cannot be reconciled with the first in this way, can the first perhaps be defended in a form which makes it compatible with the second? Can it be argued that human beings have a right to life, not because of any moral qualities they may possess, but because they –and not pigs, cows, dogs, or lettuces- are members of the species Homo sapiens? This is a desperate move. Those who make it find themselves having to defend the claim that species membership is in it self morally relevant to the wrongness of killing a being. But why should species membership in itself be morally crucial? If we are considering whether it is wrong to destroy something, surely we must look at its actual characteristics, not just the species to which it belongs. If E.T. and similar visitors from other planets turn out to be sensitive, thinking, planning beings, who get homesick just like we do, would it be acceptable to kill them simply because they are not members of our species? Should you be in any doubt, ask yourself the same kind of questions, but with ‘race’ substituted for ‘species’. If 21 Singer, Peter, Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980, p. 76. 22 Singer, Peter, Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980, p. 94. we reject the claim that membership of a particular race is in itself morally relevant to the wrongness of killing a being, it is not easy to see how we could accept the same claim when based on species membership. Remember that the fact that other races, like our own, can feel, think, and plan for the future is not relevant to this question, for we are considering the simple fact of membership of the particular group –whether races or species- as the sole basis for distinguishing between the wrongness of killing those who belong to our group. As long as we keep this in mind, I am sure that we will conclude that neither race nor species can, in itself, provide any justifiable basis for such a distinction. So the standard argument fails. It fails not because of the standard response that the embryo is not a human being, but because the sense in which the embryo is a human being is not the sense in which we should accept that every human being has a right to life”23. Inconsistencias del argumento de Singer Por lo pronto, conviene notar que la definición de persona de Singer no es del todo novedosa, puesto que, como él mismo reconoce, tiene antecedentes en aquella esbozada por Locke en Essay concerning human understanding (1704, II, 27, 9)24. De igual modo, conviene insistir en que en estricto rigor la disociación entre ser humano y persona Singer la plantea originalmente en el plano fáctico. Si se concede como verdadera la definición de persona que él utiliza, la conclusión es verdadera. En el plano de la razón especulativa no hay objeción alguna que hacer, ni reparo ni inconveniente. Así como esa, podríamos 212 construir múltiples definiciones de persona, y hacer el ejercicio intelectual de constatar quiénes entre los seres humanos son o no personas. El problema se suscita porque, sin justificación suficiente, esta afirmación se pretende trasladar desde la razón especulativa hacia la razón práctica, produciéndose así consecuencias normativas. Ese paso, además de injustificado, es inaceptable en una sociedad democrática. El argumento que disocia ser humano y persona adolece, a lo menos, de la siguiente falencia: tiene connotaciones racistas, sexistas, estamentales, totalitarias y esclavistas, como ya diversos autores lo han hecho notar25. El argumento de Singer no ha resistido esta crítica26. 23 Singer, Peter, “Creating Embryos”, en Arras, John, Steinbock, Bonnie (eds.), Ethical issues in modern medicine, Mayfield Publishing Company, California, 1995, pp. 442-3. Similar razonamiento está en Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980, p. 117, a propósito del valor de la vida fetal. El silogismo en el que expresa el argumento central contra el aborto es el siguiente: Es malo matar a un ser humano inocente, el feto humano es un ser humano inocente, luego es malo matar a un feto humano. Dice Singer, en p. 118: “My suggestion, then, is that we accord the life of a fetus no greater value than the life of a nonhuman animal at a similar level of rationality, self-consciousness, awareness, capacity to feel, etc. Since no fetus is a person, no fetus has the same claim to life as a person. Moreover it is very unlikely that fetus of less than 18 weeks are capable of feeling anything at al, since their nervous system appears to be insufficiently developed to function. If this is so, an abortion up to this point terminates an existence that is of no intrinsic value at all . 24 Pese a que Singer lo nota expresamente: Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980, p. 76, la falta de novedad también la hace notar FORD, NORMAN, The prenatal person, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria, Berlin, 2002, p. 9. 25 Spaemann, Robert, “Gezeugt, nicht gemacht. Die verbranchende Embryonenforschung ist ein Anschlag auf die Menschenwürde”, en Biopolitik. Die Positionen, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main, 2001, pp. 41-50 esp. 42; Braun, Kathrin, Menschenwürde und Biomedizin. Zum philosophischen Diskurs der Bioethik, Campus, Frankfurt, 2000, p. 111. 26 Singer, en su sitio personal en Internet, ha anunciado la publicación de un libro en el que se haría cargo de las críticas. A la fecha de estas líneas ello no ha ocurrido. Es conveniente hacer notar, asimismo, que la tesis sostenida por Singer sólo sirve de objeción a una teoría moral dualista absoluta que sostenga una afirmación de la siguiente índole: “sólo debes respeto al viviente humano”. Si tal teoría existe, Singer debiese identificarla. Es claro, me parece, que de la afirmación “todo ser humano tiene derecho a la vida”, no se sigue “todo ser humano es impune para con otros vivientes”. Nadie, hasta donde he podido conocer, sostiene que un abogado de derechos humanos pueda salir una mañana de casa y matar al perro mascota del vecino porque se le dio la gana. Por consiguiente, la afirmación “es ilícito matar a un extraterrestre pese a que no es humano” no controvierte en modo alguno el enunciado “todo ser humano tiene derecho a la vida”. Es perfectamente compatible afirmar “todo ser humano tiene derecho a la vida” con otras oraciones normativas, tales como “los humanos debemos cuidar la naturaleza”, “el ser humano debe cuidar toda forma de vida”, etc. Hasta aquí, el argumento de Singer es ineficaz. Singer, además, incurre en una petición de principios. La analogía entre racismo y especieísmo – es decir entre la relevancia moral de pertenecer a una raza o a una especiees inválida como argumento, puesto que precisamente lo que Singer debe probar es que la adscripción a la especie zoológica homo sapiens es irrelevante moralmente. Podemos convenir que al interior de la especie zoológica homo sapiens es irrelevante distinguir entre razas. Pero de ello no se sigue que sea irrelevante distinguir entre aquellos que pertenecen a la especie y aquello que no. El planteamiento de Singer puede ser retóricamente atractivo, pero es lógicamente erróneo y argumentativamente ineficaz. Con todo, desde el punto de vista estrictamente jurídico la tesis del especieísmo no tiene cabida, puesto que nuestros ordenamientos precisamente se estructuran sobre la base de que el ser humano posee algo distintivo, que llamamos dignidad27. Esa nota distintiva, que le hace diferente al resto de las existencias, la poseen todos los humanos sin distinción, 213 atributo que llamamos igualdad. Las ideas de dignidad e igualdad de los seres humanos son conquistas jurídicas arduas y preciadas, hoy positivadas y extendidas globalmente28. Reinhard Merkel y la “falacia de la falacia naturalista” Un segundo argumento “contra especie” ha sido desarrollado principalmente por otro autor representativo de la corriente que analizamos: Reinhard Merkel. En efecto, Reinhard Merkel, ha indicado que quienes adhieren al argumento “pro especie”, incurren en la falacia naturalista, al extraer consecuencias normativas – ser persona – de un hecho naturalístico – ser humano – 29. A nuestro juicio, la estructura del argumento de 27 Cfr. Wille, Marion, Die Rechtsstellung des Nasciturus gegenüber der Nutzung fetaler und embryonaler Zellen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003, p. 98, quien nota la contradicción de la tesis del especieísmo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre la dignidad de los seres humanos. 28 V.gr Constitución Alemana, art. 1; Constitución Belga, art. 23; Constitución Suiza, art. 119; Constitución de Irlanda, Préambulo; Constitution de la República Checa, Preámbulo; Constitución de España, art. 10; Constitución Sueca, art. 2; Constitución Finesa, art. 1; Constitución Griega, art. 7.2; Constitución de Polonia, Preámbulo y art. 30; Constitución Lituana, art. 21; Constitución Eslovaca, art. 34; Constitución Rusa art. 21; Constitución de Sudáfrica, sección 7.1 y 10; Constitución Mexicana, art. 3.1 y 25; Constitución de Israel, art.1; Constitución de Brasil, art. 1; Proyecto de Constitución de la Unión Europea, art. I-2. 29 Merkel, Reinhard, “Rechte für Embryonen? Die Menschenwürde lässt sich micht allein auf die biologische Zugehörigkeit zur Menscheit gründen”, en Geyer, Christian, Biopolitik. Die Positionen, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main, 2001, pp. 51 a 64 esp. 56; El Mismo, “Contra Speziesargument: Zum normativen Status des Embryosund zum Schutz der Ethik gegen ihre biologistische Degradierung”, en Damschen, Gregor, Schönecker, Dieter (eds.), Des moralische Status menschlicher Embryonen, Walter de Gruyter, Berlin/New Cork, 2003pp. 35 a 56 esp. 55-6; El Mismo, Forschungsobjekt Embryo, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2002, pp. 184-6. Merkel es correcta, pero está mal orientado. De modo paradojal, aquellos que sostienen el argumento “contra especie” –Merkel incluído- son quienes incurren en la falacia naturalista, al pretender extraer una consecuencia normativa (dignidad) de la constatación de un factum (organogénesis, relacionalidad, comunicabilidad, etc.). Tal crítica no alcanza al argumento pro especie, puesto que él se construye en base a una afirmación de naturaleza normativa: todo ser humano es persona. No hay falacia alguna. Lo anterior queda, a nuestro juicio, claramente expresado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán: “Wo menschlichen Leben existiert, kommt ihn Menschenwürde zu”30. Donde exista vida humana, llega allí la dignidad del hombre. Dos afirmaciones distintas, una fáctica y otra normativa. Constatado el supuesto de hecho, se aplica la consecuencia de derecho. El principo precautorio y su aplicación al caso Ahora bien, asentado que resulta jurídicamente plausible y razonablemente fundado que la dignidad es un atributo absoluto inherente a todo ser humano, a partir de tal basamento podemos desplazarnos hacia la tutela preventiva, que es propia del sistema de responsabilidad extracontractual31. En este plano, pensamos que resulta importante traer a colación el denominado principio precautorio (Vorsorgeprinzip), por el cual resulta lícito desincentivar, restringir y aun prohibir una determinada actividad cuando se prevea la ocurrencia de daños relevantes de difícil o imposible reparación32. 214 Pensamos que, precisamente, el uso de biotecnologías reproductivas trae necesariamente aparejado este tipo de daños. Si al afirmar que todo ser humano es persona estamos en lo correcto, el hecho es que la criopreservación de embriones, la selección de los mismos, y las asumidas tasas de mortalidad de ellos, no son sino un silencioso y masivo abuso. La tutela preventiva del derecho civil, anclada en este caso en la propia dignidad de la persona, sostenemos, es una herramienta útil para enfrentar jurídicamente esta situación33. En la misma línea del principio precautorio, pero ahora en un plano diverso, junto a las razones señaladas, adherimos a lo expresado por el filósofo alemán Hans Jonas, quien refiriéndose a la investigación y experimentación embrionaria ha dicho: 30 BVerGE 39, p. 41; 88, p. 252. Aludimos a la función preventiva de la responsabilidad civil, en el sentido de impedir oportunamente la causa que originaría un efecto dañoso. No nos referimos, en consecuencia, a una función disuasiva basada en la alta cuantía de las indemnizaciones, como ha solido utilizarse, por ejemplo, en la jurisprudencia alemana o en parte de la doctrina española y aun chilena. López, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, LexisNexis, 2006, pp. 47-48; Díez-Picazo, Luis, Derecho de daños, Madrid, Civitas, 1999, pp. 47-48; Barros, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007, pp. 46-47. 32 Figueroa, Gonzalo, “El principio de precaución frente a los viejos conceptos de la responsabilidad civil”, en Pizarro, Carlos (ed.), Temas de responsabilidad civil, Cuadernos de Análisis Jurídicos, Colección Derecho Privado I, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2004, pp. 65 a 73. 33 Sobre tutela preventiva en nuestro sistema, véase Corral, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, pp. 355 a 363; Molinari, Aldo, De la responsabilidad civil al derecho de daños y tutela preventiva, Santiago, LexisNexis, 2004, passim; El Mismo, “De la responsabilidad civil al derecho de daños: tutela preventiva civil”, en Martinic, María Dora (coord.), Nuevas tendencias del derecho, Santiago, LexisNexis, 2004, p. 194 31 “Con este arte como tal, aplicado a los seres humanos, abriríamos la caja de Pandora de la aventura meliorista, estocástica, inventora, o simplemente perverso-curiosa, dejaríamos atrás el espíritu conservador de la reparación genética y recorreríamos la senda de la arrogancia creadora. No estamos facultados ni equipados para ello – ni con la sabiduría, ni con el conocimiento axiológico, ni con la autodisciplina-, y ningún respeto reverente nos protege, como desmitificadores del mundo, de la magia de la frívola temeridad. Por eso, es mejor que la caja de Pandora continúe cerrada”34. Continúa Jonas: “Nuestro mundo, tan enteramente privado de tabúes, tendrá que alzar voluntariamente nuevos tabúes en vista de sus nuevas formas de poder. Tenemos que saber que hemos ido demasiado lejos, y aprender nuevamente que existe un demasiado lejos. Ese demasiado lejos empieza en la integridad de la imagen del hombre, que para nosotros debería ser inviolable. Sólo como ignorantes podríamos poner mano sobre ella, y allí no podríamos ser maestros. Tenemos que volver a aprender a temer y a temblar e, incluso sin Dios, a respetar lo sagrado. Hay tareas suficientes a este lado del límite que esto establece”35. Por consiguiente, la aplicación del principio precautorio, en materia tan grave y relevante como aquella que tratamos, en estrecha conexión con bienes humanos básicos, reforzaría la conveniente proscripción de las modernas biotecnologías en humanos. Conclusiones Desde el punto de vista estrictamente dogmático, y aun de lege lata, la dignidad hu- 215 mana se erige como una categoría jurídica autónoma. Tan es así que permite fundamentar fallos del órgano de jurisdicción encargado de interpretar el texto jurídico de mayor jerarquía, cual es la Constitución. Esta afirmación que sostenemos respecto del ordenamiento jurídico chileno, probablemente sea válida para el resto de las naciones latinoamericanas, cuya institucionalidad jurídica tiene raíces comunes. Esta hipótesis podrá ser corroborada o descartada por investigaciones posteriores, pero es a lo menos plausible. En segundo término, las modernas biotecnologías reproductivas en humanos no parecen satisfacer los estándares que la dignidad humana exige para el tratamiento de los integrantes de nuestra especie. Pensamos que el argumento del especieísmo adolece de inconsistencias severas, que, a su vez, le tornan ineficaz como objeción a la dignidad intrínseca a todo ser humano. A mayor abundamiento, el argumento precautorio hace aún más razonable la exigencia jurídica de la proscripción de tales técnicas. Referências Bibliográficas Andorno, Roberto, “La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique?, en Revue Générale de Droit Médical, n° 16, 2005. Barros, Enrique, Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007. Braun, Kathrin, Menschenwürde und Biomedizin. Zum philosophischen Diskurs der Bioethik, Campus, Frankfurt, 2000. 34 Jonas, Hans, Técnica, Medicina y Ética: La práctica del principio de responsabilidad, traducción de Carlos Fortea Gil, Barcelona, Paidos, 1997, p.142-3. 35 Jonas, Hans, Técnica, Medicina y Ética: La práctica del principio de responsabilidad, traducción de Carlos Fortea Gil, Barcelona, Paidos, 1997, p.143. Corral, Hernán, Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004. Díez-Picazo, Luis, Derecho de daños, Madrid, Civitas, 1999. Fernández, Miguel Ángel, Los derechos fundamentales en 25 años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 1980-2005, Cuadernos del Tribunal Constitucional, 33 (2006). Figueroa, Gonzalo, “El principio de precaución frente a los viejos conceptos de la responsabilidad civil”, en Pizarro, Carlos (ed.), Temas de responsabilidad civil, Cuadernos de Análisis Jurídicos, Colección Derecho Privado I, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2004. Ford, Norman, The prenatal person, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, Victoria, Berlin, 2002. Gómez-Lobo, Alfonso, “The ethical evaluation of human cloning for biomedical research”, en Honnefelder, Ludger, Lanzerath, Dirk (eds.), Klonen in biomedizinischer Forschung und Reproduktion/Cloning in biomedical research and reproduction, Bonn University Press, Bonn, 2003. Grimm, Wilhem, Grimm, Jacob, “Hänsel und Gretel”, en Grimm, Wilhem, Grimm, Jacob, Märchen der brüder Grimm, Droemer Knaur, Berlin, 1937. Hoerster, Norbert, Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt am Main, 1995. Hoerster, Norbert, Sterbehilfe im säkularen Staat, Frankfurt am Main, 1998. Hoerster, Norbert “Menschenrecht auf Leben und Tötungsverbot”, en Breuninger, Renate, Leben-Tod Menschenwürde. Positionen zur gegenwärtigen Bioethik, Humboldt-Studienzentrum, Universität Ulm, 2002. Holm, SØren, “Ethics of Embriology”, en The concise encyclopedia of the ethics of new technologies, Academic Press, California, 2001. Jonas, Hans, Técnica, Medicina y Ética: La práctica del principio de responsabilidad, traducción de Carlos Fortea Gil, Barcelona, Paidos, 1997. Kant, Metaphysik der Sitten, 37. 216 Kant, Grundlegun zur Metaphysik der Sitten, 37. Laferrière, Jorge Nicolás, “Técnicas de Procreación Humana. Propuesta para la tutela legislativa de la persona concebida”, en El Derecho, (Buenos Aires) 18 de septiembre de 2006, Nº 11.595, año XLIV. Lévi-Strauss, Claude, Anthropologie structurale deux, Plon, Paris, 1996. López, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Buenos Aires, LexisNexis, 2006. Macklin, Ruth, “Dignity is a useless concept”, British Medical Journal, 2003, vol. 327. Merkel, Reinhard, “Rechte für Embryonen? Die Menschenwürde lässt sich micht allein auf die biologische Zugehörigkeit zur Menscheit gründen”, en Geyer, Christian, Biopolitik. Die Positionen, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main, 2001. Merkel, Reinhard, “Contra Speziesargument: Zum normativen Status des Embryosund zum Schutz der Ethik gegen ihre biologistische Degradierung”, en Damschen, Gregor, Schönecker, Dieter (eds.), Des moralische Status menschlicher Embryonen, Walter de Gruyter, Berlin/New Cork, 2003. Merkel, Reinhard, Forschungsobjekt Embryo, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2002. Molinari, Aldo, De la responsabilidad civil al derecho de daños y tutela preventiva, Santiago, LexisNexis, 2004. Singer, Peter, Practical ethics, Cambridge University Press, London, New Cork, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1980. Singer, Peter, “Creating embryos”, en Arras, John, Steinbock, Bonnie (eds.), Ethical issues in modern medicine, Mayfield Publishing Company, California, 1995. Spaemann, Robert, “Gezeugt, nicht gemacht. Die verbranchende Embryonenforschung ist ein Anschlag auf die Menschenwürde”, en Biopolitik. Die Positionen, Suhrkamp, Verlag, Frankfurt am Main, 2001. Wendehorst, Christiane, “Rechtliche Anforderungen an ein küntfiges Fortpflanzungsmedizingesetz”, en Oduncu, Fuat, Platzer, Katrin, Henn, Wolfram (eds.), Der Zugriff auf den Embryo, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2005. Wille, Marion, Die Rechtsstellung des Nasciturus gegenüber der Nutzung fetaler und embryonaler Zellen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003. Dignidad de la Persona, Libertad Religiosa y Aconfesionalidad del Estado: Problemas Nuevos en el Viejo Continente1 Tomás Prieto Álvarez Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Burgos (España) Resumo Não pretendo aqui fazer um estudo exaustivo desta qualidade do homem, impossível em um trabalho desta natureza e dimensão. Eu apenas foco em um aspecto: em que medida a separação entre o Estado e várias igrejas ou confissões religiosas, imposta em grande parte nos textos constitucionais - entre eles, o espanhol e o brasileiro - , afeta o livre desenvolvimento público das crenças religiosas. Palavras-chave: Dignidade Humana. Liberdade Religiosa. 217 Resumen No pretendo aquí un estudio exhaustivo de esta cualidad del hombre, imposible en un trabajo de estas características y dimensiones. Solo me centraré en un aspecto: en qué medida la separación entre el Estado y las distintas iglesias o confesiones religiosas, impuesta en buena parte de los textos constitucionales — entre ellos, el español y el brasileño —, afecta al libre desenvolvimiento público de estas creencias religiosas. Palabras claves: la dignidad humana. La liberdad religiosa. Introducción: Dignidad Humana, Libertad Religiosa y Aconfesionalidad del Estado en Las Constituciones Española y Brasileña y en la Dudh2 En un número anterior de esta Revista, conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución brasileña, abordé “la constitucionalización de la dignidad de la persona”3. 1 En los últimos años he impartido clases de doctorado en mi Universidad de Burgos, en España, en las que hemos abordado la tutela pública de la dignidad humana. En estos cursos han participado un buen número de alumnos procedentes de todas las partes de Brasil. Esto me ha permitido tratar a bastantes “brasileiros” que cruzaban el “charco” (así llamamos aquí al océano Atlántico) con enormes ganas de aprender y no poco sacrificio. De todos, sin excepción, guardo un gratísimo recuerdo, que me ayuda a “acercarme” a ese gran país (grande por su extensión, pero, sobre todo, por la calidad de sus gentes). Sirvan estas líneas de homenaje y muestra de amistad hacia todos ellos. 2 Así invocaré a la Declaración Universal de Derechos del Hombre, cuyo sesenta aniversario conmemoramos con este volumen. 3 “La constitucionalización de la dignidad de la persona o la conversión en jurídico de un valor moral”, En esa ocasión — y en otras4 — he acometido la plasmación constitucional, en la mayoría de las Cartas Magnas de los Estados modernos, de la cualidad ontológica del hombre que le otorga una peculiar e incomparable valía: una dignidad que hace al hombre fin en sí mismo — en la clásica expresión kantiana —, incompatible con su consideración como objeto de derechos. En su momento pude advertir también que, situándose la dignidad de la persona en la base o el fundamento de todo el Derecho así como de todos y cada uno de los derechos del hombre (estos habrán de considerarse, por tanto, como una consecuencia o emanación de aquella dignidad5), algunos de entre ellos son manifestación más tangible de dignidad, lo que hace más inexcusable su respeto y tutela. Tiempo ha, expresaba esta idea el profesor — y primer Defensor de Pueblo de la democracia española — RUIZ-GIMÉNEZ de esta manera: “el valor de la dignidad sustancial de la persona está en la raíz de todos sus derechos básicos, pero hay algunos de ellos donde esa dimensión del ser humano se hace más patente”6. Es decir, hay derechos más ligados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su personalidad. En este sentido, parece claro que entre los derechos más directamente vinculados a la dignidad humana —dicho de otra manera, que encuentran en ella de manera más evidente su fundamento— no puede dejar de contarse el derecho a la libertad religiosa7. Por ello, está presente en la mayoría de las Constituciones del planeta y, por supuesto, en la DUDH de la ONU. Entre las primeras, baste con recordar la letra de las Constituciones de España y Brasil. Así reza el artículo 16 de la Constitución española de 1978: “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. 218 Por su parte, el artículo 5 del texto brasileño de 1988, dentro del capítulo dedicado a los “derechos y deberes individuales y colectivos”, consagra la libertad religiosa en estos términos: “VI. Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estado asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección de los locales de culto y sus liturgias. VII. Queda asegurada, en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internamiento colectivo”. en el nº 5 de esta Revista, correspondiente a la edición de septiembre de 2008, pp. 433-448. En La dignidad de la persona, núcleo de la moralidad y el orden públicos, límite al ejercicio de las libertades públicas, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2005. 5 Ibíd., cit. p. 6 RUIZ-GIMÉNEZ CORTÉS, J., “Art. 10. Derechos fundamentales de la persona”, en ALZAGA VILLAAMIL, O. (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo II, EDERSA, Madrid, 1986, p. 116. No obstante, algunos autores disienten de este basamento general de los derechos en la dignidad humana; como PÉREZ LUÑO, que sostiene que solo algunos derechos fundamentales encuentran en la dignidad humana su principio fundamentador; vid Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, 6ª ed. Madrid, 1999, p. 318. 7 Merece mencionarse el reconocimiento expreso de este fundamento de la libertad religiosa en la Declaración Dignitatis Humanae del Vaticano II, en estos términos: “Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana” (punto 2). 4 Finalmente, el artículo 18 DUDH establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”8. No pretendo aquí un estudio exhaustivo de esta cualidad del hombre, imposible en un trabajo de estas características y dimensiones. Solo me centraré en un aspecto: en qué medida la separación entre el Estado y las distintas iglesias o confesiones religiosas, impuesta en buena parte de los textos constitucionales — entre ellos, el español y el brasileño —, afecta al libre desenvolvimiento público de estas creencias religiosas. Este principio de separación, que — ahora no haré más precisiones conceptuales — también se ha denominado de aconfesionalidad, laicidad, neutralidad o incluso laicismo, aparece así recogido en las constituciones que se acaban de citar. El artículo 16.3 de la Constitución española dice así: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Mientras que al artículo 19 de la Constitución brasileña establece que: “Está prohibido a la Unión, a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios: I. Establecer cultos religiosos o iglesias, subvencionarlos, obstaculizar su funcionamiento o mantener con ellos o sus representantes relaciones de dependencia o alianza, salvo colaboración de interés público, en la forma de la ley”. Ambas redacciones, aunque traslucen ciertas diferencias (que pueden comportar sus divergencias en la práctica), coinciden en lo sustancial: declaración de separación entre el Estado y las confesiones religiosas, que, lejos de ignorar el hecho religioso, comporta la garantía pública de su desenvolvimiento y la legitimidad de las consiguientes colaboraciones. En el caso español, la introducción del tercer apartado del artículo 16 de la Constitución no fue cuestión pacífica, pues pesaba para algunos un deseo de romper con especial rotundidad con el pasado confesional del país. De hecho, en el primer borrador de la Ponencia redactora del texto constitucional se decía que “el Estado español no es confesional” y, lo que es más importante, pretendió incluirse en el Título I, definidor de los principios generales del nuevo Estado9. Más polémicos resultaron aún los mandatos, incluidos en el texto final, de tener “en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” y, en particular, de mantener “relaciones de cooperación con 8 Ha de advertirse que este tenor de la DUDH es reproducido, prácticamente palabra a palabra, en el artículo 9 de la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (CEDH), texto que corresponde juzgar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya jurisprudencia citaremos en repetidas ocasiones. 9 Vid. PÉREZ-LLANTADA Y GUTIÉRREZ, J., “La dialéctica ‘Estado-Religión’ ante el momento constitucional”, en Lecturas sobre la Constitución española, Madrid, 1978. 219 la Iglesia Católica y las demás confesiones”: esta invocación específica fue calificada, por políticos señalados, como de “confesionalidad solapada”, con lo que la dicción del apartado tercero motivó sonados abandonos de la Ponencia10. Pero las referencias hechas al desenvolvimiento público de la libertad religiosa obliga a concluir esta Introducción advirtiendo que los textos ya citados evidencian la necesaria tutela de un doble ámbito de esta libertad: uno interno y otro externo. Además, aunque se deduce también de las Constituciones citadas, interesa resaltar que la DUDH ubica expresamente la libertad de externa manifestación de las creencias “tanto en público como en privado”, de lo que solo el primero nos interesará11. Pero presentemos someramente esta doble dimensión, empleando textos y argumentos del supremo intérprete de la Constitución española. Bien dictaminó el Tribunal Constitucional español en la sentencia 177/1996, de 11 de noviembre de 1996, F.J. 9, que la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado (como se resaltó más atrás) a la propia personalidad y dignidad individual”; esto constituiría, decía el Tribunal, la dimensión interna del derecho, que habremos de calificar como absolutamente básica y elemental. Tanto, que solo en supuestos de auténtica patología totalitaria (los ha habido) se ha intentado profanar el santa santorum de la propia conciencia religiosa (además, cuando esto ha ocurrido, hemos dado el salto a su proyección externa). Amén de esto, se puede decir que hoy lo que se ventila en las sociedades supuestamente libres es la manifestación externa de esta creencia religiosa, que, por otra parte, es lo que realmente tiene relevancia jurídica12. Es por lo que se ha dicho que “la creencia 220 no constituye por sí misma el hecho religioso. Hace falta otro elemento: el rito o el culto. Según la doctrina más común, si no existe un culto correspondiente a una creencia, cabe hablar de doctrina política, filosófica, ideológica, pero no de una religión (…) La libertad religiosa es la libertad de manifestar estas creencias en una fuerza sobrenatural (Dios) y poder practicar públicamente el culto”. Por tanto, “que es una libertad de pensamiento o de opinión es evidente, pero además es mucho más que eso”13. Todo lo cual hace que, más allá de aquella dimensión interna, muestra atención se centre en la que el Tribunal llamaba, en la misma sentencia de 1996, la dimensión externa de este derecho, 10 GARRIDO FALLA, F., en su comentario del artículo 16.3 en Comentarios a la Constitución, por él mismo dirigidos, publicada su 3ª edición en 2001, Civitas, da cuenta del reproche del diputado Solana y del abandono de la Ponencia Constitucional de Peces-Barba (p. 331-332). 11 Quizá no sea superfluo advertir, a estos efectos, la diferencia entre “lo externo” y “lo público”. El carácter externo de un comportamiento implica que éste se manifiesta hacia el exterior (en este caso, el culto religioso que la persona exterioriza, pero permaneciendo en su ámbito o círculo privado); sin embargo, el carácter público del comportamiento, presuponiendo su exteriorización, implica su proyección sobre espacio públicos, dotados de publicidad, que pueden ser o no dependencias públicas en sentido jurídico. 12 Me parecen muy atinadas las apreciaciones en este sentido de MANTECÓN SANCHO, J., cuando recuerda que nos estamos refiriendo “a un concepto estrictamente jurídico. Es decir, nos referimos a la libertad que en tema de religión disfruta el ciudadano frente al Estado”; de lo que deduce que tal libertad puede definirse como “una libertad especificada por su objeto —la autodeterminación de la voluntad en asuntos religiosos, siempre que tenga relevancia externa— y garantizada jurídicamente, frente al Estado y frente a terceros, mediante las consiguientes garantías jurisdiccionales (si no existen esas garantías, no cabe propiamente hablar de verdadero derecho)”. Vid. El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios y bibliografía, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 29-30. 13 Cfr. NIETO NÚÑEZ, S., “Derechos y límites de la libertad religiosa en la sociedad democrática”, p. 3; en www.instituto-social-leonxii.org. dimensión “de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros”. Proyección externa que, insisto, ha de poder desplegarse, en buena ley, en el espacio público. En fin, en ese contexto de “lo público”, estamos en condiciones, primero de determinar la consideración jurídica de la libertad religiosa, y luego de precisar la respuesta del Estado ante ella. Breve Excursos Sobre La Libertad Religiosa: Derecho Fundamental, Princípio Constitucional, FactorSocial A. La libertad religiosa como derecho fundamental de la persona y como principio 1. La libertad religiosa, primera de las libertades, fundamento de una sociedad democrática y pluralista El ser humano, por mor de su racionalidad, obra con libertad, con señorío sobre sí mismo, puede “abrirse intencionalmente a toda la realidad”, lo que le hace “el ente más perfecto de la realidad natural”14, el único que tiene dignidad. De aquí se puede deducir que si todo el espectro de sus derechos aportan al hombre su dignidad, no lo hacen todos — ya se adelantó — con la misma intensidad: a la cabeza cabe situar, sin duda, los que son ejercicio de su racionalidad — de libertad, por tanto — que son los que ponen distancia con los animales y de verdad definen a la persona humana. El ejercicio racional de la libertad será tanto más elevado e intangible cuanto más íntima sea la esfera de 221 elección. Despojar a una persona de su libertad de circulación o del derecho acceder a la justicia, resultando intolerables, no son parangonables a imponerle el número de hijos que debe tener, o a privarle de su libertad ideológica o de pensamiento o de relación con quien considera su ser supremo. Asumo que jerarquizar cosas, y más aún derechos, no es fácil: quizá por considerar que las personas pueden prescindir voluntariamente de juicios ideológicos o religiosos — o minusvalorarlos, o incluso estar impedidos para ellos —, alguien puede relegar la libertad religiosa; y así se ha hecho en ocasiones, un tanto gratuitamente15. No obstante, nada sencillas resultan las ponderaciones de este derecho de libertad religiosa — pues no es derecho ilimitado — cuando se plantean conflictos con otros derechos. En el contexto conflictual vida-libertad religiosa, nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de junio de 1997, dictamino que “dentro del amplio cuadro de derechos y libertades que proclama la Constitución, en un grado preferente, solo superado por el derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto…”. Asumiendo esta opción preferencial, se ha atribuido al expresidente británico Tony Blair la máxima de que “la seguridad es la primera de las libertades”, a la que sumó el presidente colombiano Álvaro Uribe en su última toma de posesión16. Ciertamente, 14 Vid. MASSINI CORREAS, C.I., “Filosofía y ‘antifilosofía’ de los derechos humanos”, en VVAA., Razón y realidad. Homenaje a Antonio María Millán Puelles, ALVIRA, R. (coord.); Rialp, Madrid, 1990, p. 391. 15 Pienso que aferrarse a que la religión no es “una necesidad básica al mismo nivel que la vivienda, la sanidad o la educación” (PECES-BARBA), para postergarla, contiene un peligroso germen totalitario Vid., del autor citado, “Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa”, en Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa, IBÁN, I.C. (coord.), Edersa, Madrid, 1989, p. 68. 16 “La democracia moderna reconoce en la seguridad la primera de las libertades, que se legitima al la vida — objeto específico del bien jurídico de la seguridad pública — resulta el primigenio y básico derecho humano, sin el cual — huelga decirlo — ningún otro puede ejercitarse; pero esto lo aleja del carácter de “derecho de libertad” y lo convierte en presupuesto para todas ellas (o, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, “supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible” — Sentencia 53/1985—). Y en este sentido, parece, pues, admisible que se haya propuesto que la libertad religiosa constituye la primera de las libertades… “La primera de las libertades”, referida a la libertad religiosa, es el título de un artículo periodístico el profesor NAVARRO-VALLS17, en el que da cuenta de la coincidencia en esta valoración en personajes como Juan Pablo II, Clinton y Yelsin, a la que, desde luego, se suman infinidad de autores, en los mismos términos o semejantes18. Aunque sin esa rotundidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha terminando por valorizar en su medida este derecho fundamental. Quizá haya tardado demasiado en hacerlo: fue la sentencia Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo de 1993 — en este punto reiterada en otros pronunciamientos y muy citada por la doctrina —, la que, en su apartado 31, sentenció que: “tal y como la garantiza el artículo 9 (del Convenio Europeo que le corresponde aplicar) la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión representa uno de los fundamentos de una sociedad democrática en términos del Convenio. Figura, en su dimensión religiosa, entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero ésta también es un bien para los ateos, los agnósticos, los escépticos y los indiferentes. Se trata del pluralismo — conseguido de manera muy costosa a lo largo de los siglos — que no podría disociarse de tal sociedad”19. Aunque omita el Tribunal jerarquizaciones expresas con otros derechos e inicial222 mente trate conjuntamente las libertades de pensamiento, conciencia y religión, únicamente a la dimensión religiosa la cataloga como “uno de los elementos más esenciales” de la identidad de las personas, lo que supone una consideración sin duda muy especial. Para quien ostenta esas creencias, es muy habitual que consideren esta opción la más personal e intangible, lo que es refrendado por el hecho histórico de que miles de personas hayan renunciado a la propia vida por preservar tal identidad. El Tribunal, de considerar que otras eran con frecuencia más valoradas, quizá las hubiera citado. Como luego veremos, esta singular consideración de la libertad religiosa impondrá al Estado un celosísimo respeto por la autonomía de las personas en este campo. Pero es tal la esencialidad que se le otorga que no faltan sólidas propuestas de atribuirle otra categorización y, con ella, otro protagonismo. hacer posible el ejercicio de las demás”. Disponible en www.altocomisionadoparalapaz.gov.co. Publicado en el Diario El Mundo el 18 de agosto de 1997, figura recogido en una recopilación publicada por el autor bajo el título Del poder y de la gloria, Ediciones Encuentro. Madrid, 2004, p. 165. 18 RUBIO LÓPEZ, J.I., La primera de las libertades: la libertad religiosa en los EEUU durante la Corte Rehnquist (1986-2005): una libertad en tensión, Eunsa, Pamplona, 2006; “la primera de las libertades sigue dando que hablar en el panorama constitucional actual”... así comienza el constitucionalista GUILLÉN LÓPEZ, E., su trabajo “La inescrutabilidad de los caminos del Señor. Comentario a la sentencia del TEDH Leyla Sahin c. Turquía (nº 44774) de 29/06/2004”, en Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 2, 2004, p. 263 (revista electrónica disponible en www.ugr.es). 19 A juicio del profesor Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, opinión fácilmente compartible, se puede considerar éste “el ‘párrafo paradigmático’ sobre el significado de la libertad religiosa”. Vid. La afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religiones a meras cuestiones administrativas, Civitas, Madrid, 2007, p. 9. 17 Libertad religiosa como principio constitucional configurador del Estado Merece ser citado el voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional español 46/2001, formulado por el magistrado Manuel JIMÉNEZ DE PARGA en el que se afirmaba que “la libertad religiosa no solo es un derecho fundamental, sino que debe ser entendida como uno de los principios constitucionales”; esto en la medida en que “el Estado se configura en una sociedad donde el hecho religioso es componente básico”20. En esta misma línea, el filósofo del Derecho MARTÍNEZ DE PISÓN había escrito poco antes que “la libertad religiosa debe entenderse no solo como un derecho fundamental, sino también como un principio constitucional que expande sus efectos más allá de una u otra disciplina jurídica para impregnar la vida pública y las instituciones estatales”21. Reconoce el hoy Rector riojano que fue VILADRICH quien había propuesto la tesis del doble carácter de esta libertad: el de “principio configurador del Estado”, incluso antes que el de “derecho de la persona”22. Como principio de conformación social y cívica contiene, dice, “una idea o definición de Estado”. Pero para concretar tal idea es necesario precisar qué es el fenómeno religioso para el poder estatal. B. El fenómeno religioso como un privilegiado factor social Acabamos de ver que la libertad religiosa es esencial para el hombre. Como derecho fundamental que es, el Estado debe — como le ocurre ante los demás derechos de la persona — respetarla y favorecerla. Pero el hecho religioso, en sí, le resulta ajeno: ha de observar un sagrado respeto — lo hemos visto — a las opciones de sus ciudadanos, a la par que resulta impensable equiparse, como “sujeto religioso”, a ellos23. Y es que “como Estado — dirá también VILADRICH — es incompetente ante el acto de fe”. Pero es 223 claro que la irreprimible exteriorización de las “internas” creencias religiosas convierte el hecho religioso en un factor social — un factor social más — y en ese carácter ha de considerarlo el Estado. Así lo expresaba VILADRICH hace casi tres décadas: “cuando el Estado, al contemplar lo religioso, no ve otra cosa que un factor social que forma parte del conjunto de la realidad social y del bien común y que, con todas sus peculiaridades, es susceptible de reconocimiento, garantía y promoción jurídicas, entonces dicho Estado no entra a definir lo religioso, en cuanto tal, sino solo como factor social y, en esa medida, lo capta y se sitúa ante él única y exclusivamente como Estado radicalmente incompetente ante la fe y ante lo religioso, ‘como religioso’, pero competente para regular jurídicamente un factor social más del bien común”24. Se tratará, pues, de una “competencia relativa”, que LÓPEZ ALARCÓN calificó también como “indirecta”25. 20 Lo que explican con la siguiente comparativa: “no puede equiparse, por ejemplo, el derecho de libertad religiosa con el derecho de negociación colectiva inherente a la libertad sindical. Éste último es un derecho fundamental en la Constitución Española, pero no es un principio constitucional, como lo es, en cambio, la libertad religiosa”. 21 Vid. MARTÍNEZ DE PISÓN CAVERA, J., Constitución y libertad religiosa en España, Dykinson, Madrid, 2000, p. 281. 22 Vid. VILADRICH, P.J., “Los principios informadores del Derecho Eclesiástico Español”, en VVAA, Derecho Eclesiástico del Estado Español, Eunsa, Pamplona, 2ª ed., 1983, p. 193. 23 Dirá VILADRICH que “El Estado considera radicalmente ajeno a su naturaleza de solo Estado el imitar ante la fe y la práctica de la religión el pluralismo de posibilidades de respuesta de la persona singular” (ibíd., p. 213). 24 Ibíd. p. 217. 25 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M., “La relevancia específica del factor social religioso”, en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del profesor Pedro Lombardía, Universidad Complutense de Madrid-Universidad de Navarra-EDERSA, Madrid, 1989, p. 469. Como factor social, el religioso se ubica en el discurrir de la sociedad a la par que otras emanaciones de la libre personalidad humana (las — muy variadas — expresiones ideológicas, culturales, familiares, de aficiones, etc.). A la par… solo relativamente, pues, en cuanto al hecho religioso, su vinculación con un derecho fundamental esencialísimo, la fuerza de los hechos históricos o del arraigo sociológico, con una notable presencia social, le otorgan una relevancia especial, privilegiada, difícilmente parangonable a los otros factores sociales citados. Esto origina en algunos Estados — aunque pueda no gustar — una declaración de confesionalidad, y en otros — infinidad — justifica un específico reconocimiento y tratamiento constitucional, que impondrá una adecuada respuesta de las instituciones públicas. El caso es que acierten en el ejercicio de su “social competencia”. La tentación — calificable en estos momentos de amenaza — está servida: es fácil malinterpretar aquella incompetencia y deslizarse desde la separación entre “lo público” y “lo religioso”, y arguyendo el papel estatal de garante del pluralismo social arrinconar el hecho religioso, excluyéndolo del espacio público, de modo que la irreligiosidad del Estado se identifique con neutralización de lo religioso y reclusión a la intimidad de las personas — como comprobaremos —. Dignidad de la Persona y Respuesta del Estado Ante el Hecho Religioso A. Premisas y propuestas para definir las relaciones del Estado y lo religioso: separación, aconfesionalidad, neutralidad, laicidad, laicismo y cooperación En realidad, hablar de la terminología para significar la actitud del Estado ante el 224 fenómeno religioso “no solo es cuestión de palabras”26. Lo importante es perfilar ade- cuadamente aquella actitud, declinando posturas públicas menos razonables. Pero qué duda cabe que deslindar conceptos es de utilidad; y en este caso los conceptos manejados — y las propuestas definitorias — son variadas y conviene aclararlas. 1. Pienso que el punto de partida es la distinción de ámbitos entre el orden religioso y el orden político, de la que se deriva la distinción, independencia o separación institucional entre Estado y confesiones religiosas. Es esencial, pues en este punto está en juego la dignidad de la persona27. Separadas estas realidades, abandonada una preexistente unión Iglesia-Estado característica del Antiguo Régimen — en la que, además de la confusión institucional, en ocasiones la fe del monarca era per se la de los súbditos— salen valorizadas la libertad y dignidad humanas28. Frente a aquella mixtura, desde posturas fe no se duda hoy en proclamar que “la separación de Iglesia y Estado en sentido jurídico es una exigencia de la misma Revelación”, y debe darse incluso en sistemas confesionales29. 26 GONZÁLEZ VILA, T., “Laico y laicista, laicidad y laicismo: no solo es cuestión de palabras”, Revista Acontecimiento, noviembre 2004. 27 Vid. al respecto MOLANO, E., “El Derecho Eclesiástico en la Constitución Española”, en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado…, cit. p. 298. 28 Por eso, creo que tiene razón SUÁREZ-PERTIERRA, G., cuando afirma que “la separación IglesiaEstado (…), más que un instrumento de defensa de la independencia política, se convierte en un instrumento de protección de las libertades, entre las que la libertad de pensamiento, incluso religiosa, pasa a ser un elemento fundamental”. Vid. “La laicidad en la Constitución española”, en MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (ed.), Estado y religión en la Constitución Española y en la Constitución Europea, Comares, Granada, 2006, p. 14. 29 CORRAL SALVADOR, C., “Laicidad, aconfesionalidad, separación”, ¿son lo mismo?”, Unisci Discussion Papers, octubre 2004; disponible en www.revistas.ucm.es. Es interesante también cómo glosa el profesor DE LA HERA la idea de que la separación entre la Iglesia y el Estado es de origen cristiano: vid. “Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España”, Diario La Ley, 1981, tomo 2, p. 897. 2. De esto último se deduce algo que es origen de frecuente confusión: que un Estado opte por una confesionalidad religiosa no comporta necesariamente — no debería comportar — abolición de la referida separación de órdenes e instituciones, ni tampoco, necesariamente, menoscabo de la libertad religiosa de los ciudadanos30 (aunque esta pueda resultar eventualmente afectada o menoscabada31). Por esto, y por quedar — en alguna medida — en entredicho la aludida incompetencia del Estado en lo religioso en cuanto religioso, la opción mayoritaria en el planeta es claramente la aconfesionalidad estatal: es decir, el Estado no asume como propia ninguna confesión religiosa, sin más. Esta es la alternativa acogida — lo sabemos — en la Constitución española, en la frase primera de su artículo 16.3. Adviértase, no obstante, que los Estados que permanecen confesionales no son pocos — de entrada, al menos 53 Estados islámicos —, ni poco significados — reputadas democracias occidentales como Inglaterra o Grecia —. 3. Pero demos un paso conceptual más y acotemos otro concepto que suele presentarse ligado a los anteriores: la neutralidad. El Estado “aconfesional” ordinariamente será también religiosamente “neutro”; hasta el punto de que nuestro Tribunal Constitucional deduce del referido artículo 16.3 CE una manifestación de neutralidad estatal antes que de aconfesionalidad32. En esta línea, FERNÁNDEZ SEGADO sugiere como el principio constitucional asumido por España en la materia es el de “neutralidad confesional”33. Pero proceden al respecto dos aclaraciones. En primer lugar, a mi juicio, aconfesionalidad y neutralidad se mueven en esferas distintas: la primera puede ser objeto de expreso reconocimiento constitucional — como en el caso español—, pero este no sería necesario (de hecho, muchas constituciones no lo hacen: el silencio es expresivo de aconfesionalidad); pero lo importante es que su único alcance es negar una adscripción institucional 225 religiosa del Estado en cuestión—; la segunda — que también puede ser acogida en la Carta Magna; es más, creo que así lo hace nuestro texto, que, pese a citar expresamente a la Iglesia católica, no establece para ella privilegio alguno34 — corresponde 30 Así escribía Álvaro D’ORS en una de sus últimas obras: “Puede darse que, por razones de tradición histórica, una comunidad humana adopte colectivamente una determinada religión y la incorpore a su existencia comunitaria, como algo constitutivo y esencial de su identidad histórica. Esta confesionalidad pública de la colectividad no es contraria al derecho natural, aunque indirectamente influya en la formación de las conciencias, por la educación, por la presión social del respeto por lo comúnmente establecido, etc. En estos casos, la razón natural no exige más que el respeto de las conciencias que pueden discrepar de la religión oficialmente adoptada, y el permiso de rendir culto a Dios de otro modo, aunque se pueda impedir algunas manifestaciones públicas de religiones minoritarias que vengan a perturbar, por la apariencia de una pluralismo religioso oficial, la integridad de la confesionalidad religiosa que una comunidad ha adoptado como elemento esencial de su propia identidad”. Vid. Derecho y sentido común. Siete lecciones de derecho natural como límite del derecho positivo, Civitas, 2ª ed., Madrid, 1999, p. 58. 31 A juicio de LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., “cualquier fórmula, por más mitigada que sea, de confesionalidad (o de laicismo negativo) limita, en mayor o menor grado, la igualdad y la libertad de conciencia. Vid. Derecho de la libertad de conciencia I. Libertad de conciencia y laicidad, Civitas, 2ª ed., Madrid, 2002, p. 314. 32 STC 177/1996: “el artículo 16.3 C.E. al disponer que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», establece un principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa”. 33 Vid. El sistema constitucional español, Dykinson SL, Madrid, 1992, p. 300. 34 No obstante, se ve que los recelos ante esta expresa citación, juzgada como trasunto de falta de neutralidad y hasta de confesionalidad, sobreviven al periodo constituyente. Así se observa en autores como MARTÍNEZ DE PISÓN, J. para quien se está dando “legitimidad democrática a una situación de privilegio y avala lecturas, en mi opinión, contrarias a una mínima separación Estado-Iglesia”. Vid., “Poderes públicos y religión. El difícil compromiso con la libertad de conciencia”, Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, nº 0, 2002, p. 91. hacerla efectiva a la diaria praxis legal-administrativa. Y es que no necesariamente se dan a la par aconfesionalidad y neutralidad: una cosa es la veredicto — expreso o no— de aconfesionalidad del Estado como institución y otra — insisto — la práctica de las instituciones públicas al relacionarse con las confesiones (son ejemplo de esta distinción países como Dinamarca o Finlandia: formalmente no son confesionales — sus Constituciones omiten una adscripción religiosa del Estado — pero su tratamiento de las confesiones no es neutro, privilegiando a alguna o algunas de ellas). Una segunda aclaración: la adjetivación “neutro” en este campo requiere ser bien interpretada. Implica, sencillamente, que los poderes públicos, en su actuación, no toman partido por ninguna de las opciones religiosas —es decir, al prescindir aquellos de juicios “religiosos”, para los que son incompetentes, se muestran “imparciales” ante ellas—; pero no cabe deducir que se exija de tales poderes una actitud de indiferencia, inhibición o incluso neutralizadora ante el fenómeno religioso, que en modo alguno quiso el constituyente español35. Como afirma LLAMAZARES “neutralidad no significa indiferencia, ni del Estado ni de su ordenamiento jurídico, ante las creencias religiosas de sus ciudadanos”36. Por eso no me parece acertado, como hace SUÁREZ PERTIERRA cuando se plantea las posibles actitudes del Estado ante lo religioso, contraponer una “postura positiva”, una “postura negativa” y una “posición neutral”: y es que puede el Estado adoptar una actitud positiva ante el fenómeno social religioso, y que sea a la vez religiosamente neutra o aséptica e imparcial en sus respuestas. No creo que pueda concluirse, como hace este autor, que la “neutralidad supone (…) una ausencia de valoración de lo religioso”37, pues, como se ha dicho, en lo que tiene de social ha de ser adecuadamente valorado. 226 En definitiva, me interesa resaltar dos cosas acerca de las nociones de separación, aconfesionalidad y neutralidad: en primer lugar, que ni son realidades coincidentes ni se dan necesariamente juntas; y, en segundo lugar, que, limitándose a fijar razonables fronteras de lo estatal con lo religioso, no agotan, ni mucho menos, los mandatos sobre la actitud de las instituciones públicas ante el fenómeno social religioso — que enseguida acometeremos —. 4. Pero antes ha de advertirse que la incertidumbre conceptual y terminológica no termina aquí: de una manera absolutamente generalizada se viene recurriendo a un término desconocido para la autoridad linguística española, laicidad38 — o Estado laico 35 Hasta el punto de que CALVO ÁLVAREZ, J., recela de esta adjetivación de neutralidad. Afirma que “a mi modo de ver, tampoco se oportuno entender el principio (constitucional) como neutralidad del Estado en materia religiosa. Decir que el Estado es sencillamente neutro en materia religiosa, es decir una verdad a medias, porque, aunque el Estado que dibuja la Constitución es un Estado que implícitamente se declara incompetente en lo religioso, en cuanto tal, sin embargo, contempla el fenómeno religioso, en cuanto factor social, como factor positivo para la vida de la sociedad, y, consecuentemente, entra en su regulación y garantía, en cuanto tal factor social” (las cursivas son del propio autor). Vid. Orden público y factor religioso en la Constitución española, Eunsa, Barañáin (Navarra), 1983, p. 232. 36 Op. cit. p. 52. 37 Op. cit. p. 12. Lo cierto es que dos párrafo después se manifiesta en un sentido que me parece difícilmente conciliable con lo dicho antes: “las creencias religiosas y las convicciones de los individuos no pueden dejar de ser tenidas en cuenta por el Estado, son relevantes para la acción pública y, por tanto, imparcialidad frente a las convicciones de los ciudadanos no quiere decir indiferencia”. 38 El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) no incluye el término “laicidad”; sí recoge el de “laicismo”, que define como “doctrina que defiende la independencia del hombre y de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”, que encaja en la concepción que se viene dando de laicidad por los autores. —, para significar la autonomía de la esfera civil y política respecto de la esfera religiosa. Aunque con frecuencia la doctrina emplea indistintamente separación, aconfesionalidad, neutralidad y laicidad39, lo cierto es que — en los últimos tiempos — se ha entronizado a esta última como nota esencial del Estado en este campo, hasta el punto de que, en buena medida, ha suplantado — o fagocitado — a los otros principios (de lo que, como se comprenderá, no me felicito). En este efecto suplantativo, así como en la especial atención doctrinal y política de que está siendo objeto la laicidad, pienso que ha tenido mucho que ver el reciente acontecer en Francia — que luego nos ocupará en alguna medida —, único país europeo — si ubicamos a Turquía allende nuestras fronteras — cuya Constitución proclama, en su arranque, que se constituye en un “Estado laico”. Pero, ¿cuál es el sentido específico del concepto “laicidad”?, ¿en qué enriquece o cuál es su aportación a los otros conceptos que hemos manejado? A la hora de ubicarlo conceptualmente se ha señalado ampliamente su imbricación con la autonomía o separación de órdenes religioso y político40, de la que es considerado por algunos una consecuencia41; otros identifican laicidad con neutralidad42; aunque quizá destaque la tendencia a considerarlo equivalente a aconfesionalidad — así lo hecho, por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, como enseguida veremos—43. Con estas identificaciones no se está haciendo sino un ejercicio de sinonimia, sin aportación conceptual alguna. Por eso se ha podido sostener que falta un “concepto definido de laicidad”44. Entonces, ¿cuál es la razón que le ha llevado a hacer fortuna entre los autores? Es más, ¿es razonable decir que España —o cualquier otro Estado — es laico? Responderemos más tarde. 5. Conceptualmente, laico se concibe por oposición a religioso o clerical45. Por eso, cuando se incide en la laicidad del Estado parece claro que quiere remarcarse su condición de ámbito de poder ajeno a lo religioso; pero esa idea la expresa ya el 227 principio de separación. Por tanto, en el hecho de que la adjetivación “laico” tienda a imponerse hoy en las propuestas doctrinales creo que pesa considerablemente el deseo de preconizar un “separatismo hostil” — en palabras de OLLERO — entre el Estado y el fenómeno religioso, entendido como sinónimo de laicismo. Siguiendo a este mismo autor podemos entender por laicismo “el diseño del Estado como absolutamente ajeno al fenómeno religioso”, de modo que “su centro de gravedad sería más una no contaminación — marcada por atisbos de fundamentalismo, si no de abierta 39 Así lo decía en 2001 la profesora ROCA — dejando fuera la separación — en “Propuestas y consideraciones críticas acerca de los principios en el Derecho eclesiástico”, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2001, (XVII), p. 26. 40 Entre otros SUÉREZ-PERTIERRA, G., op. cit., p. 13. También BLANCO, M., Libertad religiosa, laicidad y cooperación en el Derecho eclesiástico. Perspectiva actual del Derecho pacticio español, Comares, Granada, 2008, p. 10. 41 MOLANO, E., op. cit. p. 302. 42 LLAMAZARES, D. op. cit. p. 52. 43 En la sentencia 46/2001. También MOLANO, que dice del Estado que “no es confesional, sino laico”, y CALVO (op. cit., p. 231), para quien “la aconfesionalidad de la Constitución de 1978 no es una aconfesionalidad laicista, sino simplemente laica”. Apunta, en fin, en este sentido, PARDO PRIETO, P.C., que “el término ‘laico’ ha sido comúnmente admitido por la doctrina eclesiasticista española, utilizándolo como sinónimo de Estado aconfesional”. Vid. Laicidad y acuerdos del Estado con las confesiones religiosas, Tirant lo Blanc, Valencia, 2008, p. 56. 44 CALVO-ÁLVAREZ, J., Los principios del Derecho Eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional, Navarra Gráfica, Pamplona, 1998, p. 44. 45 Según la RAE, laico tiene dos acepciones: la primera, “que no tiene órdenes clericales” y, solo en segundo lugar, y como emanación de lo anterior, “independencia de cualquier organización o confesión religiosa”. beligerancia — que la indiferencia o la auténtica neutralidad”. No es extraño (como es verá más tarde) que esta concepción degenere en “una posible discriminación por razón de religión”46. Parece claro que esta concepción no tiene cabida en nuestro texto constitucional, como paso a justificar. 6. Antes hemos dicho que los principios de separación, aconfesionalidad y neutralidad en sí no agotaban los parámetros acerca de la actitud de las instituciones públicas ante el fenómeno social religioso. Es esencial a estos efectos la frase segunda del artículo 16.3 CE, que impone al Estado, no solo “tener en cuenta” las creencias religiosas de la sociedad española, sino establecer “relaciones de cooperación” — último concepto que hemos de presentar según la rúbrica de este apartado — con las confesiones religiosas. Esto, sencillamente, veda cualquier actitud laicista, como ha resaltado hasta la saciedad buena parte de la doctrina. Si consideraríamos inconcebible que un Estado se declarase expresamente ajeno al fenómeno social artístico o deportivo arguyendo su silenciamiento constitucional, aquí la Norma suprema incorpora un mandato expreso de atención, lo que privilegia al hecho religioso con relación a los otros factores sociales. En definitiva, si una actitud estatal frentista o excluyente ante el deporte o el arte sería irracional, si aquella se dirigiera contra las manifestaciones de religiosidad de los ciudadanos incurriría en inconstitucionalidad. 7. Concluyamos este capítulo conceptual respondiendo a la pregunta que quedó antes planteada: con las premisas expuestas, sentado que en España rige el principio de separación, es aconfesional, aspira a una efectiva neutralidad, y se ha autoimpuesto la obligación de relacionarse con las confesiones, ¿es el nuestro un Estado laico? De la dicción constitucional del artículo 16.3 no faltan quienes — como SOUTO — deducen, por incompatibilidad, una rotunda respuesta negativa, y sostienen, además, que se 228 obvió conscientemente una manifestación de laicidad47. Amén de interpretaciones del texto constitucional, la clave parece situarse en fijar el significado del atributo “laico”. Y en este sentido, a la vista de la misma raíz y casi idéntica grafía entre laicidad y laicismo, que invita a la sinonimia y a la confusión — en la que cae la misma RAE —, y ante el peligro de deslizamiento de unos a otros planteamientos, se entiende que algunos autores hayan evitado atribuir a nuestro Estado la nota de laicidad o — lo que juzgo identificable — el carácter de Estado laico. Lo hicieron, por ejemplo, los disidentes de la STC 46/200148 y otros autores de renombre49. Por mi parte, asumido el principio de separación como forzosa premisa, creo que hablar de laicidad del Estado o de Estado laico constituye una tautología, porque el Estado, en su entendimiento moderno, solo puede ser laico, no religioso. Es, pues, como ha dicho ya algún autor, una nota implícita en la noción misma de Estado50. Atribuirle 46 OLLERO, A., España, ¿un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva constitucional, Civitas, Madrid, 2005, p. 17-18. 47 SOUTO PAZ, J.A., “Libertad religiosa y de creencias”, en Estado y religión en la Constitución…, cit. p. 5; del mismo autor, más extensamente, “La laicidad en la Constitución de 1978”, en Estado y religión: proceso de secularización y laicidad: Homenaje a don Fernando de los Ríos, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 2001, p. 215. 48 En estos términos se expresó JIMÉNEZ DE PARGA en el voto particular a la STC 46/2001. “El artículo 16 CE (…) no instaura un Estado laico, en el sentido francés de la expresión, propia de la III República, como una organización jurídico-política que prescinde de todo credo religioso…” 49 RODRÍGUEZ BEREIJO para quien el español “no es un Estado laico en el sentido de indiferente ante el hecho religioso”; señala como “notas características de nuestro sistema” las de “pluralismo, libertad y aconfesionalidad”, sin referir la laicidad. Vid. “La libertad religiosa en el Tribunal Constitucional español”, en La libertad religiosa y de conciencia ante la justicia constitucional, Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Comares, Granada, 1998 50 NAVARRO-VALLS, R., Tolerancia…, cit., p. 89. ese carácter, en realidad es tanto como subrayar que el Estado es cívico o servicial, adjetivos todos ellos que forman parte de su esencia. Por eso me parece justificado decir que se trata de una “noción inútil”51. En cambio, lo que sí conforma el carácter del Estado es afirmar su aconfesionalidad y neutralidad, pues tales calificativos comportan una configuración y un mandato en cuanto a su relación con el hecho religioso, que preceden a la prescripción de cooperación. No obstante lo dicho, quizá por lo consolidado del recurso al término “laicidad” — ante el que parece difícil ya situarse contra corriente, y que además admite un cabal entendimiento acorde con la Constitución—, pero queriendo contrarrestar las tentaciones de deslizamiento hacia el laicismo, en los últimos tiempos se ha propuesto una reconversión del término. Desde la doctrina y la jurisprudencia patrias, desde el proclamado como arquetípico Estado laico — Francia, que parece querer distanciarse últimamente de su “obcecado empeño laicista”52—, e incluso por parte de significados representantes religiosos, se propone una laicidad que se ha calificado como “nueva”53, “sana”54 o “positiva” 55 — adjetivación esta a la que se han adscrito, tiene interés resaltarlo, nuestro Tribunal Constitucional y el mismísimo Presidente francés56—. En este punto, el Alto Tribunal español ha ido perfeccionando y completando sus juicios, hasta considerar — él mismo — concluido un “cuerpo de doctrina” al respecto a raíz de la importante Sentencia 46/200157: manifestó en esta sentencia que la dimensión externa de la libertad religiosa “se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, (…) respecto de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva”. Lo que remata más adelante de esta manera: “el artículo 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de neutralidad, considera el componente 229 religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener «las 51 DALLA TORRE, G., “Laicità, un concetto inutile”, Persona y Derecho, nº 53, 2005, p. 139. Contundentes palabras de LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, A., “Laicidad, laicismo y libertad religiosa”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 11, 2006, p. 7. 53 NAVARRO-VALLS, R., “Tolerancia, laicidad y libertad religiosa”, en Cristianismo y democracia, IZQUIERDO, C. y SOLER, C., (edit.) Eunsa, Barañáin (Navarra), 2005, p. 89. Se trata de una laicidad nueva, ya que, dice, “habría que repensarla”. Vid. también del Cardenal Angelo SCOLA., “Una nueva laicidad. Temas para una sociedad plural”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2007. 54 En este sentido, véase, en especial, el discurso de Benedicto XVI al 56 Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos, de 9 de diciembre de 2006: “Esta afirmación conciliar (de la Constitución Gaudium et Spes) constituye la base doctrinal de la ‘sana laicidad’, la cual implica que las realidades terrenas ciertamente gozan de una autonomía efectiva de la esfera eclesiástica, pero no del orden moral (…) La ‘sana laicidad’ implica que el Estado no considere la religión como un simple sentimiento individual, que se podría confinar al ámbito privado” (disponible en www.vatican. va). Vid. también sobre esta y otras aportaciones: LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, A., “La sana laicidad en el actual discurso de la Santa Sede”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 18, 2008. 55 Entre muchas, vid. NAVARRO-VALLS, R., “Neutralidad activa y laicidad positiva”, en Laicismo y Constitución, con RUIZ MIGUEL, A., Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2008, p. 97; SEGLERS, A., “Laicidad positiva y libertad religiosa”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 10, 2006. 56 Usó esta expresión Sarkosy en un discurso pronunciado el 20 de diciembre de 2007 en la romana basílica de Letrán, donde afirmó que Francia solo puede resultar beneficiada por un reconocimiento efectivo del papel de las corrientes religiosas en la vida pública y de su colaboración para iluminar los problemas éticos. El original del discurso puede encontrarse en www.la-croix.com. 57 Así lo expresó el Tribunal en una sentencia de ese mismo año, la sentencia 128/2001, F.J. 2. 52 consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva”. Suscribiendo los últimos aportes del Tribunal Constitucional, y a la vista de mi particular recelo hacia la proclamación de laicidad del Estado, se entenderá que opte por calificar el sistema religioso-político español —y pienso que también el brasileño— como de aconfesionalidad positiva, que también se ha denominado de aconfesionalidad con cooperación con la Iglesia y las confesiones religiosas58. Su sentido se puede deducir de páginas anteriores: separadas las funciones civiles y religiosas, sin adscripción confesional alguna, y sin comprometer la asepsia o neutralidad estatal en lo religioso, el Estado ha de considerar el hecho social religioso de modo positivo, ajeno a recelos y más aun a hostigamientos, cooperando de manera adecuada para la efectividad de este elemental derecho de sus ciudadanos. Pero, ¿obedece realmente la actitud pública del momento en Europa a esta aconfesionalidad positiva? La realidad del momento en Europa El que fuera Presidente del Tribunal Constitucional español, Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO, escribía hace una década que “bajo la Constitución de 1978 hemos vivido los españoles nuestro más dilatado período histórico de libertad religiosa”, y — añadía — “lo estamos viviendo sin graves conflictos sociales”59. Creo que si este diagnóstico amenaza con ensombrecerse — no solo en España: pienso en toda Europa — ya no es solo debido a una dudosa reacción frente a la diversidad religiosa connatural al fenómeno de la inmigración, como a primera vista puede sugerirse. Puede 230 decirse que, en nuestro continente, la conflictualidad sobre el ejercicio de la libertad religiosa ha desbordado la problemática derivada de la multiculturalidad que aportan los foráneos — quizá patente particularmente por el empleo de simbologías religiosas60, a las nos referiremos también —, y se manifiesta hoy en un déficit de tolerancia frente a una parte lo que ha sido siempre componente de la identidad cultural europea: la religión. Es una suerte de involución que se opone a la libertad y pluralismo, en lo religioso, que con tantos sacrificios había conquistado Europa. Lo peculiar de la situación — y de lo que aquí nos ocuparemos — es que se observa una mutación en el comportamiento de los poderes públicos — pienso en la Administración, en particular — que parece propensa a sacrificar la libertad de los ciudadanos por estar obligada — se dice — a mantener una aséptica neutralidad en lo religioso. Vaya por delante que nuestra situación — que se ha tildado de eurosecularidad — tiene poco que ver con los niveles de fricciones que de hecho se dan en otras partes del mundo61; 58 Así lo hace CORRAL SALVADOR, C., op. cit., p. 7. Op. cit., p. 49. 60 Sobre esto dice CAÑAMARES ARRIBAS, S., al comienzo de su trabajo sobre simbología religiosa, que “en los conflictos más recientes que se han suscitado en la experiencia española en relación con el empleo de simbología religiosa ha intervenido, mayoritariamente, como factor determinante, al inmigración”. Vid. libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, p. 17. 61 Conozco dos completos informes de la situación de la libertad religiosa en el mundo, que dan cuenta de la necesidad de avanzar aún en su respeto a escala mundial. El primero, redactado en inglés, es el Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2008, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 19 de septiembre de 2008, y disponible en www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008; el segundo, en español, ha sido elaborado por una asociación con sede en España con el título Informe 2008 sobre Libertad Religiosa en el mundo, y publicado en www.libertadreligiosaenelmundo.com/ Informe-Libertad-Religiosa.pdf. 59 pero, desde luego, tampoco con lo que se observa al otro lado del Atlántico, en el occidente americano62 ni en Iberoamérica. Solo citaré algún botón de muestra al respecto. No es necesario haber visitado Brasil (y me cuento entre los que no hemos tenido aún esa suerte) para hacerse una idea de la carga simbólica que tiene para la ciudad de Río de Janeiro el enorme “Cristo Redentor” (30 metros de altura) ubicado en el monte Corcovado, concluido en 1931 según el diseño del arquitecto francés Paul M. Laudowski. Es evidente que en muchos ciudadanos la estatua inspirará profundos sentimientos religiosos y en otros no; pero quiero pensar (no es mera suposición desde la lejanía: en alguna medida ha sido contrastada con lugareños) que para pocos su mera presencia supone una agresión al pluralismo de la sociedad brasileña, como tampoco creo que el hecho de su ubicación en terreno público planté incompatibilidades con la separación del Estado con las Iglesias que hemos visto establece su Constitución. Ubicando cabalmente esta separación, los brasileños no han tenido reparo en aprobar la ley del Servicio Religioso en las Fuerzas Armadas de 1981, la Ley de enseñanza religiosa en centros públicos de 1996, la Ley de seguridad social de los ministros religiosos de 2000, la Ley penal sobre el artículo 33 del Código Penal sobre ciertos delitos de naturaleza religiosa de 1997, o para crear en el Senado una capilla ecuménica63. Pues bien, mientras esto ocurre en el querido Brasil, y mientras — aunque pueda resultar casi anecdótico — nadie pareció rasgarse las vestiduras porque durante la reciente y mediática toma de posesión del presidente Barack Obama un pastor protestante leyese una oración o porque el mismo presidente invocara a Dios en su discurso repetidas veces64, fíjense, con algunos ejemplos — relatados en la mayoría de los casos a vuela pluma—, lo que pasa en estos momentos en la vieja Europa acerca de la imbricación del hecho religioso en la sociedad europea, en particular — quizá — en la española 231 (por lo general, me limitaré ahora a exponer los hechos, remitiendo a las valoraciones jurídicas a una parte posterior del trabajo): 1. Por lo que tiene de ilustrativo, creo que merece la pena una somera alusión a la viva polémica que generó en Europa — en concreto, en el contexto de la Unión Europea—, el texto de la iba a ser la Constitución por la que esta se regiría (que, como es sabido, finalmente no entró en vigor por su rechazo en varios de los países miembros — aunque el párrafo que referiremos ha pasado al vigente Tratado de la Unión Europea, tras la redacción aprobada el Lisboa—). Para muchos — se supone que también para los redactores del Proyecto de Tratado—, la sola mención al cristianismo en el Preámbulo de la Constitución implicaría un ataque frontal contra la laicidad europea65, lo que 62 Sobre esto, así se expresaba el profesor PALOMINO en un trabajo reciente: “Los dos grandes bloques que constituyen Occidente, separados por el océano, no obedecen al mismo patrón de comportamiento. Canadá, bajo la peculiar influencia mixta inglesa y francesa, reconoce entre sus principios jurídico-políticos la multiculturalidad, lo cual significa una valoración positiva de la diversidad religiosa. Estados Unidos, por fuerza de su peculiar fisonomía constitucional, establece una separación entre las Iglesias y el Estado, pero en modo alguno la separación entre la religión y la vida pública… Todo apunta a que la secularización es un fenómeno específico europeo, la Eurosecularidad, que merece un estudio sociológico pormenorizado, y que muestra que el Viejo Continente ha pasado de ser paradigma a ser excepción”; vid. “Laicidad, laicismo, ética pública: presupuestos en la elaboración de políticas para prevenir la radicalización violenta”, en Athena Intelligence Journal, vol. 3, nº 4, 2008, p. 83 (en www.athenaintelligence.org). 63 Vid. SANTOS DÍEZ, J.L., “El acuerdo entre la Santa Sede y Brasil (13 noviembre 2008)”, Revistas General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 19, 2009, p. 4 (en www.iustel.com). 64 Es interesante el trabajo de NAVARRO-VALLS, R, “La ‘cuestión religiosa’ en las elecciones presidenciales americanas”, en El Cronista del Estado Social y democrático de Derecho, nº 3, 2009, p. 44. 65 Véanse las reflexiones sobre esta cuestión de NAVARRO-VALLS, R., en “Europa, Cristianismo y Derecho”, en Pluralismo religioso y Estado de Derecho (dir. GONZÁLEZ RIVAS, J.J.), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 399. obligó a forzadísimas elipsis en las redacciones iniciales; en concreto, una de las que finalmente se sugirió fue ésta: “Inspirándose en las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, que, alimentadas inicialmente por las civilizaciones griega y romana, marcadas por el impulso espiritual que la ha venido alentando y sigue presente en su patrimonio, y más tarde por las corrientes filosóficas de la Ilustración, han implantado en la vida de la sociedad su visión del valor primordial de la persona y de sus derechos inviolables e inalienables, así como del respeto del derecho”. Pienso que resulta superfluo cualquier comentario sobre lo curioso de la referencia a un enigmático y aséptico “impulso espiritual” (que ni siquiera figuraba en versiones anteriores66, lo que fue calificado por algunos como desconcertante67), flanqueado por las aportaciones de las culturas griega y romana y por los aportes del movimiento ilustrado68. El caso es que la solución salomónica que terminó imponiéndose en el texto definitivo fue respetar las genéricas referencias a las “herencias” que inspiraron la esencia actual de Europa, omitiendo alusiones concretas69. En fin, lo importante en la actitud europea es que el temor a una “contaminación confesional” en lo público es causa de curiosas actitudes sociales y, lo que nos corresponde ahora, de instituciones públicas. Citaré algunos ejemplos recientes: 2. La adjudicación del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Burgos —pública, y a la que me honro pertenecer— al presidente del Episcopado español, Cardenal Rouco Valera, provocó una reata de quejas, y hasta bochornosos distur232 66 En una versión anterior se decía que lo que “alimentaba” las “herencias” de Europa era, “ante todo”, “la civilización greco-romana, y también (por) la filosofía de las luces, que han anclado en la sociedad la percepción del papel central de la persona humana y del respeto del derecho”. 67 Así lo consideraba la profesora italiana FUMAGALLI CARULLI, O., sumándose a la opinión del histórico italiano G. Reale. Resultaba “desconcertante”, teniendo en cuenta que — decía — el eje espiritual es “sobre el que Europa se ha desarrollado”. Vid. “Las raíces cristianas de Europa en la Constitución Europea”, en MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (ed.), Estado y religión…, cit., p. 77. 68 Sin minimizar las otras influencias citadas, procede recordar que Europa fue llamada durante siglos “Cristiandad”. En este punto, es ilustrador el ensayo del conocido historiador español Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, Cristianismo y europeidad. Una reflexión histórica ante el tercer milenio, Eunsa, Barañáin (Navarra), 2003. Recuerda que “el término Europa, referido a un ámbito especial de cultura, se encuentra en algunos escritores de los siglos VIII y IX (…). Con él se referían a una cristiandad que había roto los límites de la latinidad, a un empeño de defensa contra el Islam, o a un proyecto político encarnado en el proyecto de Carlomagno. Pero no transcurrió mucho tiempo sin que fuera sustituido por otro, Christianitas (Cristiandad), que se presentaba bajo la doble dimensión de una comunidad formada por fieles bautizados obedientes a Roma (Universitas christiana), atenta a la búsqueda de un bien común (Republica christiana). A partir del siglo XV, por iniciativa de un Papa humanista, Eneas Silvio Picolomi, que quiso llamarse Pío II, se restaurará el viejo nombre, ya que era preciso reconocer que existían otras cristiandades fuera de Europa y algunas iban a constituirse posteriormente. No debemos, en consecuencia, olvidar que el cristianismo fue conformador de europeidad, comunicando a esta esos rasgos esenciales que la hacen superior, hasta el punto de obligar a las demás culturas a europeizarse. Una relación, ésta última, que en el siglo XX cambió por completo” (p. 49). 69 Este ha sido el tenor final que fue incorporado al Preámbulo del Tratado: “Inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho”. Este texto, tras el fracaso del Tratado que pretendía aprobar la Constitución, fue recuperado por el Tratado de Lisboa de 2007, y agregado así al Tratado de la Unión Europea. bios públicos el día de la imposición (20 de abril de 2007)70, pues no se aceptaba — por algunos responsables universitarios y alumnos — que una institución pública distinguiera a un eclesiástico. 3. Mientras multitud de ciudades, pueblos y calles de España llevan nombres de significación religiosa — en unos casos establecidos siglos ha y en otros en tiempos recientes71—, algunas de las últimas propuestas en esta línea han topado con una frontal oposición, en la medida que implicaba — se ha dicho — una ruptura del consenso o una violación de la laicidad del Estado. Por la emblemática relevancia del Congreso de los Diputados, sirva como ejemplo el rechazo final de una propuesta de colocación de una placa en el exterior del edificio recordando que en éste había nacido una religiosa, la Madre Maravillas, canonizada en 2003. 4. Precisamente este último “incidente” ha sido invocado recientemente en la exposición de motivos de una Proposición no de Ley presentada por dos diputados para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados español, en cuyo texto se insta al Gobierno a “adoptar las medidas legislativas, reglamentarias o de cualquier índole para garantizar la aconfesionalidad del Estado en todos sus ámbitos y la inexistencia de símbolos religiosos en sus edificios”72. Una curiosidad, que luego comentaré: se alega también que “puede darse la circunstancia de que un ciudadano de otra confesión religiosa (a la católica) o que no profese ninguna se encuentre con símbolos religiosos ante los que deba, por ejemplo, jurar el cargo, pudiendo producirse una situación, cuando menos, incómoda y del todo incomprensible en un Estado aconfesional como es España”; esto se dice cuando el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, que regula “la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas”, nada dice de la presencia de simbología religiosa. 5. Más allá de proscribir públicos reconocimientos de apostura religiosa, mayor 233 trascendencia tiene la actitud pública, se dice que fundada en la laicidad, de negar un deber prestacional hacia todo aquello que tenga que ver con la religión. Sirvan sobre ello algunos apuntes. Da cuenta la prensa de la negativa a ceder el uso transitorio de un local municipal por tratarse de una actividad religiosa. La aconfesionalidad de la institución universitaria pública fue la justificación argüida por la vecina Universidad de Valladolid para que su órgano de gobierno acordase en 2006 la eliminación de la asignatura de 70 Lógicamente, el otorgamiento fue justificado por los órganos competentes de la Universidad, no en la condición eclesial del distinguido, sino en sus méritos científicos. Curiosamente, quienes a las puertas del recinto universitario empleaban cacerolas y silbatos como señal de protesta daban la razón al Prelado cuando, en aquel momento, afirmaba en el Aula Magna, ya en la parte final de su discurso: “La doctrina sobre el derecho a la libertad religiosa como un derecho previo a la autoridad del Estado, derecho individual y social a la vez, aceptada poco menos que universal y pacíficamente en el periodo abierto inmediatamente después de la amarga experiencia de la conflagración bélica más trágica y destructiva de toda la historia universal, la Segunda Guerra Mundial (…), comienza sorprendentemente a ser discutida, cada vez más, hasta su cuestionamiento ideológico y político, a comienzos del siglo XXI. De hecho se observa en la actualidad un retorno del laicismo ideológico radical en lo que fueron los países libres europeos de la segunda mitad del siglo XX, no exceptuada España” (en “Discursos del Doctorado Honoris Causa de D. Antonio María Rouco Varela y D. Emiliano Aguirre Enríquez”, publicado por la Universidad de Burgos, 2007, p. 29). 71 No estoy seguro si ha sido Pamplona la primera capital de provincia española que adoptó el acuerdo de denominar a una de sus calles con el nombre de Juan Pablo II: lo hizo en el pleno municipal celebrado a los cuatro días de su fallecimiento (aunque la calle se ha inaugurado recientemente). Hoy, Madrid, Valencia, Zaragoza, Santander, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, León, Cádiz y Jaén son algunas de las capitales españolas que han adoptado esta decisión para alguna de sus calles o plazas. 72 Cfr. Diario Oficial del Congreso de los Diputados serie D, nº 19, de 5 de diciembre de 2008. “Aula de Teología” como asignatura de libre elección, decisión luego revocada73. En esta línea, se propone, por un autor ya citado, que nada tiene que ver el deber prestacional público “con la obligación del Estado para soportar los gastos ordinarios de la Conferencia Episcopal, ni para financiar la labor de proselitismo realizada en las clases de religión (…), ni con la exención de impuestos, etc.”74 6. Frente a varias resoluciones jurisdiccionales, algunas del máximo rango (en concreto del Tribunal Constitucional español, en las que se ventilaron cuestiones como la asistencia religiosa en los establecimientos militares75 o la existencia de un tipo penal de escarnio a la religión76), la judicialización de la aconfesionalidad del Estado, en concreto de la simbología religiosa en centros de enseñanza públicos, ha conocido en España, recientemente, un extraño paso en falso con la sentencia de un juzgado unipersonal (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid), de fecha 14 de noviembre de 2008, cuyo contenido y trascendencia le ha aportado una notoriedad de la que carecería por su rango (bien es cierto que en estos momentos se dilucida la apelación ejercida por la Administración regional competente). Baste ahora decir que esta resolución revoca el acuerdo del Consejo Escolar de un colegio público77 de no retirar los símbolos religiosas de las aulas y espacios comunes del centro, tal como había solicitado la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. Básicamente, tres son los argumentos que el juez emplea para ello: la vulneración de los artículos 14 (igualdad) y 16.1 y 3 CE (libertad religiosa, ideológica y de culto, y aconfesionalidad del Estado, respectivamente); el efecto que sobre menores en período educativo puede producir la presencia de símbolos religiosos en lugar público; y el hecho de que la decisión se haya adoptado — dice — sin aportar ninguna motivación. No será el único caso en que el recurso a la laicidad de los espacios públicos sirve 234 para imponerse a las pretensiones de la mayoría. En diciembre de 2008 dieron cuenta los medios de comunicación de cómo “funcionarios que trabajan en la sede central del 73 El raquítica mayoría del acuerdo del Consejo de Gobierno (11 votos a favor, 6 en contra y 26 abstenciones), el hecho de que esa asignatura hubiera contado en el curso anterior con 550 matriculados y la presión social que este hecho originó, ha provocado la revisión del acuerdo y la restitución de estos estudios. 74 MARTÍNEZ DE PISÓN, J., “Poderes públicos y religión…”, cit. p. 95. 75 Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo de 1982: “El hecho de que el Estado preste asistencia religiosa católica a los individuos de las Fuerzas Armadas no solo no determina lesión constitucional, sino que ofrece, por el contrario, la posibilidad de hacer efectivo el derecho al culto de los individuos y de las comunidades. No padece el derecho a la libertad religiosa o de culto, toda vez que los ciudadanos miembros de las susodichas fuerzas son libres para aceptar o rechazar prestación que se les ofrece”. 76 Sobre el artículo 209 del Código penal, según redacción que le había dado la Ley Orgánica 8/1983, el Auto del Tribunal Constitucional 180/1986, de 21 de febrero de 1986, por el que se declaró la inadmisión de un recurso de amparo, dictaminó que “el carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias y sentimientos religiosos de la sociedad española no puedan ser objeto de protección (…), la pretensión individual o general de respeto a las convicciones religiosas pertenece a las bases de la convivencia democrática”. En el Código Penal vigente sigue sancionando estos comportamientos en su artículo 525, dentro de una sección dedicada a los “delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”. 77 El Consejo Escolar es un órgano de carácter democrático, calificado en la Ley educativa (actualmente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) como “órgano de control y de gobierno de los centros”, compuesto por profesores, padres, alumnos, personal de administración y servicios y un representante de la Administración municipal, y al que le compete aprobar “las normas de organización y funcionamiento” del centro. Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) en Madrid, están sorprendidos, cuando no molestos, por la decisión del número 2 de la Fiscalía de retirar un pequeño Belén que se había instalado en el vestíbulo principal”. 7. Un detenimiento especial merece el uso de signos religiosos en el atuendo personal portado en los centros educativos públicos, cuya importancia, advierte MARTÍNRETORTILLO, sobrepasa lo meramente simbólico78. Frente a lo que constituye una expresión de la libertad de manifestar la propia religión se han alzado, en mi continente, en los últimos años, preocupantes decisiones legislativas y fallos judiciales. En el plano legislativo, en España, ni a nivel estatal ni de las Comunidades Autónomas se ha dictado sobre el particular norma alguna. El caso de Francia es particularmente conocido y a la vez trascendente, a la vista de su historia legislativa79, de su tenor constitucional80 y de su praxis reciente — en este punto, especialmente, en relación a la evolución del régimen a que ha sometido a los símbolos religiosos en la escuela pública, que paso a resumir81—. A raíz de la polémica suscitada por la expulsión de tres niñas de un colegio francés, a comienzo del curso escolar de 1989, por vulnerar las normas internas del centro sobre prohibición del uso del pañuelo, se elevó consulta al Consejo de Estado, que evacuó Dictamen de su Asamblea General el 27 de noviembre de 198982. El núcleo del avis, de apenas seis folios, es la siguiente doctrina: “en los establecimientos escolares, el porte por los alumnos de signos por los cuales ellos entiendan manifestar su pertenencia a una religión no es por sí misma incompatible con el principio de laicidad, en la medida en que constituye el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación de creencias religiosas”. A este dictamen seguirán dos circulares ministeriales de aplicación, que omito detallar. Pero el creciente debate social y las dudas jurídicas —en particular, la falta de cober- 235 tura legal de las normas aludidas— fueron la causa de erección de una Misión Informativa parlamentaria, encabezada por el Presidente de la Asamblea, Jean-Louis Debré, y de una comisión especial, la Comission de réflexion sur l’aplication du principe de laïcité dans la République —que se denominó “Comisión Stasi”, pues su presidente fue el Mediador de la República Bernard Stasi—83. De esta emanó un Rapport remitido al Presidente de la República el 11 de diciembre de 2003, que concluía en este punto sugiriendo que “en el respeto a la libertad de conciencia y al carácter propio de los centros privados concertados”, se prohibiese en las escuelas, colegios y liceos “cualquier tipo de indumentaria o signo 78 Vid. “La afirmación de la libertad religiosa…”, cit., p. 59. El 9 de diciembre de 1905 se aprueba la Ley sobre la separación de las iglesias y el Estado, en la que, a la par que garantizaba el libre ejercicio de los cultos, establecía que el Estado no reconocía, ni pagaba, ni subvencionaba ningún culto (artículo 2); además, prohibió la exhibición de insignias religiosas en los edificios públicos. 80 El artículo 1º de la Constitución de 4 de octubre de 1958 proclama que “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social”. 81 Amén de otras referencias que se harán, para mayor detalle puede consultarse el trabajo citado de CAÑAMARES ARRIBAS, S., pp. 72 ss., LASAGABASTER HERRARTE, I., “Jurisprudencia europea sobre la prohibición del velo islámico”, en la obra por él dirigida Multiculturalidad y laicidad. A propósito del Informe Stasi, Lete, Bilbao, 2004, pp. 91 ss. y VALERO HEREDIA, A., “Apuntes críticos en torno a la Ley francesa sobre símbolos religiosos en la escuela pública”, Boletín de información del Ministerio de Justicia, nº 1988, 2005, pp. 5 ss. 82 El texto del Dictamen puede encontrarse en la web del Conseil d’Etat (www.conseil-etat.fr). Puede también consultarse el comentario del profesor Jean RIVERO “Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse”, Revue Française de Droit Administratif, 1990, VI-1. 83 Puede consultarse una traducción en el anexo del libro citado dirigido por LASAGABASTER. El original, entre otros sitios, en http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf. 79 que manifieste afiliación religiosa o política”. Concreta seguidamente a qué simbología se refiere: “La indumentaria y los signos religiosos prohibidos son los signos ostensibles tales como una cruz grande, velo o kippa. No se consideran como signos que manifiesten una pertenencia religiosa los signos discretos, como por ejemplo medallas, crucecitas, estrellas de David, manos de Fátima o pequeños Coranes”84. Estas recomendaciones inspiraron el texto de la Ley nº 2004-228, de 15 de marzo de 200485, en cuya virtud se inserta en el Código de Educación un nuevo artículo 141-5-1 con este tenor: “En las escuelas, los colegios y los liceos públicos, el porte de signos o prendas por los cuales los alumnos manifiesten ostensiblemente una afiliación religiosa están prohibidos. El reglamento interior recuerda que la aplicación de un procedimiento disciplinario será precedido de un diálogo con el alumno”. Esta norma se complementa con la circular de 18 de mayo de 200486, que concreta la aplicación de la ley Sin perjuicio de valoraciones posteriores, me permitiré adelantar ahora algunas ligadas específicamente a la letra de la norma francesa vigente. Y es que llaman la atención varios de sus extremos, algunos opuestos a sus antecedentes. 1) En cuanto al carácter de los símbolos, asumiendo la propuesta de la Comisión Stasi, la ley sustituye el término ostentoire por el de ostensible, lo que no parece resultar baladí, más si se tiene en cuenta que la circular prescinde de esta condición, sustituyéndola por el reconocimiento inmediato de afiliación religiosa del portador. 2) Con el régimen actual se otorga a los “símbolos ostensibles”, sin más, efectos nocivos, sin investigar su carácter de provocador, proselitista, indigno, insalubre o turbador, como había exigido el Consejo de Estado para limitar su uso; con ello se abandono el principio favor libertatis que éste 236 había sostenido87. 3) Una prohibición general como la establecida prescinde de valorar algo clásico del Derecho francés de policía administrativa, las circunstancias locales, invocadas en la circular Jospin; de modo que se puede dar el caso de una aula o un colegio público con 100% de alumnos musulmanes en el que se les impida portar el velo; a lo que se contestará que la título argüido es la laicidad de lo público…; 4) Pues bien, pienso que tolerando los símbolos religiosos discretos se traiciona tal justificación en la laicidad — alegada en la norma desde su mismo título —, derivándola hacia una simple ratio de orden público (que por otra parte es la que, en realidad, justifica la limitación de las manifestaciones de la libertad religiosa). 5) La ratio alegada quizá sirvió para prescindir en una “ley sobre laicidad escolar” de las propuestas de la Comisión sobre la prohibición de símbolos políticos, pero, si no se quieren escuchar alegatos de discriminación, parece difícilmente asumible que no se aprovechase el viaje — o se emprendiese otro a la par — para reprimir signos o comportamientos de imposición política, deportiva, de orientación sexual… 8. Si el juicio que me merece la legislación francesa no es positivo, sinceramente me parece más preocupante la línea adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Hu84 En este punto el dictamen de la Comisión se aprobó por unanimidad de los miembros salvo una abstención. En semejantes términos, pero sin dar cabida a signos discretos, se pronunció la Misión Informativa, que sugirió adicionar al Código de Educación el siguiente párrafo: “El porte visible de todo signo de pertenencia religioso o política está prohibido en la totalidad de los establecimientos públicos de enseñanza”. 85 Que, reza su título, “enmarca, en aplicación del principio de laicidad, el porte de signos o de prendas que manifiesten una pertenencia religiosa en las escuelas, colegios y liceos públicos”. Vid. Journal Officiel de la République de 17 de marzo de 2004. 86 Publicada en el Journal Officiel de 22 de mayo de 2004. 87 VALERO HEREDIA, A., op. cit. p. manos, pues es notable la trascendencia de su jurisprudencia en la configuración de la conciencia europea. Me centraré únicamente en el conflicto sobre el uso del velo islámico en la universidad turca, resuelto por la sentencia Leyla Sahín contra Turquía, dictada por la Gran Sala del Tribunal el 10 de noviembre de 200588. Merece mencionarse —y ser evocados sus argumentos — el voto discordante de la Juez belga TULKENS. Y es que el asunto resulta tan complejo como importante: lo primero explica las distintas valoraciones de la sentencia que ha vertido la doctrina, elogiosas y complacientes unas89, críticas otras90; lo segundo justifica que RELAÑO y GARAY le auguraran un “gran impacto”, no solo en los países europeos que afrontan una posible prohibición del velo, sino también a nivel internacional91. Los hechos, obviando antecedentes normativos y judiciales, son los siguientes: Leyla Sahín, musulmana practicante, portaba velo en la Universidad de Estambul, en la que cursaba quinto curso de Medicina. El 23 de febrero de 1998 el Vicerrector de la Universidad publicó una circular prohibiendo el velo en las mujeres y la barba en los varones, con lo que a Leyla le fue negado el acceso al recinto universitario, también a exámenes. Agotados los recursos internos, acudió al TEDH invocando el artículo 9 del Convenio Europeo. Este, además de garantizar la libertad de pensamiento, conciencia y religión en su nº 1º, en su nº 2º acota la posible limitación de la libertad de manifestar la religión, de modo que “no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”. Conforme a esto, cuando el TEDH se enfrenta a estas restricciones de derechos siempre lo hace valorando, además de la existencia de la injerencia, si esta 237 cuenta con cobertura legal, si su fin es legítimo y, finalmente, si es necesaria en una sociedad democrática — que es lo que aquí plantea más dudas—. Al valorar la medida enjuiciada el Tribunal se detiene ante la “importancia especial” que se concede “al papel de quien decide a nivel nacional”, pues se encuentra en principio en mejor posición que el juez internacional para pronunciarse sobre las necesidades y contextos locales, máxime — aclara la Gran Sala — a la vista de que “no es posible discernir a través de Europa una concepción uniforme de la significación de la religión en la sociedad” (lo que, de entrada, se compagina mal con la proclamación — que aquí vuelve a reiterar — de que la dimensión religiosa figura “entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su 88 Adviértase que el asunto fue conocido inicialmente por la Sala 4ª del TEDH, que lo resolvió por sentencia de 29 de junio de 2004. Al ser recurrida ante la Gran Sala del Tribunal, éste dictó sentencia firme y definitiva el 10 de noviembre de 2005, confirmando la anterior, reiterando, en general, los argumentos de la Sala, enriqueciendo algunos, y aportando mayor información (en particular sobre el derecho comparado). 89 Así, MARTÍN-RETORTILLO, L., La afirmación de la libertad religiosa…, cit. p. 69 ss., o GUILLÉN LÓPEZ, E., op. cit. 90 Me parece estimable el trabajo de RELAÑO PASTOR, E., y GARAY, A. —cuyas tesis comparto sustancialmente—, “Leyla Sahín contra Turquía y el velo islámico: la apuesta equivocada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia del TEDH de 10 de noviembre de 2005, Revista Europea de Derechos Fundamentales, 2005, nº 6, p. 213. Consideraciones críticas hace también CAYO SÁNCHEZ, Y., “La prohibición del velo islámico y los derechos garantizados en el CEDH afectados por la prohibición. Comentario a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de noviembre de 2005, Revista General de Derecho Europeo, n º 9, 2006 (en www.iustel.com). 91 Ibíd., p. 214. concepción de la vida”—)92. Es evidente que este margen de apreciación nacional no excusa de una tarea de control por parte del Tribunal; pero este se limitó a constatar que las invocaciones de las autoridades y jurisdicciones turcas de los principios de laicidad e igualdad se acomodan a las exigencias del Convenio Europeo. Y fue el resultado de su valoración, expresada en el apartado 116: “es el principio de laicidad, tal como la interpreta el Tribunal Constitucional (turco) la consideración primordial que ha motivado la prohibición del uso de distintivos religiosos en las Universidades. En tal contexto, en el que se enseñan y se aplican en la práctica los valores del pluralismo, del respeto a los derechos de los demás y, en particular, la igualdad de los hombres y de las mujeres ante la ley, se puede comprender que las autoridades competentes hayan querido preservar el carácter laico de su establecimiento y así considerado como contrario a sus valores aceptar el uso de prendas religiosas, incluido, como en este caso, el foulard islámico”. En el párrafo anterior el TEDH se había avenido a la tesis del Tribunal turco de que “el sistema constitucional turco pone el acento en la protección de las mujeres”. En este sentido, sigue diciendo, “la igualdad de sexos, reconocida por el Tribunal europeo como uno de los principios esenciales subyacentes en el Convenio y un objetivo de los Estados miembros del Consejo de Europeo (…), ha sido igualmente considerada por el Tribunal Constitucional turco como un principio implícitamente contenido en los valores que inspiran la Constitución”. Se añade que la prohibición del pañuelo constituye “una necesidad social imperiosa” por razón del “alcance político” que ha adquirido en los últimos años: en realidad, da la impresión que este es el nudo gordiano de la cuestión más que la proclamada laicidad; y la consecuencia, un dudosísimo sacrificio de 238 autonomía personal religiosa… por móviles políticos93. 9. Los términos del Informe Stasi me servirán para centrar el último ejemplo de chocantes actitudes europeas ante lo religioso en el ámbito público. En su apartado 1.2.1 se afirma lo siguiente: “la laicidad distingue la libre expresión espiritual o religiosa en el espacio público, legítima y esencial en el debate democrático, de la influencia sobre el propio debate, que es ilegítima. Los representantes de las diferentes tendencias espirituales están autorizados a intervenir en calidad de tales en el debate público, como todo componente de la sociedad”. Descartado un defecto de traducción, he hecho auténticos esfuerzos por salvar la coherencia de tales frases, pero he de reconocer que he fracasado en mi intento. Salvo que — da la impresión que es el sentir de los redactores — se pretenda sostener que quienes ejerzan en sociedad una “libre expresión espiritual o religiosa” hayan de hacerlo de tal manera que no influyan en el debate público; aunque no sé muy bien cómo lo lograrán, salvo que — como suele decirse — “prediquen en el desierto”. En fin, me quedo con el mensaje de la segunda de las frases, en el sentido de que el “factor social religioso” — es decir, el hecho de que una parte de la ciudadanía enarbole propuestas de inspiración religiosa, ya se trate de representantes de las confesiones o de simples fieles creyentes — puede intervenir en el debate social, en todas sus manifestaciones, sin por ello invadir la lógica y legítima separación entre los órdenes político y religioso. Si la actuación en esta línea de los meros fieles no presenta duda alguna, procede resaltar que los representantes de las distintas iglesias no “hacen 92 93 Vid. apartados 109 y 104. El refrendo del TEDH de la política turca de proscripción del velo no ha detenido el debate jurídico, social y sobre todo político al respecto. La iniciativa del gobierno de levantar la prohibición fue aprobada por el Parlamento en sesión especial (noticia de 10 de febrero de 2008), pero el Tribunal Constitucional anuló la enmienda por considerarla “contraria al principio constitucional de laicidad” (la noticia de prensa, de 5 de junio de 2008, traduce “laicidad” por “laicismo”). política” cuando vierten en el debate público o político valoraciones de estricta matriz religiosa94. Recientemente, pareció olvidar el Parlamento belga la legítima facultad de “lo religioso” de participar en “lo social” cuando aprobó una resolución en la que pedía al gobierno de su país que condenase “las declaraciones inaceptables del Papa con motivo de su viaje a África”, y que elevase “una protesta oficial ante la Sante Sede” (en marzo de 2009, en el curso de una entrevista realizada durante un viaje a África, Benedicto XVI se había referido a una cuestión de relevancia moral). Este hecho motivó una comunicado oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano manifestando su disgusto por este “paso extraño en las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el reino de Bélgica”. Animado por el ejemplo belga, un mes y medio después de las referidas declaraciones papales, la Mesa del Congreso español admitió a trámite una iniciativa en el mismo sentido, que fue finalmente rechazada por una comisión parlamentaria. El Parlamento Europeo también rechazó la misma propuesta de censura. Permanece la duda si estos Parlamentos piensan someter a reprobación cualquier manifestación pública disidente — tarea compleja — o únicamente las provenientes de líderes religiosos. Criterios para el discernimiento de una cabal separación entre lo estatal y lo religioso 1. La legítima autonomía personal y la tradición histórica Como no puede ser de otra manera, el primer criterio para que un ciudadano defina las manifestaciones externas de su religiosidad — o su ausencia — es 239 su autonomía personal, que ha permanecer — quizá en este caso como en ninguno — “inmune a toda coacción”, provenga esta de los poderes públicos” (como resalta la STC 46/2001), o, lógicamente, de quienes carecen de ese carácter. Lo que depende de uno, es él quien lo decide; y este es el caso de la exteriorización de las propias creencias. Este elemental principio, del que la previsión constitucional de que “nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” no es sino una concreción95, y del que se deriva, por ejemplo, que las clases de religión en centros públicos sean de seguimiento libre96 o que voluntaria sea también la participación en ceremonias religiosas97, sirve para resolver alguno de los conflictos planteados más atrás, como el del juramento con fórmulas o ante signos de carácter religioso. Ya hemos dicho que, en España, la norma reguladora de juramentos públicos (Real Decreto 707/1979) nada dice de la presencia de simbología religiosa en estos actos. Tradiciones históricas o simplemente usos más o menos consolidados pueden ser causa de determinados modos de proceder en este punto. Así, mientras los ministros del gobierno español, hasta la fecha, juran o prometen su cargo delante de un 94 Vid. al respecto MIRAS, J., “¿Intromisión religiosa en el ámbito político? Notas sobre el derecho de la Iglesia a pronunciarse acerca de cuestiones que afectan a la vida pública”, en Cristianismo y democracia, cit., p. 97. 95 Vid. ROCA, M.J., La declaración de la propia religión o creencias en el Derecho español, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago, 1992. 96 Como determinó el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la 5/1981, de 13 de febrero: “Esta neutralidad, que no impide la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…” 97 Según afirmó el mismo Tribunal en una sentencia ya citada, la 177/1996. crucifijo, quien esto suscribe tomó posesión como funcionario público con el único testigo estático de unas banderas y un ejemplar de la Constitución, pues esa es la práctica en mi Universidad. En fecha reciente (mayo de 2009) tomaba posesión de su cargo el Presidente de una Comunidad Autónoma. Y lo hacía — en su legítima autonomía personal — ante un texto constitucional y otro del Estatuto de Autonomía, en vez de una Biblia y un crucifijo, como venía haciéndose en esa Comunidad Autónoma desde hacía 70 años; decidió alterar también la formula tradicional de juramento, que comenzaba con una referencia a Dios. El medio de comunicación del que tomo la noticia afirmaba que tal comportamiento era manifestación de la laicidad a la que había adscrito el político en cuestión en numerosas ocasiones. Pero este y el resto de los casos citados de lo que sin duda son manifestación es de una opción, personal en un caso, histórica en los otros. Bien entendido que esta última nunca podrá imponerse al posesionante en lo que pueda implicar manifestación exterior de religiosidad. Lo importante es sentar que tan legítima es una opción — la religiosa — como la otra — la arreligiosa—; ninguna de las dos comprometen la aconfesionalidad del Estado, pues no este el que se posesiona sino un ciudadano, de modo que el poder público en cuestión solo se erigiría ilegítimamente en “juez religioso” en el caso de que impusiera o impidiera al ciudadano comportamientos de este carácter. Procede una referencia, en este punto, a la jurisprudencia del TEDH. En su sentencia Buscarini y otros contra San Marino, de 18 de febrero de 1999, dio la razón a los recurrentes — tres diputados electos al Parlamento de la República de San Marino —, a los que se les exigía un juramento sobre los Evangelios para adquirir la condición de diputados, en la medida en que al subordinar a la profe240 sión pública de una religión determinada el ejercicio del derecho político que les asistía se estaba vulnerando el artículo 9 del Convenio europeo. Desatendiendo la alegación del Gobierno de este pequeño Estado de que la fórmula del juramento en cuestión “no tiene un valor religioso”, sino que “tendría, más bien, una connotación histórica y social y se basaría en la tradición”, el Tribunal dictaminó que la restricción a la libertad de religión de los afectados “no podía pasar como necesaria en una sociedad democrática”. En definitiva, la Sala no censura la norma interna, que venía aplicándose desde 1909, solo desaprueba que se imponga a los ciudadanos como obligatoria. Aconfesionalidad democrática En cuanto que el ciudadano vive y se desenvuelve en una sociedad democrática, la legítima autonomía personal, a lo nos acabamos de referir, en muchas ocasiones — en general, fuera de la propia esfera privada—, no constituye la última palabra, sino una más. Aunque tampoco el juicio de la mayoría resulte — como se verá — necesariamente definitivo, de entrada es determinante en democracia. Por tanto, el ciudadano, en sociedad, debe plegarse — ordinariamente — al criterio mayoritario: en la elección de los gobernantes, en el contenido de las leyes, en el ambiente social (silencioso o ruidoso, secularizado o religioso…). La aconfesionalidad y neutralidad del Estado, que operan — se ha visto — como garantía de la libertad individual, no pueden convertirse en cauce de tiranía antidemocrática. Sobre todo porque quien aparece revestido de tales notas es el Estado, no los ciudadanos, y a estos no pueden serles impuestas, tampoco cuando traspasan el umbral de la privacidad. Leo en la prensa lo que un político español calificaba — con acierto — como una “consideración irrefutable”; a saber: que “las leyes garantizan que nadie puede imponer a los demás sus creencias religiosas”, lo que, forzando su sentido, se ha alzado en máxima laicista98. El mensaje es inicialmente irreprochable; pero… amén de que manifestar en público no implica necesariamente imposición, lo inicuo es el uso que de tal máxima se hace, que se erige en patente de corso para forzar a una inhibición de un derecho fundamental, como es la libertad religiosa. Para — como reclaman — evitar imposiciones (incluso a minorías), se impone (muchas veces a mayorías) que no muestren en público, de ninguna manera, sus creencias, lo que no resulta en modo alguno democrático. Cierto: el Estado es ideológicamente neutro; pero quien no lo es — ni puede pretenderse que lo sea — es la realidad social y pública. Es más, el Estado es neutro precisamente cuando no pretende manipular ni reprimir esa realidad — más allá, insisto, de las necesarias restricciones por razón del respeto y dignidad del otro—; es decir, no tiene ningún sentido que pretenda promoverse desde el poder público un espacio ideológicamente nihilista: más que proteger a las personas, implicaría vaciamiento de libertades ciudadanas. Por tanto, si el Estado es aconfesional y democrático, la aconfesionalidad habrá de ser también democrática. Veamos sus manifestaciones. a. Laicidad del Estado, la democracia y la letra de las Constituciones He sostenido que el Estado, por esencia, es laico, arreligioso en sí mismo. Y las 241 leyes que de él emanen, como expresión de la voluntad popular, también. Cuando estas regulan determinados aspectos de la vida social — como el hecho religioso, en cuanto social — no comprometen la separación de órdenes civil y religioso. Si no se comprendiese esto, hasta la misma consagración constitucional de la libertad religiosa sería invasiva de esa independencia. De tal manera que, cuando la Ley Fundamental de Bonn de 1949 comienza su Preámbulo afirmando: “Consciente de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres…”, o la Constitución brasileña de 1988 termina el suyo de esta otra manera: “…promulgamos bajo la protección de Dios, la siguiente Constitución”, no violentan la distinción de funciones; no se convierten en “Constituciones religiosas” ni hacen devotos a los Estados que regulan. Lo único que revelan estos textos es que quienes los votaron — los representantes parlamentarios del pueblo alemán y brasileño — secundaron estas invocaciones, interpretando el sentir de aquellos a quienes representaban. Nada más y nada menos. Es el juego democrático, de cuya esencia forma parte el acatamiento de leyes o decisiones públicas contrarias a nuestra opinión, pero que aceptamos por mor de la pacífica convivencia y del respeto a la opinión de la mayoría. Así pues, se entenderá que los recelos a referir la contribución del cristianismo en un texto constitucional europeo carecen, a mi juicio, de todo fundamento. b. Aconfesionalidad, democracia, minorías y simbología religiosa en lo público Para sacar nuestras conclusiones sobre cómo la aconfesionalidad democrática, con 98 Uno de sus ideólogos, el filósofo Fernando SAVATER, así lo expresaba: “en la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie”. Vid. “Laicismo: cinco tesis”, diario El País, 3 de abril de 2004. el juego de mayorías/minorías, opera en relación al uso de simbologías religiosas en ámbitos públicos, me apoyaré en dos causas judiciales — una de ellas ya citada —, y volveré sobre algunos ejemplos aludidos más atrás. — El Escudo de una Universidad pública. En mayo de 1985 el Claustro de la Universidad de Valencia aprobó unos nuevos Estatutos, en los que decidía suprimir de su Escudo una referencia a la “Virgen de la Sapiencia” — cuya inclusión databa de 1771—, aunque optaba por mantenerla en la Medalla de la Universidad. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que resolvió por sentencia de 12 de junio de 1990. A juicio de la Sala, el órgano universitario había fundamentado la supresión, “solamente”, en la aconfesionalidad religiosa del Estado y en la voluntad del Claustro, manifestada democráticamente, pero sin que conste en el expediente — alegó — “fundamento objetivo, razonamiento ni demostración alguna, que jurídicamente justifique que la supresión (…) haya de ser procedente” y sin aportar una “causa” legitimadora en función de un interés público (F.J. 5º). Como no podía ser de otra manera, el fallo de la Alta Jurisdicción fue anulado por el Tribunal Constitucional, en sentencia 130/1991, de 6 de junio, en base a elementales argumentos: en este caso “no hay que buscar ‘causa jurídica’ o ‘interés público’ justificativos de la voluntad claustral más allá de ella misma”. En la medida en que esta voluntad no contradice “valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados, ni vulnera precepto legal alguno configurador de la autonomía universitaria”, la legitimidad del acuerdo está en la “plena libertad electiva del Claustro para adoptar, entre todas las posibles, la opción mayoritariamente considerada como conveniente”; otras opciones —como los símbolos “propuestos por la minoría disconforme”—, “seguramente serían igual de lícitos y respetables, solo que no han sido los mayoritariamente votados” (F.J. 5º). Siendo el asunto diáfano, me interesa resaltar y clarificar su mensaje. Tiene interés 242 señalar que los jueces constitucionales aluden en un determinado momento al “respeto a la tradición y a la historia” como elemento valorativo a considerar, pero — advierten — sin que se erija en “el único criterio que válidamente pudieran tener en cuenta los claustrales”, como si fuese capaz de hurtar la voluntad democrática del conjunto. Queda patente que para ellos la opción histórica — en este caso de índole religioso — era tan legítima como su contraria, pero sin que pueda — insisto — imponerse a la capacidad democrática del órgano competente. Parece una elemental consecuencia del juego democrático. Me interesa concluir que la “opción religiosa”, histórica o no, si obtiene el refrendo democrático, es tan legítima como la arreligiosa o de cualquier otro carácter. Mi novel Universidad de Burgos (creada en 1994) adoptó en los Estatutos de 1998 un Escudo adornado por una cruz flanqueada por dos conchas del Camino de Santiago, dos signos religiosos: fue la decisión democrática, que a unos habrá gustado y a otros no. Por eso no estoy de acuerdo con MARTÍNEZ-TORRÓN cuando — valorando el affaire de Valencia que nos ha ocupado — vincula la legitimidad de la opción religiosa a su justificación histórica, de modo que “cuando esa justificación histórica no existe, el empleo de signos religiosos en instituciones públicas no parece fácilmente compatible con la Constitución, pues transmite públicamente un mensaje de contenido religioso”. “Lo cual — sigue diciendo — significaría que un Estado neutral estaría protagonizando la creación ex novo de una tradición de naturaleza religiosa, con la consiguiente ‘confusión entre funciones religiosas y funciones estatales’”99. A lo que procede contestar con estas interpelaciones: ¿No se está escatimando la legitimación democrática, que hemos visto ha de imponerse a la histórica?; ¿por qué el hecho de asumir un símbolo religioso en una institución pública es realizar una “función 99 MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Una metamorfosis incompleta. La evolución del Derecho español hacia la libertad de conciencia en la jurisprudencia constitucional”, Persona y Derecho, nº 45, 2001, p. 210. religiosa”?: sencillamente una Administración está aprobando un escudo, dando nombre a una calle…, clásicas funciones estatales; ¿no estaremos olvidando que lo religioso es un factor social más?; ¿no es la propuesta de exigir legitimación histórica una discriminación de este factor social religioso frente a otros?; ¿o es que habrá que acudir a la innecesaria y forzada argumentación “histórica” de que tal institución o ciudad ha sido históricamente católica para justificar que bauticen a una de sus salas o calles con el nombre, poco histórico — sea excusada la reiteración —, de “Juan Pablo II”? — Los símbolos religiosos en los colegios públicos. La sentencia de la Universidad de Valencia es importante para acometer otro conflicto judicial, este ya citado: el que dio lugar a la sentencia del Juzgado de lo contencioso de Valladolid de 14 de noviembre de 2008, y en la que se anuló la decisión del Consejo Escolar de un colegio público de Valladolid de mantener los crucifijos en sus aulas y zonas comunes. De los tres argumentos que el juez emplea ahora solo me ocuparé de uno, el que entronca con el principio democrático. Alega en el F.J. 4º que en la decisión impugnada “no se recoge ninguna motivación tenida en cuenta” por el órgano escolar, reproche que reproduce el que había hecho suyo el Tribunal Supremo en el caso del escudo valenciano — aunque habiéndose empleado para justificar soluciones contrarias —, y que con tanta facilidad y sentido común — y democrático — desvirtuó el Tribunal Constitucional en la sentencia 130/1991. El resultado final que el juez dictamina es que una mayoría había de plegarse a la opción de una minoría, de modo que los sentimientos de estos resultan priorizados sobre los de aquellos. ¿No resulta más lógico y acorde con el principio democrático que la minoría aprenda a convivir con las opciones — legítimas, que no implica que valga todo — de la mayoría? Como no todo vale, conviene acometer los límites de la libertad religiosa en una sociedad democrática, lo que requiere acotar antes la esencia de este sistema político. 243 c. La esencia de la democracia El carácter de derecho fundamental de la libertad religiosa y la aplicación del principio democrático no implican que cualquier manifestación de tal derecho o cualquier opción de la mayoría sea legítima. Ni este derecho es absoluto ni la democracia lo puede todo. Pero vayamos por partes: veamos primero la esencia de la democracia, y después los límites de este derecho. Aunque no comparta la decisión final del TEDH en la sentencia Leyla, esto no es obstáculo para reconocer en su texto muy positivos razonamientos. Me permito destacar — y glosar — uno de ellos: “Pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura caracterizan a una ‘sociedad democrática’. Y si bien es cierto que a veces hay que subordinar los intereses de los individuos a los de un grupo, la democracia no se identifica con la supremacía permanente de la opinión de la mayoría sino que exige un equilibrio que asegure un trato justo a los miembros de la minoría, evitando cualquier abuso de la posición dominante” (apartado 108). Muy interesante y meritorio acotamiento de la democracia (que quizá convenga recordar a muchos gobernantes que creen que el respaldo de las urnas otorga legitimidad a cualquier decisión formal o procedimentalmente democrática). Pero creo que el Tribunal europeo peca aquí de miopía: la opinión de la mayoría, esencial en la democracia, no solo debe pretender un trato justo a los miembros de una minoría, sino que topa como límite infranqueable con los derechos de la persona, de toda persona, de una sola persona. Si la democracia, como bien dice el Tribunal, “no se identifica con la supremacía permanente de la democracia” es porque esta no constituye su verdadera esencia, sino que tal papel le corresponde, precisamente, a los derechos de las personas — y de los grupos —100. Por tanto, cuando la opinión de la mayoría pretende privar a una persona — insisto, solamente a una— de un verdadero derecho se está extralimitando y pervirtiendo. Lo que será más grave — ya se adelantó — cuando más esencial resulte ese derecho; y ya sabemos que la libertad religiosa ocupa un lugar de privilegio. Fundamentalmente por eso juzgo inaceptables las propuestas francesa o turca sobre simbología religiosa, de prohibiciones más o menos absolutas. Por eso, también, en supuestos más extremos y patológicos, aunque la totalidad de una determinada sociedad — y hasta sus mismas leyes — toleren únicamente el ejercicio público de una determinado credo (no es un supuesto de laboratorio), es claro que tal postura, aunque formalmente democrática, repugna a tal sistema. Y esto aunque — reitero lo expuesto — fuera una sola persona la que pretendiese ejercer su inviolable derecho. Los límites a la libertad religiosa: el orden público y la aconfesionalidad como límites a) El orden público: los derechos de los demás Más atrás decía que el ejercicio del derecho de libertad religiosa no es ilimitado101. Lo difícil es acotar cabalmente el derecho y, en especial, su límite. Así lo hicieron nuestros constituyentes: “sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Como si aquellos se hubiesen quedado cortos, es frecuente la propuesta de ampliar el efecto limitador a “los derechos de los demás”; así lo han hecho distintas jurisprudencias102, muchos autores que de esto 103 104 aquí 244 se han ocupado y hasta la letra de nuestra legislación . Sin embargo, pretendo105 defender la bondad del tenor constitucional. Tal como he expuesto en otro lugar , el orden público es hoy un concepto ligado sobremanera a los derechos fundamentales, hasta el punto de que su verdadero núcleo lo constituye la dignidad de la persona y los derechos que de esta emanan. Por tanto, no creo que la exclusión en la Constitución 100 En este campo el TEDH no da el paso que sí da, por ejemplo, Joseph RATZINGER. en el interesante ensayo “El significado de los valores morales y religiosos en la sociedad pluralista”, en una colección de tres ensayos bajo el título Verdad, valores, poder. Piedras de toque de la sociedad pluralista, Rialp, Madrid, 2000, p. 84. Dice ahí: “¿No se ha construido la democracia en última instancia para garantizar los derechos humanos, que son inviolables?¿No es la garantía y aseguramiento de los derechos del hombre la razón más profunda de la necesidad de la democracia? Los derechos no están sujetos al mandamiento del pluralismo y la tolerancia, sino que son el contenido de la tolerancia y la libertad. Privar a los demás de sus derechos no puede ser un contenido de la justicia ni de libertad. Eso significa que un núcleo de verdad — a saber, de verdad ética — parece irrenunciable precisamente para la democracia”. 101 Como ha afirmado en repetidas ocasiones el TEDH, el Convenio “no protege cualquier acto motivado o inspirado por una religión o convicción”; entre otras, sentencia Karlaç contra Turquía, de 1 de julio de 1997, apartado 42. 102 STC 141/2000, de 29 de mayo, F.J. 4.: “el derecho que asiste al creyente de creer y conducirse personalmente conforme a sus convicciones no está sometido a más límites que los que le imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente”. 103 Por todos, vid., PALOMINO, R.,: “la eficacia de los derechos religiosos en la sociedad democrática tiene el límite máximo del respeto a esos derechos fundamentales”, op. cit. p. 86. 104 La Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa, afirma al respecto, en su artículo 3.1 que “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tienen como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”. 105 La dignidad de la persona…, cit., pp. 68 y ss. de tales derechos como límites de la libertad religiosa sea en realidad una omisión: se incluyen, prioritariamente, en la idea del limitador “orden público”. Es más, aunque siempre es difícil situarse en la mente del constituyente, pienso que el concepto de orden público en el que pensaba al redactar el artículo 16 no es el “clásico” — y arcaico — de defensa de las instituciones públicas, sino el moderno, que ya en 1983 CALVO ÁLVAREZ calificaba como el “nuevo sentido que se da a la noción de orden público”, cuya esencia consiste en centrarse “no prioritariamente en la defensa de los intereses del Estado, sino en la dignidad igual de toda persona”106; de modo que — y suscribo plenamente sus palabras — “el orden público carece de sentido, como instrumento técnico-jurídico, en el caso de que no se haya dirigido con rotundidad a la protección de la persona, y de los derechos inviolables que le son inherentes”. Lo que quiero con esto resaltar es que cuando se habla del orden público como límite a la libertad religiosa de los ciudadanos creo que procede pensar, en realidad, en los derechos de los demás. Lo dicho sobre el efecto limitador del orden público implica que las manifestaciones exteriores de esta libertad, ejercitadas en espacios públicos, requieren una contención que resulta imprescindible para hacerla compatible con los derechos de aquellos que nos rodean; es decir, que su ejercicio no resulte agresivo, perturbador de la tranquilidad, insano, o que sus concreciones no se consideren en la conciencia moral colectiva, como indignas del ser humano. Es claro que se trata de limitar a unos para proteger a otros, algo no solo legítimo, sino muchas veces necesario. Pero hablar de limitaciones casi siempre resulta problemático, como prueban los supuestos referidos anteriormente. Problemas que pueden plantearse cuando confluyen — o colisionan — quienes ejercen ad extra un derecho fundamental y quienes se sienten agraviados en sus derechos por tal ejercicio. En el caso que nos ocupa, para acertar al juz- 245 gar la legitimidad de la limitación procede plantearse qué imposición es más grave: la que ejercen — o pueden eventualmente ejercer: dependerá de ambientes — los ciudadanos al desplegar su libertad religiosa sobre quienes, por compartir espacio público, se ven “obligados” a soportar tal ejercicio, o la que ejerce el Estado — con certidumbre — sobre los primeros impidiéndoles tal ejercicio para proteger — una vez más, eventualmente — a los segundos. Sin duda, esta cuestión requiere análisis ad casum y se compagina mal con soluciones — prohibiciones — genéricas; además, el favor libertatis apunta a una exigencia de cumplida justificación de las concretas limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa. Aplicando estos parámetros a los supuestos planteados, procede preguntarse si hay razones de orden público — es decir, de derechos de los demás — que justifiquen una general prohibición de signos religiosos — aunque la prohibición se venga restringiendo a centros educativos públicos —. Sinceramente, creo que no; y, aunque no faltan respetables opiniones discordantes, en ello concuerda buena parte de la doctrina patria; aunque esto no quiere decir, como acabo de afirmar, que no sean exigibles ciertos límites 107. 106 Vid. Orden público…, cit., p. 250. En ese mismo año, DE LA CUÉTARA afirmaba que el “núcleo del orden público” — en realidad, su objeto o finalidad — se sitúa en la garantía del ejercicio de derechos y libertades; vid. La actividad de la Administración, Tecnos, Madrid, 1983, p. 241. Concepción que se ha consolidado con el tiempo. Así, se define por algunos el “orden público en sentido estricto” como “la paz y tranquilidad necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales”; vid. BERRIATUA SAN SEBASTIÁN, J., “Aproximación al concepto de seguridad ciudadana”, Revista Vasca de Administración Pública, nº 41, 1995, pp. 749-750. En fin, como bien advertía PAREJO ALFONSO, L., hace algunos años, la que él denomina actividad administrativa relativa a la seguridad ciudadana y al orden público es, “por definición, una actividad que necesariamente se desenvuelve en un campo con relevancia para los derechos fundamentales y las libertades públicas”; vid. Seguridad Pública y Derecho Administrativo, Ciudad Argentina-Marcial Pons, Buenos Aires-Madrid, 2001, p. 59. 107 VIDAL FUEYO, M.C., “Cuando el derecho a la libertad religiosa colisiona con el derecho a la educación”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº extraordinario, 2004, p. 325; MARTÍNEZ b) Aconsefionalidad: ¿límite?, ¿para quién? Entonces, silenciada en el artículo 16.1 la aconfesionalidad del Estado — o su laicidad, como gusta a tantos —, ¿no opera como límite a la libertad religiosa? Algún autor (CAÑAMARES) sugiere que, en la medida en que entre los componentes del orden público se encuentra el de la moralidad pública — de la que dice “se identifica con el respeto a los principios y valores constitucionalmente vigentes”—, cabe incluir en ella “los principios fundamentales de la organización estatal”, entre los que se cuenta “el principio de laicidad del Estado”108. Se entenderá que no me convenza el razonamiento109: creo que el orden público — en el sentido expuesto — limita las manifestaciones exteriores de la libertad religiosa de los ciudadanos, únicos sujetos en los que está pensando el artículo 16.1 CE; y no es pequeña función. Aunque nuevamente me meta en la mente del constituyente, creo que en este apartado 1º del artículo 16 no pensó en las imbricaciones del Estado en el hecho religioso, a las que dedicó el apartado 3º: siendo el Estado, en rigor, inhábil para ejercer aquella libertad — ya se ha dicho —, su “competencia relativa” sobre el hecho religioso — competencia civil sobre lo puramente social de ese hecho — tiene como límites los que se señalan en el artículo 16.3, su aconfesionalidad y su neutralidad, que tienen unas concreciones suficientemente claras: no puede el Estado hacer suyo ningún credo, ni tomar partido por ninguno, ni “arrogarse la función de juzgar el componente religioso” de las personas o las confesiones (STC 46/2001), ni interferir en las funciones religiosas de estas, ni adoptar inadecuadas formas de cooperación que menoscaben la separación110; que tampoco es poca limitación. 246 Aconfesionalidad, laicismo… y discriminación La mala interpretación de los límites del Estado, confundiendo su incompetencia en lo religioso con sus aptitudes y obligaciones con el factor social religioso, ha provocado que la aconfesionalidad estatal se deslice hacia un auténtico laicismo, ilógico distanciamiento que, como se adelantó, degenera con frecuencia en auténtica discriminación. Sirvan estas preguntas de botón de muestra: ¿Por qué puede alguien mostrar signos de afiliación política o deportiva sin temor a ser acusado de imponerse al otro o de contaminar la neutralidad del espacio público y sin embargo no puede exhibir símbolos religiosos?; ¿por qué un Consejo Escolar, o los funcionarios que trabajan en un Administración, pueden acordar adornar sus paredes con un famoso actor de cine y no con un signo religioso?; ¿no es discriminación que pretenda negársele a alguien un reconocimiento académico por el hecho de la ciencia que la cultivado es la religiosa?; ¿por qué méritos políticos — partidistas casi siempre — o artísticos — opinables como pocos — justifican una pública retribución — una placa en una pared — que se niega si los merecimientos son de carácter religioso? LÓPEZ-MUÑIZ, J.L. concreta esos límites en que estos signos no se “enarbolen de forma ostentatoria o reinvidicativa o en circunstancias que puedan implicar presión, provocación, proselitismo o propaganda, vid. “Enseñanza de la religión bajo la Constitución de 1978”, en www.arvo.net. 108 Op. cit. p. 38. 109 Aparte de que el concepto de moralidad pública que defiendo es mucho más estricto, como auténtico componente del orden público, en concreto, su aspecto moral; ibíd.. pp. 103 y ss. 110 ROCA, M.J. insiste en la laicidad como límite a la cooperación, que hace referencia “a las relaciones institucionales entre los poderes públicos y las confesiones, e implica que ambas esferas han de respetar su mutua independencia dentro de sus propios asuntos”; vid. “Laicidad del Estado y garantías en el ejercicio de la libertad: dos caras de la misma moneda”, El Cronista del Estado Social y democrático de Derecho, nº 3, 2009, p. 51. Actitud prestacional pública Las preguntas no terminan ahí, porque no lo hacen las tentaciones de discriminación: ¿Por qué una Universidad pública puede organizar o colaborar en una audición musical, en la conciencia de que parte de su comunidad lo apreciará — y otra parte no — y no puede facilitar un acto religioso111?; ¿por qué el Estado puede subvencionar iniciativas artísticas o organizaciones sindicales — expresión de intereses sociales no religiosos — y se recela cuando lo hace con manifestaciones del hecho social religioso?, ¿tiene este menos interés? Como sugieren estas cuestiones, la posibilidad o amenaza de la discriminación no se da solo por la reacción pública ante la legítima autonomía de los ciudadanos en el espacio público, sino también ante la actitud prestacional que el Estado puede dispensar al fenómeno religioso en comparación con otros. Se presentó ya el mandato de cooperación con las confesiones religiosas del artículo 16.3; opción que no puede ser tachada como ilegítima a la vista de un hecho evidente que resaltaba AMORÓS tiempo ha: “lo religioso es trascendente”; “pero — sigue diciendo — no para definir el Estado en base a ello (como ocurrió en el pasado), sino para que el Estado recoja la realidad y la atienda, por el valor que tiene para los ciudadanos y — en consecuencia — para el propio Estado”; es decir, en la medida en que “como a Estado le compete cuanto acontece a la vida social humana”112. Por tanto, no repugna a la lógica jurídica que el Estado colabore con la efectividad del derecho que nos ocupa mediante una actividad prestacional: no le compromete religiosamente ni viola su aconfesionalidad — no se identifica con lo auxiliado —, ni atenta a su neutralidad — si la prestación es equitativa —, ni ultraja la distinción de funciones estatal y religiosa — sencillamente porque con ello no realiza tarea religiosa alguna sino 247 de promoción e impulso de un hecho social, que además es expresión de un derecho fundamental—113. Por eso, cuando en un Ayuntamiento cede terrenos para un templo o cuando en un aeropuerto público se instala una capilla religiosa no se hace religiosa a la ciudad o al aeropuerto — y menos confesionales —; simplemente se pretende que la una y el otro satisfagan más intereses de los ciudadanos y usuarios, pues muchos tienen una identidad religiosa. Esta identidad, cuanto más amparada por el Estado, mejor (al igual que otras identidades: política, cultural, sindical, deportiva, racial, etc.). ¡Protección de uno mismo, igualdad! Procede detenerme en un último alegato utilizado para imponer restricciones públicas de la libertad religiosa: el recurso a la responsabilidad pública de protección, pero no de los derechos de los demás — de los que ya nos ocupamos como límite al ejercicio de este derecho —, sino de los derechos del propio ejercitante de la libertad religiosa. En el caso del velo islámico en Turquía, decíamos que el TEDH se había avenido a la tesis del Tribunal turco de que su sistema constitucional ponía “el acento en la protección de las mujeres”; en especial, se pretendía por las autoridades administrativas preservar “la igualdad de sexos”, de 111 Vid. sobre esto GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., “Los actos religiosos en las escuelas públicas en el Derecho español y comparado”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 19, 2009. 112 AMORÓS AZPILICUETA, J.J. La libertad religiosa en la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 1984, p. 175. 113 En la misma línea vid. LÓPEZ ALARCÓN, M., op. cit. ,p. 472, GONZÁLEZ MORENO, B., “El tratamiento dogmático del derecho a la libertad religiosa y de culto en la Constitución española”, Revista de Derecho Constitucional, nº 66, 2002, p. 123. la que recuerda el Tribunal europeo que es reconocida por su jurisprudencia — y esto nadie lo duda — como uno de los principios esenciales subyacentes en el Convenio. Por una parte, las legislaciones francesa y turca parecen querer proteger la autonomía de las mujeres, supuestamente menoscabada al verse obligadas — a su juicio, con frecuencia — a portar el velo. Pero invocar — indirectamente lo hace el TEDH114 y con toda rotundidad la Comisión Stasi115 — que estas manifestaciones de religiosidad obedecen a presiones externas parece más bien una burda simplificación: hasta los actos más inocuos, o incluso virtuosos, pueden ser objeto de imposiciones, contra las cuales el ordenamiento jurídico no puede sino actuar — de entrada de conformidad con la correspondiente tipificación penal —, pero no parece lógico que prohíba aquellos actos con el único argumento de querer evitar eventuales imposiciones, como siguiendo la máxima “muerto el perro se acabó la rabia”. Y es que presuponer tal imposición para establecer prohibiciones genéricas parece, a todas luces, una extralimitación. El inaudito resultado es que, como bien subrayan RELAÑO y GARAY, se pretende proteger a una persona… limitando su libertad: inicialmente, una curiosa manera de proteger116 — que solo se admite cuando se identifica una cumplida justificación —. No obstante, es claro que la solución que aquí se propone no es compartida por todos. Frente a la contraposición — que más atrás acometíamos, y que en mi opinión es la clave del problema — entre la imposición estatal prohibitiva de signos religiosos y la que pueden llevar a cabo sus portadores sobre sus conciudadanos, GUILLÉN plantea otro contraste: “¿qué es más lesivo para la libertad religiosa (y para la libertad en general), que alguien que quiera llevar el velo en un establecimiento público no lo lleve o que alguien que no quiera llevarlo se vea obligado a hacerlo?, ¿qué es más soportable desde el punto de 248 vista democrático: la presión social o la estatal?”. Este autor se muestra partidario de que el Estado dicte normas que eviten una “presión social insoportable”117. A lo que procede responder, sin perjuicio de lo ya dicho, que frente a la eventualidad de una presión social — que en la mayoría de los casos será más bien familiar, y contra la cual existen cauces específicos de tutela — se pretende imponer una presión estatal absoluta prohibitiva… Además de la protección contra las presiones, también se alega una irrenunciable protección pública contra la discriminación de sexos, que se supone implica el velo, en la medida en que este es exigido — o autoimpuesto — únicamente a las mujeres. Pero, amén de patologías, ¿por qué discrimina llevar velo? De considerarse así, también lo haría vestir deportivo o portar gafas de sol, que dividiría la población entre partidarios y no partidarios de tales prendas. Además, ¿no se está convirtiendo quien esto dictamina en juez religioso, en detrimento de la tan invocada separación, como lo haría quien tachase de intolerable que en algunas religiones solo los varones sean sacerdotes? Para el Estado, salvadas aquellas patologías referidas (coacciones, amenazas, etc.), el origen o causa de las decisiones de las personas — mujeres u hombres — le es indiferente: si son decisiones libres y legítimas no le importa si provienen de convicciones religiosas, ideológicas… o del puro capricho. 114 Apartado 115, al dar por buenas las alegaciones turcas. En estos términos del apartado 4.2.2.1: “Chicas menores se encuentran bajo presión para obligarlas a llevar algún símbolo religioso. El entorno familiar y social les impone a menudo decisiones que ellas no han tomado. La República no puede hacer oídos sordos al grito de desesperación de estas jóvenes”. 116 “¿Cómo es posible — se preguntan estos autores — proteger los derechos de la mujer restringiendo el derecho autónomo e individual a manifestar su religión, de conformidad a sus correspondientes convicciones, con las consecuencias sabidas de que la prohibición las dejará sin el acceso a las universidades si no desisten del cumplimiento de los preceptos de su religión?”; vid. op. cit., p. 32. 117 Op. cit. p. 269. 115 La seguridad jurídica, uno de los pilares de la dignidad y seguridad humana y de la gobernabilidad en los regímenes democráticos Jorge O. Bercholc1 Resumo A segurança e dignidade humana devem ser entendidas como uma categoria ampla e crescente, que deverá abranger todos os aspectos da vida social no sentido mais amplo e material comum de processos de alargamento da cidadania. Por que a compreensão do conceito de segurança jurídica deve ser considerada como intimamente relacionada com a ampla linha padrão de dignidade e segurança humana. A segurança jurídica é muitas vezes apresentada como sustento básico da segurança humana no contexto das sociedades democráticas e do Estado de direito, especialmente, em países anglo-saxónicos, que recentemente desenvolveram estes critérios. Palavras-chave: Dignidade Humana. Democracia. 249 Resumen La dignidad y seguridad humana debe entenderse como una categoría amplia y en expansión, que debe abarcar todos los aspectos de la vida social, en sentido amplio y en articulación material con los procesos de ampliación de la ciudadanía. En esa inteligencia el concepto de seguridad jurídica debe ser considerado como íntimamente relacionado a ese criterio amplio de dignidad y seguridad humana. La seguridad jurídica suele ser presentada como sustento básico de la seguridad humana, en el marco de las sociedades democráticas y del Estado de derecho, en especial, en los países anglosajones, que han desarrollado últimamente estos criterios. Palabras claves: la dignidad humana. Democracia. La seguridad jurídica, su relación con la dignidad y seguridad humana y la gobernabilidad. Una metodología adecuada para un análisis sobre su operatividad. La dignidad y seguridad humana debe entenderse como una categoría amplia y en expansión, que debe abarcar todos los aspectos de la vida social, en sentido amplio 1 Doctor en Derecho Político, Especialista en Sociología Jurídica y Abogado, Universidad de Buenos Aires. Postgraduado como Especialista en Constitucionalismo y Democracia, y en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diploma de postgrado en Procesos de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Universidad de Barcelona. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Universidad de Buenos Aires. Profesor de Teoría del Estado y de Postgrado y Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Sociología Jurídica y de Metodología de la investigación Jurídica, Universidad Abierta Interamericana. y en articulación material con los procesos de ampliación de la ciudadanía. En esa inteligencia el concepto de seguridad jurídica debe ser considerado como íntimamente relacionado a ese criterio amplio de dignidad y seguridad humana. La seguridad jurídica suele ser presentada como sustento básico de la seguridad humana, en el marco de las sociedades democráticas y del Estado de derecho, en especial, en los países anglosajones, que han desarrollado últimamente estos criterios. Sin embargo, vista la seguridad jurídica desde la perspectiva de quienes la reclaman, se observa que desde distintos sectores políticos, sociales y económicos, incluso aquellos que se presentan con intereses contradictorios y aun excluyentes, claman por el goce pleno de este bien jurídico. Las clases económicamente acomodadas reclaman seguridad jurídica, las empresas pequeñas y medianas y las grandes corporaciones multinacionales, los “piqueteros” y los “Sin tierra” cuando piden por trabajo, salud y educación. En el mundo académico claman por seguridad jurídica los abogados, los economistas, los especialistas en políticas penitenciarias o de seguridad (en sentido estricto como control de la delincuencia) entre otros. ¿Coincidirán sujetos tan disímiles en definir y caracterizar de un modo universal a la categoría seguridad jurídica? ¿Será la seguridad jurídica lo mismo para los “piqueteros” o los “Sin tierra” que para los pequeños y medianos comerciantes o para los holdings multinacionales? Rápidamente descubrimos una vez más, que el excesivo uso de consignas, si bien sustentadas en necesidades evidentes de la sociedad, sin que esas consignas sean desarrolladas en su matriz teórica con rigurosidad, pueden traer infinidad de equívocos conceptuales, y su correlato de praxis políticas y decisiones, en el más alto nivel de la 250 administración estatal, erradas y con diagnósticos inadecuados. La seguridad jurídica, aun en este contexto de excesiva demanda y de muy posibles equívocos conceptuales, es claro que resulta vital para la dignidad y seguridad humana. La seguridad jurídica implica en principio, proveer insumos necesarios para el eficaz funcionamiento de un sistema republicano (división funcional del poder del estado, controles mutuos, frenos y contrapesos), sin resentir los criterios mínimos de gobernabilidad y legitimidad del sistema, en su delicada y compleja relación con la democracia. ¿Quiénes deben ser los proveedores de esos insumos? Por supuesto que las distintas agencias estatales que integran la administración, considerando los tres poderes en los que se divide funcionalmente el ejercicio del poder estatal. La seguridad jurídica entendida en una primera aproximación simple, remite a reglas de juego claras y más o menos permanentes – al menos hasta que no se obtenga un consenso social e institucional preciso y contundente en otro sentido – que deben ser establecidas por los poderes ejecutivo y legislativo a través de sus decisiones normativas y por el poder judicial en su tarea de interpretación y aplicación de los actos normativos emanados de los otros poderes políticos del Estado. El concepto de seguridad jurídica, remite etimológicamente, a una tarea natural del ámbito judicial, aunque claro que no es solamente tarea de los jueces. También de las agencias que producen actos normativos, tanto del área del ejecutivo como del legislativo. Sin embargo, los jueces tienen un amplísimo margen de interpretación de las leyes, tanto de la Constitución Nacional, como de las leyes que de ella derivan. Por eso resulta pertinente, epistemológica y metodológicamente, observar las decisiones de los jueces, como uno de los actos más importantes de las agencias estatales, a fin del establecimiento de la seguridad jurídica. Además, siendo una categoría tan demandada y por sectores absolutamente disímiles y aun enfrentados, resulta útil y menester establecer parámetros operativos y funcionales de la categoría, que nos permitan proveer insumos de conocimiento básico, para un posterior desarrollo conceptual y teórico, consistente y sustentable. Es que referirse sin más a la categoría “seguridad jurídica”, con la excesiva demanda que pesa sobre la cuestión, puede no significar demasiado, si no se profundiza en, i) qué entendemos por tal cosa; ii) cuál es el contexto político-social y económico en el que se lo pretende instaurar; y en iii) cómo lograr la consagración de la “seguridad jurídica” a través del comportamiento de las agencias estatales involucradas en tal producción. Para ello se deben procurar modelos metodológicos de medición, para producir análisis agregados y diagnósticos, que permitan establecer parámetros funcionales y operativos a fin de consolidar criterios de “seguridad jurídica”. Dicho de otro modo, pasar del terreno declamativo, reivindicativo y “romántico”, a un terreno de construcción funcional de la “seguridad jurídica”, observando el comportamiento y producción de las agencias estatales. La cuestión reviste gran importancia desde una perspectiva politológica que se preocupe por el aporte que, a la gobernabilidad del sistema político democrático, debe realizar uno de los tres poderes en los que se divide la administración estatal. Por ello, un difícil y precario consenso en las decisiones del máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia, debilitarán la necesaria “doctrina o derecho judicial” que la Corte debe producir y que es esperada por los Tribunales inferiores a fin de resolver jurisprudencia contradictoria y/o conflictiva.2 Ello generará un debilitamiento de criterios de aplicación e interpretación norma- 251 tiva debidamente consensuadas, sin equívocos ni contradicciones. El colofón e inferencia lógica en tal escenario es la incertidumbre e inseguridad jurídica y por ende la crisis de gobernabilidad del sistema político democrático y el déficit de los parámetros de dignidad y seguridad humana exigibles en materia de práctica jurisdiccional y doctrina judicial. La emergencia permanente en la que parece hallarse el sistema político en la Argentina, la legislación confusa, compleja y fronteriza con la inconstitucionalidad, producto de esa emergencia permanente, provoca una tensión difícil de sobrellevar por la Corte Suprema y por los tribunales inferiores, que se ven sometidos a un cúmulo de responsabilidades excesivas. Propongo entonces en este trabajo, y utilizando los datos e insumos producidos por una investigación más global sobre la producción de la Corte Suprema de Justicia en la Argentina3, realizar un análisis realístico sobre el concepto de “seguridad jurídica”, que con sustento empírico-cuantitativo, permita luego, juicios cualitativos y desarrollos teóricos más ajustados y sofisticados, sin perder de vista su operatividad. Para ello analizaré el tema del consenso en las decisiones de la Corte Suprema, su tendencia histórica y sus dificultades actuales. Los mayores niveles de consenso se relacionan directamente con la composición de los votos en cada sentencia, con las características de las votaciones, de acuerdo a que sean unánimes o que existan disidencias en los criterios de los jueces. 2 Para este concepto Bidart Campos, “La Corte Suprema. El Tribunal de las Garantías Constitucionales”, páginas 21/28, Ediar, 1984, Buenos Aires. 3 “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. Las dificultades para obtener consenso en las sentencias de la Corte Suprema Argentina con su nueva composición. La Corte Suprema con su nueva formación pergeñada a partir de la renuncia del Ministro Bossert en octubre de 2002 y completada en 2005 con la asunción de Carmen Argibay, ha afrontado y deberá afrontar a través de sus fallos, serias cuestiones institucionales y jurídicas. En los fallos que va emitiendo la nueva formación de la Corte, y en los debates y polémicas conocidas en relación a casos de gran trascendencia política, social y jurídica aun irresueltos, se advierten dificultades para la obtención del consenso mínimo en el Tribunal que permita la formación de un voto mayoritario (al menos 4 votos ahora, que podrían ser menos si existiesen excusaciones). Esa dificultad para lograr un consenso mínimo, se potencia si lo que se pretende es un voto unánime o al menos con la menor cantidad de disidencias posibles, tanto cuantitativas (la menor cantidad de jueces disidentes posible), como cualitativas (sería el posible caso de un sólo voto disidente pero con una argumentación muy sustentable, profunda y plausible, desde una perspectiva tanto jurídica como política y social). Y aun si el fallo no presentara disidencias, podría ocurrir que distintos jueces votaran según la fórmula “por su voto o “según su voto”, lo que implica algún desacuerdo o matiz particular en el fallo, con la consecuencia de algún sesgo en el mismo, ya sea de mayor flexibilidad o de mayor rigidez en la decisión, a fin de obtener la unanimidad o mayoría, concediendo algún aspecto del fallo a esos jueces que optan por particularizar 252 o establecer una marca personal en lo resuelto. La distinción no resulta menor ya que muchas veces los fallos personalizados de algunos jueces, si bien adhieren a la decisión de la mayoría, presentan rasgos diferentes de entidad tal, que las consecuencias concretas y objetivas de la sentencia resultan muy diferentes. En casos de gran trascendencia institucional, jurídica y social, siempre resulta un objetivo deseable para el ejecutivo y para el presidente de un tribunal constitucional, la emisión de fallos unánimes o con disidencias acotadas en los sentidos referidos anteriormente. Ello así, por evidentes y obvias razones de gobernabilidad y legitimación política de decisiones sensibles en materia de políticas públicas y en pos de un funcionamiento armónico de la administración estatal. El objetivo de obtener fallos unánimes, que demuestren un consenso sólido en la interpretación y decisión fáctico-jurídica que el tribunal constitucional adopte en cuestiones trascendentes y conflictivas, si bien plausible desde la perspectiva de la gobernabilidad y eficacia del funcionamiento del sistema político, puede ser también analizado desde una perspectiva negativa.4 Para una visión positiva de los fallos unánimes como objetivo plausible podría argumentarse que, sometida una cuestión de trascendencia institucional a decisión de la CSJN, resultará tranquilizador para la ciudadanía que los jueces tengan una opinión unificada y sólida sobre cuál es la decisión adecuada y ajustada a derecho. Por el contrario un escaso o bajo nivel de unanimidades echaría un manto de dudas sobre la denominada “seguridad jurídica” o sobre la interpretación que de la moral media de la población hagan los jueces. 4 Sigo en este análisis lo expuesto en mi libro “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, pág. 100/102, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. Votaciones reñidas sobre temas complejos y sensibles, podrían generar la idea, de que decisiones muy importantes para los individuos y para la sociedad son resueltas en forma azarosa, y que una mayoría exigua y circunstancial de jueces puede decidir en un sentido algo que, por poco, podría haber sido decidido en sentido contrario. Una visión negativa sobre un alto grado de unanimidades, podría sustentarse en la diversidad de opiniones e intereses contrapuestos existentes en una sociedad, los que estarían mejor representados por jueces que sean permeables a diversas corrientes, resultando ello más democrático y representativo y pudiendo significar además un mayor grado de independencia de los jueces respecto al poder político y una más eficaz defensa de las minorías. Además los votos en disidencia o minoría suelen cumplir el rol de vanguardia o avanzada en interpretaciones novedosas o “progresistas” que con el tiempo pueden transformarse en doctrina o derecho judicial impuesto por la Corte a través de su jurisprudencia.5 Sin embargo la propia Corte según la Acordada 44/89, en la cual manifestaba su oposición al aumento de miembros impulsado y producido durante el gobierno de Menem, advertía acerca de una consecuencia considerada perniciosa, la proliferación de votos diferentes que afectaran la seguridad jurídica6, uno de los argumentos que hemos expuesto para una visión positiva de un alto grado de unanimidades. No contamos con información estadística y cuantitativa suficiente ni sistematizada, que nos permita por ahora, abrir juicios certeros y comparados sobre los niveles de unanimidades y disidencias con que la formación actual de la Corte está resolviendo las cuestiones de su competencia. Sí contamos con esa información estadística para el período 1935-1998, la que se ofrece en este trabajo y de la cual surge un alto nivel histórico de unanimidades en los fallos de la Corte. 253 Debe aclararse que los datos se refieren al control de constitucionalidad ejercido por la Corte sobre los actos normativos tanto del ejecutivo como del legislativo de jurisdicción federal y provincial. Pero un breve listado de fallos de años recientes, en cuanto la Corte alcanzo su actual conformación, nos permite observar un panorama que hace presumir una nueva tendencia. Parece esbozarse en la Corte un comportamiento más fragmentado de sus ministros, entendiendo por tal cosa, un menor nivel de coincidencias, traducido en menor cantidad de fallos unánimes y en una mayor cantidad de disidencias y de votos que desde la mayoría se distinguen individualmente (“según o por su voto”) como reflejo de “...poderosas individualidades, cada cual muy respetuosa de su imagen y de su trayectoria...”7 y preocupada por dejar su sello o marca personal en cada resolución trascendente del Tribunal, desoyendo los aspectos y consecuencias que la visión positiva de las unanimidades connlleva. 5 El actual Presidente de la Corte, ministro Petracchi en entrevista de Arturo Pellet Lastra en su “Historia Política de la Corte” (1930-1990), Ad Hoc 2001, pág. 410 dice : “...Hay que reconocer que desde el punto de vista de lo que es el país, esta Corte ampliada de los ‘90 es más representativa de lo que es la totalidad de la población, de nuestra idiosincrasia...ya que la Corte de los años ‘80 producía fallos que no se condecían con lo que es nuestro pueblo. Estos fallos liberales en los que yo votaba unas veces con Bacqué y Belluscio (caso “Bazterrica”, sobre la droga) y otras con Bacqué y Fayt (caso “Sejean” sobre divorcio) eran menos representativos de lo que era el país, por su contenido revolucionario en comparación con muchos de los fallos de la Corte actual...” (se refiere a la Corte contemporánea a Menem). 6 Según cita María Angelica Gelli, “El papel político de la Corte Suprema en las crisis institucionales”, pág. 94, en Función Política de la Corte Suprema, autores varios, Ed. Abaco, 1998. 7 Tal cual plantea Joaquín Morales Solá en su artículo periodístico de La Nación del 8.6.05. Expongo un listado detallado de fallos de la Corte en los que se observa la tendencia referida. Cuadro Nº 1: listado de fallos recientes en los que se han detectado disidencias 1.- “Milone, Juan A. c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, 26/10/2004 Petracchi.- Boggiano.- Maqueda.- Zaffaroni.- Highton de Nolasco. En disidencia: Belluscio.- Fayt. 2.- “Bustos, Alberto R. y otros v. Estado Nacional y otros s/amparo”, 26/10/2004. Belluscio.- Maqueda. Según su voto: Boggiano.- Zaffaroni.- Highton de Nolasco. En disidencia: Fayt. 3.- “Ventura”, 22/2/05. Petracchi.- Fayt.- Boggiano.- Maqueda.- Zaffaroni.- Highton de Nolasco En disidencia: Belluscio.4.- “Bassi Parides”, 22/2/05. Petracchi.- Fayt.- Maqueda.- Zaffaroni.- Highton de Nolasco 254 En disidencia: Belluscio.- Boggiano. 5.- “Ponce c/Pcia. de San Luis”, 24/2/05. Petracchi.- Belluscio.- Maqueda.- Highton de Nolasco. Según su voto: Lorenzetti. En disidencia: Fayt.- Argibay. 6.- “Cantera Timoteo S.A. c/Mybis Sierra Chica S.A.”, 3/3/05. Fayt.- Zaffaroni.- Conjueces: Poclava Lafuente – Irurzun – Pereyra Gonzalez. En disidencia: Petracchi.- Belluscio.- Boggiano.- Maqueda.7.- “Munson”, 3/3/05. Petracchi.- Highton de Nolasco. Según su voto: Fayt - Boggiano.- Maqueda - Zaffaroni.En disidencia: Belluscio. 8.- “Arancibia Clavel”, 8/3/05. Boggiano.- Maqueda.- Zaffaroni - Highton de Nolasco - Lorenzetti. En disidencia: Petracchi.- Belluscio.- Fayt. 9.- “Itzcovich, Mabel v. Administración Nacional la Seguridad Social”, Petracchi.Fayt.- Highton de Nolasco. Según su voto: Maqueda - Zaffaroni – Lorenzetti En disidencia parcial: Belluscio - Boggiano - Argibay 10.- “Galli”, 5/4/05. Belluscio.- Boggiano. Según su voto: Petracchi - Fayt - Maqueda - Zaffaroni - Highton de Nolasco - Lorenzetti – Argibay 11.- “Sontag c/Banco de Galicia”, 5/4/05. Petracchi - Belluscio - Maqueda - Zaffaroni - Argibay En disidencia: Highton de Nolasco. 12.- “Angel Estrada y Cía. C/Secretaría de Energía y Puertos”, 5/4/05. Petracchi – Boggiano.- Maqueda - Highton de Nolasco - Lorenzetti – Según su voto: Belluscio.En disidencia: Fayt.- Zaffaroni - Argibay. 13.- “M.M.S. c/Organización Veraz”, 5/4/05. Petracchi – Fayt - Maqueda – Zaffaroni - Lorenzetti Según su voto: ArgibayEn disidencia: Belluscio – Boggiano - Highton de Nolasco 14.- “Verbitsky”, 3/5/05. Petracchi – Maqueda – Zaffaroni - Highton de Nolasco – Lorenzetti. En disidencia: Fayt.- Boggiano - Argibay. 255 15.- “Di Nunzio”, 3/5/05. Maqueda - Zaffaroni - Highton de Nolasco - Lorenzetti – Según su voto: Fayt. En disidencia: Petracchi - Belluscio – Boggiano - Argibay. 16.- “Alderete”, 3/5/05. Fayt - Lorenzetti. Según su voto: Belluscio – Boggiano - Argibay. En disidencia: Petracchi – Maqueda – Zaffaroni - Highton de Nolasco 17.- “Lariz Iriondo”, 10-5-05. Petracchi – Highton de Nolasco - Lorenzetti - ArgibaySegún su voto: Belluscio - Fayt - Maqueda - ZaffaroniEn disidencia: Boggiano. 18.- “Smirnov, Alexander Borisovich s/ infr. ley 1612”, 10/05/05. Maqueda - Zaffaroni - Lorenzetti Según su voto: Petracchi – Fayt - Argibay. En disidencia: Belluscio - Boggiano - Highton de Nolasco –. 19.- “Sanchez María del Carmen c/Administración Nacional de Seg. Social”, 17/5/05. Petracchi - Belluscio – Fayt - Boggiano – Highton de Nolasco - Lorenzetti Según su voto: Maqueda - Zaffaroni – Argibay. 20.- “Llerena Horacio”, 17/5/05. Zaffaroni - Highton de Nolasco – Según su voto: Petracchi - Boggiano – Maqueda. En disidencia: Belluscio – Argibay. 21.- “Asociación de Teleradiodifusoras Argentina y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, 7/6/05. Highton de Nolasco - Lorenzetti - Argibay. Según su voto: Fayt - Maqueda - Zaffaroni En disidencia parcial: Petracchi - Belluscio En disidencia: Boggiano 22.- “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, 14/06/2005 Petracchi Según su voto: Boggiano - Maqueda – Zaffaroni - Highton de Nolasco - Lorenzetti – Argibay. En disidencia: Fayt. Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de los Website de la Corte Suprema, la Ley, El Dial y Lexis Nexis. Es pertinente advertir al lector, que se trata de un listado que no sigue una sistematización rigurosa que permita la comparación lisa y llana con los datos que se 256 tratarán en este trabajo y que corresponden al período 1935-1998, en el que sí se ha sistematizado la base de datos de acuerdo a pautas estrictamente prefijadas. En su caso, dicha sistematización para la actual formación de Corte, requiere del paso del tiempo y de un desarrollo investigativo acorde a tal fin, tarea que oportunamente espero llevar a cabo, actualizando las series estadísticas con las que hoy se cuenta. Mientras tanto, el listado confeccionado, aun con la advertencia formulada, nos muestra al menos en un nivel de fuerte presunción, un clivaje nuevo y que no responde al comportamiento histórico del Tribunal. Los fallos recopilados permiten observar una alta fragmentación en los votos de los actuales ministros, al menos en los casos de trascendencia institucional y jurídica. Dicho clivaje parece profundizarse desde que el Tribunal completó su formación con la incorporación de Argibay. Obsérvese que desde febrero de 2005 se han detectado varios casos en los que la votación resultó dividida, con disidencias y con votos personalizados, lo que implica algún nivel de disidencia en algún aspecto particular. Hay dos hipótesis posibles que pueden en parte explicar la cuestión; i) La Corte desde que completó su elenco de ministros, se ocupó de cuestiones sumamente complejas, largamente postergadas por la crisis y por los cambios en su composición. Culminado, por ahora, dicho proceso8, desde febrero de 2005 asumió un rol más activo sobre esas cuestiones postergadas; ii) las cuestiones postergadas y en algunos casos originadas en la legislación de emergencia luego de la crisis de 2001, resultan de tal complejidad jurídica, institucional y política que hacen comprensible las dificultades para obtener 8 Como se sabe ha renunciado Belluscio, se destituyó por juicio político a Boggiano, y Fayt por su veteranía, en algún momento no muy lejano deberá concretar su alejamiento, más allá de las especulaciones que se tejen en torno a cuándo acontecerá ello. los consensos mínimos y más aun las unanimidades en las decisiones del Tribunal. Sin embargo esta última hipótesis puede rebatirse o debilitarse a poco de observar que en otras etapas históricas del Tribunal, en un contexto político-institucional crítico y con eventuales contradicciones y consecuencias jurídicas de similar complejidad, los consensos y unanimidades resultaron nominal y porcentualmente elevados. Quizás, una de las causas que generan esta presunción de fuerte dificultad para el logro del consenso en los fallos de la Corte, se relacione con las incongruentes y por mí cuestionadas características técnicas de los jueces que la integran y las diversas y contradictorias perspectivas de análisis que ello les provoca al emitir sentencias. Fallos unánimes y disidencias. El consenso en la Corte para el período 1935-1998. Los cuadros con series estadísticas que expongo a continuación, reflejan porcentajes de unanimidades y disidencias en los fallos de la Corte en el período 1935-1998.9 Cuadro nº 2: Total y porcentuales de fallos unánimes vs. mayoría desagregado por formaciones de la Corte. (1935-1983) 1) CORTE Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 9 TOTAL DE FALLOS (2) 516 7 235 80 65 227 275 75 238 1718 UNANIMES (3) 482 7 218 73 56 168 229 73 209 1515 % 93,41 100 92,77 91,25 86,15 74 83,27 97,33 87,82 88,18 MAYORIA (4) 34 0 17 7 9 59 46 2 29 203 % 6,59 257 0 7,23 8,75 13,85 26 16,73 2,67 12,18 11,81 “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, 276 páginas. Se trata de un trabajo empírico-cuantitavo con mucho material estadístico y análisis agregado sobre la producción del Tribunal en el ejercicio del control de constitucionalidad de actos normativos de los otros poderes políticos del Estado. La medición se ha efectuado de acuerdo a las siguientes pautas metodológicas. Se analizó el comportamiento concreto y real que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el período 1935-1998 a través de la verificación empírica de su accionar, consultando todos los fallos que sobre Control de Constitucionalidad de los actos administrativos y normas emanadas del Poder Ejecutivo y sus órganos dependientes a nivel nacional, provincial y municipal y de la actividad legislativa tanto del Congreso Nacional como de las legislaturas provinciales y municipales han sido publicados por la editorial jurídica La Ley en su colección “Revista Jurídica”. La base de datos fue construida luego de leer más de 20.000 fallos de la Corte Suprema. Se han revisado todos los fallos emitidos por la CSJN publicados por La Ley desde su aparición en el año 1936 (donde aparecen fallos de años anteriores) hasta lo publicado en el tomo C de 1998. 1) Dado que en el período analizado se clasificaron 37 formaciones distintas de la Corte Suprema, se las ha agrupado por formaciones de la Corte considerando cambios drásticos/importantes numérica e institucionalmente hablando (entiéndase cambio de todos o gran parte de los Ministros por juicio político, golpe de estado, aumento o disminución de Ministros por ley o decreto/ley). Así la Corte nº 1 llega hasta la destitución por juicio político del 24 de abril de 1947; la nº 2 abarca el período que va entre la destitución por el juicio político de tres Ministros hasta la designación de los nuevos miembros, y tuvo formaciones diversas (integrada por conjueces) aunque siempre con la presencia de Casares, único integrante de la formación anterior que no fue sometido a juicio político; la nº 3 abarca desde la asunción hasta el derrocamiento de Perón; la nº 4 abarca desde la llamada Revolución Libertadora hasta el gobierno de Frondizi; la nº 5 hasta el aumento por ley nº 15.271 del número de miembros de la Corte; la nº 6 trata desde la Corte ampliada a 7 miembros hasta el derrocamiento de Illia; la nº 7 abarca desde el golpe de estado liderado por Onganía hasta la asunción de Cámpora en 1973; la nº 8 abarca el período peronista hasta el golpe del 24 de marzo de 1976; la nº 9 abarca el período del Proceso hasta la restauración democrática con la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. 2) Los fallos publicados en sumario no han sido contabilizados pues no se publican con el detalle de votos de los Ministros. Con esa salvedad, esta columna indica el 258 total de fallos emitidos por las Cortes indicadas en la columna respectiva , durante el período de tiempo que abarcó cada formación. 3) Por “Unánimes” se denomina a todos aquellos fallos en los que no hubieron disidencias. Se incluyen aún aquellos en los que hubieron abstenciones y también cuando un Ministro “por su voto” expone sus propios argumentos pero emite voto en el mismo sentido que los demás. Se incluyen todos los fallos sin importar si la decisión fue a favor o en contra de la inconstitucionalidad y también los que resuelven por defecto formal. 4) Por “Mayoría” se incluyen los fallos en donde hubieron una o más disidencias o votos en minoría, considerando también aquellos en los que la disidencia vota por el rechazo técnico/defecto formal. Cuadro nº 2 Bis. (1983-1998) Fallos unánimes vs. mayoría, pre/post ampliación de la Corte en 1990. 1) Corte nº 10 11 Total Total 118 116 234 Unánimes 95 89 184 % 80.5 77 79 Mayoría 23 27 50 1) La nº 10 se refiere a la Corte de Alfonsín hasta la ampliación de 1990 y la nº 11 a la Corte desde la ampliación impuesta por Menem hasta 1998 donde termino la recolección de datos. Cuadro nº 3: Total y porcentuales de fallos por la inconstitucionalidad, unánimes vs. mayoría desagregado por formaciones de la Corte. 1) CORTE Nº (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total TOTAL DE FALLOS (3) 208 3 52 24 8 38 87 15 80 515 UNANIMES % MAYORIA % 181 3 52 21 5 27 70 13 75 447 87 100 100 87,5 62,5 71,05 80,46 86,66 93,75 86,80 27 0 0 3 3 11 17 2 5 68 13 0 0 12,5 37,5 28,95 19,54 13,33 6,25 13,20 1) Se siguen idénticas pautas que en el cuadro nº 2, pero aquí sólo se contabilizan los fallos que han decretado inconstitucionalidades. 2) Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 2. 3)Los fallos publicados en sumario no han sido contabilizados pues no se publican con el detalle de votos de los Ministros. Con esa salvedad, esta columna indica el total de fallos emitidos por las Cortes indicadas en la columna respectiva, durante el 259 período de tiempo que abarco cada formación. Cuadro nº 3 Bis.(1983-1998) Fallos que encuentran inconstitucionalidades, unánimes vs. mayoría, por Cortes, pre/post ampliacion de la Corte Cortes Nº 10 11 Total Total 46 39 85 Unánimes 35 29 64 % 76 74 75 Mayoría 11 10 21 1) El bloque nº 10 se refiere a la Corte de Alfonsín hasta la ampliación de 1990 y el nº 11 a la Corte desde la ampliación impuesta por Menem hasta 1998 donde termino la recolección de datos. En la columna “Total” se incluyen fallos en los que la Corte decidió sobre varias normas y al menos una consideró inconstitucional. No se computan los fallos repetidos, que en este contexto son aquellos segundos (etc.) fallos publicados aquí registrados que decidieron lo mismo respecto a la misma norma, con la misma composición, con el mismo tipo de mayoría y la misma votación individual que un primero anterior, que sí se computa. Tener presente que sólo se han registrado fallos hasta 7 May 98 y que se siguen publicando, aquí no registrados, fallos de 1996 y años posteriores. Cuadro nº 4: Total y porcentuales de fallos por la inconstitucionalidad de normas nacionales, unánimes vs. mayoría, desagregado por formaciones de la Corte. 1) CORTE Nº (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total TOTAL DE FALLOS 73 3 13 11 7 26 43 12 63 251 UNANIMES % MAYORIA % 60 3 13 10 4 19 37 10 55 203 82,19 100 100 90,91 57,14 73,07 86,04 83,33 87,30 80,88 13 0 0 1 3 7 6 2 8 48 17,80 0 0 9,09 42,86 26,92 13,95 16,66 12,70 19,12 1) Se siguen idénticas pautas que en los cuadros anteriores, pero aquí sólo se contabilizan los fallos que han decretado inconstitucionalidades de normas nacionales. 2) Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 2. Cuadro nº 4 Bis. (1983-1998) Fallos que se pronuncian por la inconstitucionalidad de normas nacionales, unánimes vs. mayoría, pre/post ampliacion de la Corte 260 Cortes Nº 10 11 Total Total 26 25 51 Unánimes 20 17 37 % 77 68 73 Mayoría 6 8 14 1) La nº 10 se refiere a la Corte de Alfonsín hasta la ampliación de 1990 y la nº 11 a la Corte desde la ampliación impuesta por Menem hasta 1998 donde termino la recolección de datos. Cuadro nº 5: Comparativo de porcentuales de fallos unánimes sobre totales, sobre inconstitucionalidades y sobre inconstitucionalidades de normas nacionales, desagregado por formaciones de la corte. 1) CORTE Nº (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales 1935/1983 % TOTAL FALLOS (3) % FALLOS UNANIMES (4) % FALLOS UNANIMES (5) UNANIMES S/ INCONSTITUCIONALIDADES S/INCONST. NACIONALES 93,41 100 92,77 91,25 86,15 74 83,27 97,33 87,82 88,18 87 100 100 87,50 62,50 71,05 80,46 86,66 93,75 86,80 82,19 100 100 90,91 57,14 73,07 86,04 83,33 87,30 80,88 1) Ver notas de los cuadros nº 2, 3 y 4. 2) Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 2. 3) Son todos los fallos unánimes sin importar el sentido de la decisión, aún los que resuelven por defecto formal. 4) Son los fallos que resuelven por la inconstitucionalidad. 5) Son los fallos que resuelven por la inconstitucionalidad de normas nacionales. Cuadro Nº 5 Bis.(1983-1998) Porcentuales de fallos unánimes sobre total, sobre inconstitucionalidades y sobre inconstitucionalidades en normas nacionales, por Corte pre/post ampliación en 1990. Corte Nº 10 11 Total % unánimes s/ total fallos 80,5 77 79 % unánimes s/ inconstitucionalidades 76 74 75 % unánimes s/ ídem nacionales 77 68 73 1) La nº 10 se refiere a la Corte de Alfonsín hasta la ampliación de 1990 y la nº 11 a la Corte desde la ampliación impuesta por Menem hasta 1998 donde termino la recolección de datos. Fuente de los cuadros estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la 261 Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. Un alto grado de unanimidades Los cuadros y series estadísticas nos muestran un muy alto grado de unanimidades en los fallos de la Corte sobre control de constitucionalidad de normas, en todas las categorías y formaciones medidas, con porcentajes de unanimidades muy llamativos en algunos períodos como en el gobierno peronista de 1946 a 1955. Las unanimidades han bajado desde la restauración democrática en 1983 a niveles sólo equiparables al período 1958 a 1966 durante los gobiernos de Frondizi, Guido e Illia (por las conocidas disidencias de Boffi Boggero), pero se han mantenido siempre en torno de porcentajes elevados. En general se observa cierta disminución de los fallos unánimes en cuanto pasan a resolver inconstitucionalidades y algún grado mayor de disminución en inconstitucionalidades de normas nacionales. Durante el período preperonista (Corte nº 1, la de más larga actuación), los porcentajes se situaron siempre sobre el 80%, suben en el período peronista a niveles casi absolutos de fallos unánimes, que se mantuvieron altos (siempre sobre el 80%) durante los distintos gobiernos de facto. Se observa una fuerte disminución de las unanimidades en los fallos que decretan inconstitucionalidades y más aún sobre normas nacionales en los períodos de mayor fragmentación política e inestabilidad institucional durante los gobiernos de Frondizi, Guido e Illia.(cortes nº 5 y 6) Más allá de los matices el porcentaje de fallos unánimes es muy alto en todas las categorías observadas con las excepciones citadas. Desde 1983/4 a 1998 se observan las mismas tendencias aunque con una disminución promedio en las unanimidades para todas las categorías de aproximadamente un 10%. Este muy alto grado de unanimidades resulta bastante sorprendente si consideramos que consultados colegas profesores, investigadores o alumnos de la Facultad de Derecho e la Universidad de Buenos Aires, rara vez se han acercado a arriesgar porcentajes tan altos como los que surgen de este trabajo. En general los porcentajes de unanimidades que se intuyen, son considerablemente más bajos que lo que arroja la realidad de los hechos. Ello demuestra, aún en un público idóneo, el grado de desconocimiento existente sobre el comportamiento de la institución. En la generalidad de los casos consultados se manifestaron muy por debajo del 50% y nunca se sobrepasó ese porcentaje. Si bien los altos porcentajes de unanimidades observados en todo el período limitan el alcance cuantitativo de “mayorías automáticas” de cualquier signo, hay una coincidencia entre los períodos en que la Corte fue ampliada (cortes nº 5 y 6 y cortes nº 10 a 11, en donde los ministros aumentaron de 5 a 7 en 1960 durante Frondizi y de 5 a 9 en 1990 durante Menem) con cierta tendencia a la baja en las unanimidades, lo que sería demostrativo de la intención de aumentar los Ministros de la Corte para controlar a algunos jueces que se mostraron poco confiables o proclives a resolver de 262 manera impredecible. Con la ampliación, esos jueces antes influyentes en las votaciones quedarían esterilizados pasando a ser minoría o marginales -léase que aumentaron sus votos en disidencia y las abstenciones y por ende votaron con la mayoría en menor proporción a partir de la nueva composición generada por el aumento-, parecen ser los casos de Boffi Boggero en la década del `60 y de Petracchi en la década del ’90. Aun así en los períodos posteriores al aumento del número de ministros en la Corte las unanimidades registraron altos porcentajes, en torno del 80% de los fallos. Para ilustrar lo expuesto, véanse los siguientes cuadros comparativos de la actuación de dos ministros paradigmáticos, en aquello de, jueces otrora influyentes que pasaron a ser “marginales”.10 10 Según Molinelli et al, en el proyecto UBACYT, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a los poderes políticos, a través del control de constitucionalidad, 1983-98” (1999) mimeo, Instituo A,Gioja, en sentido politológico grado de “influencia” significa “...grado de participación de cada uno en las votaciones unánimes y por mayoría , mientras estuvieron y sólo en cuestiones de constitucionalidad resueltas. Se considera aquí que los jueces con más posiciones minoritarias son los que tienen menos “influencia” y viceversa...”. Para una definición sociológica debe entenderse la “influencia” como una forma simbólica de comunicación que gobierna las interacciones subjetivas por la convicción o sugestión, según Talcott Parsons en “On the concept of influence” págs.355/82 en Sociological Theory , New York , 1967. Habermas en “Facticidad y validez”, pág.443, ed. Trotta , 2001, dice que “...las personas o instituciones pueden disponer de un prestigio que les permite ejercer con sus manifestaciones influencia sobre las convicciones de otros, sin necesidad de demostrar en detalle sus competencias o sin necesidad de dar explicaciones.” Cuadro Nº 6 Comparativo de votos de Boffi Boggero. Corte nº 5 Preampliación (1) Cortes nº 6 – Post-ampliación 12 mayo 1958 al 12 febrero 1960 12 febrero 1960 al 28 junio 1966 Abstenciones * 24,62 % 65,79 % Disidencias 0 % 52,56 % Mayoría 100 % 47,44% Inconstituc.(2) Constituc. Defecto formal 16,33 % 42 % 42 % CSJN nº 5** 11,94 % 41,79 % 46,27 % 48,72 % 25,64 % 25,64 % CSJN nº 6** 16,59 % 55,02 % 28,38 % * Una abstención puede implicar una disidencia en un fallo no muy importante y por ello, existiendo mayoría en un sentido, el disidente no se molesta en elaborar su voto en sentido contrario. Cosa que sí haría en caso de ser la causa de trascendencia suficiente. ** Se incluye como dato comparativo los porcentajes de las decisiones de la Corte contemporánea a la actuación descripta de Boffi Boggero. 1) Nº de formaciones de Corte según cuadro nº 2 2) En la investigación de la que se extraen los datos estadísticos, se midió el comportamiento de los jueces considerando las sentencias que se dictaron en casos donde 263 se planteo la inconstitucionalidad de alguna norma nacional o provincial. También se consideraron las sentencias que rechazaron por defecto formal o técnico los recursos. Fuente de los cuadros estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. Durante la Corte nº 5 -cinco jueces desde el 12.5.58 al 12.2.60- las decisiones de Boffi Boggero, en cualquiera de las tres variables medidas (inconstitucionalidad, constitucionalidad o rechazo del recurso por defecto formal o técnico), alcanzaron porcentajes parecidos a los de la Corte de esa etapa. Además si bien votó el 100% de las veces en mayoría, su alto nivel de abstenciones permite inferir que sus disidencias eran mayores pero que se autorestringió en pronunciarlas. Tal vez pensando en la futura ampliación de la Corte y su permanencia en ella? Además, en varios casos formó mayoría pero con los ministros que habían sido designados en el período de facto anterior, lo que era imprevisto para el gobierno radical que lo había nombrado. Obsérvese que durante la Corte de 5 jueces (Corte nº 5), los fallos fueron unánimes en el 86,15 % de los casos, porcentaje que si bien alto refleja una tendencia a la baja respecto a las formaciones anteriores. Esa tendencia se hace mucho más marcada en inconstitucionalidades, 62,50 % y aún más en inconstitucionalidades de normas nacionales, el 57,14 %. Estos dos últimos porcentajes son los más bajos de todo el período investigado y denotan una profunda división en los ministros de la Corte sobre la cuestión del control de constitucionalidad. La división original, como era razonable esperar, se daba entre Orgaz y Villegas Basavilbaso que en algunos temas de interés para el gobierno votaron juntos en disidencia y los jueces nombrados por Frondizi (Oyhanarte, Boffi Boggero y Aráoz de Lamadrid). La novedad residió y resulta una de las ex- plicaciones plausibles para el aumento de ministros que impulso Frondizi, en que Boffi Boggero de notoria extracción radical y nombrado como juez “amigo” que formaría un tándem confiable junto a Oyhanarte y Aráoz de Lamadrid, no tuvo un comportamiento tan predecible. En algunos casos de interés para el gobierno -hemos detectado entre otros, algunos sobre temas tributarios en relación a resoluciones de la DGI- votó en mayoría junto a Orgaz y Villegas Basavilbaso. Boffi Boggero se debatía entre su filiación radical y su perfil “civilista” 11 y en algunos casos a pesar del gobierno, se imponía su perfil “civilista”, contrariando la visión de acompañamiento al ejecutivo que pretendía imponer Oyhanarte con su doctrina “sistémica” y su formación “publicista”. Durante la Corte nº 6 –7 jueces desde el 12.2.60 al 28.6.66- subieron las constitucionalidades un importante 13,23% y las inconstitucionalidades un 4,65% y bajaron mucho los rechazos por defecto formal, un importante 17,89%. Pero Boffi Boggero varió sustancialmente su comportamiento, batió records de abstenciones, disidencias y declaraciones de inconstitucionalidad. El aumento de ministros en la Corte lo había dejado en minoría, su perfil “civilista”y personalista 12 lo aisló de una Corte con mayoría de “publicistas” y que actuó en armonía con las necesidades del ejecutivo en un tiempo de alta fragmentación e inestabilidad política. Los fallos fueron unánimes en el 74 % de los casos, la marca más baja de todo el período investigado, para inconstitucionalidades un 71,05% y para inconstitucionalidades nacionales el 73,07%, también los porcentajes más bajos sólo superados por la formación anterior. Respecto al bajo porcentaje de unanimidades de esta formación (la más baja junto a la anterior), debe ser seguro reflejo de la producción de Boffi Boggero, pero también 264 deb considerarse la variada conformación de la Corte de esta época, lo que fue elogiado por los autores citados. Sin embargo hemos marcado pro y contra de una Corte de conformación “espejo” o reflejo fiel de las diferentes realidades político-sociales-económicoculturales y que genera una jurisprudencia con menor porcentaje de unanimidades. Cuadro Nº 7 Comparativo de votos de Petracchi. (1) Corte nº 10 Preampliación Abstenciones** 7% Disidencias 3% Mayoría 97% Inconstituc. 36% Constituc. 64% Corte nº 11 Postampliación 31% 18% 82% 39% 54% 1) La nº 10 se refiere a la Corte de Alfonsín hasta la ampliación de 1990 y la nº 11 a la Corte desde la ampliación impuesta por Menem hasta 1998 donde termino la recolección de datos. 11 12 Según Pellet Lastra ob.citada , pág.212 y 235. Según Pellet Lastra en su ob. citada pág.213 le llamó la atención de Boffi Boggero “...lo circunspecto de su figura y el empaque con que se manejaba. Su estilo se revelaba en cuanta publicación participaba, acompañando a su firma la mención completa de los títulos y honores recibidos ...figuró continuamente en los volúmenes de fallos con sus votos en disidencia , solitario , en un castillo inexpugnable.” Entrevistado por Pellet Lastra , en ob. citada pág.237 el ex ministro Aberastury que integró la Corte con Boffi Boggero opinó que era un hombre difícil , por lo que varias veces tuvo que actuar como componedor. ** Recordar que una abstención puede implicar una disidencia -encubierta- en un fallo no muy importante y por ello , existiendo mayoría en un sentido, el disidente no se molesta en elaborar su voto en sentido contrario. Cosa que sí haría en caso de ser la causa de trascendencia suficiente. Fuente de los cuadros estadísticos: Base de datos propia y “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. El propio Petracchi da una pista sobre los motivos de su paso de influyente a marginal: “...No tengo ningún problema en decir que yo redacté la Acordada 44/89. No solamente la hice entonces, sino que la volvería a hacer cuantas veces fuera necesario. No estoy para nada arrepentido, a pesar de que me trajo la desgracia permanente con el régimen de Menem. No dejaron “astracanada” ni “perrería” por hacerme y el origen fue precisamente esa acordada. No se perdonó que yo expresara mi pensamiento sobre esta solución antirrepublicana de que un presidente amplíe la Corte cuando asume...”13 Datos comparados sobre fallos unánimes con los Tribunales Constitucionales de Brasil, España y Canadá. No contamos con suficientes datos comparados que permitan confrontar estrictamente el alto grado de unanimidades de la Corte Argentina con el comportamiento del Tribunal Constitucional español, pero resulta significativo para una idea comparativa lo sostenido por el ex-presidente del Tribunal Constitucional español Tomás y Valiente “...el uso frecuente que todos los magistrados hacen del voto particular discrepante...” 265 Aún ignorando datos cuantitativos estrictos, se puede inferir un nivel de unanimidades menor en el Tribunal Constitucional español que el mostrado por nuestra Corte.14 Sí contamos con datos de la Corte Suprema de Canadá, que exhibe también porcentajes altos de fallos unánimes, similares a los de la Corte argentina. Cuadro nº 8 Datos comparados con la Corte Suprema de Canadá Apelaciones juzgadas 1994 a 2004: Unánimes/con disidencias 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Number of Judgments Split 31 36 27 32 22 20 Unanimous* 89 67 97 75 70 53 Total 120 103 124 107 92 73 2000 2001 2002 2003 2004 20 52 72 16 75 91 27 61 88 19 62 81 21 57 78 * All judges agreed in the disposition of the appeal. Unanimous Split (con disidencias) Percentage of unanimous judgments 89 67 97 75 70 53 52 75 61 62 57 31 36 27 32 22 20 20 16 27 19 21 74 65 79 70 75 73 72 82 69 76 73 Fuente: www.scc-csc.gc.ca. Web site de la Corte Suprema de Canadá. 13 En la Acordada nº 44/89 la Corte se queja ante los poderes ejecutivo y legislativo por no haber sido consultada respecto a la ampliación del número de ministros y expone además argumentos en contra de tal aumento. Cuatro Ministros de entonces la firmaron con la exclusiva disidencia de Caballero. Entrevista realizada por Pellet Lastra en su ob. citada , pág.463. 14 Francisco Tomás y Valiente, Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, pág.59, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. En promedio en los 11 años del período, el porcentaje de unanimidades fue del 73%. También para los procesos de admisión de los recursos de apelación contra la constitucionalidad de normas, (certiororari canadiense que presenta ciertas diferencias con el instituto americano) los niveles de unanimidad son muy altos. Sólo hubieron en este rubro un 2,5% de disidencias, o sea un 97,5% de unanimidades.15 También contamos con datos sobre la performance del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Cabe aclarar que los datos son sólo una referencia que permite a modo de presunción abrir un juicio comparativo, pues la medición tanto cualitativa como cuantitativamente, presenta diferencias metodológicas muy marcadas. De una investigación publicada en Análise-Justica16, que releva lo que denomina, las 110 decisiones más importantes del Supremo Tribunal Federal de Brasil entre 1998 y Mayo de 2006, surge que sólo en un 43% de esas decisiones se han obtenido votaciones unánimes. Incluso al menos una decena de esas sentencias han presentado muy reñidas votaciones sólo definidas por uno o dos votos. No puede afirmarse con rigor nada definitivo respecto a estos datos comparados desde que, fue dicho ya, las matrices metodológicas son diferentes17, pero, aún así, arrojan una fuerte presunción que requiere y merece una pesquisa más profunda, de una baja tasa porcentual de unanimidades en las sentencias del STF en términos comparados con otros Tribunales (Argentina y Canadá), lo que implicaría una débil seguridad jurídica y su correlato de endeble protección a la seguridad y dignidad humana. Una lectura hipotética posible, hasta tanto no se cuente con datos más extendidos en sus series diacrónicas, y que es la que sostiene el trabajo citado, es que el STF está acompañando el proceso político y económico de profundas transformaciones que está aconteciendo 266 en Brasil. Visto así, estas votaciones reñidas y los hipotéticos cambios jurisprudenciales que estarían generando, suplen la debilidad en la defensa de la dignidad humana preexistente y que estaría subsanando el STF con su jurisprudencia de la última década. Esta hipótesis se refuerza, con los datos de una investigación18 sobre el ejercicio del control de constitucionalidad entre Abril de 1964 hasta Marzo de 1967 durante el gobierno militar de Castello Branco, período en el cual los fallos unánimes rondaron el 85%. Se insiste en que deben tenerse en cuenta las diferencias metodológicas que sólo nos permiten hablar de presunciones u hipótesis de trabajo. Obsérvese que en la primer investigación citada se trata de una captura de las 110 decisiones que se consideran más importantes, lo que puede tener un alto grado de subjetividad en su selección. En el segundo trabajo son todas las sentencias sobre control de constitucionalidad –criterio similar a la investigación sobre la corte argentina sobre la que hemos trabajado-. Cambios de jurisprudencia. Otra perspectiva para analizar la cuestión de la búsqueda del consenso en el Tribunal, es observar qué tendencia se observa en relación a los antecedentes jurisprudenciales. 15 Según Roy B. Flemming, del Departmento de Ciencia Política de la Universidad de Texas en “Agenda Setting on the Supreme Court of Canada”: “…Virtually all of the panels’ decisions are unanimous; only 30 instances of a dissenting vote by a justice were found in the more than 1,200 applications with judgments that generated the data for this article.” 16 Análise-Justica, Editorial Análise, Sao Paulo, 2006. 17 Ver página 18, las pautas metodológicas del estudio citado. 18 Apoliano Dias, Francisco Geraldo, trabajo presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, mimeo. En general en los votos en minoría o disidencia eventualmente descansa el futuro cambio de jurisprudencia que puede generarse por diversas cuestiones. Un cambio en la moral media de la población que puede ser recogido por los jueces; un cambio de signo político y/o ideológico que, reemplazo mediante o tal vez sin él de los ministros del Tribunal, produce un cambio de sentido en la jurisprudencia sobre algún tema o materia legal en particular (los recientes fallos en materia laboral y previsional); un diferente contexto político y social que permite revisar sentencias anteriores generadas en contextos en extremo conflictivos (por ej. el reciente fallo “Simón”). En relación a la moral media de la población resulta peculiar la explicación de Petracchi en una entrevista citada en la nota al pie nº 2 de este trabajo a la cual remito. En el marco de las dificultades apuntadas para obtener mayoría en las sentencias, resalta el cambio de jurisprudencia notorio en materia laboral. Allí la tendencia parece sólida hacía una mayor protección de los derechos del trabajador, en detrimento de la liberalización de las reglas ordenatorias de la relación laboral que se impusieron en los ’90. Lo propio ocurre en materia previsional. Aún así los fallos más salientes en las materias referidas (Milone, Itzcovich, Sanchez), tampoco gozaron de decisiones unánimes y persiste el individualismo marcado por los votos propios de cada juez diferenciándose del resto, lo que suele tener, como ya dije, consecuencias concretas en los efectos del fallo. En materia de fallos sobre la legislación de emergencia económica, el vuelco ambiguo de “Bustos” (dada la precaria mayoría pesificadora alcanzada, considerando el fallo de Zaffaroni), en relación a sus antecedentes “Smith” y “San Luis”, también resulta un peculiar proceso de cambio de jurisprudencia, aunque mucho menos transparente y 267 sustentable que los ocurridos en materia laboral y previsional. Por ello el columnista del diario La Nación, Adrián Ventura, se preguntaba tiempo atrás en su columna “Temas de la Justicia”: “... la Corte ¿es una, a pesar de sus hombres? ¿O cambia tantas veces como se modifica su composición? Además, la jurisprudencia norteamericana, para apartarse de un precedente, debe fundamentarlo acabadamente. La justicia argentina puede moverse más libre y espasmódicamente, adoptando en poco tiempo posiciones que pueden parecer contradictorias.” La Corte actual ha producido en poco tiempo y con fallos que logran la mayoría esforzadamente, serios y variados cambios jurisprudenciales. Los cambios de jurisprudencia pueden suscitarse pues los jueces resultan intérpretes de las normas y las normas constitucionales resultan de amplitud y flexibilidad suficiente como para otorgar al intérprete opciones para solucionar los conflictos planteados. Por lo general existen posibilidades de elección que los jueces harán en relación a su ideología y subjetividad y también al contexto social, económico y político dentro del cual deben actuar.19 Pero los jueces deben al mismo tiempo ajustarse a lo que ya se ha decidido en el pasado y se ha institucionalizado en forma de precedentes jurisprudenciales.20 La doctrina del respeto a los precedentes o antecedentes jurisprudenciales cuenta con prestigiosos defensores. Cass Sunstein los ha defendido considerándolos puntos fijos en torno a los cuales debe desarrollarse el discurso jurídico-constitucional. 21 19 Cfr. Oyhanarte en “Historia del Poder Judicial” artículo publicado en “Todo es historia” 1972, pág.88. Ronald Dworkin vierte esta idea en “A matter of principle” en Harvard University Press, 1985, también en “Introduction the Moral Reading and the Majoritarian Premise” Harvard University Press, 1996. 21 Cass Sunsstein, “Legal reasoning and political conflict”, Oxford University Press, 1996, pag. 79/83. 20 En EEUU la jurisprudencia sentada por la Corte es obligatoria para los tribunales inferiores (“stare decisis”) mientras que en Argentina es casi igual, ya que si bien no hay “stare decisis” formal, si el tribunal inferior no aplica la jurisprudencia de la Corte, la parte afectada puede llegar hasta ésta e intentar con esa base la revocación de la sentencia. Además, lo usual es que los tribunales inferiores la apliquen –aun cuando no estén de acuerdo, en cuyo caso suelen dejar constancia de la opinión propia- y, finalmente, existen fallos de la Corte que señalan que los tribunales inferiores deben aplicar la jurisprudencia sentada por aquella. 22 En Europa, autores como Tomás y Valiente e Ignacio de Otto en España, y Alexy en Alemania abogan a favor de los precedentes y en todo caso quien pretenda apartarse de ellos tiene la carga de la argumentación.23 Contra las corrientes que sacralizan los antecedentes jurisprudenciales, se alzan las opiniones contra la denominada “tiranía del pasado”. Ideas que si bien se refieren a las características de la creación de las normas constitucionales, resultan de aplicación a la interpretación rígida que vincula la producción de un tribunal a sus antecedentes jurisprudenciales. Thomas Paine sostuvo que cada generación debe ser libre para decidir sin estar ligada a decisiones de las generaciones pasadas. “Son los intereses de los vivos y no de los muertos los que deben protegerse”. Jefferson dijo que “la tierra pertenece a los vivos no a los muertos”; “los muertos no tienen derechos no son nada”.24 Actual pero recogiendo aquellas ideas, Rubio Llorente afirma que “la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas.” 25 ¿Qué ocurrió en materia de respeto a la jurisprudencia en nuestra Corte Suprema? ¿Existen acaso numerosos antecedentes de cambios jurisprudenciales en las sen268 tencias de la Corte en períodos anteriores? Nuevamente acudimos al auxilio de los datos empírico-cuantitativos que nos permitan efectuar comparaciones sustentables, para analizar las tendencias y novedades en la producción de la Corte con su nueva formación y en pos de superar la mera opinión subjetiva. Basándome en la investigación ya referida que abarcó el período 1935-1998 y siempre considerando los fallos en los cuales la Corte se expidió sobre control de constitucionalidad de normas emanadas de los poderes ejecutivos y Legislativos tanto nacional como provinciales, tenemos que se han observado varios cambios de jurisprudencia en leyes nacionales y provinciales, aunque se debe alertar al lector que tales cambios pueden no serlo en rigor dado que en algunos fallos de la Corte no se individualiza el artículo en cuestión y sólo se hace una referencia genérica a la ley por lo que resulta posible que los fallos se refieran a artículos diferentes que tratan sobre temas distintos. También es posible que aún tratándose del mismo artículo de la misma ley los fallos presenten matices distintos o traten aspectos y/o circunstancias distintas. Por ello deben considerarse los datos de estos cuadros con prudencia y como una primera aproximación a la cuestión de la evolución y cambios jurisprudenciales aconte22 Molinelli et al, en el proyecto UBACYT, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a los poderes políticos, a través del control de constitucionalidad, 1983-98”,1999, mimeo, Instituo A,Gioja, pág. 2. 23 Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, págs.535/540. 24 Citas extraídas de Victor Ferreres Comella, Justicia constitucional y democracia.; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pág.107/108, 1997. 25 Rubio Llorente, La Constitución como fuente del Derecho, en La forma del poder, Centro de Estudios Constitucionales, pág.87, Madrid, 1993. cidos en el período investigado. El tema merece un análisis más cualitativo viendo cada fallo citado en los cuadros y chequeando a qué artículos se refiere la inconstitucionalidad y las circunstancias de cada caso.26 En el cuadro nº 9 se observan los cambios jurisprudenciales en leyes nacionales. Se han detectado 12 normas sujetas a cambios y algunas con más de un cambio en uno y otro sentido (de constitucional a inconstitucional y viceversa). Resultaría interesante profundizar la investigación presentada en estos cuadros observando circunstancias políticas que puedan haber influido en los cambios de jurisprudencia. En un trabajo, un grupo de investigadoras27, ha detectado que varios casos de cambio de jurisprudencia presentan interesantes connotaciones politológicas coincidiendo los mismos con cambios de gobierno y por ende dado el período que abarca la investigación, con cambios en el elenco de Ministros de la Corte. Por ejemplo respecto de la ley penal nº 4144, además de variar la jurisprudencia a partir del cambio en la composición de la Corte posterior al juicio político de 1947, se consolidó dicha variación a partir de la reforma constitucional de 1949 que incluyó en el artículo 31 la facultad de expulsar extranjeros para el poder Ejecutivo. La ley otorgaba dicha facultad al Ejecutivo y había sido declarada inconstitucional por la Corte pre Perón (nºs.65 a 69), la Corte nº 71 a 73 durante el período peronista la declara constitucional. El art. 2 de la ley 11.729 (crea un régimen favorable a los empleados de comercio para indemnizaciones por despidos, accidentes etc.) resulta ser un caso sumamente interesante. Tratándose de legislación laboral que mejora la situación jurídica de los trabajadores, fue declarado inconstitucional durante el gobierno de Justo, luego fue declarado constitucional durante el gobierno de Perón. Lo interesante es que la Corte previa a la destitución por juicio político, integrada con dos jueces que habían votado 269 por la inconstitucionalidad de la norma durante el gobierno de Justo (Sagarna y Nazar Anchorena), ahora durante la presidencia de Perón y en marcha el juicio político cambian su voto y declaran la constitucionalidad del artículo. ¿Presión del Ejecutivo o cambio del contexto sociopolítico que hizo trocar la idea de los jueces? Luego la Corte, ya integrada por los nuevos Ministros designados después de la destitución por el juicio político, continuó con la jurisprudencia que consideró constitucional al artículo en cuestión. El caso del art. 10 inc.h) de la ley 12612 (crea la Caja de Jubilaciones de la Marina Mercante) presenta la peculiaridad que si bien la conformación de la Corte era básicamente la misma, emitió un fallo en un sentido antes del golpe militar de 1943 y otro en el sentido contrario con posterioridad a 1943, siendo los hechos juzgados similares. El art. 28 de la ley 13.264 (fija costas en casos de expropiación) fue declarado constitucional durante los gobiernos civiles de Perón y Frondizi e inconstitucional durante el gobierno de facto de Aramburu. 26 Los investigadores interesados en este rubro pueden consultar en “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (19351998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, las listas nº 1 y 2 y los casos involucrados. 27 Un equipo de tres investigadoras junior, Sztajn, Nicolini y Rhode, dirigidas por el autor de este trabajo , realizó un estudio cualitativo sobre los cambios de jurisprudencia en leyes nacionales, observando que por las características fácticas propias de cada caso, se hace difícil considerar a todos los cambios de jurisprudencia detectados como tales sin ningún reparo o advertencia. Tampoco pueden dejar de señalarse las distintas decisiones de la CSJN, pues las circunstancias fácticas y su interpretación suelen resultar subjetivas o rodeadas de un contexto social y político distinto. Por ello para observar los cambios de jurisprudencia hay que tener en cuenta que las circunstancias fácticas distintas en muchos casos hacen complicado plantear sin más que se trata de tal cosa. El art. 13 de la ley 14.397 (establece beneficios jubilatorios) fue declarado inconstitucional durante el gobierno de Illia y constitucional después del golpe que lo derrocó. El cuadro nº 9 bis muestra los cambios jurisprudenciales en el período desde diciembre de 1983-1998. Si bien escasos, hay dos leyes en donde la jurisprudencia ha cambiado al ampliarse la Corte a nueve miembros. Además en el caso del art. 53 de la ley 18.037 se observa un cambio de jurisprudencia en relación al período 1935-1983, donde también se lo había considerado inconstitucional coincidiendo con la Corte pre-ampliación. Cuadro Nº 9: Cambios de jurisprudencia respecto a leyes nacionales.1) Ley 4144 -Materia PenalDeclarada inconstitucional en 4 casos: nº 470, Corte nº 68; nºs.496 , 497 y 504 , Corte nº 69. Cambia a constitucional en 6 casos: nº 547, 621, Corte nº 71; nºs.648, 649, 680 y 682, Corte nº73. Ley 10676 arts.71-73-75- Materia CivilDeclarada constitucional en caso nº 38, Corte nº 65. Cambia a inconstitucional en casos nº 116 y 118, Corte nº 65. Cambia a constitucional en caso nº 432, Corte nº 68. Ley 11.287 art.3 -Materia TributariaDeclarada inconstitucional en 1 caso: nº 40, Corte nº 65. 270 Cambia a constitucional en 1 caso: nº 347, Corte nº 66. Ley 11.287 art.30 –Materia TributariaDeclarada inconstitucional en casos nº 183 y 247, Corte nº 66. Cambia a constitucional en caso nº 265, Corte nº 66. Cambia a inconstitucional en caso nº 628, Corte nº 71. Ley 11287 s/identificación de artículo –Materia TributariaDeclarada constitucional en caso nº 429, Corte nº 68. Cambia a inconstitucional en caso nº 468, Corte nº 68. Cambia a constitucional en caso nº 638, Corte nº 72. Cambia a inconstitucional en caso nº 978, Corte nº 83. Ley 11729 art. 2 –Materia LaboralDeclarada inconstitucional en casos nº 29, 36 y 60, Corte nº 65. Cambia a constitucional en casos nº 518, Corte nº 69; 557 Corte nº 71 y 701, Corte nº 73. Ley 11729 s/identificación de artículo -Materia LaboralDeclarada inconstitucional en caso nº 74, Corte nº 65. Cambia a constitucional en caso nº 88 Corte nº 65 y caso nº 527 Corte nº 69. Cambia a inconstitucional en caso nº 653 Corte nº 73. Ley 12591 art.9 – Materia ComercialDeclarada inconstitucional en caso nº 397, Corte nº 66. Cambia a constitucional en caso nº 405, Corte nº 68; casos nº 521 y 525, Corte nº 69. Ley 12612 art.10 –Materia Comercial-AduaneraDeclarada inconstitucional en caso nº 246, Corte nº 66. Cambia a constitucional en caso nº 461, Corte nº 68. Ley 13264 art.28 – Materia CivilDeclarada constitucional en caso nº 667, Corte nº 73. Cambia a inconstitucional en casos nº 856 y 866, Corte nº 76 . Cambia a constitucional en caso nº 957, Corte nº 80. Ley 14397 art.13 -Materia PrevisionalDeclarada inconstitucional en caso nº 1089, Corte nº 81; caso nº 1093, Corte nº 82; caso nº 1172 , Corte nº 84. Cambia a constitucional en caso nº 1360, Corte nº 86. Ley 20744 art.276-Materia LaboralDeclarada constitucional en casos nº 1625 y 1645, Corte nº 95. Cambia a inconstitucional en casos nº 1659, 1666, 1668, 1690, 1691, 1699, 1700, Corte nº 97; casos nº 1708, 1721, 1740 y 1769, Corte nº 99. Fuente: “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires. Los investigadores y lectores interesados deberán consultar la fuente en la que se indican 271 los nº de casos según orden de listas nº 1 y 2 y el nº de Corte según cuadro nº 1. Cuadro Nº 9 bis.(1983-1998). Cambios de jurisprudencia respecto a leyes nacionales Ley 20771 art.6, (Uso-tenencia marihuana) INC, en 2 casos, Corte, pre-ampliación, a CO , en 1 caso , Corte, post-ampliación, Ley 18037 art.53 (Seguridad Social) INC, en 1 caso, Corte, pre-ampliación, a CO, en 1 caso, Corte, post-ampliación, Ley 23892 (Consolid.deuda pública) INC, en 1 caso, Corte, post-ampliación a CO , en 1 caso, Corte posta INC, en 1 caso , Corte posta CO, en 1 caso , Corte post- Fuente: “La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)”, Jorge Bercholc, Ediar, 2004, Buenos Aires, listas 1 y 2 y Cuadro nº 1. Los investigadores y lectores interesados deberán consultar la fuente en la que se indican los casos según orden de lista nº 3. Comentarios finales La tendencia que se observa en la producción de la Corte (sus sentencias) con su nueva conformación, nos permite presumir que existen serias complicaciones a fines de la obtención del consenso mínimo necesario para su cometido. Hemos visto que hay evidencias serias de un comportamiento del Tribunal sumamente fragmentado, con votos muy personalizados, lo que no resulta indiferente en su tarea esencial de revisión judicial y de cabeza de uno de los poderes del Estado. Además dichas dificultades, observables a través de la proliferación de disidencias y votos según cada ministro, tiene un correlato directo en las características objetivas de cada decisión. La falta de acuerdos mínimos, puede dar como resultado, sentencias ambiguas que no resuelven o dejan a mitad de camino las soluciones que se esperan del Tribunal. Hemos señalado hipótesis explicativas de lo observado, que en cierto modo descargan a la Corte de algunas responsabilidades reprochables de tal fenómeno. De cualquier modo, lo que hoy se observa como presunción o tendencia nueva, en tanto no se corresponde con la producción histórica del Tribunal, tal cual indican las estadísticas analizadas, merece ser seguido con atención pues se pueden generar consecuencias institucionales de envergadura y dirección difíciles de anticipar. Paralela y paradójicamente, el Tribunal de consensos difíciles y volátiles, ha producido en poco tiempo, (se completó su formación en febrero de 2005) varios y profundos cambios jurisprudenciales en temas sensibles tanto en materia patrimonial (la272 boral, previsional y de emergencia económica) como en temas de trascendencia política y social (revisión de las leyes de punto final y obediencia debida), lo que tampoco ha sido característico en el Tribunal, según nos muestran los datos empírico-cuantitativos volcados en este trabajo. Una Corte Suprema con dificultad para obtener consensos, con un elenco de jueces de características técnicas heterogéneas e incongruentes, como he puntualizado en otro trabajo28, y que produce, a pesar de lo dicho, serios y variados cambios de jurisprudencia. Un escenario con datos “duros”, al que habrá que seguir analizando con detenimiento y observando las consecuencias que la Corte Suprema de Justicia provoca con sus sentencias en el sistema político y en la sociedad, considerando los criterios de gobernabilidad y seguridad jurídica. 28 Artículo en la Revista de Derecho Público nº 2005-1, título: “Aportes para una selección coherente y congruente de los Jueces de un Tribunal Constitucional. El caso de la Corte Suprema en la Argentina y sus recientes modificaciones”, Editorial Rubinzal-Culzoni. Mayo 2005. Dignidad humana y Mercosur Sandra C. Negro1 Cuando reflexionamos sobre la dignidad humana, referencia ética radical, y sobre el compromiso justo que corresponde a las sociedades bien ordenadas, no estamos describiendo una realidad sino un deber ser, en cuyo edificio la dignidad humana es un referente inicial, un punto de partida y también un horizonte final, un punto de llegada. (Gregorio Peces-Barba Martínez)2 Resumo Este trabalho tenta encontrar respostas para a seguinte pergunta: Qual é a recepção que o conceito de dignidade tem recebido no domínio da integração subregional? Ou seja, enquanto no campo da filosofia e da ética se reflete sobre o alcance do conceito de dignidade humana e sua relação com os princípios gerais, cabe perguntar sobre a relação entre este conceito e o tratamento dado a ele em âmbito do processo de integração iniciado em 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Além disso, este trabalho centra-se sobre a individualização dos instrumentos jurídi- 273 cos do Mercosul para a dignidade humana e de aspectos relacionados a ela. Duas áreas são examinadas: a dimensão social e o marco regulatório para a adesão de novos Estados. Palavras-Chave: Dignidade Humana. Mercosul. Resumen Este trabajo intenta encontrar respuestas al siguiente interrogante:¿Cuál es la recepción que el concepto de dignidad ha tenido en el ámbito de la integración subregional?. Es decir si bien en el ámbito de la filosofía y de la ética se ha reflexionado sobre el alcance del concepto de dignidad humana y su relación con los principios generales, cabe preguntarse acerca de la relación entre este concepto y el tratamiento acordado al mismo en el ámbito del proceso de integración iniciado en 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Más aún, este trabajo se orienta en la individualización en los instrumentos jurídicos del MERCOSUR de la dignidad humana o de aspectos relacionados con ella. Dos áreas son analizadas: la dimensión social y el marco regulatorio para la adhesión de nuevos estados. Palabras clave: la dignidad humana. Mercosul. 1 Doctora en Derecho (UBA). Investigadora principal del CEIDIE. Profesora de Derecho de la Integración Regional en la Universidad de Buenos Aires a nivel de grado y posgrado. 2 Peces, Gregorio, Barba- Martínez, El concepto de dignidad humana, la política y el derecho. La dignidad de la persona desde la filosofía al derecho, Dykinson S.L., 2004. El Objetivo del Proceso de Integración El MERCADO COMUN DEL SUR (de aquí en adelante MERCOSUR) surgió como consecuencia de la necesidad de avanzar en los esfuerzos de integración iniciados en las décadas anteriores y en particular en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960 y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980. Es decir que el Tratado de Asunción a partir del cual se constituyó el MERCOSUR, tuvo como antecedentes , en el ámbito regional, dos experiencias con una fuerte impronta puesta en el objetivo económico y la liberalización de los intercambios regionales -aunque con disímil éxito-como lo fueron la ALALC y la ALADI. En este contexto, la primera apreciación consiste en destacar la primacía del objetivo económico en la etapa fundacional del MERCOSUR en particular, puede señalarse el artículo 1º del Tratado de Asunción y la ausencia de una expresa referencia a la dignidad humana en el articulado del tratado constitutivo. No obstante, el Preámbulo referir a “la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes;.”, los primeros años de vida del MERCOSUR el énfasis estuvo `puesto en el objetivo económico. La dimensión social del MERCOSUR 274 No obstante, se observa un cambio a partir de 2003 que se plasma en la inclusión de la dimensión social del MERCOSUR. Entre los instrumentos más significativos de la nueva etapa pueden mencionarse: la Declaración de Asunción denominada “Hacia un MERCOSUR Social como instancia articuladora de las Políticas Sociales en la Región”, firmada el 1º de junio de 2005, la Declaración de Montevideo del 25 de noviembre de 2005 y la Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y social” del 14 de julio de 2006. La suscripción de la Carta de Montevideo firmada en el año 20073. propone un “desarrollo económico” al que califica de “equilibrado y justo” y a tal efecto señala la necesidad de evitar “la disociación entre los aspectos económicos y sociales” del MERCOSUR. Y se menciona expresamente a la dignidad vinculada estrechamente con el futuro de los pueblos en los siguientes términos: “Todos los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR estamos comprometidos en la tarea ineludible de forjar un presente de dignidad para nuestros pueblos”. La declaración expresa abiertamente la lucha contra la exclusión social, entendiendo que la pobreza y la marginación son las formas en que se hace evidente dicha exclusión. En este contexto es que se incluye la Dimensión social de la Integración regional como un espacio inclusivo de fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y de la democracia. Desde el punto de vista de la estructura orgánica del MERCOSUR es a partir del año 2000 que se institucionaliza la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (RMADS) y que ha incorporado sucesivamente a representantes de los Estados Asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En este ámbito han sido adoptadas las Declaraciones precedentes. 3 Declaración de Principios del MERCOSUR Social aprobada en Montevideo el 23 de noviembre de 2007 en ocasión de la XIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social. A nivel de los Jefes de Estado, el instrumento significativo en la nueva etapa abierta en el 2000 es la “Declaración de los Presidentes del MERCOSUR, Iniciativa de Asunción sobre Lucha contra la Pobreza Extrema”. Comparativamente, si la mirada al concepto de dignidad humana se realizará a la luz de la evolución en el proceso de integración europea, cabe considerar tres piezas jurídicas fundamentales, la Carta de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (1989), la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales (2000) y el texto del Tratado de Lisboa4. Las dos primeras piezas jurídicas constituyen compromisos políticos no vinculantes. No obstante si entrara en vigencia el Tratado de Lisboa, se le reconocerá a la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales idéntico valor a los Tratados. La Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores fue adoptada por el Consejo Europeo de Estrasburgo de 1989. Es un acto dirigido a los Estados Miembros y a las Instituciones Comunitarias con la finalidad de que los principios contenidos en la Carta resulten considerados en la elaboración de actos jurídicos. A su vez, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea elaborada durante 1999, proclamada en Niza en el año 2000 y proclamada – por segunda vez-en diciembre de 2007, incorpora la síntesis de los valores comunes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y, reúne en un solo texto los derechos civiles y políticos clásicos, así como los derechos económicos y sociales. El objetivo está previsto en el preámbulo: «Por ello, es necesario, dotándolos de mayor presencia en una Carta, reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos». En el capítulo 1 de la Carta5 se menciona expresamente a la dignidad tanto en la 275 denominación del capítulo como en su contenido pues se contemplan dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado. La Carta implicará mayor seguridad jurídica en materia de derechos fundamentales que hasta el presente son observados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia6 y en el artículo 6 del Tratado de la UE. Desde el punto de vista del tratamiento de la dignidad en el marco de un objetivo social del proceso, no puede soslayarse la consideración de la Política de Cohesión Económica y Social ( el Tratado de Lisboa amplia el alcance al incluir a la Cohesión Económica, Social y Territorial). La cohesión económica y social estuvo prevista inicialmente en el Tratado de Roma (1957), cuyo preámbulo señala las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones. En consecuencia, se emprendieron diversas acciones comunitarias con el fin de coordinar y completar desde el punto de vista económico los instru4 El nuevo Tratado de reforma firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, debía entrar en vigor el 1 de enero de 2009 –previa ratificación en los Estados miembros-,modifica el Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que es renombrado como Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 5 La Carta incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos: 6 Por primera vez, en su sentencia de 27 de junio de 2006 relativa a la Directiva sobre la reagrupación familiar (Asunto C-540/03), el Tribunal de Justicia hizo una referencia explícita a la Carta y destacó su importancia puede consultarse información adicional en http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm fuente consultada el 21/8/09. mentos nacionales. Posteriormente, en 1986, el Acta Unica Europea la incluyó como objetivo y el Tratado de Maastricht en 1992, la incorporó como política.7 (artículos 158 a 162). En el marco de actuación de la política de cohesión económica y social, los recursos para su financiación provienen de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Para el período 2007-2013, se ha adoptado un nuevo plan en el cual se prevé que la política y la aplicación de los fondos estarán destinados a atender problemas en materia de crecimiento económico y empleo, apoyando también a las regiones que no hayan completado aún su proceso de convergencia real o bien en zonas geográficas que se enfrentan a dificultades estructurales específicas (zonas industriales en proceso de reconversión, zonas urbanas, rurales o dependientes de la pesca, zonas con serias desventajas naturales o demográficas)8. El proceso de adhesión en el Mercosur Otra perspectiva desde la cual puede analizarse el tratamiento del tema, está relacionada con los requisitos para la adhesión de los nuevos estados o sea la ampliación o incorporación al proceso de integración regional en marcha. Es decir, observar si entre los requisitos formales está contemplada en forma explícita o implícita una referencia a la dignidad y a los valores y/o principios que conlleva como elementos incorporados a las bases jurídicas del proceso. En el caso del Mercosur, el artículo 20 del Tratado de Asunción prevé que el mis276 mo estará abierto a la adhesión mediante negociación, de los demás países miembros de ALADI, cuyas solicitudes sólo podían ser examinadas a partir de transcurridos cinco años desde la entrada en vigencia del Tratado de Asunción. Se considera que el segundo párrafo del artículo ha quedado derogado porque contemplaba la hipótesis de que un país no miembro de ALADI ni de ningún esquema de subregional o asociación extrarregional hubiese podido solicitarla con anterioridad al plazo previsto en la primera parte de este artículo. Transcurrido los plazos establecidos sin que mediara ninguna solicitud, esa parte de la disposición ha perdido vigencia y aplicación. 7 “La cohesión económica y social se aplica esencialmente a través de la política regional de la Unión Europea. Junto con la reforma de la política agrícola común y la ampliación a los países de Europa Central y Oriental en 2004, la política regional había constituido uno de los principales puntos de la Agenda 2000, que abarcaba el período 2000-2006, debido fundamentalmente a sus repercusiones financieras.”V. http://europa.eu/scadplus/glossary/economic_social_cohesion_es.htm consultada el 22-8-09. 8 Para el examen o para una profundización de los contenidos y alcance de la política de cohesión económica y social pueden consultarse los siguientes trabajos: Negro,Sandra C. “Integración y desequilibrios regionales: Participación, principios y diseños de políticas” ( páginas 107-122) publicado en la obra “La Cohesión social en Iberoamérica” Francisco Aldecoa Luzárraga y Joaquim-j Forner Delaygua ( Coordinadores), Marcial Pons, AECI, AEPDIRI, Obra Social Caja de Madrid, Instituto Hispano. Luso-Americano de Derecho Internacional, Secretaría General Iberoamericana, Fundación Carolina, FIIAPP, Madrid, 2008. y Negro, Sandra C. “Integración y Desequilibrios Regionales en la Unión Europea: Cohesión Económica y Social. Fondos Estructurales” (pág.221244).en la obra Derecho, Desarrollo y Sistema Multilateral del Comercio, Coordinadores Welber Barral y Carlos Correa. Coedición Universidad Federal de Santa Catarina y Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fundación Boiteux, Florianopolis, 2007. La República Bolivariana de Venezuela, en el año 2005, manifestó su decisión política de incorporarse representando el primer país en solicitarlo. A raíz de esta solicitud, el Consejo Mercado Común aprobó la Dec. N° 28/05 en la cual se contempla específicamente cuál es el marco jurídico que deberá ser aceptado por el país candidato a la adhesión. Marco jurídico común para la incorporación Así formarán parte del marco jurídico al cual deberá adherir el país candidato a la adhesión en su carácter de normas primarias: a) Los tratados constituyentes, incluidos anexos y protocolos, así como sus posteriores enmiendas. Están en la base de la construcción jurídica y contienen los principios jurídicos fundamentales sobre los objetivos, la organización y el funcionamiento de las instituciones o de los órganos que habrán de regir a este nuevo sujeto- el esquema de integración- y a las relaciones del mismo con los Estados partes y con el resto de la comunidad internacional. Se crea un marco de actuación y un marco jurídico que habrá de ser completado posteriormente por los órganos o instituciones en uso de las competencias que les han sido delegadas. b) Los tratados de adhesión que regulan la incorporación de nuevos miembros. c) Los tratados internacionales con terceros Estados o con otros esquemas de 277 integración, se trate de acuerdos de cooperación o de asociación. d) Los acuerdos de Derecho Internacional entre Estados miembros. e) Los principios generales de derecho, o sea las normas que traducen la concepción esencial del derecho y de la justicia a la que debe obedecer todo el ordenamiento creado. Los principios generales permiten cubrir las lagunas existentes o desarrollar el derecho existente. En el caso comunitario europeo, la aplicación a casos concretos de estos principios se evidencia al aplicar las normas o mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CE. Estos principios están relacionados con los principios generales de derecho reconocidos en los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros. Asimismo forman parte del plexo normativo secundario las normas creadas por los órganos o instituciones de cada proceso de integración. Estas normas son adoptadas a partir de la actividad desarrollada por los órganos o instituciones del proceso de integración regional. Las competencias de las instituciones y su capacidad para la adopción de normas están establecidas en el tratado constitutivo a través del otorgamiento de competencias expresas o bien por vía de las competencias implícitas. El conjunto normativo pre existente constituye el “acquis communautaire” en términos del derecho comunitario o “acervo comunitario”, es decir la necesidad de que el país adherente reconozca y acepte el derecho tanto de fuente primaria como secundaria existente al momento de la incorporación. Es en torno a los principios generales de derecho, donde puede observarse la vinculación con el tema de la dignidad humana y los valores y principios. En la experiencia europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido como principios generales de derecho9a: -principio de igualdad, en el sentido de prohibición de la discriminación o principio de no discriminación en razón del sexo o la nacionalidad. -formas de responsabilidad extracontractual de la Comunidad Europea(CE) por los daños ocasionados por sus instituciones o agentes, -principio de proporcionalidad10, según el cual las normas de Derecho comunitario deben ser adecuadas y necesarias en función del objetivo que persiguen y la carga total que originan para las personas afectadas no debe ser excesivamente gravosa en relación con los intereses comunitarios que se protegen; -principio de la protección de la confianza legítima11, según el cual los ciudadanos de la Comunidad y las empresas cuentan con la estabilidad de las condiciones marco creadas por el Derecho comunitario y las modificaciones posteriores de dichas condiciones sólo pueden tener carácter retroactivo cuando lo exijan importantes intereses comunitarios y en la medida que se respete convenientemente la confianza legítima de los interesados; -principio ne bis in idem (prohibición de doble penalización), según el cual las sanciones anteriores, especialmente las de carácter nacional, deben ser tenidas en cuenta por las instituciones de la Comunidad cuando dictan una nueva decisión sancionadora; -principio del efecto útil12, según el cual toda norma debe ser interpretada en el sentido de hacer posible el logro del objetivo. -la solidaridad13tanto en el ámbito interno en las políticas de cohesión económica 278 y social o en la política social así como en las relaciones con Terceros Estados de menor grado de desarrollo relativo. -la protección de los derechos fundamentales. En cuanto al Mercosur, Ricardo Lorenzetti14 distinguió entre principios denominados “estructurales” y “ procedimentales”. Respecto de los primeros sostiene que “estos principios son mencionados como presupuestos esenciales para el proceso de integración”, y “son estructurales en el sentido de que conforman la integración, forman parte de ella, son sus pilares. No tiene un destinatario específico, sino indeterminado, de modo tal que todos los sujetos resultan obligados”. Enumera a los siguientes: - Respeto del orden democrático; - Respeto de los derechos humanos; - Desarrollo económico con justicia social; - Protección ambiental; - Transparencia en el Mercado 9 A los principios generales de derecho también se los denomina derecho comunitario no escrito V. Guy Isaac op cit.. 10 V. Este principio en sentencia del 21 de junio de 1979, causa 240/78, caso Atalanta; sentencia del 18 de marzo de 1980, causas 26 y 86/79, causa Forges de Thy Marcinelle 11 V. Sentencia del 16 de mayo de 1979, causa 84/78, caso Tomadini y del 14 de febrero de 1990, causa 350/88, Delacre et al. C. Commissione. 12 Sentencia del 15 de julio de 1963, causa 34/62, República Federal de Alemania c. Comisión 13 Sentencia del 7 de febrero de 1973, asunto 39/72 Comisión c. Italia, Rec. 1973, pág. 115 y ss. 14 Lorenzetti, Ricardo L., Sistema Jurídico del MERCOSUR en La Ley 1998-E, 1258-LLP. El autor citado completa esta clasificación analizando los principios “procedimentales” (expresa que estos se refieren al ritmo, al tiempo y la manera que los Estados se acercan[a los objetivos] y sostiene que una vez alcanzados los objetivos, desaparecen). Entre ellos: -gradualidad, -reciprocidad, -solidaridad. Se podría concluir que dentro del marco regulatorio de la incorporación, la aceptación de estos principios conduciría al Estado adherente a formar parte de un espacio jurídico (MERCOSUR) en el cual la observancia de los principios generales del derecho, implicaría un reconocimiento de la dignidad humana en los términos que la normativa refiera a ella y conllevaría a la aceptación de lo actuado por los órganos del MERCOSUR y de sus decisiones. Conclusiones Como puede constatarse de lo anteriormente expresado si bien la relación dignidad humana- MERCOSUR no ha sido ajena al mismo, los pasos adoptados al respecto han sido fragmentarios aunque, sucesivamente, se han vuelto más ambiciosos. La instancia abierta desde el año 2000 con el replanteo del objetivo económico 279 y la introducción de la denominada “dimensión social” ha brindado un espacio más amplio a la noción de desarrollo integral en el cual elementos y situaciones como la exclusión social en términos de pobreza y marginación pretenden ser superados. En otros términos, en el ámbito de los procesos de integración económica se transita por sucesivos estadios que no implican siempre una vocación de cooperación, pero en los cuales las cuestiones inherentes a la dignidad de la persona como elementos de la estrategia y política del bloque regional, debieran ocupar un necesario lugar. La pregunta clave es cómo se puede concentrar este potencial para acelerar la actuación de los órganos del proceso de integración regional y la creación de los consensos necesarios para la implementación de las políticas adecuadas o necesarias. El camino recorrido por la experiencia europea ha sido, a partir de las normas y de la estructura institucional, la implementación de políticas y los fondos necesarios que permitieran dar respuestas en torno a las disparidades existentes entre países y regiones. La política de cohesión económica y social no puede resultar asimilable a su antecesora la política regional ni a su sucesora -prevista en el Tratado de Lisboa- la política de cohesión económica, social y territorial. Cada una de ellas implicó un mayor compromiso en la eliminación de dichas disparidades haciendo frente a las sucesivas adhesiones y en la búsqueda del objetivo del desarrollo integral. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CE constituye el bastión fundamental en la interpretación de los principios generales y en los derechos contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales. Probablemente, la seguridad jurídica se incrementará cuando entre en vigencia el Tratado de Lisboa y con él la mencionada Carta. En lo concerniente a MERCOSUR, la incorporación de la dimensión social al proceso ha permitido que se encontrara un lugar para debatir acerca de temas acuciantes como el de la exclusión social relacionados con la dignidad humana y la inequidad en la distribución . Se puede concluir que ha sido un paso necesario pero no suficiente. A la luz de las realidades de los países de América Latina cobra relevancia la existencia en las normas de incorporación de nuevos estados al bloque, la necesidad de que cada candidato acepte el acervo comunitario del proceso de integración regional y en cuanto a los principios generales reconozca en el MERCOSUR una herramienta para garantizar la observancia de los mismos. Finalmente, sólo si los Estados Parte son capaces de articular una estrategia conjunta, basada en una cooperación muy estrecha o aún mas en una integración regional fortalecida, podrían generalizarse los beneficios de la inclusión de la dimensión social a la luz de los valores y principios generales del bloque y en particular, el respeto por la dignidad humana en forma más completa. Referências Bibliográficas Ciuro Caldani, Miguel A. (Coord. )., Del Mercosur, Ediciones Ciudad Argentina, 1996. Guy, Isaac, Manual de Derecho Comunitario General, Ariel Derecho, España, 1981. López Garrigo, Diego, El Tratado de Maastricht, Eurojuris, 1992. Midón, Mario, Derecho de la Integración, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998. Molina del Pozo, Carlos (Coord.), Integración Eurolatinoamericana, Ediciones Ciudad Ar280 gentina, Buenos Aires, 2ª edición, 1998. Tamames, Ramón, La Unión Europea, Alianza Editorial, Madrid, 1996. Tamames, Ramón y Begoña, Huerta, Estructura Económica Internacional (20 edición), Alianza Editorial, Madrid, 2003. Tugores Ques, Juan, Economía Internacional e Integración Económica, Cúspide Mc Graw Hill, 1993. Os Entendimentos Internacionais e a Participação Brasileira nos Acordos em Relação ao Aquecimento Global1 Carla Pentagna2 Resumo Este trabalho acadêmico apresenta uma breve resenha sobre aquecimento global, meio ambiente, protocolo de Kyoto e tratados internacionais, esclarecendo a forma pela qual se deu o surgimento da construção acadêmico científica, com o seu principal viés dentro do campo jurídico, na construção do conceito de Aquecimento Global, sua classificação e natureza jurídica, e de que forma o Brasil participou deste eventos. Palavras-chave: Aquecimento Global, Tratados Internacionais, Constituição, Protocolo de Kyoto. Abstract This scholarly work presents a brief review on global warming, environment, Kyoto Protocol and international treaties, stating the manner in which it was appeared the acade- 281 mic science building, with its main bias in the legal field, the construction of the concept of Global Warming, its classification and legal nature, and how Brazil participated in these events. Keywords: Global Warming, International Treaties, Constitution, Kyoto Protocol. Introdução Em tempos hodiernos, muito se tem falado em todos os veículos de comunicação, a despeito dos futuros efeitos maléficos do aquecimento global. Todavia, a preocupação relativa com a preservação do meio ambiente e as conseqüências globalizantes do efeito estufa passaram a contar da agenda internacional do Direito a partir dos anos 1970. Este trabalho propõe-se a esclarecer a forma pela qual se deu o surgimento da construção acadêmico científica, com o seu principal viés dentro do campo jurídico, na construção do conceito de Aquecimento Global, sua classificação e natureza jurídica, e de que forma a legislação brasileira recepciona ou ainda compreende tal fenômeno. 1 Artigo Científico apresentado para a conclusão do Bacharelado em Direito da Faculdade de Direito de Valença, do Centro de Ensino Superior de Valença, da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, orientado pelo Prof. Antonio D’Elia. 2 PENTAGNA, Carla. Bacharel em Direito da Fundação Educacional Dom André Arcoverde e Mestranda em Direito da UNIPAC-JF. E-mail: [email protected] Aquecimento Global - Conceitos e Fundamentos As primeiras discussões apontam-se pelo início das tratativas internacionais a celebração do ano geofísico internacional3, passando a existir uma maior preocupação em relação à construção de uma rede tanto de consultas quanto aos efeitos danosos ao meio ambiente causados pelos processos industriais, quanto das tentativas iniciais de se compreender a extensão da interligação entre os diversos países e suas responsabilidades objetivas na manutenção do clima e do bioma terrestres. A partir desta constatação, passou a ser fundamental conhecer de que forma desenvolveu-se inicialmente a discussão diante deste problema, e quais foram os temas ou questões que surgiram desta discussão, pois sem a cooperação internacional, os entendimentos dos efeitos não seriam possíveis, tampouco tomar as medidas necessárias para que os problemas fossem sanados. Do Conceito de Aquecimento Global Antes de tratarmos sobre os acordos internacionais que elencam as prerrogativas do aquecimento global e seu entendimento, é necessária a apresentação da definição do termo “aquecimento global”, visto sob o prisma de algumas instituições e especialistas, a saber: De acordo com o Dicionário Eletrônico Wikipédia, o termo aquecimento global é um exemplo específico de mudança climática à escala global. O termo “mudança cli282 mática” também pode se referir ao esfriamento global. Por este, entende-se como, um notório aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra - ao qual tem sido constatado já há algumas décadas, cujas conseqüências prosseguirão continuadamente durante o corrente século, até uma possível estagnação ou deflagração de uma catástrofe desmedida. Ainda segundo as informações do respectivo dicionário eletrônico, tal fenômeno é atribuído a uma manifestação decorrente de um problema na temperatura4 sobre as áreas populosas do Hemisfério Norte, entre Círculo Polar Ártico e Trópico de Câncer. 3 O Ano Geofísico Internacional foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU, como sendo o de 1957. Seu objetivo era congregar os esforços dos países que aderiram à campanha no sentido de proporcionar uma maior e melhor compreensão dos fenômenos relacionados a Terra. 1957 foi o primeiro dos Anos Internacionais proclamados pela ONU, e a Geofísica seu primeiro alvo de esforço internacional concentrado, reunindo cerca de 60 mil pesquisadores, de um universo de 66 países. Além do meio científico, visava a conscientização da sociedade civil e organismos estatais para o estudo da estrutura, composição, propriedades físicas e processos dinâmicos do Planeta. In: SANTOS, Paulo Marques dos. Ano Internacional Da Geofísica. Disponível em: <Disponível em: <pt. wikipedia.org/.../Ano_Internacional_da_Geofísica >. Acesso em: 18 ago. 2009. 4 As temperaturas globais tanto na terra como no mar aumentaram em 0,75 °C relativamente ao período entre 1860 e 1900, de acordo com o registro instrumental de temperaturas. Esse aumento na temperatura medido não é significativamente afetado pela ilha de calor urbana. Desde 1979, as temperaturas em terra aumentaram quase duas vezes mais rápido que as temperaturas no oceano (0,25 °C por década contra 0,13 °C por década). Temperaturas na troposfera mais baixa aumentaram entre 0,12 e 0,22 °C por década desde 1979, de acordo com medições de temperatura via satélite. Acredita-se que a temperatura tem sido relativamente estável durante os 1000 anos que antecederam 1850, com possíveis flutuações regionais como o período de calor medieval ou a pequena idade do gelo. O clima marítimo do Hemisfério Sul é mais estável; embora o aumento do nível médio do mar também o atinge. O clima marítimo depende da temperatura dos oceanos nos Trópicos; e este está em equilíbrio com a velocidade de evaporação da água, com a radiação solar que atinge a Terra e o Efeito Estufa. No uso comum, o termo se refere ao aquecimento ocorrido nas décadas recentes e subentende-se uma influência humana. A Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima (UNFCCC) usa o termo “mudança climática” para mudanças causadas pelo Homem, e “variabilidade climática” para outras mudanças. O termo “alteração climática antropogênica” é por vezes usado quando se fala em mudanças causadas pelo Homem.(WIKIPEDIA, 2009) A ciência explica que o aquecimento global é decorrente, ou resultante do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente, derivados da queima de combustíveis fósseis5 na atmosfera. Estes gases6, formam uma camada de poluentes, de difícil dispersão, causando o famoso efeito estufa. Este fenômeno ocorre, pois, “estes gases absorvem grande parte da radiação infra-vermelha emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor.” (NOBRE, 2009). No entanto, sob a ótica do Jornal do Meio Ambiente, temos a seguinte explicação: O Aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão - um aumento da temperatura média superficial global que vem acontecendo nos últimos 150 283 anos. Entretanto, o significado deste aumento de temperatura ainda é objeto de muitos debates entre os cientistas. Causas naturais ou antropogênicas (provocadas pelo homem) têm sido propostas para explicar o fenômeno. (NOBRE, 2009 [1]) Da mesma maneira, a Associação disponibiliza a seguinte definição que abrange o termo “efeito estufa”: O efeito estufa é o fenômeno natural pelo qual a energia emitida pelo Sol - em forma de luz e radiação - é acumulada na superfície e na atmosfera terrestres, aumentando a temperatura do planeta. De suma importância para a existência de diversas espécies biológicas, o efeito estufa acontece principalmente pela ação de dióxido de carbono (CO2), CFCs, metano, óxido nitroso e vapor de água, que formam uma barreira contra a dissipação da energia solar. A maioria dos cientistas climáticos crê que um aumento na quantidade desses gases provoca uma elevação da temperatura da Terra. (ASSOCIAÇÃO CIVIL ALTERNATIVA TERRAZUL, 2009) Ressalte-se que, segundo as perspectivas científicas a despeito desta pauta, a principal evidência deste aquecimento advém das medidas de temperatura de estações meteorológicas em todo o planeta terra, acompanhas desde 1860. 5 6 (gasolina, diesel etc,.). (ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono). De acordo com os dados do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima com a correção dos efeitos de “ilhas urbanas” mostra que, “o aumento médio da temperatura foi de 0.6+-0.2 C durante o século XX. Os maiores aumentos foram em dois períodos: 1910 a 1945 e 1976 a 2000.” (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2009) O Instituto ainda salienta que de forma secundária, as evidências decorrem da observação “das variações da cobertura de neve das montanhas e de áreas geladas, do aumento do nível global dos mares, do aumento das precipitações, da cobertura de nuvens, do El Niño e outros eventos extremos de mau tempo durante o século XX”; (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2009) Desta forma, torna-se obstante, explanar que, a grande responsabilidade do efeito estufa advém da presença maciça de gás carbônico (CO2)7, que em larga escala é emitido pelas grandes indústrias, pelos veículos automotores, pela queima de combustível fóssil, pela aviação mundial que ao cruzarem os céus lançam toneladas de poluentes químicos, entre outros exemplos. O Protocolo de Kyoto O Protocolo de Kyoto, na forma de um instrumento internacional, foi ratificado em 15 de março de 1998, ensejando a redução das emissões de gases poluentes - responsáveis pelo efeito estufa e o aquecimento global. Em cerimônia oficial, passou a vigorar em 16 de fevereiro de 2005, após ter sido alvo 284 de calorosas e abrasivas discussões e negociado em 1997, na cidade de Kyoto (Japão). Nos preâmbulos do documento, determinou-se um cronograma onde os países são obrigados a reduzir, em cinco e meio por cento, a emissão de gases poluentes, entre os anos de 2008 e 20128. Os gases citados no acordo são: dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, hidrocarbonetos fluorados, hidrocarbonetos perfluorados e hexafluoreto de enxofre. Estes últimos três são eliminados principalmente por indústrias. Consubstancialmente, a com a prerrogativa de que a emissão destes poluentes deve ocorrer em vários setores econômicos e ambientais, é consensual que tais países procurem de forma, “voluntária” (grifo nosso), colaborar entre si para atingirem as metas. Como sugestões para dirimir ou atenuar os problemas, apresentaram-se algumas ações comuns como, por exemplo: 7 O CO2 distribuído na atmosfera age como a cobertura de uma estufa sobre o planeta, permitindo a passagem da radiação solar, mas evitando a liberação da radiação infravermelha emitida pela Terra.O aumento das concentrações de gases como o CO2 acima do natural pode ser potencialmente perigoso, com possíveis conseqüências catastróficas para a humanidade, como o aumento do nível do mar. Embora o clima tenha sempre variado de modo natural, resultados de pesquisas e simulações sofisticadas vêm sinalizando evidências de que as emissões excessivas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso podem provocar mudança permanente e irreversível no clima, imprimindo novos padrões no regime de ventos, pluviosidade e circulação dos oceanos. In: BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Área de Planejamento. Efeito Estufa E A Convenção Sobre Mudança Do Clima. Disponível em: <>. Acesso em: 10 set. 2009. 8 (primeira fase do acordo). . Aumento no uso de fontes de energias limpas (biocombustíveis, energia eólica, biomassa e solar); . Proteção de florestas e outras áreas verdes; . Otimização de sistemas de energia e transporte, visando o consumo racional; . Diminuição das emissões de metano, presentes em sistemas de depósito de lixo orgânico. . Definição de regras para a emissão dos créditos de carbono (certificados emitidos quando há a redução da emissão de gases poluentes). (PROTOCOLO DE KYOTO, 2009) Segundo dados extraídos do site da ONG Greenpeace, o Protocolo de Kyoto, compromete várias nações industrializadas9, a reduzir as suas potenciais emissões de CO2 em 5,2% - em relação aos níveis de 1990 – para o período de 2008-2012. Ou seja, os países com alto nível de industrialização “devem mostrar “um progresso visível” no ano de 2005, ainda que não se tenha chegado à um acordo sobre o significado desse item.” (GREENPEACE, 2009). O Protocolo de Kyoto ainda determina três “mecanismos de flexibilidade” que permitem à esses países cumprir com as exigências de redução de emissões, fora de seus territórios. Dois desses mecanismos correspondem somente a países do Anexo B: a Implementação Conjunta (Joint Implemention) e o Comércio de Emissões (Emission Trading); o terceiro, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo-MDL (Clean Development Mechanism), permite atividades entre o Norte e o Sul, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável. 285 Para tanto, estima-se que os distintos “crédito de carbono”, destinados a obter reduções dentro de cada item, serão comercializados entre países de um mesmo mercado de carbono. O Greenpeace enfatiza que, Os projetos relacionados com sorvedouros de carbono, energia nuclear, grandes represas e “carbono limpo” não cumprem com os requisitos necessários para receber “créditos” de emissão, de acordo com o MDL. O MDL requer que os projetos produzam benefícios à longo prazo, reais e mensuráveis. Especifica que as atividades compreendidas nos mecanismos mencionados devem ser desenvolvidas adicionalmente às ações realizadas pelos países industrializados dentro de seus próprios territórios. (GREENPEACE, 2009) Ainda sob a tutela destas ponderações, países como os Estados Unidos, como outros países, procuram, evitar limites sobre o uso que podem fazer desses mecanismos, conforme relata o Greenpeace (IDEM, 2009): Permite aos países ricos medir o valor líquido de suas emissões, ou seja, contabilizar as reduções de carbono vinculadas às atividades de desmatamento e reflorestamento. Atualmente existe um grande debate em relação à essas definições. 9 Anexo B do Protocolo. Vale destacar uma outra cláusula que permitiria incluir “outras atividades” entre os sorvedouros de carbono, algumas delas, como a fixação de carbono no solo, são motivo de preocupação especial. Determina que é essencial criar um mecanismo que garanta o cumprimento do Protocolo de Kyoto. Do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) Este mecanismo está disposto nas cláusulas do Protocolo de Kyoto. Trata-se de “um instrumento que tem por objetivo incentivar a redução de emissões de gases de efeito estufa nos países em desenvolvimento. Custa menos diminuir as emissões nesses países do que nos desenvolvidos”. (SIRVINSKAS, 2008, p. 237) Assim, os países emissores, em potencial, de gases de efeito estufa têm a responsabilidade de apresentarem projetos de redução em relação ao passado, tendo a ressalva da emissão de bônus e a venda nos mercados financeiros. Tais bônus, em consonância com a lei, de forma adequada em certificações e autorizações correlatas, poderão ser adquiridos por países que apresentem dificuldades em honrar as metas pré-estabelecidas no Protocolo de Kyoto. De acordo com Luís Paulo Sirvinskas (2008, p. 238) , “Os países desenvolvidos e as empresas procuram neutralizar suas emissões com os créditos de carbono adquiridos dos países mais pobres”. – Entretanto, as referidas empresas10 beneficiadas com a compra de créditos não estão autorizadas a continuarem com o processo e mecanismo de 286 poluição do meio ambiente. Ressaltamos por último que o MDL não permite a emissão do bônus, quando a emissão trata-se de transformar os créditos de carbono em desmatamento, somente em virtude da não totalidade do cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de Kioto, na observância da redução de poluentes devidamente certificados pelos organismos internacionais. Políticas Públicas e sua Relação com as Emissões de Carbono no Brasil e a Participação do País nas Negociações do Regime de Mudança Climática De acordo com as considerações de Eduardo Viola (2009), o ranking ocupado pelo Brasil, diante do sistema internacional foi modificado entre 1972 e 1990. Em 1972, na então Conferência de Estocolmo, Brasil e China lideravam coadunamente a aliança dos países periféricos, que não reconheciam a gravidade dos problemas ambientais. O modelo de desenvolvimento, que ganhou notoriedade em 1972, “baseava-se em uma forte depleção dos recursos naturais – considerados, na época, infinitos –, em sistemas industriais muito poluentes e na intensa exploração de mão-de-obra barata e desqualificada.” (VIOLA, 2009). 10 São países que possuem créditos de carbono: a) Índia (34,69%); b) China (24,3%); c) Coréia do Sul (18,25%); d) Brasil (14,8%); e) Chile (2,47%); f ) Outros (5,7%). Tais países poderão emitir o bônus e comercializar nas bolsas de valores. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 6ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Todavia, a visão que se atribuía ao Brasil, entre 1950 e 1979, era de uma nação que ascendia ao centro. Durante a década de 1970, foi um dos principais receptores de indústrias poluentes advindas dos países desenvolvidos, devido ao “avanço” da consciência ambiental. Eduardo Viola comenta que: Com o novo paradigma tecnológico (informação intensiva) que se foi implantando no mundo a partir de início da década de 1980, o Brasil passou a ter características pouco vantajosas para a perspectiva internacional de mercado: os recursos naturais clássicos perderam valor relativo, a tolerância para a poluição tornou-se um estigma e a força de trabalho desqualificada era incapaz de operar os novos sistemas produtivos. (VIOLA, 2009, p. 02)11 A partir de 1980, a crise do modelo de desenvolvimento agiu de forma revigorante, quando se posicionou consciente da opinião pública dos problemas relacionados à devastação ambiental, situação esta, demonstrada na postura governamental brasileira na conferência de 1992. No primeiro ano de governo, Collor tomou algumas decisões importantes que lhes deram credibilidade na esfera do ambientalismo internacional, quais sejam, prorrogação da suspensão de subsídios e incentivos fiscais para agropecuária na Amazônia, suspensão do programa de ferro-gusa da Amazônia oriental, maior 287 monitoramento e fiscalização do desmatamento com queda de 50% nas queimadas em agosto/outubro de 1990 (comparadas com o pico de 1988), elaboração do macrozoneamento ecológico-econômico, fim do programa nuclear paralelo dos militares e adesão do Brasil à política ocidental de não-proliferação nuclear. (VIOLA, 2009, p. 03) Ainda comenta Eduardo Viola, que a posição assumida pelo governo brasileiro na United Nations Conference of Environment and Development12 (UNCED), pode ser considerada globalista ou neosocialdemocrata, sendo que a posição neosocialdemocrata teve a eminente influência de alguns fatores, a saber: . Crise do modelo desenvolvimentista brasileiro na década de 1980 que produziu uma significativa abertura da opinião pública para com a idéia de desenvolvimento sustentável, mesmo que de forma difusa; . Sensibilização do governo em relação aos problemas ambientais, já que o país detinha a soberania de 2/3 da maior floresta pluvial do mundo e havia, portanto, a necessidade de considerar o impacto ambiental; . O fato de a matriz energética brasileira estar fundada em recursos naturais renováveis (basicamente hidroelétrica e biomassa) num contexto em que a 11 Estas são algumas causas fundamentais da crise e do conseqüente declínio brasileiro na década de 1980, além de variáveis de natureza estritamente política, vinculadas ao caráter da transição democrática e à falta de renovação das elites políticas. 12 (Environment and Development, 3-12/06/1992 – Rio de Janeiro). quase totalidade dos países é dependente de combustíveis fósseis ou de energia nuclear; . A consciência da importância da floresta Amazônica – grande reservatório mundial de biodiversidade e de apreensão de carbono – que tornava, conseqüentemente, a política favorável ao desmatamento (predominante até 1988) um consenso favorável a uma combinação de preservação com desenvolvimento sustentável; . Pressão pelo compromisso com o globalismo, já que o Brasil era o país-sede da UNCED-92. (VIOLA, 2009) Na sequência, o Brasil estabeleceu aliança com os EUA e Europa, que assumiram uma postura de concordância em quase todos os foros multilaterais: proteção dos direitos humanos, dos direitos da mulher e dos direitos reprodutivos; proteção do direito de propriedade intelectual; expansão do papel do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial de Comércio. Na gestão do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso a política energética atendeu os seguintes eixos: privatização da geração e da distribuição de eletricidade; manutenção da propriedade estatal da transmissão de eletricidade; novo modelo regulatório favorável a incrementar a geração termoelétrica, baseada em gás natural, e a co-geração; quebra do monopólio da Petrobrás na produção de petróleo e abertura de novos campos petrolíferos pelo setor privado. A seguir na conferência do Mercosul, o Brasil, não atingiu os propósitos de lide288 rança no que tange a sustentabilidade ambiental. “O Protocolo Ambiental do Mercosul, negociado em 1996/1999, constituiu-se um avanço importante, embora sua assinatura tenha sido bloqueada no último momento por certa ambivalência dos setores mais conservadores do empresariado argentino.” (VIOLA, 2009) No período decorrente às negociações do Protocolo de Kyoto (1996-2001), o Brasil, orientou-se pela definição do interesse nacional segundo quatro dimensões principais: . Afirmar o direito ao desenvolvimento como um componente fundamental da ordem mundial, dando continuidade à política externa brasileira; . Promover uma visão do desenvolvimento associada com a sustentabilidade ambiental, em correspondência com o grande crescimento da consciência ambiental no país e sua tradução em políticas públicas nacionais e estaduais; . Promover uma posição de liderança do Brasil no mundo, em correspondência com o crescimento do prestígio internacional do país durante o governo Cardoso; . Evitar que o uso das florestas seja objeto de regulação internacional para não correr riscos de que outros países possam questionar o uso econômico da Amazônia. É importante salientar que a entrada das florestas no regime mundial de clima não foi percebida como uma ameaça à soberania nacional por outros países: Estados Unidos, Canadá, Rússia, Austrália e Costa Rica, entre outros, promoveram com intensidade a regulação internacional das florestas. Entretanto, a longo e médio prazo, acredita-se que a vitalidade do Protocolo de Kyoto, sem a concordância de todos os países pertinentes neste processo, dependerá: . Da capacidade de as elites européias, juntamente com as elites globalistas responsáveis norte-americanas, persuadirem em seu favor a opinião pública dos Estados Unidos. . Da capacidade de as elites européias, juntamente com as elites globalistas responsáveis dos países de renda média, persuadirem a população desses países em favor da necessidade de compromissos de redução da taxa de crescimento futuro das emissões. . Do sucesso de os setores empresariais, já comprometidos com as metas estabelecidas, produzirem no curto prazo inovações tecnológicas eficientes. . Da rapidez com que o setor empresarial de energia eólica desenvolva um ambiente regulatório favorável na maior parte do mundo. . Do sucesso de governos, empresas e ONGs em desenvolver e consolidar um mercado global de carbono. . Das dificuldades de o governo Bush elaborar uma proposta alternativa que seja atrativa para a maioria dos países-chave. (VIOLA, 2009) . Ressalta-se que todos estes preceitos estabelecidos no protocolo de Kyoto coadunam com a postura de se assumir por parte dos países desenvolvidos, os custos e as responsabilidades da governabilidade global e da produção de bens públicos globais - como mecanismos para um desenvolvimento econômico 289 mais inclusivo e para enfrentar os problemas epidemiológicos e ambientais -, além da reconstrução dos Estados fracassados. Considerações Finais Quando apresentou-se os conceitos e entendimentos sobre o que diz respeito a meio ambiente, a efeito estufa e algumas considerações que correspondem ao Protocolo de Kyoto, e de forma breve, a posição brasileira diante da responsabilidade assumida na ECO-92 frente aos tratados, observa-se que todas as medidas tomadas ainda não são suficientes para solucionar os problemas que enfrentamos atualmente, trazendo a longo prazo severos efeitos a humanidade. Esta opinião decorre pois a posição de cuidar do planeta não foi assumida por todos os países. E muitos, deles continuam a emitir gases tóxicos na atmosfera, sem quaisquer procedimentos nem sequer paliativos, para a redução dos efeitos danosos. Em relação ao Protocolo de Kyoto, e suas cláusulas estabelecidas, sua eficácia só será demosntrada quando todos os países, agirem rigorosamente de acordo com tais cláusulas. Muito ainda precisa ser feito para atenuar os problemas globais. A médio prazo, principalmente por parte dos países desenvolvidos, precisarão assumir os custos e as responsabilidades da governabilidade global e da produção de bens públicos globais, como mecanismos para um desenvolvimento econômico mais inclusivo e para enfrentar os problemas epidemiológicos e ambientais. Referências Bibliográficas AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Tratados Internacionais na Ordem Jurídica Brasileira. Disponível em: <http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=lang_pt&id =pyC5dwQgkRMC&oi=fnd&pg=PA5&dq=os+tratados+internacionais+e+a+lei+brasileira &ots=Dx7xYz_1PM&sig=6Zi_QsaAyPfrIgSslIAyMY9N2B0#v=onepage&q=os%20tratados%20internacionais%20e%20a%20lei%20brasileira&f=false>. Acesso em: 27 set. 2009. ASSOCIAÇÃO CIVIL ALTERNATIVA TERRAZUL. Aquecimento Global. Disponível em: <http://www.terrazul.m2014.net/spip.php?article231>. Acesso em: 27 jul. 2009. BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Área de Planejamento. Efeito Estufa E A Convenção Sobre Mudança Do Clima. Disponível em: <http:// www.bndes.org.br.>. Acesso em: 10 set. 2009. DICIONÁRIO ELETRÔNICO WIKIPÉDIA. Aquecimento Global. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global.>. Acesso em: 17 ago. 2009. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Disponível em: <http:// www.ipcc.ch/.>. Acesso em: 28 jul. 2009. MAZZUALI, Valeria de Oliveira. O Poder Legislativo E Os Tratados Internacionais: O Treaty-Mak1ng Power Na Constituição Brasileira De 1988. Disponível em: <htttp:// www.opooderlegislativoeostratadosinternacionais:otreaty-making.bdjur.stj.gov.br/xmlui/ handle/2011/19784>. Acesso em: 23 set. 2009. NOBRE, Carlos. Aquecimento Global. Disponível em: <http://www.aquecimentoglobal. com.br/carlosnobre1.htm.>. Acesso em: 28 jul. 2009. (2) 290 NOBRE, Carlos. Jornal Do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.jornaldomeioambiente.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2009. (1) SANTOS, Paulo Marques dos. Ano Internacional Da Geofísica. Disponível em: <Disponível em: <pt.wikipedia.org/.../Ano_Internacional_da_Geofísica >. Acesso em: 18 ago. 2009. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 6ed. São Paulo: Saraiva, 2008. PROTOCOLO DE KYOTO. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/geografia/ protocolo_kyoto.htm>. Acesso em: 10 set. 2009. VIOLA, Eduardo. O Regime Internacional De Mudança Climática E O Brasil.Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: vol. 7, n.º 50, out., 2002. Disponível em: <http:// www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092002000300003>. bAcesso em: 23 set. 2009. Os Primórdios da Política Partidária no Império do Brasil tendo como Objetivo a Dignidade dos Seres Humanos Rogério da Silva Tjader Resumo O presente artigo pretende analisar os primórdios da política partidária no Império do Brasil tendo como objetivo a dignidade dos seres humanos. Palavras-chave: Direitos Humanos. Dignidade Humana. Império do Brasil. Abstract This article analyzes the origins of party politics in the Empire of Brazil with the objective of the dignity of human beings. Keywords: Human Rights. Human Dignity. Empire of Brazil. Introdução A idéia de respeito à dignidade da pessoa e do cidadão tem suas raízes fundamentadas no pleno exercício do Estado de Direito, que apenas pode advir quando embasado nos princípios democráticos, manifestados em um consenso popular, fruto de eleições, geralmente, pluripartidárias. Em seu nascedouro, a democracia oriunda do voto popular nasceu na Grécia, por volta do século IX a.C., sem que ali, entretanto, houvesse qualquer indício de Partido Político. O desejo do cidadão era manifestado de forma isolada, em reuniões a céu aberto, nas ágoras das principais cidades da Grécia Antiga Mais tarde, o próprio embrião do sistema parlamentar, plantado em 1215 por João Sem Terra, não significou, por isto mesmo, a criação do sistema partidário que, somente teve suas origens na Inglaterra do Rei Carlos II, quando se instituíram no Parlamento de Londres, o Partido Whig e o Partido Tory, o primeiro de caráter liberal, tônica marcante da burguesia mercantil em ascensão, enquanto que o segundo atinhase mais aos interesses da nobreza, incluindo a figura do próprio Rei. Contudo, estes Partidos Políticos somente vieram a ter suas organizações programáticas estruturadas no ano de 1832. Em outros países, Partidos Políticos como são conhecidos hoje, poderão apenas ser encontrados a partir de 1836, nos Estados Unidos e em 1848, na França. Em seu nascedouro, a organização político-partidária surgiu com a evolução da liberal-democracia, representando os anseios da nação, fixada na estabilização do Estado de Direito. Foi ela um ideal da burguesia mercantil criando, inicialmente, partidos denominados de “Notáveis” ou de “Quadros”, que congregavam os nomes mais ilustres de suas épocas . Os hoje denominados Partidos de Massa, somente vão surgir no final 291 do século XIX, com a divulgação das idéias preconizadas por Marx, virtualmente antagônicas ao pensamento liberal. De qualquer forma, pode ser entendido como Partido Político um agrupamento populacional ansiando pelo exercício do poder, detendo nas mãos as rédeas do governo. Claro que no início das ânsias políticas, ainda em tempos de absolutismo atuante, os nascentes Partidos Políticos viram-se reprimidos pelos governantes, em virtude das idéias apregoadas que se contrapunham àquelas até então reinantes no mundo administrativo europeu, mas com o correr dos tempos ganharam eles uma importância ímpar no estabelecimento da liberal-democracia, como parte integrante de um sistema constitucional de parlamento bicameral. Durante um largo tempo, a essência sociológica e existencial dos partidos políticos passou desapercebida, até mesmo por aqueles que compunham a sociedade eleitoral, sendo considerados como uma insignificância insurreta, pelas ordenações governamentais então vigentes. Somente quando ocorreu a imposição jurídica da imperiosa existência dos partidos políticos como decorrência da afirmação sociológica, é que se viu firmado o estabelecimento do Estado Social, ou do Estado de Direito, por todos reconhecido. De forma resumida, em termos de praticidade exeqüível, a organização políticopartidária apenas pode ser encontrada em uma das formas abaixo: Na liberal-democracia, o parlamento é ocupado por representantes de um sistema pluripartidário ou bipartidário, refletindo a variação do pensamento político da nação, enquanto que nos sistemas ditatoriais e totalitários, o unipartidarismo representa o ali292 cerce de sustentação do governo e do poder, enfeixado nas mãos de um único chefe ou de um determinado grupo, ignorando outros possíveis anseios políticos por parte da sociedade . Importante lembrar que a própria existência dos partidos políticos exige a presença binária do voto e do sufragante. Não há, portanto, partido político sem eleitor e, consequentemente, sem votante, quer se trate de uma eleição sob a forma direta ou mesmo em se tratando da eleição de uma forma indireta, quer seja ela de caráter universal ou censitário. O Início da Vida Político-Partidária no Brasil Durante todo o período colonial, a vida política do Brasil se viu atrelada às determinações oriundas de Portugal, fruto das Ordenações Legislativas vigentes na metrópole quer, inicialmente, as Afonsinas, seguidas pelas Manoelinas, quer posteriormente - por ocasião do domínio espanhol -, as Filipinas. Assim, se o aspecto jurídico em consonância com o religioso se mostravam padronizados, a atuação administrativa –embora cumprindo a mesma Lei -, variava de Capitania para Capitania, exercida pelos chamados “Homens Bons”, eleitos nas paróquias entre os considerados mais íntegros cidadãos da Colônia. Eram os “Homens Bons” que ocupavam as Câmaras dos municípios e das Capitanias, exercendo a administração pública. Mesmo com a criação do Vice-Reinado, no ano de 1714, com o Marquês de Angeja - 1º a merecer o título de Vice-Rei -, não se constataram alterações significativas na vida gerencial da Colônia, nem mesmo com a elevação do Brasil a Reino-Unido, a não ser em termos de nomenclatura, uma vez que as Capitanias passaram a ser denominadas Províncias e a mais alta Corte de Justiça transferiu-se de Lisboa para o Rio de Janeiro. A justiça mostrava-se estritamente centralizada, sendo exercida de forma ascendente pelos juizes de vintena, ordinários, de órfãos, de fora e ouvidores da comarca, merecendo também estes, competência recursal. Tais recursos eram interpostos aos ouvidores de comarcas e destes, havendo inconformismo por alguma das partes, interpunha-se apelo à Relação, um tribunal local, e por fim, à Casa de Suplicação de Lisboa. Como se pode denotar, havia uma preocupação em que os direitos da dignidade dos súditos fossem resguardados e respeitados. Com a chegada de D. João, a Relação do Rio de Janeiro foi elevada à condição de Casa de Suplicação do Brasil, origem do Supremo Tribunal do Império do Brasil e que mais tarde transformou-se no Supremo Tribunal Federal, já na República. Na verdade, havia uma mesclagem de justiça e administração, mas a preocupação para com a dignidade da pessoa, mereceu, numa constante, a atenção das autoridades jurídico-administrativas do Brasil, quer Colonial, quer Real, quer Imperial. Entretanto, se a vida administrativa do Brasil se manteve inalterada até o ano de 1821, por ocasião do retorno de El Rei D. João VI a Portugal, isto não significa um desinteresse ou acomodação por parte dos brasileiros quanto ao futuro de sua pátria. O amor pelo Brasil se caracterizou por todas as contendas enfrentadas pelos nacionais contra os estrangeiros que aqui intentaram se estabelecer, quer franceses, quer holandeses. E quando se trata de “nacionais”, não se pretende uma separação de classe social ou mesmo étnica. Aliás, muito pelo contrário, por ocasião da “Insurreição Pernambucana” ocorrida em meados do século XVII pode, facilmente, ser constatada a fusão dos interesses nacionais independentemente de características raciais e econômicas entre os grupos aqui nascidos, englobando brancos, índios e negros aliados a um punhado de 293 portugueses, cada grupo desses, ricos ou pobres. Somente após a partida de D. João VI, quando o Príncipe-Herdeiro da coroa de Portugal foi deixado à testa dos destinos do Brasil com o título de “Príncipe Regente do Reino do Brasil” é que se podem detectar as primeiras manifestações dos agrupamentos de caráter político. É bom ter-se em mente que o “Pacto Colonial”, cujo caráter revestido de um absolutismo implacável, fruto da Doutrina Mercantilista e que havia vigido sem oposição por três séculos, sofrera um revés de um radicalismo total ao ser adotado no Brasil, inopinadamente, o sistema liberal, em janeiro de 1808, por ocasião da “Abertura dos Portos”. Embora a “Abertura dos Portos” tenha sido promulgada tendo em mira o aspecto meramente econômico, as idéias de liberdade, fraternidade e igualdade, preconizadas pela Revolução Francesa, tornaram-se a tônica festiva dos oradores e dos jornalistas nas maiores cidades do Brasil, quer em orações em praças públicas, quer através de panfletos em uma imprensa incipiente, ampliando e até mesmo distorcendo, desta forma, as intenções puramente econômicas ditadas pelo então Príncipe-Regente D. João. Entretanto, se na Europa, tais idéias libertárias introduzidas no bojo da Revolução Francesa de 1789 tiveram mais um cunho político e social, no Brasil passaram elas a ter um revestimento de caráter dinástico e nacionalista. Tal estado de coisas ganhou corpo e tomou forma com o retorno de El Rei D. João VI para Portugal em 26 de abril de 1821. Sem dúvida alguma, foi a partir de então que se alvoroçaram os grupos políticos no Brasil congregados em dois campos distintos. A origem das manifestações políticas no Brasil encontra-se atida à luta pela permanência do Príncipe Regente D. Pedro no país, contrariando as ordens vindas de Lisboa que, ao ordenarem a volta do Regente para a Europa, se opunham, de forma contundente, aos interesses nacionais Um grupo de brasileiros entusiastas pugnou pela permanência do Príncipe, enquanto que outro grupo – no qual se incluíam os portugueses e demais estrangeiros -, mostrava-se favorável à partida imediata do Regente, cumprindo as determinações das cortes portuguesas. Dá para se imaginar a luta interna que travou consigo mesmo o Príncipe-Regente – português de nascimento mas brasileiro de coração -, naquela fase conturbada da história-pátria, ouvindo a insistentes apelos, ora de um, ora de outro grupo. A decisão bombástica de D. Pedro em permanecer no Brasil acirrou ainda mais os ânimos já então exaltados, separando, irremediavelmente, os dois grupos partidários. Este estado de coisas permaneceu por mais de um ano, até a ruptura definitiva, com a proclamação da Independência, ocorrida em 07 de setembro de 1822. Por ter tido o seu nascimento como Estado promovido pelo então Príncipe-Regente, indiscutível se mostrou que a Forma de Governo a ser adotada no Brasil independente seria a da Monarquia Constitucional Hereditária e Representativa. Mesmo antes da proclamação da Independência, entre os anos de 1821 e 1822, as elites brasileiras já formavam dois “partidos” distintos identificados como “elite coimbrã”, composta por eruditos que estudaram em Coimbra, tais como José Bonifácio, José da Silva Lisboa e Hipólito da Costa, que desejavam inicialmente, a manutenção da união luso-brasileira, mas com a sede da monarquia no Brasil e um outro grupo identificado como “elite brasiliense”, de caráter mais radical, republicano, que desejava a separação do Reino-Unido, transformando-se o Brasil em uma república independente; à frente deste grupo encontrava-se o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo, que acabou aderindo à monarquia – com algumas restrições -, após a Independência. Entretanto, é bom que fique assinalado, o nome “partido” não significa em si 294 “partido político” como são conhecidas hoje as agremiações político-partidárias, com programas e representação eleitoral, mas apenas um grupo de pessoas unidas em torno de um ideal determinado. Um novo e grave problema surgiu então, o que muito agitou os meios políticos do Brasil naquela fase da sua história; tal problema foi o da “Constituinte”. De acordo com os valores liberais instituídos, se tornava clara a certeza da não aceitação do absolutismo como regime político atuante e desta forma, convocação de uma Assembléia, capaz de redigir uma Constituição para o país mostrava-se imperiosa. Também ali dois “partidos” se formaram; José Bonifácio e seus seguidores, embora constitucionalistas, não aceitavam a idéia do estabelecimento de uma Assembléia Constituinte, por temerem os resultados desastrosos que dela poderiam advir, tal como ocorreu nos alvores da Revolução Francesa, que acabou por conduzir o país aos extremos conhecidos, preferindo eles que o Príncipe Regente, orientado por um Conselho de Províncias, outorgasse uma Constituição ao Brasil. Outro “partido” foi o liderado por Joaquim Gonçalves Ledo que, juntamente com a Maçonaria, queria uma Assembléia capaz de conceder ao então Reino do Brasil uma Constituição independente da que se estava elaborando em Portugal. Em meio a estes dois grupos partidários o Príncipe Regente oscilava; sua proverbial amizade a José Bonifácio que por sua vez recebia o apoio incondicional da Princesa D. Leopoldina – sempre temerosa dos fatos que provocara a Assembléia iniciadora da Revolução Francesa -, chocavam-se com seu espírito liberal. Porém, como as cortes portuguesas tivessem abertamente se manifestado contrárias à convocação da constituinte brasileira e atacado desabridamente o Príncipe Regente, tal fato o levou à expulsar o Brigadeiro Jorge Avilez - que viera intimar pela força o regresso de D. Pedro a Lisboa -, após o histórico “Dia do Fico”. A partir de então, D. Pedro tomou uma atitude definitiva: a 03 de junho de 1822 tornou público um decreto que normatizava a l ª Lei Eleitoral do Brasil já elaborada em 03 de janeiro de 1822, convocando eleições para a formação de uma Assembléia Geral Constituinte e posteriormente, Legislativa para o Reino do Brasil, a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro. Aí estava sendo dado o primeiro passo para a efetivação da única forma possível de se legitimar um governo, uma vez que as fontes da legitimidade se apóiam no estabelecimento do Estado de Direito, na representatividade da nação e na eficiência ínclita da ação governamental. A simples “Legitimação de um Governo” já representa em si mesmo um amplo tema para a elaboração de uma tese, ou de um artigo mais aprofundado, mas a exigüidade do tempo e do espaço disponíveis não permitem tais deslocamentos sedutores, neste momento.. Contudo, há que ficar repetido que, no que tange a representatividade social no campo político, imprescindível se torna a formação do eleitorado para a realização das eleições. Se as eleições já eram um caso decidido, pairava, contudo, uma dúvida latente a respeito do processo eleitoral, dos eleitores e dos eleitos. Segundo o preconizado pela Lei Eleitoral de 03 de janeiro de 1822, duas seriam as Casas do Poder Legislativo: o Senado (vitalício), por indicação pessoal do Príncipe Regente, e a Câmara, cujos deputados seriam eleitos por voto indireto e censitário. Ficou deliberado que os eleitores votariam nas suas zonas de origem em um colégio eleitoral, que escolheria os representantes os quais, decidiriam na capital da Província, quais seriam os Deputados sufragados, representando aquela Província. Quanto ao eleitorado, eram considerados eleitores os nacionais e estrangeiros na- 295 turalizados com mais de 25 anos de idade, os oficiais com mais de 2l anos de idade, o pessoal de nível superior, bem como os superiores das Ordens Sacras. Não poderiam votar os desempregados, os criados em geral das residências, do comércio, das indústrias e das fazendas, bem como religiosos enclausurados e todo e qualquer cidadão que recebesse renda média anual inferior a 200 mil réis. Para ser Deputado o cidadão tinha que apresentar uma renda anual de, no mínimo, 400 mil réis e para se candidatar ao Senado, a renda apresentada deveria ser de, no mínimo, 800 mil réis. Escravos, libertos e mulheres não poderiam ser eleitores. Apesar do natural descontentamento por parte das mulheres, os primeiros protestos femininos quanto ao exercício deste direito de cidadania somente tiveram início – mesmo assim de forma muito tímida -, muito mais tarde, a partir de 1852, depois em 1873 e, posteriormente, 1875, todos rechaçados com veemência pelo Congresso Nacional. Uma vez que o tema do presente artigo versa sobre o respeito à dignidade da pessoa no Império, cabe aqui inserir um caso curiosamente específico: Por ocasião do Ministério Saraiva, foi aprovado um decreto que permitia aos portadores de “Títulos Científicos” o exercício ao direito do voto. Por não ser mais específico e claro em sua regulamentação, tal decreto deu ensejo a que D. Isabel de Mattos Delon – que havia conquistado um título deste teor em Paris -, avocasse a si o benefício da Nova Lei Eleitoral do Conselheiro Saraiva, no ano de 1885; inútil dizer-se a celeuma provocada pela pretensão de D. Isabel Delon, no seio da Câmara. Inteirado do assunto, o Ministro do Interior Cesário Alvim, francamente contrário a tais pretensões, elaborou um arrazoado de fundo histórico e jurídico, encerrando com a lavratura de um Decreto específico que proibia o voto feminino “em quaisquer que fossem as circunstâncias”. Voltando à parte iniciática do assunto nos idos de 1822, não cabe aqui dissecar o choque de insultos e impropérios tornados públicos pela imprensa do Rio de Janeiro, envolvendo os seguidores de uma ou de outra idéia no período que mediou entre a convocação e a primeira reunião efetiva dos Deputados Constituintes. Por tudo isto, torna-se de vital importância a inserção de um adendo. Não se pode tratar destes alvores da luta pela preservação da dignidade e dos direitos da pessoa e do cidadão no Brasil daqueles idos, sem que, embora de forma muito superficial, se possa traçar um parecer sobre a personalidade do então Príncipe D. Pedro, depois Imperador D. Pedro I. Muito já se tem escrito sobre este personagem emblemático na História de dois mundos, mas tudo que dele se tenha falado, ainda é pouco, diante do somatório das suas qualidades e dos seus defeitos. Fruto de uma união conjugal esdrúxula, qual tenha sido a do casamento de D. João com D. Carlota Joaquina, herdou o Príncipe D. Pedro qualidades e defeitos relevantes dos seus progenitores. Do pai herdou a visão política mais ampla, o senso de observação, a memória prodigiosa, a bondade de coração, a simplicidade e afabilidade no trato com o povo e com seus serviçais. Quanto a este último item, D. Pedro ia mais além: gostava de conversar com seus cavalariços, rindo com eles dos seus casos jocosos, numa atitude que destoava da sua elevada posição, levando-o até mesmo a empregar termos chulos. Mostrava-se possuidor de um espírito negociante, pois gostava de comprar e vender, sempre por intermédio de um alcoviteiro de câmera, coisa aliás, que D. João sempre condenou. Vivia 296 nas cavalariças e ferrava cavalos como os melhores ferradores o faziam. Foi um cavaleiro campeão, pois entendia de cavalos como poucos. Por parte da mãe herdou o sangue quente, impetuoso, intempestivo e de uma avidez sexual que “não conhecia limites nem diante da honra da família ou do marido da mulher desejada, segundo palavras de Isabel Lustosa, em seu livro D. Pedro I, à página 93. D. Pedro era atirado, dado à aventuras de toda a sorte e tantas foram as estroinices deste Príncipe Bragantino, que o escritor paulista Paulo Setúbal reuniu as mais gritantes em um precioso e pitoresco livro, cujo título, por si só já diz tudo: “As Maluquices do Imperador”. D. Pedro era um admirador sincero de Napoleão Bonaparte, seu concunhado, por ser casado com a Arquiduquesa de Áustria, Maria Luiza, irmã de D. Leopoldina facilmente absorvendo, de forma entusiasta, as idéias liberais pregadas pelo Imperador francês. O que se deduz do aqui exposto, reflete o resultado de uma leitura mais completa de inúmeros autores específicos sobre a biografia de D. Pedro I, que concluem em uníssono, ser Ele era um voluntarioso liberal de coração, mas um absolutista por índole, fato que o tornava prepotente em suas atitudes, quer pessoais, quer governamentais. Por isto mesmo, tão logo a Assembléia Geral Constituinte abriu seus trabalhos a 03 de maio de 1823, portanto, reunida não mais para elaborar uma Constituição para o Reino Unido do Brasil, mas sim para o independente Império do Brasil, tiveram início os desentendimentos entre o Imperador e os constituintes. Naquela noite, por ocasião da abertura dos trabalhos constituintes, no discurso que o Imperador pronunciou achava-se inserida a frase escrita por José Bonifácio na qual Ele dizia: “Aceitarei e defenderei a Constituição, se for ela digna do Brasil e de mim.” . Pronto. Foi o início da contenda. A Assembléia Nacional Constituinte era formada por 90 deputados, todos muito bem qualificados, tais como militares, bacharéis em Direito, Doutores em Teologia, médicos, proprietários rurais e alguns funcionários públicos sábios e acomodados; todos eles liberais moderados, representando o espírito da época. Quanto à identidade e a correção destes primeiros representantes da nação brasileira, o Barão Wenzel de Mareschall, embaixador da Áustria no Rio de Janeiro, escreveu ao Ministro Metternich; “Conheço vários deles pessoalmente e posso atestar sua honradez e capacidade.” A Assembléia Nacional Constituinte era formada por duas câmaras: a primeira, encarregada de elaborar as Leis, enquanto que à segunda cabia a análise de tais elaborações e seu posterior envio à sanção imperial. Entretanto, a prepotência e o descabido absolutismo que caracterizavam a personalidade de D. Pedro I, em um regime dito liberal, tornavam impossíveis quaisquer entendimentos entre o Poder Legislativo e o Imperador. Detinha Ele o direito do veto absoluto, reservando-se, igualmente, o direito da escolha dos componentes do Conselho de Estado bem como da composição do Ministério, sem qualquer interferência da Assembléia, fatos que o tornavam o Chefe Supremo do poder executivo e da máquina política. Um autentico déspota num regime liberal. Um paradoxo. Para agravar ainda mais este clima de insuportabilidade política, tais como tentativas várias de limitar o poder do Imperador, alguns deputados ousaram apresentar na Assembléia uma proposta de modelo federativo, fato que levava, claramente ao temor de uma fragmentação do país, segundo exemplos recentes ocorridos nos antigos ViceReinos espanhóis na América. Além disso tudo, algumas discussões estéreis e intermináveis entre uma minoria dos representantes do povo em torno de idéias jacobinamente 297 perigosas para a unidade da nação levantavam o risco da reprodução dos excessos cometidos pela Revolução Francesa. Numa decorrência frontal dos fatos existentes, somaram-se aos artigos pejorativos publicados em jornalecos esporádicos - sob nomes falsos -, as agressões físicas aos supostos ofensores. O clima, realmente, tornou-se insustentável. Assim, na madrugada de 12 de novembro do mesmo ano de 1823, tropas imperiais cercaram a Assembléia, prendendo vários deputados e suspendendo os trabalhos da Casa. Estava morta a Assembléia Constituinte do Império do Brasil. Do Estado de Direito, da Legitimidade e da Representatividade O Estado de Direito, realização do ideal democrático, exige uma situação jurídico-política, congregando os valores do ser humano com a liberdade, acreditando na legalização das autoridades constituídas quanto a direitos e deveres para com os cidadãos. Tudo isso, porque a Lei se encontra acima do arbítrio pessoal, e o que se assistiu naquela madrugada de 12 de novembro de 1823 - com ou sem razão, fato irrelevante no momento -, foi a ruptura da normatividade jurídica, que dignifica os valores morais e universais do direito das pessoas, marca de relacionamento equilibrado entre governantes e governados. Contudo, necessário se faz atentar que no que diz respeito à Lei Maior, no caso a Constituição, que funciona como parâmetro do sistema jurídico, sobretudo em termos de legalização, nem toda Lei é legítima. Ao princípio da legalidade torna-se necessário que se acrescente o da legitimidade jurídica, analisada quer sob a ótica da origem, quer sob a da ética. No princípio da legitimidade de origem, somente pode ser considerada a Lei que provém de uma fonte legítima, no caso em apreço, do povo, isto porque o legislador deve receber autorização específica, por quem de direito, para o exercício do seu mister, por deliberação da sociedade, uma vez que a ela cabe a fiscalização dos órgãos decisórios no pleno exercício da democracia. É bem verdade que a respeito daqueles idos de 1823, falar-se de democracia, na imensa maioria das nações, representa um contra-senso, dada a sua inexistência. Porém, ali pode-se antever os alvores dos anseios democráticos, apesar de repetidas tentativas de sufoco intentadas pelos ranços do absolutismo, ainda vigoroso na ânsia de liquidar com os ideais de liberdade. Quanto à legitimidade ética, a Lei deve estar de acordo com os valores universais e desta forma, as Leis do Direito Positivo devem ser aquelas do Direito Natural. Somente assim podem ser elas legítimas. Desta forma, quando se trata de Direitos Humanos, com certeza eles se encontram fora da órbita do Estado, uma vez que a organização política é um meio e não um fim, mas a segurança do Estado somente vale como segurança social. Por aqueles tempos, os conservadores e os absolutistas imaginavam a teoria de Rousseau como uma alavanca do anarquismo, não tendo eles ainda chegado ao ponto da compreensão de que democracia não significa em si a ausência de autoridade, mas que deve representar a autoridade dentro da Lei. Assim, é necessário um rigoroso critério para que não seja confundida segurança política com segurança nacional. Para se restabelecer a ordem conturbada, devem ser 298 adotadas medidas previstas na Lei. Ora, a conturbação da ordem pública alegada pelo poder imperial em novembro de 1823 era justamente no que tange a elaboração da Lei, de tal sorte que o velho Poder Executivo cerceou a edificação da própria Lei, amputando a representação política que nada mais é do que a intermediação entre o povo e os centros de decisão. Contudo, tal compreensão ainda não havia sido sentida, uma vez que a inexistência de partidos políticos, agrupando idéias comuns em uma estabilidade consensual respaldada na opinião pública, jamais poderia significar uma submissão aos atos discricionários do Poder Executivo. Mas idéia de liberalismo e de democracia ainda se encontravam no nascedouro, mantendo luta acirrada contra o absolutismo para assegurar sua sobrevivência. Havia, é certo, num país de sistema representativo, a arma do voto e das eleições, refletindo o legítimo processo de sondagem da opinião pública, mas o Império encontrava-se ainda em seus primórdios para que as camadas políticas se encontrassem em condições de perscrutar o espírito sociológico da expressão popular. Foi do misto conturbado destas duas idéias na cabeça de D.Pedro I que brotou a Carta Constitucional de 25 de março de 1824 elaborada pelo Conselho de Estado, órgão criado pelo Decreto Imperial de 13 de novembro de 1823. Sem a menor sombra de dúvidas ou campo de discussão, a Carta de 1824 foi a mais liberal entre todas as do seu tempo, em que pese ter sido ela outorgada. Tão eficiente foi ela que, sofrendo apenas pequenas alterações estabelecidas pelo Ato Adicional de 1834, vigorou sem conturbação até a queda da monarquia em 1889. Aqui não cabe também uma análise mais profunda da primeira Constituição do Brasil, mas alguns tópicos precisam ser comentados, já que o presente artigo versa sobre a dignidade do ser humano, dentro de um contexto Lei, elaborada pelo poder político. Estas próprias Leis tem um Capítulo, o IV, com l8 artigos específicos, determinando o funcionamento das proposições, discussões, sanção e promulgação. Por sua vez, o Poder Judiciário mereceu, no Título VI, a dedicação específica de 13 artigos com vários parágrafos. O Capítulo VI, nos seus artigos 90 a 97 é totalmente dedicado ao funcionamento das eleições. Em verdade, em nada alterou as determinações feitas pelo então PríncipeRegente D. Pedro ao convocar as eleições para a Assembléia Constituinte em 1822 e tal estado de coisas somente receberá algumas pequenas alterações – sem importância de vulto -, na década de 1880, com a publicação da Lei Eleitoral Saraiva. O Título VII, porém, é aquele que se destaca como um dos mais longos da Constituição Imperial e trata, especificamente, das disposições gerais e das garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, em toda a sua plenitude. Em verdade, aqui se acham inseridas as marcas das primeiras preocupações, dizendo do respeito que merece a dignidade da pessoa. Entretanto, o que vai chamar a atenção, em especial, no processo político-jurídico elaborado na Constituição Imperial de 1824 diz respeito - junto aos universais Poderes ditos Constitucionais estipulados por Montesquieu -, ao estabelecimento de um 4º poder, o Poder Moderador. O Título V, “Do Imperador”, tem o Capítulo I, com seus 4 Artigos e seus 9 Parágrafos totalmente dedicados ao tema “Poder Moderador”. Em realidade, O “Poder Moderador” oficializa o direito de intromissão do poder Imperial nos demais poderes constituídos, mas “sempre no interesse da nação e do Império”, visando o fiel cumprimento da Constituição. Não se trata, portanto, de uma 299 arbitrariedade ou de uma ruptura constitucional. Igualmente, a bem da verdade deve ser dito, raríssimas foram as vezes nas quais D. Pedro I ou, posteriormente, D. Pedro II dele fizeram uso. O exercício normativo da máquina administrativa monárquica desempenhou a contento as predições estipuladas pela Constituição. O Imperador funcionava mais como um juiz supervisor, coibindo quaisquer abusos eventuais, sempre em defesa dos anseios da nação, até mesmo em se tratando de avanços mais arriscados para a época, como no caso da escravidão, por exemplo. O primeiro reinado, no que diz respeito à parte político-administrativa e jurídica, nos seus nove anos de existência, funcionou a contento, sem alterações de maior porte. Após a plena pacificação do país, com o domínio seguro dos movimentos republicanos separatistas, bem como o esmagamento das forças rebeldes compostas por desordeiros, no Rio de Janeiro, a vida do império nascente fluiu sem atropelos. Tal afirmação pode ser dita quanto aos aspectos supra citados. Já quanto à vida pessoal do Imperador, o mesmo não pode ser propalado. Infelizmente, seus desmandos extrapolaram quaisquer normas estipuladas pela ética e pelo decoro. Seus escândalos amorosos afetaram a estima que o povo sentiu por Ele, nos idos de 1822. Os maus tratos inflingidos à D. Leopoldina – venerada pelo povo em função de suas excelsas qualidades -, acabaram por provocar crises no seio da população, sobretudo por ocasião do falecimento da Imperatriz, em janeiro de 1826. A crise internacional provocada pela Argentina que pretendia a posse da Província brasileira da Cisplatina, levou o país a uma guerra na qual foi perdida aquela Província que se transformou na República Oriental do Uruguai. Também com o falecimento de El Rei D. João VI em 1826, D. Pedro I foi aclamado Rei de Portugal sob o título de D. Pedro IV mas, no Rio de Janeiro, abdicou Ele a coroa portuguesa em favor de sua filha mais velha, D. Maria da Glória, a qual acabou por se tornar vítima da ambição ilimitada por parte de seu tio D. Miguel – irmão de D. Pedro I -, que mesmo tendo se tornado noivo da Rainha e nomeado Regente do Reino de Portugal -, lhe usurpou a coroa, em 1828. Uma vez mais acirraram-se os ânimos entre nacionais e portugueses, crescendo a antiga rivalidade dos dois partidos de antes da Independência. Os lusos incentivavam D. Pedro a que lutasse pelos direitos da filha e os brasileiros acusavam o Imperador de se preocupar mais com os interesses portugueses do que com os brasileiros. Apesar de D. Pedro I, a partir de 1829, se encontrar novamente casado, feliz, com a cabeça mais assentada e uma vida serenada, nunca mais teve paz. O desejo de vingança contra seu irmão que surrupiara o trono da filha, não lhe saia da cabeça. Cronistas, como Mello Morais em seu precioso livro “Brasil Reino Brasil Império” além de outros daquela época, atestam o afirmado. O gênio impulsivo, irritadiço, do Imperador, não lhe permitiu conter uma explosão de ódio incontido contra um grupo que se rebelara contra Ele, tendo como causa a nomeação de um novo ministério que não caíra no goto popular. Não dispondo de força armada suficiente para dissolver os amotinados, na madrugada de 07 de abril de 1831, num gesto intempestivo, surpreendente, sentou-se à uma mesa e redigiu a sua abdicação, em caráter irrevogável, dirigindo-se no mesmo momento para bordo de um navio que partia para a Europa. Deixava Ele uma situação amotinada, sem ordenação política, à beira de uma revolução, tendo à testa de tudo isto, um novo Imperador, seu filho, com apenas 5 anos e quatro meses de idade, aquele mesmo que viria a ser D. Pedro II. 300 O Período Regencial Conforme afirmado no capítulo anterior. A Constituição outorgada de 25 de março de 1824 foi uma peça notória no que tange a confecção de uma Lei de tal porte. Os dez responsáveis por sua elaboração, fizeram um trabalho brilhante, em nada se descuidando, nem mesmo mostrando-se imprevidentes em situações hipotéticas, para casos aparentemente espúrios ou provavelmente inexistentes. Em nove artigos do Capítulo V (de 121 a 130), a Constituição Imperial trata do assunto a respeito do estabelecimento de uma Regência, em vários casos específicos quanto ao impedimento do Imperador. Ali, no artigo 123 é afirmado que “em caso da menoridade do Imperador e não tiver Ele parente algum com idade igual ou superior a 21 anos, será o Império governado por uma Regência permanente, nomeada pela Assembléia Geral, composta de três membros, dos quais o mais velho em idade será o Presidente.” Desta forma, tão logo ocorreu a abdicação de D. Pedro I, tratou-se de se constituir uma Regência para governar o país. Como a Assembléia Legislativa se encontrasse no gozo de férias, os parlamentares que se achavamavam no Rio de Janeiro reuniram-se formando uma Regência Trina Provisória, enquanto aguardavam o retorno dos seus companheiros. A grande preocupação desta Regência Provisória foi a de aquietar os ânimos exaltados, respeitando os anseios da dignidade social, fazendo retornar o Ministério pedido pelo povo, causa imediata da abdicação de D. Pedro I. Uma Lei Orgânica foi votada estabelecendo as funções dos Regentes as quais, embora imperiais, não dava a eles os majestáticos direitos inerentes à pessoa do Imperador. Há que se atentar que, mesmo naquela situação esdrúxula alguns republicanos integran- tes dos grupos mais exaltados mantiveram o respeito pela instituição monárquica, fragilmente representada por uma criança de apenas cinco anos de idade. A dignidade social assim o exigia, uma vez que o pequeno Imperador era considerado o “órfão da nação brasileira”, que tomou à sua guarda, a segurança e os direitos do indefeso menino. Ninguém ousaria enfrentar a ira popular em qualquer agravo, que tivesse como alvo a débil pessoa do Imperador-menino. Acresça-se ainda, que a Regência era composta pelo que de mais íntegro existiu naqueles tempos difíceis. Em maio de 1831 foi eleita a Regência Trina Permanente. Durante este período, as arruaças dominaram o Rio de Janeiro e as revoltas se sucediam, não contra o Imperador ou contra a Monarquia, mas contra a política regencial. Os governantes não se entendiam. Para resolver tal situação, o Padre Diogo Antonio Feijó foi nomeado Ministro da Justiça, cargo que apenas foi por ele aceito após ter recebido “carta branca” da Assembléia, no intuito de restabelecer a ordem pública. Se ele de fato conseguiu alguma vitória sobre os movimentos sediciosos no Rio de Janeiro, na verdade a situação de insatisfação política alastrou-se por todo o país, com revoltas e revoluções por várias províncias: no Pará estourou a Cabanagem (1835-1840); na Bahia, a Sabinada (1837-1838), no Maranhão a Balaiada (1838-1841) e no Rio Grande do Sul, a mais longa e perniciosa de todas, a Revolução Farroupilha (1835-1845). Foi a partir deste momento que, na Assembléia Geral, começaram a tomar corpo os primeiros grupamentos verdadeiramente políticos. Os Moderados, também chamados “Chimangos”, eram liderados pelo Padre Feijó, Evaristo da Veiga, Bernardo Pereira de Vasconcellos e Honório Hermeto Carneiro Leão, que lutavam por reformas graduais, sem traumas para a sociedade predominantemente oligárquica, administrando, à 301 revelia, mas sem nenhum confronto, as classes de menor ou de nenhuma representatividade sócio-política. Tal fato, no entanto, não excluiu a presença dos liberais exaltados, também chamados farroupilhas ou Jurujubas, que pugnavam por reformas de caráter mais amplo na âmbito liberal, pretendendo até a implantação de uma república, independentemente de ser ouvida a opinião pública. De uma forma mais ampla, pretendiam a federalização, com uma união total para as Províncias independentes. Em que pese contra eles a forma violenta de ação, com levantes populares e de grupelhos militares armados, sob a liderança do Major Miguel de Frias promovendo arruaças, não é possível negar terem sido eles os principais articuladores da edificação do Ato Adicional, tornado público em 12 de agosto de 1834, Ato este que representava uma maior liberdade aos anseios da sociedade em luta por uma maior abertura política, caminho único em direção ao leque das aspirações pretendidas. A par dos exaltados, podem ser citados igualmente os chamados “Restauradores”, conhecidos como “Caramurus”, que lutavam pela volta do ex-Imperador D. Pedro I ao trono brasileiro. Luta completamente sem sentido, uma vez que o agora Duque de Bragança encontrava-se em uma guerra acirrada contra seu irmão D. Miguel, em Portugal, sem qualquer pretensão de retornar ao Brasil. Mas, o fato é que, mesmo em campos antagônicos, Caramurus e Farroupilhas, empregaram táticas semelhantes contra o governo da Regência, numa tentativa vã de desestabilizá-lo. Com a publicação do Ato Adicional de 1834 - que concedia mais liberdade para as Províncias e criava a Regência Uma, entre outras transformações -, bem como o falecimento do ex-Imperador D. Pedro I em 1834, a razão primordial de ser da existência dos Exaltados arrefeceu e a do Partido Restaurador, deixou de existir. Como decorrência da publicação do Ato Adicional, incorporado à Constituição de 1824, foi promovida a eleição para Regente Único do Império, tendo sido eleito o Padre Diogo Antonio Feijó, em 07 de abril de 1835, que estabeleceu suas bases políticas apoiadas nos moderados. Entretanto, por sua arrogância, prepotência e a apresentação de projetos considerados por demais arrojados na época, foi perdendo o apoio político dos antigos companheiros, que acabaram por formar uma oposição ao Regente. Para fazer frente a esta oposição, na Câmara e no Senado, Feijó conseguiu agrupar ao seu redor um pequeno número de seguidores fiéis que foram denominados “Progressistas”. Numa franca discórdia a tal grupo, o Deputado Bernardo Pereira de Vasconcellos formou um grupo rival que se autodenominou “Regressistas”, opondo-se ao “progressismo” de Feijó, que parecia querer levar o país a um liberalismo excessivo, perigoso de se tornar incontrolável. É bom ter-se em mente que os excessos cometidos pela Revolução Francesa ainda se encontravam assustadoramente latentes. Ao grupo de Bernardo Pereira de Vasconcellos uniram-se os antigos “Chimangos”, os “Caramurus” e outros elementos de caráter mais tradicional. Porém, o nome “Regressista” não foi bem aceito pelo grupo que, em consenso, criou o “Partido da Ordem”, nome este que, quase de pronto, foi mudado oficialmente para “Partido Conservador”. Por razões não muito bem esclarecidas – doença e insatisfação política ou ambas -, Feijó renunciou ao cargo de Regente em 1837, assumindo em seu lugar Pedro de Araújo Lima, que intentou formar um governo, agrupando os nomes mais ilustres da 302 época; foi aquele que ficou conhecido na História Pátria com o nome de “Ministério das Capacidades”. Entretanto, o nome “Partido Progressista” servia de entrave à união do grupo. Desta forma, os integrantes daquele partido acharam por bem trocar o nome da agremiação para “Partido Liberal”. Assim se instituíram as duas grandes agremiações políticas que iriam gerir os destinos do Brasil durante o reinado de D. Pedro II, numa alternância ininterrupta no poder: Partido Conservador e Partido Liberal. Em verdade, estes dois partidos não ofereciam em suas bases nenhuma diferença ideológica e nem tinham princípios distintos um do outro. Lutavam entre si, simplesmente pela posse do poder, na maioria das vezes em âmbito local, provincial ou na Capital. Seus membros caracterizavam-se mais por serem um grupo político rival, do que propriamente um Partido Político. Ambos eram compostos por elementos oriundos da burguesia interiorana de cafeicultores, defendendo interesses comuns. Não havia uma distinção clara entre eles. Havia membros do “Partido Conservador” mais liberais do que muitos dos integrantes do “Partido Liberal”, e vice-versa. Muitas Leis de cunho liberal, propostas por liberais foram sancionadas por conservadores, o mesmo acontecendo em caso inverso, segundo a alternância no poder, uma vez que o sistema bipartidário adotado no Brasil Imperial mostrou-se semelhante ao modelo inglês. Ironicamente era costume dizer-se na época, que nada era mais liberal do que um conservador no poder nem mais conservador do que um liberal no poder. Como as discórdias de política interna persistissem, em 23 de julho de 1840, por expressiva maioria do Congresso, o Imperador-menino, com pouco mais de 14 anos de idade foi declarado maior. Graças à organicidade monárquica o país passou a ter uma vida política e social de plena normatividade. D. Pedro II, extremamente culto e estudioso permanente, de tudo se inteirava quanto aos problemas sociais existentes no Brasil, tendo demonstrado, durante toda a vigência do seu longo reinado de 49 anos, uma preocupação constante com os destinos das classes menos favorecidas, buscando dirigir, com a sua discreta e constitucional atuação política, o encaminhamento em direção a uma evolução no campo social. Por aqueles idos, não havia por aqui uma organização de classes capaz de dar ao processo eleitoral uma feição de caráter democrático. A predominância encontrava-se concentrada na aristocracia rural, mas tal fato, de forma alguma, significava uma distorção ou discordância com a classe trabalhadora rural, muito pelo contrário, marchavam elas lado a lado em interesses comuns. Entretanto, buscando uma melhoria no campo da representatividade, várias reformas na Lei Eleitoral original foram introduzidas; assim, houve a reforma de 1855, depois a de 1860 e posteriormente a de 1875, todas refletindo um fracasso só. Foi a partir de então que o país inteiro, mesclando liberais e absolutistas, se mobilizou em busca de uma bandeira que se afigurava como salvadora. Graças ao apoio entusiasta do Imperador, que ordenara ao conservador Sinimbu que promovesse a deflagração do problema no Parlamento, problema este que seu sucessor, o liberal Conselheiro Saraiva conseguiu aprovar com a maior facilidade, o exercício da eleição indireta em dois turnos se extinguiu, estabelecendo-se no país a eleição direta, a partir da década de 1880. Em verdade, o D. Pedro II não era homem voltado para a política, somente a ela se dedicando como decorrência inerente à sua função. Sua grande e maior preocupação era o problema social, pugnando Ele, numa constância, pelo equilíbrio do qual resultaria uma melhor condição de vida para todos os súditos do Império, independente- 303 mente de sua posição social. Conclusão Pode parecer uma utopia tratar-se do tema “Dignidade dos Seres Humanos” em um país onde vigia a violência do sistema escravocrata, mas necessário se torna esclarecer que, desde os seus alvores, encontravam-se incrustadas nas Leis, bem como em vários projetos Imperiais, a preocupação com a extinção de tão abominável e odioso regime, e isto com o apoio incondicional dos dois Imperadores, intermediando-se entre Eles, o incentivo do Regente Feijó. Somente os interesses econômicos da oligarquia rural, verdadeira detentora do Poder Legislativo e, consequentemente, do Poder Executivo, lutaram por sua manutenção. Entretanto, gradativamente, graças à luta travada pelos defensores da “Dignidade dos Seres Humanos” contra tal arbitrariedade social, a escravidão foi, finalmente, abolida em todo o Império do Brasil. O que é possível depreender destes estudos a respeito dos primórdios da formação e da edificação da política partidária do Império do Brasil, tendo como foco a Dignidade do Ser Humano, leva o estudante a um aprofundamento dos estudos em direção ao ecletismo político, tão vigente por ocasião do esplendor do século XIX. O ecletismo político surgiu na França, como uma reação liberal aos excessos cometidos pelos revolucionários de 1789, dando origem ao “Liberalismo Doutrinário”. Na obra “História das Idéias Políticas”, organizada por Jean Touchard, podem ser encontradas as bases dos iniciadores deste pensamento. Em verdade, o fundamento para o nascedouro do “Liberalismo Doutrinário”, também denominado “Liberalismo Eclético” tem suas raízes em decorrência das atitu- des tomadas pela Revolução Francesa. Segundo seus idealizadores liberais, como Benjamin Constant e Aléxis de Tocqueville, entre outros, é preciso por um fim à violência revolucionária, construir instituições que assegurem as conquistas alcançadas, impedindo, desta forma, o retorno dos reacionários e dos conservadores absolutistas. O caráter apregoado pelo “Liberalismo Eclético” situa-se em uma fase intermediária, nitidamente conciliatória, renegando a violência como forma de derrotar o absolutismo para impor o liberalismo. Ao mesmo tempo em que condena o absolutismo aliado a um autoritarismo mais radical, apregoa a defesa de uma autoridade moderada, considerada como primeiro degrau para uma escalada ao patamar do “Estado de Direito”. Entre a monarquia absolutista e a república libertária, opta o “Liberalismo Doutrinário” por uma Monarquia Constitucional e Representativa, objetivando mais as garantias em defesa da dignidade da pessoa e da sociedade. Entre o repúdio dos absolutistas às eleições democráticas e o sufrágio universal defendido pelos liberais extremados, ocorre uma franca opção pelas eleições censitárias, mais restrita aos proprietários e universitários, capazes de compreender o estabelecimento de um governo moderado, em defesa abrangente dos interesses nacionais. Por todos estes pontos é que o “Liberalismo Doutrinário” tornou-se eclético, até mesmo em se tratando de uma ótica religiosa. Enquanto a Igreja servir aos interesses nacionais, visando um melhor equilíbrio da sociedade em busca da dignidade humana, será sempre bem aceita e até mesmo considerada como uma aliada de peso. No Brasil, de um modo geral, a obra de João Camilo de Oliveira Torres, “Os Construtores do Império”, vê o ecletismo descrito, quer pelos conservadores quer pelos 304 liberais, como um mero conservadorismo sócio-político. É muito provável que a aproximação e até mesmo a quase fusão dos dois grandes partidos políticos do Império tenha sido provocada pelo temor ao radicalismo dos liberais mais exaltados. Um dos principais teóricos do conservadorismo e da ordem centralizada no Brasil, Paulino José Soares de Souza (1807-1868), o Visconde de Uruguai, mostrou o seu ecletismo no “Ensaio sobre o Direito Administrativo” ao afirmar, logo no início da sua obra, à página 5: “A Liberdade Política é essencial para a felicidade de uma nação”, dando prosseguimento ao seu raciocínio no mesmo magnífico teor, ao afirmar na página 383: “O que uma nação deve ter em vista nas suas instituições é assegurar a liberdade, o direito, a garantia e o bem-estar dos cidadãos.” É possível ser percebido o interesse e a preocupação do pensamento eclético entre os primeiros homens públicos, intelectuais no nascente Brasil imperial, ocasião em que se mantinha patente a luta inicial pelo estabelecimento da forma de governo a ser adotada no país após a sua independência. Ainda preocupados com os excessos cometidos pelos republicanos franceses de 1789, os estudiosos brasileiros do “Liberalismo Doutrinário”, atestaram, enfaticamente seu ecletismo, em todas as suas publicações. Além do já citado Visconde de Uruguai, merecem que sejam lembrados o Marquês de São Vicente, com seu notório “Direito Público Brasileiro”, editado em 1857, Justiniano José da Rocha, autor de “Ação, Reação e Transição” de 1855 e em especial, Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, (1794-1870), o futuro Visconde de Jequitinhonha (1854), um dos primeiros pensadores brasileiros a demonstrar sua preocupação com a dignidade dos seres humanos, autor da magistral “A Liberdade das Repúblicas”, de 1834, onde ele sintetiza seu pensamento eclético, logo na página 3, ao exibir sua particular preocupação com as classes menos favorecidas: “As mo- narquias bem constituídas são os governos mais liberais e protetores particularmente das Classes pobres e industriosas, e menos sujeitos a preconceitos contra a igualdade natural dos homens, do que as repúblicas, onde não só se acreditam e tomam substância as distinções sociais, como os preconceitos de Classe são menos generosos, completamente intolerantes e atrozes.” (citado por Ubiratan Borges de Macedo em “A Liberdade no Império” – pg. 108) Alguns poucos autores com menor preocupação filosófica ou ideologia antagônica arrolam Jequitinhonha no bloco dos “reacionários conservadores tradicionalistas”, palavras que soam quase que como uma ofensa, numa tentativa de denegrir e macular a imagem de um culto homem público, pela simples adoção de tais princípios contrários aos seus. Aliás, é bom ser tomado o devido cuidado para que não seja confundida a palavra “tradição” com reacionário e até mesmo com conservador, uma vez que “tradição” não é um mero saudosismo do passado, mas sim, o culto respeitoso das civilizações que nos precederam. Jequitinhonha não pode ser arrolado como um reacionário de nenhuma estirpe uma vez que, um reacionário ou mesmo um conservador daqueles idos, jamais admitiria a igualdade natural entre homens e muito menos advogaria a existência da Monarquia Constitucional como forma ideal de um governo representativo. Desde os seus primórdios na vida política, ainda na Assembléia Constituinte, foi ele um militante nas hostes liberais moderadas tendo, mais tarde, se notabilizado por ter sido dos primeiros a propor a abolição total da escravatura, ainda no período que antecedeu a da Guerra contra o Paraguai. As bases reais do “Liberalismo Doutrinário” fundem-se na chancela do ecletismo, pugnando pela conciliação do binômio “ordem e liberdade”. 305 Em decorrência da posição assumida pelos autores acima citados, os críticos do “Liberalismo Doutrinário” veem no ecletismo uma oposição ao conceito mais amplo de liberdade em defesa dos direitos da dignidade dos seres humanos. Não atentaram estes liberais exaltados, como Frei Caneca, Theófilo Ottoni e Affonso d´Albuquerque Mello entre outros, que a concepção de liberdade moderada defendida pelos ecléticos, opondo-se à liberdade radical igualitária oriunda do pensamento de Rousseau, tinha em vista, até mesmo, uma defesa melhor estruturada das classes mais desprotegidas, como bem ressaltou Jequitinhonha. Durante todo o longo reinado de 49 anos exercido por D. Pedro II, pode ser constatado que uma das preocupações que receberam melhor atenção por parte do Imperador atinha-se ao respeito pelo direito das pessoas, fossem elas cidadãs ou não. A própria pessoa do Imperador, que merecia tratamento mais reverente, mormente por parte da imprensa, tratamento este que poderia e deveria ter sido alvo de uma resposta jurídica à altura das irreverências externadas, não teve prosseguimento, graças a uma intervenção direta e pessoal do Monarca, que argumentava, amiudadamente, que “a liberdade dos súditos do Império deve ser respeitada e assegurada”, como cita Heitor Lyra em sua obra “História de D. Pedro II, tomo III. Tais atitudes por parte D. Pedro II, algumas vezes, deixam perplexos aqueles que estudam e analisam as liberdades políticas e sociais vigentes durante o século XIX no Brasil, mormente nos últimos tempos do Império. O excesso de zelo visando o bem-estar do povo, bem como o respeito demonstrado pelo Imperador pela liberdade e pela dignidade dos súditos do Império suscitam, em determinadas ocasiões, uma dúvida, se tais excessos não poderiam ter, até mesmo, estimulado a rebeldia do pequeno grupo que acabou por acarretar o fim da instituição monárquica no Brasil. Teriam as assertivas filosóficas e ideológicas do cultíssimo D. Pedro II, no que tange a liberdade e o respeito à dignidade das pessoas e dos cidadãos, extrapolado o equilíbrio preconizado por Tocqueville e Jequitinhonha, aproximando-O mais dos ideais apregoados por Rousseau? A cultura, a serenidade e o equilíbrio, invariavelmente demonstrados por D. Pedro II - mormente em se tratando do respeito às pessoas e em especial aos súditos do Império -, servem de resposta para dirimir tais dúvidas, mas se tanto não bastasse e lançando mão do historicismo, pode ser afirmado que sim, no Brasil Imperial houve uma preocupação especial para com o respeito aos valores das pessoas, cidadãs ou não. Desta forma, nada melhor para encerrar o presente artigo do que, citando Octávio Tarquínio de Souza em sua obra “História dos Fundadores do Império”, repetir a frase pronunciada por Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 1838, por ocasião da inauguração dos cursos do Colégio Pedro II : “O tempo que é sempre o condutor da verdade e o destruidor da impostura, fará conhecer a ação e a razão do personagem responsável pelo fato histórico”. Referências Bibliográficas MACEDO, Ubiratan Borges de. “A Liberdade no Império”: 1975. São Paulo: Editora Convívio. SOUZA, Octávio Tarquínio de. “História dos Fundadores do Império”: 1957. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora. 306 BRASI, Constituição do Império do: 1824. Rio de Janeiro. CIDADÃO, Declaração dos Direitos do Homem e do: Paris, 1789. PEREIRA, Baptista. “Figuras do Império e Outros Ensaios”. 1931. São Paulo: Cia. Editora Nacional. VIANNA, Hélio. “Vultos do Império”. 1968: São Paulo: Cia. Editora Nacional. LUSTOSA, Isabel. “D. Pedro I”. 2008. Rio de Janeiro: Cia. Das Letras. VIANNA, Oliveira. “O Ocaso do Império”. 1928: São Paulo: Cia. Melhoramentos de São Paulo. TORRES, João Camilo de Oliveira. “Os Construtores do Império”. 1968. São Paulo: Cia. Editora Nacional. TORRES, João Camilo de Oliveira. “A Democracia Coroada”. 1964. Belo Horizonte: Livraria José Olympio Editora. SETUBAL, Paulo. “As Maluquices do Imperador”. 1953. Rio de Janeiro: Saraiva Editora. LIRA, Heitor. “História de D. Pedro II”. 1938. Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional. NORONHA, Eduardo de. “Os Marechais de D. Maria II”. 1928. Lisboa: J. R. Torres Editores. SCHMIDT, Maria Junqueira. “Princesa D. Maria da Glória”. 1934. Rio de Janeiro: F. Briguiet Editores. O Direito ao Processo Justo com Instrumento de Realização do Direito Fundamental à Tutela Jurisdicional Marcia Ignácio da Rosa Resumo Esta pesquisa teve por objetivo refletir sobre a (re)afirmação do direito fundamental à razoável duração do processo, trazida pela Emenda Constitucional nº 45 e sua incidência no princípio do acesso à justiça, sob o enfoque do Estado Constitucional contemporâneo. Para alcançar o propósito, procedeu-se à análise da moderna concepção do Estado Democrático de Direito, da tutela jurisdicional como Direito fundamental e razoável duração do processo, segundo a doutrina e a legislação constitucional e processual pátria. Os resultados são coerentes com outros achados que apontam sentido de que o Estado não tem conseguido alcançar seu objetivo precípuo no exercício da função jurisdicional na solução de conflitos, especialmente pela via reformadora do sistema processual civil, trazendo, por conseguinte, confusão e instabilidade ao ordenamento jurídico brasileiro. No que concerne à razoável duração do processo, entre outras conclusões, merece destaque aquela relativa ao papel do magistrado na definição do tempo necessário para atender às peculiaridades e singularidades do processo. Ao final, chama-se atenção para o necessário movimento contínuo e permanente na busca da efetividade e da instrumentalidade do 307 processo, como meio de ampliação da participação democrática na sociedade moderna. Palavras-chave: Acesso à Justiça. Lei Processual. Efetividade. Razoável Duração do Processo. Reforma do Poder Judiciário. Abstract This research has the objective of contemplatin the (re) stattement of the fundamental right to the reasonable duration of the process, brought by the constitutional amendment nº. 45 and this incidence in the beginning of the access to the justice, under the focus of the contemporary constitutional state. To base this study and to reach the initial purpose of the research, it is made the analysis of the modern conception of the Democratic State of Right, as well as of the procedural legislation homeland and of legal devices of foreign procedural systems, in the constitutional order and under constitutional, that demonstrate concern with the reasonable uration of the process and appropriate jurisdictional protection, in agreement with the successive legislative alterations. As a result of the research it is observed that the state has not been getting to reach his principal objective in the exercise of the jurisdiction function in the solution of conflicts, especially by the way of reformulation of the civil procedural system, bringing, consequently, confusion and instability to the Brazilian juridical system. Nevertheless, the proposed theme is justified for constituting in a continuous and permanent movement in the search of the effectiveness and of the instrumentality of the process as a way of democratic participation in the modern society. Keywords: Access to justice, procedural law, effectiveness, reasonable duration of the process, reform of the judiciary power; O processo justo como concretizador do direito à tutela jurisdicional efetiva A evolução do direito processual, naquilo que diz respeito ao direito pátrio, tem suas origens no direito romano. Apesar das inúmeras transformações ocorridas desde então, a ligação com as suas origens permanece estreita. Importante contextualizar, nesse ponto, as teorias que marcaram o estudo sobre a natureza jurídica do processo. O reconhecimento da natureza jurídica do processo registra sua importância na identificação dos princípios que norteiam sua criação e a compreensão. Dentre as doutrinas processuais destaca-se as teorias de natureza privatista como a do contrato e do quase-contrato; e as teorias de natureza publicista, como as teorias da relação jurídica, da situação jurídica, do processo como procedimento em contraditório e do processo como entidade complexa.1 O processo como contrato demonstra suas origens romanas na litis contestatio, quando o estabelecimento do processo verificava-se pela aceitação das partes em submeter o conflito à decisão do juiz. O processo era, então, um contrato acessório ao contrato social estabelecido pelos homens livres e que, em sua convivência se propunham a solucionar suas controvérsias pacificamente. Esta teoria, de bases iluministas, marcou o século XVII, caracterizando-se pela plena convenção das partes, sobre as quais incidem os objetivos desta teoria processual, sendo inegável a sua natureza privatística. A teoria não se sustentou por não conseguir explicar a atuação do juiz pela litis contestatio e a 308 participação involuntária do réu. Para a teoria do quase-contrato o processo não era considerado um contrato por não existir o elemento volitivo da parte ré, uma vez que o processo poderia obrigar o réu a comparecer em juízo pela condução judicial coativa, razão pela qual não era um ato bilateral de vontade. Entendiam seus defensores que o processo não chegava a ser contrato, tão pouco delito; assim entenderam ser quase um contrato, muito embora reconhecessem os aspectos contratuais quando da aceitação das partes da atuação do juiz. Por esta teoria o processo se caracterizava por atos imperativos de jurisdição, desde a instauração do procedimento. Em verdade seus defensores não conseguiram explicá-la de forma aceitável. A teoria do processo como relação jurídica é a grande contribuição de Oskar von Bülow no século XIX2. Para os defensores desta teoria, o processo é uma relação que se estabelece, juridicamente, entre seus sujeitos, desenvolvida através de uma complexida1 Registre-se sobre a evolução histórica da natureza jurídica do processo o entendimento do processo como instituição e como categoria jurídica. Apesar da contribuição de ambas para a evolução e aprofundamento do pensamento científico do tema, não foram capaz de influenciar o pensamento moderno. 2 “(...) Oskar Von Bülow chegou à conclusão de que o juiz, ao julgar, sempre enfrentou duas ordens de matérias. Previamente, antes de examinar a questão de fundo, o contrato de compra e venda, por exemplo, verifica se houve preparo regular do julgamento, de forma tal que a decisão possa ser proferida, sem riscos da falta de elementos necessários ao perfeito entendimento da questão a ser decidida. O juiz, primeiramente, julga a matéria de processo. Se estiver regular, passa, de imediato ao julgamento da questão de fundo. Esta idéia foi o marco inicial do processo como ciência jurídica autônoma. (...) Estabelecida a premissa de que, no processo, se há direitos e obrigações para seus sujeitos, pode ele ser conceituado como espécie de relação jurídica, que é o vínculo que une duas ou mais pessoas, com direitos e obrigações recíprocas.” SANTOS, Ernane Fidelis dos. Manual de direito processual civil. v.1. 10. Ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2003, p.28. de de direitos, poderes, deveres, faculdades das partes e do juiz, desenrolando-se rumo à sentença. Este pensamento traz a noção de relação existente entre o juiz, o autor e o réu, pressupondo uma relação subordinativa entre os sujeitos parciais e de ambos com o magistrado, materializando-se graficamente como relação processual triangular.3 O processo como situação jurídica é inspirado por James Goldschimidt4, em contraposição à teoria da relação jurídica por entender não haver direitos e obrigações entre os sujeitos do processo, muito menos entre esses e o juiz. O pensamento que permeia esta doutrina é de que o provimento final assinala a disputa travada entre as partes, como se um jogo fosse, criando uma situação de expectativa em razão deste provimento. A grande contribuição dessa corrente doutrinária foram as concepções de faculdades e ônus processual e sua respectivas conseqüências no processo, que foram assimiladas pela doutrina da relação jurídica processual. É Fazzalari quem capitaneia a teoria que procura explicar a natureza do processo5 como procedimento6 em contraditório. A estrutura e o desenvolvimento dialético é que permitirão afirmar a existência do processo, o que somente ocorrerá pela participação ativa do autor do ato final e dos destinatários deste. Contudo, a participação por si só, não é suficiente para a caracterização do processo, sendo apenas um dos seus elementos, não reduzindo sua existência a ela. A participação dos interessados no provimento final deverá ser considerada desde a fase preparatória do ato final. Portanto, o processo existirá quando concorrerem para a formação 309 do ato, o seu autor e os destinatários dos efeitos deste ato. As atividades desenvolvidas, 3 Diverge a doutrina sobre a configuração gráfica da relação processual, havendo, além da configuração triangular (Wach) os que defendem a configuração angular (Hellwig) e os que sustentam ser a relação processual linear (Köhler). Sobre a configuração angular afirmam seus defensores que inexiste relação jurídica entre as partes reciprocamente, apenas entre estas e o Estado e para os defensores da configuração linear inexiste contato direto entre autor e réu, afirmando que há posições processuais que ligam o Estado e o autor e por outro lado o réu e o Estado. Majoritariamente o entendimento é de que se existe direito sem uma obrigação que lhe seja correlata e ainda assim, presente está o vínculo, suficiente será haver o interesse comum revelado no processo para que se caracterize a relação. 4 GOLDSCHIMIDT, James. Teoria geral do processo. São Paulo: Minelli, 2003 5 “O “processo” é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver efeitos: em contraditório, e de modo que o autor do ato não possa obliterar as suas atividades. Não basta, para distinguir o processo do procedimento, o relevo que no processo tem a participação de mais sujeitos, cujos atos que o constituem são movidos não somente pelo autor do ato final, mas também por outros sujeitos. Como ressaltado, quando se fala de procedimento “plurissubjetivo”, refere-se ao esquema de atividade em seqüência, movida por mais sujeitos, que se distingue do esquema do verdadeiro processo. (...). É necessária alguma coisa a mais e diversa; uma coisa os arquétipos do processo nos permitem observar: a estrutura dialética do procedimento, isto é, justamente, o contraditório”. FAZZALARI, op. cit., p. 119. 6 Para a Fazzalari procedimento se apresenta como uma seqüência de atos, os quais são previstos e valorados pelas normas. “O procedimento é, enfim, visto como uma série de faculdades, poderes, deveres, quantas e quais sejam as posições subjetivas possíveis de serem extraídas das normas em discurso e que resultam também elas necessariamente ligadas, de modo que, por exemplo, um poder dirigido a um sujeito depois que um dever tenha sido cumprido, por ele ou por outros, e por sua vez o exercício daquele poder constitua o pressuposto para o insurgir-se de um outro poder (ou faculdade ou dever)”. Ibid., p. 118. em contraditório7, pelos interessados, determinadas pelo autor do ato, “cujos resultados ele pode desatender”8, mas não ignorar. O processo como entidade complexa é tratado por Dinamarco a partir das anotações que faz à concepção de Fazzalari do processo como procedimento em contraditório.9 Dinamarco adere a esse aspecto da doutrina do procedimento realizado em contraditório, pois como afirma, permite que se liberte o processo das amarras conceituais de instrumento da jurisdição. Reconhece que a doutrina de Fazzalari vislumbrou o processo do ponto de vista externo do sistema, ou seja, partindo da política traçada pela Constituição.10 Decorre daí a afirmação de que provimentos proferidos sem a observância do adequado procedimento, ditado pelo contraditório não se coadunam com o Estado proposto pela Constituição de 88. A participação, considerada pela teoria do processo como entidade complexa, é o contraditório, requerido pela ordem constitucional. É de se desejar, portanto, que a atividade participativa dos sujeitos ocorra pela adequação de instrumentos jurídicos, colocados à disposição.11 A participação no contraditório, segundo Dinamarco, é a exteriorização da projeção processual do princípio da isonomia que permeia o procedimento. As duas teorias anteriormente explanadas, ainda que não contempladas pela doutrina majoritária, convergem para o que a moderna processualística vem tratando de ativismo judicial, que pugna pela maior participação do juiz no processo. Registre-se, por oportuno, que o ordenamento pátrio consagra a teoria da relação jurídica processual, apesar de doutrinadores renomados, reconhecerem o mérito da concepção do processo como procedimento em contraditório, como mencionado anteriormente. 310 7 “Tal estrutura consiste na participação dos destinatários dos efeitos do ato final, na simétrica paridade das suas posições; na mútua implicação das suas atividades (destinadas, respectivamente, a promover e impedir a emanação do provimento); na relevância das mesmas para o autor do provimento; de modo que cada contraditor possa exercitar um conjunto – conspícuo ou modesto, não importa – de escolhas, de reações, de controles, e deva sofrer os controles e as reações dos outros, e que o autor do sto deva prestar contas dos resultados”. Ibid., p. 119-120. 8 Ibid., p. 120. 9 ‘Adverte-se desde já que, aceitando embora suas colocações no que têm de fundamental, não se vê razão em Fazzalari ao repudiar “o desgastado e impróprio clichê da relação jurídica processual” (...) Apóia-se a Fazzalari, portanto na generosa idéia de incluir no conceito de processo o elemento político-constitucional do contraditório. Rejeita-se a sua proposta de excluir a relação processual, pois deixaria aquela rica idéia sem suporte técnico suficiente a explicar a vida real do processo como experiência jurídica.” DINAMARCO, op. cit., 2002, p.153. 10 “Diz-se que processo é todo procedimento realizado em contraditório e isso tem o mérito de permitir que se rompa com o preconceituoso vício metodológico consistente em confiná-lo nos quadrantes do instrumento da jurisdição; a abertura do conceito de processo para os campos da jurisdição voluntária e da própria administração ou mesmo para fora da área estatal constitui fator de enriquecimento da ciência ao permitir a visão teleológica dos seus institutos além dos horizontes acanhados que as tradicionais posturas introspectivas impunham. (...). Procedimento e contraditório fundemse numa unidade empírica e somente mediante algum exercício do poder de abstração pode-se perceber que no fenômeno” processo “existem dois elementos conceitualmente distintos: à base das exigências de cumprimento dos ritos instituídos em lei está a garantia de participação dos sujeitos interessados, pressupondo-se que cada um dos ritos seja desenhado de modo hábil a propiciar e assegurar essa participação”. Ibid, p.160. 11 “Pois a efetivação da exigência política do contraditório, no procedimento, dá-se pela outorga de situações jurídicas aos litigantes: situações jurídicas ativas, que lhe permitem atos de combate na defesa dos seus interesses, e situações jurídicas passivas, que lhe exigem a realização de atos ou impõem abstenções ou sujeição à eficácia de atos alheios. São, em suma, o substrato jurídico das regras do combate civilizado através do procedimento.” DINAMARCO, op.cit., 2002, p.163. O processo justo O Estado liberal sucumbe aos seus próprios fundamentos. A igualdade eleva-se a um princípio, não mais como acessório da liberdade. O Estado passa a governar voltado para o bem social. Para que a verdadeira liberdade possa ser experimentada, necessário se faz assegurar aos cidadãos condições materiais mínimas, ou seja, assegurar-lhes os direitos sociais. O Estado social fracassa na realização dos direitos sociais, pela grande influência dos partidos políticos (forças de tensão e pressão), não propiciando a participação popular no processo político, vitimizando a justiça social. O Estado moderno, na evolução do Estado social, necessita assegurar a participação popular através no sistema representativo. Contudo não é a isso que se resume a cidadania. A realidade nacional demonstra que a participação popular do sistema representativo não se esgota na escolha dos representantes das casas legislativas, tão pouco do executivo. A democracia participativa deve buscar a verdadeira democratização da democracia12. As concepções do Estado Liberal e do Estado Social demonstram-se insuficientes diante da evolução e das necessidades das sociedades. A igualdade preconizada pelo Estado liberal eleva-se a um princípio como forma de propiciar a verdadeira liberdade. A evolução do acesso à justiça aconteceu paralelamente à transposição da concepção liberal para a concepção social do Estado Moderno. Assim como no campo das idéias políticas, o Brasil deixava a concepção liberal (de bases iluministas) dos valores individuais e da intervenção mínima do magistrado (Estado mínimo) migrando para o ideário dos valores sociais como a justiça (dentre outros).13 311 Inicialmente a participação do Estado restringia-se à declaração formal dos direitos humanos, quando se presumia que todos eram iguais e a Constituição limitava-se a criar mecanismos de acesso à justiça, em sentido estrito, sem preocupar-se com a sua efetividade. O constituinte evolui, juntamente com a realidade política-econômica-social, trazendo as questões sociais para a política governamental. Assume a tarefa de efetivar os direitos fundamentais, definindo-os, declarando-os e garantindo-lhes a efetividade. A opção constitucional pelo Estado voltado para os valores sociais, trouxe para o legislador a missão de criar mecanismos práticos, capazes de operacionalizar os direitos fundamentais. Evidencia a Constituição a importância e o relevo da tutela dos direitos fundamentais, bem como a forma de desempenho dessa tutela por meio de padrões processuais definidos, dispensando-lhes assim, tratamento de princípios constitucionais. Do direito à tutela jurisdicional ergue-se de forma inafastável o processo, como forma de efetivar essa tutela. O processo passa então, de instrumento de atuação da soberania estatal à garantia constitucional de acesso à tutela jurídica como meio de exercer a cidadania. 12 13 Expressão da cunhada por Canotilho, op cit. “Quando as democracias passam a se preocupar coma realidade, deixando de lado o amor pelo simples reconhecimento das liberdades políticas – surgindo, então, os direitos sociais e econômicos -, os desiguais passam a ser tratados de forma desigual. Os direitos sociais surgem a partir do momento em que se toma consciência da transformação das liberdades públicas em privilégios de poucos, ou seja, em privilégios burgueses. Com novos direitos sociais busca-se salvaguardar a liberdade do cidadão não mais da opressão política, mas sim da opressão econômica.” MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 26. O processo em seu caráter eminentemente publicista14 adquiriu notoriedade na processualística moderna, pois além de ser reconhecido como instrumento de soberania estatal, lentamente foi assumindo conotações cívicas. A preocupação extremada da escola sistemática trouxe o isolamento do processo como ciência autônoma, distante da realidade do direito material. A neutralidade do direito processual permitiu à época que se construísse um procedimento incongruente com as necessidades do direito material, confundindo a instrumentalidade do processo com neutralidade.15 Se a jurisdição preocupa-se com a efetivação e a realização da tutela de direitos e o processo é o instrumento para essa operacionalização, seria ingenuidade supor que o instrumento pudesse ser pensado isoladamente, desconsiderando a realidade social e o direito material. O processo como solução de conflitos surge, então como instrumento que permite que a jurisdição alcance seus escopos, realizando o poder estatal através de um processo justo. Isto porque o processo refere-se à relação entre o Estado e o cidadão. O processo justo não se refere ao conceito de justiça lato senso pela subjetividade própria de sua acepção. Pauta-se na observância, desde sua formação, do respeito à dignidade da pessoa humana.16 Para Leonardo Greco o processo sustenta-se no princípio do devido processo legal, de inspiração norte-americana ou como consta da Constituição italiana e na Convenção Européia de Direitos Humanos, sob a expressão processo justo. Insiste-se que o devido processo legal é garantia inafastável do Estado Democrático de Direito. E é pela observância e respeito às garantias fundamentais17 ao processo que a tutela jurisdicional se fará efetiva. 14 “Quando a tarefa de solucionar os conflitos foi compreendida como poder de julgar do Estado, ou melhor, quando a função de solucionar os litígios passou a ser vista como fundamental ao Estado, o processo 312 deixou de ser caracterizado a partir do ângulo do desejo das partes. O processo, diante dessa mudança de rota, tem sua natureza particularizada por servir à jurisdição, já que através dele o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico”.MARINONI, op. cit., 2006, p. 389. 15 “Entretanto, a idéia de abstração do direito processual do direito material, levada às últimas conseqüências, fez com que a doutrina confundisse instrumentalidade do processo com neutralidade do processo em relação ao direito material, supondo que o procedimento não deveria ser desenhado de acordo com as necessidades do direito substancial. Em outras palavras, a doutrina supôs que um procedimento indiferente ao direito material, ou um único procedimento, seria suficiente para garantir tutela adequada às mais diversas situações conflitivas concretas. MARINONI, op. cit., 2000, p. 40-41. 16 “Como relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formarse e desenvolver-se com absoluto respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente das partes, de tal modo que a justiça do seu resultado esteja de antemão assegurada pela adoção das regras mais propícias à ampla e equilibrada participação dos interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à apuração da verdade objetiva: um meio justo para um fim justo. (...)Foram a constitucionalização e a internacionalização dos direitos fundamentais, particularmente desenvolvidas na jurisprudência dos tribunais constitucionais e das instâncias supra-nacionais de Direitos Humanos, como a Corte Européia de Direitos Humanos, que revelaram o conteúdo da tutela jurisdicional efetiva como direito fundamental, minudenciado em uma série de regras mínimas a que se convencionou chamar de garantias fundamentais do processo, universalmente acolhidas em todos os países que instituem a dignidade da pessoa humana como um dos pilares do Estado Democrático de Direito “ GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo justo. Disponível na Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 10 de abril de 2007. 17 Leonardo Greco trata das garantias fundamentais sob os seguintes aspectos: I) Garantias Individuais, relacionadas como: a) Acesso amplo à Justiça por todos os cidadãos, b) Imparcialidade do juiz, c) Ampla defesa, d) Direitos do pobre, d) Juiz natural, e) Inércia e f) Contraditório, g) Oralidade, h) Coisa julgada e i) Renúncia à tutela jurisdicional; II) Garantias Estruturais, tais como: a) Impessoalidade da jurisdição, b) Permanência da jurisdição, c) Independência dos juízes, d) Motivação das decisões, e) Igualdade concreta, f) Inexistência de obstáculos ilegítimos, g) Efetividade qualitativa h) Procedimento legal, flexível e previsível i) Publicidade, j) Legalidade estrita no exercício do poder de coerção, l) Prazo razoável Prazo razoável, m) Duplo grau de jurisdição, n) Respeito à dignidade humana e III) Garantias do Processo Penal. Ibid. Por acesso à justiça universal conclui-se que não se pode restringi-lo à possibilidade e meios de busca da tutela dos direitos, mas também pela prestação jurisdicional adequada. Assim, entende-se que provocar o exercício da função jurisdicional, na busca da tutela adequada, devendo ser assegurado a participação na formação da decisão. Este direito deve ser exercido perante um juiz imparcial e ativo, que propicie aos sujeitos envolvidos, o direito de ser ouvido e influir no provimento final. Para tanto atuará na causa um juiz legalmente competente.18 Segundo o inciso LIV, do art. 5º constitucional, estão assegurados a ampla defesa e o contraditório. Na lição de Jose Afonso da Silva o contraditório é concebido de forma inseparável do processo justo da forma que expõe: A contrariedade, no processo judicial e no administrativo, constitui pressuposto indeclinável da realização de um processo justo, sem o quê a apreciação judicial da lesão ou ameaça a direito se torna vazia de sentido valorativo. A essência processual do contraditório se identifica com a regra audiat altera pars, que significa que a cada litigante deve ser dada ciência dos atos praticados pelo contendor, para serem contrariados e refutados. 19 Por contraditório entende-se que o processo20 desenvolva-se de forma democrática, pela dialética travada entre os sujeitos demandantes. Ressalte-se que a opção de permanecer calado, não exercendo o direito de ser ouvido importará num ônus processual. O contraditório é assim um “referente lógico-jurídico do processo constitucionalizado”.21 313 Concluindo Rosemiro Pereira Leal22 que não havendo o contraditório o processo despese de sua base democrática-jurídica-principiológica pelo bel-prazer do arbítrio do magistrado. 18 O juiz natural é o juiz legalmente competente, aquele a quem a lei confere in abstracto o poder de julgar determinada causa, que deve ter sido definido previamente pelo legislador por circunstâncias aplicáveis a todos os casos da mesma espécie, e não por um juízo discricionário ou com a intenção deliberada de que esta ou aquela causa seja julgada por um ou outro juiz. Ibid. 19 SILVA, Jose Afonso. 2005. p.154. 20 O contraditório é conseqüência do princípio político da participação democrática e pressupõe: a) audiência bilateral: adequada e tempestiva notificação do ajuizamento da causa e de todos os atos processuais através de comunicações preferencialmente reais, bem como ampla possibilidade de impugnar e contrariar os atos dos demais sujeitos, de modo que nenhuma questão seja decidida sem essa prévia audiência das partes; b) direito de apresentar alegações, propor e produzir provas, participar da produção das provas requeridas pelo adversário ou determinadas de ofício pelo juiz e exigir a adoção de todas as providências que possam ter utilidade na defesa dos seus interesses, de acordo com as circunstâncias da causa e as imposições do direito material; c) congruidade dos prazos: os prazos para a prática dos atos processuais, apesar da brevidade, devem ser suficientes, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, para a prática de cada ato da parte com efetivo proveito para a sua defesa; d) contraditório eficaz é sempre prévio, anterior a qualquer decisão, devendo a sua postergação ser excepcional e fundamentada na convicção firme da existência do direito do requerente e na cuidadosa ponderação dos interesses em jogo e dos riscos da antecipação ou da postergação da decisão; e) o contraditório participativo pressupõe que todos os contra-interessados tenham o direito de intervir no processo e exercer amplamente as prerrogativas inerentes ao direito de defesa e que preservem o direito de discutir os efeitos da sentença que tenha sido produzida sem a sua plena participação.” GRECO, op. cit. 21 LEAL, op. cit., 2005, p. 110. 22 Ibid., p.111. Para Fredie Didier “democracia no processo recebe o nome de contraditório”, defendendo que se a democracia pressupõe participação; é pelo contraditório que a parte participa do processo, influindo na decisão.23 A participação dos sujeitos parciais na decisão que lhes afetará a esfera jurídica tem o condão de legitimar a jurisdição, não somente pelo contraditório, visto que participação e contraditório não significam expressões sinônimas. A ampla defesa24 é conseqüência da garantia do contraditório e da isonomia. Por ampla defesa assimila-se a plenitude da defesa dentro de um lapso temporal razoável e suficiente para tanto. Restringir a ampla defesa no processo, além de incompatível no plano lógicojurídico importa em restringir o conhecimento da causa. Em que pese as reformas processuais ultimadas, não deve o legislador sob o falso pretexto de promover a celeridade, suprimir liberdades e garantias processuais, que em última análise objetivam afastar os fantasmas que perturbam o sono do judiciário.25 O tratamento paritário dispensado aos sujeitos parciais do processo configura-se na garantia da isonomia, que assim como as garantias e os princípios já mencionados derivam do devido processo legal. A isonomia também pode ser analisada em cotejo com o princípio do juiz natural, uma vez que o instituto tem como finalidade assegurar o tratamento igualitário aos demandantes, evitando os juízos excepcionais. A igualdade está consubstanciada no caput do art. 5º da Carta Constitucional, foi inspirada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ao firmar que todos nas314 cem e permanecem iguais em direitos. Contudo, o paradoxo existe, pois a desigualdade é a razão do ideal de igualdade material. Para o processo, trata-se de tutelar a igualdade material prevista pela Constituição e a paridade de armas no processo26. A isonomia então, é mais que um direito é um vetor da interpretação jurídica fundamental. 23 “Quais são os elementos que compõem a garantia do contraditório? Esta garantia se desdobra em duas facetas. A faceta básica, que eu reputo a formal, é a da participação; a garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Isso é o mínimo e é o que quase todo mundo entende como princípio do contraditório. De acordo com o pensamento clássico, o magistrado efetiva, plenamente, a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo á ouvida da parte, ao deixar a parte falar. (...) se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do Magistrado – e isso é poder de influência, poder de interferir na decisão do Magistrado, interferir com argumentos, interferir com idéias, com fatos novos, com argumentos jurídicos novos; se ela não puder fazer isso, a garantia do contraditório estará ferida. È fundamental perceber isso: o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a participação; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. DIDIER JÚNIOR. Fredie. Curso de direito processual civil,v. I, Salvador: Podivm, 2007, p.42-43. 24 “Trata-se de aspecto substancial do contraditório”. Ibid., p. 48. 25 Sobre a ampla defesa: “Há de ser ampla porque não pode ser estreitada (comprimida) pela sumarização do tempo a tal ponto de excluir a liberdade de reflexão cômoda dos aspectos fundamentais de sua produção eficiente. É pó isso que, a pretexto de celeridade processual ou efetividade do processo, não se pode, de modo obcecado, suprindo deficiências de um Estado já anacrônico e jurisdicionalmente inviável, sacrificar o tempo da ampla defesa que supõe a oportunidade de exaurimento das articulações de direito e produção de prova”. LEAL, op. cit., 2005, p.112. 26 “Lembre-se que a paridade de armas não quer dizer que as partes de um mesmo processo devam ter os mesmos poderes, até porque isso seria ignorar a obviedade de que elas podem ter diferentes necessidades. O que importa é que tais poderes tenham fundamento racional na diversidade das necessidades das partes e que, diante de qualquer poder conferido a uma delas, outorgue-se á outra o correlato poder de reação”. MARINONI, op. cit., 2006, p. 414. A realidade brasileira revela, porém, que a teoria na prática é outra. A igualdade não tem tornado os cidadãos tão iguais, melhor dizendo, uns são mais iguais que outros. Os grupos sociais menos privilegiados economicamente não têm o acesso amplo e irrestrito aos tribunais, nem aos meios inerentes à defesa dos seus direitos. Muitas são as diferenças materiais que não se igualaram pela lei. A idéia de que cadeia é para negros e pobres tem se mostrado uma realidade, em especial diante dos últimos acontecimentos veiculados pela mídia envolvendo os homens da lei (parlamentares, magistrados, policiais e advogados). O direito fundamental à publicidade dos atos do poder público assegurada pelo art. 37 da Constituição é inarredável do princípio democrático. Ínsito ao princípio da publicidade está o controle dos atos da Administração Pública, no exercício de suas funções precípuas (jurisdicional, legislativa e executiva), portanto não seria diferente para os atos emanados do poder jurisdicional estatal. A publicidade dos atos é fator indispensável à fiscalização da atuação do poder jurisdicional. Em que pese a legislação processual pátria restringir a publicidade diante da preservação da intimidade e do interesse público, sopesados pelo princípio da proporcionalidade, não se pode confundir com supressão ou eliminação. Registre-se a ratificação pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que acresceu ao inciso IX, do artigo 93 a possibilidade de limitação à exigência de publicidade, diante de algumas situações. A publicidade, portanto, permanece assegurada. Trata-se agora do acréscimo da Reforma do Judiciário aos direitos fundamentais constante do inciso LXXVIII, do artigo 5º, que assegura que a tutela jurisdicional seja efetivada dentro de um tempo razoável. É o direito fundamental ao processo sem dilações indevidas, ou à razoável duração do processo. 315 Registre-se que o direito fundamental à razoável duração do processo já se encontrava inserido na Constituição, pela ratificação do Pacto de San Jose da Costa Rica, que já advertia para o direito a um processo em tempo razoável, em seu artigo 8.1.27 Segundo Flávia Piovesan: A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados internacionais, de que o Brasil é parte, conferindo-lhes hierarquia de norma constitucional. Isto é, os direitos constantes nos tratados internacionais integram e complementam o catálogo de direitos constitucionais previsto, o que justifica estender a estes direitos o regime constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais.28 O constituinte reformador não inovou! E se não foi ineditismo, ao menos encerrou a velha discussão sobre a não-incidência deste direito, pois agora não há mais espaço para divagações do direito internacional e constitucional. A razoável duração do processo é um direito fundamental. Observe-se que a divergência sobre a aplicação imediata e plena eficácia era produto nacional, pois diversos países que, assim como o Brasil, ratificaram o tratado e depositaram a carta de adesão ao pacto, foram (e são) punidos diversas vezes pela Corte Européia de Direitos do Homem pelo descumprimento desarrazoado desta garantia, dentre eles a Itália29, Portugal e a Espanha. 27 Neste sentido também: DIDIER JÚNIOR, op. cit., p.39 e TUCCI, op.cit., p.86. PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional.4. Ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 79-80. 29 A garantia da razoável duração do processo na experiência italiana será abordada em capítulo posterior. 28 As garantias constitucionais aqui referenciadas são imprescindíveis ao processo justo30 que se propõe a ser instrumento de pacificação, através do exercício legítimo de poder, como meio de assegurar a plenitude democrática. Independentemente desta ou daquela garantia certo é que não há processo justo sem o devido processo legal.31 Conceituá-lo, contudo, não é tarefa fácil, como afirma Paulo Lucon: Sobre as dificuldades de definir a cláusula do devido processo legal e traçar-lhe contorno
Download