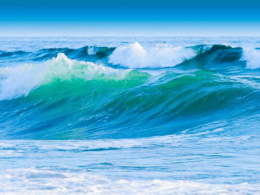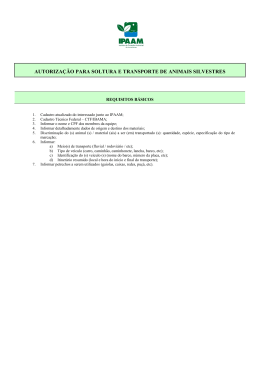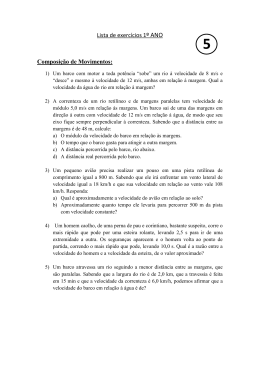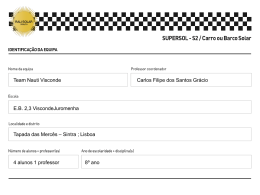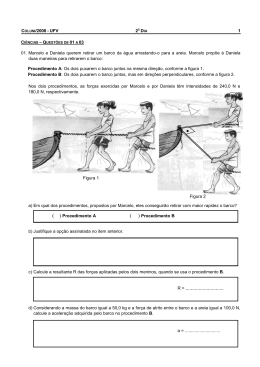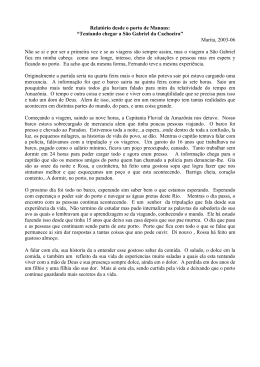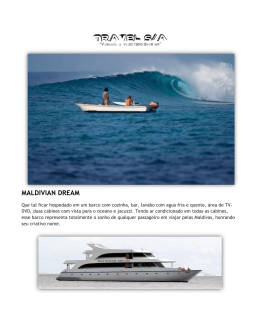ÍNDICE Introdução Primeiras travessias do Atlântico partindo da América Travessias do Atlântico partindo da Europa e travessias a motor O Pacifico O oceano Índico Os circum-navegadores Slocum, o pioneiro Pidgeon, Drake, Alain Gerbault Miles, Erling Tambs e a sua família O comandante Bernicot Vito Dumas J.-Y Le Toumelin Murnan, Petersen, Jean Gau, Bardiaux, Guzzwell, Michel Mermod, Pierre Auboiroux, Chichester, Frank Cásper, Lee Graham Dois fantasistas Hans Zitt John E. Schultz A regata transatlântica solitária Conclusão Lista dos navegadores de recreio conhecidos como tendo efectuado sozinhos a travessia certa pelo menos de um oceano Glossário de Johnson a Tabarly e Chichester INTRODUÇÃO DE QUE SE TRATA? Atravessar sozinho o oceano! Estas palavras, seguidas de um ponto de exclamação que exprime o pasmo, a admiração, a incompreensão ou até mesmo a censura, contêm, para o homem, as três faces assustadoras do problema: O mar - ou pior, o mar alto. A arte de navegar. A solidão. Para os menos avisados e, particularmente, para quem não reflectiu bem sobre o assunto, a solidão parece o aspecto mais temível. Ora, a experiência mostra, pelo contrário, que, exceptuando os riscos de doença ou de acidente, o único inconveniente da solidão é o aumento de certas dificuldades de navegação, principalmente durante o sono, dificuldades essas, todavia, não insolúveis. O difícil, a bordo de um barco pequeno, é não se estar sozinho. É suportar uma promiscuidade total num espaço muito restrito, sem fuga possível. É ter de discutir as decisões a tomar, ou impô-las, quando o desaparecimento dos preconceitos habituais e a importância vital do mínimo acto põem, a cada passo, em questão, a legitimidade do papel de chefe. Este só possui, de facto, a sua dimensão primeira: o êxito perpétuo, a superioridade constante, a infalibilidade. A propósito, digamos que os homens que tentam, a dois e em Igualdade de circunstâncias, grandes aventuras no mar, são, quer um quer outro, evidentemente, personalidades excepcionais. Ora, todos os seres excepcionais se conjugam mal. Muitas tentativas deste género têm redundado em fracasso. O êxito só as coroou quando, incontestável e irremediavelmente, um dos dois é, aos olhos do outro, o chefe, o que paga um salário ou o único que sabe navegar; e, mesmo assim, na maior parte dos casos, a vida tornou-se insustentável, as rupturas e as desilusões abruptas e, por vezes, de resultados trágicos, até. Mas existe, efectivamente, no mar, um caso deveras emocionante de vida possível a dois: o amor. Os casamentos entre navegadores são muito mais frequentes do que se imagina; confessam-se sempre felizes (mesmo quando é a mulher a falar). Nestas circunstâncias, porém, não se trata de dois seres, mas antes de um casal cuja flor misteriosa pode viver até ao vento do mar. E as tripulações a três, a quatro? O equilíbrio, aí, já é mais fácil; em princípio, já não se trata de barcos pequenos, uma vez que faltaria, então, espaço para os víveres. O trabalho, as velas e, principalmente, os quartos, são mais divididos, o sono mais reparador, os nervos sujeitos a uma tensão menor. No entanto, a promiscuidade permanece. É necessária muita força de vontade para que não implique conflitos graves, lutas, até. Conhecem-se dela trágicos exemplos. Verifica-se ainda - e isso basta para que se possa, por vezes, julgar a realidade - a decisão de nada dizer após a partida ganha, uma vez atingida a terra, onde os fantasmas do mar se dissolvem quase de imediato. Parece que este «silêncio subsequente» que é de interesse comum, se regista com frequência. Só ele pode explicar certos relatos optimistas de travessias para alguém que se lembra do que é, na realidade, a atmosfera de um simples «refeitório» ou de uma «bateria» de navio de guerra, da mesa comum de cargueiro após alguns dias de mar... O homem não foi feito para viver em exíguas comunidades masculinas (ou femininas - qual a freira sincera que me desminta?) sem um derivativo familiar ou artístico. Ora, a verdadeira solidão pode suportar-se com muito mais facilidade. O sonho em que o solitário «anda à roda» pode embrutecê-lo, dissolvê-lo em qualquer nirvana; pode transportá-lo pelos caminhos de uma exaltação mística completamente gratuita, mesmo desumana; nunca se contradiz, jamais se exaspera. O autêntico solitário, na cela que a si próprio ofereceu, (o prisioneiro não é, regra geral, um solitário, antes um recluso, um revoltado) - quer essa cela esteja anichada numa pedra ou a flutuar nas águas, o verdadeiro solitário só pode contar consigo próprio (com a divindade ou com a sorte, o que vem a ser a mesma coisa). O verdadeiro solitário - e talvez este só exista no alto mar onde nenhum socorro, nenhuma importunidade podem ser secretamente esperados ou temidos - esse solitário é, ao mesmo tempo, o senhor e o servo, a humanidade inteira; é idêntico ao seu destino, conforme a si próprio; pode duvidar da sorte, nomear as suas faltas, erros ou fatalidades; ninguém o discutirá. E a voz do instinto de conservação, exprimindo-se numa só linguagem, far-lhe-á esquecer contínua e efectivamente o passado para o deixar propenso à via da salvação - o que é próprio do marinheiro. Possui, portanto, as melhores oportunidades; possui também a paz, tanto quanto esta se pode conceber, isto é, aparente. Se é verdadeira a palavra do Evangelho - «todo o reino dividido perecerá» - no mar ainda se torna mais evidente: toda a tripulação dividida entre si, ou seja, duvidando do seu chefe, corre mais perigos do que qualquer outra; consequentemente, o modo mais seguro e também o mais simples de evitar os motins é viajar sozinho. Um exemplo que nos dá que pensar: o dos homens de Kon-Tiki. É certo que existiam no caso desta jangada à deriva na corrente de Humboldt, batida pelos ventos alísios, cortando o Pacífico, muito poucas decisões a tomar; à partida, todos se haviam encomendado às forças soberanas dos ventos constantes e das águas. A sorte estava lançada; havia simplesmente que esperar. «Simplesmente?» Esperar, durante três meses, para seis jovens vigorosos e inteligentes (de contrário não estariam ali), sem qualquer saída possível, sem se poderem afastar uns metros que fosse nem sequer para as funções mais íntimas, sem poderem fazer calar o tagarela ou o cismático, sem poderem, acima de tudo, ouvir outra música? Um navio possui recantos, porões, partes da coberta à frente e atrás onde a ilusão de isolamento, o sonho pessoal podem ser reencontrados nem que seja senão para permitir, depois, melhor gozar a companhia. A bordo de uma jangada não existe nada disso. Seria interessante que os homens que viveram tal aventura, dissessem sinceramente como se aguentaram. Invocando este problema, alguns marinheiros concluíram connosco recentemente: se fossem italianos, não teriam resistido três dias; parisienses, seis; bretões, dez; alemães, vinte; ingleses, um mês, provavelmente; mas de três meses é demasiado, mesmo para escandinavos... Era uma jangada relativamente grande e seis os seus tripulantes. A partir de três, os homens isolamse em vez de se unirem; gracejo à parte, pode compreender-se perfeitamente. Mas um veleiro de menos de doze metros é uma cela única. Está-se nele só, absolutamente só; só ou a dois. Não há menor solidão do que a solidão a dois; nem maior, como a de alguém sozinho. Entre os dois males não existe compromisso possível. A experiência mostra que o primeiro é muito mais temível que o segundo. Na trindade infernal que a travessia solitária evoca para o homem, o demónio da solidão não é assim tão assustador como parece. A seguir, vem a arte de navegar. O terreno - o elefante, como costumamos dizer - faz dela um mundo. Pensa que se trata de um trabalho, um trabalho de equipa, tal como o de fazer rolar um comboio. Com a diferença de, para ele, o marinheiro ser um animal um tanto diferente do homem, um animal que se senta sobre rolos de cabo, que não enjoa, que masca tabaco, que bebe álcool, que ginga nas tabernas e nas «casas» dos portos, mas que bem merece essa compensação pelos perigos que correu; que agrada terrivelmente às mulheres, para quem exala o perfume do exotismo, que usa barrete de pompom vermelho ou um boné, e galões nas mangas. Não estamos a exagerar. Há pessoas que fazem esta misturada... Evidentemente que sabem, em teoria, mas não percebem bem na realidade, que há hoje quatro marinhas, quatro tipos de marinheiros totalmente diversos. Os marinheiros da marinha de guerra. São, antes do mais, militares de carreira ou cumprindo o seu tempo de tropa. Dividem-se em dois clãs: a ponte e a máquina. Os oficiais da ponte (o «Grande Corps», a «Royale») são marinheiros que herdaram uma tradição... que resiste aos navios «ferro de engomar», ou fortalezas flutuantes que o século XX lhes confia; os oficiais marinheiros (subalternos) constituem um corpo que permaneceu também extraordinariamente marinheiro, apesar das circunstâncias. Por quanto tempo? O mesmo se passa com algumas «especialidades», pouco numerosas: timoneiros (vela), manobristas. O resto... não passa, praticamente, mau grado o barrete ou o pompom, de homens, de militares ou de bons operários especializados embarcadiços. A máquina há gente de valor, de coragem, mas, salvo excepções, e apesar do uniforme, não existem marinheiros. Muitos, todavia, embarcaram por amor do mar; este, qual maratona, responde-lhes: «Volta para o teu buraco, porcalhão!» Devemos acrescentar que ponte e máquina, em tempo de paz, estão muitas vezes, e tristemente, de acordo. À falta de navios e de créditos, navegam todos a mesma coisa. Naturalmente que se pode ser oficial ou marinheiro «do Estado» e navegar também por prazer; regra geral (voltaremos a falar do assunto), a preparação «do Estado» é, para este último caso, bastante deficiente. Os marinheiros da marinha mercante. Esses navegam. Vestem-se geralmente à civil, por vezes com um barrete, só transportam passageiros ou mercadorias. Gostam de ser tratados por «condutores de tramways». Esta modéstia é excessiva; mesmo do alto da ponte de um vapor, o mar, apesar de tudo, continua a ser o mar. Mais ainda, pois sobem lá para verificar o tempo quando este é verdadeiramente mau. São os primeiros a sofrer esta frustração: o seu coração recorda-se dos grandes veleiros. Exageram um pouco, aliás, pois restam-lhes dificuldades bem marinheiras: a noite, a bruma, o frio, a vela, a rota. E os seus olhos conservam a luz do largo. Estes também - e com bastante frequência - podem navegar por prazer, a título de entretenimento. O que é bastante diferente. Os pescadores. Mais uma vez o público mete tudo no mesmo saco. Na verdade, há imensas diferenças. Há o pescador de pesca grossa que vai arrastar nos bancos da Terra Nova da Groenlândia ou da Islândia - o que exige, mesmo a motor, verdadeiras qualidades de navegador; o que se dirige à Mauritânia apanhar a lagosta ou de Portugal à Irlanda pescar o atum à linha; ou ainda o que vai estender imensas «redes de deriva» com vários quilómetros de comprimento nas águas frias, brumosas e perigosas da Mancha. Um pouco menos sábios, mas muito mais resistentes ao sacrifício, são os pescadores de pesca ao largo que saem com o pior tempo (são os mais «pescadores») para estender as suas intermináveis «cordas» de anzóis mortíferos nos locais onde o mar «trabalha» - e de que maneira - ou levantar redes lagosteiras multo perto das rochas, ou simplesmente arrastar durante longas «etapas», equilibrando temerosamente o esforço da máquina e a resistência da rede. Marinheiros também, apesar de «dormirem em casa», como se diz (nem sempre, e a que horas), marinheiros famosos, todos os pescadores costeiros, em ligação mais directa com o mar, embora eles também confiem hoje mais num magneto do que numa rede... Em suma, a marinha de pesca é a mais marinheira das marinhas; e dela, aliás, têm saído em todos os tempos, nos nossos países ocidentais, os marinheiros das outras marinhas. Mesmo da quarta. De facto, são os pescadores quem formam, constroem, instruem a marinha de recreio ou, se quisermos empregar essa vil palavra estrangeira, o yachting (1). (1) E o que é grave é que, tendo abandonado a vela, os pescadores já não podem desempenhar este papel de monitores. Mas não, pensa o terreno; os yachtmen, os que se recreiam no mar, não são marinheiros; são proprietários de yachts (2) (como se possui um automóvel) ou desportistas. (2) A palavra não é inglesa; pronuncie-se «yac». Desportistas? Sim e não. Sim, se se quer dizer que são «amadores», isto é, que não contam com o lucro pecuniário; que navegam «por prazer» (recreio di-lo bem); que não fogem à dificuldade, que praticam esforço físico e também mental; que amam a sua difícil vida; que aplicam as regras da cavalaria; que não fazem batota. Não, se se entender por «desporto» o espírito de competição puro. Existe um yachtlng de competição, bastante oposto ao espírito do mar, mas, em todo o caso, não é este ramo de recreio que dá, geralmente, os navegadores solitários (o caso das recentes regatas transatlânticas será analisado adiante). E não, também, se se pensar no esforço físico puro; o mais belo atleta nada pode no mar se lhe ignorar a arte; inversamente, se os músculos são, sem a menor dúvida, úteis, não são indispensáveis. Proprietários de yachts? Sim, em geral. Mas nunca só isso. São marinheiros. Por vezes, marinheiros excelentes, mesmo os melhores de todos; outras vezes, multo maus marinheiros, com frequência medíocres, mas marinheiros, apesar de tudo, como a água do mar diluída ou concentrada continua a ser água do mar. E, na sua natureza, mais marinheiros que todos os outros pois são os únicos marinheiros sem necessidade. Como diz Eric de Bisschop: «Um marinheiro, para o profano, é aquele a quem a profissão obriga a viver no mar. Erro! Erro crasso! Um marinheiro é aquele a quem o seu gosto faz viver com o mar.» Só os que navegam por prazer estão neste caso. Sempre. Desprezados pelos seus colegas das outras marinhas? Claro! Mas os operários desprezam os «sonhadores» e, no entanto, os «sonhadores» transformam mais a humanidade que o mais hábil artesão. Os marinheiros da quarta marinha não devem, aliás, inquietar-se com o que se pensa deles. Quis uma fatalidade que ainda mal acabada de nascer (a navegação de recreio conta, em decénios, o que as outras marinhas contam em séculos), recebesse a mais esmagadora herança, que conserva sozinha: a civilização milenária da vela, a frequência do mar «rasando a água». Só isso já merece respeito. E é emocionante ver ilustres marinheiros de ofício ou um grande escritor de marinha de guerra como Claude Farrère, fazer o seu mea culpa: «Acuso-me - diz Claude Farrère de ter muitas vezes negligenciado nos meus livros a marinha de recreio. E hoje que a marinha de guerra já não é, a nossos olhos, o que foi, a marinha de recreio é, mais do que nunca, indispensável. Os paquetes e os cargueiros seriam os únicos a passear as nossas três cores no oceano se os yachts não estivessem lá, principalmente preciosos para se manter o gosto da vela. Ora, só a vela faz marinheiros.» Devemos agora entendermo-nos sobre este ponto, pois os navegadores solitários navegam por prazer e ninguém pode compreender nada das suas «proezas» se não tiver uma ideia dos problemas próprios da navegação de recreio. Mesmo que este navegador, o navegador solitário em particular, tenha feito anteriormente parte de uma ou várias das outras marinhas, terá, para o recreio, que «reconsiderar o mar». Nas precedentes edições desta obra, citei o famoso dito de espírito inglês: «Quais são as três coisas mais inúteis a bordo de um yacht? Uma máquina de cortar relva, uma máquina de escrever e um oficial da Royal.» Acrescentando: isto não passa de um gracejo. A citação foi mal compreendida e no seu belo livro Tabarly escreve: «Para apoiar a sua teoria do marinheiro militar mau navegador de recreio, Merrien...» Nunca sustentei semelhante tese, que seria absurda. Escrevi e repito-o que a formação da marinha de 'Estado e principalmente a vida militar marítima contribuem muito pouco com coisas úteis para o recreio. É durante as licenças, na atmosfera costeira, de férias, familiar, que os marinheiros do Estado abordam o recreio; Tabarly é o primeiro (1). (1) - Verifiquei também que não havia, entre os navegadores solitários, um único marinheiro do Estado. É verdade; não se encontra mais nenhum depois de Guillaume e Tabarly. Mas por que motivo julgarão sempre as pessoas que as atacam? A abstenção dos militares tinha boas razões: a falta de tempo, a brevidade das licenças, a idade tardia da reforma. O facto de o nosso Almirantado o compreender, fazer concessões, é um acontecimento - um acontecimento tão agradável como insólito. Não menos felizes são «a instrução à vela» dada muito mais eficazmente que outrora, na Escola Naval, e a criação de clubes náuticos da marinha. Em suma, este livro de História fala do passado e o seu objectivo é fazer compreender ao público em geral não informado que as diversas marinhas são muito diferentes, que não é por se ser capitão ou almirante que se sabe governar um yacht. Ao contrário, entre as marinhas mercantes e de pesca e a de recreio, existia, «desde os tempos da vela», um laço estreito; o uso destas velas, o conhecimento dos ventos. Laço que explica a origem da quase totalidade dos primeiros navegadores solitários. Mas, nessa época, os problemas suscitados por um yacht manobrável por um só homem eram muito diferentes dos respeitantes a um três mastros, nitidamente diferenciados dos atinentes a um lugre, a um dundee (grandes barcos de pesca à vela) ou a uma chalupa («barca») de pesca, navegando nas mesmas águas. Hoje, além disso, só os yachts navegam à vela. Os seus problemas são, portanto, unicamente seus. O que é um yacht? Um grande yacht, com uma tripulação, é uma espécie de paquete particular, à vela ou a motor; o género é, porém, cada vez mais raro e não nos interessa aqui. Devemos, sim, conhecer os yachts que podem ser manobrados por um só homem. Qual é o seu problema? - Mover-se; ir «onde se quer» e não muito lentamente, sem demasiados esforços para o homem. - Não ser destruído. - Ser habitável; acessoriamente, confortável. - Ter um preço acessível. Acontece, porém, que estes quatro desejos são contraditórios. Quanto maior for - portanto, mais caro, exigindo pessoal - mais o barco é habitável e menos manejável, ou rápido, ou seguro; quanto mais seguro é, menos ligeiro se mostra e, fora certos cascos ruinosos, quanto menos rápido for, menos remonta ao vento, isto é, menos «vai onde se quer»; quanto mais rapidamente andar, menos confortável é! Deixemos este tormento aos navegadores de recreio que toda a vida se revolverão no seu beliche, no desespero de não poderem conciliar os inconciliáveis. Claro que mais vale estar mal alojado a bordo do que morrer afogado ou ficar no porto. Mas, no caso das grandes travessias, esse problema é tão essencial como os outros. Na realidade é preciso que a fadiga física seja limitada e que, a bordo, se armazenem víveres e sobresselentes em quantidade bastante. Têm-se visto - quantas vezes! - sair para o mar, para grandes travessias, barcos tão pequenos que os navegadores não se poderiam sequer estender neles ao comprido, nem proteger-se eficazmente contra a humidade, nem cozinhar (indispensável, todavia), nem, nos trópicos, defender-se do calor, deitar-se, por exemplo, ao ar livre. Quanto aos víveres, à água, às velas e cordame sobresselente, ao combustível, se for o caso, adivinham-se imediatamente as consequências trágicas da sua insuficiência. Esta não é porém, rara; e as suas razões são ou a força maior (fugitivos, por exemplo), ou a falta de dinheiro (em semelhante caso valeria mais renunciar), ou ainda «aposta» absurda, a competição naquilo que têm de mais antimarinheiro. Na prática, um barco para navegador solitário não pode medir mais de 10 a 12 metros de comprimento (14, muito excepcionalmente), pois as suas velas, as suas âncoras, seriam demasiado pesadas. Não deveria também medir menos de 8 metros, 7,50 rigorosamente. Veremos que, sobretudo para as travessias do Atlântico, houve uma corrida ao record e que numerosos barcos atravessaram o «lago dos arenques» - que não é um lago de patos - medindo apenas 4,50 m, o que é pura loucura. Pura loucura, porquê? Será em virtude do axioma que diz que «quanto maior é o barco menor é o perigo»? Não. Este axioma que durante muito tempo foi considerado válido, não o é. A segurança não é de modo algum proporcional a tonelagem, quer esta palavra seja tomada no sentido de peso (deslocação) ou de volume (arqueação), o que, no caso presente, equivale ao mesmo. A solidez é que deve ser proporcional à tonelagem. Durante muito tempo, pensou-se que um barco pesado, grande, «bem defendido», resistia melhor ao mar. E é verdade. Ele resiste - precisamente o que não convém. Observemos o mar do alto de uma falésia. Vêem-se as ondas quebrarem-se contra as rochas. Produzem choques tão violentos que, de tempos a tempos, arrancam pedaços de pedra. Ao lado das rochas flutua um pau; um ramo até, com folhas delicadas. O pau, o ramo, recuam, depois avançam, intactos; a onda, por vezes, empurra-os um pouco, sem prejuízo; logo eles voltam, misteriosamente. O «mistério» é muito simples. Por um lado, diga-se de passagem, eles não se mexem porque, embora as ondas dêem a Impressão de avançar, na realidade as moléculas de água não se deslocam, ou deslocam-se muito pouco. A onda, no sentido «rádio» da palavra, corre; a água, essa apenas avança, recua, permanece enfim mais ou menos no mesmo local (claro! Sem isso haveria cada vez mais água junto à costa, cada vez menos ao largo, ver-se-ia um declive! Nunca pensaram nisso?). O vento, esse sim, empurra os objectos; a onda mal o faz, salvo quando quebra (as correntes são uma coisa muito diferente). Por outro lado - e só isto nos ocupa presentemente - o rochedo opõe uma massa à onda e o pedaço de madeira, leve, praticamente sem Inércia, não: a onda passa-lhe por baixo. O mesmo acontece com a gaivota colocada junto do pedaço de madeira. A onda levanta-a, submerge-a um pouco, impele-a para a frente (1). Se vem um «carneiro», isto é, uma pequena ressaca, agita um pouco o animal, muito pouco, e vai, mais longe, rebentar com violência contra a rocha. (1) O movimento é um ciclóide. Mal conhecido, aliás. O barco pesado, que tem uma grande inércia, comporta-se perante a vaga como uma rocha; resiste pela força à força; o barco ligeiro comporta-se como um «sea-bird», uma ave do mar, toda plumas; cede, e o mar não se importa com ele contra a fraqueza, a indiferença. Carvalho e caniço no mar. A solução «carvalho» é necessária para transportar mercadorias; para transportar um ou dois homens, não. Passar-se-á o mesmo com o vento? Não. No mar, o vento age sobre o que emerge. Quanto mais o objecto está fora de água, mais o vento se encarniça contra ele. Ao contrário, quanto mais o objecto possui «pé na água», mais a sua superfície imersa é importante, mais resistência oporá à acção que o vento exerce sobre a parte emersa. Tudo se resume, pois, a uma questão de relação entre o emerso e o imerso. Se os dois são fracos, nada os mexe, nada os força; se o emerso é grande e o imerso fraco, o objecto é arrastado, mas sem esforço de rotura; se se passa o contrário, mantém-se também sem esforço de rotura; mas se mergulhar muito na água, se se erguer muito alto no ar, então é o estouro. É o caso do grande veleiro que tem uma grande superfície imersa e que, para navegar, tem de lançar para o céu muitos mastros, a uma altitude onde o vento é muito mais forte que à superfície. Assim, mais uma vez, sofre mais que o pequeno. Portanto, sob o esforço das ondas por um lado, por outro de um vento violento (e, muitas vezes, dos dois em conjunto), o pequeno barco é teoricamente mais seguro que o grande. Na prática, é uma loucura empreender grandes travessias a bordo de barcos demasiado pequenos por numerosas razões. Eis as principais: o pequeno barco, cedendo à vaga e ao vento, não poderá navegar efectivamente contra este, não será capaz de fugir de uma baía, de uma costa para a qual o vento o impele. Será mais facilmente voltado pela ressaca; a sua pouca altura acima da água (bordo livre) fará com que meta água, o que lhe será fatal se não estiver pontado; não poderá transportar as provisões e os sobresselentes necessários, etc. No entanto, ao ler esta obra, ver-se-á que a ideia feita segundo a qual «um pequeno barco não pode ir longe», é (desde que se lhe conheça perfeitamente as reacções) uma das mais falsas que existem. Falámos de velocidade. Fará o leitor ideia da velocidade praticável por um pequeno veleiro? A velocidade é muito variável, claro, conforme o comprimento e largura do barco, a força do vento, o estado do mar, o aparelho (velame) e, principalmente, as formas. No total, esta velocidade parece, aos terrenos, bastante modesta: para um veleiro monocasco (1), de menos de 12 metros, como os que veremos mais tarde, é de 4 a 9 nós. Ou seja, 7 a 17 quilómetros por hora! Um veleiro anda mais devagar que uma criança de bicicleta! E, todavia, dá a volta ao mundo num tempo relativamente curto porque caminha vinte e quatro horas em cada vinte e quatro ou, pelo menos, dezassete ou dezoito, porque avança enquanto o homem come, cozinha ou trabalha; muitas vezes (e é uma questão essencial) enquanto dorme. No total, este veleiro percorrerá na sua jornada de 24 horas, 150 ou 160 milhas, no máximo - raro - 200; não faz nunca mais de 15 quilómetros por hora, mas, ao fim do dia, anda trezentos ou quatrocentos. (1) Nos multicascos (catamarans e trlmarans), uma novidade, as velocidades são maiores, por vezes triplas. Empregámos as palavras «milhas», «nós»... Temos de pedir ao leitor este esforço. É verdadeiramente impossível escrever histórias do mar, quantificando-as em quilómetros. A isso se opõem demasiados hábitos, toda uma civilização, toda uma estética. A milha vale 1852 metros. É o comprimento de um minuto do arco de latitude, em qualquer local. Se pretendermos converter milhas em quilómetros, poderemos duplicar o número e retirar 7,5 por cento do total. É mais fácil do que possa pensar-se. Na verdade, 7,5 por cento é um submúltiplo de 15, 30, 45, 60, etc. Quanto ao nó, é simplesmente uma milha por hora. É, portanto, absurdo dizer «um nó à hora». Ainda uma palavra sobre a velocidade. E a velocidade a motor? Muitas pessoas pensam que basta escolher o motor mais potente para andar mais depressa. É completamente falso. Sem falar já nos problemas da hélice se o barco não foi feito para «planar», para «saltar» (levantar-se), portanto, se não foi concebido para andar unicamente a motor (e potente), a resistência ao avanço de determinado casco aumenta tão rapidamente com a velocidade que se estabelece quase logo um limite. Para além deste limite, aumenta-se o redemoinho e o esforço de rotura, mais nada. A velocidade máxima de determinado barco é, no máximo, a mesma, quer o barco navegue a motor ou à vela; depende das «linhas de água», isto é, das formas da parte imersa do casco, e do estado do mar. É por isso que, navegando à vela e a motor, como faziam tantos pescadores, se a brisa for fresca não se aumenta eficazmente a velocidade, desperdiça-se combustível e fatiga-se o barco para nada. Apenas se pode melhorar a rota, isto é, dirigir-se mais para o vento. Isto é muito importante para a compreensão das viagens dos navegadores solitários: os seus motores apenas lhes servem com mar chão, para entrar num porto ou para rumar contra o vento. E, neste último caso, é preciso ainda que o vento seja fraco e o motor muito potente. Na prática, um veleiro com motor auxiliar, no mar alto, nunca navega a motor. Aliás, uma grande «autonomia» a motor, isto é, a possibilidade de o fazer funcionar durante muito tempo, exigiria reservas de combustível regra geral incompatíveis com as dimensões de um barco para navegador solitário, já de si cheio de víveres e sobresselentes. Quanto às travessias solitárias de barco a motor, sem vela, põem tais problemas que... apenas se conhece uma. Talvez seja agora útil dar algumas indicações ultra-sumárias sobre as manobras das velas e sobre os aparelhos. Um veleiro pode ir onde quer, mesmo para o ponto de onde sopra o vento. Ou então o vento é favorável, ou seja, «empurra» o veleiro. Este pode encontrar, assim, vento pela popa o que não é, como muitas vezes se julga, o mais fácil, muito pelo contrário. De facto, com vento peta popa o velame acha-se mal equilibrado e, por outro lado, as vagas tendem a «atirar» a popa para a «vante», portanto, a fazer girar o barco; este problema é um dos mais difíceis de resolver para um navegador solitário que não pode estar permanentemente ao leme e que ficaria rapidamente esgotado pelo exercício muito penoso de prever e neutralizar antecipadamente as guinadas; veremos mais tarde as soluções adoptadas. O barco pode, assim, estar com vento quase em popa, ou seja três quartos pela ré, ou entre este andamento e o vento de través (de lado); em todos estes andamentos, o velame de um barco bem concebido (nem sempre é o caso!) pode regular-se com pequenas habilidades para que navegue sozinho, leme amarrado, isto é, com o leme fixado numa posição conveniente, e mantenha a rota. Mantê-la-á ainda melhor e mais facilmente com andamento cerrado de bolina, ou seja os que levam o veleiro para o vento, cada vez mais «perto» da direcção de onde ele sopra. Na verdade, o vento, neste caso, já não «empurra» o barco; puxa-o, suga-o! Não podemos, porém, dar aqui nem um curso de aerodinâmica, nem uma lição de orientação de velame (1). (1) Leia Voile et Regate e o Cours de plaisance, Edições Robert Laffont. Retenhamos que com este andamento, que possibilita remontar o equilíbrio, a rota com leme amarrado, é fácil de obter, desde que as velas de giba essas pequenas velas triangulares da vante, estejam bastante adiantadas ao mastro para equilibrar o impulso da quadrangular e, eventualmente, da pequena vela à popa, mezena ou vela de ré (mezena adiante do leme, vela de ré atrás), É por esta razão que os barcos de navegadores solitários têm tantas vezes um longo e inestético botaló (que bota como dizia Joana d'Arc as velas de giba para fora do barco, à vante; não se deve dizer «gurupés» para um pequeno veleiro, pois um gurupés é um mastro inclinado). Mas este remontar ao vento tem um limite. O ângulo agudo que se pode fazer com o vento em prejuízo, aliás, da velocidade, é tanto mais fechado quanto o barco for mais fino e estiver mais mergulhado na água; mas todas as espécies de obstáculos se acumulam. Na prática, se é verdade que um mau barco ou um barco medíocre com mar muito duro ou um barco muito pequeno com mar forte não remonta (o que é muito grave, na medida em que não vai onde quer) também é verdade que, no mar alto, o navegador solitário não precisa exigir ao seu barco que remonte demasiado bem, ao preço de uma luta muito mais violenta contra o mar. Se conseguir, desvio da rota incluído, 45 graus a barlavento (a média entre a direcção do vento e o vento de través) será perfeito (1). (1) Os mais finos yachts de regata em águas calmas obtêm talvez 40', mas, desde que haja um pouco de mar, não podem manter esta orientação, pois a sua velocidade reduzir-se-ia a zero. Na prática, se houver mar, conseguirá 60° (dois terços). Para se dirigir a um ponto situado precisamente no vento, terá de bordejar, isto é, fará um bordo & direita (amura de bombordo) depois um bordo à esquerda (amura de estibordo, tendo aqui a palavra «amuras» o sentido do lado de onde vem o vento). Depois destes dois bordos a 60°, incluindo o desvio de rota, terá traçado com o seu caminho útil, um triângulo equilátero; terá, portanto, percorrido duas vezes a distância que o separava do ponto a barlavento para o atingir. Mas, além disso, terá navegado menos depressa que com vento favorável. Daí o ditado que diz «A bordejar duas vezes a rota e três vezes o tempo.» Os marinheiros acrescentam: «E quatro vezes a cólera», porque este andamento é penoso, um teste: «O capitão está com cara de vento pela proa.» O aparelho do barco é o tipo de velame (e, portanto, de mastros) escolhido para ele, tendo em conta as características do seu casco, a fim de se obter a maior velocidade, a melhor maneabilidade e, principalmente, o equilíbrio, ou antes, o «quase equilíbrio» que deixa, a qualquer velocidade, o barco ligeiramente vivo, isto é, colocando-se pouco a pouco de vante ao vento quando se alivia o leme (o contrário, um barco brando, é muito perigoso). Compreende-se de imediato que, ao navegador solitário, se põe um problema particular, de maneira muito mais aguda do que aos outros: é necessário que as velas não sejam demasiado pesadas (e, todavia, bastante robustas, no total suficientemente grandes para garantir velocidade e domínio do mar), que possa largá-las e recolhê-las sozinho, e, sobretudo, que possa, em caso de mau tempo, quando o vento as enfuna violentamente, substituí-las por mais pequenas, ou reduzi-las mediante os rizes ou por enrolamento em volta da verga da mezena. É, portanto, necessário que o velame seja ou muito bem dividido, ou muito leve e fácil de reduzir. Cada navegador tem as suas ideias acerca deste assunto. E uma das conclusões mais surpreendentes desta obra é a de que os pequenos veleiros que atravessaram o Atlântico ou fizeram a volta ao mundo apresentam uma colecção quase completa de aparelhos utilizáveis! Os seus desenhos estão nas páginas seguintes; será conveniente consultá-los para compreender os termos que designam os aparelhos - sloup, cuter, ketch, yawl, pathabote, etc. - os nomes dos tipos de velas - auricas, bermudianas (ou Marconi), triangulares, de espicha, (atinas, etc. - e os das próprias velas: vela de giba, traquete, spinnaker, quandrangular latina, flecha, de estai, mezena, de ré, gávea, latina de escaler. O nosso navegador solitário, depois de ter escolhido e preparado o seu barco - e veremos com que cuidado - é, por definição, um homem que «sabe servir-se dele», que sabe manobrar (tem havido excepções, o que geralmente resulta mal...); todavia, as suas longas travessias exigirão dele uma habilidade muito particular nesta matéria, principalmente porque, uma vez ao largo, terá de aceitar o tempo conforme fizer, incluindo tempestades. Precisará, portanto, de tomar dois «andamentos» que os barcos navegando perto da costa não conhecem: a fuga, vento pela popa ou quase, com velame reduzido ou mesmo amainado (sem nada) e a capa que é uma maneira especial de equilibrar o veleiro, com ou sem velame, com ou sem âncora flutuante, de modo que não ande ou quase não ande, deixando de certo modo o mar passar-lhe por cima, como a gaivota do nosso exemplo. Este processo pode utilizar-se quer quando há mau tempo, quer para passar as horas de sono. O problema apaixona os marinheiros mais experimentados e a ele aludiremos ao longo do livro. Assim, será sempre preciso adquirir conhecimentos meteorológicos pessoais (hoje em dia, trata-se ainda de uma arte e não de uma ciência) os mais eficazes possível. Aí jaz o famoso «sentido do mar» e também uma espécie de fatalidade: há pessoas que encontram ventos alísios ou mesmo brisas em zonas habitualmente calmas; outras que parecem atrair o mau tempo - chamam-lhes os «carvoeiros» porque parece que a sua presença faz escurecer o céu! Sabendo manobrar, conhecendo o tempo, o nosso navegador longínquo deverá ainda poder fazer a sua navegação, saber onde está a estabelecer a sua rota. Nesta matéria, não é a solidão que o coloca em posição diferente do navegador de recreio vulgar. É o facto de perder as costas de vista. Claro que isto acontece ao navegador sem que tenha de se afastar muito. Bancos de nevoeiro, uma rajada (isto é, um golpe de vento e uma chuvada que podem durar horas), um «tempo encoberto», podem fazer-lhe perder de vista uma terra no entanto próxima (e que, por isso, é ainda mais perigosa). Mas antes de ser afectado por essa barreira, o navegador sabia (devia saber) exactamente onde se encontrava. Sabia-o por levantamento e por cálculo. O levantamento é uma simples observação dos pontos notáveis da costa, cuja direcção é dada pelo compasso (em marinha não se utiliza «bússola», mas sim compassos). É evidente que quem faz uma grande travessia, sozinho ou acompanhado, perde o recurso ao levantamento. Mas não perde o recurso ao cálculo; no entanto, quanto mais avança, mais esse cálculo se torna impreciso. Ele repousa, com efeito, no conhecimento da distância percorrida (relativamente à água de superfície), por meio de uma barquinha, hoje uma espécie de contador ligado a uma pequena hélice que se reboca, e na apreciação da direcção que se segue por meio do compasso. Infelizmente, existem numerosos elementos que tornam este cálculo aleatório; a corrente, isto é, a deslocação da água relativamente ao fundo; o desvio do barco (como um automóvel «foge», mas permanentemente); erros de todo o tipo. Assim, após alguns dias de navegação sem ponto de referência, o cálculo não vale grande coisa. É preciso tirar o ponto pela observação dos astros. Não é uma arte de feitiçaria, antes exige, ao mesmo tempo, uma certa cultura matemática e uma certa prática. O capitão ou o tenente de longo curso (marinha mercante), o oficial da marinha de guerra, possuem essa teoria. A prática que têm não se aplica, de modo algum, aos pequenos barcos, mas depressa se adaptam a novas condições. O «navegador de recreio puro», antigo terreno ou simples ex-marinheiro, deverá exercitar-se nela seriamente. Vimos - iremos ver - navegadores solitários partirem para o alto mar sem saberem tirar o ponto; a experiência mostra que aprenderam na água e se saíram bem. Falamos de solidão e da arte de navegar. Resta, na crença popular, o pior dos terrores: «ir longe». O mar próximo parece bastante benigno. O que está «do outro lado do horizonte», mil vezes mais perigoso. Isto é praticamente o contrário da verdade. Fora a ausência de ponto de referência, o mar do largo não tem nada de mais assustador, em geral, do que o das costas. E é muito menos mortífero. A tal ponto que o ditado não é, de modo algum, um gracejo: «O que há de perigoso no mar é a terra.» A menos que o barco esteja insuficientemente protegido, ou mal lastrado, ou em mau estado, poucos exemplos se contam de perdas de corpos e bens de pequenos veleiros no verdadeiro mar alto, sem vizinhança de terra (à vista ou não). Parece ainda que a maior parte dessas perdas deve ser atribuída a outras causas que não o próprio mar; erro grave de manobra, velhice, abordagem, incêndio, doença do navegador solitário. Este último acidente é terrífico e compreende-se bem que constitua a principal inquietação dos solitários: partir um membro, por exemplo, ou ser atacado de uma crise aguda de apendicite, não perdoaria; é curioso verificar que estes casos são, na verdade, muito raros. Mas, dir-se-ia, não se poderá saber o que se passa? Sim; regra geral, sem ocupante vivo ou capaz de o conduzir, o barco continua a flutuar e é encontrado no mar ou na costa. As quedas ao mar evocam uma perspectiva terrível; ver o barco afastar-se com o leme amarrado e ficar em pleno oceano, esperando que os albatrozes lhes esmaguem o crânio, que os tubarões os devorem ou que se afoguem, esgotados... Mas as quedas não são também imputáveis ao mar; ficam sempre, em geral, a dever-se à imprudência do navegador que deveria defender-se, amarrar-se ao bordo através de uma protecção ou de um cinto de segurança. Sucede, evidentemente, que um pequeno veleiro aderne no alto mar, voltado por vagas a quebrar; veremos mais adiante esses casos dramáticos. Acontece também que aderne pela vante, isto é, que assaltado (coberto) por uma onda, mergulhe, afocinhe. Tem-se duvidado da possibilidade deste facto. A própria existência desta palavra, muito velha, prova que a coisa foi vista. E, muito recentemente, parece certo que tenha acontecido a Erling Tambs com o seu segundo yacht, Sandefjord, um belo yawl de 14,20 m, em pleno Atlântico, e a outros. Mas estes soçobros pelo lado ou pela vante são raros e nem sempre mortíferos, muito longe disso, como teremos oportunidade de ver no número surpreendente de exemplos; por outro lado, são inúmeras as perdas de veleiros devidas à terra e às abordagens. A questão está, portanto, com mau tempo, tempo encoberto ou noite opaca, em estar longe dessa terra, em navegar ao largo. E em não se colocar na rota dos navios. Como diziam os maiores navegadores solitários: «No mar, de capa, na tempestades, sentia-me como nos salões do Ritz.» - «...Terrível foi seguir, durante dias, sem dormir, a rota dos navios no golfo da Gasconha ou o canal interminável do estreito de Torres...» Tudo o que fica dito deixa entrever que o «jogo» do navegador solitário não é de repouso absoluto. Os relatos particulares que vamos fazer confirmá-lo-ão. Nesse caso, porque partem? À parte o caso de participação numa prova organizada - regata oceânica - apenas obedecem ao seu próprio demónio. Sob que impulso? Antes do mais, porque gostam de navegar! O navegador de recreio é um ser bizarro que paga bem caro, em dinheiro e em preocupações, o prazer de tremer no mar. De facto, ele treme continuamente: pelo barco, pelos companheiros, por si próprio; pela sua honra que julgará perdida se agir desordenadamente, se fizer uma manobra falsa, se não tirar o melhor partido possível (o sentido da palavra «melhor» é fixado por um evangelho misterioso e sagrado) do tempo que faz. Claro que, por momentos, se vê cumulado de felicidade, de beleza, mesmo de doçura; muitas vezes é-o também de pureza, exterior e interior, e ai se encontra talvez a pequena chave de ouro do seu paraíso; mas essas alegrias e mesmo essas purezas são permanentemente ofuscadas (se for o capitão) por apreensões, precauções a longo prazo que sabe ser seu dever tomar, suposições do pior, um pessimismo extremo que se chama previdência. Se governar é prever, navegar é prever que é preciso prever. O que dizemos ó tão verdade que os navegadores de recreio não encontram qualquer explicação normal para a paixão que os ataca, nenhuma legitimação; encolhem os ombros e dizem: «Fui picado com água do mar!» Consideram o seu vício como patológico. São morfinómanos, precisam, portanto, da sua dose... Bom! Mas se os navegadores solitários sofrem deste mal porque não o aplacam como os seus colegas, navegando, simplesmente, nos momentos de ócio, em águas mais ou menos próximas? Entre as Ilhas Britânicas, o Marrocos e Alexandria existe local para uma pessoa se entregar a esse vicio, «sozinho ou com outros», como se diz à socapa. Precisarão de mais? Serão vítimas do muito humano «sempre mais longe»? Talvez. Mas os que dão a volta ao mundo partem por vários anos; sacrificam, portanto, a família e a carreira ou, pelo menos, comprometem esta gravemente. Será Isto apenas para aplicar a divisa de circo «cada vez mais forte»? Continuará o principio válido, hoje que uma boa quinzena de homens fizeram sozinhos por mar esta volta ao mundo? Não haverá outra coisa? Buscar a glória? Ou o proveito? Provar a si próprio que se é de uma essência superior? Realizar «uma bela obra»? Integrar-se totalmente numa imagem do mundo que construíram? Fugir da civilização? Perguntar aos vivos seria fácil. Mas responderão sinceramente? E sabê-lo-ão eles próprios? O nosso estudo de cada caso permitirá, por vezes, esclarecer a pergunta. CAPÍTULO 1 - PRIMEIRAS TRAVESSIAS DO ATLÂNTICO PARTINDO DA AMÉRICA JOHNSON, O CASAL CRAPO, ANDREW, LAWLOR, HARBO e SAMUELSON, HOWARD BLACKBURN Ninguém se pode vangloriar de ter sido o primeiro navegador solitário. Desde que existem embarcações - de pesca ou de salvamento - têm existido marinheiro que, voluntariamente ou sem querer, partiram ou se acharam sozinhos. Na Idade Média, em Espanha, chegou um dia à costa um «homem vermelho e estranho» num «tronco de árvore». Segundo a descrição, que esclarece não ser o homem negro, trata-se de um americano numa piroga. Como teria chegado ali? Desviado por alguma tempestade? Como tinha subsistido? Conheceria o meio descoberto pelo Dr. Bombard de extrair água dos peixes? Esse conhecimento explicaria a descoberta e o povoamento das ilhas perdidas do Pacifico, como a ilha de Pâques. Nunca chegaremos a saber o que se passou, pois o caso parece único e o infeliz, em estado lastimável, morreu antes que se lhe tivesse podido ensinar a exprimir-se de maneira inteligível. Entregaram-no aos religiosos que, muito mais preocupados com a sua alma do que com informações etnográficas e geográficas, o levaram ao seu bispo para que, depois de instruído, pudesse ser baptizado. Não suportou a viagem... Os navegadores isolados, mesmo costeiros, eram, certamente, raros até ao século XVII ou XVIII; a navegação era uma arte de equipa. Todavia, nas águas árcticas, houve por certo esquimós sempre sozinhos nos seus kayaks que fizeram travessias audaciosas. Mesmo nas nossas águas, a vulgarização da tela nas velas, em lugar das pesadas peles, permitindo a diminuição das dimensões dos barcos de pesca, levou, sem qualquer dúvida, alguns pescadores costeiros ou de pequena cabotagem sem tripulação ou tendo-a perdido, a navegar sozinhos durante bastante tempo; ou ainda, entregues à pesca nos bancos e utilizando um dóri e não voltando a encontrar o navio, a regressar sozinhos, por vezes bastante longe. Enfim, o hábito de partir sem companheiro para levantar as redes, pescar o bacalhau ou transportar areia, é corrente, e muitos reformados dos pequenos portos são, sem por isso exigirem qualquer glória, navegadores solitários. Daí a percorrer voluntária ou fortuitamente rotas mais longas, vai apenas um passo; se se entregam a tais aventuras, fazem-no pelo exercício da sua profissão e não é isso que aqui nos interessa. O mesmo acontece com os náufragos: a sua deriva não pode considerar-se como uma navegação e ainda menos como um prazer. Ora, num documento holandês datado de 1601, trata-se de recreio e de recreio solitário. O chamado Henri De Voogt, cirurgião (já nesse tempo os médicos tinham yacht), dirigiu ao príncipe de Aremberg um pedido de passaporte para ir «numa pequena scute aberta e a remos» de Flessingue a Londres, «sozinho e sem outra ajuda que não seja a de nosso nenhor neus nodo noderoso», fazendo, todavia, escala em vários portos. Temia «encontrar no mar navios ou gente de guerra... que lhe poderiam deitar a mão»... O passaporte foi passado em 19 de Abril de 1601. A história não diz se a travessia teve êxito. Mas a última frase da nossa citação explica o motivo por que, até ao princípio do século XIX, o recreio do mar alto foi muito raro e reservado a grandes yachts, muitas vezes armados (a etimologia da palavra é «caçador» em holandês): as guerras e a pirataria não permitiam percorrer os mares sozinho nem mesmo com uma pequena tripulação. Isto na Europa; na América, as coisas passavam-se de outro modo. Mas os colonos americanos não tinham tempo para se divertir, construíam um mundo. Navegam muito, talvez sozinhos, por vezes, mas para descobrir, comerciar, instalar-se. A história não guarda, em geral, qualquer vestígio dessa actividade. No entanto, em 1800, o capitão Cleveland, de Salem (Massachusetts), sozinho, a bordo de uma embarcação de 4,60 metros, teria atravessado o oceano Indico e o Pacífico contra o sol (e os alísios...) desde o Cabo até aos confins do Alaska. E não sabemos mais. Além disso... é difícil de acreditar! Cita-se, já mais exactamente, J. M. Crenston que a bordo de Tocca, cúter de 12,30 m, foi, em 1849, de New Bedford (perto de Boston) a São Francisco (13 000 milhas), em 226 dias; ignora-se se dobrou o cabo Horn ou se passou por Magalhães. Voltemos aos solitários europeus. Cita-se um certo John Mac Gregor que, antes de 1866, era célebre em Inglaterra como navegador solitário nas águas europeias, a bordo do seu Rob-Roy. Não atravessou o Atlântico, mas a Mancha e muitos golfos difíceis, onde perdia a terra de vista. Sem qualquer dúvida não era o único da sua espécie; o Impulso estava dado... E em breve se tomou muito banal para os Ingleses passear no Verão, junto à costa, muitas vezes sozinhos. Mas daí a atravessar o Atlântico vai a sua distância. 1876 era uma data, uma data muito importante para os Estados Unidos: o centenário da Independência. As grandes cidades americanas rivalizavam em engenho para festejar este aniversário; várias delas organizaram exposições onde seriam apresentadas as mais maravilhosas realizações do espírito e do trabalho yankee. Assim, por exemplo, Filadélfia. E todas as pessoas da região davam voltas à cabeça para descobrir novidades. Os marinheiros não queriam ficar atrás. Mas que mostrar? Bacalhaus? Não era original. Então, alguém propôs: um barco que tivesse atravessado o Atlântico com um só homem. Havia lá um bravo pescador de bacalhau precisamente, que teimou na ideia, a revolveu na cabeça... Chamava-se Alfred Johnson. Não tinha ainda trinta anos. Não era capitão, mas um simples pescador à linha que pescava os seus pesados peixes à mão, no Verão como no Inverno, nas águas frias do grande banco da Terra Nova, no seu dóri. Sabia muito melhor que ninguém que um dóri pode aguentar-se com todo o tempo (sempre a gaivota). Foi, portanto, um dóri que escolheu. Um dóri de cinco metros. Sim; o primeiro barco solitário que atravessou as ondas media cinco metros de fora a fora; o comprimento de um caneton, mas muito mais estreito e quase sem quilha (os dóris normais não a têm; é impossível que tenha navegado assim). Pontou-o, mas simplesmente, como se ponta uma chalupa de pesca, com um tecto elevado sob o qual o pequeno espaço conseguido constituía um porão e não um alojamento; no caso presente esse porão servia, além disso, de cofre estanque, ou quase. Lastrou o dóri com gusas, embora não lhe restasse mais, depois do carregamento de viveres e de água doce, que um trintena de centímetros de bordo livre (de cima abaixo da água)! Deu-lhe por aparelho... tudo o que se pode instalar num dóri: quadrangular latina, vela de giba, traquete, mas também uma grande vela de ré redonda para o vento pela popa. O «frágil esquife» - cabe muito bem aqui a linguagem dos jornalistas - foi baptizado, bem entendido, de Centennial, o centenário. E partiu. Partiu de Gloucester; parece ter sido Gloucester em Nova Jersey, no rio Oelaware, muito perto de Filadélfia, e não Gloucester do Massachusetts, um pouco ao norte de Boston; caso contrário, explicar-se-ia mal a história da feira de Filadélfia, a 500 quilómetros e do outro lado de Nova Iorque, e a escala seguinte. Pois tendo aparelhado no dia 15 de Junho de 1876, dirigiu-se primeiro a ShakeHarbor, na Nova Escócia, (sul da costa leste do Canadá), o que lhe permitiu experimentar um pouco o seu barco e completar os seus aprovisionamentos; daí, no dia 25 de Junho, fez a grande partida, sem fanfarra nem jornalistas. Levaria consigo um sextante (exactamente, um octante)? Devia principalmente servir-se do seu compasso de dóri (é o nome de uma bússola chata; na época era mesmo, sem dúvida, um compasso seco, terrivelmente móvel) e de uma barquinha de carretel (ele não alude ao caso, mas a barquinha de hélice quase não se usava), isto é, de um instrumento primitivo que lhe permitia medir, só de tempos a tempos, não constantemente, a sua velocidade, mas não o caminho percorrido. O compasso fornecia-lhe (com que precisão? Quais eram os seus mapas? Conheceria de modo preciso os desvios da agulha, particularmente diferentes de fuso para fuso, muito aproximados nessas regiões?) a sua direcção aproximada; a barquinha dava-lhe uma ideia da velocidade. No total, obtinha um cálculo dos mais vagos, mas corrigido por esse longo hábito que permite ao pescador, ainda nos nossos dias, «saber onde está», assim sem o definir, não se enganar, regressar efectivamente ao ponto de partida. Não exageramos; os lagosteiros de Camaret foram assim a Portugal. O Atlântico é outra coisa, pensar-se-á; não muito diferente, talvez mais simples. A leste havia terra, sem dúvida. As aves anunciavam a sua aproximação. Bastava, portanto, fazer leste, evitando descer demasiado ao sul e, sobretudo, subir demasiado ao norte. Para uma pessoa muito experimentada, estes desvios de latitude vêem-se: o Sol não nasce nem se põe no mesmo sítio, o crepúsculo não tem a mesma duração. Bastava não deixar que o Sol se pusesse mais ao Norte do que sobre o banco em tal data, para se ficar convencido de não subir mais do que os 45 graus; perto da Europa, passaria a grande rota dos navios e seria muito difícil não encontrar nenhum (o que, de facto, não aconteceu). Johnson, marinheiro-pescador, não era um tagarela. Os pormenores sobre a sua viagem não abundam, e limitam-se aos factos mais salientes da navegação. Dos seus estados de alma, dos pequenos problemas da vida quotidiana, não dirá nada, pois são, para ele, questões ociosas. Quando se dormiu enrolado no capote de oleado, entre peixe, num dóri perdido na bruma, na chuva gelada ou na neve dos bancos, não há dificuldade em dormir sobre a ponte de um dóri melhorado (sobre e não debaixo, já que não havia espaço), em pleno Atlântico. Aqueceria os alimentos? Como dormia? Pôr-se-ia de capa ou continuaria a fazer a rota com a vela de ré? Ignora-se este ponto importante. Teve treze dias de bom tempo e, depois, um bom golpe de vento; o dóri comportou-se bem, mas uma onda inundou-o e estragou uma parte dos víveres, o que parece provar que o porão não era suficientemente grande para os conter todos. Um pouco mais tarde foi encontrado por um três-mastros turco, cujo capitão, encarnação de Belzebu, desempenhou o papel do tentador, falando-lhe mais ou menos nesta linguagem: «Vá, marinheiro, embarca! Meteremos o teu dóri na ponte; ajudarás à manobra; e quando chegarmos a qualquer parte bastante perto, mas fora da vista do cabo Clear (a ponta Sul da Irlanda), voltaremos a pôr o teu brinquedo no mar, contigo lá dentro; mais umas milhas e aparecerás outra vez sem ser visto nem conhecido; nenhum dos meus tripulantes fala outra língua que não seja o turco e dir-lhes-ei que és um náufrago. Quanto a mim, podes contar com o meu silêncio. Aliás, vou para longe... Johnson deve ter soltado uma gargalhada ou encolhido os ombros: que ideia! Tinha resolvido atravessar sozinho o Atlântico para provar que os yankees eram homens valentes; para fazer aldrabices não valia a pena... E continuou a rota. Esse encontro permitiu-lhe, pelo menos, precisar a sua posição geográfica. No dia 2 de Agosto estava, segundo o seu cálculo, a umas 300 milhas, no máximo, do cabo Clear quando o tempo se alterou: Johnson emprega a palavra tempestade - um termo que os verdadeiros marinheiros, e ainda menos os pescadores dos bancos, não utilizam para designar uns aguaceiros. Johnson amainou o seu mastro. É de longe a melhor solução, a que empregavam ainda há poucos anos as chalupas de pesca que dispunham de «um mastro de erguer». Isto só é, evidentemente, possível quando o mastro é leve, o que mostra que a pequenez do Centennial não tinha apenas inconvenientes e que a escolha de Johnson não era, talvez, produto do acaso. Lançou ao mar uma âncora flutuante, esse aparelho de que o capitão Voss se fará apóstolo 25 anos mais tarde, e de que os pescadores dos bancos se serviam correntemente. Esta âncora flutuante - um cone de tela ou um painel lastrado de modo a permanecer um pouco atravessado sobre a superfície da água, a fim de funcionar como travão - não era, todavia, muito eficaz para uma embarcação tão ligeira, tão a rasar uma vez sem mastro. Para que uma âncora flutuante trabalhe é preciso que o barco desloque bastante água, o que facilmente se concebe: um papagaio (que é mais ou menos o equivalente, no ar, de uma âncora flutuante) não resiste, portanto não voa, se não tiver uma boa brisa, uma força séria entre o fluido e o sólido. Tendo, pois, retirado os mastros voluntariamente e lançado a sua âncora flutuante, Johnson, tranquilamente estendido no fundo do seu dóri esperou que a coisa passasse... Mas, pelas três horas da tarde, uma onda enorme apanhou-o de través e fez adernar a embarcação que se voltou por completo. Mais uma vez a leveza do barco - que era talvez a causa das dificuldades - constituiu o remédio. Johnson conseguiu repor o dóri na sua posição. Como, não o diz. Mas só pode ter sido de uma maneira: subindo para cima de um bordo e puxando um cabo passado por debaixo do outro bordo. Mas um dóri lastrado não é uma canoa; Johnson gastou nisso vinte minutos, diz ele, e fez numerosas tentativas para o conseguir, sem dúvida aproveitando uma onda. Imaginem-se esses vinte minutos de atoleiro e de assaltos inesperados entre vagas terríveis, essa alternância de agonia e de desesperos, de esgotamentos e de «tentemos mais uma vez». Resolvido, enfim, o problema, Johnson saltou para bordo e conseguiu esvaziar o barco sem que ele se voltasse de novo. Sem as qualidades essenciais dos marinheiros, que são a previdência, a ordem e o método, Johnson ter-se-ia, apesar de tudo, perdido; se se tivesse esquecido de recolher (dominar) ou se tivesse recolhido mal o mastro e o velame, tudo teria partido à deriva e Johnson não teria podido navegar mais. Do mesmo modo, felizmente que as gusas do lastro estavam amarradas, o que é bastante difícil, sem o que se teriam portado mal e, sem dúvida, tornariam impossível a recuperação do dóri. O prejuízo era já grande: estava tudo molhado e a maior parte dos víveres inutilizada. No entanto, era preciso continuar. Continuar encharcado - encharcado no vento, encharcado na noite - sem poder secar-se, já que a chuva começou a cair sem parança. E havia ainda 200 milhas a vencer... É muito fácil ler isto numa poltrona; vivê-lo, já o é menos. E quem quer que já se sentou no banco de um pequeno veleiro pode, com um esforço de imaginação, calcular uma décima parte do que isso pode ter sido. Cinco dias mais tarde, a 7 de Agosto, a 100 milhas do cabo Clear, foi avistado e alcançado pelo brigue Alfredon. Por aí se mede a coragem de Johnson: enquanto estava sozinho no mar, não tinha escolha, mas agora oferecia-se-lhe um navio com a sua entreponte quente e seca, os seus víveres abundantes. Se o cabo Clear estivesse mais afastado, talvez Johnson tivesse cedido. Assim, contentou-se em aceitar água e pão, cujo gosto havia muito tempo tinha perdido. A 9 de Agosto, o Prlnce-Lombardo deu-lhe a sua localização: estava a 53 milhas do Wexford-Head, isto é, à entrada do canal Saint-Georges. Johnson desprezou a costa da Irlanda, já muito próxima, e, a 10 de Agosto, Centennial entrava no porto de Abercastel (País de Gales), após 46 dias de mar. Pela primeira vez, um homem sozinho tinha atravessado o Atlântico. Mas Johnson ainda não estava contente: tinha dito que iria a Liverpool e iria mesmo. Repousou apenas dois dias e voltou a partir. Entrou em Liverpool a 17 de Agosto de 1876. E depois... E depois, mais nada. Regressou a casa e continuou a pescar bacalhau. Não se considerava, de modo algum, um herói; apenas tinha demonstrado, pensava, o que queria provar: que nada era impossível a um marinheiro yankee. Como os marinheiros yankees eram todos desta opinião, como o resto da população não se interessava nada pelo que podiam fazer os marinheiros (já conhecemos isso...) e como os jornalistas não tinham, então, nem lá nem em parte alguma, descoberto esse género de serpente do mar, o incidente em breve foi encerrado. Johnson, que tinha «a doença», tornou-se mais tarde patrão de um grande palhabote de pesca que conduziu no banco até à velhice de ambos. Com mais de 80 anos, por volta de 1930, era ainda robusto; chamavam-lhe amigavelmente «Centennial Johnson»; a história não diz se efectivamente se tornou o «centenário Johnson». ***** Depois do solitário, no ano seguinte, foi o casal! Um casal de marinheiros. No século XIX, na verdade, os «capitães comerciantes» americanos tinham o hábito de embarcar as mulheres a bordo de grandes veleiros (e, por vezes, os filhos - recordemo-nos da deliciosa obra Un berceau sur l'abísme). Assim, a jovem escocesa que em Marselha conheceu o capitão Crapo, de New Bedford (Massachusetts, 60 quilómetros a sudoeste de Boston) e o desposou, tornou-se logo uma navegadora e uma mulher hábil. Fosse por causa dela ou por qualquer outra razão, Crapo renunciou, todavia, muito depressa à navegação, mesmo até às coisas do mar; acabou por se estabelecer como vendedor de peixe fresco no seu país. Os negócios não lhe correram, aliás, brilhantemente e Thomas Crapo pensou logo em voltar a partir. Mas não encontrava embarcação. Ouviu falar da extraordinária travessia de Johnson e quis imitá-lo. Mandou construir uma embarcação que, sem dúvida sob a influência de Centennial, ele denominava «dóri». Na verdade, era uma espécie de baleeira de bordos trincados (fechavam-se como as ardósias de um tecto), aguçado nas duas extremidades (o dóri é cortado), de quilha sem esporão e com um calado de 0,35 metros apenas. O comprimento era de 6 metros e a largura máxima de 1,85. O barco tinha ponte com camarote de convés, mas cockpit não estanque, isto é, podendo ser cheio pelo mar e alagar todo o barco; é verdade que a ponte baixa de Johnson não valia muito mais; a água que o inundasse ficava lá. Crapo aparelhou o seu «barco» como uma goleta. Pelo menos é assim que diz; na realidade, o mastro da vante é o mastro grande, o da popa o da mezena e o barco um ketch. Adiante. O mais importante é que tem dois mastros - portanto o velame muito dividido - e que se pode obter o equilíbrio entre a mezena, a quadrangular e um simples traquete; por este motivo, Crapo pode dispensar o botaló, o que simplifica muito a manobra e diminui o perigo. As veias são do tipo «houari militar», hoje raríssimo, mas utilizado então regulamentarmente nas baleeiras das marinhas de guerra. Terminado o barco em princípios de Maio de 1877 e baptizado New Bedford, Crapo preparou-se para partir sozinho. Mas não foi esta a opinião da senhora Crapo, que anunciou o seu intento de o acompanhar. Crapo sabia por experiência que os desejos da mulher eram ordens e que não tinha outra coisa a fazer senão inclinar-se perante eles. O problema complicava-se, já que seria preciso aumentar as provisões de água e de víveres, e conseguir um pouco mais de espaço sob o minúsculo camarote de convés. Crapo descobriu a solução e meteu a bordo 450 litros de água, 90 libras de biscoitos, 75 libras de carne de conserva, chá, café, açúcar e petróleo para o fogão. Crapo era capitão marinheiro, sabia tirar o ponto. Para a latitude bastava, por exemplo, tomar uma altura de sol ao meio-dia. É menos fácil e o resultado menos preciso a bordo de uma baleeira que da ponte de um três mastros; porém, servia. Mas Crapo não podia calcular a longitude, pois não tinha cronometro. Imaginava (mal; veremos com que relógios de bazar certos navegadores deram a volta ao mundo) que apenas podia utilizar um instrumento de alta precisão, demasiado caro para a sua bolsa, e decidiu passar sem ele, contando, tal como Johnson, com as indicações dadas pelos navios que encontrasse, o que, para ele também, se revelou suficiente. Nessa época, o Atlântico estava cheio de veleiros. Partidos a 28 de Maio de 1877, de New Bedford, Crapo e a mulher dirigiram-se primeiro a Chatam para modificar ligeiramente o camarote do convés, carregar 100 quilos mais de lastro e dar uma boa demão de tinta ao casco (para o tornar estanque), o que dá que pensar... Na verdade, no mar, os bordos de um barco actuam ou não actuam; se não actuam, a pintura não acrescenta nada à impermeabilidade, apenas protege a madeira e a calafetagem (com tábuas trincadas não existe); se actuam... a pintura também não acrescenta nada, somente racha. O casal Crapo largou de Chatam no dia 1 de Janeiro de 1877. E logo o New-Bedford encontrou mau tempo, um mau tempo de todo inopinado. A travessia fez-se sem incidentes (à excepção de numerosos encontros com navios), mas não sem sofrimento. Teria sido a senhora Crapo que não era capaz de segurar o leme em mar agitado? Ou o marido não depositava nela confiança bastante para esta tarefa? De uma maneira ou de outra, Crapo não conseguiu arranjar processo de navegar com o leme amarrado, pois pretende não ter nunca podido dormir mais de quatro horas em vinte e quatro, durante toda a travessia. Imagina-se o estado de esgotamento em que se encontrava ao chegar, quarenta e cinco dias depois, ao porto de Newlyn, perto de Penzance, no extremo da Cornualha britânica, se nos lembrarmos que as últimas setenta e duas horas (três dias) foram continuamente passadas ao leme por este homem já sem forças. Mas os navios que navegavam na mesma rota eram tão numerosos que Crapo não ousava pôr-se de capa; e a senhora Crapo já não podia dar-lhe qualquer ajuda. De facto, não resistira à fadiga nem ao desconforto; durante as duas últimas semanas, o terço final da viagem, sofreu permanentemente, a ponto de inquietar o marido. Todavia, restabeleceu-se. Mas, ao chegar ao porto, ela e o capitão sentiam-se tão fatigados que, tendo posto água ao lume para fazer chá, adormeceram, nunca mais se lembrando dele. A mão esquerda do capitão permaneceu ancilosada por vários dias, em virtude de ter segurado o leme sem interrupção (o que parece indicar que New-Bedford estava mal equilibrado). O casal Crapo foi recebido com entusiasmo e New-Bedtord exposto seis semanas em Londres, antes de ser repatriado gratuitamente para os Estados Unidos, em paquete. Muitos outros casais realizaram, depois, travessias análogas; mas parece que a senhora Crapo foi a única mulher a ter vencido o Atlântico com um só homem, no século XIX. A senhora Tambs fez, muito mais tarde, metade da volta ao mundo com o marido e - coisa incrível! com os seus sucessivos filhos recém-nascidos; Teddy, o seu cúter, era, porém, um magnífico barco de doze metros, perfeitamente preparado, tão diferente de New-Bedford como uma roulotte moderna do tonel de Diógenes. O mesmo acontecia com o Igdrasil do casal Strout que, esse, fechou efectivamente o círculo com a senhora Strout... em camisa de noite! Mas estes esposos desentendiam-se, o que alterava tudo; por esse motivo, classificamos Crapo entre os solitários. A partir desta época, as travessias do Atlântico Norte, da América para Inglaterra, por navegadores solitários ou pequenas tripulações, deixaram de ser uma raridade. Era, portanto, necessário dar consistência à coisa. Em 1891, dois jovens americanos tinha já «passado» várias vezes. ***** William Andrews, fabricante de pianos (!) foi «até ao outro lado» com o irmão, em 1878, de Boston a Muilion-Cave (Cornualha), em quarenta e oito dias, a bordo do surpreendente Nautilus, uma chata, de 45 cm de calado, aparelhado... com uma vela latina, daquelas que se vêem no Levante ou nos lagos suíços. A vela media 12,5 m?, a antena 6,50 m. Claro que as manobras estavam simplificadas ao extremo, pois apenas comportavam uma adriça, uma escota e um palanco de amura! Após a morte de seu irmão Walter, William Andrews decidiu, cinco anos depois, em 1888, tentar atravessar o Atlântico novamente, desta vez sozinho, com um barco consideravelmente menor, de apenas 14 pés e três polegadas de comprimento ( 4,20m), a que ele chamou Dark Secret, e com o patrocínio do proprietário Josephh Pulitzer New York World ***** Josiah W. Lawlor, filho de um construtor de barcos muito conhecido, tinha «feito» Boston-Havre em Maio-Junho de 1889, a bordo de um não menos espantoso barco «inadernável e insubmergível», chamado, como era próprio, Neversink. A construção aplicava a «grande ideia» do seu inventor, um certo Norton, «grande ideia» que devia revolucionar toda a navegação. Nem mais! Neversink media 12 metros de comprimento, 3,60 m de largo. Deixou Nova Iorque em 11 de Maio de 1889, com Lawlor e dois marinheiros, para atingir o Havre a 28 de Junho, travessia longa, mas sem problemas; o barco podia, assim, figurar na Exposição Universal. E Lawlor ganhava com isso uma grande reputação de navegador. Na atmosfera de loucura que então reinava, ele e Andrews, excitados pela aventura (ou excitados, simplesmente) queriam «repetir aquilo», com embarcações cada vez mais pequenas. Como um e outro haviam anunciado, em princípios de 1891, as suas intenções à Imprensa, acusaram-se mutuamente de plágio e alimentaram os jornais yankees, já muito virulentos, com a polémica que se imagina. De repente, achou-se a solução: transformar as duas travessias em «regata solitária transoceânica», coisa que nunca se tinha visto (e que só se verá de novo - muito diferentemente em 1960). Os dois rapazes partiriam de Boston ao mesmo tempo, e a palma (do suicídio?) seria entregue ao que atingisse em primeiro lugar qualquer ponto da costa europeia ou das ilhas Britânicas. Lawlor pôs o pai a construir um minúsculo barco, medindo 4,50 m de comprimento. 4,50 m, as dimensões de um Dinghy Herbulot! Apenas mais largo: 1,50 m. Calado: 0,70 m, quilha fixa. E como se na verdade quisesse levar a anormalidade ao extremo ou transformar antecipadamente esta obra numa revista de todos os aparelhos possíveis, aparelhou-o com uma espicha. Esta vela, muito vulgar no século XVI, na Holanda, mas que, desde então, quase não era utilizada na Europa senão nas barcas do Tamisa, assemelha-se a uma pata de pato; trata-se de uma vela quadrangular latina, mas que, em vez de estar suspensa de uma verga, se estende, segundo a diagonal, por uma antena chamada espicha. O aparelho era completado por uma vela de giba amurada à extremidade de um longo botaló, indispensável para o equilíbrio com vento de flanco, mas que devia mergulhar muito no mar e pôr delicados problemas de manobra na vante de um barco tão pequeno. Este monstro foi baptizado com o nome de... Sea Serpent (Serpente do Mar). Os Americanos tinham decididamente o sentido dos títulos; tratava-se, além disso, de um jogo de palavras, pois o seu proprietário era designado, na intimidade, por «Si» Lawlor (a menos que a alcunha não lhe venha do barco... Todavia, a anterioridade parece pertencer-lhe). Que barco fenómeno iria opor o concorrente, Andrews, que produzira já o estranho Nautllus? Nada de pitoresco. A parte as dimensões, quase idênticas, portanto, igualmente absurdas, Mermaid (Filha do Mar, Sereia) era mais clássico no aspecto; tinha vela de giba e grande veia quadrangular latina; mas Andrews respeitava a fórmula que experimentara na travessia precedente e muniu o seu «dinghy» de uma deriva. Uma deriva é uma placa de ferro que se pode, ora baixar, a fim de que faça às vezes de quilha profunda, ora levantar; e, para tanto, desliza num poço que se abre no fundo, para o mar e, à superfície, se ergue acima da linha de água. A vantagem da deriva é permitir a supressão da maior parte do calado quando se navega em águas pouco profundas, o que não é precisamente o caso do Atlântico... Ao contrário, os inconvenientes são graves: o poço da deriva é frágil, os rombos na base muito frequentes e irremediáveis no mar; se o barco cansa um pouco com a deriva baixa, é de temer rotura ou naufrágio imediato; se, devido ao mau tempo, se puxa, portanto, a deriva (e também para obturar melhor), o seu peso constitui um perigoso lastro falso, colocado a altura demasiada; enfim, o poço de deriva ocupa um espaço importante. Deste modo, se Andrews escolheu este tipo de casco, com certeza que o fez apenas pelo prazer de aumentar a dificuldade e o risco. Como teriam os dois adversários armazenado água, viveres, conseguido acomodações para dormir? O certo é que a 21 de Junho de 1891, às 18 horas e 20, começou no porto de Boston esta versão marinha da luta de mulher e da serpente. Existiam, no entanto, precedentes lamentáveis em matéria de barcos de 4,50m. Assim, por exemplo, em 1864 - muito antes de Johnson, mesmo antes de Migrador e de qualquer yacht - um novaiorquino, J. C. Donovan, anunciou, com grande alarido, que ia efectuar a travessia Nova lorque para lnglaterra a bordo de um... brigue-palhabote de... 4,50 m por 1,40 m. O barco, chamado Vision (na verdade, era bem empresa de visionário...), foi lançado à água no East River, a 17 de Junho de 1864, perante grande multidão, pois a publicidade fora bem feita e o próprio New York Herald tinha consagrado ao caso numerosos artigos bastante pormenorizados. Assim, Donovan conseguiu que lhe fosse oferecida a maior parte das suas provisões. O aparelho era exactamente o de um verdadeiro brigue-palhabote; tão exactamente que só dispunha de uma vela de giba (1). Portanto, da vante para a popa: o traquete; um mastro de traquete composto de mezena redonda (2,25m x 1,25, aproximadamente), gávea (cerca de 2 m por 1,5), joanete (da ordem do 1,50 x 1) uma giba de estai, se quiserem; enfim, o mastro da popa, composto de uma grande veja pontiaguda como as que os célebres sharpees americanos começavam a utilizar (1) a que chamamos hoje Marconi Neste campo, Donovan era um precursor. Mas pagava a inovação com um conservadorismo muito estranho «em matéria de velas redondas. Claro que o velame estava dividido! Mas como diabo apanhava ele o seu joanete e a sua gávea? Poderia subir aos enfrechates do mastro de 4,50 m de um escaler de 1.40 de largo? Como reduzia o seu velame? Mistério. (1) Red, White and Blue, estava aparelhado como um verdadeiro três-mastros, com quatro velas de giba, onze velas redondas e uma brigantina. O certo é que Vision largou a 26 de Junho de 1894, às 14 horas, com um marinheiro, William Spencer, e o cão, «Toby». Saiu a bordejar com todo o pano largado, salvo joanete e giba de estai. Que pena não o podermos ter visto! Dois dias mais tarde, foi encontrado com todo o pano e de proa a leste, 45 milhas a Oriente de Fire Island, o que não era mau. E depois nunca mais se ouviu falar de Vision, de Donovan, de Spencer, nem do cão «Toby». Mas semelhantes exemplos não desiludem nunca os temerários, que se julgam sempre mais astutos que os seus predecessores. Assim, Andrews e Lawlor partiram a 21 de Junho de 1891, às 18 h. e 20 m. Lawlor decidiu tomar a mesma rota que Johnson e Crapo. A rota directa de Inglaterra, a do Norte. Andrews, ao contrário, talvez porque as sereias preferem a água morna, mais provavelmente porque a sua deriva e o seu aparelho lhe permitiam navegar mais depressa e melhor do que com vento pela popa, preferiu a rota do Sul, muitas vezes chamada «dos Açores», mais curta até Espanha, mas, em geral, mais lenta. Vários navios encontraram Sea Serpent ao longo da sua rota; edite chegou a Coverack, perto do cabo Lizard (ponta sul da Cornualha) a 5 de Agosto de 1891, ou seja, 45 dias após ter deixado Boston, o que' é verdadeiramente prodigioso para um barco tão pequeno. As honras cabem à espicha. Claro que a travessia não se fez sem aventuras; a mais assustadora foi a visita que Sea Serpent recebeu, uma noite, de um enorme animal marinho (talvez o seu patrão epónimo!), cetáceo ou esqualo que veio à superfície ou mais provavelmente, se quis coçar, como parecem fazer sob os destroços, ou ainda pretendia obter alimentos na querena do grande navio ou perseguir uma presa que nela se refugiava; fosse como fosse, colidiu violentamente com a sua quilha e por pouco o adernava. Lawlor tinha ganho a corrida. Na verdade, o seu adversário não chegou. Andrews contava gastar 50 dias para atingir a Europa. Foi encontrado por vários navios, um dos quais cinco semanas após a partida, a 27 de Julho, 350 milhas a Noroeste dos Açores, o que parece muito Norte, mas representa uma velocidade conveniente, embora inferior à desejada. Depois, ate 22 de Agosto, decorreram quase 4 semanas sem notícias dele: tinha saído da rota dos veleiros. Enfim, nesse dia, a 600 milhas das costas da Europa, Mermaid foi avistada pelo vapor Elbruz. Andrews estava estendido no fundo, inerte, esgotado. Fora descoberto a tempo... O Elbruz conduziu o navegador e o seu brinquedo a Anvers. Ai, Andrews contou que Mermaid tinha sido voltada por uma onda e que só conseguira reerguê-la «ao preço de esforços inauditos», coisa de que ninguém duvida. Havia perdido tudo... E quatro dias, quatro terríveis dias se esgotaram antes que o encontrassem. Estava já quase inconsciente. Quatro dias... ou mais ainda que não pôde contar... Quando conseguiu falar a bordo do Elbruz, quase gritou: «Ah, não! Nunca mais me meterei em semelhante aventura...» Mentia. Três anos mais tarde construiu, pelas suas próprias mãos, um «ataúde flutuante» (foi este o nome que os marinheiros lhe deram), baptizado Sapoilo, sempre com 4,50 m, quase de todo fechado. Com esta caixa conseguiu finalmente, em 58 dias, fazer a travessia de Atlantic City até Paios de Moguer, o porto onde outrora, Heredia, os «andarilhos e capitães» espanhóis, «como um voo de gerifaltos», partiam «bêbedos de um sonho heróico e brutal» para as Américas. Esses, porém, não eram palhaços. O mar não gosta de palhaços, não aceita que o transformem em pista de circo. Andrews e Lawlor, por muito prodigiosa que tenha sido a sua valentia, não o respeitavam. Em 1910, Andrews, então com 51 anos, e a mulher, sua antiga enfermeira, partiram a bordo de um molha-popas do mesmo género, aparelhado como um sloup, que se tinham atrevido a denominar Flying Dutchrnan (o «Holandês Voador»), como o navio fantasma dos Mares do Sul, anunciador da morte dos marinheiros. Não se blasfema em vão este nome: Andrews e a mulher não voltaram a aparecer. E assim acabou a sua história. Este grupo de acrobatas devia, todo ele, acabar rnal: Norton, que concebera Neverslnk, entusiasmado pelo êxito desse «inadernavel e insubmergível» mandou construir um vapor de 15 metros, o F.L. Norton. Com a mulher, a sobrinha e sete marinheiros, partiu para a Europa em pleno fim de Outono. E esse ano de 1891, que tinha visto a louca regata transoceânica solitária em molhapopas, não transmitiu ao seu sucessor nem o vapor, nem nenhum dos seus dez ocupantes. Ao que se diz, o mesmo aconteceu com Lawlor, um pouco mais tarde. ***** No entanto, outros homens apareceram para tentar proeza ainda mais difícil; e embora tenham sido dois, não podemos passar em claro a sua aventura. Reduzir as dimensões de um veleiro transoceânico para menos de 4,50 m? Era possível, pois, em 1964-65, John Riving limitará a 3,60 m um quilha dupla; ou, se não quisermos sair das travessias do Atlântico para a Europa, temos os 4 m do pequeno sloup clássico de Maury em 1965. Mas, no fim do século XIX, isso já não «falava» ao publico. O record, esse disparate mortífero, não era «rendível» neste campo. A vela tinha praticamente dito a sua última palavra. Pensou-se em qualquer coisa de mais espectacular ainda nos horizontes sem limite: a canoa a remos. George Harbo e Frank Samuelson foram então chamados «gigantes do Atlântico». Sem dúvida que a sua aventura foi prodigiosa: demonstrou até onde podia ir a resistência humana, a força física, a vontade. Pena foi que aos seus objectivos confessados, declarados, tenha faltado nobreza, mesmo ingenuidade: fazer fortuna, exibindo a embarcação após a travessia. Entre esta concepção, digna de Barnum, da proeza marítima e a atitude de Johnson, ou mesmo a dos excitados da regata dos mais pequenos barcos «in the worId» há a sua diferença. Harbo e Samuelson eram dois noruegueses naturalizados americanos; tinham por porto de matricula Sandy-Hook, algumas milhas ao sul de Nova Iorque. Tal como Johnson e Blackburn de que em breve falaremos (embora o seu caso seja de uma grandeza totalmente diferente), pescavam nos bancos, como eles viviam a bordo de um dóri. Contudo, Harbo tinha carteira de navegador e parecia ter sido piloto. Foi em 1894 que tiveram a brilhante ideia. Ruminaram-na e encontraram um patrocinador a Police Gazette, qualquer coisa como o nosso Detective; o dóri que adquiriram tinha, por isso, o nome do «manager» dessa publicação, «R. K. Fox». Publicidade... Este «dóri» era mais exactamente uma pequena baleeira com pequenas velas de giba nas duas extremidades. Media 5,40 m de comprimento - um pouco mais que o dóri de Johnson - 1,50 m de largura e tinha 20 cm de calado, carregado. Só em metade a guarneceram de ponte (imprudência que bem cara pagaram), mas muniram-na em cada extremidade de uma caixa estanque. Não dispunha de nenhuma vela para impossibilitar qualquer fraude. Observemos, a propósito, que um dóri sem mastros é muito menos vulnerável (vimos em teoria, na nossa introdução, e na prática no caso de Johnson) que um barco com mastros, enxárcias, tudo o que tem altura, que oferece resistência ao vento. O armamento consistia em cinco pares de sólidos remos, uma ancora flutuante cónica em tela e faróis de rota. O aprovisionamento comportava 200 litros de água doce, ou seja, 100 dias a um litro por pessoa, o que é extremamente pouco. Por Instrumentos de navegação, um compasso de dóri e um octante permitiam verificar a latitude. Não tinham barquinha e veremos porquê. Os dois nadadores (não se diz «remar», mas sim nadar a remos) largaram de Nova Iorque a 6 de Junho de 1896, às 17 horas, na baixa-mar, perante uma multidão enorme, congregada pela Police Gazette, Pode imaginar-se como «R. K. Fox» esfregava as mãos: a sua publicidade tinha atingido o grande público. Pouco importava que aqueles imbecis se afogassem depois; se se encontrasse qualquer destroço, daria um belo titulo; a seguir, podia fazer-se uma colecta para as coroas, que manteria á tiragem. Os dois esfregavam também as mãos, cuspindo nelas: essas mãos iam levá-los, por intermédio de pedaços de madeira, «até ao outro lado», o que, pela rota dos navios, onde a corrente do golfo proporcionava uma ajuda apreciável, a principio, e que a mais elementar prudência aconselhava, representava 3250 milhas. A razão de braça e meia por remada com vento, de metade contra o vento e 75 por cento de ventos a favor, isso dava quantas remadas? Mais de três milhões... Os nossos pescadores não tinham qualquer necessidade de barquinha; sabiam qual a distancia média que um dóri percorre numa hora com bom e com mau vento. Estabeleceram, portanto, um horário estrito, ao qual parece que se ativeram quando o tempo permitia: das oito horas da manhã até às oito horas da tarde remavam os dois, com duas interrupções totais: o almoço, seguido de uma hora de repouso; o jantar, seguido de outra hora de descanso. Das 20 horas às 7 horas, a noite era dividida em pequenos quartos, durante os quais um remava, outro dormia: das 20 às 23 horas, das 23 as 2, das 2 às 4 e 30, das 4 e 30 às 7 horas. Enfim, das 7 às 8 horas, pequeno almoço. Enquanto pudessem aplicar este horário, percorreriam por dia, segundo calcularam, uma rota média de 54 milhas. Navegando no sentido leste-norte, se o vento não os contrariasse, atingiriam a Mancha ao fim de 60 dias. Fizeram-no em 55. Mas em breve a pele das suas mãos contava também as remadas. E, apesar das precauções, o sofrimento foi grande. Outra infelicidade imediata: com o vento, o fogão a petróleo recusou-se a trabalhar e durante toda a travessia tiveram de se contentar com víveres que pudessem ser comidos crus s frios felizmente que dispunham de ovos e de bolacha». Entre os outros incidentes ocorridos, figuram também visitas indiscretas de um tubarão. Depois, vento de teste verdadeira pouca sorte - que os obrigou a pôr-se de capa com a âncora flutuante, tendo assim recuado mais de 20 milhas. A seguir, balelas. Enfim, vários encontros com navios, nos bancos, o que lhes proporcionou uma refeição quente. A 7 de Julho sobreveio a primeira tempestade do Oeste que tiveram que suportar de capa. Mas a 9 o mar estava tão agitado que a baleeira, demasiado carregada, metia água a cada onda. Sem ponte, depressa teria naufragado; era preciso que um dos homens esvaziasse sem cessar a embarcação, enquanto outro a mantinha direita, pois, como se viu, a âncora flutuante não podia desempenhar bem essa função. As 9 noras da tarde, foi o desastre: atravessada (ainda o fracasso da âncora flutuante), a baleeira virou-se. Felizmente que Harbo e Samuelson haviam colocado os seus coletes de salvamento e tinham-se atado a bordo com cabos; por outro lado, a baleeira dispunha, como os barcos salva-vidas, de armaduras de madeira escavadas, constituindo, ao mesmo tempo, quilhas de balanço e corrimãos aos quais, uma vez a embarcação adernada, podiam agarrar-se. Quando o tempo melhorou, puderam voltar a canoa: como eram dois, tiveram certamente menos dificuldades que Johnson, sem que a manobra se assemelhasse, claro, a uma brincadeira; e perderam uma parte do material menos bem arrumado que o de Johnson - incluindo um par de remos. Ficaram encharcados durante cinco dias... Cinco dias e cinco noites a escorrer... O bom tempo regressou enfim e manteve-se. A 15 de Julho, encontraram uma barca norueguesa que mes deu água, víveres mais do que precisavam e o calor da pátria. Estavam ainda a meio caminho. Mas, durante a semana que se seguiu, forçaram a velocidade e puderam fazer 65 milhas de medis A 24 de Julho, outro navio norueguês tirou-lhe o ponto a 400 milhas das Scilly ou Sorlingues (ilhas na ponta da Cornualha); foi neste curioso arquipélago que aproaram, no primeiro de Agosto, um sábado, após 55 dias de mar, 55 dias de galés. Muito pior que gales: ao vento, ao frio, à chuva muitas vezes, dormindo no oleado que lhes causava nos pulsos feridas sanguinolentas e comendo frio... Mas nas Scilly, tal como Johnson em Albertcastel, não se sentiam bem; voltaram a partir para o Havre, onde entraram a 7 de Agosto de 1896 as 9 da manhã. Esta travessia não pode ser posta em duvidai graças aos numerosos encontros que o R. K. Fox teve no mar, em pontos sucessivos da sua rota. Já o mesmo não aconteceu com os seus imitadores e até com os seus predecessores (que se pretende terem existido). Cos diabos, é fácil embarcar num navio, tomar um barquito fora de vista da terra e dizer depois que se atravessou o Atlântico a remos. Teria sido o que se passou em 1911, com José Naylor, americano, que afirma ter ido sozinho, a remos, de Boston a Espanha, o que seria ainda mais prodigioso? Não se sabe. Também não se sabe se é verdade terem-se alguns perdido: talvez se tenha tratado de uma maneira cómoda de desaparecer... No que respeita a Harbo e Samuelson, o seu sonho de fortuna não se realizou. No Havre, a exposição fez receita durante 4 dias; depois, voltaram a subir o Sena e mal obtiveram dinheiro para as despesas da estada em Paris. Em Inglaterra, não tiveram melhor sorte; quanto à sua Noruega, recebeu-os bastante ma), censurando-lhes o pavilhão yankee de naturalizados! Repatriados um ano mais tarde para os E. U. A., de paquete, foram... totalmente esquecidos. Regressaram tempos depois à Noruega, onde Samuelson morreu num asilo, em 1946. A profissão de navegador excêntrico não compensava. E hoje? Compensará? A tentativa foi repetida em 1966 por duas equipas. A de dois britânicos, capitão e sargento paraquedistas, John Ridgway (27 anos) e Charles Blyth (26 anos), foi coroada de êxito, mas passou despercebida. É verdade que gastaram muito mais tempo que os seus antecessores: partidos a bordo da sua embarcação, sem ponte, de 6,50m, English-Rose do cabo Cod, a 4 de Junho, chegaram a Galway (Eire), cobrindo, portanto, uma distância um pouco mais curta, após 92 dias de viagem. Parece não terem sofrido incidentes graves e encontravam-se em boa forma à chegada, se excluirmos o facto de não poderem abrir os dedos. Para fazer a travessia tinham tirado férias. Férias... e tensões musculares! Repouso, conforto? Absolutamente nenhuns! Barbeavam-se todos os dias e, à chegada, «sentiram-se felizes por terem vencido e esperavam fazer melhor da próxima vez», segundo a fórmula; mas sem que ninguém sonhasse designá-los «gigantes do Atlântico». No mesmo ano, dois outros imitadores noruegueses acabaram, ao contrário, tragicamente. John Hare (29 anos) e David Johnstone (34 anos), jornalistas britânicos, partiram de Norfolk (Virgínia) a 26 de Maio de 1966, a bordo do seu Puffln, embarcação mais pequena (4,50 m), mais leve - o que não constitui, forçosamente, uma vantagem, a remos - mais bem talhada, muito mais segura em teoria, já que era insubmergível e dispunha de ponte, mas muito pouco habitável - as caixas de flutuação ocupavam muito espaço. A 15 de Outubro, a canoa foi encontrada de quilha para o ar, 600 milhas a Sudeste da Terra Nova, portanto ainda bastante perto da costa americana; se tivermos em consideração o desvio provocado pela cor-rente do Golfo depois de 2 de Setembro, data em que terminou o diário de bordo, cumpriram, em três meses e uma semana, 1200 a 1300 milhas, contando já com a corrente favorável, ou seja, pouco mais de um terço da rota dos precedentes, no mesmo tempo. Não perderam os remos, e esta imobilidade, sem que tivessem encontrado qualquer navio, explica-se tanto menos que o barco continha, intactos, objectos frágeis, como aparelhos de fotografia, binóculo e um receptor de rádio. As últimas páginas do diário de bordo dizem que estão sem víveres e sobem para o Norte, na esperança de encontrar navios. O que encontraram foi o tufão Faith. Também não é menos incompreensível o facto de não se terem amarrado aos corrimãos da canoa, previstos para essa função. Felizes ou dramáticas, estas histórias não constituem senão anedotas; já o mesmo não acontece com a travessia do Dr. Bombard, de que falaremos mais adiante. O seu êxito dá aos náufragos uma oportunidade de se salvarem sem víveres nem água, empresa pela qual valia bem a pena correr um risco de morte, mesmo temerariamente. Existe, em certa medida, um precedente: um berthon (protótipo do género), isto é, uma embarcação de salvamento desdobrável, percorreu 700 milhas do largo da Espanha à Manoha, em 1891. O objectivo era também confirmar esse meio de salvamento. O resultado foi concludente e apenas a borracha destronou o engenho. Os homens de Gloucester e de Boston, bem como, aliás, os marinheiros canadianos da Nova Escócia (os Blue-Nose), navegam em águas extremamente perigosas: pescam, tanto de Inverno como de Verão, no grande banco da Terra Nova ou nas suas imediações. Os nossos terra-novas só frequentam esses locais de pesca no Verão; os naturais de Fécamp, das Faicland, de Paimpol, contam-se entre os melhores mari-nheiros do mundo, e todos os que frequentaram «o banco» são unânimes em declarar que desempenham lá «um trabalho maldito» - pois os homens da pesca grossa empregam com mais facilidade a litotes que a hipérbole... Ora, esse trabalho tão duro, tão penoso e tão perigoso, efectua-se, praticamente, durante o Verão. Imagine-se agora a existência dos marinheiros da Nova Escócia e da Nova Inglaterra, que pescam o bacalhau durante todo o Inverno no grande banco! O Inverno, ao largo da Terra Nova, é, com toda a propriedade, uma espécie de inferno, mas um inferno glacial, onde se digladiam sem quartel o mar, a neve, o vento, a bruma - tudo o que se pode concertar para destruir o marinheiro. Os que levam esta vida, são homens rudes, os melhores marinheiros do Novo Continente sem sombra de dúvida, e as humildes e maravilhosas epopeias das tripulações dos grandes palhabotes de pesca não seriam indignas das sagas escandinavas. ****** Vamos agora falar de Howard Blackburn, esse supremo orgulho dos marinheiros. Paul Budker fá-lo, porém, de forma tão emocionante, sob o ponto de vista literário, e tão perfeito (1) sob o ponto de vista «marítimo», que é impossível, depois dele, contar a mesma história. Deixo-o, portanto, com o leitor (2). (1) Em Yachts et Yachting, a admirável revista que morreu com o seu editor, Chiron. (2) O que segue, foi escrito por Budker. Por nossa parte, contámos a vida de Blackburn em Le mutila de l'Océan (Edições Bonne). Howard Blackburn nasceu a 17 de Fevereiro de 1858, em Port-Midway, pequena aldeia situada no litoral da Nova Escócia, a meio caminho entre Halifax e o cabo Sable. Tal como Slocum, Blackburn é, portanto, um Blue Nose que, mais tarde, se naturalizou americano. Desde a idade dos quinze anos, Blackburn navegou em longo curso, e, durante seis anos, andou a bordo de veleiros ingleses e americanos. Em Abril de 1879, possuindo já uma boa experiência do mar, fixou-se em Gloucester e decidiu dedicar-se, a partir de então, à pesca do alto. Nos princípios do ano de 1883, era marinheiro a bordo do palhabote Grace L. Fears, comandado peio capitão John A. Griffin. Na manhã de 25 de Fevereiro, embarcou no seu dóri com o companheiro habitual, Tom Welch, para ir levantar as linhas. O tempo estava calmo, o mar chão, mas ainda metade das linhas não tinha sido recolhida quando a brisa se levantou e começou a soprar do Sudeste, aumentando progressivamente de violência. Os dois pescadores não se inquietaram muito porque se achavam a barlavento do palhabote. A brisa, porém, em breve mudou para Noroeste e começou a soprar em tempestade, acompanhada de uma neve espessa e densa, limitando a visão apenas a alguns metros. Com este novo rumo do vento, o dóri achou-se a sotavento do palhabote; a situação tornava-se subitamente muito perigosa e, por isso, recolhendo as linhas a toda a pressa, Blackburn e Welch sulcaram os remos com toda a força e dirigiram-se para o navio. Remaram muito tempo na obscuridade da tempestade de neve e quando julgaram ter passado o ancoradouro do Grace L. Feare, largaram a fateixa, aguardando a bonança que lhes permitiria regressar a bordo. Só à noite a neve deixou de cair... e só então divisaram o farol do palhabote, mas longe a barlavento. Mau grado os seus esforços, nada tinham ganho contra o vento e o mar. Recolheram a fateixa e, sabendo que se tratava para eles de uma questão de vida ou de morte, tomaram os remos. Com toda a força dos seus músculos, com toda a sua energia decuplicada pelo instinto de conservação, «manobraram a madeira inerte» - mas o farol do palhabote continuava à mesma distância. O vento era demasiado violento e o mar por demais agitado para que o dóri pudesse remontar a barlavento; assim, largaram a fateixa uma segunda vez; mas esta não ficou presa, pôs-se a deslizar, e o dóri começou a derivar a sotavento, com velocidade cada vez maior. O frio tornara-se muito cortante e o dóri cobria-se de gelo em quantidade tal que foi necessário lançar ao mar todo o peixe capturado, a fim de tornar mais leve a em-barcação. Blackburn conservou apenas um pequeno bacalhau de uns dez quilos; claro que não havia a bordo nem água doce, nem víveres de qualquer espécie, pois os pescadores, seja por descuido, seja por não quererem atravancar o dóri já sobrecarregado, não têm por hábito trans-portar refeições frias quando vão recolher as linhas. Uma imprudência louca, dir-seá; sem dúvida, mas se os fresti halfbuters fossem homens prudentes, por certo que não exerceriam uma profissão que consiste em pescar o bacalhau no Inverno em dóris, no grande banco da Terra Nova... Durante toda a noite, os dois pescadores tiveram que esvaziar ininterruptamente o dóri e retirar o gelo que, sem parança, se formava na embarcação. Quando o dia nasceu, estavam sozinhos, no mar agitadíssimo. O dóri tinha derivado para local de onde não se via o Grace L. Feare. Julgando, e com razão, inútil deixar a fateixa dragar o fundo, recolheram-na e rumaram a Ocidente, na direcção onde devia encontrar-se Terra Nova. Mas não puderam continuar muito tempo porque o mar estava tão bravo e as vagas eram tão altas e perigosas que o dóri corria, minuto a minuto, o risco de se encher de água e adernar. Instantes passados, conseguiram meter a vante à onda e enquanto Tom Welch, aos remos, mantinha o dóri em boa posição, Blackburn trabalhava numa âncora flutuante improvisada. Para estar mais à vontade, tinha tirado as luvas, que lançara para o fundo do dóri; como este último metia muita água, Tom Weloh, enquanto o seu companheiro tratava da âncora flutuante, pegou num balde e come-çou a tirar a água da embarcação. Por inadvertência, as luvas de Blackburn foram pela borda fora com o primeiro balde... Foi uma perda irreparável, cujas consequências deviam ser terríveis. Blackburn não se preocupou, a princípio, e lançou a sua âncora flutuante, cujo efeito foi imediato, de tal modo que os dois marinheiros puderam gozar de um pouco de relativa tranquilidade. Só então Tom Welch exclamou: «Howard! As tuas mãos estão a tornar-se brancas!» Blackburn reparou que as suas mãos se tornavam completamente insensíveis e um pensamento acudiu-lhe ao espírito: «Se as minhas mãos gelam, não serei capaz de segurar um remo e Tom Welch terá de remar sozinho para terra. Já que tenho as mãos perdidas, ao menos que possam ainda ser-nos de alguma utilidade!» Rapidamente, apelou para o que lhe restava de energia e dobrou os dedos em volta do punho de um remo; esperou que as mãos gelassem por completo - o frio era tal que, ao fim de vinte minutos, as mãos de Blackburn estavam petrificadas numa forma que lhe permitia servir-se dos remos. Verificou a situação, introduzindo várias vezes a extremidade dos remos no círculo insensível e inerte formado agora pelas mãos, e verificou com satisfação que, em caso de necessidade, lhe seria possível remar com o seu companheiro e contribuir com a sua parte para a salvação comum. Durante todo o dia que se seguiu, foi necessário esvaziar ininterruptamente a água que entrava na embarcação e retirar o gelo - a acumular-se de tal maneira que fazia o dóri correr o risco de naufragar. Quebrar gelo com mãos geladas é um trabalho penoso; Blackburn, como se tivesse ferido na mão direita, lembrou-se de utilizar uma das meias em jeito de luva; infelizmente, deixou-a escapar e, sem ter podido impedir a mão de se ressentir consideravelmente, em breve sentiu o pé desprotegido gelar por sua vez dentro da bota. Todavia, não disse nada a Tom Welch para não aumentar mais a angústia do companheiro. A tempestade não amainava, e vagas enormes varriam o dóri, obrigando os dois náufragos a esvaziar sem descanso. Welch era um homem robusto e corajoso, afeito à rude existência do grande banco; no entanto, pela noite, a fadiga, a fome, a sede venceram a sua resistência e ele começou a delirar, reclamando água fresca. Estendera-se no fundo do dóri, à proa - isto é, no local mais abrigado das vagas e do vento glacial. O mar, furioso, ameaçava engolir a todo o momento a frágil embarcação; Blackburn esgotava a água com todas as suas forças; Tom Welch chamava: «Howard! Vem para o pé de mim, não me abandones!» Blackburn, tanto quanto lhe era possível, mantinha-se perto do companheiro, dando-Ihe em substituição de água doce, pedaços de gelo, e tentando reconfortá-lo. Tom Welch morreu de noite. Ao nascer do dia, Blackburn deu com ele, frio e rígido, já coberto de uma camada de gelo formada pelo nevoeiro... Outro dia se passou, depois uma noite. Sem beber, sem comer, sem dormir, Blackburn escoava, maquinalmente, na tempestade e no frio, junto do seu companheiro morto. Lutava sem grande esperança, sentindo-se já cortado do número dos vivos, aguardando, impassível, a vaga que encheria o dóri e o levaria até ao fundo. Ora, no terceiro dia, o vento amainou e o mar caiu: ao nascer-do-sol, o tempo apresentava-se quase calmo. Blackburn recolheu a âncora flutuante e, armando os remos, pôs-se a navegar na direcção onde julgava a terra; foi naturalmente com as maiores dificuldades que conseguiu, a princípio, manobrar os remos; pouco a pouco pôde imprimir à sua embarcação uma certa velocidade e mantêla durante todo o dia; a fricção da madeira nas suas mãos geladas arrancavam-lhe «pedaços de carne do tamanho de uma moeda de meio dólar» conforme as suas próprias palavras. Não sentia, porém, qualquer dor e continuou a remar até à tarde. Pouco antes do pôr-do-sol, divisou, a Ocidente, no horizonte, um enorme rochedo branco para onde se dirigiu. Quando a noite caiu, recolheu os remos e largou de novo a âncora flutuante. O vento continuava a soprar do Noroeste, com violência, mas o mar mostrava-se tratável e o dóri quase não metia água. Temendo, se adormecesse, não acordar mais (o frio era, de facto, terrível), agachou-se no fundo da canoa, rodeou um banco com os braços e balançou-se toda a noite de trás para a frente e da frente para trás, lutando contra o sono e o cansaço mortal que sentia então invadi-lo. Enfim, o sol nasceu e Blackburn retomou a rota, voltando dolorosamente aos remos. O grande rochedo branco que divisara na véspera era uma pequena ilha desabitada e coberta de neve; por isso, não desembarcou e continuou para Ocidente. Ao meio-dia, surgiu finalmente a terra e, a meio da tarde, entrou num pequeno rio de embocadura bastante apertada e flanqueada de altas colinas. Blackburn acostou a um pequeno wharf, junto do qual se erguia uma cabana desabitada naquela época do ano; não tinha nem portas nem janela e, como mobiliário, dispunha apenas de uma mesa e de duas tábuas, formando uma espécie de tarimba, ambas cobertas de neve. A um canto, uma celha contendo alguns peixes salgados em que Blackburn não tocou; o pequeno bacalhau que conservara desde que havia partido à deriva, estava completamente gelado e duro como uma pedra; mas durante a sua luta contra a tempestade não tinha nunca sentido fome suficiente para a ele recorrer. Havia, pois, cinco dias que Blackburn não dormia, nem bebia nem comia; não chegara, aliás, ainda ao fim das suas penas, já que o local onde aproara não lhe oferecia qualquer recurso. Passou essa primeira noite em terra, na cabana, estendido sobre as tábuas nuas da tarimba, transido de frio, desencorajado, sentindo-se perdido, mas conservando sempre energia para se levantar e dar alguns passos quando sentia o sono invadilo. No dia seguinte, compreendendo que necessitava imperiosamente de encontrar um local habitado onde pudesse tratar-se, decidiu reembarcar no seu dóri e remontar a corrente. Esta era muito violenta e Blackburn, enfraquecido pelas duras provas que acabava de viver, as mãos geladas não lhe permitindo segurar com firmeza os remos, pouco avançava. Felizmente que, quando a noite veio, a lua cheia ergueu-se quase de repente no céu e deixou-o continuar a subir lentamente. Nascia o dia quando atingiu, por fim, uma pequena aldeia de pescadores; estes avistaram-no e precipitaram-se para ajudar o náufrago a desembarcar. Little River (assim se chamava a aldeia) oferecia poucos recursos; os seus habitantes eram muito pobres e viviam com uma simplicidade próxima da carência. Mas eram também compassivos e afadigaram-se em volta de Blackburn. Um deles, Frank Lishman, levou-o para sua casa e tratou-o o melhor que pôde. Infelizmente, não havia em Little River nem médico nem remédios. Graças à prodigiosa robustez da sua constituição, Blackburn sobreviveu a tão terrível provação. Mas as suas mãos estavam irremediavelmente geladas e, em menos de dois meses, todos os seus dedos caíram uns após outros, bem como a última falange dos polegares. Do mesmo modo perdeu os dedos dos pés e metade do pé direito. Depois de três meses de estada em Little River, foi levado para Burgeo e a seguir para Gloucester, onde chegou a 4 de Junho. Inválido, Blackburn não podia pensar em dedicar-se outra vez à sua antiga profissão de pescador. Uma subscrição organizada em seu favor produziu uma quantia suficiente para lhe permitir abrir uma loja de bebidas, onde os seus antigos companheiros apareciam de boa vontade para beber um copo de cerveja e tagarelar do que a todos interessava: o mar, os barcos, a pesca. Pacientemente, Blackburn aprendeu a servir-se do que lhe restava das mãos; todos em Gloucester pensavam que iria terminar tranquilamente os seus dias em terra e que a época das aventuras do mar se encerrara para ele. Mas enganavam-se por completo. Um dia, saiu de Gloucester a bordo de um palhabote de pesca que vários marinheiros haviam comprado e armado para irem em busca do ouro a Klondyke. A aventura agradou a Blackburn, que se juntou aos homens da Ruée vers Por. A viagem não teve história; ao passar o cabo Horn, o palhabote sofreu naturalmente o impacto de vagas monstruosas e rajadas, mas os pesquisadores de ouro chegaram sem problemas a São Francisco donde deviam dirigir-se para o Alaska. Blackburn devia também partir para o Alasca, mas, antes da partida, fracturou a perna e teve de regressar a casa por via terrestre. Durante oito meses, Gloucester viu-o arrastar-se com muletas e ninguém imaginava que aquele inválido ia em breve deixar atónitos não só os seus compatriotas como também todos aqueles que, no Antigo e no Novo Continente, conheciam o mar. Terminada a cura e abandonadas as muletas, Blackburn começou, sem dedos, a construir um barco: 9 metros de comprimento por 2,60 de largura e 1,50 de profundidade. Não possuía, aliás, ao construí-lo, qualquer ideia sobre o modo de o utilizar mais tarde. Um dos que habitualmente apareciam para o ver trabalhar, observou-lhe uma vez que seria interessante fazer a travessia de Gloucester, nos E. U. A., a Gloucester, na Inglaterra. A sugestão agradou a Blackburn e quando o seu barco, que baptizara com humor Great Western, foi lançado à água e aparelhado, carregou-o com provisões em quantidade suficiente e anunciou a sua intenção de atravessar sozinho o Oceano Atlântico. A partida realizou-se a 18 de Junho de 1899 às 2 horas da tarde; Gloucester compareceu em peso à largada para ver o minúsculo sloup aproar ao largo e desaparecer no horizonte. Com os cotos, Blackburn içava e fazia as suas manobras perfeitamente. (1) A viagem solitária em volta do mundo de Slocum tinha-se realizado entre 1895 e 1898. Dela falaremos mais adiante. Atingiu Gloucester, em Inglaterra, após 61 dias de mar, ou seja, a 18 de Agosto de 1899, às 9 horas da manhã. Foi recebido com entusiasmo, o que bastante o admirou, pois não pensava ter feito nada de extraordinário: 61 dias para semelhante travessia era um passeio, navegação desportiva! Vendeu o seu Great Western em Londres e regressou aos Estados Unidos de paquete, com a ideia fixa de fazer melhor da próxima vez... Mal chegou a Gloucester (E. U. A.), começou a construir outro barco, mais pequeno que o primeiro. O Great Republic (foi assim que o denominou) media apenas 7,50 m de comprimento por 2,10 de largo e 90 cm de profundidade. Tinha uma longa quilha direita que podia permitir-lhe navegar sem homem do leme, coisa impossível no Great Western. Aquando da sua primeira travessia, Blackburn dormia 5 horas por dia e punha-se de capa durante esse tempo; depois, durante 19 horas consecutivas, navegava. Empregou o mesmo processo com Great Republic, mas em vez de se pôr de capa durante o sono, deixava que o barco continuasse a sua rota com pouco pano e leme amarrado (2). (2) Veja o capítulo sobre Slocum. Howard Blackburn tinha lançado, no primeiro de Janeiro de 1901, através dos jornais, um desafio a todos os navegadores solitários americanos que desejassem medir-se com ele no percurso Gloucester-Lisboa. (a corrida Andrews-Lawlor realizara-se em 1891); para apoiar o seu repto, depôs uma aposta nas mãos do secretário do East Gloucester Yatch Club; apareceram vários concorrentes, mas nenhum cobriu a aposta e quando chegou o dia fixado para a partida desta segunda corrida transatlântica solitária, só Great Republic estava pronto a largar. Pretendeu-se, por consequência, proclamar Blackburn vencedor, por força das circunstâncias, do Campeonato Transoceânico Solitário. Ele porém, não entendeu assim; já que nenhum concorrente se apresentara, correria «contra-relógio» e tentaria atingir Lisboa no melhor tempo. E a 9 de Junho de 1901, à tarde, Great Republic tendo como tripulação Howard Blackburn, aparelhou. Não se tratava, desta vez, de um «passeio» (!?) pelo oceano; estava em causa o estabelecimento de um record de travessia rápida para um pequeno barco. Para começar, a sorte não o favoreceu; quando se encontrava na rota dos paquetes, foi envolvido por uma bruma espessa. Por várias vezes esteve prestes a ser colidido por vapores; um paquete passou mesmo tão perto dele que o seu redemoinho cobriu de água e espuma o pequeno sloup. Blackburn apressou-se a abandonar paragens tão perigosas, onde estava praticamente impedido de dormir. Quando se achou em água livre, retomou os seus hábitos antigos: 19 horas de quarto e 5 de sono. Depois de ter passado os Açores, um vapor inglês, surgido a contra-bordo, aproximou-se dele, e o oficial de quarto, debruçando-se no passadiço, perguntou-lhe se não era Howard Blackburn que já atravessara sozinho o Atlântico num pequeno barco. À resposta afirmativa que obteve, o oficial replicou: Bem me parecia! Precisa de alguma coisa? Sim! Precisava de um pouco de vento! O vapor afastou-se e em breve Blackburn teve o vento que queria, até um pouco mais. Aumentando gradualmente, a brisa transformou-se em vento, e Great Republic continuou a sua rota só com a vela de giba e a vela grande, metendo muita água. Mas como a direcção do vento era favorável à rota a seguir, Blackburn prosseguiu o caminho na tempestade. Ao fim de dois dias, porém, o estado do tempo obrigou-o a amainar a vela grande. Blackburn acabava de terminar a sua manobra e encontrava-se na cabina havia apenas um minuto, quando um vapor se aproximou dele. Era um cargueiro em lastro, rolando e balançando da proa à popa de uma maneira terrível e que se acercou do Great Republic tanto quanto a prudência permitia. - Quer que o traga para bordo? - gritaram os oficiais do alto do passadiço. - Não, obrigado! - respondeu Blackburn. - Talvez em breve mude de ideias! Vamos ficar perto de si durante algum tempo! E, na verdade, o grande vapor permaneceu junto do pequeno veleiro, esperando que o navegador solitário se decidisse a abandonar a embarcação. Vendo isto, Blackburn arriou a vela grande e retomou a rota. «Estes marinheiros de vapores parecem julgar que não sei manobrar um pequeno veleiro quando sopra uma boa brisa!» Durante 20 minutos, o grande cargueiro seguiu o Great Republic que o seu capitão governava com dificuldade nas enormes vagas orladas de espuma. Por fim, dando-se conta de que o pequeno sloup não tinha qualquer necessidade dele, o navio retomou a sua rota para Sudoeste, não sem ter saudado três vezes com a sirene o intrépido navegador. Blackburn tinha intenção de voltar a içar a vela grande desde que o vapor desaparecesse. Mas o seu barco navegava tão bem e na boa direcção que nada fez, prosseguindo a rota apesar das grandes vagas que quase constantemente se vinham quebrar a bordo. Sabia que se aproximava do fim da travessia. Quando largara de Gloucester tinham-lhe dito que já se poderia considerar feliz se gastasse 50 dias a atingir a Europa. Trinta e oito dias após a partida, avistou o Cabo Espichel, 15 milhas a Sul da embocadura do Tejo; uma excelente travessia de mais de 3000 milhas. E a 18 de Julho, às 2 horas da tarde, exactamente 39 dias depois da partida de Gloucester, Great Republic, com o pavilhão estrelado orgulhosamente tremulando na carangueja fundeava no porto de Lisboa. Great Republic regressou aos Estados Unidos a bordo de um paquete e Blackburn instalou-se na sua loja, onde todos os clientes curiosos podiam ir vê-lo; mas tanto o pequeno sloup como o seu capitão não podiam acomodar-se a uma inacção prolongada. Tendo ouvido falar dos Grandes Lagos, Blackburn armou o seu barco e largou de novo, desta vez por água doce. Atravessou os Grandes Lagos, desceu o Mississipi e naufragou nas costas da Florida. Regressado a Gloucester, Blackburn pensou reeditar a aventura de Johnson. Comprou um dóri, deulhe ponte em metade, aparelhou-o com uma vela de giba e uma vela grande e partiu com destino à Europa. Era Verão e Blackburn podia razoavelmente contar com bom tempo ou, pelo menos, com tempo dominável. Muito ao contrário, encontrou ao largo um mar bastante duro e um vento forte. Antes mesmo de atingir o cabo Sabie, no extremo sudoeste da Nova Escócia, uma rajada adernou o dóri, que ficou deitado na água; Blackburn, sem perder a coragem, conseguiu devolvê-lo à posição original e continuou a rota. Mas, um pouco mais tarde, entre a Nova Escócia e a Terra Nova, adernou mais duas vezes. Pensou então que a sorte estava contra ele e, cheio de bom senso, regressou a Gloucester, coisa de que ninguém pode censurá-lo. Os anos foram passando e Blackburn ia vivendo tranquilamente em Gloucester; em 1930, possuía ainda a sua pequena loja na Main Street. Os marinheiros reuniam-se sempre «chez Howard» para falar do mar, da pesca, dos barcos. Nas paredes viam-se pendurados desenhos ingénuos, à pena, feitos por um pescador, antigo companheiro de bordo de Blackburn, e representando alguns episódios da terrível aventura da qual, no princípio da sua carreira, o dono da loja saíra miraculosamente vivo. E ao pensar na sobre-humana energia de quem lutou sozinho num dóri, no coração de uma tempestade de Inverno, no grande banco, com as mãos geladas crispadas nos remos, junto do seu companheiro morto de frio e de esgotamento, muitos marinheiros rijos de Gloucester diziam com admiração: «Howard é um valente!» Blackburn morreu com 70 anos feitos. E para acabar a sua história com uma nota divertida, citemos a sua opinião sobre outro navegador solitário, Alain Gerbault. Como lhe tivessem dado a ler um artigo relatando a primeira travessia do Atlântico do nosso compatriota, perguntou: Quanto tempo gastou ele para regressar? - Cento e um dias. Cento e um dias! Howard coçou a cabeça e inquiriu depois: - Na sua opinião, o que é que o teria demorado no caminho? Eis a história dos pioneiros «regressados» da América à Europa... sozinhos. Houve muitos outros, evidentemente. Alguns que fizeram a viagem de ida e volta e que, mais tarde, referiremos. E muitos desconhecidos de quem se descobre menção, ao acaso, numa crónica de porto. Vir da América, sozinho, à vela? Banalíssimo, afinal... CAPÍTULO 2 - TRAVESSIAS DO ATLÂNTICO PARTINDO DA EUROPA E TRAVESSIAS A MOTOR GERBAULT, GRAHAM, ROMER, LINDEMANN, MARIN-MARIE, ANN DAVISON, o doutor BOMBARD Blackburn era um tanto injusto com Gerbault. Na verdade, atravessar o Atlântico da Europa para a América do Norte é muito mais difícil e demorado: ele próprio nunca o fez. Vimos que no Atlântico Norte os ventos dominantes sopram de ocidente, impelindo para a Europa. Para ir de leste para oeste é, pois, preciso ou resignar-se a bordejar com frequência (duas vezes a rota, três vezes o tempo, quatro vezes a cólera!) ou procurar longe, no sul, a zona próxima dos trópicos onde os alísios sopram continuamente (em princípio) do sector leste, portanto favoráveis, e depois remontar ao longo das ilhas da América Central. ******* Alain Gerbault foi o primeiro a fazê-lo, em 1923. E que não se diga que Slocum o tinha feito 28 anos antes. O que Slocum atravessou de ocidente para oriente, das ilhas de Cabo Verde a Pernambuco (a «bossa» do Brasil) e de Santa Helena às Antilhas, já não era Atlântico Norte, mas Atlântico Equatorial, que não apresenta qualquer dificuldade comparável. Alain Gerbault foi incontestavelmente o primeiro a ligar, solitário, a Europa à América do Norte. Mais: fê-lo sem escala. Só 25 anos depois J. F. Petterson e o seu Seven Seas repetiu, em 1948 apenas, semelhante viagem; e, mesmo assim, a distância percorrida por este (da Estremadura, Portugal, a North-East Harbor, no Maine, nos confins do Canadá) por uma rota muito mais ao norte, foi sem comparação mais curta. Na verdade, só em 1949 a travessia de Alain Gerbault foi reeditada. Edward Allcard com o seu yawl Temptress parece ter feito questão em partir do mesmo ponto, Gibraltar, para ir pela mesma rota até ao mesmo ponto, Nova Iorque. Gastou 80 dias, ou seja, menos 21 do que Gerbault: tinha um motor. Devemos, pois, deixar a Gerbault o que lhe pertence de direito e regozijarmo-nos por essa audaciosa inovação ter sido tentada e levada a bom termo por um francês; um francês ocidental, de pai bretão, de mãe aristocrata da Vendeia. O nome de Gerbault tem o dom de exaltar o entusiasmo das multidões e de exasperar os marinheiros. Quanto ao entusiasmo, devemos reconhecer que a Imprensa em primeiro lugar e o livro depois, se encarregaram de o criar, de o desenvolver. Só em livros, existem oito de Gerbault (com algumas pequenas repetições...) e dois acerca dele. Os artigos de Imprensa não inúmeros. Este «matraquear», como se diz, deu muito bom resultado. Parece que o chauvinismo e as lentes de aumento de certos jornalistas conseguiram o que nunca se verificara: interessar o grande público francês pelas coisas do mar. Nem que seja só por isso, se Gerbault não tivesse existido, teria sido necessário inventá-lo. Mas foi talvez esse mesmo matraquear que arrepiou os marinheiros, conscientes, apesar de tudo, que alguns deles, os salvadores ou simples pescadores, faziam quotidianamente mais difícil, mais perigoso, mais meritório... coisa que não consideravam extraordinária, mas que o público ignorava ou não apreciava na justa medida. Os marinheiros não só não gostam de jactâncias como desejam mesmo que se fique sempre um pouco «aquém» da modéstia. Depois, ao ler Seul à Travers l'Atlantique, ficaram atónitos com a linguagem empregue neste relato. Claro que Gerbault se dirigia a um vasto público não versado em coisas do mar e não podia multiplicar os termos técnicos; mas também é verdade que foi demasiado longe no outro sentido. É, por exemplo, exasperante vê-lo chamar indistintamente tempestade a rajadas de vento, a aguaceiros, a verdadeiras tempestades, sem dúvida, a formações verdadeiramente tempestuosas. Se os marinheiros se mostram implicativos neste ponto é porque a uma arte precisa como a deles são absolutamente necessários (e não por ornamento) termos exactos; não existem trinta e seis maneiras de se exprimirem; há apenas uma e se não empregam essa são incompreensíveis. (Quanto aos leigos, de qualquer forma só muito vagamente compreendem; portanto não adianta sacrificar-lhes tudo e ainda menos fazer uma «contra-marinha» demagógica: não é fácil aceitar que um terreno não compreenda o verbo amarrar e exija o terrível «ligar» que nos fere como uma picada de víbora.) Deixemos, porém, a linguagem; há pior: nesta obra, as asserções de Renault e as suas pretensões são, muitas vezes, ridículas. Quando fala do seu «navio» de 11 metros apetece rir. Quando diz que Fire-Crest com a sua largura de 2,60 m «é provavelmente o barco mais estreito que já atravessou o Atlântico», quando se maravilha por ter feito «50 a 90 milhas por dia, média excelente para um yacht de 8 toneladas», encolhem-se os ombros (veja os relatos dos capítulos anteriores). Quando diz (página 145) que «a tempestade tomou-se, de súbito, mais moderada, como se se confessasse vencida e nada pudesse contra o meu valente navio», tem-se vontade de lançar pela borda fora esta literatura disparatada, este antropomorfismo ridículo. Em que medida não serão por ele responsáveis maus conselhos do seu editor (que queria obrigá-lo a criar «mais público»)? Mas há ainda mais grave: os marinheiros não gostam senão de «obra bem feita». E é incontestável que a primeira travessia de Fire-Crest (1) não foi «obra bem feita». Foi, em muitas ocasiões, uma escandalosa anarquia. Há demasiadas, demasiadíssimas espias que se quebram, velas que se rasgam, encapeladuras que deslizam, amantilhos retesados no pano, peças substitutas que não foram previstas... (1) Em inglês «Crista de Fogo» -. Segundo Gerbault, não significa «fogo-fátuo» Parece que a expressão significou outrora «fogo-de-santelmo». Previstas! Ah, eis a grande censura. Gerbault prevê mal; portanto, não é - ainda não é - um marinheiro. Não. Não é um marinheiro (não o era, pelo menos, aquando da primeira travessia). Não é um profissional. Não passa ainda de um navegador de recreio, sem experiência profunda. 'E reside precisamente aí o seu maior direito à admiração (1). (1) Os admiradores de Alain Gerbault censuram-me os passos precedentes não compreendendo que reflectem a opinião dos marinheiros. Nem sequer lêem esta frase. Há que graduar as atitudes: estamos aqui para expor e compreender os factos e não para ceder a convenções ou tabus, para nos deixarmos conduzir por esta ou aquela paixão. - J. M. Todos os homens que vimos atravessar o Atlântico, todos os que veremos dar a volta ao mundo antes de Gerbault, eram ou navegadores profissionais de longo curso ou de pesca, ou, pelo menos, yatchsmen muito experimentados e versados, filhos de marinheiros, crianças que mamaram água do mar, fanáticos de longa data. Não era de modo algum o caso de Gelbault. Claro que aprendeu os seus rudimentos com os pes-cadores de Saint-Malo; claro que se treinou no Mediterrâneo (mau terreno para isso) por várias vezes, muitas, durante dois anos; restava-lhe, porém, quase tudo a aprender do oceano e, sobretudo, da vida íntima de um barco. Um barco não é um conjunto de madeira e pregos, de cordame e de alguns outros elementos. É um ser. Um ser que vive, pois se transforma, mesmo sem servir: o infortúnio dos que o não compreendem é cómico. Fazem, por exemplo, a pergunta: como fazer hibernar o yacht? Se o deixais na água, deteriora-se, é preciso vigiá-lo, pode deslizar, etc; se o meteis em doca seca, também se estraga, é igualmente preciso vigiá-lo, pode partir-se uma escora, etc. Bom, diz então o proprietário; guardemo-lo num hangar; aí estará «no casulo», como dizem os americanos, esperará sem envelhecer. Oh, mas não! Mal acaba a Primavera começa a secar, etc, e isso deteriora-o por vezes definitivamente. Então? Então nada a fazer; o vosso barco vive, no Inverno como no Verão, e não podeis abandoná-lo, do mesmo modo que não podeis fechar um cavalo na cavalariça até à estação seguinte. Gerbault sabia disto, sem dúvida; mas é preciso ser-se um navegador de longa data, um filho-domar, para o sentir verdadeiramente, para ter em conta a natureza e a idade do barco como se tem em conta o carácter e a idade da mulher ou do pai. E as suas necessidades. Gerbault, na sua primeira travessia, não conhecia a fundo Fire-Crest. Deixara-lhe um velame demasiado velho, manobras demasiado fracas. Não calculou que esse barco, terrivelmente lastrado, teria, por isso, reacções duras e, resistindo muito ao velame, utilizá-lo-ia muito também e exigiria grandes esforços às antenas, ao pano, aos cabos. Claro que com os seus 6500 quilogramas de lastro e 1,80 m de calado não se arriscava, como diz orgulhosamente Gerbault, a adernar! Mas iria comer muito, isto é, com vento igual, duas vezes mais material que qualquer outro. Este reverso da medalha e muitas outras coisas não podia Gerbault considerá-las antecipadamente; para isso, é necessária muita experiência. Embora Gerbault afirme ter passado a maior parte da sua juventude em Dinard, «fazendo sempre o possível por passar o dia na barca do pescador», vê-se logo que esse «sempre» apenas corresponde a algumas saídas. Ele «amava a vida dos pescadores bretões e estremecia ao ouvir o relato das suas proezas de resistência e audácia». Ora aí está: Gerbault é um intelectual. A sua paixão pelo mar é, antes do mais, mental. Não devemos, aliás, esquecer que ele fazia parte da «geração sacrificada». Gerbault, nascido em 1893, tinha 21 anos em 1914. Do colégio, do exame da Politécnica e da Escola de Pontes e Caminhos passou directamente à guerra. De navegação, nada; ora, é entre os 16 e os 25 anos que um homem se torna marinheiro; depois disso, nunca se chegará verdadeiramente a sê-lo. Em 1919, de oficial aviador torna-se campeão de ténis. Está prestes a desposar Suzanne Lenglen... Joga ao brldge com Albarran. A atmosfera mundana é perfeitamente terrena. Mas entendia-se. Quer «fazer qualquer coisa». Pensa primeiro em atravessar o Atlântico de avião, depois decide-se pelo barco - o que merecia longos comentários: é a prova de que não escolheu o mar por paixão, nem sequer mental, por ele, ainda menos por necessidade orgânica, mas sim como um meio entre outros. É um recordista, não um marinheiro. Virá a sê-lo, em certa medida (1); mas permanecerá, sobretudo, um intelectual, terá, antes do mais, uma personalidade. Uma personalidade é sempre interessante. A sua vai ser «revelada», no sentido fotográfico do termo, pela solidão do mar; a mediocridade do seu primeiro relato mostra-nos como assimilou mal o que disse e mesmo o que realmente fez; as suas navegações - não, as suas viagens antes, tendo como meio de navegação - conduziram-no por um caminho próprio de escritor, de artista, de apóstolo; um caminho espiritual, não um caminho de marinheiro. É sem dúvida por isso que ele se vangloria tanto de ser «Alain, o marinheiro»; por isso ainda que pretende, ele, o antigo aluno da Politécnica que é mais importante, para atravessar o Atlântico, ser bom gajeiro que navegador - no sentido de saber fazer a rota - o que, evidentemente, não passa de uma pilhéria. Vangloriamo-nos sempre do que não somos - talvez para tentarmos acreditar que o somos. (1) Em toda a medida, só Slocum. Bernicot, Marin-Marie. etc. Não foi «Alain, o marinheiro» quem fez a «primeira» do Atlântico leste-oeste; pois, na verdade, um marinheiro de yacht que não reparasse no mau estado do velame e que passasse manobras tão manifestamente fracas, não se teria aventurado. Foi Gerbault o grande burguês, Gerbault o mundano enfastiado, Gerbault o matemático aborrecido, Gerbault o sensitivo esfolado vivo, Gerbault o intelectual, Gerbault o idealista entusiasta (que não se ocupa verdadeiramente da realidade). Foi Gerbault quem, não sendo marinheiro nem sequer batido no mar por anos de porto ou de clube náutico, lançou aos marinheiros este desafio: hei-de fazer o que vocês não fizeram. E fez! Que os marinheiros se tenham sentido vexados, é normal; os marinheiros, porém, devem ser leais e gritar: viva o amador! Tem, todavia, o direito - e mesmo o dever - de conservar o sorriso, de pensar In perto: sabemos que a deusa de quem somos fiéis só tem uma igreja. Esperamos-te, amigo; de duas uma: ou «ficas lá» ou tornar-te-ás num dos nossos. Depois da sua «escola» no Atlântico Norte, Gerbault começou a amarinhar-se; o Pacifico continuou a excitá-lo (contaremos isso mais tarde); teve uma dificuldade, e grave, no Atlântico Central que quase dava o triunfo aos seus inimigos; depois a coisa foi. Dar a volta ao Mundo para aprender a navegar é o resgate de quem não começou suficientemente jovem, de quem não viveu entre os marinheiros. Quando os marinheiros acabam de se insultar - tratando-se, por exemplo, por terrenos - vão beber um copo e a cena acaba com uma boa história. Aqui, não temos processo de beber juntos (ainda não se inventaram os livros-bar). Mas podemo-nos rir um pouco. Conhece-se o gracejo: «Um marinheiro sabe fazer tudo, vírgula, mal» (o que, em cada ramo do saber, é verdadeiro do ponto de vista do operário especializado). Sendo assim, Gerbault foi o superlativo do marinheiro: fez «mais que tudo» vírgula, muito mal! Fire-Crest era um barco bastante velho (construído em 1892, tinha, portanto, 31 anos em 1923), mas sólido, de construção excelente, muito habitável, muito protegido (nem camarote de convés nem cockpit), muito marinheiro. Um verdadeiro barco. Assim largamos - e já não é sem tempo - as cascas de noz mais ou menos burlescas que até aqui temos visto navegar, adernar, endireitar-se de novo... ou que não vimos naufragar. É mesmo extraordinário verificar que, até então, nenhum dos navegadores que atravessou sozinho o Atlântico empregou um barco normal, um desses yachts (derivados dos barcos de pilotos) que faziam já maravilhas em simples cruzeiro; para dar a volta ao mundo, sim, o Spray de Slocum era um verdadeiro barco; mas Tilikum (1) não, sem dúvida! Quanto a Pidgeon e a Drake, eram praticamente contemporâneos de Gerbault. O Tilikum Para tanto, existe uma razão; é possível que seja a seguinte: no século XIX, as pessoas sensatas que teriam podido fazer uma navegação sensata com barcos sensatos, não julgavam sensato empreendê-la sozi-nhas; restavam os loucos que zarpavam loucamente com barcos absurdos. No dealbar do século XX compreendeu-se que se os loucos obtinham êxito, os sensatos podiam vencer também, com meios sensatos - ou que só na aparência deixariam de ser loucos - isto é, com verdadeiros barcos: Spray Islander, Fire-Crest. Fire-Crest (2) era um casco de qualidade, construído para regata, ainda segundo a tradição dos pilotos britânicos; mas o seu aparelho inicial não era de modo algum próprio para a navegação solitária. Este verdadeiro cúter não renunciara a nada! Três velas de giba, entre elas uma pequena, no alto do grande estai; grande vela quadrangular latina, pouco manejável, que em Nova Iorque Gerbault substituíra por uma bermudiana; flecha que arriará... desde a largada do porto de Cannes, mezena redonda, terrivelmente pesada, a cujo uso teve que renunciar. Nada desde material era novo (uma verdadeira loucura). Será necessário contar a travessia? Toda a gente a leu ou pode lê-la. O resumo deveria intitular-se: «Os Infortúnios de Alain». Alain Gerbault parte a 25 de Abril de 1923, de Cannes. A 27, parte-se a ferragem do rolete; a culpa é exclusivamente sua, pois vira em Cannes que era mais pequena que as dimensões dadas por ele, e não a substituiu. A 29, parte-se a adriça de giba. Já? No entanto, existia bom cânhamo ou boa manilha em 1923. Escala em Gibraltar. Manda reparar o rolete... que não tinha substituído; o metal cederá logo nos primeiros dias, e durante toda a travessia Gerbault terá que arriar, segundo diz, a vela quadrangular latina a cada aguaceiro; não saberá ele engatar rizes ou não terá ela gachetas? Gerbault compra carne salgada; não a examina, apodrecerá... Felizmente que poderá recorrer ao peixe. Largou de Gibraltar a 6 de Junho e rumou a Sudoeste para procurar os alísios. Enfrenta de imediato «uma verdadeira tempestade»; Fire-Crest comporta-se muito bem, de capa. Depois... Depois diz-se que Gerbault teve sorte. Não! Pelo contrário, teve foi uma incrível pouca sorte. Tinha descido bastante ao sul para encontrar os alísios, devia, portanto, beneficiar deles quase todo o tempo; ora, os ventos foram anormalmente irregulares ou mesmo substituídos por rajadas de todos os quadrantes. Além disso, Gerbault não tinha estudado o equilíbrio de Fire-Crest com vento pela popa e observa melancolicamente: «Fui menos feliz que o capitão Slocum, que (em 1895-1898)) pôde fazer longos percursos com vento pela popa, a bordo do Spray, sem tocar no leme.» À noite, não ousando deixar o Fire-Crest navegar com o «leme amarrado», era obrigado a pôr-se de capa (donde a lentidão da viagem). Passou muito perto da Madeira. Primeiro bom ponto: não pensou em fazer aí escala, pois decidira, à partida, o contrário; no mar chão, cose os seus panos... A 23 de Junho comprometera já gravemente as provisões de fio de vela. No mar alto, encurtou o seu botaló (então e os ensaios?). A 7 de Junho parte-se um amantilho com «uma forte brisa de nordeste» (demasiado «pesada»?); no dia seguinte, a vela de giba pequena fica em pedaços. «As minhas escotas partem-se uma após outra e tenho de as substituir.» Será que não as vê afilar-se antes de partirem? «As minhas velas estão cada vez mais gastas; a minha provisão de fio de vela diminui com demasiada rapidez... A minha sede aumenta...» Isso foi o pior: Gerbaut não se lembrou que os barris de carvalho novo transformariam a água doce num licor de ácido tânico imbebível. Para que serve a Politécnica? E não teria frequentado nenhum longo curso, não teria sequer lido relatos de viagens? O certo é que apenas conta com 50 litros de água a 1500 milhas do objectivo. Tenciona limitar-se a um copo de água por dia... e está na zona seca. Tem feito apenas 50 milhas por dia... A essa velocidade, vai morrer de sede. Outra vez o amantilho, que «suporta a verga da mezena quando a vela quadrangular é arriada (ele escreve: «abaixada»). Não tem, então, pórtico? Ou, à falta dele, um vulgar X? Gerbault esquece-se de fechar a escotilha do habitáculo. Diz: «Se arriasse a quadrangular, para a reparar, e içasse a vela grande, esta romper-se-ia logo.» Uma vela grande? Regra geral, este pano é de tela tão forte que se segura de pé sozinho... Sexta-feira, 13. Não somos supersticiosos mas... «apareceu um grande buraco no traquete». A adriça da vela de giba «quebra-se» (?!) e o pano cai ao mar. Deslizando pelo «gurupés», Gerbault lança-se à água. Não pensou em amarrar um colete à cintura. Agarra-se no último instante ao cabresto do gurupés e iça-se para bordo. Eis por pouco evitada - e só por sorte - a perspectiva de que falámos de ficar a ver, na água, o Fire-Crest navegar sozinho... Ei-lo que arde em sede no trópico. Um pouco de chuva e Gerbault recolhe um litro dela. Repara o traquete (sempre a mesma história) quando a vela quadrangular se rasga numa extensão de cinco metros; estava «inutilizada». A garganta de Gerbault incha. Gerbault tem febre. Tem calor, tem sede. O alísio não está no seu lugar. A carne apodreceu por completo. Começa a soprar uma brisa do norte. Resultado: os panos rasgam-se, rasgam-se, rasgam-se. Tem grande dificuldade em fazer passar a carangueja, quando iça a vela, entre os amantilhos. Mas não saberá ele largar um, amainá-lo se necessário? Gerbault pesca; com um prato em jeito de isco, o que é engraçado, marinheiro. Começa, enfim, a chover; no livro é pretexto para muita literatura e da pior (1), mas Gerbault encheu os seus barris. Tem peixe; é a fartura! (1) Que os aludidos admiradores estabeleçam a comparação com os sóbrios relatos de todos os navegadores solitários contemporâneos. E sente-se muito orgulhoso por percorrer 66 milhas em 24 horas... com um corredor como Fire-Crest! Permanece na zona dois meses. Lê. Perfeito. Para nós, retrospectivamente, faz literatura. Menos bem. Mau tempo. Fica muito decepcionado com a âncora flutuante (não é o único). Cada vez mais buracos no velame (não levou consigo panos novos); passa as noites a consertar, a re-içar, a coser, sempre assim. A 20 de Agosto, furacão que parece merecer verdadeiramente este nome. Uma vaga enorme... Assustado, sobe ao mastro grande. Riram-se dele, chamaram-lhe macaco. A bordo de um barco sem camarote de convés não era assim coisa tão absurda; Slocum, o mais experimentado dos marinheiros, fê-lo. O barco aderna, mas equilibra-se bem. Avaria: o botaló partiu-se. O conserto não foi, evidentemente, fácil, mas a descrição que Gerbault dá dele é tão exasperante que é impossível uma pessoa condoer-se. Quando, além disso, os fogões escolhem este momento para deixar de funcionar (partida de mau gosto em absoluto no estilo deles, e muito marinheira) tem-se vontade de rir. Mas, de repente, calamo-nos. Na verdade, Gerbault está aborrecido e pensa, de súbito, nas Bermudas, muito perto, do lado contrário àquele de que sopra o vento; que tentação de fundear para «se recomporem», homem e barco! No fim de contas, o Atlântico está vencido. Como Gerbault não falou do seu projecto a ninguém - nem sequer claramente aos seus amigos - não haverá qualquer «cobardia» a censurar-lhe se fizer essa escala. Haverá, isso sim, uma cobardia para consigo próprio que se fixou num objectivo: Nova Iorque. O demónio está presente. Diz-lhe: «Fundear nas Bermudas é que é razoável: os projectos a priori não são marinheiros.» O demónio utiliza sempre argumentos válidos. Gerbault, bruscamente, reagiu como um marinheiro: consertemos primeiro o fogão. Não tem graça nenhuma limpar o buraquinho com uma agulha demasiado grossa e o barco a balançar. Até que enfim! Pequeno-almoço quente, chá. Bermudas? Quem falou nisso? Rumo ao norte! As reparações hão-de ir-se fazendo, conforme for possível. Convenhamos que Gerbault é aqui mais que um marinheiro. É um tipo simpático. A alegria, primeiro de se ter vencido, depois de ter vencido (o botaló está no seu lugar, o mastro reconsolidado), dá-lhe asas. Navegar, navegar! Com o botaló encurtado, o Fire-Crest fica terrivelmente nervoso, exige que lhe tomem todo o leme. Tanto pior. A válvula da bomba é aberta por um fósforo (oh, o Atlântico sem uma brava bomba «de pirâmide», que engoliria tudo); Gerbault desmonta, torna a montar, bombeia: frui, frui, a bomba está desentupida. Hurra! Outra vez mau tempo. Depois, um dia em que pesca com arpéu perde esta espécie de arpão; acabase o peixe. Terá que se alimentar de arroz. Não faz mal; Nova Iorque aproxima-se. Cosendo, recosendo, navega; um pouco demasiado a leste, por ventos por demais altos, novo enguiço. A corrente do Golfo traz-lhe um perigo suplementar: os navios: Um maldito cargueiro grego põe-se de capa a seu lado, sem vento, e (os marinheiros de barcos a vapor esqueceram, em muitos casos, o A.B.C, da vela) admira-se por ele não manobrar. Por pouco não naufraga. Gerbault chama ao idiota «mecânico a bordo de um comboio aquático» e é esbofeteado. Para uma pessoa que não falava a ninguém há três meses, eis um modo vigoroso de retomar contacto (é caso para o dizer). O grego tirou o ponto, que muito admirou Gerbault. Alain saboreou, então, a vitória: o ponto do grego era falso, enquanto que o de Fire-Crest, após tantos dias, estava certo. Com nevoeiro, em plena rota dos navios, nada lhe será poupado! Mas eis as aves. Depois, um pescador francês de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vai-se andando. Não, regressa a calma. E a 10 de Setembro, a terra! Um pouco de hipocrisia; fim da solidão (como é simpático!). Long Island. East-River. Nova Iorque, 15 de Setembro de 1923, 2 horas da manhã. 101 dias de mar. Uma vontade terrível de dormir (os três últimos dias sem sono). Mas a alegria: missão cumprida! Recepção triunfal. Imprensa, indiscrições. Gerbault diz ter horror a semelhante coisa. Duvida-se... Voltaremos a encontrar Gerbault mais tarde, tornado circum-navegador solitário. Um Gerbault diferente. Restava fazer a travessia do Atlântico de leste para oeste, já não pelo sul, mas pelo norte, a bordejar, o que, já o dissemos, era muito mais difícil. Foi essa a sorte do comandante Robert Douglas Graham. Robert Douglas Graham é um apaixonado do mar - o que para nós não é original, já que toda a nossa galeria de retratos é constituída por seus semelhantes. Mas, apaixonado perfeito, sente-se reviver quando está junto do objecto amado. O mar cura-o de todos os males, mesmo das aflições de dinheiro. Durante o Inverno de 1932-1933 os negócios corriam-lhe mal, as preocupações assaltavam-no. Precisava, portanto, pensou, de fazer um cruzeiro de longo curso. Mas uma viagem de paquete era demasiado cara; julgou mais económico utilizar sozinho o pequeno yacht com que habitualmente passeava nas águas do canal. Um conferencista metera-lhe no corpo o desejo de conhecer a Terra Nova. Trata-se, sem dúvida, de uma ilha muito bela, embora o tempo que lá faz seja, regra geral, pouco agradável. Que importava isso? Rumo à Terra Nova, com Emanuel, belo cúter de 9,15 m de longo por 2,60 m de largo. Graham pensa seguir o mesmo caminho que Gerbault e os seus sucessores, indo em busca dos alísios, às Canárias; mas corria já o mês de Maio, era tarde de mais, e uma rota tão longa não poderia levar Emanuel à Terra Nova para o Verão. Devia, portanto, dirigir-se directamente para a ilha. Era a rota mais difícil? Graham já tinha visto outras. Nunca ninguém a fizera sozinho? Excelente oportunidade de preencher tal lacuna. Partiu de Falmouth a 19 de Maio de 1933; fatigado, porém, de vigiar numerosos navios, arribou a Bantry, na Irlanda do Sul. Voltou a partir em 26 e navegou com mau tempo, conforme previra, mas a boa velocidade; a 17 de Junho via o seu primeiro iceberg. A proximidade dos icebergs não era recomendável; no entanto, o comandante Graham põe-se de capa (Emanuel comporta-se admiravelmente nesta posição, parado, com pano) e dorme tranquilo junto deste companheiro glacial. Depois, sem mais aventuras, encontra o cabo Saint-Francis e São João da Terra Nova, a 19 de Junho. Menos de um mês para atravessar o Atlântico Norte, contra o vento! Diz a seguir, como se se tratasse da coisa mais simples, que quis ir ver a costa do Labrador. Os pescadores que aí procuram bacalhau e outro peixe, mas temem as correntes geladas, as brumas, etc, ficaram muito surpreendidos ao ver um pequeno yacht com um só homem grisalho: ninguém aparece por ali para se divertir. Na verdade, não foi do mar nem do céu que teve de se queixar, antes, ao que parece, da terra; em Cartwight, Graham teve que ser internado no hospital com um envenenamento de sangue que o pós entre a vida e a morte durante vários meses. Quando ficou quase restabelecido era Outubro, isto é, naquelas latitudes, o Inverno. Um frio terrível, tempestades de neve ou o blizzard que «corta em pedaços». Dois remédios para se recompor completamente: um clima mais doce e, bem entendido, o mar. Assim, em plena estação desapiedada, suportando rajada de vento gelado sobre rajada de vento com neve (excelente para os convalescentes), desceu às Bermudas. Reencontrara o mar e alguns dias desse regime bastaram-lhe para recuperar uma saúde perfeita. Mas... talvez não tenha agradecido ao seu amigo com calor suficiente... Na verdade, o mar zangouse por completo, pôs à prova o seu apaixonado. Este, que conhece as mulheres, acha-as feias quando se irritam; «Não podendo suportar-lhe a vista - diz - passei o dia no fundo do barco.» Como se, finalizando uma cena doméstica, tivesse saído para o clube, ler o jornal. Excelente método: «ele» acalma-se, «arranja-se» de novo. Mas restam os soluços, isto é, uma grande agitação. Impossível tirar o ponto, portanto, situar as Bermudas. Diabo! Não tinha graça nenhuma ser desviado para o centro do Atlântico, mal de víveres. Felizmente que, amansada a bela se tornou carinhosa e, apesar do lastimável estado do aparelho, levou-o (que ingrato, diz que foi o acaso!) com toda a doçura, direito a Ely's Harbour, nas Bermudas. Cinco meses de delicioso repouso, durante os quais Emanuel foi reparado, revisto, acariciado. A 24 de Abril de 1934 o comandante aparelhou, levando consigo o major Kitchener. Os Açores (1880 milhas) apareceram ao fim de 18 dias de bom tempo, só com «duas rajadazinhas». De novo a navegar a 18 de Maio, Emanuel chegou sem incidente digno de nota, após 17 de viagem, a Hughtown e, no dia seguinte, o cruzeiro terminava em Plymouth. É uma bela história de amor, muito bela mesmo, entre o mar e um grande marinheiro... que podia abandonar os negócios quando lhe corriam mal. Voltou a partir em 1939, com a filha, Marguerite, para uma viagem à volta do mundo que teve de interromper na Nova Zelândia. Esta travessia não teve reedição até 1964, ano em que um dos concorrentes de regata oceânica, Hassler, quis retomar a mesma rota. Mas o Norte pode não ser o único terrível. As coisas e o mar são de tal modo reflexo da nossa alma que, do Atlântico tropical, desse lindo mar azul e branco sob os alísios, desse mar vencido pelos navegadores solitários de hoje em verdadeiro passeio atrás dos seus traquetes gémeos, o capitão Romer, alemão rude, conseguiu fazer um inferno. Atravessando-o de kayak. Toda a gente sabe o que é um kayak: uma canoa feita de tela impermeável, estendida sobre uma armação de madeira. Uma embarcação dentro da qual uma pessoa não se pode mexer, nem pôr-se de pé, nem abrigar-se por completo - barco já pouco estável na água parada de um charco ou de um rio, quaisquer que sejam as acrobacias que alguns fazem nos rápidos, tomando, aliás, banhos espectaculares. Ora, foi numa embarcação destas que, em 1928, cinco anos após a travessia de Gerbault, Franz Romer, capitão de longo curso da Hamburg Amerlka Unte enfrentou as vagas do mar alto, ao longo dos milhares de milhas que separam o Antigo do Novo Mundo. Loucura? Não de todo. O capitão Romer, tal como mais tarde Alain Bombard, perseguia um objectivo científico e altruísta. Se não tinha pensado em saciar-se e alimentar-se com o mar e os peixes, do mesmo modo que o seu sucessor, queria provar que era possível sobreviver, lutar contra o oceano e ganhar a terra num barco de salvamento minúsculo, desmontável, fácil de transportar a bordo de qualquer embarcação, grande ou pequena. Em 1928 não se tinham ainda praticamente utilizado as canoas pneumáticas (1). Mas alguns atreviam-se já a utilizar no mar a tela com borracha que permitia construir canoas desdobráveis, berthons e outros modelos de barco. (1) A aventura de Nonpareil, jangada com três grandes molhelhas de borracha que atravessou o Atlântico Norte de ocidente para leste, em 1868, era um feito isolado. Para o rio, construiu-se o kayak, imitando as embarcações dos esquimós feitas de peles recobrindo uma armação. Não esqueçamos, a propósito, que os esquimós não enfrentam, regra geral, verdadeiros mares, e que as suas superfícies de água são normalmente muito limitadas pelos gelos ou pelas ilhas. O principal inconveniente do kayak no mar é que a tela, por muito esticada que seja, faz, nos intervalos da armação, concavidades que nada favorecem o avanço e que oferecem resistência aos embates da água. No rio, este comportamento não é, em geral, muito grave. No mar, imaginam-se os estalos, os marulhos, os ruídos incessantes, os abalos que se produzem e a fraca velocidade obtida. Ao contrário, a principal vantagem prevista, principalmente nos dóris, era a «pontagem» (se podemos empregar esta palavra que significa poder-se passar por cima, dado que a proa e a popa de um kayak são cobertas. Portanto, a água não penetra por aí na embarcação. A que corre sobre esta pontagem é, em princípio, detida e devolvida ao mar por uma braçola, prancha de madeira erguida. Os kayaks têm também uma «tela de ponte» que pode «ligar a impermeabilização» com o torso do ocupante. Isto, no papel, parece óptimo para o mar. Todos leram histórias dos groenlandeses que fazem a «esquimotagem», isto é, uma volta completa metade submarina, assim equipados, sem meterem uma gota de água... abaixo do bordo, bem entendido. Restava saber como se comportaria a embarcação numa longa travessia. O kayak Klepper do capitão Romer, por este denominado «Deutsches Sport», «Desporto Alemão», era, como os outros, de tela com borracha sobre armação de madeira desmontável; media 6 metros de comprimento por 0,95 m de largura e, carregado, tinha o calado de 0,25 m. O capitão fez-lhe apenas ligeiras modificações. Não pretendendo atra-vessar o Atlântico à pangaia, aparelhara-o com um velame de yawl: uma vela quadrangular latina - não muito grande - à frente da braçola, no local onde habitualmente se coloca a pequena mastreação deste género de barco, e uma vela muito pequena na popa. No total, 5 m2. Para poder navegar à pangaia ou modificando o velame, instalou um comando de leme movido pelos pés. Enfim, quanto à segurança, dotou o barco de flutuadores cheios de ar e, para o caso de meter água, de reservatórios de gás carbónico que se enchiam automaticamente. Para a etapa maior era necessário contar com água e víveres para três meses de mar, portanto, margem de segurança incluída, para quase quatro meses. Armazenar quatro meses de água doce e de víveres num kayak! Um homem, nos trópicos, não pode contentar-se com menos de 2 litros de água por dia. Romer contou com 250 litros - 250 quilos - mais o peso dos recipientes (caixas soldadas), ou seja, 300 quilos no total. A alimentação pesaria 220 quilos mais as embalagens, ou seja, 250 quilos. A fruta não estava incluída neste peso. Acrescentemos a isto duas pequenas velas de reserva, cabos, vestuário, um compasso, um sextante, tabelas, um anuário, 25 quilos de petróleo, um fogão, etc. Ao todo, o capitão Romer devia transportar, pelo menos, 600 quilos. Far-se-á ideia da velocidade de um kayak no alto mar, carregado com 670 ou 680 quilos, incluindo o navegador? Era este o limite da sua carga possível; o prospecto de venda dizia: «Carga máxima, 600 quilos». E tinha em vista a água de um rio... O capitão Romer escolhera a mesma rota que Gerbault. Mais precisamente, fazia a travessia tal como Bombard: para Ocidente, com os ventos alísios. Partiu de Portugal (do Cabo de São Vicente, perto de Lisboa). Em 11 dias, «tempo» muito notável, tinha atingido as Canárias de onde (como Bombard) devia fazer a «verdadeira partida». Nesta primeira travessia pôde medir a terrível aventura que encetava. Tendo encontrado vento e mar, querendo aproveitar do vento, teve que vigiar ininterruptamente a água, cuja menor onda podia voltá-lo e cujas cristas lhe escondiam o horizonte, isto de dia e de noite. Eis como vivia e dormia: Tinha apertado à cintura a tela da ponte. Mesmo assim, a água do mar penetrava no kayak de tal modo que o material começou a flutuar no interior. Houve mesmo uma vaga que arrombou a tela da ponte. O kayak ficou por completo inundado. Felizmente que os aparelhos automáticos a gás carbónico funcionaram, o gás encheu os bolsos das velas e as molhadelas que expulsaram um pouco de água e garantiram a flutuação. A pequena bomba de pedal que Romer tinha instalado não funcionou, pelo menos suficientemente; Romer teve que se pôr a escoar ao longo das coxas com uma grande caixa de conservas vazia, uma caixa de 4 litros, quadrada, que mal passava entre o seu corpo e a parede (imagina-se a ginástica!). Passou assim 3 dias. Três dias... «Na quarta noite - diz ele em substância - na quarta noite sem sono tive que navegar com mar de popa, muito agitado. Devia estar atento a cada vaga. Tinha também que estar atento à terra (as Canárias), que em breve devia aparecer. Mas precisava ainda de dormir; o sono é a mais absoluta necessidade do homem e encontrava-me naquela fase em que se torna uma questão de vida ou de morte. Estabeleceu-se então um estranho compromisso, um equilíbrio dessas três necessidades. Entre uma crista de vaga e a seguinte, dormia. Sobre a crista acordava, manobrava o leme de maneira conveniente e observava o horizonte. Isto durava dois segundos, dois segundos de vela. Depois, voltava a adormecer mais quatro ou cinco segundos, o tempo suficiente para, com o mínimo de lucidez, estar à manobra e à espreita. O sentido do perigo tinha-me completamente abandonado; para mim, era tudo a mesma coisa. No entanto, fazia o que era preciso. «Por volta da meia-noite, uma vaga arrasadora quebrou-se contra o meu kayak, virou-o e passou-me por cima. «Apareci indemne, ou quase, do outro lado. Compreendi logo, no entanto, que o vento não era suficientemente terrível para fazer tais vagas no mar alto. Indicava, sim, a proximidade da terra: para ela me dirigi. «Parecia-me ouvir o ruído que fazem os seixos a rebolar na costa. Contudo, não via nada. De repente, ouvi uma voz gritar-me em inglês, aconselhando-me a rumar ao sul e não a sudoeste. «Seria uma alucinação? Sem dúvida, pois só no dia seguinte, à tarde, achei terra. Devia, no entanto, ter passado perto de uma ilha. E o pouco de rota sul que tinha feito antes de seguir, como até então, para sudoeste, talvez me tivesse salvo. A voz, todavia, não podia ser a de um homem (quem se teria preocupado comigo, quem teria podido gritar com tanta força da margem?) Por que motivo deus me gritou em inglês, a mim, alemão? Para que eu compreendesse que era ele na proximidade dessas ilhas onde se fala espanhol ou português? «Quando me encontrei abrigado do vento, protegido pela ilha, apercebi-me de que as percebas, bem como ervas marinhas de todas as espécies tinham crescido tão depressa nas águas quentes que, nesses onze dias, haviam coberto a tela do kayak de uma camada de dez centímetros, imobilizandoo por completo. Não exagero, pois em pleno porto do Arecife, nas Canárias, numa altura em que o vento não me ajudava, quase naufraguei!» Esta travessia representava 580 milhas. A segunda etapa era de 3670, directamente até Nova Iorque ou de 3000 até às Antilhas, para as quais os alísios impeliriam. Foi para estas ilhas que Romer acabou por se dirigir. Conhecendo, todavia, por experiência, o que o esperava, largou de novo em 3 de Junho de 1928. Sabia que, pelo menos, partia por três meses. Três meses sentado, sempre sentado, sem poder mexer-se. Sem poder estender-se, dobrar as pernas, distender a bacia nem satisfazer normalmente as mais primárias necessidades. Três meses com a parte inferior do corpo macerando na humidade, tão desastrosa com tela de ponte como sem ela: com tela o kayak tornava-se uma espécie de estufa malsã, de germinadouro sufocante; sem tela, a água do mar e a do céu penetravam nele, e o ar interior reduzia-se muito. Quanto à parte superior do corpo, assava ao terrível sol do trópico que lhe queimava a nuca, os braços e mesmo a cabeça quando, no fim do primeiro mês, perdeu o seu último chapéu. Foi então que uma ideia começou a persegui-lo: o sol podia enlouquecê-lo. Três meses sem dormir verdadeiramente, sem se estender de modo a poder fazê-lo em boas condições, sem poder voltar-se, sem «se distrair» um só momento, pois, se a embarcação se atravessasse, adernaria mesmo sem tempo adverso. Quase três meses sem poder comer nada quente, nem cozido, nem aquecido; na verdade, a Romer como a Harbo, Samuelson e Gerbault o fogão a petróleo pregou partidas. Mas a bordo de um kayak, uma «partida» torna-se trágica. Romer, para fazer a sua pobre comida, colocava o fogão entre as pernas. Um dia, o aparelho incendiou-se e, para não se deixar queimar vivo, Romer teve rapidamente que o lançar pela borda fora. Três meses a contorcer-se para tentar expulsar de debaixo de si a água que entrava no barco. Três meses de um terrível balanço, sacudido e atacado pelas vagas. Três meses de marulhar exasperante das telas. Três meses de terror também: grandes peixes, tubarões e peixes-espada, ou cetáceos, marsuínos e baleias, vinham sem cessar coçar-se no frágil casco de tela ou comer o que nela crescia. Romer tinha previsto um dispositivo especial para o alertar nestes casos: o aparelho, inútil na medida em que o navegador não podia, de modo algum, defender-se, em breve se tornou um suplício suplementar, atroz para os seus nervos. A fim de afastar os assaltantes, tamborilava numa caixa de conservas vazia. À noite, acendia a lanterna eléctrica. Mas os peixes-voadores, assim atraídos, saltavam do mar e atingiam-no no rosto em pleno voo. Um dia, um tubarão gigante e três mais pequenos atacaram o barco. Romer disparou tiros sem conseguir assustá-los. Enraivecido, o grande tubarão nadou para o barco e. mergulhando no último momento, encostou de tal maneira o dorso o fundo do kayak que Romer se sentiu erguido e pôde ver a frágil tela inchar, tomar a forma do dorso do tubarão. Este, não dando mostras de querer abandonar o almoço que julgava prometido, mergulhou outra vez. Romer, agarrando o primeiro objecto que tinha à mão, feriu-o no dorso, à passagem; era o mastro da bandeira americana. Na confusão, o pano desfraldou-se ao sol; o tubarão deu um salto, mergulhou e desapareceu para sempre. «Vitória das cores americanas em toda a linha!» escreveu, muito sério, um repórter... Romer não enlouqueceu. Mas todo o seu corpo estava roído pelo sal. Úlceras terrivelmente dolorosas abriam-se aqui e ali. O implacável sol dos alísios endurecia o sal, formando crostas; os cabelos de Romer ficaram brancos. Até que as grandes chuvadas tropicais o lavaram. Mas o capitão nem sequer podia pôr-se de pé para as aproveitar, e as suas pernas continuaram a macerar na salmoura. «Antes do fim de Agosto estarei nas Antilhas» - dissera ele. Chegou no dia 31 à ilha de SaintThomas, uma das que ficam mais ao norte, direito ao porto, após 88 dias de mar, 88 dias de «múmia flutuante», 88 dias da provação marinheira mais sobre-humana - sim, mais terrível ainda que a de Bombard, parece - que um homem já suportou voluntariamente. O seu rosto, coberto de uma barba de três meses, era o de Robinson Crusoe! Titubeando, lá conseguiu sair da embarcação para se abater no cais. Levaram-no para um hotel onde dormiu «como um cadáver» durante 48 horas. Quando acordou, todos os habitantes da ilha conheciam a sua história. Quiseram homenageá-lo. Mas as úlceras profundas se secavam na parte superior do corpo, não fechavam nas coxas, inchadas e corroídas ao mesmo tempo, pela água do mar. Teve que ser hospitalizado por várias semanas. O governador inglês da ilha, Slr Evans, entregou-lhe a condecoração que tinha sido especialmente criada para Lindebergh, o aviador que pela primeira vez atravessara o Atlântico, sozinho, também sem escala. Atrasado pela lentidão das autoridades americanas na passagem dos seus documentos, o capitão Romer partiu da iiha Saint-Thomas (Antilhas) para Nova Iorque no princípio de Outubro, isto é, já em estação perigosa. Os dias passaram. De Saint-Thomas a Nova Iorque vão 1500 milhas; 1200 até ao cabo Hateras, junto do qual era obrigado a passar e onde o deviam ter visto um mês depois da partida, no máximo. Em meados de Novembro, ainda não aparecera. Nos princípios de Dezembro, surgiu um terrível ciclone de sul para norte, acompanhando exactamente a rota do kayak. Se - o que é pouco crível - Romer tivesse sobrevivido até então, a sua sorte estaria agora traçada, sem apelo nem agravo. Efectivamente, nunca mais foi visto. ***** Esta tentativa era talvez uma blasfémia contra o mar, mas cantava alto a energia humana. E devia, na Alemanha, deixar tal impressão que foi imitada por duas vezes, recentemente, por um outro alemão, o doutor em Medicina Nanes Lindezas. Este atravessou o Atlântico, primeiro em 1955-1956, de Las Palmas a Saint-Croix (Pequenas Antilhas), a bordo de uma piroga primitiva, de madeira, construída na Libéria e assim denominada; depois em 1956-1957, de Las Palmas a Saint-Martin, em 72 dias, num kayak de tela com borracha fabricado pela mesma casa que fabricou o de Romer. Lindemann, que levava consigo poucos víveres e pouca água, completando-os pelos «recursos do mar» à maneira do doutor Bombard (tendo os mesmos objectivos de estudo científicos), levava uma carga muito menor que a de Romer e beneficiava de um melhor velame, podendo ainda manter com rigor a rota conveniente; como o seu ilustre predecessor, não podia também pôr-se de pé nem estender-se completamente. Adernou duas vezes e passou toda uma noite agarrado à canoa sem poder virá-la: com isso perdeu todos os víveres. Emagreceu na travessia 19 quilos. Talvez haja quem pense que, a partir de agora, os outros relatos de travessias do Atlântico são menos interessantes... Puro engano. Na realidade, chegamos às admiráveis viagens de Marin-Marie com o Winibelle II, em Maio-Agosto de 1933, e com Arielle, em 1936. ***** Marin-Marie (que embora tenha um velho nome normando é de mãe bretã) é da cabeça aos pés, um apaixonado do mar, um dos felizes mortais que podem traduzir esse amor de maneira imediata: é pintor de marinhas, um grande pintor de marinhas. Porém, como diz: «É preciso que um pintor procure de vez em quando encontrar-se frente ao seu tema, bem em frente; é o prazer de tratar directamente com o mar (que o fez partir para tão longe e sozinho) apenas para o ver um pouco... Assim, é preciso suportá-lo, mesmo quando se está farto: é muito bom para o corpo, para o espírito e para os quadros.» Por outro lado, Marin-Marie queria estudar «ao vivo» algumas inovações. Destas, a mais notável eram os traquetes gémeos ou «mezenas triangulares», termos mais correctos que «spinnakers gémeos». Já vimos que uma das maiores dificuldades da navegação solitária era a Impossibilidade, até então (só com uma excepção, o Spray de Slocum, de que ainda falaremos), de navegar de leme amarrado com vento pela popa ou muito de través, andamentos que são precisamente o pão de cada dia sob os alísios, isto é, em três quartos de uma volta ao mundo à vela. Resultado: de dia, era preciso estar ao leme, o que era fatigante, aborrecido e mesmo perigoso (por causa das guinadas nos momentos em que era em absoluto necessário abandoná-lo) e à noite era forçoso pôr-se de capa, o que fazia perder muito a rota no sentido da distância e um pouco no sentido da direcção. Escreveu-se que Marin-Marie tinha inventado os traquetes gémeos, o que não é de todo verdade. O mérito da ideia e da primeira realização na forma de que iremos falar, cabe (tal como, aliás, nos precisa o próprio Marin-Marie com grande escrúpulo) ao capitão britânico Otway Waller, que equipou deste modo o seu yacht Imogen, pequeno yawl de 7,80 m, em 1930. Waller iria dar a volta ao mundo. Mas, na Madeira, comeu pepinos que (se ainda for vivo não se importará, por certo, que façamos um pouco de humor), a acreditar na frase citada pelo Yachtlng Monthly, reproduzida pelo Yacht et Yachting, lhe provocaram febre, lhe fizeram parar os relógios e avariaram o seu aparelho de T. S. F.... Em Tenerife, os pepinos continuavam a fazer sentir os seus efeitos; em Las Palmas, como a febre não abrandasse, teve que abandonar o barco e dirigir-se para Londres, onde os negócios largaram de novo a sua sinistra fateixa sobre o capitão. Qual volta ao mundo! O certo é que a rota feita bastara para mostrar a excelência dos «spinnakers gémeos», como ele diz. Tratava-se de dois traquetes, um em cada bordo. Sem dúvida que podiam chamar-se spinnakers, pois não estavam estaiados e eram ambos atravessados (afastados) por um tangão. As duas escotas partindo do «ponto» afastado por cada tangão, passavam por uma roldana na proa do barco e vinham amarrar-se ao leme. Deste modo, se o barco guinasse à esquerda, o traquete deste lado impelindo mais que o outro, deslocar-se-ia para a proa, puxando o leme à esquerda, o que equilibrava de novo o barco. A simplicidade maravilhosa das grandes descobertas. O resultado foi perfeito: «Tendo largado de Vigo (e rumando a sudoeste), tive boa brisa de nordeste. As minhas velas enfunavam noite e dia com vento pela popa. Era extremamente agradável poder abandonar por completo o leme e deixar o barco navegar sozinho, com brisa forte. Sem tocar uma só vez no leme durante três dias, percorri respectivamente 25 milhas, 106 milhas e 107 milhas. A esta velocidade, Imogen comportava-se à maravilha.» (1) Tinha também obtido um andamento de capa absolutamente notável, concebido um «antibalanço» espantoso e compreendido o interesse dos «sandows» de leme: Apercebi-me de que, de capa, o meu barco corria muito para a frente e chocava assim com a onda. Isto provocava choques enormes que abalavam todo o yacht, a ponto de eu não poder dormir. Amarrei então a verga da mezena às enxárcias da vela de ré, a barlavento (a qua-drangular estava em baixo) e com o traquete orientado para o vento, Imogen deixou de navegar e contentou-se em derivar, deixando ao vento um redemoinho de mais de três metros. Este redemoinho detinha a crista das vagas como um rasto de óleo. Assim, o meu barco aguentava-se perfeitamente e tinha a ponte sempre seca. Se tivesse um calado de, por exemplo, 1,80 m nunca se teria comportado desta maneira. Claro que é preciso estar a sotavento e talvez não seja habitual estar de capa assim; mas Imogei comportava-se muito bem deste modo. Aprendi também durante esta viagem como se pode reduzir o violento balanço de um barquinho. Quando o comprei, Imogen tinha um certo lastro interior em chumbo. Tirei este lastro, pois, a bordo de um pequeno barco, as provisões para uma longa viagem são suficientes para o lastrar. Mas quando a navegar com mar agitado pela popa, apercebi-me de que o yacht balançava tanto que me era Impossível permanecer no beliche. Amarrei então a ancora a uma das adrlças e prendi-a em volta do mastro com um estropo, para evitar que balançasse, Içando-a depois até à encapeladura. O efeito foi extraordinário. O balanço tornou-se logo suportável e a vida a bordo passou a ser muito mais confortável do que antes. Este cruzeiro ensinou-me muitas coisas no que respeita ao aparelho de um pequeno yacht que navegue ao largo. Em particular o seguinte: antes da partida, tinha comprado sandows, cuia bainha permite á borracha (que é muito sólida) alongar-se até ao limite de elasticidade. Só. Ora, se quando me encontrava de capa não tivesse amarrado o leme com este elástico, os choques terríveis causados pelo safrão teriam, por certo, partido o leme ou causado qualquer avaria. Nestas condições, é indispensável que o leme se possa deslocar um pouco, pois os esforços suportados pelo safrão são consideráveis se o leme estiver fixo. Servi-me também do elástico para obter a distensão do cordame fixo: abotoava as duas enxárcias com o auxílio das borrachas, de modo que aquelas, a sotavento, em vez de se balançarem, permaneciam sempre bem esticadas. O capitão Waller (1) tinha, como é habitual em matéria de invenção complicado inutilmente o seu sistema com retenidas amarradas nos tangões, e terminando o quadrilátero com uma roldana no botaló. Além disso, os dois traquetes dispunham daquilo a que chamamos «roletes de giba» que permitiam enrolá-los, pô-los imediatamente de parte. Isto era muito interessante para a entrada num porto, navegando sozinho, mas os portos em pleno Atlântico não abundam e ninguém se pode dar ao luxo de amainar estas velas de modo vulgar; e o inconveniente grave do rolete era que não se podia estaiá-las, isto é, fixá-las no estai e que depressa se teriam deformado e fatigado. Marin-Marie (e não Gerbault, que se vangloria disso muito deslealmente) apurou a inovação: os dois traquetes foram estaiados, as retenidas eliminadas. (J.-Y. Le Toumelin devia aperfeiçoar o invento: para eliminar esforços e um deslizar aborrecido dos tangões - com o consequente gasto e as guinadas, concebeu um pequeno mastro trípodo, metálico, para os pés destes tangões; utilizou um sandow para o andamento ao largo). O resultado obtido por Marin-Marie foi perfeito: o sistema permitiu que o Wlnibelle II, com vento pela popa, navegasse mais de 100 milhas por dia durante 26 dias consecutivos sem que Marin-Marie tivesse que tocar no leme! Esperto, o marinheiro! Como diz, divertido: «Bem podia ter levado dois homens comigo sem que isso me servisse para nada, muito pelo contrário: teríamos sido obrigados a fazer duas horas de leme, de quatro em quatro horas, a pretexto de que éramos em número suficiente para governar, ao passo que, estando sozinho, nada fiz; teria sido preciso fazer uma terrível economia de água para três bocas, enquanto que eu podia lavar-me com água doce, sem escrúpulos. E assim sucessivamente.» Marin-Marie, que era muito jovem em 1933, tinha sido já gajeiro voluntário, a bordo de um trêsmastros e depois companheiro de Charcot a bordo do Pourquol-pas? Filho de um navegador de recreio reputado, vingando antes de saber assoar-se, tinha possuído e possuiria mais tarde inúmeros yatchs com os quais, ou vai ou irá a Chausey («a sua» terra) ou a Casablanca, sozinho ou com o seu querido e velho marinheiro, ou com a mulher e os filhos. É o tipo perfeito do perfeito navegador de recreio, É por isso que estes se sentem cheios de felicidade e de orgulho ao ouvirem o relato (impossível de encontrar em francês, pois está reservado ao Yacht Club de França de que o seu «patrão», Charcot, era então presidente) da travessia de Winibelle. Enfim, enfim! Era a vingança, o triunfo de um navegador de recreio, nem capitão de longo curso, nem «trapalhão», nem anglo-saxão. Winibelle II ainda hoje é um belo cúter de 12 metros de popa norueguesa, profundo, revestido de cobre, perfeitamente preparado: além dos traquetes gémeos, dispunha de um aparelho e de ferragens desenhados por Marin-Marie (nada se partiu...) entre elas um cabresto do gurupés de uma só peça, em ferro forjado, um mastro escavado, adriças que regressavam todas ao cockpit, o que permitia passá-las e esticá-las graças a «winches», um leme comandado do interior, etc. A vela quadrangular latina não era presa (sem joanete), à maneira dos antigos pilotos. Tudo de uma extrema robustez: «Por demais nunca se perde» ou como diz Marin-marie: «O que é ridículo é ter avarias sem cessar por causa de uma brisa adversa encanada; nessa altura, o arquitecto naval está sossegadíssimo no seu estúdio, enquanto nós estamos metidos na alhada. Ê sempre a mesma história desde que se constroem yachts. Não admira que os pescadores se torçam a rir à vista dos navegadores de recreio.» Foi partindo destes princípios, desta minuciosa preparação, que, um pouco mais tarde, J.-Y. Le Toumelin fez a volta ao mundo sem avarias... A travessia do Winibelle II foi um modelo de Douarnenez ao Funchal (Madeira), 14 dias; do Funchal a Fort-de-France (Antilhas) (1) 29 dias e 2 horas (máximo em 2900 milhas), dos quais 26 sem tocar no leme, quer o vento fosse fraco ou forte; da Martinica a Nova Iorque, 21 dias. (1) O relato da recepção prestada a Marin-Marie é épico: - O médico militar que veio fazer a visita de Inspecção (arranjei-me o melhor que pude para o receber, de boné branco, ponte varrida) mandou-me com a maior naturalidade ancorar em plena baia, de quarentena. Não tinha patente francesa e o resto não lhe Interessava. Os yachts franceses estavam dispensados dela em Inglaterra e vice-versa. Também não interessava. Mas a prática médica na Madeira... Qual quê! E se enviasse um telegrama a minha mulher... Nunca na vidai Claro que poderia comprar um pouco de pão em terra... Proibido E se aparelhasse para me dirigir a outra ilha? Far-me-ia preceder de um telegrama. O médico tinha o direito de me submeter a fumigações, desratizações, vacinações, encarceramento sim, mas eu tinha o direito de o lançar pela borda fora se lá ficasse mais um minuto que tosse. Estava completamente fora de mim. E em toda esta travessia, Marin-Marie só se serviu do motor (cuja hélice o atrasava um pouco) no último momento, na véspera da chegada, sob a ameaça de um ciclone que devastaria a costa dois dias depois; como diz o navegador, sempre bem disposto (há que ler o seu livro dos quartos!): «Somos bravos, mas não temerários!» Travessia sem história... mas não sem queimaduras! De facto, se a água o poupou, o fogo quis mal a M.M. que se queimou, que ferveu à vontade... Marin-Marie tinha sobre a solidão ideias muito precisas: «Levar um homem connosco para uma grande travessia é coisa que não se deve fazer; dois homens sós é um mau número. Muitas vezes, não se pensa na responsabilidade daquele que dorme em baixo enquanto o seu marinheiro, sozinho, está de quarto. Afirmo que não se dorme um minuto tranquilo (adquirimos o hábito, o meu marinheiro e eu, enquanto navegávamos juntos, de fazer ruído, bater com os pés, cantarolar, enfim, de provocar um barulho qualquer enquanto estávamos de quarto, para que o outro que adormecia ou despertava pudesse repousar sem ter o ouvido permanentemente alerta). Além disso, quando os navegadores são dois corre-se mais riscos que se fosse só um; espera-se mais por mudar as velas de giba e engatar os rizes. E se um cai ao mar com mau tempo, o outro terá grandes dificuldades em manobrar sozinho com suficiente rapidez para o salvar. Sei-o por ter tentado recuperar o meu boné que, duas vezes em três, se afundava antes que eu pudesse apanhá-lo, ou, então, que perdia de vista nas ondas. Não se consegue imaginar a chegada do outro lado do Atlântico tendo abandonado um camarada durante a travessia ou ainda tendo-o deixado morrer por não saber cuidar dele. Quanto a mim, o melhor seria não chegar. Eis porque não gosto do número dois num barco que vá muito ao largo. Conheci um drama deste género, onde o sobrevivente arrastou uma vida miserável até ao fim dos seus dias.» Que tínhamos nós dito ao princípio desta obra? A experiência confirmou-lho: e, todavia, a solidão - a que estava pouco habituado - impressionava-o bastante: espiava os menores destroços, os restos abandonados por paquetes invisíveis como se fossem «tranquilizadores» sinais humanos! Ao fundear nas Antilhas, depois ao chegar a Nova Iorque, este homem tão simpático e simples mostrava-se «sofrivelmente sobreexcitado»: «No meio do indescritível tráfego saltei da popa a proa para dar um pouco de ordem à ponte; da proa à popa para retomar o leme. Cantava tudo o que me passava pela cabeça, cumprimentava cerimoniosamente os patrões dos rebocadores, Miss Liberty, toda a gente.» Os traquetes gémeos tomaram-se clássicos; o famoso yacht belga Omoo, cuja volta ao mundo permitiu o belíssimo relato de Annie van De Wielle, Penélope était du voyage, atravessou o Atlântico de Las Palmas às Bermudas, em 1951, utilizando unicamente um traquete duplo com uma superfície de 44 m , e com o leme amarrado. Levou 23 dias e 3 horas e meia para fazer a travessia de 2720 milhas, navegando a quase a 5 nós. O êxito de Marin-Marie encerrava, de certo modo, o ciclo do que se podia fazer de melhor à vela, através do Atlântico. No sentido, ao contrário, do lastimoso mas, desta vez, no sentido inicial do termo, o que excita a piedade, houve os medrosos, todos esses Infelizes que, para fugir dos comunistas não encontraram outra via de evasão que não fosse o Báltico, o Mar do Norte e o Oceano, à falta de acolhimento na Europa Ocidental. Contando, na maioria das vezes, com barcos lamentáveis (por vezes lacustres), num estado de miséria terrível, partiam em grupos de dois (1) ou três; a sua coragem fê-los chegar ao outro lado do oceano. Mas há também fugitivos por persuasão romântica, como esse Bernard Kohler, filho de ricos industriais e tendo lugar já marcado nos seus negócios. Para fugir da noiva, de quem, reprovado num exame, não se considerava digno - e também, mais profundamente, para escapar a uma sorte dourada pré-fabricada, para provar a si próprio «que era um homem» e não um filho-família simulou, com uma encenação cruel para os seus, um mergulho no Léman. Sem conhecer nada do mar comprou em Nantes um pequeno cúter bastante robusto, de 6,40 m Va Danser, com o qual largou de Concarneau, a 23 de Agosto de 1957. Foi, lamentavelmente, a reboque de um navio que atingiu as Canárias; mas daí passou, em 38 dias, a Fort-de-France, onde, conquistado pela solidão, vivendo a ensinar matemática, só revelou a sua história a conselho do confessor, escrevendo, enfim, aos pais que deixara na angústia e, depois, no desgosto... Esta história típica mostra que, no mar, con-tinua a ser possível a aventura mais clássica, a qual, muitas vezes, fracassa, lastimável ou tragicamente, como veremos no fim deste volume. A parte estes dramas, depois de Marin-Marie e do seu Winibelle não havia mais nada de novo e sério a realizar, poderia pensar-se, no Atlântico, por um solitário, nem de leste para oeste nem do oeste para leste (fora a travessia sem víveres ou por uma mulher sozinha). Puro engano! Havia ainda a fazer, sozinho, uma travessia a motor. ***** O quê? Mas isso é fácil, dir-se-á. Muito pelo contrário, é bastante mais difícil; tão difícil que só um homem a realizou até hoje: MarinMarie ainda. Reflicta-se nisso e... Maquete do Arielle Vimos já que um veleiro, enquanto o navegador solitário dorme ou se entrega a pequenos trabalhos, podia ou ser posto de capa, graças a um certo velame ou continuar a sua rota, confiando só no vento, leme amarrado. Com um barco sem velas, isso é impossível. Não pode continuar a navegar, pois rodopiaria; não pode ser posto de capa; e só pode usar a âncora flutuante se o vento for muito forte. Se o vento for médio ou pouco forte, o barco a motor atravessar-se-á, balançará abominavelmente (sono e cozinha impossíveis) ou achar-se-á mesmo em má posição. Eis porque, antes de Marin-Marie e do seu Arielle, ninguém tinha tentado sozinho travessias a motor de mais de um dia ou dois. Depois, é preciso não ter medo... Na verdade, é sempre possível uma avaria no motor, avaria infinitamente mais grave que o desmastreamento de um veleiro; neste pode instalar-se ou um velame improvisado enquanto as formas do motor-shlp não se prestam a isso, só permitem o vento de popa e, mesmo assim, a navegação seria lenta e perigosa. Enfim, o problema das reservas de combustível não é fácil de resolver. Por todos estes motivos só se registaram anteriormente duas travessias do Atlântico por um pequeno barco a motor: a de W. G. Newmann e seu filho, de 16 anos, a bordo do Abiel Abbot Low, de 12,60 m, motor de 10 cv., de Nova Iorque a Falmouth, em 38 dias, em 1902, e a de Thomas Fleming Day, acompanhado de Ch. C. Earle e de W. Newstead, em 1912, a bordo de Detroit, vedeta de 10,65 m de longo, 2,70 de largo, calado 1,40, motor Scripps de dois cilindros de 16 cv. Thomas Fleming Day, inglês naturalizado americano, jornalista de marinha, tinha já atravessado o Atlântico de oeste para leste, à vela, em 1971. Esta travessia de New Rochelle aos Açores, depois a Gibraltar, realizada com dois companheiros, não teria nada de notável se o barco de T. F. Day, o Sea-BIrd, não apresentasse duas características particulares. Por um lado, tinha um motor auxiliar de 3 cv. Knox; a sua reserva de combustível era de 36 litros, permitindo-lhe 5 ou 6 dias de navegação a motor. Por outro, o casco do Sea-Blrd não era de secção curva, mas sim de secção angular, em ponta viva ou «sharpie». Na América, não era uma novidade; os cascos «sharpie», primeiro lisos, tinham aparecido por volta de 1848 e começado a apresentar a secção angular a partir de 1863. Eram mesmo conhecidos na Europa: em Angers, em 1861, foram construídos dois yachts segundo esta fórmula e em 1884 um yacht, Marthe, exposto no Havre, propunha a sua aplicação à navegação solitária Mas só em 1902 um arquitecto naval americano, M. Mower, viu o partido que da inovação se podia tirar e desenhou o protótipo Sea-BIrd, yawl de 7,78 m por 2,48, de «sharpie». Esta fórmula diminuía já o preço de custo da construção (1) e garantia uma grande habitabilidade, permitindo, no entanto, um excelente comportamento no mar. Apesar do que tem de inestético, obteve grande êxito em todo o mundo para barcos de cruzeiro, quando o Sea-BIrd de T. Fleming Day a deu a conhecer pela sua travessia. (1) Hoje, o seu grande Interesse provém do facto de permitir a construção em contraplacado; ao contrário. Já não apresenta vantagens para o plástico. Cobriu-se de glória com o Islander de Pidgeon, réplica aumentada de Sea-BIrd que fez duas vezes a volta ao mundo. Sea-Queen em que Voss fez uma volta completa sem naufragar, era também um Sea-Bird. A travessia de T. Fleming Day ficou célebre entre os navegadores de recreio e os jornalistas por outra razão - a seguinte anedota: tendo, enfim, surgido o bom tempo, Tom Day quis aproveitá-lo para servir aos seus tripulantes uma boa refeição. Anunciou um guisado: tratava-se mais de uma «caldibana», pois Tom misturou todas as espécies de conservas que havia a bordo, cozeu-as e apresentou o prato a que Thurber e Goodvin acharam «um gosto estranho». Mas, enfim, era comestível. Ao servir-se uma segunda vez, um deles retirou... uma meia. A reputação de cozinheiro de Tom Day deu, como os filhos do seu Sea-Bird, a volta ao mundo. Mas, no ano seguinte, em 1912, Thomas Day foi encarregado por um construtor de motores Scripps de experimentar a resistência, através do Atlântico, de um dos seus aparelhos. Este dava perto de 8 nós em água calma, na vedeta Detroit. Cheio de combustível, Detroit quase não tinha bordo livre; o mar varria constantemente a ponte, de tal modo que o homem do leme não podia abandonar as botas... Pior ainda, balançava terrivelmente e a travessia foi esgotante. Era impensável cozinhar; abrir latas de conserva já era difícil! A travessia de Vineyard (um pouco ao sul de Boston até Queenstown (rio de Cork, Irlanda do Sul) foi, todavia, feita em 22 dias, não obstante ter sido várias vezes necessário pôr-se de capa. A travessia provou as qualidades de um bom motor; mas, tal como a de Casseis e Malonei, a bordo do L'Imp, em sentido inverso, em 1914 (97 dias de Dublin a Halifax), não punha o problema da navegação mecânica solitária. Só 24 anos mais tarde, em 1936, Marin-Marie a tentou e, mais uma vez, obteve êxito. Marin-Marie não é um louco; assim Arlelle dispunha de uma mastreação que, sem a menor dúvida, permitia instalar um velame de recurso. Mas, além disso, era um robusto lanchão de 13 metros de comprimento por 3,45 de largo e 1,40 de calado, com um bom bordo livre e sólidos paveses. Construído especialmente em Sartrouville para esta travessia, quase não tinha, na verdade, o aspecto de um yacht. Tal como em Wlnibelle II, nada fora deixado ao acaso, nenhuma deficiência havia sido tolerada. Equipado com um motor Diesel de 50-60 cv, 4 cilindros (pegava a ar comprimido e à mão), podia embarcar 5000 litros de gasoil, o que lhe dava cerca de 24 dias de autonomia, ou seja, um raio de acção de aproximadamente 4500 milhas. Arlelle dispunha de uma cana de leme automática. Quando se fala disto o interlocutor imagina, regra geral, que o aparelho é comandado pela agulha do compasso, que basta pôr o ponteiro nos 85° se quiser fazer 85° e que um servo-motor, agindo na cana do leme, se encarrega de orientar ou de manter a proa do motor-ship nessa rota. O mecanismo existe, com um compasso giroscópico, mas é de preço elevado e só hoje começa a instalar-se para navegação de recreio em vedetas de luxo. Na altura, Marin-Marie teve que se contentar com um sistema muito simples e engenhoso que depois se divulgou extraordinariamente noutro caso, inesperado, de navegação sem homem de leme: o barco modelo! O aparelho montado no Arielle era o mesmo, em ponto maior, que os chamados «Vane Gear», pelos quais os brinquedos (aliás tão perfeitos e interessantes) que navegam em superfícies de água miniaturais mantêm a rota desejada pelo seu longínquo sklpper. O princípio é o do catavento. Um placa vertical, aqui em forma de V para ter maior acção, está montada num eixo, um varão igualmente vertical e bem colocada ao vento; pôr-se-á, portanto como qualquer catavento. Facilmente se poderá fazer com que aja no leme. Para regular o aparelho, estando o barco orientado na sua rota, deixar-se-á que o varão se ponha no eixo do vento; tornar-seá, assim, solidário do sector. Qualquer guinada relativamente ao barlavento do barco será imediatamente corrigida por acção do varão, repelido pelo vento, no leme. Para os veleiros, este aparelho foi a vedeta da regata oceânica de 1964; falaremos disso mais tarde. Mas para os barcos a motor vê-se logo o inconveniente do sistema: a rota escolhida só é conservada enquanto o vento não variar ou não cessar. Não permite, portanto, ir de Nova Iorque ao Havre pelo paralelo sem olhar pela rota. Mas, como o vento tem longos períodos de constância ou de fraca variação, permite, durante todo o tempo, tratar dos pequenos trabalhos ou dormir sem perder o rumo. E se, no pior dos casos, esse rumo se modificar por um salto de vento, o marinheiro que, como os gatos, nunca dorme verdadeiramente, aperceber-se-á da alteração antes que algo de mal aconteça. Uma pequena observação, todavia: o aparelho deve ser regulado quando o barco estiver em marcha. Com efeito, a sua velocidade dará, com o vento real, uma resultante, o «vento aparente». Ora, é este que agirá no varão; é, portanto, tomando-o como base que a regulação desta deve ser feita. A travessia de Marin-Marie foi um êxito magnífico. Arlette, que tinha sido transportado em cargueiro para a América, largou de Nova Iorque a 23 de Junho de 1936, às 9.45 horas, e tomou praticamente a rota dos paquetes; para evitar as abordagens e embora Arielle estivesse exce-lentemente iluminado, Marin-Marie velava de noite e dormia de dia: o motor trabalhava na perfeição e nomeadamente dez vezes 24 horas sem parar. O tempo manteve-se sempre bom ou medíocre até à Mancha, onde uma forte rajada de vento, a falta de visibilidade e alguma fadiga, decidiram MarinMarie a regressar a casa, a Chausey, em vez de ir directamente ao Havre. O conjunto de rochas que constitui o arquipélago das Chausey não é o que se possa chamar de fácil acesso com tempo cerrado a 400 metros, mas Marin-Marie estava nas suas águas. Havia 18 dias e 16 horas que, encontrando 'muito poucos navios, ouvia ronronar o seu diesel. Partiu quase imediatamente para o Havre, onde lhe reservaram uma recepção entusiástica. Este transatlântico de novo género suscitou a comparação (em francos Poincaré) com Normandle: Comprimento Largura Potência Tonelagem Tripulação Passageiros Custo Duração da travessia Combustível Normandie 313,75 m 36,40 m 160 000 CV 79 280 toneladas 1355 1971 1800 milhões Pouco mais de 4 dias ? Artefte 13,05 m 3,40 m 55 CV 12,5 toneladas 1 0 250 000 francos 18 dias e 16 horas 900 francos ***** Que havia mais a fazer no Atlântico? A travessia de uma mulher sózinha. Foi o caso de Ann Davison. Jornalista inglesa de 38 anos, tinha perdido o marido com o barco Rellance, a poucas milhas da partida para um cruzeiro oceânico em que o acompanhava. Não quis, porém, resignar-se ao fracasso. E venceu maravilhosamente, pois foi a primeira mulher sozinha a atravessar o Atlântico com o pequeno sloup marconi, de popa norueguesa, com 6,50 m, Felicity Ann. A primeira parte da viagem, de Plymouth às Canárias, foi muito lenta. Ann partiu destas ilhas a 20 de Novembro de 1952 e chegou a 27 de Janeiro de 1953 à ilha Dominique (Antilhas britânicas) donde se dirigiu depois para Antígua. Chegou a Nova Iorque a 25 de Novembro de 1953 Este êxito é muito notável, já que a navegação solitária é, sem dúvida, muito penosa para os músculos e para os nervos femininos. Admirámo-la, mas não lhe desejamos muitas imitadoras. A caça aos records é, tarde ou cedo, mortífera. Passar-se-á o mesmo com a diminuição ao extremo dos barcos? Não fatalmente. A moderna construção naval de recreio tem realizado, a pedido dos amadores de pequenos cruzeiros, desejosos de transportar o seu barco por estrada, atrás do automóvel, tais progressos que dimensões minúsculas, outrora absurdas, já não o são hoje. É assim que o pequeno quilha dupla Sjo-Ag (ovo de mar) de John Riding, bem lastrado, com 90 quilogramas em cada quilha, lindamente construído pelos estaleiros Hervé de La Rochele, de aspecto pesadão, mas muito bem equipado com traquetes gémeos, leme automático aéreo, fogão, reservatórios, não tem nada apesar dos seus 3,60 m de comprimento máximo (!) dos «ataúdes flutuantes» do século XIX. Com esta «miniunidade» que é, todavia, «um verdadeiro yacht». John Riding, marinheiro de yacht muito competente, tendo faltado à partida da regata transatlântica de 1964, quis fazer, apesar de tudo, «a sua» corrida. Foi primeiro de Inglaterra a Espanha e aos Açores e daqui às Bermudas e a Rhodes-lsland. Claro que não navegou depressa - coisa grave, já que era difícil alojar víveres em tão pequeno espaço - mas sem incidentes, mau grado tempos abomináveis (vários autênticos «força 10») e, ao contrário de outros pequenos barcos, não na zona dos alísios, mas sim dos ventos contrários que foram quase constantes. Foi atacado por um tubarão que não mostrou o menor respeito pela «barrica»... e a quem Riding venceu, assestando-Ihe golpes no nariz com uma garrafa de rum (vazia, evidentemente!). Depois, perseguido por baleias ou cachalotes amadores de «pastéis à la reine». Esta viagem, anterior à volta ao mundo que começou em 1967, vale-lhe, portanto, um lugar à parte, mesmo que não fosse «o mais pequeno transatlântico do mundo», menção que não cabe, pois (com uma diferença de 10 por cento, o que é muito), embora a Imprensa o tenha dito, ao Tinkerbelle de Robert Maury. Entre os barcos extraordinários existem os multicascos de que falaremos a propósito da regata de 1964. As jangadas, essas nem sempre acabam bem as suas travessias; no Pacífico, se Willis venceu (falaremos também dele) a trágica história do Tahiti-Nui de Eric de Bisschop está ainda presente em todos os espíritos. No Atlântico, a jangada de metal com vela única (primeiro pendão, depois marconi) que para si próprio desenhou René Lescombe, antigo «pára-quedista», de 37 anos, teve todos os aborrecimentos possíveis. Tendo querido sair de Hourtin, barra difícil e como tal conhecida foi rejeitado para a margem; depois, quebrou o leme de modo análogo e a seguir partiu o mastro. Enfim, em 1959, atravessou o Atlântico das Canárias aos Barbados, onde a sua jangada deu à costa e onde o navegador, muito enfraquecido, foi salvo no último momento. Esta história, bastante banal dada a rota de alísios escolhida (veja o caso de Bombard, nas páginas seguintes), merece ser contada, não em virtude da propaganda feita pela imprensa sensacionalista (cujos comentários foram incríveis), mas sim porque acrescenta a sua lição à do Tahiti-Nui: a jangada atravessa bem (com o vento e a corrente), mas não fundeia. Que contar mais a propósito do Atlântico? Além das regatas de 1960 e 1964 - a que aludiremos no fim do livro, pois se trata de uma concepção da navegação solitária totalmente diferente - que mais haverá de novo que não seja absurdo? Esse absurdo a que leva a busca da novidade por todo o preço? A travessia a pedal? De banheira? Mas sim! Melhor: em tonel. E em que águas! As da Terra Nova! Leiam: «Três jovens em busca de aventura largaram de São João da Terra Nova, sábado à tarde, a bordo de um tonel metálico, rebocado por um arrastão, para, mais tarde, ao largo, ficar entregue aos ventos e às correntes. «O Diógenes, barril de aço com o comprimento de seis metros é dotado de uma pequena veia, de um leme e de um schnorkel. O seu destino: a Europa, que o trio espera atingir em dez semanas.» Isto não lhes recorda nada? Com certeza que sim: o surpreendente «para-Júlio Verne», En Bouteille que era também «ficção científica», já que os ocupantes... reduziam as dimensões do corpo! E foi mesmo numa grande garrafa de gin (depois de ter utilizado um leito de ferro montado sobre toros) que se instalou, em 1965, o londrino de 40 anos, Robert Platten. Mas contentou-se em atravessar a Mancha. Pela mesma altura, um polaco de Inglaterra queria atravessar o Atlântico calçando «skis de água», esses flutuadores que se metem em cada pé», auxiliando-se o andamento com «paus» munidos de pequenas bóias... o que nem no rio permite andar verdadeiramente! Mas isto é ainda material a mais. O homem sozinho, o homem nu! Eis outro telegrama de agência: NÁPOLES - Um negociante napolitano de artigos de praia, Michele Lisi, propôs ao seu governo um projecto grandioso: a travessia do Atlântico a nado, por uma equipa de 24 nadadores que se renderiam de hora a hora. O senhor Lisi pensa que a viagem poderia fazer-se em 35 dias. Na sua qualidade de presidente da secção napolitana da Federação Italiana da Caça Submarina, expôs o seu projecto em pormenor, por carta, ao Governo. Pensa que a prova poderia ser organizada num ano e que a partida poderia ser feita da bafa de Nápoles. Os nadadores transmitiriam um Invólucro contendo uma mensagem de amizade do povo italiano para o povo americano. O senhor Lisi espera, para começar, treinar um grupo de nadadores na baía de Nápoles, este Verão. Depois disto, proponho a travessia solitária por baixo de água! O que, bem vistas as coisas, não seria mais absurdo que a volta ao mundo que os submarinos atómicos realizam sem vir à superfície. É justamente um destes submarinos adaptado à navegação solitária que Joseph Papp, húngaro refugiado no Canadá, pretende ter utilizado em Agosto de 1966 para atravessar o Atlântico até Brest em... 12 horas! O submarino existia; viram-no... em terra, em Sorel, no Canadá. Teria custado a bagatela de 25 000 dólares, podia (?) navegar a 250 nós (483 km/h.) «graças a um carburante especial, escondido num isqueiro, à partida da Hungria. Não. Nenhum casco, seja qual for a potência da propulsão pode atingir tais velocidades, nem sequer os cetáceos que fizeram descobertas hidrodinâmicas (pele vibratória) que o homem não pode imitar. Saído quarta-feira, 10 de Agosto, da sua casa de Montreal, chegou, de facto, a Brest no dia 14, mas numa canoa pneumática «tendo voluntariamente afundado o seu submarino para que ninguém o pudesse imitar». Transportado de avião - que outro meio mais rápido não havia - foi internado... num hospital psiquiátrico. Fora de toda a fantasia, há navegadores solitários sem querer. Assim, em 1950, como seu pai morresse no mar, a jovem Aga Muller com 18 anos, conseguiu trazer o barco ( Berlin ) para o continente. Os Muller a bordo do Berlin Também, em 1937, o holandês J. G. Kuyt, durante os 71 dias de uma travessia atlântica achou-se de improviso navegador solitário e enfermeiro, aplicando compressas frias ao seu companheiro que delirava com febre tropical. Há, enfim, clássica, a travessia sobre qualquer coisa, a travessia - ou melhor, a deriva - desprovida de tudo e por essência sem preparação. A travessia do náufrago. Na verdade, este raramente é solitário, pelo menos a princípio; fica sozinho depois da morte dos companheiros, o que é muito diferente. O chinês Poon Lim, recordman (involuntário) do género, viuse, no entanto, sozinho desde o inicio. Era um marinheiro do cargueiro inglês Ben Lomond que, a 23 de Novembro de 1942, foi torpedeado em pleno Atlântico, no Equador (0o 30' N e 38° 45' W). Quando o navio saltou, Lim mal teve tempo de agarrar o seu colete de salvação, de o apertar e de correr para a canoa de salvamento correspondente ao seu posto de evacuação. Mas a canoa foi levada pelo mar e Poon Lim lançado a água. Quando voltou à superfície, o Ben Lomond tinha já desaparecido, bem como todo o vestígio de vida. Agarrado a pedaços de madeira, Lim nadou durante duas horas, depois do que divisou uma dessas jangadas que os vapores trazem na ponte e que se desprendem sozinhas em caso de naufrágio. Trepou para cima dela e avistou outra jangada com três dos seus camaradas; não pôde, porém, aproximar-se e como o vento e o mar tinham uma acção diferente sobre jangadas diferentemente carregadas, depressa a perdeu de vista. A bordo da jangada, nos cofres especialmente destinados a esse fim, encontrou água doce, víveres, alguns foguetes de sinalização, remédios, enfim, o pequeno equipamento regulamentar. Poon Lim não tinha qualquer meio para dirigir a jangada; não podia, portanto, fazer outra coisa senão esperar, à deriva, que o encontrassem e o recolhessem. Como navegava na rota dos navios, confiava em que esse momento não tardaria. Na verdade, vários vapores passaram próximo; Poon Lim agitou farrapos sem êxito. Um desses navios aproximou-se muito e de noite o que contrariamente ao que se podia pensar, era mais favorável, já que o chinês dispunha de foguetes de sinalização. Disparou um sem conseguir atrair a atenção do barco. Quase todas as histórias deste género mostram que a bordo dos navios mercantes de todos os pavilhões, em tempo de paz, a vela é muito mal feita ao largo. Em tempo de guerra, é mais estranho que um foguete passe desapercebido; talvez o vapor julgasse tratar-se de armadilha de um submarino. Poon Lim encontrava-se na chamada zona equatorial do «Pot-au-Noir», zona de ventos variáveis fracos ou de pouca duração, sem direcção regular, entrecortados de calmas e de tempestades. Foi isto, ao mesmo tempo, a infelicidade e a sorte do chinês. Na verdade, quando a água dos reservatórios começou a esgotar-se, Poon Lim pode substituí-la, aproveitando as chuvadas torrenciais, servindo-se do seu colete de salvamento em jeito de funil; pelo menos, não corria o risco de morrer de sede, como teria acontecido na zona dos alísios. Ao contrário, a sua deriva era incoerente, muito fraca. Claro que não dispunha de qualquer meio para a avaliar e não tinha outra coisa a fazer senão esperar, fazendo entalhes no bordo da jangada, para contar os dias. Poon Lim não estava, afinal de contas, muito longe das costas do Brasil; mas conquanto só muito lentamente se aproximasse delas, saiu, apesar de tudo, bastante depressa da rota dos navios e nunca mais viu nenhum. Ao fim de seis semanas, compreendeu que os víveres, mesmo utilizados com a proverbial frugalidade dos celestes, não ultrapassariam o quinquagésimo dia. Tinha que pescar. Não dispunha, porém, de linha. Podia fazer uma «descochando», isto é, separando as cordas da «guirlanda» de cabo que envolve as jangadas para que uma pessoa se possa agarrar. Dividindo a seguir uma corda em várias mechas e ligando-as entre si, depois entrançando três ou cinco dos cordões assim obtidos (tinha tempo de sobra!) conseguiu fabricar uma linha de notável solidez. Faltava-lhe o anzol. Com os dentes, Poon Lim acabou por arrancar um dos pregos galvanizados da jangada. O prego talvez tivesse saído com relativa facilidade. O mais extraordinário é que, sempre com os dentes, o asiático conseguiu dobrá-lo em forma de anzol. Como isco, só tinha bolachas. Amassando-as com saliva, fez uma bolinha que deixou endurecer ao sol, em volta do anzol. Sabia que a bola pouco tempo se aguentaria na água sem se desfazer; o problema era, portanto, atrair rapidamente um peixe. Poon Lim teve sorte: pescou uma espécie de pescada (as explicações deste marinheiro fruste não têm, de facto, grande precisão científica). Poon Lim não a comeu: dispunha, enfim, de uma isca a sério que lhe permitiria pescar um animal mais importante. Foi o que aconteceu: pescou um peixe de 25 quilos que comeu cru, sem a menor repugnância. Nos 50 dias que passou no mar, o peixe cru foi a sua única alimentação, além de algumas aves que vinham pousar-se na jangada ou na sua cabeça e que ele apanhava tal como veremos Gilboy fazer. Claro que as devorava também cruas. Começava, no entanto, a ter que enfrentar outros problemas: o seu vestuário rudimentar não resistia à alternância da chuva, do sol violento, do vento do mar equatorial. Estava absolutamente nu; o sol de que só podia proteger-se com a tela do colete de salvação - queimava-o com crueldade. O colete de salvação era também tudo a que possuía para se abrigar do frio nocturno. Os dias passavam monótonos. Mas Poon Lim tinha a impassibilidade, o fatalismo da sua raça que lhe eram de grande conforto moral enquanto que, a sua rusticidade e o hábito hereditário de se contentar com muito pouco lhe tornavam as privações menos penosas. Sem dúvida, como diz Bombard, o primeiro destes elementos era o principal: Poon Lim não desesperava, «aguentava-se», enquanto que, um europeu, mais sujeito à angústia e ao desespero, não teria resistido. No centésimo dia, as chuvadas tornaram-se mais raras, começou a faltar-lhe água. Teria bebido água do mar? Ele não o diz. A carência durou cinco dias, depois do que pôde recolher de novo um pouco de chuva. E a deriva continuou. Durava há quatro meses, quando Poon Lim viu aviões. Concluiu que se aproximava da terra. Os aviões passaram sem mostrar que o tinham avistado. Um deles, no entanto, localizou-o e informou as autoridades brasileiras de Belém (Pará). Estas enviaram outro aparelho à sua procura, que não o encontrou. Só no centésimo vigésimo dia, já muito perto da costa brasileira que não tardaria a ver, pois estava apenas a dez milhas (18 km), Poon Lim foi encontrado por pescadores negros brasileiros. Estava deitado na jangada e não podia erguer-se. Transportado para bordo, estampou-se-lhe no rosto uma alegria intensa; começou a rir ás gargalhadas e a cantar. Louco? De modo algum. Mostrava apenas a sua satisfação. Este homem robusto e simples não tomou nenhuma das precauções habitualmente necessárias após um longo jejum. Pôs-se a devorar tudo o que lhe davam, principalmente «mãos-cheias de pimentos»! Os pescadores negros olhavam-no com pasmo, pois nem eles próprios teriam conseguido engolir tanta porção daquele «fogo vegetal». A 5 de Abril, Poon Lim foi desembarcado em Belém. Já recobrara forças suficientes para andar, ou melhor, para se arrastar sozinho. Hospitalizado, restabeleceu-se rapidamente; sofria apenas de um desarranjo intestinal bastante benigno, que os médicos atribuíram ao peixe cru (ter-lhes-ia o doente falado dos pimentos?). Ao fim de quinze dias, o homem estava a pé e, desprezando a convalescença, procurava um emprego a bordo ()... Foi um caso análogo de sobrevivência que o doutor Alain Bombard, então estudante de medicina, quis verificar experimentalmente. A sua tentativa poderia parecer louca: atravessar o Atlântico sozinho, a bordo de uma canoa pneumática de 4,60 m de comprido, do modelo normal, chamada L'Hérétique. Sem víveres nem água doce. Este tipo de embarcação possui uma pequena vela de canoa, mas não pode, evidentemente, deslocar-se senão com vento pela popa (ou, no máximo, com vento de través, graças a duas derivas laterais) e nunca depressa (3 nós). Além disso, o fundo, entre as molhelhas, era uma simples tela coberta de sarrafos, transmitindo ao passageiro todos os choques do mar. Enfim, era impossível qualquer abrigo digno deste nome, bem como, desde que houvesse um pouco de mar, a manutenção de pé. Eis o que Bombard se propunha fazer: 1. Demonstrar a possibilidade de sobreviver no mar, mesmo que o material falhasse. 2. Aumentar as oportunidades de «bom moral» dos futuros náufragos, incluindo dotados de um psiquismo muito mais exigente Hue Poon Lim. «Todos os anos - diz ele - 200 000 pessoas morrem no mar: 100 000 por causa da costa; 50 000 a 55 000 afogados; quanto a estes 155 000 não há nada a fazer, mas entre os 45 000 restantes que utilizam embarcações de salvamento, grande parte deles morre porque as buscas para os encontrar se abandonam com demasiada rapidez. É preciso mostrar-lhes que podem atingir por si próprios a terra.» (1) Eis outro exemplo de «navegação solitária involuntária»: não se trata, desta vez, de um naufrágio, mas sim de um «desviado». Brisbane, Austrália, 23 de Fevereiro de 1954. - Um letão de 28 anos, Wiktors Zvejnieks, desembarcou ontem ao norte de Calrns, apôs uma viagem de 46 dias a bordo de uma canoa não pontada de menos de 4 metros. Tinha largado da Ilha Thursday em 6 de Janeiro para um passeio de youyou quando surgiu uma tempestade. Perdeu as pangaias, e a embarcação andou è deriva 720 km para, finalmente, ir encalhar na costa australiana. Zvejnieks, que não dispunha de quaisquer provisões, alimentou-se como pôde de algas marinhas e da carne de um pequeno tubarão que conseguira capturar. Doente e muito fraco, foi hospitalizado em Caims. No que respeitava ao tipo de embarcação escolhida, sabia-se já - disso são testemunho exemplos dramáticos durante a guerra - que era possível ao homem fazer travessias muito grandes com qualquer tempo, a bordo de uma canoa de salvamento pneumática. Mas sabia-se também que morriam de sede, de fome e, principalmente, de desespero. Bombard pretendia - e conseguiu demonstrá-lo - que se podia viver, em qualquer local, da pesca. Que o homem podia alimentar-se de peixe cru e de plâncton, essa geleia marinha invisível a olho nu ou mal perceptível, composta de minúsculos animais muito variados: crustáceos, moluscos, larvas, algas, etc, com sabor a lagosta, a caviar ou à terrível cola e muito antiescorbútica; que podia matar a sede durante três ou quatro dias - prazo suficiente para encontrar peixe -, bebendo água do mar, com a condição de não esperar que se desidratasse, isto é, metendo-se nela imediatamente e não ultrapassando a dose de um litro por dia, em pequenas doses; além disso, o soro fisiológico dos peixes, que se obtém espremendo-os, fornece uma bebida suficiente; enfim, é possível recolher água doce, mesmo na zona dos alísios. Não faltavam objecções: pensava-se nomeadamente que certas zonas oceânicas centrais eram desprovidas de peixe ou abrigavam apenas peixes tão grandes e vivazes (tubarões, por exemplo) que não se via muito bem como poderiam ser capturados e mortos de uma canoa de borracha... mais pequena que eles. Na verdade, as douradas nunca faltaram. Do ponto de vista marítimo, além disso, a tentativa era assustadora, na exiguidade e instabilidade de semelhante esquife - marinheiro, sem dúvida, conforme a experiência de há muito demonstrou - mas de um desconforto absoluto. Onde arrumar o material ao abrigo da humidade? Como proteger o navegador? Como dormir? Nós, que nos queixamos das pontes que metem água... E, todavia, o doutor Bombard era um tuberculoso de longa data e um hepático. Este jovem interno de medicina de 27 anos, casado e jovem pai, notável músico, tinha, com efeito, passado longos anos num sanatório. Temos que concluir que foi bem tratado, pois quase atravessou a Mancha a nado por duas vezes e... a presente travessia, durante a qual emagreceu vinte quilos, deixou-o vivo. Aquilo de que mais sofreu foi a humidade - o vestuário rasgava-se-lhe como papel - e o facto de não poder andar, o que lhe deixou as pernas muito fracas - fraqueza aumentada, bem entendido, pelas carências alimentares, principalmente as de açúcar, que existe nos peixes em quantidade muito pequena. Os acidentes cutâneos e a diarreia sanguinolenta afligiram-no bastante. Desde fins de 1951 que trabalhava no laboratório do Instituto Oceanográfico de Mónaco. Tendo elaborado as suas teorias, pensou que a única maneira de as tornar dignas de crédito era demonstrá-las pessoalmente. Foi no Mediterrâneo, mar pouco abundante em peixe, que encontrou as maiores dificuldades, embora o seu companheiro de partida, o panamense Jack Palmer, que tinha feito sozinho a volta ao Mediterrâneo, o abandonasse em Tânger. Bombard, que aprendera os elementos necessários de navegação, continuou sozinho, sem emissor de rádio. Venceu a etapa Casablanca-Las Palmas em 11 dias (24 de Agosto-3 de Setembro), o que é, de certo modo, rápido. Voltou a partir de Las Palmas a 19 de Outubro; foi avistado por um avião, depois reencontrado a 10 de Dezembro, ou seja, 53 dias mais tarde pelo cargueiro britânico Arakaka, a 15° 38' de latitude norte e 49° 50' de longitude oeste, ou seja, a 700 milhas das Antilhas, e recusou os víveres oferecidos, contentando-se com uma refeição quente que teve, aliás, o efeito desastroso de o desabituar do peixe. A 23 de Dezembro, fundeou perto de Speighatown, nos Barbados, uma das Antilhas britânicas. Levava, pois, 65 dias de viagem. O doutor Bombard realizou muito cientificamente o estudo do seu comportamento durante a travessia, efectuando em particular numerosas análises da sua albumina, etc. Com base neste estudo, elaborou uma tese de medicina. Confunde-nos a coragem que precisou de ter para reembarcar no seu engenho, depois de ter passado um momento confortável (duche, refeição quente) a bordo do Arakaka. A princípio, aceitou ficar no cargueiro; mas, segundos após, recusou. Pensava, apesar dos 35 dias passados que demonstravam suficientemente a verdade da sua teoria, que o impacto do seu acto seria menor; mas, sobretudo, diz-nos ele com o seu encantador, com o seu leal e tão simples sorriso (como é de regra, este solitário era um tipo decente, sobretudo «via a cabeça com que ficaria certo marinheiro de Bolonha...» Ou seja, Bombard era um marinheiro, o que lhe interessava era a opinião dos marinheiros; fazia parte do clã. Marinheiro de recreio, sem dúvida, mas experimentado: levara a sua jovem mulher, à vela, da Mancha à Espanha, em viagem de núpcias... Tal como Gerbault, Bombard tem sangue bretão e foi na Bretanha que aprendeu a navegar. Sabia, portanto, o que fazia ao empreender a sua travessia, longamente preparada. Houve um jornalista que ousou censurar-lhe a refeição do Arakaka; pena não se poder apanhar esse sujeito, metê-lo 53 dias sobre uma bóia, a comer e a beber peixe, e oferecer-lhe, depois, durante 12 dias... o cheiro de uma refeição quente! Bombard teve a pouca sorte de encontrar 27 dias de calma na zona dos alísios, o que é muito raro. Teve também mau tempo e a sua canoa foi por diversas vezes inundada. Como toda a gente, cometeu a sua imprudência e sofreu um pequeno susto: deixando o Herétique com a vela amainada e a âncora flutuante em estamenha, resolveu tomar banho; a âncora encheuse, a canoa começou a navegar... e este campeão de crawl viu-se e desejou-se para a apanhar, o que só conseguiu graças à espontânea reentrada em funcionamento da âncora. Brrr... Sejam quais forem os incidentes que assinalaram a vida ulterior de Alain Bombard (onde a sua responsabilidade não é de modo algum incontestável; o caso da barra de Etel teve outros culpados; o de Coryphène também não é claro), a nossa admiração pelos feitos da travessia, pela coragem demonstrada, pela nobreza do objectivo, não pode ter reservas. Resta dizer que este exemplo não deve ser voluntariamente imitado. Seria ir exactamente contra as intenções do doutor Bombard repetir, sem objectivo nem competência científicos, a sua travessia. Jovens loucos, não imagineis que podeis dar a volta ao mundo numa canoa pneumática; toda a imitação não passaria de grotesca e a vossa morte apenas mereceria um encolher de ombros. Voltaremos a falar do Atlântico no fim do volume, a propósito das regatas transoceânicas solitárias de 1960 e 1964. Digamos ainda que o número de solitários de todos os tipos que o sulcam, torna hoje bastante difícil contar as suas histórias. Tentaremos apenas, no fim desta obra, traçar a lista dos que obtiveram êxito e são conhecidos. Por certo que faltarão muitos. Estas travessias não têm nada de original; quem quer que empreenda uma, não deve fazê-lo senão por sua conveniência. Para fazer sensação - mesmo a si próprio - é demasiado tarde. CAPÍTULO 3 - O PACÍFICO GILBOY, REBELL, WILLIS, KENIXI HORIE Mau grado o seu nome, o Pacífico nem sempre é um mar fácil. E, sobretudo, é imenso. Os solitários que nos nossos dias dão a volta ao mundo, atravessam-no de ilha em ilha e com os alísios. Houve, porém, três homens que agiram de maneira diferente. O primeiro foi Bernardo Gilboy que, sem se deixar impressionar pelas temíveis distâncias, decidiu fazer a travessia sem escala: 7000 milhas (13 000 quilómetros) sem parar, num barquinho de 6 metros! A parte a travessia do Cabo a Auckland, realizada - muito mais tarde - por Vito Dumas (7500 milhas), foi a maior volta jamais empreendida por um solitário; e Legh II, de Vito Dumas, media 9,55 m, o que da uma tonelagem-volume tripla ou quádrupla e uma segurança totalmente diferente. A outra travessia sem escala do Pacífico ao norte e no outro sentido, realizada em 1962 por um japonês, é nitidamente mais curta: 5100 milhas. Guilboy e o Pacific Bernard Gilboy, filho de um emigrante irlandês católico do condado de Mayo, William Guilboy (Bernard modificou a ortografia do seu nome, tal como Slocum), nasceu em Búfalo (Estado de Nova Iorque), em 1852. Alistou-se aos 17 anos e durante 3 na marinha de guerra, tendo depois navegado um pouco na mercante; encontrava-se no Atlântico quando soube da travessia de Johnson (1876). Quis logo imitá-lo, no Pacífico; e foi por essa época que se dirigiu, sozinho, da Colômbia britânica às ilhas Sandwich, o que dá já 2000 milhas. Ignora-se em que embarcação. Regressado a Buffalo por volta de 1879, tornou-se... merceeiro. Depois, partiu para São Francisco e empregou-se numa fábrica de sapatos, passando então a gozar de bastante desafogo económico. Foi por essa altura que se decidiu a efectuar a sua imensa travessia. Pacific, o barco que mandou construir em 1882 em São Francisco, por 400 dólares, media 6 metros de ponta a ponta, exactamente como, mais tarde, Elain; era ainda mais estreito, 2 metros contra 2,15 m. Pacific era, todavia, um pouco mais a sério que Elain, um barco absurdo equipado com uma vela de mau tempo (de quilha móvel), aberto a todas as vagas, feito para a pequena regata de estuário ou de bala. Pacific era totalmente pontado e o espaço livre sob a ponte (0,83 m, parece, de altura máxima sob vaus), estava dividido ao meio por um tabique vertical, o que fazia duas «câmaras» isoladas, estanques entre si, fechadas por dois «tampões» e tendo cada uma a sua escotilha coberta: um porão de 4 m à vante, uma cabina (se assim se pode dizer, pois não tinha para a iluminação e o arejamento outra coisa que a cobertura) de 2 m, à ré. Estava aparelhado em palhabote (mastro grande, mais ou menos ao meio do barco, mastro de traquete, mais pequeno, à vante) e cada um dos mastros descia da sua escora (passagem através da ponte) até à carlinga (quilha interior), através de um poço estanque, de modo que se o mastro se partisse na enora ou fosse levado pelo mar, o buraco feito na ponte não deixaria que a água entrasse. Na pequena câmara da ré, Bombard instalou, de cada lado da cama, uma prateleira, (tabuinha com rebordo), onde podiam arrumar-se na perfeição, de um lado o sextante, as cartas, os livros, etc, e do outro os víveres para a semana, retirados, todas as sextas-feiras, do porão. Neste - sem perder uma hora, pois o barco foi-lhe entregue a 3 de Agosto e ele queria partir a 15, festa da Virgem - estimou víveres para quatro meses. Quatro meses? Para vencer as 7000 milhas (duas vezes e meia o Atlântico) que o Pacífico conta de largo, de São Francisco à Austrália, pela rota normal (que vai primeiro buscar os alísios do hemisfério sul), era ser optimista demais; claro que o alísio permite traçar uma bela esteira, mas, fazendo a parte da zona de calma do «Pot-au-Noir», no Equador, 58 milhas por dia era uma bela média; veremos o que aconteceu. Para estes 120 dias, Gilboy tinha estivado no paiol da proa: 560 litros de água em 14 barris (4,5 litros por dia para 120 dias ou 2 1/41 por dia, o que é suficiente para 8 meses), 165 libras de pão em caixas soldadas (devia ser, portanto, antes bolacha), 24 caixas de 2 libras e meia de rosbife (de conserva), 24 frangos assados em caixas de libra, 24 salmões grelhados em caixas de libra, 24 pés de porco desossados em caixas de libra (pouco substancial!), 24 caixas de pêssegos, 24 caixas de leite, 25 libras de açúcar, 144 caixas de fósforos em 6 potes, 6 litros de álcool em garrafão, 40 litros de óleo de noz em 4 bidões, 20 litros de petróleo (para o fogão e o farol), 3 libras de café, 2 libras de chá, 3 libras de pingue, 1 barra de sabão branco (faria espuma com a água do mar?). Este Bernard Gilboy era um glutão. Outra coisa surpreendente: as suas conservas em caixa. Em caixa, em 1882? Claro, Appert tinha morrido há quarenta anos. A comercialização da sua ideia não tinha, todavia, ainda grande divulgação e os preços destes víveres eram por certo muito elevados. Não encontramos nada de semelhante - antes a velha carne de conserva - nos outros solitários, até muito mais tarde. A isto acrescentava ele um «pequeno material» judiciosamente escolhido: Três libras de pregos, Uma bomba de madeira, Um tubo de borracha para esvaziar as vasilhas, Martelo, machado, Fogão a petróleo, pequeno candeeiro a álcool; duas lanternas, Uma libra de velas de cera. Como instrumentos de navegação: dois compassos, um barómetro, um sextante, uma barquinha de hélice (coisa totalmente nova), um relógio de pulso, um relógio de pêndulo (de pêndulo?) Leia despertador sem dúvida, ou grande cronómetro), livros de navegação, a carta do Pacífico Sul. Mais uma espingarda, um revólver, munições, nove facas, um ancorete, uma âncora flutuante, 40 braças de cabo de 6,3 cm (de calibre, evidentemente, ou seja, para contar como hoje, de «20», o que é um bom cabo para barco tão pequeno, mas bastante grosso para as suas manobras); merlim e cabo fino de dois fios, um par de remos de 4 metros (que bastante deviam atravancar a ponte) e um pavilhão americano. E... um chapéu-de-sol! (Isto dedicado a J.-Y. Le Toumelin que perde os seus chapéus no mar.) Acrescentemos ainda um arpéu tridente (ou melhor, com 5 ou 6 dentes) para arpoar o peixe. Mas não levava linhas, o que constitui grave incúria. Este Gilboy sabe, no entanto, prever, é um marinheiro. Prevê... até ao ridículo. Embora nunca tivesse sido obrigado a fazer uma rápida meia volta, não gostava nada que se rissem dele. Assim, declarou aos curiosos que pretendia fazer um pequeno cruzeiro ao largo das «Cabeças», da grande baía fendida de Frisco. A 15 de Agosto, Pacific não estava ainda preparado. Só no dia 17, à tarde, ficou pronto e Gilboy decidiu partir no dia seguinte, 18, de manhã. Desta vez, o imponente carregamento tinha sido notado e havia uma multidão no wharf enquanto Gilboy dava o último retoque no aparelho. Alguém gritou: - Mas onde vai, afinal? - À Austrália. - À Austrália? Com isso? Sozinho? - Exacto. - E parte já? - Imediatamente. - Não faça isso! É sexta-feira! Não se sai para o mar à sexta-feira, todo o marinheiro sabe isso... - Sexta-feira ou não, estou pronto, parto! À uma da tarde içou a sua quadrangular latina, depois a mezena e, enfim, tendo-se afastado, a vela de giba. Aproveitando da hora do almoço, inúmeros empregados, operários, basbaques de todos os tipos, observavam-no. Quando puxou as escotas elevou-se no ar uma vibrante aclamação. Gilboy respondeu apenas: «Good bye!» e zarpou. Escreve no diário de bordo: «Aparelhado às 13 horas, pequena brisa de terra; muitas pessoas simpáticas no cais. A caminho!» Na verdade, contentou-se em sair para o largo e aí, como último retoque, contando, além disso, com um pouco de nevoeiro, fundeou por uma noite na baía de Lime Point; cozinhou então a sua primeira refeição no fogão de petróleo e dormiu tranquilamente, bem protegido da brisa de montante. Foi, portanto, a 19 de Agosto de 1882 que Gilboy partiu efectivamente. O início da travessia correu bem. Antes de encontrar o alísio do nordeste que sopra na zona tropical do hemisfério norte, Gilboy teve que atravessar uma zona de ventos variáveis. Esta mostrou-se clemente; após 4 dias e meio, Gilboy, tirando o ponto, viu que tinha percorrido 540 milhas, ou seja, 120 milhas por dia, 5 nós de média. Magnífico! (Havia uma corrente que o ajudava.) Ao fim de 12 dias, esta média anormal tinha caído para 70 milhas por dia, o que continuava a ser excelente. No entanto, Gilboy interrompeu a rota para dormir; o seu pequeno barco - muito antes de MarinMarie e dos seus traquetes gémeos e não tendo as qualidades únicas do Spray de Slocum - não podia navegar com vento favorável de leme amarrado. Gilboy governava toda a noite; ao nascer do dia, punha-se de capa, mas de modo nenhum da forma habitual: amainava a vela de giba e a mezena quadrangular, amarrava o leme direito, largava a sua âncora flutuante (um simples pano semelhante a uma vela redonda, na verga) e amarrava a boça desta, de través, no barco. O barco, assim ancorado (pelo convés, o ponto de menor bordo livre, praticamente o meio) permanecia atravessado a vaga, ao que diz Gilboy; mas parece que, sob a acção da quadrangular, o Pacífico se apresentava antes a três quartos, isto é, em linguagem marítima, a cinco ou seis quartos do vento. Este andamento, que conservou com os alísios, é extremamente curioso; teria sido interessante saber se Voss, o apóstolo da capa com âncora flutuante, vinda da vante, quase sem pano, conhecia em 1901 esta experiência aparentada (Voss partiu de Vancouver). Uma coisa é certa: o dispositivo funcionou per-feitamente. Gilboy penetrou no alísio de nordeste nos primeiros dias de Setembro. Bela vida, com vento pela popa; Gilboy dispõe as duas velas qua-drangulares latinas no Pacific em tesoura, isto é, a quadrangular de uma amura (de um lado) a mezena do outro, andamento para a qual o aparelho do palhabote está perfeitamente indicado. Tem que governar o leme, pois o barco não mantém a rota, assim, sozinho; mas Gilboy obtém, mesmo interrompendo-se para dormir, esteiras diárias de 70 milhas. Famoso! Famoso? De modo algum. Na verdade, o «Pot-au-Noir» que terá de atravessar vai obrigá-lo a descer consideravelmente a média. De momento, Gilboy sente-se por completo à vontade. Até 8 de Setembro não viu nem peixes nem aves; por fim, avistou algumas gaivotas. A 12, grandes emoções: primeiro, Gilboy foi brutalmente roubado à sua sonolência por um choque violento. Um recife? Impossível naquele sítio! Então, o quê? Uma tartaruga! E tão pouco assustada ficou que nem sequer fugiu; Gilboy desferiu-lhe dois golpes de arpéu, mas falhou. Tanto pior; voltou a pôr as velas em tesoura e fez boa rota. Brraum, outra vez! Outra tartaruga? Não, uma grossa prancha entre duas águas sobre a qual Pacific passou inteiramente, roçando e saltitando; por felicidade, abordou-a bem de través! Se fosse por uma das extremidades, teria sido o fim da aventura. Então já nem com os alísios se pode estar tranquilo? A viagem continua normal: navios avistados ao longe, baleias já demasiado familiares e um pouco inquietantes, bandos de marsuínos. Enfim, a 20 de Setembro os primeiros peixes; Gilboy arpoa um bonito (pequeno atum). Só então se apercebeu de que esquecera... o sal! Se as conservas não necessitam dele, o peixe, esse é insípido. Com grande dificuldade, expondo água do mar ao sol tropical, Gilboy conseguiu obter um pouco... que salvou no momento exacto de uma vaga malfazeja. O peixe é agora abundante, acrescenta os víveres e, sem dúvida, evita o escorbuto: chocos, bonitos cuja carne Gilboy acha demasiado seca e o enfastia, exocetos e outros peixes-voadores mais pequenos. Eis a zona dos ciclones; são ainda demasiado bebés, não muito bravos; mas, como vinham a direito, do sudoeste, Gilboy achou completamente inútil bordejar contra eles e pôs-se de capa. O mais aborrecido é que essas rajadas indicam o fim dos alísios. Tinha a partir de então, que atravessar a zona das calmas equatoriais, o «Pot-au-Noir» onde reinam as desesperantes brisas variáveis, nulas durante horas, soprando daqui, dali, abrandando e, de repente, transformando-se em violenta rajada e chuva. Depois, é outra vez o assador imóvel, ou melhor, a caçarola de estufado. Gilboy arde em impaciência. De vez em quando, encontra uma dis-tracção. Um dia, durante um desses aguaceiros, pôs-se de capa. Pacific, quase imóvel, atraiu a atenção de um grande quelónio. Enquanto a tartaruga se entretinha ao longo do bordo, o marinheiro, que nada pudera fazer contra a primeira com o arpéu, procurou o momento favorável para a agarrar pelas barbatanas do mesmo lado e a puxar rapidamente para bordo. O desejo de possuir aquela presa duplicou-lhe as forças. Num instante, o réptil foi embarcado e decapitado; Gilboy aproximou-lhe o pescoço de um embono para que o sangue corresse direito para o mar. Menos de meia hora depois, atraído pelo sangue, um monstruoso tubarão martelo surgiu à popa. Gilboy não se intimidou. Vendo-o aproximar-se muito do bordo começou a disparar tiros de revólver de cada vez que o seu dorso emergia. Os disparos não intimidavam de modo algum o monstro. Então, sabendo que nunca poderia matar semelhante animal com o seu brinquedo, Gilboy preparouse para lhe desferir golpes de arpéu. Mas, chegado a um metro do bordo, o esqualo parou. Três ou quatro peixinhos, os seus «pilotos», surgiram de debaixo do seu ventre, foram reconhecer a querena do Pacific e regressaram com as informações. O tubarão obliquou para a popa, passou quase a tocar o leme, à vontade, sem parecer nada apressado. Entretanto, tendo pegado no arpéu com duas mãos e ao mesmo tempo na coragem - o senhor - depois de deus - de Pacific procurou picá-lo por várias vezes. A pele do tubarão era de tal maneira dura ou o desdém do monstro tão completo que era positivamente perder o tempo continuar a querer perturbá-lo. O vento e o mar tinham acalmado; sempre vigiando o seu temível companheiro, Gilboy preparou-se para recolher a âncora flutuante, a fim de continuar a rota. Depois de ter ultrapassado o barco, o tubarão descreveu um círculo perfeito, imobilizou-se um momento no local onde parara pela primeira vez e picou de novo para a popa de Pacific, cujo leme roçou de tal maneira que quase o demoliu. A seguir, durante algum tempo, o tubarão mostrou-se na esteira, mas como pareceu repugnar-lhe aumentar a velocidade, a barbatana reveladora acabou por desaparecer para grande satisfação de Gilboy. Aliviado, regressou à tartaruga, agora exangue, extraiu-lhe a quantidade de carne suficiente para fazer uma boa sopa e lançou o resto pela borda fora, pois não tinha, sem sal, qualquer meio de conservar o produto da sua pesca. E foi de novo a calma desesperante, entrecortada de aguaceiros. A situação manteve-se por 29 dias. A humidade era de tal ordem que Gilboy tinha que conservar uma lanterna acesa junto do seu «pêndulo», que enferrujava! Se não tivesse tomado a precaução de guardar as bolachas em caixas soldadas, aquelas ter-se-iam irremediavelmente perdido com o bolor. Gastou, portanto, 29 dias para vir de 9º 2' N a 5º 5 ' N, ganhando assim menos de 4º na latitude (240 milhas); pior: a corrente que impele para leste reenviou-o, numa distância de 8º (480 milhas, 890 km), para a América. Mas, enfim, a 20 de Outubro o vento virou a leste e a 22 fixou-se em este-sudeste, boa brisa. É o alísio do hemisfério sul, o alísio que deve, sem quebra, conduzir bem pela popa, o Pacific até à Austrália. Era necessário recuperar o tempo perdido, esse mês inteiro que não proporcionara qualquer rota útil, antes, ao contrário, uma ligeira regressão (veja a carta). Na realidade, Gilboy teve sorte: encontrou o alísio de sudeste 5º a norte do Equador; regra geral, costuma ser encontrado mais abaixo. De qualquer modo, era agora preciso «acelerar». Gilboy permitia-se apenas 3 ou 4 horas de sono, de capa, (claro que dormita além disso, com o leme amarrado, dando uma olhadela de vez em quando, como fará mais tarde). Sente-se um pouco inquieto: já dois meses vão passados, ou seja, metade do tempo previsto, e nem sequer cumpriu um terço da rota. Mesmo descontando um mês de calma que não se reproduzirá mais, serão precisos, à média obtida com estas calmas, mais de dois meses, provavelmente três, para atingir a Austrália. Olá! É tempo de vigiar os víveres. Gilboy limita-se a duas refeições por dia, o que deve ser penoso para este glutão apreciador de boa cozinha. Felizmente que, todas as manhãs, pequenos peixes-voadores, jazendo na ponte, melhoravam a ementa normal. A 27 de Outubro, mais ou menos a 4º sul, Gilboy faz o seu inventário. Restam-lhe 75 libras de bolacha das 165 que levara, 360 litros de água dos 540. Quanto à água não estava mal; quanto à bolacha e aos outros géneros que tinham igualmente diminuído em mais de metade, Gilboy devia vê-los no ponto crítico. Seria o efeito eufórico da sua bela navegação nos alísios? O certo é que qualquer coisa se passa, difícil de compreender: a 17 de Novembro, Gilboy encontra, enfim, um navio, o palhabote de 3 mastros Tropicvance; oferecem-lhe víveres... e ele recusa! Aceita unicamente alguns frutos. Sem dúvida que este homem que depois mostrará uma vontade próxima da teimosia jurou a si próprio atingir o seu objectivo pelos seus próprios meios e quis manter o juramento. Mantê-lo... ou quase, pois recebeu bananas, laranjas, limões que lhe vão ser preciosíssimos contra o escorbuto. Então, se há um «quase», não se compreende muito bem. Enfim, o problema é de Gilboy e não nosso. O grande veleiro confirma ao navegador o seu ponto, que é exacto: conforme Gilboy sabia, tinha passado a umas 100 milhas a noroeste das Marquesas e no dia seguinte estaria um pouco ao norte das ilhas da Sociedade. Não precisaria de alterar grandemente a direcção para passar por Matahiva, Bora-Bora ou mesmo Tahiti. Mas não; tinha dito que iria sem escala e irá! Por outro lado, não era o momento de parar: fazia jornadas de 90, 100 e 106 milhas à barquinha, o que, na realidade, dá ainda mais, já que a correspondente acrescenta umas 15 a 20 milhas por dia. Navegar, navegar! Parece até que Gilboy faz questão em não reconhecer nenhuma terra, em passar cuidadosamente fora de vista ao norte das últimas Tuamotou, no extremo norte das ilhas da Sociedade e ao sul da ilha Flint. Só os tubarões o preocupam. Estes adquiriram o detestável hábito de se aproximarem desde que Gilboy se preparasse para dormir, um pouco antes de nascer o dia. Rodeando a proa, põem-se de lado e muitas vezes coçam o ventre no barco com tanta força que a rude carícia desperta o navegador em sobressalto. O objectivo desta manobra é comer os pequenos peixes que vêm refugiar-se sob os flancos do Pacific. Perseguem as suas presas do nascer ao pôr-do-sol. De dia; mantêm-se ao largo, mas sem nunca perder de vista o barco. É com manifestações de terror que os peixes abrigados sob a querena os vêem regressar; apertam-se então uns contra os outros, sobem à flor da água a tocar as paredes do barco, o que lhes permite fugir à voracidade do inimigo. Gilboy bem se esforçou, mas, apesar dos golpes de arpéu e das balas de revólver, não conseguiu desembaraçar-se deste perigo; quando muito, pôde conter o arrojo dos esqualos, vendo-o ameaçador. Os monstros pareciam dar-se conta de tudo e recomeçavam os seus assaltos desde que o soubessem a repousar! Como a vida se lhe tornava, assim, intolerável, Gilboy prendeu à cana do leme um manequim (feito de quê?) vestido com uma camisa velha, estratagema com que, por vezes, conseguiu afastar as suas indesejáveis visitas. E pronto. O essencial era navegar; Gilboy corre nos alísios «como um torpedeiro», diríamos nós hoje. Tal como desprezou Tahiti, despreza o arquipélago de Cook; mas, a 8 de Dezembro, é obrigado a ver terra, pois não tem qualquer meio de passar através do arquipélago dos Tongas sem os ver. Terra! Primeiro Eoa, depois Cattow. Pacific passa entre as duas, a costear a primeira. As ilhas dão um pouco de mar calmo, o que não é desagradável; será este todo o benefício que Gilboy aproveitará. Navegar, navegar! Após 110 dias de mar, o solitário nem sequer se deixava tentar por uma escala! Poderemos sentir a força de vontade e também de fé que isto pressupõe? A 13 de Dezembro, o Pacific corta os 180° de longitude, o antimeridiano de Greenwich. Gilboy tem que subtrair um dia ao calendário e que se regozijar: está apenas a 1430 milhas da Austrália (cabo Sandy); se mantiver o mesmo andamento, já não terá um mês de navegação, antes três semanas, duas talvez. Os víveres estão um pouco em baixo, mas chegam com certeza. Precisamente nesse dia, o alísio está muito fresco, sob céu coberto. Será que estas reflexões agradáveis dão a Gilboy uma distracção? Eis que se aproxima uma vaga cheia de espuma, que se ergue por baixo da ré do Pacific. Gilboy faz - julga fazer - a manobra de leme habitual que lhe apresentará a popa bem direita e evitando-a assim, tragando a sua espuma inofensiva. Qual quê! A vaga transforma-se num enorme fervilhar de espuma que submerge tudo, faz virar o barco como um brinquedo e lança Gilboy ao mar. Ei-lo sob uma camada de água verde, transparente. Vem à superfície. A sotavento, o Pacific está de quilha no ar! De quilha no ar em pleno oceano. Negra e avermelhada, toda coberta de percebas e de algas, esta quilha e o cavername do barco emergem das vagas para de novo pesadamente se afundarem nelas e logo reaparecerem. O mesmo acontecera a Johnson, Gilboy sabia-o. Mas Centennial era um dóri, leve, desmastreado nesse momento (pois o seu mastro móvel havia sido arriado durante o mau tempo); Pacific tinha um peso muito maior. Gilboy estava também pesado: havia, nesse período algo brumoso, posto o oleado por cima de uma grossa flanela que se encheu de água. O relógio... o relógio tem-no no bolso. Gilboy nada vigorosamente (sabe crawl), agarra-se com uma mão ao barco e com a outra começa a despir-se. Operação nada fácil, pois os botões do oleado resistem. Bom! Nada de perder a cabeça. Gilboy consegue tirar o oleado, todo o seu vestuário; consegue não o largar, enrolá-lo, guardando o relógio no interior. Que fazer da trouxa? Seria preciso uma corda para a amarrar. Gilboy pensa no arinque da âncora flutuante; prepara-se para mergulhar e o procurar, habitualmente na vante. Mas eis que lhe aparece um pouco mais longe, na crista de uma vaga; o seu arinque está amarrado na ponte. Gilboy nada, agarra-o e ata a sua trouxa. Metodicamente. Bom! Agora é preciso endireitar o barco. Infelizmente, o mar não está... suficientemente agitado. Sim, se as vagas fossem poderosas, uma delas, um pouco ajudada, podia voltar a embarcação apanhada de través (isso acontecerá a Voss, com um barco muito maior). Mas o mar era apenas um mar de alísios, regular, com rebentações demasiado raras e modestas para que delas se pudesse esperar socorro. Tinha que agir por si próprio. Era preciso que o pobre homenzinho nu (felizmente não existiam tubarões à vista; Gilboy nem sequer pensa nisso) com os seus braços, as suas pernas, uns 75 quilos e músculos enfraquecidos pela inacção, as privações (até certo ponto) e a estada na água se desembaraçasse sozinho. Gilboy pega no arinque da âncora flutuante, amarra-o no meio do bordo que se encontra a barlavento, fá-lo depois passar por cima da quilha até ao outro lado. Aí, com os pés sobre o bordo a sotavento, fazendo uma espécie de mola de corda, dá um esticão com todo o seu peso, com toda a sua força, cada vez que se apresenta uma vaga um tanto alta. Nada mexe. Apenas o casco oscila um pouco: a mastreação, o velame, fazem de quilha. Johnson diz ter gasto uns vinte minutos para obter resultado. Gilboy, esse teve que lutar uma hora e os números que dá não são nunca exagerados. Uma hora! A sua terrível vontade, a sua obstinação, a sua teimosia não são demais. Enfim, o casco roda um pouco com um esforço melhor aplicado numa vaga mais alta. Depressa, depressa! A correr, Gilboy desce ao longo do bordo; a quilha atinge 45°; não desistir, não desistir! Gilboy trepa por ela acima, faz peso com todo o corpo, apoia-se na ré, alando o cabo. Vitoria! Lentamente, majestosamente, o casco roda, os mastros aparecem, erguemse em parte. Só: são demasiado pesados para a flutuabilidade daquele casco meio cheio. Na verdade, a cobertura da câmara da ré estava aberta e os «tampões», as duas válvulas automáticas que teriam tornado estanque a grande câmara não estavam colocadas. Depressa! Não há tempo para repousar: de borco, Gilboy penetra até à cinta na câmara cheia de água e encontra uma das nove facas; regressa ao mar, vai aos rizes (amarrações) das enxárcias de sotavento e corta-os; depois, dá a volta, torna a penetrar na câmara, rastejando, corta as enxárcias a barlavento do mastro grande e com um só gesto, pronto e seguro, consegue arrancar este mastro da sua enora e lançá-lo à água sem estragos. Depois, o mastro da mezena; é mais fácil. Borda fora! Uf! O casco está agora quase direito, e já não corre o risco de adernar de novo. Gilboy volta para a água, faz com os mastros e as antenas uma espécie de feixe tão bem amarrado quanto possível que empurra para o largo, mantendo-o porém, ligado ao barco por um cabo. Este feixe, flutuando entre duas águas, não oferecendo resistência ao vento, desempenha o papel da âncora flutuante, permite ao barco - que, esse sim, sente um pouco o efeito do vento - amarrado ao convés, manter-se bem de través e quase direito. Bem! Continuemos, pensa ele. Mais um pouco de método! Rastejando outra vez ou, pelo menos, evitando pôr-se completamente de pé, Gilby reembarca e põese à bomba. A bomba da madeira tem um débito ridículo. O navegador procura qualquer coisa com que possa escoar. Escolhe uma caixa que contivera 25 libras de açúcar. Este homem enfraquecido, esgotado... Esgotado? Ora! Tranquilamente, poderosamente, sem movimentos inúteis, escoa durante horas 12 quilos de água, 12 quilos de água, 12 quilos de água... A noite vem. Gilboy continua a escoar. Na verdade, o mar não se mostra verdadeiramente mau. Está, porém, cavado o bastante para entrar, por momentos, por cima da ponte, pela escotilha que é necessário deixar aberta para escoar, e encher o barco, parece a Gilboy, mais depressa do que ele o esvazia. Desanimar? Ainda não é altura. Se a água sobe, Pacific naufraga. A bomba humana continua, aplica-se, acelera. Por volta da meia-noite está a ganhar, sem dúvida nenhuma a ganhar. Ganhou! O bordo livre, a altura acima da água, é agora suficiente para zombar das vagas. Gilboy repousa um momento. Tacteia em volta. Desastre: o estojo do compasso está vazio. Este foi levado pelo mar. E os compassos de reserva também. Segundo o ponto que acabava de tirar, Gilboy estava apenas a 1430 milhas da Austrália. Apenas... Como navegar até lá sem compasso? Sem direcção precisa, nos dias de céu encoberto, não seriam 1430 milhas, mas, com muita sorte e a popa ao alísio, talvez muito mais... E Gilboy está quase sem víveres pois... pedaços de bolacha flutuavam nessa água que despejou. Bom! Bom, disse mais uma vez para consigo este homem de ferro. Tudo se há-de arranjar. Tudo se há-de arranjar. Para já... Para já, a madrugada de 14 de Dezembro de 1882 encontra os porões de Pacific perfeitamente secos, já que Gilboy continuara a escoar durante toda a noite. Quase imediatamente, o dia, o sol. Ponhamos tudo a secar. Tudo? Pouca coisa... Ah, o vestuário, com o relógio? Estragado? Há-de reparar-se. Gilboy ala a âncora flutuante. A trouxa tinha-se desprendido. Não havia mais relógio. Nem mais longitude naquela rota do Pacífico que só se faz em longitude (Gilboy acha-se no mesmo caso que Moitessier, de que falaremos mais longe, mas numa confusão de ilhas que não pode evitar em bloco nem pelo norte nem pelo sul). Também mais adiante veremos isto. Para já, pôr a secar as velas. A recolher a bordo, primeiro, com os mastros. Mais um desastre: o mastro grande, a quadrangular latina partiram à deriva. Resta apenas o pequeno mastro da mezena. Com a sua vela insuficiente. Veremos, veremos. A âncora flutuante? Sim, esta não desapareceu. Os víveres? Antes de os inventariar enquanto o sol seca os objectos na ponte e os cobre de uma camada de sal, é preciso antes do mais reestivar os barris de água doce que flutuam perigosamente, ameaçando estalar o bordo, o que seria o fim. Pronto! E agora? Comer? Não há tempo. Só uma bolacha. E depois? Voltar a colocar o mastro de mezena na vante. Fixá-lo bem na sua enora. Refazer os rizes (amarrações-tensoras) das suas enxárcias. Colocar outra vez as adriças, aprontar a vela. Navegar? Como? Não havia leme! Gilboy, fatigado, desesperadíssimo, senta-se, desencorajado. Vamos, isso não é nada! Um remo. Hum, é muito fraco, partir-se-á... Será preciso reforçá-lo, juntá-lo a uma antena (peça de madeira) de 3,50 m, prevista para servir de tangão. Gilboy afadiga-se, coloca o leme Improvisado, fixa-o com um estropo; o resultado é bom, o leme funciona bem, pode mesmo amarrar-se em posição fixa. E mais eficazmente, porque o velame só está na vante. O sol baixa. Gilboy quer navegar. Quer ver a velocidade que atingirá com aquele farrapo ridículo. Está, porém, morto de sono. Bom! Amanhã também é dia! Tenta pôr-se de capa (ou melhor, de través, como é seu hábito) com a âncora flutuante: impossível. A quadrangular latina era necessária para obter este equilíbrio. O barco, ora ruma para um lado, ora para o outro. Gilboy tenta a capa morta (sem velame), pela vante, pela popa. Não resulta; Pacific guina, corre o risco de adernar de novo. Vamos! Ainda é cedo para dormir. Há que trabalhar sempre. Há que improvisar uma quadrangular latina. Com quê? Para mastro, o segundo remo: é demasiado curto para ser eficaz na antiga enora do mastro grande; Gilboy implanta-o quase à ré na escotilha da sua câmara. E pano? Um boneto (espécie de vela de giba ou suplementar) que quase nunca serviu, poderá dar uma vela de ré que se revelará preciosa; na verdade, com a mezena e esta vela de ré, Pacific capeia de modo muito conveniente. Gilboy dorme. A 15 de Dezembro, de manhã, está bom tempo; tudo seco. Gilboy recolhe a sua âncora flutuante e retoma a navegação. O velame improvisado mostra um razoável equilíbrio. Mas é demasiado pequeno. Pacific arrasta-se. Como estão longe as belas esteiras diárias de 100 milhas... Talvez mais tarde... Comer. O fogão trabalha. Enfim, uma refeição quente. Gilboy descontrai um pouco. Vai reflectir tranquilamente. Há peixes que brincam em volta do barco. Olha, um espadarte! Mas que foi que lhe deu? O animal vira-se, lança-se sobre o barco e espeta nele o seu esporão; tão violentamente que o barco se agita. E continua a agitar-se com as sacudidelas que o animal dá para se libertar. Gilboy ri. Mas não por muito tempo. Ouve um ruído estranho, que aumenta. Que será, agora? As latas de conserva do porão entrechocam-se. Flutuam! Gilboy precipita-se para a grande escotilha e vê que a água atinge já 30 cm de altura. O esporão do espadarte tinha mesmo trespassado o bordo. A câmara da ré? Não, está seca; desta vez, os tampões estavam no seu lugar. Gilboy bombeia, bombeia. Ganha. Distingue enfim o jacto que brota do orifício. Pega em estopa, mechas de candeeiro, um pedaço de tecido e tapa o buraco. O buraco está quase obstruído, deixando apenas passar uma ressudação que somente prolongará a tarefa de bombagem, feita à ré e sem largar o leme. A 21 de Dezembro, outro espadarte. Este embaraça-se na linha da barquinha que, a reboque, mostra o caminho percorrido. Felizmente que, apesar de danificada, não se rompeu; a barquinha estava salva. Graças a esta barquinha, Gilboy navega correctamente ao longo (em teoria, pois não o vê) do trópico. Curioso! 21 de Dezembro é exactamente o solstício de Verão neste hemisfério. Gilboy terá o sol mesmo no zénite ao meio-dia. Exacto. Sobe 2º ao Norte deste paralelo. E a 24... um ponto, uma posição precisa em absoluto, um ponto por levantamento: 7 milhas ao norte, a ilha de Fern (ou Fearn). Até que enfim que se orienta! Gilboy está a 1230 milhas da Austrália. Navega lentamente com velame improvisado. Já não tem compasso. E os víveres? Das bolachas, nem rasto: haviam-se acabado na véspera. Restam-lhe 12 libras de carne de conserva, 2 litros de álcool, 60 litros de água. No total, não o bastante, por certo, para percorrer 1230 milhas com meio velame. Mas eis que surge a terra. Sem dúvida que a ilha Fern estava então desabitada. Mas, de qualquer modo, não tinha outra coisa a fazer senão aproveitar de imediato o vento de noroeste; assim, Gilboy terá a certeza de (e será obrigado a) atingir ou as ilhas Loyalty ou a Nova Caledónia, terra grande, mesmo que o vento lhe pregue qualquer partida. Gilboy pensa: talvez encontre um navio que se dirija para a Nova Caledónia ou que de lá venha. Reabastecer-me-á, dar-me-á mesmo material para fazer um mastro grande e uma vela, e, poucos dias depois, estarei na Austrália. «Sim. Mas se não encontrar nenhum navio? Tanto pior para a minha aposta; farei escala em Nouméa.» Era o bom senso; Gilboy rumou, portanto, a oeste-noroeste, quase ainda com vento pela popa, mas dando a outra amura. Bom senso? Não. Se Gilboy tivesse verdadeiramente querido fazer escala, teria rumado a noroeste. Na verdade, faz batota consigo próprio. A sua velha ideia mantém-se: mesmo moribundo, conservar a sua determinação, realizar o seu programa, ligar numa etapa a América à Austrália com um «navio» de 6 metros. A ceia de Natal foi um pouco magra: uns pedaços de carne de conserva regados com álcool e água. As 16 horas, a ilha de Mathew, vulcânica, desabitada e desolada, apareceu-lhe na frente. A parte sul forma uma ilhota separada, mas ligada à terra principal por um recife de cerca de 6 km de comprido. Gilboy só deu conta disso quando estava já muito perto de terra, decidido a passar entre as duas ilhas. Viu-se obrigado a navegar de bolina cerrada para dobrar a ilha pelo norte, desvio enorme que lhe custou uma centena de milhas, pois os recifes prolongavam-se por 8 a 10 milhas sob a água e era muito perigoso continuar de noite. A 27, quando acordou, Gilboy viu que o seu barco estava ancorado pela ré sobre a barquinha. A frágil hélice, bloqueada pelos corais desempenhava o papel de âncora! A âncora flutuante, essa tinha passado para sotavento, ou melhor, para sotacorrente e puxava tudo. O Pacific achava-se a 8 milhas da costa. Apesar de todos os seus esforços para libertar a barquinha do recife, Gilboy não o conseguiu; a linha acabou por se partir, novo desastre. Gilboy está agora sem compasso, sem relógio, sem barquinha, sem qualquer meio de controlar o caminho percorrido! A única coisa que pode conhecer é a latitude, com o sextante. A 28 de Dezembro, ao cair da noite, depois de ter navegado com boa velocidade, todo o dia, para oeste, Gilboy não perdera ainda a terra de vista. Como estava apenas a 5 milhas dela, em vez de se pôr de capa para repousar, continuou a rota na esperança de se libertar de inquietações que já não podia suportar mais. Pelas 8 horas, com tempo encoberto, ouviu, de repente, um estrondo. Recifes? Não distinguia nada na obscuridade. Então, pensou que o ruído era o das ondas, rebentando na margem. Depois de se ter posto de capa, começou a velar mais cuidadosamente. Continuando a nada ver, pôs de novo o Pacific em marcha; mas, ao fim de alguns minutos, mesmo de frente, os escolhos! Tinham aparecido tão bruscamente que Gilboy não acreditava nos seus olhos. Fechou-os e voltou a abri-los para ver se não se teria enganado. Mas o tempo urgia, o perigo estava iminente. A primeira ideia de Gilboy foi virar de bordo, vento pela proa, e tentar contornar os escolhos; julgando-se, porém, demasiado perto, tomou a heróica decisão de correr o risco de passar, custasse o que custasse, com as ondas e o vento pela popa, sobre o recife ou por entre as rochas. E manobrou a direito. Vencendo a barra, Pacific quase adernou; a ponte foi varrida por um vagalhão que arrebatou a âncora flutuante. Felizmente que muito pouca água penetrou no porão, e a vaga seguinte depôs o barco para além dos recifes, em água calma, com 8 pés de fundo. Com um sentimento de intensa satisfação, Gilboy recolheu a âncora flutuante depois de ter fundeado, achando que já se tinha arriscado bastante nessa noite. Um momento antes de ouvir o ruído dos recifes, Gilboy tinha visto abater-se sobre a ponte um grande peixe-voador de que se apoderou com a mão direita, encantado com a presa de que tanta necessidade tinha. Mas, ao passar o exoceto para a mão esquerda, a fim de abrir o habitáculo e o guardar, uma brusca convulsão do animal obrigou-o a largá-lo e, antes que pudesse apanhá-lo de novo, o mar recuperara o seu bem, enquanto que a voz ameaçante do recife cobria uma praga de despeito. A 29, pelas 2 horas da manhã, Gilboy despertado em sobressalto pelo roçar do seu barco no fundo, saltou da tarimba e verificou que, como o mar baixara, Pacific estava a pontos de encalhar. Depois de ter levantado a âncora, e impelindo o barco com uma antena (vantagem das embarcações pequenas!) atingiu água mais profunda, onde encontrou areia. Como a lua brilhava muito, pôde dar conta do que fazia. Uma vez em lugar seguro, ancorou de novo e conseguiu depois, dormir até ao dia. O nascer-do-sol encontrou-o aparelhado em tempo claro, agradável e com vento favorável. Durante 2 milhas navegou por cima de uma formação de coral que se estendia 8 ou 10 milhas ao largo da costa. Somente a esta distância vogou em água profunda e continuou todo o dia a acompanhar a ilha Mathew sem qualquer incidente. Quando a noite caiu, julgou prudente pôr-se de capa. Só no dia seguinte, não tenho vencido, durante toda a semana, senão 170 milhas para noroeste, Gilboy avistou, à tarde, a extremidade ocidental da ilha árida, ao longo da qual não tinha visto o menor coqueiro, a mais pequena aguada. Nada além de lava por toda a parte. Descobriu para lá da ponta extrema, um recife que a prolongava a perder de vista. Chegado em frente das últimas rebentações, viu o coral desaparecer gradualmente sob a água com fundo de 10 a 12 pés. Como na véspera, Gilboy preferiu pôr-se de capa, em vez de se expor a surpresas, tanto mais que tinha necessidade de repouso. Eram 8 horas da manhã do dia 31 de Dezembro, um domingo, quando Gilboy retomou o mar, a partir de agora livre de recifes e de baixios. Pelas 10 horas, com brisa moderada, uma dessas pequenas aves negras que surgem ao largo, a curta distância da terra, pôs-se a voar em volta do barco, tentando pousar no mastro ou no pique; mas os movimentos demasiado bruscos da embarcação não lho consentiram. Gilboy tinha-a já perdido de vista quando, de súbito, a sentiu sobre a sua cabeça. Manteve-se quieto por momentos, reflectindo no regalo que não seria se conseguisse apanhá-la; na verdade, o pouco de provisões que lhe restava não lhe permitiam já comer, satisfazendo a fome. A despeito de toda a vivacidade do seu gesto, a ave voou. Era a primeira desde a sua partida que se atrevia a pousar a bordo. Mas outras surgiram e Gilboy escreve no seu diário: «Pareceu-me estranho que, rareando as minhas provisões, quatro aves viessem pousar sobre a minha cabeça, coisa que nunca havia acontecido. Apoderei-me de três, que comi. A quarta, abatida com um tiro de revólver, desapareceu no mar. Essa caça feliz levantou-me o moral e impediu-me de perder toda a esperança de ser socorrido de uma maneira ou de outra, conquanto, muitas vezes, me parecesse que a morte estava próxima...» A 3 de Janeiro de 1883, quanto a víveres, Gilboy possuía apenas 4 libras de carne de vaca, 1/4 de álcool e 10 galões de água doce. Nesse dia, o alísio começou a soprar mais fresco, virando a norte, e o mar tornou-se tão agitado que o marinheiro teve que se pôr de capa com a âncora flutuante. Se isto se mantêm, pensa, será a catástrofe: na verdade, desviado para o sul, incapaz, depois, de subir contra o alísio quando este regressasse ao seu lugar no sector leste, Gilboy já não poderia atingir a Nova Caledónia. A situação manteve-se. Manteve-se durante quatro dias; no dia 6, ao meio dia, Gilboy encontrava-se a cerca de 22° 18' Sul - isto é, no trópico outra vez, bem ao sul da grande ilha. Quanto à longitude... estava reduzido às conjecturas. Segundo o seu cálculo, encontrava-se, tendo navegado 227 milhas para sudoeste, durante a semana, aproximadamente a 168° Este, portanto, ainda «à frente» de Nouméa. Em teoria, não era demasiado tarde para atingir este porto. Mas a rajada do norte foi substituída por calmas e Pacific continuou a derivar a barlacorrente com brandura, para sudoeste, depois para oeste, a seguir para noroeste, dando calmamente a volta à terra prometida. Entretanto, Gilboy tinha fome. Já só podia alimentar-se de aves. No domingo, 7, passando a cabeça pela escotilha, avistou uma que, pousada à ré, o olhava sem susto. «Mantive-me imóvel, diz ele, aguardando um momento de distracção da sua parte para a capturar. Instantes passados, ela voltou a cabeça para se catar e foi então que a agarrei. Era da mesma espécie daquelas de que já falei, mais ou menos do tamanho de um borracho. Esfolei-a, pensando que assim teria melhor gosto; aliás, era esse o único meio de que dispunha para lhe tirar todas as penas. Mas pouca coisa restou da ave, depois de cozida. Fiz com ela uma sopa, um regalo. Tenho hoje duas libras de carne de vaca, um pouco de álcool e cerca de 7 galões de água. Como a brisa parece não querer abrandar, continuo de capa.» A 10, depois de ter esvoaçado algum tempo em volta de Pacific, uma ave marinha pousou também na cabeça de Gilboy, que se apoderou dela; a 11, esmola idêntica que Gilboy conservou para o pequeno almoço do dia seguinte. A 13, come as suas últimas 60 gramas de carne. Desde o dia 7 que vivera com 2 libras de carne de vaca, as três aves e alguns peixes voadores de duas ou três polegadas, adicionando à água uma pequena quantidade de álcool. Sentindo as forças a abandonarem-no, Gilboy, todas as noites, por uma questão de segurança, punha-se um pouco mais cedo de capa. Como nem sempre tinha tempo de recolher o seu remo, mantinha-o amarrado ao bordo com uma ponta de linha; não corria, assim, o risco de o perder quando qualquer incidente o obrigasse a abandoná-lo precipitadamente. No dia 15, achou prudente substituir a amarração já usada por uma mais forte. Tranquilo neste aspecto, deixou o remo na água quando se pôs de capa ao pôr-do-sol. Após ter lançado a âncora flutuante e regulado as velas, verificou, ao regressar à popa, que o remo tendo deslizado para fora da amarração, feita de um cabo demasiado rígido, havia desaparecido. Gilboy começou a pensar se iria continuar a perder assim tudo o que lhe restava e no modo como, a partir de então, governaria o barco. Ao nascer-do-sol, no dia seguinte, o nosso herói procurou objectos com que pudesse fazer um leme. As portas dos caixões da popa e as tábuas da caixa da enora resolveram-lhe o problema. Às duas horas, o leme estava feito e suspenso no local próprio, com a linha do arpéu. Mas o mar tornara-se por demais agitado para navegar e Pacific capeou até ao dia seguinte. Só pelas dez horas da manhã o estado do mar melhorou. Gilboy recomeçou a viagem. O leme improvisado - à parte o facto de não ter bastante pé na água - funcionava tão bem que o navegador se felicitou por ter perdido o remo, muito mais penoso de manobrar. A 18 de Janeiro, pelas 9 horas, retomou a marcha, depois de ter aumentado o safrão do leme. Às 10 horas avistou o recife Middle Ballona situado a 21° 29' Sul e 15° Este. Passou por ele a sotavento. Meia hora mais tarde pôs-se uma ave a adejar, como as outras, em redor do barco, pousando-se-lhe depois na cabeça. Tentou agarrá-la e, da primeira vez, falhou. Imprudente, o animal ficou de novo ao seu alcance; Gilboy apanhou-o por uma das asas, no momento em que se aproximava da sua cabeça. Como tinha muita fome renunciou a esfolá-lo; depenou-o rapidamente e chamuscou-o numa vela, a fim de lhe tirar a última penugem. Para reforçar o valor alimentício da sopa que fez, acrescentou-lhe um pouco de álcool e guardou a metade restante para o dia seguinte. Enquanto navegava ao longo do recife, dobrou várias línguas de areia mais ou menos emersas, mas a sua esperança de ver uma só que fosse guarnecida de coqueiros não se materializou. Com brisa calma ou fraca circulavam em redor do Pacific pequenos peixes. Foi então que Gilboy lamentou amargamente ter-se esquecido de trazer anzóis e linhas de pesca. Confeccionou dois ganchos com as pontas recurvadas do seu compasso de ponta seca, mas a peça revelou-se ineficaz contra peixes ágeis. No dia 21, cheio de fome, Gilboy procurou ao longo da querena emersa as bernacas maiores (percebes, anatifos) que teve que se contentar em mascar sem lhes comer a substância. A 22, encontrou dois peixes-voadores de 2 polegadas, de manhã, na ponte; a 23, só um. Nesse dia, pelas 6h 30 m, uma ave pousou por diversas vezes no barco sem que Gilboy conseguisse apanhá-la. Como, por fim, acabou por se deter na extremidade do botaló, Gilboy atingiu-a com um tiro de revólver. Após cinco metros de voo, a ave caiu e ficou imóvel sobre as ondas. A brisa era ligeira e demasiado «áspera» para lhe permitir aproximar-se da ave; em breve o barco era levado à deriva para longe da pobre presa, no entanto muito preciosa. Felizmente, no dia 24, o marinheiro encontrou, ao despertar, dois peixes-voadores e no dia 25 quatro. Pelas 3 horas da tarde desse dia, uma ave veio pousar-se na cabeça do leme. Gilboy apoderou-se dela. Como o petróleo do fogão se tinha também esgotado, Gilboy conseguiu assar a sua magra caça na chama de uma pequena fogueira de fósforos, deteriorados aquando do seu adernamento e que colocara na chapa do fogão. Todavia, por prudência, comeu apenas metade, guardando a outra para o dia seguinte. De sexta-feira, 26, a domingo, 28, Pacific permaneceu de capa ou parado por falta de vento. No domingo de manhã, Gilboy viu com agrado, na ponte, um peixe-voador de 5 polegadas, o maior que até então tinha apanhado. Para economizar o pouco de álcool que lhe restava, comeu-o só com água doce. Para a noite, começou a soprar uma brisa ligeira sob um céu claro. Cansado da capa, Gilboy orientou as velas e pô-las em tesoura para não ter que governar o leme. Navegou assim toda a noite, abrindo os olhos só por momentos para verificar se tudo corria bem. (Portanto, desde há muito que podia ter adoptado esta medida.) Ao acordar, na segunda-feira, 29 de Janeiro de 1882, não havia qualquer peixe-voador na ponte. Tinha uma fome terrível e sentia-se fraco. Restavam-lhe apenas 4 colheres de café de álcool. As duas que tomou reanimaram-no um pouco. Verificou, depois, o último barril de água: 10 cm de altura. Seria o fim se, entretanto, não lhe chegassem socorros. De tarde, depois de ter posto em dia o diário de bordo, navegou cerrado de bolina e deixou o barco à vontade. Cada vez mais fraco, sentou-se com a cabeça baixa, no bordo a barlavento e, pela primeira vez, começou a pensar que o seu fim não poderia ser outro senão a morte por inanição. O menor gesto dava-lhe consciência do seu esgotamento. Meditava assim, abatido, havia já talvez uma hora, quando, erguendo os olhos, viu qualquer coisa de assombroso; uma vela. Uma vela. Uma vela. Não compreendia... Uma vela! Não, era uma alucinação, com certeza. Esfregou os olhos, observou, voltou-se, olhou mais uma vez. Sim era, de facto, uma vela, a umas 8 milhas a sudoeste. Gilboy, ressuscitado, saltou para as escotas e rumou de modo a interceptar a rota do navio. O guarda-sol - o famoso guarda-sol - estava perdido na ponte. Gilboy abriu-o e acenou com ele. Mas o seu esgotamento era tão grande que o cabo lhe fugiu das mãos e o guarda-sol caiu ao mar. Gilboy fixou o pavilhão no extremo de um croque e continuou a fazer sinais de perigo que ninguém parecia notar. Precisava de tentar outra coisa. Tinha ainda no revólver 6 cartuchos; arrastou-se penosamente até à proa e disparou sem nenhum resultado, claro. Amainando a carangueja da mezena, fixou nele o pavilhão, invertido, o mais perto possível da extremidade do pique, antes de voltar a içar. A «vela» passava nesse momento em frente de Pacific e o solitário, aterrorizado, esperava vê-la afastar-se sem o notar, quando, de repente, a viu virar de bordo. Eram cerca de duas horas. O veleiro salvador tentou remontar a sotavento e Gilboy rumou a barlavento. Mas a querena do seu barco estava tão pesada com a vegetação das algas e das bernacas, que os dois navios só conseguiram encostar às 5 da tarde. Pacific apresentava-se a sotavento. Lançaram-lhe uma ponta de cabo que caiu atravessada na vante. A fraqueza do navegador solitário era de tal ordem que mal pôde arrastar-se até lá para dela se apoderar e amarrá-la. Logo que o fez, a tripulação do veleiro alou docemente o pequeno barco e, quando este acostou, vários homens saltaram para a ponte, a fim de evitar as avarias que as vagas lhe pudessem acusar. O capitão convidou Gilboy a subir a bordo o mais depressa possível. Lançaram-lhe a escada do piloto por onde se içou com grande dificuldade, tal era a sua fraqueza. Chegado à ponte, as forças traíram-no. Teve que se encostar ao camarote de convés para não cair; dois marinheiros ajudaramno a chegar à popa. Grande foi a surpresa da tripulação do palhabote Alfred Vittery ao saber que Pacific vinha de São Francisco. Como os salvadores tinham partido havia 15 dias das ilhas Salomon para Maryborough (Queensland), após uma campanha de recrutamento (isto é, de caça aos indígenas), já não havia pão a bordo. O náufrago pediu bolachas e mel. Como o capitão o prevenisse de que o cozinheiro tratava de lhe fazer uma sopa que em breve estaria pronta, teve coragem suficiente para esperar, enquanto bebia uma chávena de chá. Sentiu, então, vontade de lhe misturar o pouco de álcool que restava das suas provisões. Trouxeram-lho, e após ter absorvido o grogue, Gilboy sentiu-se reconfortado. Depois da tigela de sopa, muito melhor ficou. No dia seguinte, de manhã, após um banho quente de água salgada, serviram-lhe o pequenoalmoço; parecia afastado o perigo que existe em tomar alimentos normais depois de tantos dias de privações. Os 97 canacas que viajavam a bordo do Vittery haviam manifestado a mais viva surpresa ao ver um branco, sozinho, num barco tão pequeno, longe de toda a terra. De cada vez que Bernard Gilboy vinha à ponte, os selvagens rodeavam-no, falando dele com grande interesse. Por outro lado, o capitão Boor e os membros da tripulação não sabiam mais que fazer para lhe testemunhar a sua fraternidade e admiração. Tinham-no recolhido a 22° 08' Sul, 154° 46' Leste, ou seja, a 420 milhas de Sandy Cape, após um percurso de cerca de 6500 milhas. 164 dias de mar, a partir da Califórnia. Já era tempo! Em suma, tinha praticamente vencido. Estava muito próximo da australianíssima ilha Bird. E que eram 480 milhas? Uma semana de navegação normal após as 23 semanas que acabava de passar sem pôr pé em terra, realizando uma travessia que nunca ninguém se atrevera a tentar. Parece, aliás, que nenhum outro solitário (nem par) permaneceu tanto tempo no mar: a mais longa travessia voluntária de Vito Dumas será de 104 dias e o seu dramático périplo do Atlântico, de 121; a travessia de Alain Gerbault, de 101, ou seja... dois meses menos. A deriva do náufrago Poon Lim durou 130 dias, isto é, menos 34. Em Maryborough, Gilboy sentiu-se mal. Durante 3 semanas enfraqueceu e emagreceu mais ainda. De 80,3kg que pesava à partida e de 67,7 quando do salvamento, passou para 60,7 e temeu-se pela sua sorte. Decidiu então refrescar-se (era o tórrido Verão austral), tomando banhos de mar na praia de Pialba; quando regressou a Maryborough começou, enfim, a engordar e a recobrar forças. Tinha também os nervos muito tensos; coisa curiosa, não podia impedir-se de falar; embora cada palavra lhe ferisse terrivelmente os pulmões e a cabeça, contava sem cessar as peripécias da sua expedição e era esta obsessão que lhe atrasava o restabelecimento. Só em fins de Março terminaram os últimos problemas. A 9 de Abril, Gilboy embarcou a bordo do Leichardt, levando o Pacific como bagagem, a fim de o expor na Nova Gales do Sul. Obteve ali um grande êxito. Mas chocava os seus admiradores que lhe falavam da providência, respondendo-lhes que nunca tinha desesperado a ponto de chamar deus em seu socorro. Tais palavras foram tomadas por blasfémia. Existe talvez outra interpretação, de natureza bastante elevada, que indicaremos a propósito do naufrágio de Sandefjord. É, na verdade, notável que nesta outra dramática circunstância, outro homem de têmpera e crente tenha tido a mesma reacção, tão contrária ao cliché costumeiro. De regresso a São Francisco, Gilboy foi durante algum tempo... condutor de tramway, como Voss; mas, em 1889, voltou a sair para o mar, primeiro como guardião, depois como capitão. O seu barco a vapor, chamado Centennlat (como o dóri de Johnson!) foi envolvido pelos gelos da Sibéria (ilhas Sacalinas) em 1906 e a tripulação morreu na totalidade. ***** Fred Rebell, esse não hesitou em atravessar o Pacifico na mesma zona, não sem escala, mas às avessas, contra o vento! Chama-se, na realidade, Paul Sproge. Nasceu a 22 de Abril de 1886 em Windau, na Letónia, que era então (e voltou a ser) russa. Muito jovem, «sentindo-se pacifista» e não querendo servir no exército do czar, fugiu para a Alemanha. Mas Guilherme II, senhor da guerra, não lhe proporcionou a atmosfera de liberdade com que sonhava. Pior, não podia trabalhar, à falta de passaporte. Que fazer? Um dia, ao ver o bricabraque de um ferro-velho, teve este raciocínio de certo modo precioso: «Se se pode dormir numa cama em segunda mão, porque não me há-de servir um passaporte já usado?» O passaporte que conseguiu num café de Hamburgo, por dois marcos, não estava «muito, muito limpo», mas era o suficiente, pensava. Ora... o passaporte era de um marinheiro desertor! Salvou-se no último minuto da repartição de recrutamento... e (temos que reconhecer a sua lógica) disse para consigo: «Ninguém deita fora um relógio só porque o ponteiro está torcido; o meu passaporte precisa apenas de um ligeiro ajustamento.» O chamado Fred Kuball morreu, portanto, no estado civil e nasceu, graças a uma pequena modificação, Fred Rebell, «o mais jovem aprendiz de marinheiro de Hamburgo, pois havia nascido apenas uma hora antes». O nome diz bem o que quer dizer. Assim, embarcou a bordo de um cargueiro como paioleiro e pôs-se a viajar através do mundo. Passar de estudante a descarregador de carvão é bastante duro. Foi, porém, o que ele fez sem perder o seu orgulho revoltado. Quando se fartou, em 1907 (tinha, portanto, 21 anos), fez-se passageiro clandestino, conseguiu esconder-se a bordo e desembarcou na Austrália. Aí, tornou-se lavrador. Mas a caseira, vinda da Letónia por um «pequeno anúncio» e atraiçoada de passagem, causou-lhe muitos aborrecimentos. Fred virou-se, então, para a outra, cruel, Elain - nome que mais tarde daria ao seu pequeno barco. Tornou-se depois carpinteiro (o que ainda é). O desemprego de 1930-1931 desesperou-o. Por que motivo não iria para a América? Por que motivo? Porque os Estados Unidos não concediam visto. Ora! Que importava isso? Olhou o cônsul americano, que acabava de o despedir, bem de frente e disse-lhe: - Ouça-me! Dentro em pouco estarei nos Estados Unidos. Não pagarei passagem, não embarcarei clandestinamente e não me farei contratar como marinheiro... Além disso, ficarei lá o tempo que me agradar e depois partirei quando me apetecer... E não peço visto nenhum a nenhum cônsul! O cônsul julgou-o louco e bateu com a porta. Rebell tinha 45 anos e nunca navegara à vela. Não fazia diferença; como não o queriam transportar para a América, transportar-se-ia ele, sozinho, como tinha feito Bernard Gilboy. Arranjou trabalho, aceitando salários inferiores ao normal. Mesmo assim, conseguiu economizar as 20 libras necessárias para comprar um pequeno barco. Este não havia certamente previsto o seu destino. Era um «vela de mau tempo» de 6m por 2,15 m, destinado às regatas na baía de Sidney, de tábua trincada, sem ponte, com uma simples braçola, cujo bordo livre não ultrapassava 50 cm. Este casco nunca resistiria a um pouco de mar. Rebell duplicou o número das costelas e acrescentou-lhe uma quilha falsa. Não instalou um verdadeiro camarote de convés, antes um pano de tenda, ao que parece posto sobre arcos! A popa ficava cavada (loucura que Gilboy não cometera). Ampliou o velame (quadrangular latino), comprou víveres para seis meses, construiu reservatórios de água para 150 litros com caixas velhas, adquiriu um fogão a álcool. Restavam três lacunas: saber manobrar, conhecer a navegação e obter instrumentos. Fred Rebell no Elain Quanto ao primeiro ponto, circulou um pouco na baía de Sidney; depois vasculhou a biblioteca popular onde enfardou um pouco de marinharia teórica e pensou que era o suficiente. Recordemos que ia fazer 46 anos... Quanto ao segundo, comprou, no alfarrabista, um manual de navegação com 70 anos que guardou cuidadosamente a bordo. Teria tempo de estudar, diz, quando estivesse no mar... Copiou, diz ainda, as cartas necessárias de um atlas; mas este tinha também 70 anos, época em que muitas ilhas não estavam ainda descobertas. Os instrumentos náuticos embaraçaram-no mais. Mas não por muito tempo: fabricou-os. O modo como o conta poderia fazer crer numa mistificação. Não é, porém, o caso: esses aparelhos foram examinados por peritos absolutamente dignos de fé e fotografados. São, de facto, «home made» e tal como Rebell os descreve. A passagem é tão bela que não resistimos a citá-la na íntegra: «A dar crédito aos ares que os fabricantes de instrumentos náuticos, se dão poder-se-ia crer que é necessário, para fazer o seu trabalho, ter, pelo menos, passado uma centena de anos num navioescola. Era um caso a ver... Precisava, em primeiro lugar, de um sextante. É impossível passar sem ele, pois, uma vez desaparecida a terra, só ele permite calcular a posição do barco, segundo a do Sol e a das estrelas. O aparelho deve ser construído com o máximo de cuidados, já que a menor falha de precisão pode implicar erros de várias centenas de milhas numa posição calculada. Utilizei para o meu uns pedaços de ferro provenientes de uma armação de garrafas, uma pequena luneta de que se servem os escuteiros (custou-me um shilling), uma velha serra de metal e um canivete em aço inoxidável. A lâmina deste último, cortada em pedaços, forneceu-me os espelhos do meu sextante. Era preciso que estes fossem opticamente planos. Besuntei-lhe um dos lados com asfalto, de modo a poder segurá-los firmemente entre os dedos e esfreguei a outra face num vidro recoberto de pó de esmeril, cuja finura ia aumentando pouco a pouco. Acabei de dar ao aço um polimento de espelho com um pano embebido em pasta de lustro de joalheiro. «A lâmina da serra era, bem entendido, para a escala dos ângulos. Escolhi-a por causa da regularidade dos dentes e porque podia recurvar-se na forma de um arco regular. Escolhi o raio da sua curvatura de tal maneira que, a cada um dos dentes, correspondia meio grau. Destemperei a lâmina, a fim de poder endireitar os dentes e, para parafuso micrométrico, servi-me de um simples parafuso de madeira que engrenava perfeitamente na lâmina. «Possuía, então, um instrumento que me permitia medir a altura de um astro com a aproximação de meio grau. Mas 30' de arco representam 30 milhas marítimas e é necessário obter uma maior precisão para navegar. Aumentei, portanto, a cabeça do meu parafuso e dividi a sua circunferência em 60 partes iguais. Pude então medir o minuto do arco com esta nova escala e determinar, assim, a minha posição em latitude com a aproximação de um milha. «Foi esse o trabalho mais difícil. «Precisava também de um cronómetro e não podia, claro, fabricá-lo... Comprei, portanto, por alguns shillings dois pequenos relógios de pulso, baratos (servindo cada um deles de testemunha ao outro). Coloquei-os em suspensões de cardan, de modo que os movimentos do barco não pudessem desregulá-los.» «Veio depois a construção da barquinha que permite avaliar as distâncias percorridas. Este instrumento consiste essencialmente num flutuador munido de asas que, rebocado pelo barco, adquire, por efeito da velocidade, um movimento giratório proporcional a esta e, graças a uma articulação flexível, acciona um conta-voltas instalado a bordo. Construí o meu flutuador com a ponta de um cabo de vassoura no qual fixei asas de alumínio que faziam com o eixo um ângulo tal que descreviam uma volta completa de 30 em 30 cm. Para o conta-voltas, transformei um pequeno relógio, a fim de que a cada minuto do seu mostrador correspondesse uma milha percorrida. Quando experimentei esta barquinha apercebi-me de que tinha um erro de 20 por cento, mas um erro num instrumento de medida não tem importância se for constante e conhecido. Basta contar com ele. E, na verdade, até que o ar marítimo corroeu as engrenagens do relógio, a minha barquinha improvisada foi-me muito útil e funcionou perfeitamente.» Perde-se a vontade de rir. Perguntamo-nos se este homem, este paioleiro tornado carpinteiro não era um génio... Um génio do faz-tudo, pelo menos. Esperemos para ver o resto. Rebell estava «pronto a partir». Só lhe faltavam documentos. A sua consciência, diz ele, por um monte de boas razões, proibia-lhe de pedir fosse o que quer que fosse. Uma dessas «boas razões» chamava-se cobrador de impostos. Ao largo! A 31 de Dezembro de 1931, Rebell aparelha com brisa fraca, atravessa tranquilamente a baía e fazendo uma bordada demasiado longa, roça com a quilha num rochedo. Começava mal... Depois, brutalmente, vem um aguaceiro e a verga da mezena de Elain fica comprometida. Meia volta? Não, dois garotos num dinghy fazem rota, que vergonha! Sai com a vela de giba. E... enjoa. Nunca tinha navegado no alto mar a bordo do seu barco com deriva. Por sorte, o enjoo passa depressa. À noite, Rebell amarra o leme e adormece! Seis horas depois, sobe e verifica que o vento abrandou. Larga o pano todo e ruma a leste, para a Nova Zelândia. Todas as noites navega assim como o leme amarrado, contando com a regularidade do vento. Não faz cálculos; o ponto (com o sextante de armação de garrafas, serra de metal e parafuso de madeira) corrigirá os erros. Elain porta-se bem, navega. E ele, quando está acordado, toca bandolim. Mas, no terceiro dia, o bandolim, que não aprecia a humidade prodigalizada pela «tenda de escuteiro» deixa de tocar. As coberturas ficam ensopadas. Conforme lhe disseram, o mar da Tasmânia tem má reputação. Rebell faz, como pode, uma navegação vergonhosa. Muita coisa haveria a citar: não são já os «infortúnios de Alain», mas sim verdadeiros infortúnios de Sophie (1): o arinque da âncora flutuante, parte-se com a roçadura do cabresto do gurupés; Rebell recebe, nu como um verme, um magistral chuveiro gelado, etc. (1) Provável alusão a Sophie-Dorothée, que foi mulher de Jorge I de Inglaterra. - (N. do T.) Eis uma entrada de água; para saber, de noite, qual a subida do nível dos fundos (de um «vela de mau tempo» de 6 metros), põe a flutuar uma lata de conservas vazia que serve de relógio de alarme. Não tem bomba e, por isso, escoa. Destemperadas pela água, as suas unhas ameaçam cair. Enfim, quando, pela primeira vez, beneficia de bom tempo, mergulha e calafeta a fenda debaixo de água, com betume. Experimentem... Rebell sente-se orgulhoso das suas proezas. No entanto... Citemos: «Tinha a intenção de fazer escala em Auckland, na Nova Zelândia. Infelizmente, após quatro semanas de navegação, apercebi-me que estava já muito a leste da ilha. Achava-me, assim, a umas 200 milhas ao norte da rota que em princípio fixara. Nestas condições, pareceu-me mais prudente dirigir-me directamente para as ilhas Fiji, em vez de me bater contra os ventos para fazer rota ao sul e depois a oeste. Rumei, pois, a todo o pano para norte.» Falhar a Nova Zelândia que tem 1700 quilómetros de comprimento... Sem dificuldade se aprecia o navegador. Perdão; aproxima-se agora, julga, das Kermadec. Mas as Kermadec não figuram na sua carta... O certo é que este homem chegou à América. O seu barco era como uma velha roulotte desengonçada, mas, apesar de tudo, navegava. Pensemos apenas no modo como reparou o relógio e retomou depois a hora (sabendo em que meridiano estava, pois rumava a norte desde que o relógio tinha parado); o resultado, afirma, era exacto com uma aproximação de três segundos... Como as suas adriças estavam «cheias de espessuras de nós». Como (admira-se muito!) o vento «estava sempre contra ele» (uma conspiração, sem a menor dúvida). Como perdeu a sua asa de deriva! Como descobriu que precisava de querenar! Como saiu para o mar com um barco enxuto que metia água como um cesto! Como perdeu, sem dar por ela, uma âncora amarrada na ponte, etc. Pensemos, sobretudo, no seu método de navegação. Como as ilhas não figuravam n sua carta, não podia dirigir-se para elas; todavia, faltava-lhe água doce. Então, teve um sonho e ouviu uma voz: «Há, nas Fiji, ilhas mais ao sul do que as que indica a tua carta!» Exacto. Foi também um sonho que lhe assinalou um recife; exacto mais uma vez. Meses mais tarde, outra visão mostra-lhe uma ilha a determinada distância, em determinada direcção; foi a sua alma que a foi ver e veio informá-lo. Foi talvez assim, conclui ele gravemente, graças a um sentido mediúnico que teríamos perdido, que os antigos colonos polinésios descobriram as suas ilhas. O sonho considerado como um método de navegação... Ah, e também funciona para evitar as abordagens. Em Honolulu pedem-lhe o passaporte. - Ele apresenta um feito por ele. - Mas este documento não é oficial! - Perdão! Eu sou o meu próprio governo. O funcionário ficou sufocado; mas não insistiu e deixou Rebell desembarcar por 60 dias. Rebell venceu a enorme distância (perto de 3500 milhas) que separa as ilhas Sandwich da costa americana; e isto sem relógio; pois os seus estavam avariados. É verdade que, como diz, «poucas possibilidades havia de falhar um objectivo tão grande como a América». Acalmou a tempestade com uma prece, uma prece condicional: «Se isto passar antes da noite, acreditarei.» deus aceita; mas tem sentido de humor: dá-lhe mesmo uma grande calma e, portanto, uma terrível oscilação. Rebell é mau julgador; dias mais tarde, propõe de novo o negócio, com a mesma aposta: «Se acabar a tempestade, acreditarei.» O todo poderoso enviou, dessa vez, uma brisa agradável. Eis Rebell muito perto das costas, na rota dos navios. O seu farol foi destruído pela ferrugem. Na calma flutua um pau. Ele apanha-o. Traz consigo um farol de tempestade em excelente estado. «Deus, portanto - diz - não só deferia as minhas preces, como também se antecipava aos meus desejos...» Entendamo-los: não estamos a troçar; mas mais vale, apesar de tudo, não confiar demasiado em milagres para navegar. A 8 de Janeiro de 1933, um ano e 7 dias depois de ter largado de Sidney, fundeou no porto de San Pedro, perto de Los Angeles. Ninguém o levou em triunfo. Mas, ao contrário, teve problemas com o serviço americano da emigração e foi preso. Elain foi abalroado por uma chalupa da direcção do porto. Tudo isto nos permite saber, com provas oficiais na mão, que a travessia de Elaln foi, na realidade, efectuada. O que bem custa a acreditar. Rebell ligou-se a seitas místicas dos Estados Unidos. Depois, foi dar um passeio pela sua Letónia ressuscitada pelo tratado de Versalhes. A seguir comprou um barco de pesca do Báltico, Selga (profundidade), ao qual acrescentou uma quilha... em cimento com que sondou as rochas da baía de Alderburgh, na Inglaterra, onde encalhou durante o sono. Teve com ele aborrecimentos no golfo da Gasconha. Depois embarcou em 1939 no palhabote malvino Reine-d'Armor, com um patrão de Guernesey para Sidney. Não desposou a deliciosa inglesa que, segundo julgava, o esperava nas Ilhas. Tornou-se de novo carpinteiro, ao mesmo tempo que propagandista de uma espécie de Exército de Salvação. Com 66 anos, após tais aventuras, tais iluminações místicas, em que julgam que pensa? Nisto que nos escreve com data de 11 de Outubro de 1952: «Ganhei apenas 100 libras (algures diz 500) com a publicação da minha obra e, para viver, tenho de exercer a minha profissão de carpinteiro. Continuo celibatário e, por isso, obrigado a um pesado imposto sobre o rendimento. No último ano, tive de pagar à volta de 57 libras para um rendimento de 600; e porque ganho desta maneira, não tenho direito à reforma a que poderia candidatar-me.» Na verdade, quem instituirá a caixa de reforma dos navegadores solitários? Continua: «Mas não me queixo, porque, depois da minha conversão... transformei-me de egoísta em filantropo.» Precisa que nunca mais navegou sozinho depois da sua partida de França, com Reine-d'Armor. Mas noutras matérias não renunciou. Como me toma por uma mulher (em inglês, «Jean» é um nome próprio feminino) lá vem uma tirada: «Claro que o sexo oposto não perdeu, de modo algum para mim a sua atracção (quase poderia adorar qualquer de entre elas), mas espero encontrar sentimentos recíprocos e uma fidelidade até à morte.» E acrescenta: «Quero casar-me um dia.» Julgar-me-á ele bonita (lembremo-nos do pequeno anúncio)? Ou pensará no imposto sobre os celibatários? O Pacífico não vive somente de solitários, de navegadores tão fantasistas, tão bizarros e tão pouco dignos de fazer escola como Rebell. Eric de Bisschop estudou nele as correntes com o seu junco Fou Po II, antes de realizar uma quase volta ao mundo com Tatibouet. Um pobre rapaz, John Riley, ligou São Francisco a Honolulu com uma miserável canoa à vela e... adernou no porto de chegada; houve australianos, neo-zelandeses, yankees, um dinamarquês, Pederson, um rapaz de 23 anos, Briant Platt «e tantos outros que aqui não posso fazer entrar», como diz Boileau. ***** É sobretudo em 1962 o primeiro navegador solitário amarelo, o japonês Kenixi Horie, reeditou a proeza de Gilboy, mas em sentido inverso e na zona norte, sem ilhas: de Osaca a São Francisco, 5300 milhas na carta, em 94 dias, com mau tempo à partida, mas sem incidentes sérios. A dupla travessia sem escala do Pacífico estava, portanto, realizada. Kenixi Horie Faltava reconstituir um dos modos de navegação praticado no oceano antes da invasão dos europeus: a jangada. ***** Eric de Bisschop Isso é agora coisa feita, primeiro pela equipa do Kon-Tiki, depois, noutro sentido (da Polinésia para a América), ao preço de dificuldades muito maiores e infelizmente sem êxito total, por Eric de Bisschop e os seus companheiros. Esta travessia foi, para o que nos ocupa, realizada sobretudo por um homem só, William Willis. ***** Nascido em Hamburgo de pais checos em 1893, o que dará 61 anos em 1954, quando vai empreender a sua primeira travessia, Willis é um antigo marinheiro da marinha à vela: desde a adolescência que navegava nas águas costeiras americanas, a bordo de pequenos veleiros. Depois, a vida arrastou-o para pleno Texas, onde teve todas as profissões das mais terrenas - para se reencontrar com o mar em 1937, a bordo de cargueiros. A ideia da jangada não lhe pertence, pois a travessia do Kon-Tiki é muito anterior. A realização foi análoga, o material sendo também a balsa (macho) essa madeira maravilhosamente leve dos Andes. O grande mastro é bípode como o de Kon-Tiki, mas um pequeno mastro à popa modificava o aparelho em yawl. O botaló orientável (como os antigos paus das amuras da mezena dos nossos lugres) demonstrou-se muito prático. Para governar, Willis não se apercebeu da comodidade das derivas móveis enfiadas entre os troncos, que dão uma tão perfeita manutenção de rota automática; adoptou um leme clássico, com safrão e roda. Este podia, sem dúvida, amarrar-se; Willis, solitário, teve no entanto, que governar, o que lhe complicou o problema e, por isso, o obrigou a modificar muitas vezes o velame, suprimindo a principal vantagem da jangada. Inversamente, não cometeu o pesado erro da tripulação do Kon-Tiki de não transportar uma embarcação, coisa, porém, fácil a bordo de uma jangada e que devia permitir, ao fundear, se a jangada fosse irremediavelmente empurrada para uma costa inabordável, poupar, pelo me-nos, o navegador, libertando-se e rodeando o obstáculo até uma costa a sotavento. Willis levou consigo uma canoa. Feita de sete troncos, a jangada foi baptizada "Les Sept-Petites-Soeurs". Willis levou também consigo um posto de rádio emissor que, aliás, só pôde fazer-se ouvir à chegada. Willis partiu a 22 de Junho de 1954, de Callao (Peru), acompanhado de um papagaio e de uma gata... o que não contemplava o repouso e exigia uma vigilância constante da gata; o desaparecimento do papagaio foi um acidente de mar ou um «drama de tripulação», não sabe muito bem... A jangada seguiu, como o Kon-Tiki, a corrente de Humboldt. Mas o objectivo escolhido - e atingido era mais longínquo: a Samoa, a 6700 milhas, percorridas em 115 dias. Um incidente análogo ao sofrido por Bombard, embora muito mais fortuito, teria podido acabar tragicamente: querendo arpoar um tubarão, Willis caiu ao mar. Quando voltou à superfície, a jangada afastava-se majestosamente. Impossível realcançá-Ia a nado. Mas, por sorte, Willis mantinha enrolado em volta do braço o estrepo de aço de uma linha amarrada a bordo. Mão a mão e apesar de profundos golpes, sem partir a linha, muito gasta (que angústia!), Willis conseguiu aproximar-se da jangada numa extensão de mais de sessenta metros. Para um homem de 61 anos era um esforço terrível, mas o antigo marinheiro haviase preparado longamente e achava-se em óptima forma. Salvou-se. Esteve, porém, quase para morrer um pouco mais tarde, de doença: uma estranha e insuportável dor no plexo solar levou-o, na verdade, às portas da inconsciência. Lançou um S. O. S. (sem resultado) e... o sofrimento desapareceu-lhe quase de imediato. A doença, para o solitário, é uma das ameaças mais atrozes; deixa-o desarmado. Embora muito fraco, Willis conseguiu restaurar o velame. Foi então que se apercebeu de que os seus reservatórios vertiam, que já quase não dispunha de água. E o velho marinheiro indignou-se consigo próprio: «Ê a mim que isto acontece! A mim que conheço o mar e as suas leis! Devia ter previsto grandes reservatórios pesados, barris, É assim que se faz no mar!» Mea culpa que, evidentemente, nada remediava: assim Willis teve, tal como Bombard - cujas teorias deste modo se confirmaram - de beber água do mar. Como purga, Willis conhecia já há muito tempo o seu uso, e o emprego moderado que dela fez, alternado com uma tigela de água doce diária, não lhe provocou qualquer mal-estar. Ao norte das Marquesas (que não viu) o tempo, muito mau, pôs à prova a jangada, que se aguentou; mas, tal como as de Kon-Tiki, as balsas embeberam-se de água e afundaram-se; iria ser necessário lançar lastro pela borda fora, isto é, abater as superstruturas? Além disso, ofuscado pelo sol, terrível, Willis sentia-se cegar pouco a pouco. Era tempo de pôr fim à travessia. A aportada às Samoas americanas foi excelente; todavia, o vento e a corrente impediram-no de atracar, embora passasse, de noite, muito perto de terra; repugnando-lhe, mau grado a existência da canoa, abandonar a sua fiel jangada (não estava, de modo nenhum, em perigo) dirigia-se para as Samoas britânicas quando foi avistado por um barco enviado à sua procura, em resposta ao seu pedido de socorro, lançado pela rádio. E o barco rebocou-o até Pago-Pago. Esta travessia, executada por um homem já idoso, mas tendo sabido conservar um corpo e uma energia de jovem, é uma das mais notáveis, das mais sérias proezas dos últimos anos. Por isso... Por isso, em 1963, com 70 anos e numa nova jangada, desta vez construída em ferro, cujo nome Age Unlimited, constitui todo um programa, Willis recomeçou sozinho, fazendo-se acompanhar somente de um gato. Partido de Calao, passou por Samoa e continuou rumo à Austrália. Não para o público. Para si próprio. E depois, em Julho de 1967, com 74 anos, voltou ao mar com um sloup de 3,45 m, o que, se obtiver êxito, constituirá o record do mais velho a bordo do mais pequeno... CAPÍTULO 4 - O OCEANO INDICO HAYTER, GUILLAUME, MOITESSIER Todos os circum-navegadores de que em breve falaremos atravessaram o oceano Índico. Mas fizeram-no de uma maneira que todos acham muito agradável, entre o norte da Austrália (o estreito de Torres) e Durban, pelo sul de Madagáscar. Trata-se de uma rota de alísios perfeita. Contudo, é possível utilizar outras. Pode-se passar pelo sul como fez Dumas, o que será terrível. Pode-se também enfrentar a monção. «A direito», isto é, do Extremo Oriente para o Mar Vermelho ou Madagáscar, já não é tão fácil, sobretudo à partida; ao contrário, contra a monção... basta ler a história do coronel britânico Adrian Hayter. Adrian Hayter e o Sheila II O seu barco, Sheila II, era um yawl muito velho, de 9,80 m, construído em 1911. Isto não assustou, porém, o coronel que, em Agosto de 1950, saiu nele para o mar, de Lymington. Passou em Gibraltar, em Port-Said, atravessou o Mar Vermelho sem questões com os piratas (foi a primeira vez; ver Robinson, Zitt e Peterson, também nesse mesmo ano de 1951, no outro sentido); venceu as escaldantes calmas, graças a um pequeno motor a gasolina de 8 CV, sem pegar fogo como Miles. Chegou a Aden. Era, contudo, a época em que a monção sopra violentamente (força 6 ou 7, no mínimo, isto é, 50 km/h., muitas vezes 60 ou 70) do nordeste, mesmo de vante, na rota do coronel. Esperar meses? De modo nenhum! O coronel largou, apesar de tudo, de Aden e pôs-se obstinadamente a bordejar. Lembremo-nos de que «duas vezes a rota, três vezes a duração, quatro vezes o esforço». E quem viu - vento pela popa, como é habitual - o mar da monção, empolado, rápido, poderoso, grandioso, pode imaginar o que será navegar contra ele e a vontade que não é precisa para não dizer «Assim não!» e deixar-se conduzir. «A ponte - diz o coronel - quase nunca secou: a minha pele, cons-tantemente húmida, sofreu uma erupção geral e tive de viver completamente nu para evitar a fricção do vestuário.» O aparelho, que não era novo, teve menos coragem que o homem; as adriças cederam. Foi preciso trepar ao mastro. E eis um caso raro espantoso: trepar nu, no violento balanço de um veleiro, navegando contra um mar de monção! Neste trabalho e nos esforços para não ser lançado ao mar, a pele ficou maltratada, as bolhas furadas e o pobre coronel viu-se esfolado vivo. Atingiu, todavia, Bombaim, depois Goa e Colombo. Sem história? Quase: uma perna partida aqui, um crise de apendicite acolá. Sem gravidade. Nem sequer fala nisso; não deveria, de facto, regozijar-se por ter tido a possibilidade de se tratar em terra das duas vezes? A 27 de Março de 1952, voltou a partir de Colombo para Penang. A monção, aqui, não o importunou; ainda não tinha recomeçado. Mas... «Ao longo desta travessia - diz ele - o meu reservatório de água teve uma fuga e perdi 17 galões de água doce; fiquei só com 4 (20 litros), um bidão de reserva. Tive de a racionar, o que, com o calor desta região, me foi muito penoso. Enfrentei longos períodos de calma, entrecortados de aguaceiros, onde pude recuperar um pouco de água, embora muita não caísse por cima de mim. «Uma noite, acordei bruscamente, pois o barco adernou a 60 graus com uma rajada de vento; corri para o leme, que nunca mais me atrevi a abandonar, embora a quadrangular com três rizes, o sobrecarregasse demasiado (o feitiço). Era o primeiro sinal do regresso da monção. Deparei no mar com coqueiros inteiros flutuando à deriva e pude fazer uma ampla colheita de noz de coco que completou maravilhosamente as minhas provisões. «Ao amanhecer do dia seguinte, achei-me rodeado de ilhas; eram as Nicobar - estava a 180 milhas a norte da minha suposta posição! A 24 de Maio, cheguei a Penang. Aí, tendo por fortuna apenas 11 libras, tive de arranjar um emprego; no fim do ano, espero ter economizado o bastante para consertar o meu barco e partir para Singapura, Java, Bali, Timor, Sidney e Nova Zelândia!» E assim fez. Não se pode dizer que este coronel seja um navegador muito preciso; mas um homem de rara coragem e de energia indomável, um sortalhão, isso é! Moitessier não cometerá erros na latitude de 180 milhas... O coronel não tirou o ponto? As Nicobar devem ter por deuses locais génios benevolentes. Ou então o velho - e sólido - barco emprestou ao dono a sua experiência... ***** O tenente da marinha Guillaume, bretão de Saint-Servan, homem corajoso (provou-o ainda melhor em circunstâncias ulteriores), apanhou a monção no bom sentido; e muito simplesmente, para regressar da Indochina a França pelos seus próprios meios, trazendo consigo uma bela unidade com a qual poderia depois fazer cruzeiro. O mais notável é que os seus superiores da marinha nacional (pois o tenente estava ao activo) o autorizaram: mesmo nas esferas ministeriais se impôs «a navegação solitária»... O seu barco Manohara era um belo ketch construído com a mais perfeita madeira, a verdadeira teca, por anamitas, segundo planos franceses, um tanto modificados. O tenente Guillaume devia efectuar a travessia com camaradas. Mas uns «encolheram-se» à partida e o último adoeceu em Singapura; deste modo, o oficial de marinha achou-se sozinho, em Maio de 1956. Encontrou primeiro mau tempo; depois - pouca sorte! - o relógio parou-lhe; para uma navegação totalmente em longitude (veremos mais tarde o caso de Moitessier) era uma situação bastante má. Mas a ciência dos astros veio em seu socorro. Escutemos um camarada do capitão: «Guillaume tinha perdido a hora do fuso 0. Teve, pois, que arranjar maneira de acertar o seu cronómetro pela hora de Greenwich. «O rádio estava avariado desde que uma onda alterosa se tinha abatido com o painel sobre a cabina, inundado todas as suas coisas, submergido os seus acumuladores, as suas cartas, o seu minúsculo motor, a sua roupa, etc. Numa situação absolutamente desesperada, reconstituiu os cálculos de «distâncias lunares», tomando duas séries de alturas correspondentes da lua e duas séries de alturas correspondentes de uma estrela vizinha. Cada uma dessas medidas dava-lhe ascensões direitas falsas da lua e da estrela, mas a diferença das ascensões direitas era exacta e Guillaume podia encontrar -nas efemérides náuticas o dia e a hora em que a lua ocupa a posição achada na esfera celeste. Calcular a precisão era interessante. Os nossos cálculos mostraram que os erros se multiplicavam por 30, em média, mas como era um excelente observador, Guillaume pôde reconstituir a hora com a aproximação de meio minuto e tirar o ponto com um erro de apenas 15 milhas... Houve também a nota humorística: uma agência de Imprensa anunciou que Guillaume «tinha achado a sua rota graças à cor da lua!» Bonito! O certo é, porém, que isto pode, pelo menos, servir de exemplo: claro que se pode navegar como Rebell; mas como Guillaume, é melhor. A 27 de Julho, Manohara estava à vista de Chagos. Mantinha-se, havia 71 dias, num mar solitário. Graças a um antigo «cabo-horneiro» residente, o capitão Lanier, e à visita de um navio de guerra francês, o Foudre que pôde dar notícias suas, Manchara, foi posto em estado de aparelhar, a 16 de Agosto, para as ilhas Seycheiles que atingiu a 30, após uma travessia sem história. A população deste domínio britânico reservou-lhe uma recepção calorosa, e o navegador solitário pôde proceder a reparações. Os trabalhos duraram um mês, findo o qual Manohara singrou Jibuti a 2 de Outubro. Para beneficiar da monção de sudoeste que sopra nesta zona até ao mês de Novembro, bem como da corrente de 2 a 3 nós que acompanha a costa africana, Pierre Guillaume decidiu dirigirse directamente para esta costa e, depois, subi-la rumo ao norte de Jibuti. A princípio tudo correu bem: Manohara fazia as suas 150 milhas por dia e em breve atingia a costa norte de Mogadíscio, na Somália italiana. Depois de ter fundeado no cabo Ras Afun, a fim de ele próprio reparar mais uma vez o leme, teve a sorte de encontrar uma contracorrente que iria finalmente levá-lo ao cabo Guardafui de onde lhe seria fácil ganhar Jibuti. Mas... o leme voltou a partir-se e, desta vez, desapareceu definitivamente nas vagas. Para tentar recuperá-lo neste local pouco profundo, o navegador solitário lançou âncora; uma corrente violentíssima desviou-o para a costa onde, em alguns instantes, ficou em seco. Era o dia 11 de Novembro. Como os danos sofridos pelo barco quando do encalhe não eram graves, Pierre Guillaume dirigiu-se a terra para pedir aos indígenas que o ajudassem a pôr o Manohara a flutuar: estes aceitaram, em princípio, e aconselharam-no, entretanto, a instalar-se com algumas das suas coisas na margem. O que Guillaume fez para, todavia, em breve descobrir que tudo não passava de uma artimanha de gatunos: Manohara foi visitado durante a noite, e as provisões e os instrumentos de navegação roubados. Neste interim, apareceu um barco francês, o Taranfaife, que deu ajuda ao náufrago. Após delicadas operações, Manohara foi quase posto a flutuar e amarrado numa posição donde o resto da manobra fosse mais fácil. Mas... durante a noite, um somali cortou as amarras e o ketch ficou de novo em seco; as escotilhas, abertas pelo mesmo indígena, deram passagem à água, que penetrou no veleiro. Pierre Guillaume, não podendo já pensar em prosseguir a viagem em tais condições, abandonou o barco com o coração amargurado e foi a Mogadíscio pedir ajuda e protecção. As autoridades desta terra inóspita limitaram-se a aconselhar ao navegador que regressasse a França, por via aérea. O que, no fim de contas, o tenente se viu obrigado a aceitar. ***** A ciência nem sempre compensa. Mas a imprudência também não. E é no mesmo percurso que encontramos, alguns anos antes, Bernard Moitessier. O nosso critério deveria proibir-nos de contar a história desta primeira navegação por ele feita, já que se salda por um fracasso e não, desta vez, por culpa de homens. Mas é tão rica de ensinamentos que justifica bem uma excepção: aliás, atravessou-se um bom pedaço de oceano... Este jovem que tinha já feito belos cruzeiros, nomeadamente a bordo do Snark, com Pierre Deshumeurs, encontrava-se na Indochina (no Camboja) e, como pretendia ir a Madagáscar, onde contava estabelecer-se, comprou um pequeno junco de cabotagem, de 9,25 m, de 9 toneladas, que ele próprio preparou. Deste modo, pensava, resolveria a crise de alojamento em qualquer porto malgache, vivendo a bordo enquanto procurasse uma situação. Dispondo de muito pouco dinheiro, desembaraçou-se como pôde. Construiu ele mesmo as suas velas com um tecido demasiado fino e disse modestamente que «se saíra tão mal como se houvesse precisado de fazer um fato». Por isso, o velame impava mal, não lhe permitindo navegar contra o vento; depressa se rasgou. Do mesmo modo, o lastro essencial para um junco - que só navega bem carregado a fundo - era constituído por pedras volumosas e demonstrou-se insuficiente, já que era necessário deixar espaço para o habitáculo. Também o velame tinha de ser reduzido desde que houvesse um pouco de vento, o que diminuía ainda mais a velocidade do barco. Ainda pela mesma razão, a água doce foi armazenada em vasilhas perigosas e que estorvavam. Os instrumentos de navegação limitavam-se ao compasso (bússola) e ao sextante, sem barquinha (que permite medir a distância percorrida na água), sem binóculo nem cronómetro. Nem sequer um bom relógio de pulso. E, mesmo assim, Moitessier esteve a pontos de ter de vender o sextante em Singapura, para poder subsistir. Enfim, sempre por falta de dinheiro, o navegador não podia prolongar a sua estada na Indochina e teve de partir contra a vontade. Passou por Malaca em plena estação dos «sumatras» e enfrentou o oceano Índico no momento em que sopra mais forte a monção de sudoeste. A partida verificou-se de Kep a 25 de Março de 1952 e o junco, Marie-Thérèse, atingiu Singapura a 5 de Abril, sem dificuldade. Foram, então, necessárias muitas modificações no aparelho e já uma calafetagem completa. O junco não era novo... nem construído à europeia. Moitessier só voltou a partir a 11 de Junho. Suportou dois ou três «sumatras», essas rajadas nocturnas que só duram uma hora ou duas, mas que atingem 70 a 100 quilómetros à hora. A 17 de Junho estava em Port-Swethnan. Aí recomeçaram as dificuldades quanto à calafetagem. O pobre junco estava, de facto, em muito mau estado. Moitessier betuma e cimenta as juntas. Quer convencer-se de que «esta mistura argila-cimento» é excelente, «desde que seja aplicada com muito cuidado e bem alisada nos bordos; ao fim de algumas horas a superfície torna-se dura e no dia seguinte está mesmo tão dura como a pedra; não abre, como se poderia ser levado a crer, tendo em conta que um barco sempre balança, mais ou menos». Somos, com efeito, levados a crer... e a pensar que este junco mal bordado devia ter um famoso esqueleto. A viagem no estreito não tem história. Depois, continua numa navegação assaz emocionante, em virtude do estado do material, com a monção que sopra em cheio pela proa. É preciso sair desta monção, bordejando a ocidente da grande ilha de Samatra, e atravessar, a seguir, as calmas equatoriais para atingir o benévolo alísio. Enfim, a 17 de Agosto, ei-lo bastante favorável. Mau grado a exiguidade da vela de recurso, Marie-Thérèse faz rota. O relógio parou. Ora! - diz consigo Moitessier - o velho despertador bastará para não ter de esperar demasiado tempo pela hora meridiana, onde se vê o sol saltar sobre o horizonte do sextante. Num dia de quase calma entregou-se a uma fantasia que lhe podia ter custado caro, como vimos em Bombard. O sistema de segurança que descreve é engenhoso, mas de uma eficácia muito relativa: «Como a escota da vela quadrangular tivesse lançado à água uma caçarola, mergulhei para a recuperar e agarrei-me a uma longa adriça que deixo permanentemente vogar. A velocidade de Marie-Thérèse era, de resto, muito fraca nesse momento, um ou dois nós. Esta adriça de socorro está amarrada pelas duas extremidades a cada bordo do barco, formando uma espécie de cintura que se estende até cerca de dez metros da popa. Deste modo, em caso de queda à água, terei mais possibilidades de apanhar a corda e, principalmente, de me poder agarrar a ela, enquanto que uma corda lisa, amarrada só por uma extremidade, seria muito difícil de segurar com uma velocidade de 5 a 6 nós.» E, a 5 ou 6 nós, poderia ter a certeza de atingir o bordo à força dos bíceps? A solidão só a espaços o perturba; nesses momentos, interessa-se pelos animais que o acompanham com a mesma sentimentalidade que encontramos em todos os solitários, a mesma solidariedade com as espécies animais mais imprevistas; tinha nomeadamente «um pequeno camarada peixe, não maior que metade da mão, que vai à frente da roda da proa, à espreita de minúsculos peixes-voadores. Será que os peixes nunca dormem?» Também se distraía como se fosse uma criança (isto para o nosso dossier): «A solidão não me aflige realmente, e esta ponta de nostalgia devida ao mau tempo da última semana já passou. Por momentos, daria, porém, muito para tagarelar uns minutos com um ser humano. Nestas alturas, falo sozinho e brinco - acariciando, por exemplo, o mastro da mezena, perguntando-lhe se ainda me ama e, em caso afirmativo, pedindo-lhe para não me atraiçoar antes das Seychelles. Nunca deixo de jurar, como um soldado, empregando uma mistura de juras francesas, vietnamitas e inglesas. O resto do tempo, se não me ocupo a ler, a falar, a dormir ou a jurar, canto como um possesso ou docemente, consoante o estado do mar e a minha disposição de espírito.» Mas Moitessier, embora fazendo uma boa e agradável rota, está prestes a cometer uma loucura: tem -a ilha de Samatra pela popa, muito bem. Ruma a oeste - perfeito: é a sua rota; mas, navegando assim sobre um paralelo, sem relógio nem loch e com ventos muito variáveis, não sabe de modo algum onde está nesse paralelo. Todos os dias faz a sua «meridiana» com o sextante, que lhe dá a latitude, a distância do pólo. Ao mesmo tempo, no momento em que o sol salta, dá-lhe o meio-dia do lugar; mas como já não tem a hora de Greenwich (nem relógio, nem T. S. F.) isso não lhe indica o afastamento entre estas duas horas, portanto, não lhe indica a longitude. Tudo o que sabe é que navega um pouco ao sul do arquipélago de Chagos. A que distância estará dele? Ignora-o com uma diferença de 200 milhas, pois nenhum cálculo aproximado resistiu a semanas de bordejar, de ventos variáveis, de calmas, de correntes. Que fazer? Haveria uma solução marítima; a bem dizer, já tinha sido abandonada, pois devia ter sido escolhida havia muito: renunciar à rota leste-oeste que impõe uma aportada em longitude, no meio de ilhas baixas, em favor de um rota que permita uma aportada em latitude, para cujo comprimento 'Moitessier está perfeitamente preparado. Basta olhar a carta para se ver que isso não era fácil, já que todas as costas importantes ficam sensivelmente em norte-sul, salvo a índia que, todavia, está na monção. Mesmo assim, fazendo, sem dúvida, uma longa travessia com vento de través sob um alísio fresco, teria podido apanhar as paragens de Madagáscar onde não tinha qualquer hipótese de passar sem ver a grande ilha ou, se se dirigisse demasiado ao sul, a ilha Maurícia, a Reunião, todas muito altas. Em vez disso, optou pela solução mais arriscada: afadigou-se em passar rasando o sul da ilha Diego Garcia, a mais ao sul dos Chagos, a fim de a reconhecer à vista, de passagem. Agarrando bem a paralela, precisamente a sotavento, não correrá praticamente o risco, pensa ele, de a falhar... nem de a reconhecer com a quilha; e saberá assim finalmente onde está, poderá prosseguir a sua rota a partir de uma base certa. Sim, mas esta ilha é baixa, não se vê de longe. E se se afastou, por pouco que fosse, da rota? Se se aproxima de noite? De noite? De noite, vê-se, sob o céu estrelado. Vê-se e ouvem-se os escolhos. Sim, mas se está a dormir? E se a minha avó fosse...? Nós é que lhe emprestamos esta expressão, mas o sentido depreende-se da sua atitude. Encolhe os ombros, pensa que «seria, na verdade, muito azar». Confia - é ele que escreve - confia na sorte. Como aos bêbedos em terra, a sorte no mar só serve os loucos, já o vimos. E confia também nas aves: «Pensava nunca mais encontrar gaivotas a partir de 250 a 300 milhas da cidade de Samatra e voltar a vê-las uma vez chegado a algumas centenas de milhas de Chagos. O meu plano era muito simples: só precisava de me manter na latitude dos 8o Sul, isto é, na zona dos alísios. Desde que aparecessem aves marítimas, vindas de Chagos, navegaria com cuidado sobre os 8o de latitude, durante uma semana a 10 dias, o que me fazia passar aproximadamente a 40 milhas ao sul de Diego Garcia e me permitia ultrapassar completamente o arquipélago. Depois, pôr-me-ia de capa ao norte e navegaria durante 3 ou 4 dias para atingir a latitude das Seychelles (cerca de 4o 30' Sul), mantendo uma vela muito atenta durante a noite, para o caso de, tendo virado de bordo cedo de mais, correr o risco de cair numa dessas ilhas baixas que constituem o arquipélago Chagos. Uma vez atingida a latitude das Seychelles, pôr-me-ia de capa a ocidente e navegaria até ao destino, num mar livre. As ilhas Seychelles, bastante altas e visíveis ao longe, não me causavam qualquer preocupação. «Ora, contrariamente ao que pensava, as aves marítimas nunca deixaram de voar nas minhas imediações, mesmo quando sabia estar muito longe da costa. Por outras palavras, não havia qualquer sinal que me prevenisse da proximidade de Chagos e foi por isso que cometi um erro, persistindo em querer atingir as Seychelles, contra o que me acon-selhava a prudência e modificando o projecto inicial para passar entre Diego Garcia e as Seis ilhas, a fim de me orientar. «Tinha sido igualmente arriscado passar às cegas pelos 8o de latitude Sul, baseando-me num cálculo errado da minha longitude, pois corria, então, o risco de deparar com uma das ilhas madrepóricas dos Amirantes, a sudoeste das Seycheles, ou de ultrapassar a longitude das Seychelles antes de voltar a seguir o vento para norte, o que me teria depois enviado para as costas da África. «Compreendendo já o perigo que corria por querer passar entre Diego Garcia e as Seis Ilhas, isto é, numa passagem de uma vintena de milhas enquanto que esta corrente sul me incomodava, estive quase, no princípio do mês de Setembro, a abandonar o projecto de me dirigir às Seychelles e de seguir directamente para a costa norte de Madagáscar, com vento favorável evitando assim o perigo representado pelos Chagos. Para Madagáscar, pelo menos, o mar estava livre, e podia escolher um ponto da costa visível ao longe, pois tinha à minha disposição uma carta pormenorizada.» Isto teria sido pura sabedoria. Sim. Mas... e o correio que o esperava em Mafra? Tinha dito que passaria nas Seychelles e passaria mesmo. É por causa de raciocínios análogos - tripulante ou passageiro que é preciso ir buscar em tal dia, a tal sítio; correio que espera em determinado porto, dias de férias «que é preciso aproveitar» - por causa de dados fixos impostos a qualquer coisa de essencialmente móvel que os navegadores de recreio partem apesar de tempos que sabem perigosos ou fazem rotas absurdas - e que as coisas correm mal. Há 73 dias que Moitessier está no mar. O mar é belo, o vento excelente. A latitude, 7o 8' Sul, é uns vinte minutos demasiado baixa, pois há uma corrente que puxa para o sul e são precisos 6o 50' Sul para ter a certeza de ver os Chagos. Não podia deixá-los passar! Anota no diário de bordo: «Modifico a rota em alguns graus...» Em alguns graus para o norte... E, depois, às 19 horas, Moitessier vai-se deitar, contando acordar, como era hábito, de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. «Aqui termino o diário de bordo de Marie-Thérèse. À meia-noite, um choque violento lançou-me contra a parede da cabina: tinha chocado com o recife costeiro de Diego Garcia. Se tivesse passado apenas algumas milhas mais ao norte, teria sido a calma imprevista do mar que me teria despertado. «Doze horas somente após o naufrágio, à hora em que por costume estava na ponte, sextante em punho, já não restava o menor vestígio de Marie-Thérèse, nem sequer uma tábua na praia, nem ao menos um pedacinho da quilha.» De facto, não as deixara passar... E... pela primeira vez, pela única vez, tinha dormido cinco horas seguidas. Seria o feitiço? A fatal sereia? E aquela corrente... Aquela corrente impelindo para o sul, enquanto que o alísio soprava de sudeste, teria podido prevenilo da proximidade dos Chagos: a corrente geral de sudeste ou de leste, que observara antes, abriase neles em dois ramos - o inferior puxava para o sul, tendia a afastá-lo, mesmo que o não quisesse, dos perigos! Ao corrigir a rota para o vencer procurou positivamente lançar-se sobre Diego Garcia - pois, quando muito perto de terra, a corrente perde a força, a sua vante levou-o de encontro a essa ilha. É preciso pensar em tudo para navegar junto à terra. (É muito mais fácil fazê-lo sentado à mesa do que em rota: longe de nós a ideia de o censurar.) Moitessier salvou-se ileso. Passou seis semanas em Diego Garcia, a mortífera, «despreocupado e alegre», mau grado a perda do barco e dos livros, graças a amigos maravilhosos. Depois, fazendo escala na ilha Maurícia, achou-se lá tão bem que ficou «confiante no destino que o tinha conduzido a esta terra privilegiada onde gostaria de se poder «fixar». Claro que todo ele era marinheiro. Mas a regra do seu jogo não é, para procurar esse destino... ir em busca de dificuldades, «metendo norte no seu ocidente» para ir encalhar no recife mais ao sul de todos os perigos da sua rota! Modo de conhecer o seu ponto, talvez definitivo em demasia. Achámos que esta história daria um pequeno apanhado dos problemas de navegação em longitude e em latitude, bem como uma ilustração do que pensava Slocum da precisão demasiada, mas não bastante - sendo o maior perigo a mistura das duas. O que não impede Moitessier de ser infinitamente simpático. ...E de recomeçar. Duplamente. Na verdade, tendo trabalhado daqui e dali para construir pelas suas mãos um barco novo, voltou ao mar. África do Sul, Antilhas. E... novo naufrágio. E com coragem, com pequenas ocupações, com amizades (que nem sempre lhe podiam oferecer mais que um prato de lentilhas), com essa aura maravilhosa do «tipo decente integral», novo barco. Mas também jovem mulher, uma das mais encantadoras que se possam imaginar e famoso marinheiro. Foi com ela que realizou a mais longa travessia voluntária de recreio em tempo (126 dias), depois de Gilboy, e em distância (14 216 milhas) até Chichester (que só o igualou), de Tahiti a Alicante, no Mediterrâneo, e que passou sem dificuldade o cabo Horn de ocidente para oriente, como Dumas e Chichester (mas a dois)! Conta-o num delicioso livro Cap Horn à la voíle. O seu livro anterior, "Un vagabunde des mers du Sud", é, além disso, o mais belo jamais escrito por um navegador solitário. Bernard Moitessier e o Joshua Por um verdadeiro navegador solitário. Termina por esta frase: «Então, com o céu a ajudar-me, Bateau seria talvez sinónimo de Liberte.» Enfim... Atacado também de «recordite», ei-lo que prepara uma volta ao mundo solitária, sem escala... Os problemas de aprovisionamento, de resistência, são tão graves que nos podemos perguntar se isso continuará, na verdade, a ser «liberdade». O mar pelo mar? Sim. Mas, nesse caso, por que motivo regressar ao ponto de partida e não algures? A admiração que nos suscita acompanha de perto a confusão. CAPÍTULO 5 - OS CIRCUM-NAVEGADORES SLOCUM, PIDGEON, DRAKE, ALAIN GERIBAULT, MILES, ERLING TAMBS, FRANCESCO GERAOI, BERN1COT, VITO DUMAS, J.-Y. LE TOUMEUN, MORNAN, PETERSEN, JEAN GAU, BARDIAUX, GUZZWELL, MICHEL MERMOD, PIERRE AUBOlROUX, CHICHESTER, FRANK HASPER, O BENJAMIM LEE GRAHAM SLOCUM, O PIONEIRO O primeiro em data entre os circum-navegadores solitários foi também o maior: Joshua Slocum. Nasceu a 20 de Fevereiro de 1844, em Wilmot, no condado de Annapólis, Nova Escócia, Canadá. Era pois o que os yankees chamavam um «blue-nose»; depois, naturalizou-se americano. No seu livro ( ) afirma que todos os seus parentes eram marinheiros - o que não é de todo exacto, já que seu pai, John Slocombe (ignora-se o motivo por que, para Joshua, o nome foi transformado em «Slocum»), trabalhou primeiro como lavrador e, depois, fabricou botas para pescadores - atendo sido nesta profissão que Joshua fez a sua aprendizagem. John Slocombe era, além disso, diácono da igreja metodista. A família Slocombe tinha vindo de Inglaterra, mais exactamente de Taunton (Somerset, muito perto do canal de Bristol), em 1637. Aí existia, em 1701, o muito reputado capitão Simon Slocombe. Marinheiros ou não, toda a gente das margens da baía de Fundy se voltara para o mar, só vivia do mar - mesmo os lenhadores que vendiam o pinho para fazer mastros e cascos. E John Slocombe era marinheiro tanto como qualquer profissional. Assim, com oito anos, Joshua gingava no porto, navegava na baía com os garotos da região. Foi depois cozinheiro a bordo de um pequeno palhabote de pesca, posto que só ocupou pelo espaço... de um prato, pois a experiência era concludente. Navegou como marinheiro de longo curso, a seguir como capitão; segundo o costume em vigor na época, era ou co-proprietário ou proprietário único dos seus barcos. Conhecia bem o negócio e perfeitamente o seu barco de três mastros, Aquídheck que comandava havia vinte anos quando, em «Dezembro, no Brasil (em Paranaguá), deu à costa e perdeu o navio. O mar é o mar, ninguém pode estar nele seguro de si. (1) Seul autour du monde, notável tradução de P. Budker, Edições Chiron, 40, rua de Seine, Paris. Os marinheiros foram embarcar a Montevideu. Mas Slocum queria regressar a casa, ir buscar a mulher (que vivia a bordo, como era costume). Não havia, porém, embarcação. Com o filho, Vítor (1), o mais novo dos que então tinha, decidiu muito simplesmente... construir o Liberdad. Como ferramenta, dispunha de um machado, uma enxó, duas serras, uma lima e três trados de menos de 18 milímetros; para os buracos maiores, um pedaço de ferro em brasa bastaria. As ferragens e os pregos foram obtidos nos destroços. Depois de pronto, o Liberdad media 10,50 m por 2,15 de largo. Era, diz Slocum, qualquer coisa entre o dóri (na Nova Escócia ou em Boston chama-se dóri a toda a embarcação!) e a sampana japonesa. O aparelho era o de uma sampana, constando de três mastros com «velas de junco», isto é, pendões guarnecidos de ripas. A senhora Slocum, que salvara do naufrágio a sua máquina de costura, confeccionou o velame. (1) Que publicou uma obra sobre o seu pai, traduzida em francês (Edições Amiot-Dumont). Outra, e notável obra, devida a W. Teller, acaba de ser traduzida por Budker, Edições Chiron, sob o título Slocum, homme de mer. E a travessia fez-se. À noite estava-se de quarto alternadamente. Mas o homem do leme dispunha de um meio para chamar o seu sucessor: uma linha atada ao pé do que dormia. Três puxões significavam: «Está na hora do teu quarto»; três abanões: «Depressa, ferrar velas!», etc. Uma noite, Slocum puxou... e tirou a bota de água ao filho. Outra história engraçada: em Porto Rico, um fotógrafo quis «tirar um retrato» a Liberdad e à tripulação, mas os Slocum, pai e filho, dormiam em terra e recusaram-se a ser perturbados; mesmo assim, a Imprensa local publicou uma fotografia, mostrando Liberdad e, ao leme, um homem garboso, mas terrivelmente queimado: era um negro! Liberdad atingiu Washington a 27 de Dezembro de 1888, precisamente um ano após o naufrágio. Contamos esta aventura porque mostra que Slocum sabia já governar um pequeno barco, construi-lo e dar provas de humor. Mas os negócios corriam mal. Em fins de 1892, Slocum, que tinha 48 anos, já não possuía qualquer navio e hesitava entre solicitar um comando ou entrar para um estaleiro de construção naval, o que exigia um pequeno capital que ninguém quis proporcionar. Um dia, em Boston, encontrou um velho amigo, capitão de baleeira, que lhe disse: «Um barco? Vou-lhe dar um. Precisa de umas reparações, mas ajudá-lo-ei a consertá-lo.» O barco... um sloup chamado Spray (espuma), não era de modo algum novo, pois... tinha cem anos. Segundo a tradição, havia outrora pescado ostras na costa do Delaware; vivia os últimos dias de uma venerável existência, cuidadosamente escorado - os velhos usam muletas - e coberto com um toldo, no meio de um campo. O que parece provar que os garotos de Fairhaven, perto de New Bedford, eram menos destruidores que os nossos e que suas mães não precisavam de casotas para coelhos. Os vizinhos perguntaram a Slocum: «Vai desfazê-lo?» Ele não hesitou: «Não, vou reconstruí-lo.» Ficou pronto na Primavera de 1894. Ou, mais exactamente, Slocum tinha desmontado por completo o velho Spray e, sobre estes gabaris, construído um Spray totalmente novo. A velha blague dos nossos estaleiros, «Dás-me o teu papel de naturalização francesa e eu refaço-te um barco em volta dele», foi com todo o rigor executada, tão estritamente como isto: a alfândega tinha perdido o rasto aos documentos do velho Spray. O novo barco foi construído em madeira de primeira ordem e os bordos cavilhados; mostrou-se de extraordinária robustez - o que, mais tarde, teve a sua importância. Media 11,20 m de comprido por 4,32 m de largo - o que é muito - e apenas 1,27 m de profundidade (tinha portanto os fundos completamente chatos). Tonelagem: 12. O lastro de mais de 3000 quilos, em cimento, era todo interior. Sem substituto. Primeiro foi aparelhado como sloup; só no estreito de Magalhães Slocum, a fim de dividir o velame, o aparelhou em yawl. À partida, o seu custo estava em 554 dólares-ouro de materiais (ou seja, cerca de 6000 francos de 1965) e em 13 meses de trabalho. Slocum queria primeiro pescar com o Spray e a isso se dedicou no Verão de 1894; a experiência mostrou-lhe que era um detestável pescador, mas que o Spray se comportava como um barco extraordinário, capaz de manter sozinho a rota a todas as velocidades (coisa que não se voltará a ver antes de Marin-Marie e J.-Y. Le Toumelin). Como os navegadores à vela dão grande importância a essa questão, o leitor vai permitir-nos que reproduzamos exactamente o que diz Slocum a este respeito: «Com a verga da mezena bem largada e o vento de dois quartos (22° 30') pelo través, o Spray navegava nas melhores condições. Pouco tempo precisava para encontrar o ângulo de leme que lhe permitia manter a rota; logo que o determinava, amarrava-o. A vela quadrangular servia então de propulsora, enquanto que a vela de giba, orientada ora para um bordo, ora para outro, bordejando, ajudava muito â estabilidade da rota. Com brisa forte, usava, por vezes, uma vela de giba volante, um botaló prolongando o gurupés, e bordejara, precaução que se devia tomar mesmo com vento muito forte. Era-lhe necessário uma sólida carregadeira na carangueja para poder amainar rapidamente a quadrangular quando as circunstâncias o impusessem. O ângulo de leme variava naturalmente conforme a força e a direcção do vento. Tudo coisas que a prática ensina depressa. «Direi apenas que cerrado de bolina com brisa ligeira e com todo o velame içado, Spray pouco exigia ou nem sequer exigia leme a barlavento. Se o vento aumentava de velocidade, subia à ponte; se me encontrava em baixo e dava um malagueta da roda, tornava a amarrar o leme e deixava-o ficar como antes. «A facilidade com que o Spray mantinha a rota com vento pela popa durante semanas e semanas consecutivas, era um motivo constante de admiração, mesmo para os mais hábeis e experimentados capitães. «Veja-se, por exemplo, a longa rota efectuada pelo Spray da ilha Thursday às ilhas Keeling: 2700 milhas em 23 dias, sem tocar no leme, salvo durante cerca de uma hora, no máximo, à partida e à chegada. Nunca nenhum barco no mundo realizou, em circunstâncias semelhantes, uma proeza que se possa comparar à representada por uma viagem tão longa e regular.» Nos princípios de 1895, sentindo-se em plena forma, com 51 anos, Slocum decidiu, por amor do mar, dar a volta ao mundo, coisa que nenhum barco pequeno havia ainda realizado e muito menos com um só homem. A 14 de Abril largou de Boston e foi ultimar o armamento em Gloucester. De um dóri cortado ao meio fez um bote: vantagem número dois, como diria Kipling - este «semi-dóri» podia também servir de lavadouro e de banheira. Como não tinha os 15 dólares necessários para mandar consertar o seu fiel cronometro de bordo, contentou-se com um relógio (em folha-de-flandres). O mesmo farol de dois bicos servia para a iluminação e para cozinhar. Aparelhou a 7 de 'Maio. Mal chegou ao largo, este velho marinheiro disse consigo «Que faço eu aqui?» e hesitou em prosseguir. Vinculado «a si próprio por um contrato de fretamento tácito», continuou a rota para Westport, na Nova Escócia, onde retomou contacto com a sua infância. Em Yarmouth abasteceu-se de água, consertou as enxárcias, calou (arriou) o mastro de flecha, inútil; a 2 de Junho de 1895 foi a verdadeira partida. Perdido de vista o cabo Sable, evitada a perigosa ilha do mesmo nome, começou a solidão. O mar era cavado, veio a bruma que Spray furava sozinho. E Slocum teve medo. Ele o diz, este velho corredor dos mares, sem falsa vergonha - uma grande lição para os matamouros: «Tinha a consciência de não passar de um insecto agarrado a uma palha, à mercê da força dos elementos. Foi durante esses dias que conheci o medo. Todos os factos da minha existência me apareceram então com surpreendente clareza. «O que a minha solidão tinha de obsidiante e insuportável, desapareceu quando, no auge da tempestade, tive que me ocupar com tudo o que havia a fazer na ponte. Mas, com o bom tempo, esse sentimento regressou sem que pudesse afastá-lo. Falava muitas vezes em voz alta, comandando a manobra do barco, pois tinham-me dito que perderia a fala se durante muito tempo permanecesse silencioso. Ao meio-dia, depois de ter medido a altura meridiana do Sol, gritava a plenos pulmões: «Ao vento todo!» De vez em quando, da minha cabina, perguntava a um homem do leme imaginário: «Qual é o rumo?» ou «Vai a seguir a rota?». Mas como não obtinha resposta, ainda mais claramente compreendia a minha situação. A voz soava-me sem eco, no vazio, e abandonei esse hábito. Felizmente que me lembrei, bastante a propósito, de que na minha juventude cantava muito. Porque não tentar, agora que já não corria o risco de incomodar fossem quem fosse? Os meus talentos musicais nunca havia provocado inveja entre os meus semelhantes, mas ali, no meio do Atlântico, deviam ter-me ouvido! Punha a minha voz ao nível do vento e do mar e era ver os marsuínos saltar ao escutarem-me! Velhas tartarugas, com grandes olhos pasmados, agitavam a cabeça acima da água, enquanto eu cantava John Boker e Wll Pay Darby Doy for His Boots e outras ainda. Mas os marsuínos eram muito mais conhecedores que as tartarugas, e saltavam muito mais alto... Um dia em que trauteava uma das minhas árias favoritas (creio que era Babylon's a-Fallin), um deles saltou até mais alto que o botaló e mesmo à sua frente; se o Spray navegasse um pouco mais depressa, ter-se-ia espetado sem remédio! As aves marinhas, essas mostravam-se mais reservadas.» Slocum, depois de ter cantado e de se ter divertido assim consigo próprio, acalmou-se; e sentiu-se satisfeito, já que o Spray, essa «grande celha», como diziam os trocistas, navegava 150 milhas por dia. Navio! «Toda a tripulação do Spray gritou em coro: Navio!» Presságio encantador: o capitão desse três-mastros espanhol atirou a Slocum uma boa garrafa. Outro, sabendo que o Spray andava ao largo havia 14 dias, saudou-o com o pavilhão. Depois, um vapor cujo capitão dá a Slocum a sua posição com demasiada confiança. Slocum anota outra lição a reter: «Pareceu-me que ele estava por demais seguro dos seus cálculos... uma confiança exagerada nestes já causou a perda de muitos capitães.» Mais tarde, voltou ao assunto: «São os oficiais demasiadamente confiantes que mais perdem os seus navios.» A 20 de Julho, dezoito dias após ter passado o cabo Sable, Slocum fundeou no Faial, Açores. Passeou pela ilha, mas não era isso que lhe bastava: outra vez para o mar! Aparelhou no meio de terríveis rajadas de vento, provenientes de montanhas (a sua bacia de folha-de-flandres fez um salto planado por cima do navio-escola francês que se encontrava a sotavento). Tinha, porém, comido queijo e ameixas, dois alimentos que ligam muito mal; torcendo-se de cólicas, desmaiou na cabina, delirou depois. Julgava ver ao leme do Spray um marinheiro assustador; era o piloto da Pinta de Cristóvão Colombo, que se encarregara do Spray durante a indigestão do navegador. Divertido, Slocum, ao longo de todo o seu cruzeiro, chamará «Piloto da Pinta» ao invisível homem do leme que lhe levava o Spray em tão longas rotas, sem se desviar um grau. Nessa noite, tinha percorrido 90 milhas. É certo, diz Slocum, que o Piloto da Pinta, por muito bom marinheiro que fosse, não havia amainado a vela de giba, grande imprudência com tanto vento. A 4 de Agosto, Slocum chegava a Gibraltar. Até então, estava resolvido a continuar para o Suez. Mas como vários oficiais lhe tinham observado que o Mar Vermelho transbordava de piratas, disse consigo: «Não importa! Farei a volta ao mundo no outro sentido!» (Veja os mapas no princípio do volume.) Ora - os acontecimentos também têm o seu humor - mal acabava de largar de Gibraltar (25 de Agosto) quando foi apanhado por um pirata mouro. A experiência esteve para acabar mal, pois o vento aumentava de intensidade e Slocum via-se preso num dilema: diminuir o pano e ser apanhado, ou dá-lo todo ao vento e ser apanhado também. Uma rajada encerrou o debate: a verga da mezena do Spray quebrou-se sobre as enxárcias, obrigando o navegador a meter à orça (rumar ao vento, portanto, parar). Pegava Slocum na sua ridícula espingarda... quando a faluca ficou por sua vez sem mastro. «Que Alá vos ponha a cara ainda mais preta!» gritou Slocum. Com a vela de giba e o traquete, Slocum restabeleceu-se. Mas estava tão fatigado que nem sequer pôde cozer um peixe-voador, apanhado na ponte; compreendeu então «o que o resto da viagem iria exigir de esforços penosos e prolongados». Os santos do mar não são «supermen» de aço inoxidável. Eis o vento de areia. Bela navegação! Depois os alísios; navegação ainda melhor, sem incidentes. Slocum sentia-se orgulhoso da sua aportada precisa na ilha mais a noroeste do arquipélago de Cabo Verde, mas passou além. E foi de novo o mar imenso, numa solidão absoluta. «Mesmo quando dormia - diz - sonhava que estava sozinho; mas, a dormir ou acordado, tinha sempre consciência da posição do sloup.» É isto um marinheiro. Uma noite de brisa ligeira, terror: vozes humanas! É um três-mastros que passa lentamente a contrabordo. As vergas baixas do grande veleiro que os marinheiros, à pressa, orientam ao vento, falham à justa o mastro do Spray e a embarcação afasta-se em silêncio, como um fantasma. O alísio ia perdendo intensidade. Em breve surgiu o «Pot-au-Noir» essa zona de calmas entrecortadas por violentas rajadas de chuva e de vento de todos os quadrantes que separa os alísios norte dos alísios sul, um pouco acima do Equador e que os Ingleses bizarramente denominam «horses latitudes». Quais cavalos? Os palmípedes de Neptuno, rei do mar? (Não; menos poeticamente, os cavalos transportados que, no tempo da navegação à vela, morriam de calor e cujos cadáveres flutuavam na calma.) Durante 10 dias, o Spray balançou da proa à popa. Um palhabote roubou ao Spray... os peixes que o acompanhavam, pois a sua querena, mais suja que a do barco de Slocum, fornecia-lhes mais alimentos. Slocum mostra-se muito triste por perder os seus companheiros, que o divertiam e a quem alude de modo encantador. A 5 de Outubro, após 40 dias de mar, o Spray fundeia em Pernambuco, tendo atravessado duas vezes o Atlântico. Nessa época, o Panamá mão estava ainda fendido. Para continuar para ocidente era, portanto, necessário dar a volta à América do Sul, «dobrar o cabo Horn»- expressão que, para os marinheiros dos mais esplêndidos navios, encerra um sentido temível - ou, então, tomar o estreito de Magalhães que não goza de muito melhor fama. Antes do mais, era preciso acompanhar toda a costa do Brasil e da Argentina. Costa longa, mas não terrível. Foi, porém, nela que Slocum deu em seco, isto é, encalhou o barco. Um erro de principiante, cometido muito simplesmente ao passar demasiado perto para evitar a corrente contrária. Um verdadeiro descuido de amador! Slocum conta-o sem rodeios: «Aproximei-me demais da costa. Em resumo, ao amanhecer de 11 de Dezembro, o Spray encalhou numa praia; deixei-me enganar pelo aspecto que o luar dava a uma duna de areia.» Na realidade, o encalhe não foi grave, o mar estava magnífico (1). Era, no entanto, preciso lançar ao largo uma pesada âncora. Mas o semi-dóri, frágil, sobrecarregado, metia água e ia sem a menor dúvida, adernar. Pluf! Slocum lançou a âncora o que, como previra, fez naufragar o bote. Só então Slocum se lembrou de que não sabia nadar! Incrível (mas frequente entre os marinheiros). A cena é tragicómica (2): (1) Dezembro é o princípio do verão austral (2) Ob cit. Edições Chiron «Agarrado com toda a força ao bordo do dóri, tentei virá-lo; fi-lo, porém, com ímpeto demais e o barco deu uma volta completa. Ficou de quilha para o ar, como antes, e eu na água, no mesmo ponto, sempre agarrado ao casco. Estudei então seriamente a situação e apercebi-me de que, embora o vento soprasse ligeiramente para terra, a corrente arrastava-me para o largo; tinha, pois, de tomar uma atitude. Tentei por três vezes voltar o meu dóri e das três vezes fracassei, não sem que, a cada tentativa, tivesse mergulhado totalmente na água. Estava prestes a murmurar, esgotado, «Desta vez acabou-se! Desisto!», quando a ideia de que todos os profetas de mau augúrio que deixara à partida poderiam então repetir triunfalmente o seu «Bem lhe tinha dito!» me deu energia suficiente para um último esforço. Mau grado a importância do perigo posso dizer com todo o rigor que esse momento se conta entre os mais serenos da minha vida. E consegui, por fim, voltar o dóri, içar-me para bordo com infinitas precauções para não o fazer adernar de novo e remar para terra com um remo que conseguira recuperar. Escusado será dizer que estava completamente encharcado e que tinha bebido uma quantidade considerável de água salgada... Mas o Spray estava agora em seco e só isso me preocupava: pô-lo a flutuar era o meu único objectivo. Não tive grande dificuldade em amarrar a ponta do cabo que ficara no sloup ao da âncora, pois tivera o cuidado de atar uma bóia à extremidade deste último. Esqueci todas as preocupações anteriores ao verificar que o meu golpe de vista, ou o acaso, como se queira, haviam resolvido o problema - na verdade, existia cabo à justa para poder dar uma volta à boneca do molinete. A âncora fora lançada exactamente à distância precisa. Só me restava aguardar a próxima maré.» A cena seguinte é do mesmo modo cómica, mas já sem nada de dramático. Fatigado, estendeu-se na praia. Em breve ouviu os cascos de um cavalo. «Prudentemente, pelo canto do olho, vi então, montado num pequeno cavalo, o jovem mais pasmado de toda a costa: acabava de achar um sloup! «Pertence-me - pensou - fui eu que o descobri na praia!» Sim, de facto, ele lá estava, em seco, todo pintado de branco, bem aparelhado. Com desembaraço, o jovem atrelou o cavalo ao cabresto do gurupés como se quisesse 'rebocá-lo assim até casa. Naturalmente que o Spray era por demais pesado para poder ser arrastado por um poney. Já o mesmo não acontecia, porém, com o meu dóri que em breve foi puxado a certa distância e escondido atrás de uma duna, no meio de um tufo de altas ervas. O jovem preparava-se para partir quando me mostrei e avancei para ele, o que pareceu desagradar-lhe muito, desapontá-lo. - Buenos dias, muchacho! - Cumprimentei. «Ele resmungou uma resposta e olhou-me atentamente dos pés à cabeça; depois explodiu de súbito, numa avalancha de perguntas; queria saber de onde vinha o meu barco, quanto tempo gastara na viagem, o que fazia tão cedo em terra, etc. - Não é muito fácil satisfazer a sua curiosidade - respondi. - O meu barco vem da Lua. Gastei um mês para fazer a viagem e estou aqui para levar um carregamento de rapazes! - «O facto de ter revelado o fim da minha expedição poderia ter-me custado caro, pois, enquanto falava, o selvagenzinho das pampas enrolava o seu laço e preparava-se para mo atirar; em vez de ser transportado para a Lua, pensava aparentemente em rebocar-me para casa dele, pelo pescoço, atrás do seu mustang, através das pradarias do Uruguai...» Na maré alta, o Spray foi desencalhado por Slocum com o auxílio de três homens; as pequenas avarias foram reparadas e o navegador voltou a partir para o sul, por Montevideu e Buenos Aires. O Spray, que desde Pernambuco estava aparelhado em yawl, viu encurtados o botaló e o mastro, depois da verga da mezena. Slocum encontra amigos por toda a parte. Por toda a parte a sua história se salpica de saborosas anedotas. Todavia, Slocum não é desta opinião e escreve algures: «Só deparei com circunstâncias felizes, embora as minhas aventuras sejam de todo prosaicas e desprovidas de pitoresco!» Acabada a brincadeira era, porém, necessário partir para o sul. Tudo correu bem até depois de ter passado o imenso golfo Saint Georges, já muito ao sul na Patagónia. Aí, bastante ao largo, o Spray deparou com o mar muito agitado. Temos que citar de novo textualmente - o leitor compreenderá porquê: «De repente, surgiu uma vaga prodigiosa de altura assustadora, roncando, e só tive tempo de amainar o pano e de subir ao mastro pela adriça de pique, no momento exacto em que a crista da onda me dominava com toda a sua altura. A montanha de água submergiu o barco que tremeu com todos os seus membros e oscilou sob o peso; logo, porém, se libertou e, balançando magnificamente, foi cortando as vagas seguintes. Enquanto estava no mastro, durante um minuto, creio, deixei de ver o casco do Spray; talvez tenha sido menos tempo... O certo é que me pareceu muito.» O riso que Alain Gerbault não provocou por ter agido da mesma maneira! Slocum tinha uns 30 anos de mar e mostrou-se o mais notável dos marinheiros. Gerbault, neste ponto, está desculpado. O cabo das Virgens (que não são virgens meigas) foi depressa atingido, a 11 de Fevereiro de 1896. Aí era preciso escolher: ou dobrar o cabo Horn ou entrar no estreito de Magalhães. Por que motivo é o cabo Horn tão temido? Vejamos: 1.° - Nesta região austral, passado o esporão americano, acontece que os mares fazem um anel ininterrupto em volta dos gelos polares. Assim, a ondulação que é uma onda no sentido sonoro da palavra, como não encontra nenhum quebra-mar torna-se uma onda ininterrupta cheia até ao limite (1). Quando o limite é ultrapassado, rebenta; e essas rebentações não perdoam. Além disso, na ondulação, o «mar de vento» torna-se mais depressa terrivelmente agitado. (1) A mesma razão por que as marés são fortes no Atlântico; a ondulação Ininterrupta de maré, criada em volta do Pólo Sul, precipita-se no oceano. 2.º - (Nesse anel, a que os Ingleses chamam os «rugidores quadra-gésimos graus» (e abaixo deles, bem entendido) os ventos são quase perpetuamente de leste e muito violentos, com grande frequência de tempestade (anunciada pelo terrível «arco branco»). Para dobrar o cabo Horn, do Atlântico para o Pacífico, é, portanto, necessário navegar contra o vento, contra o mar e contra a corrente. Bordejar lá dentro! Pior: os bordos têm que ser muito curtos, pois, ao sul, começam os gelos. E a terra ao norte, constituída pelas ilhas da Terra do Fogo, é inóspita, bravia, semeada de rochas; ao largo destas, o mar «trabalha», enche, rebenta. Os grandes veleiros redondos que remontavam mal a barlavento, passavam semanas, mesmo meses, sem conseguir dobrar esta ponta; alguns destes acharam mais vantajoso... renunciar e dar a volta pelo cabo da Boa Esperança! Falaremos mais adiante da navegação de Mardel Cardiais. 3.° - Quando, dobrado o cabo Horn, se entra no Pacífico, isso não significa de modo algum o sossego. Na verdade, os ventos que sopravam do sudoeste ou de ocidente, passam a noroeste e está-se de novo com vento pela proa, a bordejar num mar enorme (mas com possibilidade de ir para o largo), face à costa deserta e terrível que sobe 350 milhas até às famosas Evangelistas, à saída ocidental do estreito de 'Magalhães. Parece que até hoje nenhum barco pequeno percorreu completamente este caminho, à excepção de Al Hansen, que se perdeu depois, e no outro sentido, menos difícil, de Vito Dumas. O estreito de Magalhães será melhor? Sem dúvida, mas não muito, sobretudo em 1896 e veremos porquê. Além disso e segundo a lenda, o estreito era impraticável à vela; era preciso fazer-se atoar (rebocar), pois existiam nele «pontos inul-trapassáveis». O fenómeno assim chamado é o seguinte: quando um canal apresenta uma entrada estreita, o vento, antes dessa entrada, converge para eia. Quando o veleiro tentar bordejar, o vento oporá resistência, portanto, à medida que se for navegando para a margem. Se o vento estiver, pois, sempre a ocidente e sempre forte, um veleiro, principalmente se bordejar mal, nunca poderá vencer, rumo ao Pacífico, as entradas do estreito de Magalhães. Slocum encarregou-se de demonstrar que isso era possível, mesmo sem tripulação. A navegação que nele fez foi, a todos os títulos, notável, no meio dos «williwaws», - rajadas terríveis vindas das montanhas, e dos indígenas do Fogo que, a pretexto de «yammerschooner» (fazer trocas ou mendigar) queriam, na realidade, atacar o pequeno barco. Não dizemos «o homem sozinho», pois, sempre fértil em artimanhas, Slocum, saindo da cabina com trajas diferentes e «aparelhando» um manequim, fingiu uma tripulação de três pessoas. É impossível resumir aqui esta travessia. Retenhamos apenas uma nota de humor de gaiatice, bem significativa do carácter de Slocum. Como tivesse encontrado uma pequena ilha não indicada na carta, declarou-se seu «inventor» e, usando dos direitos disso decorrentes, afixou um letreiro que dizia: «Proibido pisar a relva». A solidão devolve a juventude, mesmo aos 52 anos. (Veja carta de Magalhães.) A 3 de Março de 1896, com um vento leste inesperado, o Spray saiu do estreito para o Pacífico. Hurrah! Ora, na manhã de 4 de Março, antes que Slocum tivesse podido afastar-se suficientemente para o largo, o vento transformou-se em furacão, de noroeste. Slocum deixou-se impelir, pano amainado, mas «nenhum barco do mundo poderia aguentar-se contra rajadas tão violentas». Era necessário fugir para sudeste. Sudeste? O cabo Horn! Passado aquele havia que recomeçar tudo. Tanto pior: tinha que ser. Correndo com o traquete e dois reboques à popa para reduzir a velocidade, o Spray comportou-se muito bem. Mas... mas Slocum enjoava. Ele? Provavelmente pelo «regresso da inquietação»; os marinheiros entender-me-ão. Depois do cabo Pilar, o mar torna-se um pouco menos «selvagem», mas majestoso. «Passaram dias inteiros - diz Slocum - que me traziam - sim, é verdade! - uma verdadeira sensação de prazer!» (Com a quadrangular em farrapos.) No quarto dia, julgou aproximar-se do cabo Horn; viu a bombordo, por uma aberta entre as nuvens, uma montanha. Ali estava ele! Uma vez dobrado o cabo, iria às Falcland, recompor-se. «Estava contente - diz ele - (pois tem bom génio) - por entrar de novo no estreito de Magalhães, por o passar uma segunda vez, rumo ao Pacífico, pois, ao largo da Terra do Fogo, o mar era pior que mau: era literalmente «montanhoso». Nas rajadas mais violentas e enquanto o sloup apenas navegava com o traquete e um riz, só o batimento desta pequena vela fazia-o estremecer da carlinga à borla do mastro. Se, na altura, tivesse duvidado da solidez do barco, teria com certeza receado que a bombordo se declarasse água aberta ao pé do mastro; mas nem uma só vez tive que escoar. Impelido pelas pequenas velas reduzidas que tinha içado, o Spray corria para terra como um cavalo de corrida, e era um trabalho apaixonante conduzi-lo através das ondas, de crista em crista, para que não adernasse. Então nunca largava o leme e fazia o melhor que podia. «A noite caiu antes que o sloup tivesse atingido terra e continuei a rota numa escuridão espessa como breu. Em breve vi diante de mim escolhos. Virei imediatamente de bordo e rumei ao largo, mas logo me sobressaltei com o ruído terrível de novos escolhos, mesmo na minha frente, e também a sotavento. Isso embaraçou-me muito porque no local onde julgava estar não deveria haver rebentação. Deixava-me impelir depois virava ló a ló, mas continuava a encontrar escolhos na minha frente. Passei assim o resto da noite rodeado de perigos por todos os lados. O granizo e a neve derretida que caíam com os aguaceiros cortavam-me de tal modo a pele que o meu rosto ficou coberto de sangue. Mas que importava! À luz do dia, dei por mim no meio do Milky Way a noroeste do cabo Horn e descobri que as rebentações que durante a noite haviam ameaçado engolir-me eram produzidas por um mar encapelado, rebentando em rochas submersas. Era a ilha Fury e não a ilha Horn que eu tinha visto na véspera e para a qual me dirigira. Que panorama me rodeou então! Não era o melhor momento para me queixar de algumas arranhaduras na cara! Que poderia fazer senão tentar fugir, procurando um canal entre os escolhos? O Spray, tendo evitado as rochas durante a noite, saberia bem encontrar a rota durante o dia. Foi a maior aventura no mar de toda a minha vida. E só deus sabe como me desembaracei! «O meu sloup conseguiu abrigar-se atrás de pequenas ilhas e achou-se em águas quase calmas. Subi, então, ao alto do mastro para contemplar a cena nas minhas costas. O grande naturalista Darwin viu as mesmas paragens do alto da ponte do Beagle e escreveu no seu diário: «Todo o terreno, depois de ter visto o Milky Way terá pesadelos durante oito dias.» Poderia ter acrescentado: «Todo o marinheiro!» «A sorte do Spray não o abandonou. Apercebi-me, ao navegar através de um labirinto de ilhas, que me encontrava no Cockburn Channel que leva ao estreito de Magalhães num ponto situado em frente do cabo Froward, e que já tinha atingido a «Baía dos Ladrões» - muito a propósito chamada assim. E a 8 de Março, ao cair da noite, o Spray fundeava numa pequena enseada, na margem do estreito. Salvação à justa!» Aí repousou um pouco. Mas estava à mercê dos indígenas, se apare-cessem. Por isso, pegou num saco de sementes de flor de abelha ( tachas metálicas ) que lhe haviam dado e para as quais só via um uso: espalhá-las na ponte com a ponta para o ar. «Por volta da meia-noite, enquanto dormia na cabine, vários selvagens subiram a bordo, convencidos de que a minha captura e a do sloup era coisa arrumada; porém, logo que chegaram à ponte, mudaram de opinião... Na verdade, não precisava de cão: gritavam todos como uma matilha. Nem sequer necessitei de utilizar a espingarda. Saltaram desordenadamente para as pirogas ou para a água, para se refrescarem, creio, e sublinharam a partida com prolongados impropérios. Subi à ponte e disparei vários tiros para lhes fazer ver que estava presente e voltei a deitar-me, certo de que pessoas que tão rapidamente tinham fugido não voltariam a incomodar-me tão cedo. «O perigo maior era talvez o fogo. Todas as pirogas têm uma fogueira (daí o nome da região), pois é hábito dos indígenas comunicar entre si por sinais de fumo. Mas o brandão incandescente pode ser lançado para uma cabina se não se estiver alerta. O Spray não tinha qualquer abertura no camarote de convés ou na ponte, salvo duas escotilhas fechadas por um dispositivo que teria sido impossível forçar sem que eu despertasse.» Começou por refazer uma vela quadrangular e atingiu, a 10 de Março, a 'baía de Saint-Nicolas, no estreito de Magalhães, que abandonou a 19 de Fevereiro. Tinha as mãos feridas por ter alado muitos cabos molhados. Não importava! Após muitas dificuldades, chegou de novo à saída do estreito - não sem ter (pois foi, durante muito tempo, «trader»!) enchido o seu barco de sebo e de barris de vinho dados à praia; uma moeda de troca para as escalas do Pacífico. No Pacífico passa «um pouco perto de mais» de uma rocha que toca com a verga da mezena. Mas o azar é conjurado e as vagas do Pacífico «saúdam-no muito delicadamente com as suas boinas brancas». Desta vez, terá uma verdadeira recepção; as Evangelistas são evitadas. Ao largo e em rota! Após 30 horas contínuas ao leme, pôde, enfim, dormir, pensando que as águas tropicais do Verão o esperavam. Foi então que se descobriu, pois «encontrava-se sozinho perante deus», no oceano imenso. E a 26 de Abril, 15 dias sobre ter deixado o cabo Pilar, divisou a ilha Juan Fernandez onde viveu Selkirk, aliás Robinson Crusoe. Não podemos relatar aqui todas as escalas de Slocum nos arquipélagos indonésios. É pena, porque, no tempo de Slocum, 30 anos antes de Gerbault, essas ilhas tinham uma «frescura» humana totalmente diferente. Os ventos alísios, em belos céus, fizeram das suas travessias sucessivas autênticos passeios. A solidão já não o incomodava, nem sequer durante uma etapa de 72 dias (dois meses e meio). Os corais e os tubarões, diz ele, faziam-lhe companhia; uma baleia veio mesmo banhá-lo com a cauda. Conheceu a viúva de Stevenson. Foi recebido maravilhosamente pelos indígenas. As ilhas tentaram encantá-lo com a sua atracção mágica de que nenhum navegador se pode defender por completo: entre todos os perigos de uma circum-navegação solitária, convém não esquecer este, ao qual Gerbault cederá, e todos os outros... lamentam. Mas o mar existe e chama: Slocum parte. E no mar sente o peso da sua alma de marinheiro: infeliz em terra, infeliz no mar! juízo! A caminho! 185 milhas no primeiro dia: para desligar. Passando ao sul da 'Nova Caledónia, encontrou outra vez mau tempo, fora dos alísios. Eis, apesar de tudo, a Austrália, Sidney, a 10 de Outubro de 1896. O tempo passa depressa na Austrália, mas há que continuar. Slocum decide primeiro passar pelo sul - nos famosos «rugidores quadragésimos graus». Dezembro, o Verão, é a época menos má. Em Waterloo-Bay procura... ouro. Chega a Melbourne a 22 de Dezembro. Aí, 'pedem-lhe direitos de porto; não faz mal: a visita do Spray é a pagar. E expõe um tubarão fêmea e os seus vinte e seis filhos, nos mesmos moldes, graças à propaganda de um irlandês camaradão. Com esses «pequenos lucros» e o dinheiro do sebo vendido, constitui um bom pecúlio. Outra vez a caminho. Gelos anormais, porém - e um tempo terrível, habitual mesmo no Verão - dissuadem-no de dobrar o cabo Leeuwin. Bom, passaremos pelo norte onde encontraremos o bom calor tropical! Para isso, bastava subir toda a costa oriental da Austrália e atravessar a Grande Barreira. Decidiu passar o Verão (os nossos meses de Inverno) na Tasmânia. Antes da partida, Melbourne ofereceu-lhe uma das atracções locais: uma chuva de sangue, isto é, de água misturada com a areia vermelha do deserto. Em Launceston, Spray achou um excelente ancoradouro e Slocum pôde passear, visitar a deliciosa Tasmânia. Abril de 1897. O Verão austral acabava, o frio fazia-se anunciar. O trópico ia arranjar as coisas para Slocum: partida a 16 de Abril. Sidney a 22. Histórias épicas de navegadores de recreio, com «queijos brancos» na cabeça, e das suas infelicidades. Regresso aos alísios a 20 de Maio. Enfim! Nesse dia, o Spray dobrou o cabo Sandy e rumou para o farol «Lady Elliott» que está colocado como uma sentinela à entrada da Grande Barreira. A Grande Barreira é uma partida muito desagradável que a geografia prega aos navegadores: tratase de um imenso recife de coral com mais de 1100 milhas (2000 quilómetros) de comprimento, entrecortado por aberturas muito raras e muito pouco profundas. Embora seja intermitente, divide-se, por comodidade, em dois elementos. Primeiro uma espécie de cordão estreito que acompanha, a pequena distância, a costa oriental australiana, depois o cabo Sandy, precisamente sobre o trópico austral até ao norte do continente. Aí, a barreira engrossa, torna-se um «tampão» que obstrui por completo o chamado estreito de Torres, entre a Austrália e a Nova Guiné; praticamente todo o navio que vai do Pacífico para o Oceano Índico é obrigado a passar lá (sem o que teria que se desviar pela Indonésia, o que é uma coisa muito diferente). Portanto, a Grande Barreira «tampão» tem que ser ultrapassada por algumas aberturas (na prática, duas) no estreito de Torres. A Grande Barreira, na sua parte de «cordão litoral», pode ou ser evitada desde que o navegador se mantenha ao largo, ou servir de abrigo para um longo canal costeiro, estreito, pouco profundo (de 10 a 20 metros, muitas vezes menos, em vez de 400 a 1000 metros ao largo), sinuoso e, sobretudo, impossível de balizar por completo (veja cartas no fim do volume). Foi esse canal que Slocum tomou, que o Spray percorreu a toda a velocidade com o vento alísio, num mar abrigado, transparente, através do qual se viam os corais. Navegação difícil, exigindo uma vigilância constante, mas muito bela, por águas delicadamente coloridas, entre ilhas maravilhosas. O tempo estava claro e Slocum achava mais fácil e menos perigoso fazer a sua trota nesse mar do que nas avenidas de uma grande cidade. Um só alerta: o Spray passou demasiado perto de um navio-farol e roçou com a quilha por uma rocha: ia tão depressa, porém, que foi sair do outro lado, sem novidade. A rocha chama-se o «rochedo M». A letra M é a décima terceira do alfabeto; treze é o número de Slocum - portanto, nada de mal lhe podia acontecer! O canal lateral leva à entrada do estreito de Torres. Este foi vencido sem história; nas águas pouco profundas nadam peixes variegados, deslizam serpentes listradas de amarelo. Na ilha Thursday, no meio do estreito, Slocum assiste a uma grande festa indígena. Depois, é o mar de Arafura, Timor, porta do Oceano Índico. Apenas 150 milhas o separam das ilhas dos Cocos ou Keeling, onde veremos deterem-se quase todos os nossos solitários. É um atol muito baixo, muito pequeno, difícil de encontrar. Assim, quando, tendo subido ao mastro, descobriu os coqueiros, saindo da água, mesmo na sua frente, após 23 dias sem tocar no leme, recebeu «uma descarga eléctrica». «Deixei-me - diz - deslizar pelo mastro abaixo, preso da mais estranha emoção e incapaz de resistir aos sentimentos que me agitavam. Sentei-me na ponte e deixei-me ficar.» O que significa, sem dúvida, que chorou. Outro indivíduo muito sincero, Marin-Marie, diz-nos algo de semelhante. Durante esses 23 dias, precisa Slocum, essas 2700 milhas - uma verdadeira viagem transatlântica não esteve mais de três horas ao leme, quer o vento soprasse da popa ou de flanco. Foi, segundo diz, uma navegação deliciosa. De uma vez, como um negro se tivesse afogado pouco antes, os indígenas das Keeling tomaram Slocum pela sua alma que regressava do mar! As outras histórias que Slocum conta sobre este «paraíso terreal» são encantadoras. Por exemplo, a do doce de amoras que as crianças o viam comer, depois de ter querenado: «O capitão come coaltar!» exclamam, fugindo; a do caranguejo «kpeting» que com certeza retinha pela quilha o Spray encalhado; o «kpeting» é exorcizado e o barco flutua com a maré! Sente-se em Slocum uma grande comunhão de alma com as crianças e os simples. A solidão do mar devolveu-o às suas qualidades profundas: a gentileza e a faculdade de entusiasmo. O pior risco, diz ele, que correu em toda a sua viagem (fora o cabo Horn, sem dúvida) foi com um negro, numa chata sem remos, levada com vento pela popa para fora da lagoa! A golpes esforçados de croque na água (já todos fizemos isso: não produz grande efeito), conseguiu, enfim, chegar à água pouco profunda. Uf! Se assim não fosse, a costa mais próxima estava a 1000 milhas e o negro, ao que diz, parecia ter grande apetite... Renunciou a pescar «tridacna», esse marisco enorme chamado também «pia de água benta», todavia, retirando o cimento do Spray, substituiu-o por 30 «tridacna» um pouco menos pesados, mas capazes de serem vendidos (sempre o «trader»!). A 22 de Agosto voltou a partir «rumo a casa». Estava a qualquer coisa como 12 000 milhas; mas na verdade, porém, e fora a passagem do cabo da Boa Esperança e a própria chegada, em principio não se lhe apresentou mais nenhuma dificuldade. O Oceano Indico não é, de modo nenhum, pequeno; e também não convém pensar que o mar nele é calmo. Com a monção é, pelo contrário, majestoso; mas, regra geral, ordenado, franco. Nenhum dos nossos navegadores solitários encontrou nele obstáculos; atravessaram-no a passo, na época conveniente, bem entendido, por vezes borrifados (como Slocum), mas felizes e sem história. Para estas enormes etapas (1900 milhas até Rodriguez), Slocum conhece agora tão bem o seu barco que já não precisa de barquinha; o que é uma sorte, aliás, pois as duas pás do aparelho tinham sido comidas por um tubarão qualquer, e as suas indicações eram muito mais erróneas que a simples observação de Slocum. Não lhe restava outro «controle», já que não podia mais observar longitudes: o relógio em folha-de-flandres tinha perdido o ponteiro grande. E a pequena não era suficiente. Em Rodriguez, uma mulher convicta que regressava de um sermão sobre o Anti-Cristo fugiu, gritando: «É ele! Veio de barco!» A ilha emocionou-se. Na verdade, anota, Slocum, «ele» teria, sem dúvida, escolhido outros meios de transporte... Slocum passa pela ilha Maurícia e volta a partir a 26 de Outubro de 1897, boa estação para demandar o cabo. A ocidente do canal de Moçambique (passa-se, regra geral, mais abaixo) sofre um famoso embate de massa (1) desembaraça-se, porém, da dificuldade e chega a Port-Natal ou Durban, a 17 de Novembro. (1) Armadilha de pesca. - (N. do T.) Aí tem incríveis disputas com os cavaleiros andantes da terra plana. Em 1897 ainda existiam! Volta a partir a 14 de Dezembro de 1897 para o cabo da Boa Esperança; como é da regra, encontrou mau tempo. No dia de Natal, avistando já a grande ponta, portanto sobre o terrível banco das Agulhas, o Spray «manifesta a intenção evidente de tomar a posição vertical e, diz ele, julguei que o conseguisse antes da noite (é o famoso «afocinhar»); desde manhã muito cedo começou a balançar muito baixo, de um modo totalmente insólito». Mas Slocum resolve o problema por uma tripla imersão enquanto amarra rizes na vela de giba. Abriga-se por ins-tantes do vento, passa a ocidente, entrando na Simons Bay, ao fundo de False Bay, sob o próprio Cabo; o pior estava passado; a brisa abrandou, o cabo está dobrado. Slocum escreve: «A viagem parecia-me quase terminada; o que restava a fazer não seria, ou quase não seria, senão uma navegação fácil.» Em Cape-Town, conhece o Presidente Krúger que, ele também, julgava a terra plana e lhe retorquiu: «Não, o senhor não faz uma viagem à volta do mundo, mas sim sobre o mundo.» Slocum ficou encantado: tinha mais uma anedota para contar sobre «Oom Paul». Slocum procura obter algum dinheiro, dando uma conferência; faz querenar o Spray, passeia com bilhete gratuito em caminho de ferro e volta a partir em 28 de Março de 1898. A 11 de Abril está em Santa Helena, onde um fantasma prometido pelo governador não comparece. Em contrapartida, dãolhe uma cabra que leva para bordo como se fosse um cão. Mas o cão com cornos tinha necessidade de estar firmemente amarrado. Desastre! Comeu a carta das Antilhas, cabos, o chapéu de Slocum e tornou-se tão insuportável como um caranguejo terrestre que Slocum tinha querido levar consigo, mas que também estragou tudo e até se atirou ao dono! Na ilha de Ascensão, a 27 de Abril, a cabra foi expulsa e entregue a um corajoso escocês. Slocum não estava, porém, sozinho: um rato e uma escolopendra haviam penetrado a bordo; foram expulsos, mas uma pequena aranha (bastante feroz, se acreditarmos na batalha que travou com uma colega do Fogo) que tinha partido de Boston, enternecia-o, bem como «a sua pequena família». A aranha - e Slocum - fecharam a sua volta ao mundo, cortando, de novo, a rota de ida, a 8 de Maio de 1898. O Spray já lá tinha passado, nos mesmos alísios, mas no outro sentido, a 2 de Outubro de 1895, ou seja, dois anos sete meses e seis dias antes. Slocum acompanhou, sem a ver, a costa do Brasil e quando se aproximou das Antilhas ficou muito surpreendido ao encontrar um couraçado em pé de guerra. Sem que de nada tivesse sabido, a guerra hispano-americana havia começado. O couraçado perguntou-lhe por sinais de bandeiras: «Encontrou navios de guerra espanhóis?» Slocum respondeu: «Não.» Depois, sempre trocista, propôs: «Podíamos era ficar juntos para nos protegermos um ao outro...» A 18 de Maio, navegando com velas amainadas, reencontrou a Estrela Polar. A 20 de Maio aparece a ilha de To bago, nas Antilhas. Aí passou por uma desventura que alguns poderiam julgar digna de um principiante: tomou o cintilar longínquo de uma fogueira que iluminava algumas vagas por escolhos! Ficou «de tal modo admirado» ao descobrir o erro que se deixou cair desamparado sobre um rolo de cabo! Paragem de seis dias na ilha Grenada. Na Dominique não encontra cartas para obviar aos danos da cabra. Tanto pior, a caminho! Antígoa no primeiro de Junho. Partido outra vez, a 4. navega alegremente, tendo «quase esquecido o «Pot-au-Noir», a cintura das calmas equatoriais, ou «considerando-a como um mito». Mas o «Pot-au-Noir» não se deixa esquecer e o Spray ficou parado, por falta de vento, durante oito dias. Na Gulf Stream, o aparelho de Spray começou a dar sinais de fraqueza; era tempo de regressar. Claro que, numa prova de delicadeza, havia um tornado à espera, através de Fire-Island (Marin-Marie escapou por um triz à mesma «recepção») e o Spray teve que resistir com a âncora flutuante. Mas Nova Iorque estava perto, tentadora. Todavia, não a demandou; navegar, navegar! Em New-port, em virtude do estado de guerra, a barra estava minada. Explodir à chegada era verdadeiramente estúpido. Não, nada de habilidades: a 28 de Junho de 1898 largava a âncora em «fundo» americano, após um cruzeiro de mais de 46 000 milhas em pouco menos de três anos, se contarmos como verdadeira partida a de Yarmouth. Slocum, que tinha então 54 anos e 5 meses, nunca estivera doente, salvo uma vez, como uma indigestão de ameixas. E toda a gente dizia: «Rejuvenesceu.» Quanto ao Spray mostrava-se, diz Slocum, «se possível em melhor estado do que quando partiu. O seu casco (que não era duplo e estava simplesmente revestido de cobre) continuava perfeitamente são e tão estanque como o do melhor barco melhor equilibrado. Não metia nem uma gota de água nem uma gota! Da bomba, servi-me muito pouco até à Austrália. A partir daí, nem sequer a voltei a montar! «O Spray foi atado à estaca que fora plantada na margem para o segurar após o lançamento. «Se o Spray - conclui Slocum - não descobriu nada, foi porque lá não há nada mais a descobrir... Mas o Spray fez, apesar de tudo uma descoberta: é que o mar mais agitado não é assim tão terrível para um barquinho bem conduzido. «No entanto, para obter êxito é preciso conhecer muito bem o que se vai fazer e estar pronto para toda a eventualidade. Examinando o que me conduziu à vitória, vejo um conjunto (não muito completo...) de ferramenta de carpinteiro, um relógio em folha-de-flandres e sementes de flor de abelha. Mas o que mais conta é a experiência adquirida durante os meus anos de navegação, onde aprendi com entusiasmo as leis de Neptuno, a fim de a elas me conformar exactamente ao atravessar sozinho os oceanos.» Slocum e o Spray não deixaram de navegar, nem o primeiro de exibir o seu sentido de humor. Slocum instalou-se na América, numa pequena cidade chamada West Tisbury que escolhera porque, ao passear no cemitério, tinha observado que as pedras tumulares indicavam impressionantes idades de faleci-mento: 90 anos. 96 anos. 88 anos, etc. Aqui e que eu estou bem! - pensou; estas paragens conservam! Todos os anos, ao ver chegar o Outono, voltava a partir para as Antilhas, mais exactamente para a ilha do Grande Caiman, onde gostava de conviver com os descendentes dos piratas. E, depois, assim «não precisava de comprar sobretudo». No realidade, fugia dos importunos. Foi o que fez em 1905, 1907. 1908. Em 1909 (tinha, portanto. 65 anos) deixou Bristol no Outono, como era habitual. O Spray estava em perfeito estado e Slocum de excelente saúde. Mas nunca mais ninguém o viu. Aventaram-se todas as hipóteses. Rajadas de vento? Não fora assinalada nenhuma na altura Doença? Ter-se-ia encontrado o Spray. Incêndio? Abordagem? É O mais provável, pois a rota que seguia estava pejada de vapores rápidos e muitas vezes negligentes. Uma coisa se sabe: morreu no mar. Fim digno de um marinheiro! ***** PIDGEON, DRAKE, ALAIN GERBAULT A VOLTA DO MUNDO Só depois da guerra de 1914-1918 Slocum encontrou imitadores verdadeiramente solitários. Mas em breve se tornaram muito numerosos. Um dos mais conhecidos foi Harry Pidgeon. Harry Clifford Pidgeon, nascido em 1874 numa quinta do Estado de lowa, no coração dos Estados Unidos, a 1500 quilómetros do mar, Pidgeon não tinha qualquer ascendência marítima, nenhum laço com o oceano. Viu-o pela primeira vez com 18 anos e nem sequer foi para navegar, mas somente quando veio residir num rancho da Califórnia. No Alaska aprendeu a construir canoas e a manobrálas; mas daí a dar a volta ao mundo a vela vai uma grande distância; e não pensava de modo nenhum em fazê-lo. Regressou à Califórnia, tornou-se fotógrafo, aliás de talento. Um dia, porém, cansou-se de dizer à noiva «Sorria, por favor.» Queria mudar de horizontes e, como bom americano, passou de extremo a extremo: com 45 anos - pouco menos que Slocum - decidiu construir pelas próprias mãos um Sea-Bird segundo o plano do T.-F. Day, mas um terço maior (10,50 m por 3,20 m; caiado: 1,50 m) e partir com ele em passeio pelo mar. Sem motor, à falta de dinheiro. Não tencionava bater qualquer record nem dar a volta ao mundo, apenas ver países curiosos, tirar belas fotografias e contar nas revistas (e com talento) o que via, para ganhar a vida. Só no meio da viagem, depois de ter vencido a Grande Barreira, pensou para consigo que seria mais simples passar pelo outro lado - a abertura do centro do canal do Panamá (Pidgeon foi o primeiro circum-navegador a utilizá-lo) facilitava muito o fim da viagem, rumo a Los Angeles. Pidgeon era um «elefante» em 1918, com 44 anos. Mas já não era nada disso quando, a 18 de Novembro de 1921, com 47 anos, partiu para o largo, rumo à Oceânia. Tinha trabalhado, trabalhado muito. Aprendera a sua teoria com grande consciência e com a mesma consciência metera ombros ao treino prático e graduado: pequenos cruzeiros, depois cruzeiros maiores, a seguir um cruzeiro muito grande até ao Hawai e regresso, o que já constitui alta navegação. Para os marinheiros, Pidgeon é um «caso». Por um lado, pode considerar-se como regra geral que qualquer pessoa que não tenha «tomado banho» marítimo antes dos 25 anos, nunca mais o tomará. Pidgeon, com quase 50, conseguiu-o. Depois, os dois grandes circum-navegadores precedentes, Slocum e Voss, eram capitães de longo curso; e, todavia, ambos sofreram terríveis acidentes. Pidgeon quase não sofreu nenhum: uma ancoragem defeituosa em Port Moresby, sem consequências. Um encalhe, muito perto do Cabo, na noite que se seguiu à partida, com bom tempo, porque não esperou, para dormir, um momento em que já se encontrasse bastante ao largo; nessa altura, o acidente não podia ser grave e não o foi. Um botaló partido, mas de modo algum por culpa de Pidgeon, antes por culpa de um vapor desajeitado que tomou o Islander (é o nome do Sea-Bird) por um yacht abandonado. Mais nada. Contudo, Pidgeon encontrou, como os outros, muito mau tempo; mostrou-se, porém, de uma prudência, de uma sabedoria extraordinárias. Travessia quase «sem rabos de fora»; quase, somente. Teremos que esperar por Bernicot e J.-Y. Le Toumelin para podermos dizer «completamente». Pidgeon é um homem cheio de sorte, sem dúvida. Pode, no entanto, dizer-se que se tornou um verdadeiro marinheiro com 47 anos. Nem mais. Estas qualidades têm o seu reverso: o primeiro cruzeiro de Islander é tão perfeito que, se o contássemos, o leitor não marinheiro ficaria totalmente decepcionado: o relato não contém nada de pitoresco. Para um marinheiro, é um elogio; para os amadores de sensação, uma miséria. Quando muito, deveremos mencionar a travessia do canal do Panamá. Quando Pidgeon chegou, com um motor fora de borda emprestado, a Balboa, encontrou Flre-Crest. Tal como Santa Helena não lhe evocara Napoleão (que nem sequer menciona), também Gerbault (guardadas as devidas proporções!), mau grado a propaganda feita em volta do seu nome, não lhe atraiu a atenção; é apenas um colega. E Pidgeon escreve; «Foi interessante comparar o seu aparelho de sloup ao meu, de yawl.» Também é verdade que Gerbault não cita Pidgeon. Ao contrário, as descrições das ilhas da Oceânia, das paisagens e dos costumes de todas as longitudes, são abundantes e coloridas na pena de Pidgeon - o que é absolutamente normal: escrevendo para amadores de exotismo, dá-lho em troca do seu dinheiro. Contudo, explica a sua última travessia, que é admirável: para subir de Balboa a Los Angeles, em vez de se arrastar nas calmas, de seguir ao longo da costa, rumou a ocidente até encontrar os alísios de sudeste que o levam para noroeste até 600 milhas de Los Angeles, onde os alísios de nordeste o puxam. Este «elefante» ultrapassa os seus mestres marinheiros. Regressado em Agosto de 1925, fez algumas regatas oceânicas com êxito; mas isso não lhe bastava. Em 1932 volta a partir para rever as ilhas de que tão bela recordação guardava. E de novo sem o ter previsto, a pouco e pouco, dá a volta ao mundo (levando, por momentos, duas jovens mulheres); regressa em 1937, com 63 anos, sozinho. Casa-se e volta a partir com a mulher; mas se conseguiu dar duas voltas ao mundo imprevistas, falhará a que foi anunciada: Islander vai perder-se nas Novas Hébridas, sem que ninguém tenha sofrido qualquer acidente. Um barco perdido, um barco a fazer: pelas suas mãos, de novo, mas desta vez com 76 anos, constrói o yawl Lakemba, ou outro Sea-Bird de 7,80 m que lança à água a 4 de Agosto de 1951. Entrevistado, declara que conta viver ainda uns bons vinte anos e dar outra volta ao mundo... ***** Em matéria de obstinação, Pidgeon tem, todavia, o seu mestre: Drake, americano de Seattle. Tendo perdido sucessivamente três palhabotes... continua! Sir Francis I (assim chamado em honra de Sir Francis Drake que é apenas o seu homónimo, não seu antepassado), perdeu-se por volta de 1920 na costa ocidental do México que por demais cortejara; o pequeno palhabote foi completamente saqueado pelos ribeirinhos. Sucedeu-lhe Sir Francis II, que fez, com Drake, a volta ao mundo; mas perdeu-se perto de Cuba. Depois, foi Pilgrim, a bordo do qual Drake correu mais de 26 000 milhas e visitou 117 portos! Não se pode dizer que Pilgrim tosse muito bonito: tinha tudo da bateira, o que não impedia Drake de navegar nas águas muito mal afamadas do Norte da Escócia ou do Mar do Norte. Sozinho, sempre. Mas Pilgrlm ficou num banco da embocadura do Escaut. Foi então a vez de Progress, pequeno palhabote de 11 metros. Se esta navegação atrapalhada vos diverte... Que não nos acusem de dureza para com um homem que fez o seu primeiro naufrágio aos 53 anos e teve energia suficiente para... recomeçar. Mas a regra do jogo, neste caso, é, primeiro sobreviver, depois fazer sobreviver o barco. Uma infelicidade é uma infelicidade; três ou quatro é demais; as mais notáveis qualidades, as navegações mais interessantes perdem todo o seu valor perante este caos. Quando um aviador, por muito brilhante que seja, o provoca dão-lhe um serviço em terra. ***** Gerbault, esse, não perdeu o barco. A bem dizer, veremos que foi um pouco por sorte. Quando retoma Fire-Crest (em marconi agora) em Nova Iorque, no Outono de 1924, tem a experiência da sua travessia do Atlântico. Devia ser, portanto, superior ao navegador de recreio médio (médio, hem!): mas estará à altura da tarefa que se fixou, a volta ao mundo? Como já sublinhámos, prestou um grande serviço, indirectamente: atraiu para as coisas do mar e da navegação de recreio a atenção dos Franceses. Dos terrenos... e também dos marinheiros. Na verdade, alguns destes, desprezando profundamente as viagens de recreio, ignoravam-no tanto como os citadinos e com muito menos desculpa. É espantoso ver o comandante Charcot (Charcot!) escrever no prefácio de A la pour-suite du soleil: «Houve outros dois, creio eu, um americano, o capitão Slocum, e um inglês (?) (1) que outrora realizaram essa proeza... mas as condições não são iguais e singularizam-no.» Charcot insinua depois que Fire-Crest é um barco mais modesto que o dos seus predecessores! Que Tilikum a piroga indiana de Voss? Que os absurdos molha-cus das regatas solitárias transatlânticas? (1) Coisa extraordinária, ao contrário, o facto de não existir circum-navegador inglês antes de Guzzwell (1956-1960)... que é de Jersey. É precisamente o contrário: Flre-Crest é um barco sério (o Spray também, mas concebido em 1800). Nem isto «singulariza» Gerbault, pois o Islander de Pidgeon é igualmente sério, num género mais ligeiro, mais «ave marinha». Adiante. Alain Gerbault larga de Nova Iorque no primeiro de Novembro de 1924. Mas desde a primeira linha do relato não se compreende nada. Como é isto? Há um ano que Fire-Crest está entregue a mil cuidados. Os compartimentos são luxuosamente restaurados (teca e madeira de ácer envernizada); o aparelho fixo é reforçado; o mastro e a verga da mezena substituídos; 200 volumes embarcados. E Gerbault começa o seu relato por: «Sem ter tido tempo de experimentar o novo aparelho, porque as velas só ficaram prontas no último momento...» Mas o que é que o obriga a partir no primeiro de Novembro? A publicidade feita, sem dúvida. A «data do match» como no ténis! Não vale na pena ser navegador solitário (sem ser numa regata!) para se inclinar a tais constrangimentos, ao preço de um crime contra esse pobre velame novo, crime que o navegador de recreio médio não teria cometido. Gerbault «iça todo o pano» com um aguaceiro. Um pano que deve ser «feito» tão progressivamente! Vai ficar bonito! O navegador esclarece que sabia do seu erro: «O vento aumenta e, contra a vontade - pois sei que isso vai deformar a minha vela nova - tenho que enrolar sete voltas, amainar a vela de giba e o traquete e pôr-me de capa para passar a noite. A operação é longa, já que o aparelho é novo e existem muitos pormenores que não estão devidamente certos. No entanto, verifico satisfeito que o meu novo rolete funciona bem. O vento sopra como de tempestade, as vagas são altas, mas, com a quadrangular reduzida, Flre-Crest mantém uma rota excelente; e, fatigado pelas numerosas operações da aparelhagem, durmo sossegado até ao amanhecer.» Pobre quadrangular! Gerbault, porém, que se põe de capa tão perto de terra para dormir, tem mais sorte do que Pidgeon: não acorda na praia - o que, pelo tempo que fazia, ao que diz, era mais que natural. Até 6 de Novembro, a infeliz quadrangular, molhada, continuou enrolada... o que, antes do emprego dos têxteis sintéticos, era desastroso. Nesse dia, Gerbault repara que o seu botaló está mal seguro. A 8 iça a vela grande que também não tinha experimentado. Coisa linda, a fé (dos construtores de veleiros). Muito mais poderíamos citar; há em cada página, atitudes do mesmo calibre - e algumas nada divertidas: a ponte não é estanque, o compasso que, voltado, se enche de água... e bruscamente se despeja sobre a cabeça de Gerbault. Mas, por muito incrível que pareça, já começam as avarias. O estai da vela de giba e a enxárcia de bombordo cedem ao mesmo tempo. Onze dias após a partida! Corre também o risco de perder, não o mastro de flecha, como diz - expressão sem qualquer sentido num marconi - mas sim, se quisermos, a flecha do seu mastro ou o que lhe corresponde. Depois de uma penosa reparação, adormece «debaixo dos cobertores encharcados». Não valeu a pena gastar tanto dinheiro. Na verdade, estava tudo por fazer, nas Bermudas. Calafetagem da ponte, conserto das avarias causadas pela abordagem de um vapor, velas a talhar por completo; Gerbault consegue ainda admirar-se de a quadrangular ter aumentado de tal maneira que sobravam 50 centímetros na verga da mezena, em vez dos 30 que previra, e 75 no mastro. Co'os diabos! Depois de semelhante tratamento! As velas picaram-se, bem entendido; ele unta-as «com óleo de linho e ocra». O quê? Devem ter ficado bem pesadas! E vão manter-se de pé! Gerbault quer, sem dúvida, dizer uma composição em que entra tanino e um pouco de óleo de linho (?). O casco mete água em dois sítios... Isto antes da partida para os mares quentes. Gerbault fica três meses nas Bermudas; compreende-se, na verdade, cada vez menos por que motivo não experimentou o velame e o aparelho (sem falar da impermeabilidade da ponte, etc.) em Nova Iorque. Não, não e não: neste momento, Gerbault não é de modo algum um marinheiro, nem sequer um navegador de recreio de qualidade; sabe apenas fazer rota ao largo e não tem medo do mar. Mais nada. Fire-Crest passa o Canal do Panamá e, em Balboa, Gerbault ocupa-se seriamente e não como antes em Gibraltar, dos seus aprovisionamentos e dos seus sobresselentes. Mandou vir uma quadrangular leve para utilizar sem verga, o que foi uma boa ideia. A 11 de Junho de 1925 deixa a ilha de Taboga; resta-lhe sair do «Pot-au-Noir» e procurar ao sul os alísios do sudeste. Contra a corrente que leva para norte, a distância é muito grande e é absolutamente normal que Gerbault só atinja os alísios a 7 de Julho. Já menos normal é o facto de esse alísios serem de sudoeste, isto é, soprarem mesmo pela proa; Gerbault está, sem dúvida, às avessas com o rei dos trópicos. Enfim, a 18 está em Galápagos. O ancião que o acolhe não quer acreditar que tenha partido sozinho: «Que fizeste do teu companheiro? Afogaste-o?» Vê-se que Gerbault está feliz: do que gosta, do que gostará cada vez mais, são essas ilhas, mais do que o mar; é o exotismo, o clima, a simplicidade de vida e não a navegação por si própria. O que é de todo legítimo; convém só que não nos dêem Gerbault como modelo de marinheiro e que não considerem os seus «colegas» e sucessores, muito superiores em muitíssimos casos neste aspecto, como seus «émulos». Travessia das Galápagos às Gambier: a princípio, o aparelho marconi parece excelente, com vento de través, e as distâncias quotidianas são boas: 113, 114, 122 milhas. Isto só dá, porém, seis nós no dia melhor, o que, para um barco de corrida como o Flre-Crest, não constitui nada de glorioso; contudo, sempre é melhor que no Atlântico - dado que Gerbault faz agora rota de noite, com o leme amarrado. Mas não saberá Gerbault guarnecer os seus cordames, forrá-los? A 6 de Setembro, «gasto pela fricção», a enxárcia de bombordo cede e vem enrolar-se em volta de um estai, embrulhada nas rodelas do traquete - triste história; os dois amantilhos rebentam (em marconi, então, é ainda mais incompreensível que antes) bem como seis dos aros de mastro (que correm num mastro de corda). E não é tudo: o leme, em carvalho, parte. Mas que quebra-ferros este barco! Ei-lo, enfim, em Mangareva, depois nas Marquesas, onde se diverte muito. O que não o impede de mentir descaradamente (lá ou no livro?) ao declarar às pessoas que «havia sete anos Flre-Crest era o seu único lar e o mar o seu domínio». Na realidade nem sequer tinha vivido nele ano e meio; sete anos antes era oficial aviador. Depois das Marquesas, eis Tahiti e Bora-Bora, a que chama Porapora. É o paraíso. Gerbault gostaria de lá ficar, e voltará; mas existem outras ilhas a ver e ele prometeu dar a volta ao mundo. Chega em breve à Samoa. Mas quando se dirigia de Aspia a Asau, a Savaii, eis que um salto de vento o põe de capa e que a roldana superior da grande escota parte. A vela bate, a verga de mezena cai ao mar. Por fim, consegue recuperá-la e consertá-la. Mas Asau está longe, a barlavento. É preciso bordejar; clac - partem-se uma escota da vela de giba e a amura do traquete. Começa-se a compreender: enfeitiçado pelas belezas dos arquipélagos, amolecido pelo clima e pelo ambiente de despreocupação, Gerbault não verifica o seu aparelho antes de cada aparelhagem. Nas escalas, nem sequer amaina as suas escotas, provavelmente. Nada, não aprendeu nada. Tanto pior para Asau; Gerbault deixa-se levar rumo à ilha Wallis, 250 milhas, a sotavento. A distância é percorrida depressa. Como Gerbault chega à noite perto desta ilha perigosamente rodeada de uma cintura de coral, amaina tudo e permanece è deriva, aguardando o dia. Quando este nasce... não há um minuto a perder! Flre-Crest está a algumas centenas de metros do recife; quando iça o velame, a menos de um cabo. O vento fresco impele para a costa. Depressa a bordejar. Nessa ocasião, foi aproveitada a principal qualidade do Flre-Crest: profundo, estreito, muito lastrado, este barco é feito para remontar a barlavento; ergue-se às mil maravilhas, mau grado o mar. Se fosse o Spray, o Tilikum ou um desses minúsculos barcos que vimos e que, demasiado leves, só navegam bem a barlavento em água calma, teria sido a catástrofe. Esta esteve, apesar de tudo, para acontecer: a quadrangular descoseu-se por cima! O rasgão aumentava de instante a instante. Durante meia hora, Gerbault bordeja, cingido, evitando relingar. Evidentemente que poderia agora deixar-se conduzir para o largo, para o norte, evitando tudo; mas falharia por sua vez Wallis, e as Fiji estão longe (tanto mais que esta travessia não estava prevista). Gerbault prefere correr o risco e, como venceu, embandeira em arco: amaina tudo rapidamente, deixa Flre-Crest recuar e perde o terreno ganho. Quando volta a içar, o recife está outra vez muito próximo. Mas, no mar que cresce, Flre-Crest bordeja novamente à maravilha. Eis a entrada de Wallis (ou Uvéa). Evitada! Não; Flre-Crest roça por um recife de coral não indicado na carta e lá fica. Gerbault lança um ancorete puxa-o numa talha e iça; Fire-Crest avança um pouco... e o cabo parte. Eis uma âncora perdida. Não há dúvida de que Fire-Crest é terrivelmente pesado: não poderá Gerbault, todavia, impedir os cabos de se partirem assim? Os outros conseguem-no! A maré sobe, resolve-se o problema. Gerbault flutua e lança âncora diante de uma aldeia. Mas o ancoradouro não é famoso, é preciso mudar de leitaria, como costumamos dizer. Gerbault acha que a âncora é muito leve, mas deixa-a na água, como habitualmente, e volta ao leme. Sente, no entanto, um escrúpulo, regressa, retira a âncora... ou melhor, o que dela resta: o cepo e metade da haste. Sem unhas. Sem âncora, porque a outra ficara no canal. Ei-lo limpo! É preciso encontrar uma amarração de anilho ou um barco onde amarrar de cabeça e cadeira. Nada. Gerbault prepara-se para voltar a partir quando surge um pescador a motor que lhe empresta uma âncora. Gerbault fundeia. Teria sido necessário largar duas âncoras porque o vento era forte, mas a ilha não possuía uma segunda âncora disponível. E de noite, foi o cabo, submetido a um esforço demasiado forte (Flre-Crest é muito pesado), que se partiu. Segundos depois, o belo sloup encalha no coral. O vento, que passara ao sul, sopra «em tempestade», diz Gerbault. Deixemo-lo falar: «Fire-Crest estava ligeiramente deitado de lado e, a cada vaga, erguia--se e voltava a cair com um estalar surdo. A situação era desesperada. No porto nem uma embarcação, nem uma âncora para me levar para o largo; creio, aliás, que, com a violência do vento, teria sido preciso um vapor para me tirar dali. «A maré subia ainda um pouco, mas convenci-me de que, com a baixa-mar, Fire-Crest seria feito em pedaços. E na ponte, furiosamente batida pelo mar, eu assistia, impotente, à agonia do meu fiel companheiro. Estava havia uma hora no recife quando, de súbito, o meu navio se deitou completamente de lado; a ponte ficou quase na vertical e as clarabóias entraram na água. «Pus-me a nadar para a margem quando me apercebi, com grande estupefacção, de que o FireCrest me seguia. Na verdade, chegou à praia quase ao mesmo tempo que eu e ficou deitado de lado, no limite da maré alta, sobre a areia que amortecia o choque dos vagalhões. «Verifiquei que, no interior, havia muito pouca água. A noite estava escuríssima. Era hora e meia da manhã e dirigi-me, muito triste, para a residência, julgando que Fire-Crest tinha terminado a sua carreira e que o meu cruzeiro acabara também. «Ao amanhecer, o mar havia-se retirado, deixando Fire-Crest em seco. Vi então que lhe faltava a quilha em chumbo e que as dez cavilhas de bronze que a mantinham estavam quebradas ao nível da quilha de madeira. «Portanto, os choques repetidos contra o recife tinham desprendido a quilha. Livre deste peso enorme de quatro toneladas, Flre-Crest pusera-se de lado, que era a sua posição normal de equilíbrio com o peso do aparelho (?). Aliviado em mais de um terço, o seu calado, nessa posição, era fraco e, por isso, veio flutuando, docemente, para a margem.» Depois desta «série negra» que, no fundo, não passa de uma sucessão de imprevidências (e de sortes) eis o nosso Gerbault bem aflito. Tem que ir procurar a quilha de chumbo de quatro toneladas nos corais, trazê-la para junto de Flre-Crest, na praia, consertar as cavilhas partidas (algumas medem mais de um metro) ou fazê-las novas, pôr a quilha no lugar, fazer depois passar um barco de 1,90 m de calado por águas de 1,20 m na maré alta... Tudo isto sem sequer uma forja na ilha, nem um carpinteiro de marinha, nem perspectivas da visita de qualquer navio sem que longos meses passassem. A situação parece complicada. Gerbault, com a ajuda do chefe de mecânicos de um velho vapor de passagem, de dois chineses e de alguns indígenas, consegue realizar o trabalho. Mas os chineses alargaram demasiado os buracos dos tira--fundos e Flre-Crest mete água. Felizmente que aparece, alertada por Paris (nem toda a gente desfruta de tão poderosos apoios), o Cassiopée, o aviso de registo francês. As cavilhas são substituídas; os marinheiros, empoleirados na barra de flecha de Flre-Crest manobram de maneira a fazer passar o yacht por cima do recife. O lastro é recomposto. Tudo pronto. Gerbault, entretanto, tinha aprofundado bastante o conhecimento das populações indígenas. A 9 de Dezembro de 1926, despega sem estorvo e atinge as Fiji, em Suva. Flre-Crest, da aventura, guarda só um pouco de humidade entre o bordo e as escoas; tudo está seco, raspado, repintado, envernizado de novo. É apanhado um indesejável rato. Partida para o mar de Coral. Um espadarte salta por cima da popa do Flre-Crest; Gerbault não se preocupou, segundo a piada de Slocum em retirar-lhe previamente a espada e, por isso, teve um medo retrospectivo muito natural. Gerbault aproxima-se da Nova Guiné e entra em Port-Moresby, onde vê as extraordinárias pirogas de velame em pinça de caranguejo que o «deixam como uma pedra» (em calão de navegador de recreio). Ele navega a seis nós; elas podiam fazer 20! Penetra a seguir na Grande Barreira (já não o cordão litoral da Austrália, mas o «tampão» Norte) pela entrada de Bligh. É obrigado a fundear à noite, na corrente. O cabo parte-se (o costume, fastidioso); uma âncora perdida; lança a âncora grande, a cadeia parte-se (chega!) acabam-se as âncoras. Gerbault está em pleno recife, sem ancoradouro. Felizmente que um sloup lhe cede uma âncora. Há uma Providência, convenhamos... E atinge a ilha Thursday, que conhecemos bem, pelo norte. Livre! Eis o mar de Arafura e o Oceano Indico. Para Gerbault, bem como para todos os outros, a travessia pela ilha Keeling (Cocos), a 9 de Agosto de 1927, onde joga ténis, e, depois, por Rodriguez, não tem história. Como o Flre-Crest não navega bem com vento pela popa, Gerbault tem que bordejar, virando de ló. E, bem entendido, o aparelho cede peça por peça... Em Rodriguez, um mau piloto mete-o, com vento pela popa, num beco sem saída, mas ele consegue desembaraçar-se. Na Reunião não tem aborrecimentos, salvo os decorrentes dos curiosos. E ei-lo em Durban, a 17 de Dezembro de 1927, após 29 dias de travessia sem avarias, «à excepção de uma vela de giba rasgada». Gerbault passa o cabo da Boa Esperança em pleno Verão austral com muita facilidade, fica um momento no Cabo donde volta a partir, a 17 de Março de 1928, depois de ter feito substituir algumas folhas de cobre do revestimento e reparar uma dobradiça do leme. Escala em Santa Helena, a seguir em Ascensão. E eis as ilhas de Cabo Verde; tudo é agora fácil. Gerbault em breve terá «chegado». Qual quê! «Na segunda-feira, 9 de Julho, o vento abrandou e transformou-se à noite, numa brisa ligeira. Acabava de virar de bordo perto da ilha de São Vicente; a costa de San Antonio estava a cinco milhas. Julguei poder, com toda a segurança, repousar um pouco. Adormecera havia apenas três horas, quando um pequeno choque me despertou. Sabia já, antes de saltar para a ponte, o que se tinha passado. Acabava de tocar numa ponta de coral, apenas a alguns metros da costa de San Antonio. Era quase incrível, mas devia render-me à evidência. A brisa que soprava era ligeiríssima. Uma forte corrente lateral devia ter-me levado para a costa. Em alguns segundos, Flre-Crest ficou deitado de lado; a ponta do mastro quase tocava a penedia e teria podido saltar para terra sem molhar os pés. Era meia-noite, o mar começava já a baixar e não valia absolutamente de nada lançar uma âncora com o meu berthon.» Gerbault pensa que não tem «qualquer erro de navegação a censurar-se». Que pensarão disso Marin-Marie e Le Toumelin? Gerbault pro-curou socorro, encontrou um negro que não compreendia nem o inglês nem o espanhol, mas... o latim. Compareceu um rebocador que, graças ao tempo que, por sorte, estava esplêndido e calmo, desencalhou Flre-Crest, embora ao preço de um bordo furado. A água aberta pôde ser sumariamente dominada; Fire-Crest, levado para Porto Grande, foi reparado. Mas a reparação foi mal feita e Gerbault, que voltara a partir a 14 de Agosto de 1928, na esperança de chegar a França antes do Inverno, teve que fazer meia volta e regressar a Porto Grande. Aí, Gerbault passou o Inverno a escrever o relato da sua travessia, o que possibilitava a publicação dos volumes no momento do regresso, excelente fórmula financeira, publicitariamente falando. Partido a 6 de Maio, passou na Horta, nos Açores, e, após uma noite em Cherbourg chegou ao Havre a 26 de Julho de 1929. Fizeram-lhe um acolhimento triunfal. Quando, nove anos mais tarde, o comandante Bernicot chegou à ponta de Graves, depois de ter dado a mesma volta ao mundo - só com a pequena diferença de ter passado pela terrível Patagónia em vez do Panamá e de não ter registado uma única avaria - não havia ninguém, além dos amigos, para o receber; no dia seguinte, nem um artigo na Imprensa. Sabe-se que Gerbault voltou ao mar em Setembro de 1932. Mandara construir um novo barco, o Alain Gerbault, cujos planos e todos os pormenores foram publicados em dois livros; uma bela unidade que aproveitou da experiência de Alain Gerbault e também da dos outros, coisa pela qual só o podemos felicitar. Oferecera o Fire-Crest à Marinha Nacional para os alunos da Escola Naval; mas o velho barco solitário não aceitou essa perspectiva e, a reboque entre Guernesey e Bréhat, meteu água e afundou-se. Foi um belo fim. O de Gerbault não foi menos conforme ao seu destino, que era mais o de um intelectual, de um esteta, de um idealista, de um místico até, do que o de um marinheiro. Diz algures: «Estou contentíssimo por abandonar esta cidade... onde durante tanto tempo fui prisioneiro da minha celebridade. «Não tenho qualquer vantagem em voltar a partir; não posso fazer melhor (Ah, sim!, dizem os marinheiros) e mais do que fiz, e não tenho praticamente nada a ganhar se repetir o mesmo gesto; quero, todavia, procurar nos mares a calma interior e rever as ilhas cheias de sol.» E fala sempre «de uma civilização branca que detesta». Está nisso Gerbault inteiro: a solidão que procura é uma solidão de fuga, uma solidão por negação, uma solidão contra o mundo do nosso tempo e no nosso continente e não, como para outros, uma solidão positiva, uma solidão que se possui intimamente, de que se goza por si só, fazendo simplesmente calar os ruídos externos que a perturbam, sejam quais forem. A segunda travessia do Atlântico, depois de metade do Pacífico por Alain Gerbault, foi bela e sem incidentes notáveis. O tom do relato ( ) que dela faz é de todo diferente do dos seus três primeiros livros; fá-lo sem ênfase, com palavras marinheiras quase correctas (também sem excesso) e, manifestamente, sem uma falsa preocupação com o público: é, enfim, ele próprio, ele que conhece agora o mar e a navegação. Abandonou também essa ideia antes bem patente (ou, então, mandou passear o editor que lhe impunha esse sistema) de que quanto mais «naufrágios», «tempestades», «situações dramáticas» tivesse, melhor: esta demagogia baixa, esta «terrenagogia» (perdão!) esta encenação desapareceu. O seu único objectivo é reencontrar «as suas» ilhas, viver nelas e incitar os indígenas a viver à sua maneira e não à maneira dos brancos. Depois, quando navegou, fê-lo só para ir de uma ilha à outra, nesse apostolado. Alain Gerbault morreu em Dili durante a última guerra, precisamente na véspera do desembarque aliado no Timor português, ia a caminho da Indochina. Foi encontrado agonizante, com malária, a bordo do barco. Morreu numa clínica, a 16 de Dezembro de 1941. O seu corpo foi transportado em 1947 para Bora-Bora, sempre a bordo do Alain Gerbault. A lei francesa proíbe, na realidade, a imersão que ele tinha pedido. O Alain Gerbault, após ter sido saqueado pelos holandeses e, depois, pelos japoneses, teria sido utilizado por chineses e naufragado. Fosse como fosse, nunca mais foi visto. MILES, ERLING TAMBS E A SUA FAMÍLIA. FRANCESCO GERACI Nos anos 1928-1931 outro navegador, Edward Miles, dava a volta ao mundo, mas de ocidente para leste. Já vimos, a propósito de Rebell, que era muito mais difícil, pois é preciso navegar contra os alísios. Lembramo-nos de que Slocum teve essa ideia, a que renunciou em Gibraltar, preferindo o cabo Horn - ou, pelo menos, Magalhães - aos piratas do mar Vermelho. Edward Miles foi o primeiro a realizar sozinho esta proeza. O barco em que Miles largou de Nova Iorque a 29 de Agosto de 1928, o Sturdy (resoluto) era um pequeno palhabote marconi de 8 toneladas, munido de um motor de 11 CV, construído pelo próprio Miles. Os testes foram feitos entre Savana (Jórgia, mesmo ao norte da Florida) e Nova Iorque; como tudo corria bem, Miles rumou a sudeste e atingiu Gibraltar 49 dias mais tarde. Atravessou tranquilamente o Mediterrâneo, mas pela costa sul: Tânger, Argel, Tunes, Malta; subiu a Constantinopla, passeou na Grécia e deixou então o Sturdy em Alexandria, enquanto regressava, por nove meses, aos Estados Unidos. De novo no Egipto, atravessou o Canal do Suez e, após três dias de navegação no Mar Vermelho, manipulando sem precauções o combustível com o calor terrível que fazia, pegou fogo ao palhabote que ficou totalmente destruído. Salvou-se, atingiu Alexandria e daí regressou aos Estados Unidos para mandar construir um novo Sturdy, o Sturdy II. Um pouco mais pequeno que o primeiro, Sturdy II media 11,20 m de comprimento por 3,30 m de largura e tinha 1,45 m de calado. O aparelho continuava a ser o do palhabote, mas o motor era um Diesel de 20 CV com um aprovisionamento de 2700 litros de gasóleo, dando-lhe um raio de acção de 4500 milhas. Miles não fará, é certo, a volta ao mundo a motor, mas o seu «espeto» dar-lhe-á, sem dúvida, uma boa ajuda; não é o pequeno motor para as entradas nos portos que... vai pregar partidas a Bemicot. A proeza de Miles foi com certeza um tanto diminuída por este engenho e é por isso que só lhe consagramos umas breves linhas. Navegar a motor sozinho (Arielle) é mais difícil para o solitário do que navegar só à vela; mas combinar a vela e um potente motor, capaz de aumentar a velocidade numa brisa já fresca, simplifica evidentemente o problema. Os circum-navegadores que já vimos e três dos que se vão seguir, não dispunham de qualquer motor; outros dois, Bemicot e Bardiaux tê-lo- ão, mas não mais potente que uma ginga para bote, sem qualquer semelhança com o diesel de Miles. Sturdy II foi transportado num cargueiro para o Egipto, pois Miles queria recomeçar a viagem onde a tinha Interrompido. E em Setembro de 1930, quase um ano após o incêndio do primeiro Sturdy, aparelhava de Port-Tewfik na costa do Suez. Levou 29 dias a atravessar o Mar Vermelho, tocou Ceilão, Singapura, Manilha, Hong-Kong, Yokohama, onde passou em pleno Verão sem tufões. A 14 de Julho de 1931, deixou Yokohama, rumo às ilhas Hawai. Miles é o único dos navegadores citados a escolher esta rota; ela permitia-lhe, tendo primeiro navegado para leste na zona dos ventos variáveis, beneficiar depois do alísio do norte. Miles gastou 52 dias para atingir as ilhas Hawai e, a seguir, somente 18 dias para se dirigir a São Francisco, onde fundeou a 30 de Setembro de 1931. Acompanhou depois a costa oeste do México, passou pelo Panamá e entrou em Nova Iorque, um pouco menos de quatro anos após a partida. Se se descontarem os vinte meses durante os quais Miles regressou por duas vezes aos Estados Unidos e a viagem à Turquia, teremos, para a volta ao mundo, exactamente dois anos, o que era, então, o record da travessia solitária. A história que vamos agora contar e que se passa também nos anos 1928-1931, é já não a de um homem, mas de um casal - de um casal tal como a natureza o entende, isto é, dando filhos. Não temos coragem de o omitir; além disso... Além disso, vamos ver o que, na realidade... Esta aventura, muito emocionante sob o ponto de vista humano, é muitíssimo bem contada pelo seu autor, Erling Tambs, norueguês, de profissão, romancista. Do ponto de vista marítimo, é menos edificante e os princípios de Erling Tambs - os instrumentos de navegação e as cartas não servem para nada ou quase, e «os meios de marinheiro» são mais eficazes que os métodos de navegador (julgar-se-ia ouvir os disparates de Alain Gerbault na sua primeira obra) - levaram-no infelizmente a forçar de tal maneira a sorte que, um dia, essa sorte gastou-se e ele perdeu o seu magnífico barco (1). (1) Erling Tambs, Lune de miei sous les tempêtes (The Cruise ol the Teddy), Amiot-Dumont. Um dos homens que nestas matérias têm o direito de julgar os patês, Bernicot, dizia-nos: «Intitule esse capítulo «Como não se deve navegar!.». Dito isto, larguemos... em leitura, com Erling Tambs e a sua mulher, Julie, muito jovem, a bordo de Teddy. Teddy, cúter norueguês de 12 metros, era um «Colin Archer», isto é, havia sido desenhado pelo célebre arquitecto naval que concebeu o Fram de Mansen. Construído em 1890 (este género de barco é, porém, de uma extraordinária solidez), tinha servido durante uma grande parte desses 38 anos de barco-piloto nos perigosos fiordes e nos ainda mais perigosos canais do litoral norueguês. Na opinião de todos, tanto na Noruega como nos mares onde foi encontrado (principalmente por W. Mártir), era um dos mais belos barcos que jamais se vira: rápido, de excepcional resistência ao mar. E confortável, quando Tambs o mobilizou, o que fez perfeitamente, pois tratava-se para ele não de um barco a bordo do qual se acampa, mas sim de um domicílio, de uma verdadeira casa. Os reservatórios de água estavam previstos para 1500 litros. O aparelho era simples: quadrangular latina, traquete e vela de giba no botaló. O conjunto só tinha um defeito: sem motor, com as suas 6 toneladas de lastro interno que lhe davam uma deslocação total de 25 toneladas, o seu calado, a sua quadrangular de duas adriças de 50 metros quadrados, tinha demasiado peso para um homem só e já com 40 anos, mesmo que pudesse confiar o leme à mulher. Tambs compreendeu isso logo na primeira travessia. Mas não era o pior. Partia - e parece vangloriar-se disso - sem sextante, sem cronómetro, sem instruções náuticas, sem livros de faróis e quase sem cartas. Como compasso dispunha apenas de «um velho aparelho que o menor mar alterava», um compasso seco, provavelmente. O que não tem graça nenhuma. Ninguém nos convencerá de que o homem que pôde comprar e preparar Teddy «com o dinheiro do seu último romance» não podia adquirir um compasso a sério e alguns documentos náuticos com o único fim, por exemplo, de evitar dirigir-se para a Nova Zelândia sem mapas e dizer «Por sorte, caí de chofre em Auckland.» Diremos mais: ó grave contar, vangloriando-se, tais histórias, que podem incitar jovens entusiastas e ingénuos a fazer o mesmo e a perder-se. Os últimos dias de Agosto de 1928 não foram clementes; Tambs e a mulher «provaram» tempos terríveis, desde a Noruega até ao Havre, durante 16 dias. A jovem noiva não se encontrava... em luade-mel, mas vivia aquele ponto culminante do amor onde o que importa é não se estar separado. No pior momento, quando tudo parecia perdido, declarou: «Não faz mal... Estamos juntos.» É muito bonito; muito bonito porque o amor é muito bonito, simplesmente. Tambs levou-a para os bancos do Mar do Norte sem mapa actualizado e sem livro de faróis; quando viu um destes, o ritmo dos seus sinais não se ajustava à indicação da carta marítima, muito antiga. Impossível identificar um só: «De três ou quatro faróis que divisámos... nenhum se quis conformar ao mapa.» Tambs é tanto menos desculpável quanto foi, durante 8 anos, marinheiro a bordo de grandes veleiros. Imaginaria ele que os seus braços e as suas pernas, por muito heróico que fosse sobre a verga, teriam qualquer utilidade sem a inteligência e a experiência que do tombadilho os comandassem? Mesmo neste aspecto não desempenha bem as suas funções, aliás: enquanto se acha a barlavento dos bancos, sente que tem demasiado pano; tanto pior: «Estava farto de lutar contra esse grande velame... e a ideia de amarrar rizes naquela noite negra redundava em pesadelo.» Enrolou-se medrosamente na camisola e esperou que a coisa passasse. Um pouco mais longe, em plena Mancha, adormeceu durante o quarto e escapou, por um triz a uma abordagem. É quase um suicídio por incúria e cansaço; a mulher, que confiara nele, merecia mais. Que não nos digam «Para quê contar tantos sarilhos se se desembaraçaram deles?» Porquê? Porque se não se tivessem desembaraçado, o livro teria ficado reduzido a duas linhas de vulgaridades; e vulgaridades dessas já nós lemos de sobra. Deveremos, porém, acreditar no que Tambs conta ou considerar tudo como pose? Uma isca para papalvos, para «dramatizar», para vender? É muito possível... E fica-se bem tentado a pensá-lo quando, um pouco mais adiante, Tambs nos conta que dormiu catorze horas «sem se mexer nem sonhar», a algumas milhas dos bancos da Flandres; não se duvida quando se lê que «a primeira terra que reconheceu, 9 dias após ter largado do Havre era o cabo Ortegal, na costa noroeste de Espanha». Passar ao largo de Cotentin sem ver os faróis, quer da costa inglesa quer da costa normanda, dar depois a volta a Ouessant e Sein sem ver nem farol nem terra e, a seguir, sem sextante, cair de chofre em Ortegal... enfim, é forte! Deixemos, pois, as fanfarronadas ao passivo deste romancista (por outro lado tão simpático). Devemos, aliás, notar que a seguir não escreve mais enormidades deste género. Mas nós, que falamos aqui de navegação e não de roleta, vamos fechar o livro. Deixemos esse prazer - que é grande - aos amadores dos relatos de viagens, marítimas ou não. …………… Acabámos de dizer «vamos fechar o livro». Todavia, não o podemos fazer. De facto, há nesta obra uma parte admirável: a vida a bordo de um casal humano através dos mares (Espanha, Portugal, Madeira, Canárias, Trindade, Panamá, Marquesas, Tahiti, Samoa, Nova Zelândia, Austrália). E vemos, ao longo das páginas, que essa vida é possível num yacht à vela, bem preparado, tanto no mar alto como o seria em pequeno cruzeiro. Nenhum choque sério porque nele ou algures a mulher e o homem (que se amam) são feitos para viver em conjunto. E para criar filhos. E agora o mais extraordinário: nascido em Las Palmas, nas Canárias (a senhora Tambs, grávida de mais de seis meses, aguentou muito bem a travessia até lá), o jovem Tony embarcou com a idade de seis semanas. O ar do mar é excelente para ele e o leite condensado tão bom como noutra parte qualquer. Só o problema das fraldas é bastante mais complicado. A este respeito, convém, aliás, citar uma outra obra recentemente aparecida: L'amour dans une coquille de noix. Não se trata de grande navegação, apenas de um agradável passeio de ilha em ilha, nas Antilhas. Aí se vê o capitão Bill, célebre sklpper de regatas oceânicas, a mulher e Tarka-Dik, um rapazinho de poucas semanas a bordo de um soberbo yawl. As histórias de barrelas são um pouco frequentes, mas o resto é encantador. Tambs não diz como Julie se desembaraça. «Lava no mar.» A vida organiza-se. E logo que pode sair do berço, o bebé, nu ao bom sol tropical, faz-se um magnífico latagão. Coisa muito tocante: sente-se que Tambs tenta, a partir dessa altura, tornar-se menos incauto; claro que já tem mais experiência, mas está também no estado de espírito do automobilista «rápido» que leva a baptizar o seu primeiro filho e rola a 40 quilómetros à hora! Tambs tem, agora, portanto, um sextante... e procura servir-se dele. A «pequena família» é completada por um cão, um grande pastor alemão com muita graça, chamado «Víveres de emergência»! Cães a bordo! Bonito! Este senhor Tambs gosta de complicar a existência. Esta pequena família corre perigos terríveis, pois, ao chegar às Antilhas, Tambs ignora onde está com uma diferença de 500 milhas; pode ser que corra para os bancos do Orenoco, ou para a Barbada ou para a Martinica; Julie salva a situação ao divisar In extremis o farol de um vapor quase a desaparecer. Bom, prometemos a nós próprios não voltar a falar nesse género de navegação. Podemos, ao contrário, citar uma proeza que deve ser única: sem motor e abandonado pelo seu rebocador benévolo, Teddy atravessa o canal do Panamá até Gambo, à vela, de noite! Com brisa muito ligeira, desliza silenciosamente por entre a selva das duas margens. Em Balboa, Tony dá os seus primeiros passos - a bordo, bem entendido - e «com o andar gingão de um marinheiro», coisa em que sem dificuldade se acredita. Almas generosas, não podendo conceber que se obrigasse esta adorável criança a atravessar o Pacífico quiseram... comprá-lo por 1500 dólares. «À razão de um por ano, eis uma fonte de rendimentos bem achada» - exclama Tambs. Vamos faltar à nossa palavra e falar do dia em que o yacht, cujas madeiras estão completamente ressequidas e abertas por uma longa estada num porto tropical, se enche de 20 toneladas de água e vai afundar-se? Ou daquele em que Tambs atravessou um atol sem dar por isso? deus protege os inocentes. E oxalá os tipos decentes, Tambs, haja o que houver a censurar-lhe, é um tipo decente: gravemente doente e ferido também, temendo o pior, ensina a Julie o manejo do sextante (ponto final nas fanfarronadas) e dá-lhe todo um curso de navegação. Explica-lhe igualmente como poderá desembaraçar-se do cadáver que, nos trópicos, constituiria um perigo imediato: com a adriça da vela de giba consegui-lo-ia. Esta página tem verdadeira grandeza: junto deste homem moribundo, elevado acima de si próprio pela sua consciência de capitão e de pai, a infeliz mulher, dominando toda a angústia, trata-o, mostra-lhe boa cara, cuida da criança às horas e de modo normais, enquanto que Teddy, com o leme amarrado, escolhe s rota sozinho. No seu leito, Tambs vigia a rota que segue, segundo um ângulo invariável, a variável direcção do vento. Durante três semanas, Teddy evolui assim entre grupos de ilhas, e cada alteração de vento leva-o a contornar os perigos da melhor maneira. De longe, evidentemente. Mas é preciso corrigir o cálculo após tantos dias. Com 40,5 graus de febre, Tambs, vacilante, tira uma meridiana; esta coloca-o perto de perigosos recifes. Volta a deitar-se. Na ponte, Julie lava e Tony brinca. Julie solta um grito: escolhos! Tambs salta da cama, magoa violentamente o braço ferido... No dia seguinte, dia de Natal, a febre começa a ceder; a ferida esvaziara-se com o choque. Quanto aos recifes, eram marsuínos! A terra, no entanto, vai pregar uma desagradável partida aos Tambs; mas não será a «terra de mar», será a verdadeira terra do interior, na Nova Zelândia, que, ao pôr-se a tremer, quase matava toda a família. No mar também as coisas corriam menos bem; mas - curioso! - não era desta vez por culpa de Tambs (os garotos traquinas só recebem o castigo quando se comportam com juízo!) Teddy é abordado por um yacht amigo que o rebocava e depois lançava ã costa. Conserta-se o barco. Tony tem quase dois anos quando a tripulação passa a quatro ou cinco, contando o cão. E menos de um ano depois, Teddy levava já duas crianças, Tony e Tui, a irmãzinha, quando foi desviado para cima de umas rochas porque, em plena corrente, com uma brisa muito ligeira que virou, Tambs o fez passar demasiado perto; a única coisa a fazer era fundear, não é o que pensam? A âncora estava solidamente amarrada no habitáculo da proa e o cabo na dispensa, à ré. Tambs apoderou-se de uma ridícula ginga, que se partiu (25 toneladas em movimento). E foi o fim de Teddy. As crianças, a jovem mulher, o próprio Tambs e o cão foram salvos de modo dramático. A Providência quis que um barco de pesca a motor se encontrasse naquelas paragens desertas e os recolhesse quando foram, por outro milagre, encontrados os cinco, depois de terem passado por entre os escolhos sobre a parte emersa do recife. Tambs termina assim o seu relato: «Teddy, após a sua grande e bela carreira de piloto, devia acabar os seus dias como joguete de um louco... «A história do nosso cruzeiro é mais a história de um barco, de um nobre barco semelhante ao cão fiel, ao cavalo que envelhece, cujo amor leal para com o dono que os maltratou nunca esmorece.» O COMANDANTE BERNICOT OU A MODÉSTIA A ordem dos anos, que seguimos, é sábia. Depois do louco, eis o prudente: o comandante Bemicot que deu a volta ao mundo sem uma única avaria séria. Este era marinheiro. Mas o mais engraçado é que não o parecia de modo algum. Quando, no terceiro quarto da sua viagem, passou na ilha Maurícia, um jornalista local, porém entusiasta «exprimiu ingenuamente - diz o comandante - a sua decepção por não ter visto em mim uma fisionomia de circunstância». Era exactamente assim. E dizê-lo não será, por certo, deslustrar-lhe a memória, já que.. Enfim, temos que recordar essa perda ainda tão difícil de admitir 15 anos passados e contar como nos conhecemos. Era um belo dia de Verão na Trinité-sur-Mer, logo a seguir ao fim da última guerra. Eu tinha (1) ancorado o meu barco neste porto perfeito e como os víveres (principalmente o pão) eram difíceis de encontrar, demo-nos ao luxo, minha mulher e eu, de saborear os linguados da tia Le Rouzic com um muscadet bastante bom. Muito satisfeitos, tínhamos encontrado lá o nosso querido Pierre Béarn, o excelente escritor de marinha. Amontoávamos cascas de «cabras» (não a de Slocum; o rei dos caranguejos) nos nossos pratos, quando entrou um cavalheiro baixo, muito discretamente vestido, limpo, de aparência sóbria. Na sala de Jantar só havia um lugar vago, ao lado de minha mulher. Desculpando-se, o cavalheiro sentou-se, segurando na mão um chapéu mole que em vão tentara pôr em qualquer parte pois não havia bengaleiro à vista, nem um móvel que oferecesse pouso possível para um chapéu. A mesa estava atravancada, as cadeiras todas ocupadas. O senhor pousou o chapéu nos joelhos, solução que não lhe agradou por completo; olhou para trás, verificando se não o poderia pendurar nas costas da cadeira, mas estas eram redondas. Por isso, voltou a pôr o chapéu em cima dos joelhos. Foram servidas as ostras. Para pegar nelas, o cavalheiro fez um gesto e o chapéu caiu-lhe... A minha mulher, que era boa (uma mulher que não é boa nem sequer merece o nome de mulher), mas jovem e pouco audaz (graças a deus), esboçou um gesto de socorro. O cavalheiro desculpou-se de novo, sorriu - e notei nesse momento os seus admiráveis olhos azuis, puros como os de uma criança. Enfim, a minha mulher encheu-se de coragem e disse ao cavalheiro onde ficava o bengaleiro. O senhor levantou-se, saiu e voltou depois para comer as suas ostras, já livre do chapéu. Falávamos - bem entendido - de barcos. E eu exclamava: «Atrás do nosso barco há uma maravilha: um marconi de forma admirável com um curioso posto de timoneiro que ultrapassa um pouco o camarote de convés, à popa; não lhe vi bem o nome... qualquer coisa como Anita. Tenho que o ir contemplar de mais perto...» Nesse momento, o cavalheiro voltou-se para mim: - Desculpe interrompê-lo, mas disse tão bem do meu barco que tenho que o calar antes que comece a dizer mal. Eu pensei: que felizardo! - Não se chama Anita, mas sim Anahita... - Anahita !?? O senhor é o comandante Bernicot! Oh, comandante… - Ah, sabe o meu nome? O homem que dera a volta ao mundo sozinho e cujo esplêndido relato foi publicado pela N. R. F. (1), admirava-se modestamente que o conhecessem! (1) Le Crosière de Anahita, recentemente editado. Eis o comandante Bernicot em toda a sua estatura. O seu vestuário era o da maior parte dos capitães de longo curso que não se preocupam em «brincar aos marinheiros», muito pelo contrário... O chapéu mole era a nota da sua elegância. O comandante Bernicot era bretão, bem bretão, de Aber-Wrach, em plena costa bretã, na região dos rudes pescadores de sargaço, dos lagosteiros, dos marinheiros bravos. Um garoto que ginga numa chata no admirável fiorde de ilhas traiçoeiras, que sai a levantar as redes com qualquer parente no meio dos inúmeros rochedos, das correntes e dos redemoinhos do Four, poderá ser outra coisa que não um marinheiro? Louis Bernicot nasceu a 13 de Dezembro de 1883. Com 10 anos, possui já o seu primeiro barco à vela. Mal «tem» a sua teoria de longo curso, navega nos grandes veleiros, torna-se capitão. Faz toda a sua carreira na «Transat», quer como navegante, quer como agente em Houston (E.-U. no golfo do México), depois em Basse Terre (Guadalupe). A idade da reforma chega em 1934. O marinheiro vai plantar as suas couves ou melhor, vigiar as suas vinhas na terra da senhora Bernicot, em Dordogne. Oh, mas que vida! Como aquilo era terreno! Não se sentia de modo algum acabado com 51 anos. Era marinheiro, só marinheiro podia ser. E, no fundo, pensava que nunca o tinham deixado ser por completo - fora mais condutor de um autocarro flutuante! Apetecia-lhe navegar, enfim, a sério. Pensa dar a volta ao mundo. Porque não? Passar pelo estreito de Magalhães. Hesita: não será loucura? Nesse momento, cai-lhe sobre os olhos o relato de Slocum que tinha precisamente passado por lá e cujo Spray se aguentara com tempos assustadores. Isso decide-o. Terá apenas que escolher bem o seu barco e partir depois. Sozinho? Ah, sim, sozinho. Quando o fui visitar, poucas semanas antes da sua morte, a bordo do Anahita que penosamente desarmava em Bordéus, disse-me que já não poderia navegar mais; navegar já era demasiado violento para um homem da sua idade e sozinho. Respondi-lhe: —E não poderá arranjar alguém, um jovem, entre os seus amigos? Ele, sempre tão reservado e apesar de enfraquecido pela doença, ergueu os braços num gesto vivo: - Ah, não! A dois, não! Anahita (1) foi construído nos princípios de 1936 pelos Chantiers Moguérou, em Carantec, que haviam já lançado tantos yachts, grandes ou pequenos, muito marinheiros e habitáveis para as suas dimensões, inspirados nos lagosteiros. (1) «Anahita» é o nome da deusa das águas em caldaico Anahita é um sioup marconi sem botaló de 12,50 m por 3,50 e 1,70 m de calado. Possui linhas admiráveis. O lastro está todo na quilha; como diz o comandante - que, por certo, não conhecia os exemplos aqui - «se o barco se voltar, de que serve o lastro interior móvel?» Outra particularidade é o posto do timoneiro: permite, graças a uma roda engrenada com o leme, governar deitado e sem nunca perder o mar de vista. O comandante, que passou já os 50, prevê a doença como um caso normal que é preciso considerar. Verga de mezena, traquete com carangueja. Motor minúsculo (aliás, a única coisa a causar-lhe aborrecimentos!) com um reservatório para 45 litros, destinado às entradas de portos e às calmas, mas de todo incapaz de deslocar o barco contra o vento. Reservatórios para 450 litros de água. Quando o comandante Bernicot viu o seu «filho», uma só coisa o impressionou: a altura do mastro marconi. Haviam-lhe dito que nunca tal mastreação lhe permitiria pôr-se de capa... Anahita conseguiu-o perfeitamente. O comandante Bernicot aparelha a 22 de Agosto de 1936. Cometeu uma pequena falta, venial, mas que muito lamentará, pois dela vão decorrer bastantes dificuldades: confiou demasiadamente nos operários do estaleiro, partiu com um barco novo sem o ter rodado em pequenas saídas. Claro que tudo parecia perfeito. No entanto, dirá ele mais tarde, devia ter experimentado... Mas, em Carantec, os pescadores observavam-no, pareciam pensar: «Ele diz que parte... Sabe-se lá!» Foi por timidez que o comandante demandou o largo quase sem treino. Ao aparelhar, sentiu-se um pouco emocionado. Mas o piloto que o acompanha durante algumas braças, examina-o. Na sua escada de portaló o comandante sentiu que o olhavam assim: endireitouse. Pronto! A volta ao mundo far-se-á sem que Bernicot tenha, a partir de agora, a menor hesitação. Em breve o leme se torna muito duro: a madre era demasiado grande para os seus cabos ou, mais grave ainda, para o seu vão (poço através do casco). Eis o defeito dos barcos novos; eis por que razão o comandante se acusava de imprevidência. Sem dúvida que uma modi-ficação insignificante antes da partida teria composto tudo; assim, por causa desse descuido, Anahita não podia manter rota sozinho. Pior: não metia à orça nos pés de vento, punha-se de través, o que é muito perigoso. Eis o que é um barco: o pormenor mais ínfimo é essencial. O comandante, que viria a atingir a América do Sul numa só etapa, fez, portanto, escala no Funchal, Madeira, e feita (mal) a reparação, voltou a partir para a longa viagem. «A solidão não me incomodava - diz. - Gostava de passear na ponte, feliz por percorrer assim o meu domínio. Se é verdade que de todas as aspirações humanas o espírito de dominação é o mais tenaz, que podia eu desejar de melhor que esta soberania absoluta?» Sim; mas, como diz Slocum com a sua encantadora boa fé: «Era apesar de tudo mais simples dizer faça Isto, faça aquilo!» O comandante Bernicot é o seu próprio «serviço de vela». No seu desejo de fazer rota, nem sequer se apercebe de que está prestes a matar-se por falta de sono. Pouco a pouco, entrava num estado de torpor perigoso, mas de que não se dava conta: «Como não ultrapassei eu o limite extremo? Um lampejo de razão, o último, talvez, fez-me compreender o perigo que corria, e, nessa noite, parei o cúter... De futuro, terei mais cuidado.» Vencidas as ilhas de Cabo Verde, eis o «Pot-au-Noir»; o motorzinho permitirá atravessá-lo um pouco menos lentamente que só à vela. O casco suja-se. Com mar calmo, Bernicot tenta retirar um pouco da vegetação animal e vegetal que se lhe agarra, servindo-se de um raspador com um cabo bastante comprido. De uma vez, como se debruçasse muito para fora do bordo, quase caiu à água, de cabeça; largando precipitadamente o raspador, apenas teve tempo para se agarrar, com as duas mãos, ao casco e se manter em equilíbrio precário, na amurada; com infinitas precauções, conseguiu endireitar-se e pôr de novo os pés na ponte. Soprava então uma ligeira brisa favorável e quando procurou com os olhos o raspador viu-o... longe na esteira. Estremece-se... Nem os melhores podem evitar a imprudência. Bem vistas as coisas, todos nós somos imprudentes - quantas vezes! - ao atravessar a rua. As douradas protegem-se dos inimigos cetáceos sob o casco de Anahita, o que explica talvez os choques sentidos por tantos barcos: os golfinhos vêm até eles, perseguir a presa. E o comandante observa que estas douradas parecem dormir: «Fazia um luar claríssimo, o mar estava belo e Anahita, sob o impulso de uma ligeira brisa pela popa, podia dar 3 nós. Em dado momento, vi passar, apenas a 50 centímetros do casco, um peixe meio voltado, imóvel; intrigado, segui-o com os olhos quando, de repente, no preciso instante em que a ré do barco o ia ultrapassar, vi o animal retomar o equilíbrio e, rápido como uma flecha, atingir a altura da roda da proa, imobilizar-se e voltar a passar sob os meus olhos, na mesma posição de havia pouco. Voltei-me para o outro bordo e avistei mais douradas na mesma posição, meio deitadas, com o ventre prateado brilhando aos raios da Lua.» Um sono entrecortado por segundos de Romer. Como a vela quadrangular trazida de Carantec se fosse estragando, o comandante começou a fabricar outra. Nunca tinha praticado tal arte, que não é nada fácil; principalmente, é bastante complicado talhá-la sem espaço para a estender! No entanto, conseguiu, e se a vela não é bonita é, pelo menos, sólida - o essencial. Eis Mar de la Plata na Argentina. Convidam Bernicot para jantar. Mas, solitário muito mais verdadeiro que todos os outros, que apreciavam descontrair, recusou, pretextando a fadiga. «Na realidade recuava diante da perspectiva de retomar tão cedo o contacto com a sociedade.» E, todavia, o convite tentava-o bem, pois quase já não tinha nada que comer a bordo, nem uma gota de água! A 22 de Dezembro, Anahita retomou o mar. Ao longo da costa sul--americana (e era, contudo, Verão pleno) enfrentou mau tempo. Mas a 8 de Janeiro foi a tempestade, no sentido que um capitão de longo curso dá a esta palavra. Deixemos o comandante Bernicot contar o episódio, o único verdadeiramente dramático da sua viagem: «Veio a noite e o vento pareceu-me ter atingido o seu máximo de intensidade; o mar, porém, alongava-se, cavava-se... Até à uma hora da manhã, fiquei de vela, ora no cockpit, agarrado às fasquias que tinha instalado em cada bordo a uma certa altura, ora no interior do camarote de convés. Pela 1,30 h, sentindo-me extenuado, menos pela fadiga que pela tensão de espírito, resolvi estender-me uns momentos, em baixo, no canapé. «Estava deitado haveria, no máximo meia hora e já a dormir, quando, com um ruído assustador, fui violentamente atirado contra a parede - talvez mesmo contra os barrotes da ponte - e senti cair sobre mim uma série de objectos; o candeeiro que conservava sempre aceso de noite, na cabina, apagouse. O ruído e o choque fizeram-me temer o pior. Pensei imediatamente: acabou-se! «Permaneci imóvel durante alguns segundos, à escuta; depois, como nenhum ruído de entrada de água me chegasse aos ouvidos, recobrei esperança. O barco tinha-se endireitado. Rapidamente, desembaracei-me de tudo o que me tolhia os movimentos: cobertores, lençóis, mala, etc. Sair da cabina não foi coisa fácil: já não havia sobrado. No pequeno posto de timoneiro reinava também a confusão: cabos, ferramentas, velas, peças sobresselentes jaziam em desordem a bombordo, a sotavento, obstruindo a passagem. «Mal olhei para a ponte, vi logo a escora de bombordo a balançar perigosamente na armadoira a sotavento: tinha sido arrancada das amarrações. Rastejando pela ponte inclinada, consegui atingi-la e içá-la no mastro, ao abrigo do qual trabalhei apressadamente para a prender. «Pareceu-me que o vento abrandara. O cúter devia ter caído de través, talvez não suficientemente apoiado a barlavento no mar furioso que ainda se mantinha. Nesta posição desfavorável, teve que suportar a enorme vaga que o voltou quase completamente. Digo voltar, pois de outro modo é impossível explicar a trajectória seguida por certos objectos no interior do barco. Não encontrei eu, colada por baixo dos bordos da ponte, uma camada de café em pó? «Só houve um movimento de oscilação em torno do eixo longitudinal; ao mesmo tempo, a proa do cúter foi desviada para sotavento, caindo profundamente na cava da vaga. «Querendo descer ao Cockpit para ajustar o leme, vi o xadrez que lhe cobre o fundo quase todo saído; ficara retido, entalado, precisamente à flor da ponte. Veio-me aos lábios um sorriso amargo: se eu estivesse lá dentro... A pouco e pouco, a tempestade foi amainando. Mas, quando à luz de uma pálida aurora revi o interior, o meu coração apertou-se... Todavia, o pensar que as tréguas, lá em cima, não seriam provavelmente de longa duração, impeliu-me ao trabalho. «Fiz a toda a pressa café quente. Os víveres que guardava ao alcance da mão, na cozinha, juncavam o parquete numa camada espessa. Na cabina nada se mantinha no sítio; os livros de navegação e parte dos mapas boiavam na água gordurosa do porão. Os livros tinha-os eu, no entanto, apertado bem uns contra os outros, numa prateleira transversal profunda. Como teriam de lá saído? Um pequeno barco de cruzeiro devia poder voltar-se sem que nada mexesse! Este pensamento levou-me a regozijar-me por não ter querido absolutamente nenhum lastro Interior.» A 16 de Janeiro aparece o cabo das Virgens que limita a entrada do estreito de Magalhães, onde Bernicot penetra (Veja cartas). Já vimos as dificuldades que aí encontrou Slocum. Hoje já não existem selvagens e as pontas têm faróis e balizas. Mas os terríveis «williwas» não mudaram. Naturalmente, ao seu primeiro ataque, o motor fraquejou. Bernicot conseguiu abrigar-se diante de uma praia e adormeceu. As marés são, neste local, muito grandes: atingem 13 metros, quase tanto como na baía do Mont-Saint-Michel. Um «bom samaritano» despertou-o, bombardeando o Anahita com pequenas pedras. O barco ia encalhar. Bernicot não teve tempo de escorar e, por isso, Anahita encalhou - mas safou-se muito bem. Como as marés sobem muito, as correntes são terríveis. Utilizando-as judiciosamente e recorrendo ao pequeno motor, Bernicot fez uma magnífica travessia do estreito, cujo relato convém ler na íntegra. Em determinada baía, este solitário achou algo ainda mais solitário do que ele: a natureza sem um ser vivo. Sentiu-se «presa de um mau estar inexplicável» - e tratava-se de Bernicot! - e correu para bordo do Anahita que o aguardava em águas calmas. Nele, sentiu-se perfeitamente feliz: «A noite veio. Resolvi regressar a bordo e zarpar; sentia que, ao acordar, no dia seguinte, a tentação de ficar seria muito grande e que precisaria de muita, mesmo muita coragem para abandonar aquele abrigo... fossem quais fossem as condições do tempo!» Nenhuma tentação, porém, vence este marinheiro. Depois de ter gasto quase uma hora a desembaraçar-se do sargaço que o rodeava, retoma a difícil navegação no estreito canal. E, sem mais parar, aproveitando, diz, de condições excepcionais, encontra-se no Pacífico, do-brando o cabo Pilar e as Evangelistas a 29 de Janeiro, ou seja, 13 dias após ter deixado o Atlântico no cabo das Virgens. Slocum tinha gasto 20 (sem contar a segunda vez); claro que o motor havia servido (muito pouco); mas, sobretudo, Anahita remontava muito diferentemente de Spray. Bemicot está no Pacífico; irá este pregar-lhe a mesma partida que a Slocum? Talvez, pois o mar é enorme; em breve aparece o vento de noroeste, terrível. Anahita é posto de capa, tal como outrora Spray. Tal como ele, deriva para sul-sudeste, para a Terra do Fogo. Bernicot, temendo ser para lá desviado, vira de bordo e consegue fazer um pouco de norte. Sente-se muito cansado, sofre dos rins «arrasta-se pela ponte». Enfim, o vento abranda um pouco; depois, abranda demais. E eis Anahita quase parado numa ondulação gigantesca; uma brisa inesperada de sudoeste mal pode ser aproveitada, de tanto que o barco ginga. Finalmente, a rota para norte, para os alísios, faz-se pouco a pouco. Para se ocupar (!), Bernicot fabrica um traquete; mas tem os dedos tão doridos que se vê obrigado a puxar a agulha, a cada ponto, com um alicate! Atingidos os alísios, acabadas as penas. Bernicot avista a ilha de Páscoa e lamenta ultrapassá-la; o porto é muito perigoso. A vida do mar é agora uma bela vida, regular, tranquila. Monástica. Eis a ementa deste monge do oceano: «Ao levantar, cedo - duas ou três horas da manhã - tomava um café simples. Pelas sete horas, pequeno almoço de café com leite e bolachas. A falta do pão sentia-a muito; tentei por várias vezes fazê-lo... mas só consegui produzir aquilo a que os marinheiros costumam chamar «chumbo de sonda», isto é, um pão compacto e pesado. Se dispusesse de um forno, talvez... «Ao meio-dia, depois da meridiana e do ponto, almoço, constituído por um prato de batatas, massa ou arroz, guarnecido com um pouco de carne de conserva, presunto, picado de carne ou salsicha, e a invariável sobremesa do mar alto: o doce. «À noite, entre as seis e as sete, um jantar frugal: os restos do almoço ou, com frequência, arroz cozido em leite. E bebidas quentes: café, chá ou cacau, misturados com leite.» Anahita passa nas ilhas Gambier, em Tahiti (onde o seu mastro foi um pouco avançado para obter melhor estabilidade de rota). Atravessa o mar de Coral, calmo como convinha, depois um pouco agitado. Bernicot entrou no estreito de Torres reconhecendo a baliza da Caye Bramble e seguindo a entrada de Bligh como Gerbault; como ele, ancorou na ilha dos Cocos, a seguir à Thursday. Depois foi o encantador mar de Arafura. Tal como para os outros, surgiu, neste momento, clara, uma palavra: o regresso. «Este regresso - diz - cujo fantasma se manifestara de modo tão imperioso em certas horas, acabei - estranha reviravolta - por considerá-lo com uma espécie de indiferença.» Indiferença? Ou temor? Bernicot pensa na palavra de um doutor da Igreja: «Aquele que pode ter um refúgio, parece-me feliz.» E conclui: «Refúgio? A existência isolada dos meses passados no mar era, de certa maneira, um refúgio e custar-me-ia, sem dúvida, abandonar a quietude. «... Mas não haverá mais que quietude? A vida no mar é cheia - não direi de encanto, isso toda a gente sabe - de atractivos, de grandes espaços, de imprevistos, de perigos mesmo...» A monção de sudeste levou alegremente Anahita através do mar de Arafura e do de Timor. Após uma escala nas Keeling (Cocos) foi o Oceano Índico, a ilha Maurícia, a Reunião. Durban foi atingido a 6 de Novembro. Aí, o motor pregou a Bernicot uma daquelas partidas em que são useiros e vezeiros os seus semelhantes: «Na baía, ou melhor, no cavado da costa em que se abre Port-Natal, a ondulação era forte enquanto o vento abrandava cada vez mais. Prevendo dificuldades para governar, na entrada, com o vento todo pela popa e com semelhante ondulação, amainei a quadrangular e liguei o motor. Este abandonou-me a menos de 100 metros do dique sul, aquele de que estava mais perto; as vagas empurravam-me para a ponta da represa contra a qual o mar quebrava com força. Não podia pensar em içar outra vez a quadrangular, pois o cúter teria com toda a certeza caldo de través, principalmente porque, por pouca sorte, todos os ganchos tinham saído da carreira. Só me restava o traquete, que icei num segundo. «Vivi alguns momentos de angústia até que, metro a metro, pude alcançar as águas calmas a montante da barra, onde a vedeta da Saúde me tomou a reboque.» O cabo da Boa Esperança foi passado... com vento forte pela proa, correndo sob o traquete, o que não é vulgar! Para o melhor, a melhor sorte! A subida da África com escala em Pointe-Noire e depois nos Açores, também não teve história. E a 30 de Maio de 1938, às 2 horas da manhã, sob uma chuvinha incomodativa e com o traquete - o motor portara-se mal, bem entendido - Anahita dobrava a Coubre, a entrada da Gironda, sem ver o farol. Desagradável, o vento virou, obrigando Bernicot a içar uma última vez a quadrangular, muito rígida e pesada da chuva, para percorrer as últimas braças. Às 4 horas da manhã, Anahita balançava-se no ancoradouro junto à ponta de Grave... E Bernicot ia debater-se com os seus caseiros espertalhões. Não. Não se renuncia assim ao mar. Quando a guerra acabou, Anahita foi rearmado. Como o filho do comandante Bernicot tivesse, em 1945, que tomar conta do seu posto no Gabão e como não encontrasse nenhum meio de transporte, o pai disse-lhe: «Vou-te lá levar!» Meu dito meu feito. Nos anos que se seguiram, Bernicot navegou no Verão e passou o Inverno a bordo. "Mas fazia frio. Porque não hibernar no Marrocos? Tal como Slocum, Bernicot não gostava de comprar sobretudos. Caro comandante, no Outono de 1952 o senhor devia ter, pela primeira vez, desistido. Dizia-me: «Tenho abusado...» Mesmo assim, quis desarmar sozinho. No alto do seu mastro, uma enxárcia, ao partir-se, atingiu-o. Anahita matou-o. O destino devia-lhe esta morte de marinheiro. VITO DUMAS O MAIS VALOROSO DOS NAVEGADORES SOLITÁRIOS SANDEFJORD «AFOCINHOU» OU COMO UMA PESSOA SE AFOGA Antes de falar de Vito Dumas e para mostrar o género de mares que enfrentou ao longo de toda a sua «rota impossível», bem como o perigo de uma manobra de que se tornou apóstolo, vamos primeiro contar como Sandefjord, o segundo barco de Erling Tambs, e, depois, por duas vezes, o Tzu-Hang do casal Smeeton, «afocinharam» e adernaram pela proa, coisa que se julgava impossível - com bastante leviandade na nossa opinião, pois se marinheiros de outrora atribuíram uma palavra especial a esse facto, é porque ele se produziu. Sandefjord era um soberbo ketch (um mastro grande à proa, vela de giba e quadrangular; à popa, mesmo diante do leme, um mastro pequeno, o da mezena), de 14,30m de comprido (era já um grande yacht) quase 5 metros de largo - o que dá grande estabilidade - e 2,30 m de calado, com lastro na quilha, donde perfeita segurança teórica. Acrescentemos que este yacht era um antigo barco-piloto norueguês, o que constitui também uma poderosa garantia. A tripulação era constituída por Tambs, skipper, acompanhado de Kaare, de 25 anos, Einar de 23, Peter e Torlief, todos rapazes robustos e experimentados. Tambs havia já feito metade da volta ao mundo com a mulher e os bebés, a bordo de Teddy; a sua navegação não tinha sido impecável, muito longe disso, mas, entretanto, adquirira experiência. O acidente que lhe custara Teddy havialhe, pensava, ensinado muito. Mas tinha pressa: levava o Sandefjord para a grande regata oceânica da América à Noruega, organizada pelo Cruising Club of America e, atrasado em relação ao horário, tinha medo de falhar a partida. Não seria inadmissível que uma corrida que terminava na Noruega não contasse com um concorrente norueguês? Já o sublinhámos: os encontros em data fixa são condições pouco marinheiras e levam a cometer muitas loucuras. A 16 e 17 de Maio de 1935, após uma calma e depois de uma bela brisa quase em popa (pela alheta de bombordo), o vento pôs-se a soprar, a soprar, a passar à força de 7 ou 8 (até 65 km/hora) com rajadas tão violentas que o homem do leme já não o dominava e era preciso meter à orça (aproximar-se do vento) vários quartos (há dezasseis quartos num semicírculo; quatro quartos são 45 graus), o que não permitia repouso completo, já que o mar crescia com bastante rapidez. Tambs tinha consciência de que levava pano a mais, mas rejubilou ao ver na barquinha 199 milhas nas vinte e quatro horas. Logo deixou, porém, de rejubilar ao ver o céu tingir-se de cor inquietante e a brisa passar «de muito fresca» a «vento forte». Tardava, no entanto, a decidir-se a amainar vela. Que pena perder assim uma rota tão boal Por fim (mas este «por fim» era «demasiado tarde», pelo enca-deamento das coisas), com um suspiro, resignou-se. A dura operação começou. Rumou-se contra o vento para recolher a vela de mezena e amarrar dois rizes na quadrangular, o que foi feito sem grande dificuldade. Restava substituir a vela de giba média por um joanete, giba muito pequena e robusta, especial para a tempestade. Ao tentar fazê-Io, o punho partiu-se e as duas pesadas roldanas perfuraram a vela de giba média. Como as duas velas de giba ficavam assim inutilizadas, era preciso consertar uma. Impossível pôr-se de capa. Foi assim que Tambs cometeu o que muitos consideram um erro gravíssimo que, no entanto, Vito Dumas aplicou sem cessar, vitoriosamente, e bem assim alguns skippers de regatas oceânicas, como veremos: enquanto o barómetro descia precipitadamente, enquanto o vento virava a tempestade forte, enquanto o mar se tornava enorme, ele continuou calmamente a consertar a sua vela de giba, deixando correr com vento pela popa na tempestade o ketch que, segundo a experiência comum, há muito tempo deveria estar de capa. Às 7 horas foram precisos dois homens para segurar o leme, pois um só não chegava. Na cabina, Tambs continuava a reparar o seu joanete, repetindo para si próprio: «Logo que isto esteja pronto, pomo-nos de capa.» Às 7,30 horas era assunto arrumado; pela escotilha do habitáculo começou a tirar a pequena vela. Mas um dos homens do leme gritou: «Skipper, venha à ponte. Já não aguentamos isto!» O que Tambs viu era assustador; já não se tratava de tempestade, antes de um autêntico furacão que, brutalmente como é vulgar, tinha invertido por completo o seu rumo, passando de sudoeste a nordeste. Por isso, as vagas (sempre o mar picado) formavam-se em gigantescas cunhas, em montanhas, em picos. Como diz Tambs, «as cristas haviam-se tornado loucas e avançavam com incoerência, como bêbedos, trepavam umas às outras, formando como que torres, partiam ao assalto do céu, criando ressacas terríveis nos sítios onde menos se esperava». Lá dentro, Sandefjord avançava com um ruído de trovão, fazendo voar poalha no meio da chuva que picava como mil agulhas. Uma rajada arrancou como uma pluma o painel da cabina da proa, uma peça de madeira pesada, grossa, porém pequena e bem presa pelas charneiras. Era preciso que o Sandefjord se pusesse de capa e depressa, muito depressa. Para tanto, enquanto os dois homens do leme, Kaare e Torlief tentavam guinar o menos possível, era necessário içar o joanete. Tambs, Peter e Einar esforçavam-se por isso, mas um cabo auxiliar (o empunidoiro) partiuse; Tambs mandou Peter buscar um cabo forte, debaixo do youyou. Foi então que a coisa aconteceu. Eis o que relataram, sem combinação de qualquer espécie, quatro dos navegadores: 1.° TAMBS Na proa, Tambs estava agarrado à pequena giba de tempestade. Viu o barco «entornar» isto é, meter o nariz numa vaga. Com a água pelas coxas, saltou para o estai (enxárcia da vante), onde se segurou. Einar estava perto dele, agarrado ao corrimão lateral e Peter, de gatas, raste-java para a proa, com o cabo. Do leme, Torlief gritou: «Uma ressaca, uma ressaca tão alta como a borla do mastro!» Sem compreender nada do que se passava, Tambs viu o barco mergulhar completamente. Tudo o que os rodeava desapareceu. O estai foi-me arrancado das mãos; já não tinha barco, nem camaradas. Tambs flutuava no nada com uma estranha impressão de abandono. Sentiu-se então arrastado para trás, para as profundezas, por uma força poderosa. Pensou ser atraído pelo redemoinho do barco que afundava corpos e bens; disse para consigo que sem dúvida os bordos da roda da proa tinham sido arrancados. Não sentia, afirma, qualquer medo, antes aceitava uma fatalidade sem esperança. Seria a morte muito dolorosa? Cada vez se afundava mais profundamente, numa água branca de espuma. Não lutava. Para quê? Para viver mais alguns minutos? Que possibilidades poderia ter um nadador em semelhante mar e tão ao largo? Conscientemente, respirou água; «a surpresa deste terrível acontecimento pareceu têlo insensibilizado» e não sentiu qualquer dor, nem sequer quando algo lhe bateu no peito. Mal deu por ele; ora, esse algo que era, sem dúvida, a âncora, quebrava-lhe duas costelas. Ele sabia-se longe, muito longe, debaixo da água. Só então compreendeu que os seus filhos iam perder o pai, só então o instinto de conservação despertou; nadou com todas as forças para a superfície sem, todavia, esperança de lá chegar, convencido de que desmaiaria antes. Teve a sorte, diz, de poder respirar profundamente antes de ser de novo puxado para baixo. Desta vez, abandonou-se por completo. Só via espuma; o barco, única esperança de sobrevivência, não o avistava. Quanto aos camaradas, deviam lutar cada um pelos seus próprios meios e, portanto, deles não podia esperar qualquer ajuda. Nesse momento, foi outra vez trazido à superfície. Sandefjord! Sandefjord flutuava a menos de 25 metros de distância, com vento pela popa. Avançava.,. - e, coisa admirável, Tambs torna-se instantânea e totalmente marinheiro - avançava, viu ele, lentamente, com vento por estibordo (soprava da direita), apenas com o seu mastro grande, impelido por um minúsculo farrapo que restava da quadrangular. A bordo, ninguém. Havia ainda, pois, uma possibilidade de sobreviver. Foi então que o medo se apossou dele, o medo de não poder vencer aqueles 25 metros antes que o barco se afastasse. Nadou ferozmente. Da crista de uma vaga ouviu uma voz. Gritou que lhe lançassem uma bóia. Lançaram-lhe de facto uma, mas ele não pôde ver onde tinha caído e não perdeu tempo a procurá-la; a nado, agarrou-se ao bordo e foi içado. Parecia-lhe que qualquer coisa tinha acalmado o mar (matérias gordas de bordo? O combustível do motor? Qualquer coisa...). Foi Torlief quem o içou. Ao mesmo tempo, Einar e Peter regressaram a bordo, o primeiro atirado por uma vaga por sobre a popa, o outro subindo pelo aparelho do mastro de mezena, partido, que balouçava sobre o mar. Logo os homens se puseram a cortar esse aparelho para que o mastro de mezena não arrombasse o barco. Faltava, porém, Kaare. Bem o chamaram, mas nunca mais o viram. Esta perda atingiu Tambs com muita violência. Ele, o capitão, ele o responsável por tudo, tinha perdido um homem. Como um capitão se sente só! Mas, pensou Tambs, os outros em breve o seguiriam. Sandefjord já não passava de um destroço meio cheio de água, no qual o nível desta subia sem cessar. De que servira uma hora de luta inútil, uma hora de angústia de morte, bem pior que a própria morte? E tudo isto por sua culpa. Já antes cometera graves erros (quando da perda de Teddy); julgara nunca mais repetir as mesmas faltas, mas, as coisas esquecem-se tão depressa, tão depressa... Aqui, Tambs anota um pensamento que nos parece de grande beleza, de uma extraordinária nobreza (já aludimos ao assunto a propósito de Gilboy): «Senti muitas vezes necessidade de rezar, pois reconhecera sinais da mão toda-poderosa que rege o destino dos homens e do mundo. «Mas então não rezei, nem sequer para me aliviar da perda de Kaare, nem mesmo pelo descanso da sua alma. Não queria importunar o Pai Celeste com as minhas pobres preocupações. Aquele que não tem relações quotidianas com o Senhor deve parecer-lhe bem digno de pena quando, no momento do perigo, recorre à prece. Assim ocasional, trata-se de uma fraqueza de que os humanos se deviam defender. Eu sabia que se fosse essa a Sua vontade, o Senhor nos tomaria sob a sua protecção. «E talvez o Senhor considere, no dia do Juízo, o facto de eu não me ter dirigido a Ele em semelhantes alturas, talvez não ache muito mal este sentimento de orgulho.» Então, Tambs reagiu e organizou a bombagem. £ só nesse momento se apercebeu de que tinha duas costelas partidas. 2.º EINAR Einar preparava o jantar quando Tambs gritou; «Toda a gente para a ponte!» Com o sklpper, dirigiuse à proa, lutou com a vela de giba, viu passar na rajada a cobertura da cabina, arrancada das dobradiças. De repente, sentiu-se levado pela borda fora; mergulhou profundamente e pensou que tudo tinha acabado, mas, mesmo assim, nadou com todas as suas forças para a superfície. Qualquer coisa de duro, provavelmente o safrão do leme (a parte actuante), o atingiu na cabeça. As vagas impeliramno, porém, de tal maneira que conseguiu agarrar-se ao aparelho da mezena e subir para bordo. Viu Tambs e Torlief igualmente salvos. Mas Kaare não voltava; tinha vestido um grande oleado e calçava pesadas botas que, com certeza, o atrapalhavam. Einar pôs-se a dar à bomba. Tinha, porém, na cabeça um profundo golpe e desmaiou. Tudo o que sabe depois, é que se deitou com os outros no sobrado da cabina e que, de noite, a tempestade amainou. 3.° TORLIEF Torlief estava ao leme, com Kaare. Enquanto se amainava o pano, diz ele, aconteceu a infelicidade. O barco mergulhou várias vezes a proa no mar; da última vez, na altura em que a proa penetrava profundamente numa vaga, aproximou-se pela popa uma enorme ressaca que voltou o barco por completo. Quando Sandefjord emergiu, Torlief estava sozinho a bordo. As manobras de laborar e as fixas (adriças e enxárcias) do mastro de mezena, haviam-no encurralado no cockpit. Lançou ao mar os cintos de salvação. Depois, viu regressar Einar e Peter. Ouviu chamar e içou Tambs para bordo. Kaare? Com certeza que, pensou, devia ter recebido uma pancada de um dos numerosos objectos que vogavam em todos os sentidos; devia ter achado nas profundidades uma morte sem dor. 4.° PETER Acabava de procurar um empunidoiro no meio da ponte. Foi então que aquilo aconteceu. Como? Lembra-se apenas de ter sido tragado por uma massa de água espumosa e de ouvir o barulho de uma vela a rasgar-se; depois foi levado por uma enorme vaga e arrastado para o fundo. Bebeu muita água enquanto tentava nadar; atingiu a superfície, mas mal teve tempo de respirar antes de ser outra vez puxado para baixo. Abandonara já toda a esperança, quando a sua cabeça encontrou cabos e pranchas flutuantes, a que se agarrou. No mesmo momento, viu o Sandefjord a 20 metros, a sotavento; nadou vigorosamente para ele, com a impressão de que o barco se afastava, embora não tivesse qualquer vela. Einar ajudou-o a subir para bordo. Faltava alguém? responderam-lhe: «Vamos gritar todos o nome de Kaare!» Este não deu resposta e não voltou a aparecer. Em baixo, estava tudo devastado; o cabo da âncora havia sido projectado do seu poço para a tarimba, que se encontrava atrás, a estibordo, após ter chocado com o interior da ponte que mostrava vestígios muito claros da sua passagem. O barco tinha, portanto, adernado pela proa, coisa que, diz Peter, julgava antes impossível. Após um exame aprofundado, Tambs chegou à mesma conclusão: Sandefjord tinha «afocinhado»: muito inclinado para a proa na vertente de uma vaga, havia «enfornado» a toda a velocidade nas costas da onda precedente. Nesta posição, a vaga, enorme, surgida por detrás, levantara--Ihe a popa, obrigando o barco a fazer meio looping; o Sandefjord, então às avessas (a cadeia da âncora no interior da ponte), tinha sido endireitado pela quilha de ferro fundido e pelo lastro interior que pesava no total 15 000 quilogramas; endireitara-se num movimento de torção que projectara a cadeia da âncora sobre a tarimba de estibordo, atrás do poço; isto mostrava bem que, ao reerguer-se, terminara o looping. Outra prova: a farinha de milho que estava em cima de uma espécie de armário ficou colada à ponte, precisamente por cima do primitivo local; enfim, alguns copos guardados em alvéolos muito profundos (tão profundos que era difícil tirá-los de lá) libertaram-se todos. Muitos outros sinais indicavam o movimento executado. Também o mastro da mezena se tinha partido no sentido da popa e não do lado. O mastro grande estava apenas fendido. Na ponte foi uma razia: a canoa, o tecto do posto do timoneiro, o compasso, as velas, uma âncora, o guarda-fogo de um farol de posição, haviam desaparecido. Os paveses, isto é, parte do casco acima da ponte estava inteiramente arrasada e dela só restavam os postes. O mais grave, porém, era a falta, em certos sítios, de um bordo alto (tricanis). As enxárcias do mastro grande já não o seguravam; era preciso consolidá-lo antes do mais, custasse o que custasse. Em cima, a verga da quadrangular batia perigosamente e recusava-se a ser amainada, mesmo puxando a relinga (cordame de amarração) que restava da vela. Cabos de aço e roldanas agitavamse perigosamente. Peter teve que subir ao mastro para libertar a verga - o que não devia ser fácil com um mar daqueles. Enfim, era preciso bombear, bombear. O barco não metia água. E os reservatórios de água doce tinham ficado intactos. No dia seguinte, com vento mais fraco e o mar sempre agitado, foi necessário um aparelho de improviso. Sandefjord, semelhante a um destroço, conseguiu atingir a rota dos vapores e depois a terra. Aí, Tambs soube que a regata não se realizaria, pois era o único inscrito! ***** Mais recentemente, em 1957, o belíssimo ketch, também de 14 metros, Tzu-Hang, levando o general Miles Smeeton, a mulher e Guzzwell, de quem falaremos, que pretendia ir directamente da Nova Caledónia ao cabo Horn (a rota dos Clippers que Chichester tomará) também «afocinhou» como o provaram igualmente as projecções contra o tecto e as trajectórias reconstituíveis de diversos objectos. Com vento terrível, Tzu-Hang corria sem velame, rebocando, para diminuir a velocidade e manter melhor a rota, um grosso cabo de quatro cordas de 25 mm e de 100 m de comprido. Será precisamente isso que Dumas condenará: não só - dirá - não convém afrouxar como, ao contrário, é preciso acelerar, portanto, manter o pano. Para Tzu-Hang, as vagas eram enormes, gigantescas, talvez como só neste paralelo são, neste paralelo que nenhuma terra corta em volta do globo, onde formam uma ondulação constante nesse «anel dos mares» único no planeta. Encontrava-se 800 milhas a oeste da entrada do estreito de Magalhães. A mulher, robusta e muito experimentada, governava bem, perpendicularmente às vagas. (Mais uma vez Dumas dirá não: é preciso manter um quarto de inclinação de rota e veremos porquê; os Moitessier deram-se bem, no mesmo local, com esta «regra de ouro».) Apresentou-se, então, uma verdadeira muralha de água; não com grande rebentação, mas de tal modo inclinada que o yacht pareceu «mergulhar» como um trenó; depois, encontrando a vaga precedente, dir-se-ia que nela enfiou a proa. E - o que aconteceu mesmo - deu uma cambalhota. Após o que se voltou sobre si próprio, ficando de novo frente às vagas, totalmente desmastreado e sem leme; acabou por se imobilizar de través a barlavento das suas antenas flutuantes que as enxárcias retinham. Na realidade, parece que «a introdução» (os marinheiros dizem entornar, mas não com vento pela popa) da proa do barco nas costas da vaga, contrariamente à opinião atrás citada de Tambs, foi uma ilusão: a cabriola deu-se de facto, mas em virtude da velocidade orbital da onda. Com efeito, embora, à excepção do caso em que existe uma corrente, a massa de água à superfície do mar permaneça, em conjunto, imóvel, cada uma das suas moléculas, tal como explicámos no princípio desta obra, descreve uma ciclóide: um objecto flutuante (que não ofereça resistência ao vento) que se encontre na base ou na crista da vaga, é impelido para a frente, depois desce, anda para trás na cava, é levantado e impelido outra vez para a frente, etc, sendo o movimento nesta órbita contínuo. Pode-se determinar que, para uma vaga de 12 metros, com um período de 10 segundos, a velocidade nesta órbita, a «velocidade orbital», era de 7 nós para a frente na crista da vaga, para trás no sentido da base. Um yacht de 12 metros de calado acha-se, pois, em dois momentos, com uma aceleração de 7 nós na parte de cima e afrouxado em 7 nós na parte de baixo. Quando é a proa que está na cava e como, além disso, a vaga tem um forte pendor descendente, o sistema resultante produz então um forte movimento de inversão «em lebre». Um barco mais comprido suportará esforços que se contradigam, nulos no total, ou de resultante mais fraca; um barco mais curto avança, é travado, avança, é travado (o que fatiga a mastreação), mas não sofre o efeito do sistema. O problema será, portanto, não medir metade do comprimento de onda da vaga. Ou então, manter a velocidade conveniente, quer adiantada (mais de 7 nós), «libertadora», que é a teoria de Dumas quer relativamente negativa por efeito de reboques que, além disso, impedem (?), pelo seu peso, que a popa do barco se erga para «enrolar», teoria que a presente aventura parece contradizer e que Dumas vivamente reprova. Alguns meses mais tarde (sem Guzzwell, desta vez), o mesmo Tzu-Hang mostrou o outro perigo das vagas enormes, de longe o mais corrente: se, navegando com vento pela popa, se deixa - por um erro de governo, pela pouca acção, ou avaria do leme, ou ainda em virtude do vento contrário causado pela profundidade da vaga nas velas demasiado baixas ou por efeito de um salto de vento, etc. - se se deixa o barco guinar, pôr-se de través (se o movimento abranda, muitas vezes já não se consegue pará-lo) este pode muito simplesmente adernar de lado, rolar como uma barrica na ressaca, coisa que aconteceu aos melhores, como Bernicot, Voss, etc. É por isso que quando se corre com mar muito agitado não se pode, não se deve procurar sair, pois a passagem de través pode ser fatal. Vimos assim que este corre o risco de continuar a correr, vento pela popa, com mau tempo. E, no entanto... ***** E, no entanto, Vito Dumas fez deste modo a quase totalidade da sua volta ao mundo! O nome e o apelido de Vito Dumas situam-no exactamente: descende de uma família francesa emigrada para a Itália no tempo do Império. Na realidade, o antepassado não gostava muito que se falasse das suas origens: era um bispo constitucional que, tendo-se casado, mas não possuindo a classe de um Talleyrand, se viu, aquando da Concordata, numa posição bastante incómoda. Os seus descendentes imediatos tiveram algum brilho, pois um deles foi cavaleiro da coroa de Itália. Em 1910, a «glória» tinha mudado de categoria: um descendente do bispo, ilustrava-se conquistando o título de recordista do mundo de motocicleta. Mas o ramo paternal de Vito, esse não deixava de descer na escala social: emigrou para a Argentina, esperando obter aí fortuna; encontrou problemas e, por vezes, a fome. Vito nasce em Buenos Aires, a 26 de Setembro de 1900. Ainda muito pequeno, atravessa, a bordo de um vapor de excursão, um dos imensos estuários desta zona. Vendo passageiros doentes, concluiu: «Porque viajam as pessoas pelo mar se são doentes?» O que demonstrava um bom senso solidamente terreno... Isso não o impede de sonhar ser pirata, pelo menos corsário, de procurar um antepassado francês do lado de Jean Bart ou Ouguay-Trovin. Mas, na miséria da família, ei-lo muito mais prosaicamente, mesmo tragicamente, lavador de tectos, comissionista, polidor de cobre. Todavia, a chama do ideal não estava morta: à noite, estuda escultura e desenho. Fala perfeitamente francês. E depois vemo-lo agricultor durante dez anos. Nada de marítimo nisto tudo, pensar-se-á; mas sim! Desde 1922 que se treina com todo o empenho na natação; em 1928 tenta a travessia a nado do rio de La Plata, 25 horas de esforços na água, anormalmente fria. É então que uma travessia para a França, aquando da Exposição Colonial de 1931 lhe devolve brutalmente - passados já os 30 anos - a paixão do mar. Os seus negócios correm melhor, a mudança é favorável, compra em Arcano o Oitave, um antigo 8 metros J. I. com quase 20 anos, aparelhado em Yale aurido, que baptiza de Lego e que prepara e revê em menos de um mês. Em vez de tomar o paquete, regressará nele, como o tinha feito o seu amigo Ai Andem. Um «8 metros J. I.» não é um barco de 8 metros de comprido; o número 8 é aqui o que se chama um ratinho, o quociente de uma divisão, e não representa qualquer dos dados lineares do barco (nem sequer o calado, contrariamente a um erro bastante expandido). Oitave, tornado Lego, media 12,50 m de comprido por 2,20 m de largo. Mas, atenção (os marinheiros são decididamente incompreensíveis!) desses 12,50 m, uma boa parte era, se assim se pode dizer, para inglês ver: o yacht comportava prolongamentos muito grandes, isto é, uma proa e uma popa que «se estendiam» por cima da água, o que, na época (a moda passou), se julgava favorável para a velocidade em regata, mas de modo algum recomendado para navegar em mares agitados. Vito Dumas, porém, não tinha medo... O velame, enorme, não estava melhor adaptado, tanto pela sua superfície exagerada, pela sua fragilidade, pelo seu pejamento, como pela sua dificuldade de manobra para um solitário. Acrescentemos que este género de barcos, rápidos, muito afilados, estreitos, de quilha fortemente lastrada, «mergulha» terrivelmente no mar e é um tanto «pesado», isto é, inclinado a deitar-se com as brisas ligeiras e a reagir com arremessos brutais. Era com este «grande brinquedo» que Dumas queria vencer o Atlântico. O mais duro desta travessia não era a grande etapa central; era a primeira: o golfo da Gasconha, regra geral muito mau, cheio de mares agitados e de rajadas. Era preciso «pôr a nado», isto é, remontar a barlavento para sair dele; veja-se numa carta onde fica Arcachon: no fundo do buraco, ou quase. O cabo Villano (Finisterra) que é necessário dobrar até 360 milhas a barlavento. Enfim, Vito Dumas escolheu para isto... Dezembro. Apresentou-se, durante nove dias seguidos, à entrada, estreita, da bacia de Arcachon para tentar sair; o mar rebentava na barra, era impossível. Só a 12 de Dezembro de 1931, após ter julgado dever renunciar de novo e o cabo de reboque se ter partido, o conseguiu finalmente, graças ao piloto Langa. Dumas mostrou uma alegria exuberante. Saída a barra, encontrou mau tempo, mas sem excesso, e «desgolfou» (a existência da palavra diz bem da dificuldade da manobra) sem grande dificuldade. TOCOU Vigo, as Canárias, Rio Grande do Sul, Montevideu e Buenos Aires. Em todas estas escalas, mesmo nas primeiras, teve um acolhimento entusiástico. É verdade que, depois de Gerbault (1923), várias passagens se tinham efectuado por aquela rota: o alemão Gunter Plúschow em 1927, da Alemanha à Baía; em 1828, Romer (mas isto é outra história, que já vimos); Tambs e a sua pequena família com Teddy; o norueguês Al Hansen (que por isso se tornou amigo de Vito Dumas) com MaryJatie; os irmãos Walter; Sidney Howard e Johnston, ingleses. Mas não se contava nenhum hispânico ligando as terras espanholas dos dois lados do «pântano» (o casal Blanco vinha dos Estados Unidos e passara, aliás, no ano anterior, com recepção igualmente triunfal em Barcelona). Vito Dumas era mesmo o primeiro solitário de país latino a fazer tão grande travessia (o italiano coxo Teresio Fava havia-se perdido perto da Terra Nova, em 1928). Em Montevideu, em Buenos Aires, foi o delírio; Vito Dumas foi sagrado herói nacional (1). (1) Lehg foi oferecido por Dumas ao museu da cidade de Lujan. O navegador não tomou a coisa ao trágico, antes a sério; devia, pensava, ser um exemplo para a juventude. Porém, as necessidades da vida existem mesmo. Dumas volta à sua exploração agrícola; ocupa-se dela sem enjoo, mas sem perder o pensamento do largo, partilhado entre o gosto da terra que acabou por adquirir, a vida agradável que nela soube organizar, a pintura e a escultura onde começa a mostrar algum talento, enfim, o apelo do mar e do que pensa ser o seu dever. Nos dias de chuva, pega nas suas cartas marítimas. Que cartas marítimas? Os três roteiros sul: Atlântico Sul, Oceano Indico «aberto», Pacífico Sul. Nestes roteiros, está escrito em espanhol, entre o Cabo, a Tasmânia e Horn, palavras que o fazem sonhar: «ruta impossible». «Rota impossível». Como o possível tinha sido feito por Slocum, Voss, Drake, Pidgeon, Gerbault, Robinson, Miles, depois por Bernicot, com todas as variantes possíveis... resta fazer o impossível: a volta ao mundo directamente de cabo em cabo pelos «cuaranta bramadores», os «roaring fortis», os «rugidores quadragésimos graus», essa zona ao sul do paralelo 40 onde reinam perpétuas rajadas, em geral do sector oeste e onde o mar, disposto em anel em volta do continente polar austral, por não ser quebrado por qualquer terra, se faz enorme em poucos minutos com vagas gigantescas e constantes. Os grandes veleiros tomavam esta rota. Mas, até então, só dois pequenos barcos se tinham arriscado: Pandora, em 1910, numa parte do caminho (a etapa da Nova Zelândia à Argentina, incluindo a passagem do cabo Horn), com dois capitães, um inglês outro australiano, que acabaram por vencer esta tirada, mas se perderam depois no Atlântico; a outra travessia, essa completamente conseguida, foi a de Saiorse, realizada em 1923-1925 por quatro homens - e que homens: Connor 0'Brien não era um fraco. A rota feita foi aproximadamente a mesma que a de Vito Dumas mais tarde, com a importante diferença de escalas suplementares em Durban e em Melbourne. Mas quatro homens não são um solitário. Uma noite (e, provavelmente, sem conhecer a travessia anterior), Vito Dumas tomou a sua decisão: daria a volta ao mundo pelo anel austral, rumo a leste; pela «Rota Impossível». Com que barco? Sem grandes meios, mandou construir Lehg II, uma das mais belas unidades que se possam conceber: um ketch bermudiano de popa norueguesa de 9,555 m de fora a fora, 3,30 m de largura no maior vau, 1,75 m de calado, quilha de ferro fundido de 3,51. Camarote de convés clássico, muito baixo, indo do mastro grande ao da mezena e dando em duas câmaras muito bem mobiladas a altura debaixo dos vaus (Dumas mede 1,725 m). Cockpft muito pequeno, em forma de trapézio. Os mastros marconi são muito curtos e o mastro grande não tem mais de 9 m acima da ponte; Dumas é fiel. Esse mastro grande é o de Titave, feito em 1913. Já não é novo, mas está em perfeito estado. O velame, muito dividido (vela de giba amarrada na extremidade de um botaló de 2,50 m de saliência, com rede) tem as seguintes medidas: mezena 7,15 m2; quadrangular, 20 m2; traquete, 7,50 m2; vela de giba, 7,60 m2. Portanto, no total, 42,25 m2 (que os não marinheiros nos perdoem estas precisões importantes para os yachtmen). De 1934 a 1937 ou 1938 Dumas fez excursões de importância média com o seu barco e pôde verificar as suas maravilhosas qualidades. Em 1937, ao regressar do Rio de Janeiro, sofreu uma rajada de «pampero», soprando a 140 km/h., uma rajada que causou numerosos naufrágios. Dumas ia de capa, com a âncora flutuante, quando o minúsculo velame que conservara se rasgou. Lehg II adernou, quilha para o ar. Prisioneiro na sua cabina hermeticamente fechada, Dumas resignara-se já à ideia de naufragar naquele ataúde. Mas Lehg II endireitou-se absolutamente intacto, sem ter metido uma gota de água e perdendo apenas o youyou. Vito Dumas tinha orgulho no seu barco, mas... os produtos agrícolas vendiam-se menos bem, depois mal, depois muito mal. Precisava de vender o barco, caso contrário seria a falência. Apareceu um comprador. Tristemente, muito tristemente - quem quer que tenha vendido o seu barco sem esperança de substituição compreendê-lo-á - Dumas regressou à sua quinta, provisoriamente salva. E aí - traço de carácter que o define bem - suportou a infelicidade com coragem. A uma dama que lhe dizia «Deve ser belo estar sozinho no mar», ele respondia: «O ser humano nasce em sociedade e a ela deve voltar.» Sem dúvida que dizia isto para tentar convencer-se. Mas o apelo do mar, o sentido do papel que devia desempenhar, eram demasiado poderosos. Um dia, em 1942 (tinha 41 anos feitos, mas estava extremamente robusto, mesmo maciço), em plena guerra, pegou no seu velho carro e, sem prevenir ninguém, abandonando o cavalo, o cão, as árvores sem sequer lhes dizer adeus, levando no seu saco de marinheiro os restos ridículos e desgarrados das antigas travessias, deixando a «realidade» atrás de si, na poeira levantada pelo automóvel, partiu para o sonho o mais inconsistente dos sonhos: dar a volta ao mundo pela «Rota Impossível» sem rendimentos, sem barco e sem dinheiro para comprar um (1). (1) Veja o relato completo destes preparativos e da volta ao mundo na obra de Vito Dumas, Seul par les mers Impossibles, que traduzi com J. Antionetti (Edições Bonne). Um? Oh, não um qualquer. O único: Lehg II que nem sequer sabia se ainda existia ou onde estava, a quem pertencia. Encontrou-o, em estado bastante medíocre, nas mãos do primeiro comprador. Inconsciente, Dumas voltou a comprá-lo. Pagá-lo-ia... um pouco mais tarde. Com quê? Não tinha nem economias nem capital negociável. Um capital? Mas sim, tinha um: os seus amigos. O Yacht Club argentino encarregou-se das reparações. Um clube de ginástica e de esgrima pagou o velame em pano de extrema robustez, cosido à mão, e acrescentou-lhe uma vela grande e uma imensa giba de balão para os dias de brisa ligeira (que praticamente não serviu!). Restava pagar... o próprio barco. Dumas pegou de novo no carro, atrelou-lhe um estábulo e passeou as suas vacas de mercado em mercado, sem êxito. Então, o seu velho amigo Arnoldo Bruzzi, o mesmo que outrora lhe secara as lágrimas após a venda do barco, passou um dia por casa dele e levou-o a bordo; tudo estava resolvido. Feliz Argentina, onde ainda existem fadas. Outros amigos pagaram os reservatórios de água para 400 litros, de petróleo (iluminação e cozinha) para 100 litros; outros ainda compraram os víveres, desencantaram as mil e uma pequenas coisas indispensáveis que a guerra tornava já raras, no total víveres e sobresselentes para um ano. Assim, para dar a volta ao mundo, Vito Dumas, do seu bolso, pagou apenas as bolachas (neste país do trigo!), um roupão e meias. E, no momento de aparelhar, Bruzzi meteu-lhe no bolso 10 libras... pois preparava-se para partir com 10 pesos! Claro que não faltaram pessoas - quem as poderá censurar? - para tentar dissuadi-lo da empresa. Contaram-lhe a história de Ho-Ho, barco da mesma envergadura que o Lehg II que os seus donos noruegueses, os Bryhn, haviam tentado que fizesse, pouco tempo antes, pela mesma «Rota Impossível», com três homens a bordo, a volta ao mundo sem escala. A travessia teve por ponto de partida a América do Sul (sem dúvida Buenos Aires). Aí se acumularam víveres para um ano e sobresselentes impressionantes: 17 velas, todo um molho de antenas (peças de madeira), etc. A rota escolhida era a mais curta, o paralelo mais ao sul possível, no limite dos gelos. Partidos, portanto, da América do Sul e tendo atingido essa latitude, tinham rumado a leste, numa sucessão de tempestades de ocidente. Ao sul do cabo da Boa Esperança, sem velame, Ho-Ho havia adernado (pelo través, desta vez) e dado uma volta completa (1). Os três homens estavam, felizmente, na cabina. Um deles, porém, ficou ferido, sofreu uma grave fractura; o barco meteu água - gelada - num terço e ficou tudo encharcado. O mastro aguentara-se bem, mas as avarias eram tais que se tornava necessário procurar atingir terra. O que, infelizmente, era coisa impossível, dado que a tempestade empurrava sem apelo para leste. Tinham, pois, continuado ao frio, ao vento, à humidade constante. Ap6s mais de cento e tal dias de mar, achando-se então ao sul da Austrália, tiveram que abandonar o projecto de volta ao mundo sem escala, embora já houvessem cumprido metade dela. Com efeito só lhes restava uma vela sobresselente (apesar das 17 transportadas); a carangueja partida foi consertada em dois sítios; e tudo o resto mais ou menos na mesma. Para reaparelharem, querenarem e repousarem, haviam feito escala numa pequena ilha da Nova Zelândia... onde uma rajada lhes surpreendeu o navio no ancoradouro e o encalhou. Todo arruinado, parecia irrecuperável. Mas os homens não tinham perdido a coragem. Haviam lutado durante nove meses e, servindo-se da madeira da região, com os instrumentos de bordo, repararam o barco e terminaram a viagem, remontando todo o Pacífico contra os alísios - outra proeza —, fazendo escala em Tahiti, onde o proprietário se casou e teve uma filha, depois do que regressou ao seu país, pelo Panamá. «Eis - diziam a Vito Dumas - o que aconteceu a três homens robustos. Veja o que o espera: não se meta nessa loucura.» Claro que Vito Dumas não atrasou nem um segundo a hora da partida. Esta tem lugar a 27 de Dezembro de 1942, isto é, em pleno Inverno; contudo, uma rajada de «pampero» retém o navegador em Buedo (Montevideu) até ao primeiro de Julho. Aparelhou para a verdadeira partida, com vento de força 8 (rajada, 55 a 65 km/h), mas impelindo (de sudoeste) para o Cabo. A travessia de 4000 milhas até à África anunciava-se tal como foi: 45 dias de tempestade em 55, no Inverno austral. Após 40 horas ao leme, Vito Dumas amaina a quadrangular para repousar. Mas para seu grande pasmo, descobre água no cavername. Todavia, o casco estava perfeitamente estanque à partida. Dumas quer ter a certeza do que se passa e desloca umas 500 garrafas e outros recipientes de vidro, arrumados debaixo do parquete, depois as caixas de bolacha que enchem a cabina. Fere-se no braço direito, em vários sítios, mas não faz caso. Descobre, enfim, o culpado: um bordo «rebentado» na linha de água. Repara-o com uma tala de madeira pregada sobre cerusa. Pode então dormir, navegando com o traquete (giba mais próxima do mastro) e a mezena; o barco, deste modo perfeitamente equilibrado, mantinha a rota sozinho. Mas, na manhã de 5 de Julho, Dumas sente-se doente; os ferimentos do seu braço direito infectaram. Ora, não deve ser nada de importante! O vento continua com a mesma violência, o mar com a mesma dureza. No dia 16, o braço está inchado. Na meridiana, o «ponto» do sul (mau grado horizontes detestáveis, Dumas tirou sempre pontos excelentes, com meridianas, nascer-do-Sol, nascer-da-Lua), Dumas verifica que está 480 milhas a leste de Montevideu - belo andamento. A zona das terríveis «roaring forties» aproxima-se. A 8 de Julho de manhã, o vento é outra vez de força 8. O orifício por onde a água penetrou a princípio, volta a abrir-se. O braço direito de Vito fá-lo sofrer, porém, tão cruelmente e o barco balança de tal maneira que não pode fazer qualquer reparação decente. A febre aumenta. Dumas dá a si próprio uma injecção antipiogénica. A 10 de Julho, um pote de 5 kg de mel cai - o barco continua agitado - e parte-se; o mel corre pelos fundos. Dumas, esgotado pela dor, não pode fazer mais do que observar o desastre. Quer dar-se uma segunda injecção. Num solavanco, a seringa escapa-se-lhe, rola pelo mel, desaparece nele. Divertido? Oh, não. Sofrendo terrivelmente, Dumas baixa-se, mergulha a mão válida na pasta viscosa, encontra a seringa. É preciso limpá-la com uma só mão, enfiar o desentupidor no buraco que mal se vê, enquanto o barco oscila brutalmente. Cerrando os dentes, consegue dar a injecção no braço, todo inflamado. No dia 11, recomeça; tem mais de 40° de febre - outros «roaring forties» - o braço está enorme e o mar não abranda. Dumas examina o braço: de vermelho passa a verde, já cheira mal. Vai ter que o amputar. Auto-amputação em plenos «quadragésimos rugidores»? Dumas não recua perante a ideia, antes reflecte no modo de a executar. Mas... não haveria mais nada atentar primeiro? Bem procurou, bem tacteou o braço - embora o menor contacto lhe arrancasse gritos - sem, todavia, descobrir o ponto de infecção. É preciso cortar. Prepara um garrote; conseguirá serrá-lo? A cabeça anda-lhe à roda. Vai desmaiar. Reza a Santa Teresa (Dumas é muito pio). E perde os sentidos. Volta a si, na cama. É meio-dia. O barco anda. A cama está molhada. Vaga? O braço... o braço já não o sente. Mas a mão mexe, o cotovelo dobra-se. Dumas tira o penso; surge um buraco de oito centímetros de diâmetro. O membro já não está inchado: o que molhou a cama foi o pus. Dumas sente essa espécie de alegria orgânica que não engana; a infecção passara. Deu-se uma quarta injecção e voltou a estender-se. O barco tinha-se desembaraçado sozinho até então, continuaria bem ainda por mais um dia. Livre da dor, Dumas dormiu um pouco. Acordou com o silêncio (não riam; todos os marinheiros conhecem isto). O vento abrandou, virou ao sul, o mar amansou. O Sol nasce. Dumas faz o penso, arruma tudo a bordo - salvo o mel, que acabará por se dissolver na água do sumidoiro - tapa convenientemente o orifício por onde penetra a água, ajusta o velame e retoma o leme. O bom tempo será de curta duração, as rajadas sucedem-se. Mas Dumas recobra forças e sabe que naquela região deve contar com 24 dias de tempestade por mês; admitira esse dado à partida, tinha que o aceitar pelo caminho. Algumas destas rajadas, porém - força 8 a 10 (80 km/h.)- são de leste, contrariamente a toda a previsão. Não adianta tentar, é impossível ganhar caminho contra elas. Na verdade, actuam sem parança, é necessário manobrar, mudar de rumo, procurar fazer, apesar de tudo, um cálculo correcto. Felizmente que, a quase todas as velocidades, o barco governa sozinho. Ei-lo na região onde naufragou Kobenhavn. Nunca se chegou a saber como se perdeu. Iceberg? Estes não são de temer, em princípio, durante o Inverno austral; e foi por isso que, mau grado o inconveniente do frio, Vito Dumas escolheu esta estação, que espera encontrar também, com o mesmo benefício, no cabo Horn. Por vezes, no entanto, vêem-se icebergs. É preciso estar alerta. A 20 de Julho, o vento ultrapassa 140 km/h., força 12, furacão. Lehg II, cujo aparelho é de extraordinária robustez, suporta-o, todavia, com traquete e mezena. O mar passa-lhe por cima; as vagas segundo Dumas, atingiram 16 metros. Dumas não se põe de capa, continua a correr; e, mais feliz do que Tambs, nada lhe acontece. Explicar-nos-á, um pouco mais tarde, a sua teoria. Não podia pensar em cozinhar ou dormir noutro local que não fosse o parquete. Mas Lehg II cobre 170 milhas por dia. A 26 de Julho, está a 1320 milhas de Montevideu. Novo conserto do orifício por onde penetra a água, porque os pregos, mal galvanizados (é a guerra), enferrujaram. A 7 de Agosto, um cúmulo anuncia a ilha Tristão da Cunha, a 200 milhas; contudo, Dumas não pode aproveitar da circunstância para repousar, pois a ilha não tem porto. O braço não vai mal, mas também não vai de todo bem; não cicatriza, continua a doer e inutilizável, o que não simplifica a manobra. Felizmente que o traquete é sólido; permanecerá no seu posto desde o princípio até ao fim e todo o velame chegará Intacto à Argentina! Surge uma nova preocupação que parecerá injustificável, ridícula aos profanos: existem baratas a bordo. Cuidado com os víveres! Mas que fazer? O importante é velar pela rota, não correr o risco de passar ao sul do cabo da Boa Esperança sem o ver. O vento fixa-se a sul, travessão, o que é muito agradável. A 13 de Agosto, Dumas passa o meridiano de Greenwich. Durante o sono, ouve uma sirene; salta para a ponte e vê um navio cinzento-escuro, a alguns cabos. Pede-lhe a sua posição. Não obtém resposta. Ouve falar de «pirating». Gritam-lhe por fim: «Não há informações; tempo de guerra.» É verdade, tempo de guerra; complicação suplementar e muito esquecida! Dumas é, entretanto, reconhecido pelo capitão do vapor que, sem dizer sim ou não, lhe dá a entender que o seu ponto está correcto, que a sua rota é boa «se o vento quiser». Eis um pouco de bom tempo; é anormal... que se irá passar? De novo o vento leste, contrariamente a toda a regra, vento pela proa! Tanto pior; bordejar-se-á. Dumas aceita a situação como aceita despejar balde de água sobre balde de água com o braço esquerdo. Apesar do mau tempo, iça tudo, sendo a quadrangular simplesmente substituída pela vela grande. Dorme das 2 da manhã até ao nascer do dia (tarde, é verdade), amainando apenas esta vela, o que proporciona capa seguida, um andamento mais vagaroso, quase atravessado ao vento. A 20 de Agosto, com a tempestade a aumentar de violência, a mezena começa a descoser-se; um aguaceiro abate Lehg II, de tal modo que o catavento metálico do mastro grande é arrebatado pelo mar. Mais de 210 milhas. Um pouco de relativo bom tempo. Dumas entoa a plenos pulmões a Ave Marta. Eis dois navios que fazem a mesma rota. Dumas faz-lhes sinais ópticos; mas, tomando-o, sem dúvida, por um submarino, os navios fogem. A 24, ao despertar, o vento passa brutalmente para sudoeste. Um navio, uma milha a barlavento, faz-lhe sinais. É um barco de guerra, que se aproxima, interroga, insiste: - Porque vai ao Cabo? - Depois de 400 milhas sozinho, tenho talvez direito a repousar, não? Sorrisos. Um marinheiro fala espanhol; as primeiras palavras desde há 55 dias! Um submarino passa perto do Lehg II. Separam-se. Às 16 horas, surge uma sombra a nordeste: a montanha da Mesa. Terra! Vitória! O mar está agitado, mas o vento é favorável. Aviso. Perguntas. Saudações: Dumas já foi assinalado. Piloto, que recusa por falta de dinheiro (não vai gastar para nada metade das suas 10 libras!), injúrias. Às 22 horas, ancoragem. O traquete é amainado após 55 dias... e que dias (pensa-se em Gerbault, que partia adriça sobre adriça, rasgava velas sobre velas). Capitão do porto, alfândega, polícia. Sem piedade... bebem, bebem. Vito Dumas, morto de sono, só consegue adormecer às 3 da manhã. A colónia do Cabo reserva a Vito Dumas a maravilhosa recepção habitual. Dumas sente-se, além disso, prestes a apaixonar-se. Porquê voltar a partir? Vamos! Vamos! Compra cartas (por simples prudência, pois só se servirá dos seus roteiros); um amigo paga os víveres. A 14 de Setembro de 1942, no princípio da Primavera austral, aparelha. Mas, imobilizado diante do farol de Slang Kop. só passa o cabo da Boa Esperança no dia 16, às 10 horas. E começa a segunda etapa, ainda infinitamente mais extraordinária que a primeira: a travessia directa do Cabo à Nova Zelândia, pela «Rota Impossível» do Oceano Indico, travessia que nunca nenhum pequeno barco fez antes dele (Saiorse tinha primeiro remontado até Durban e passado depois entre a Tasmânia e a Austrália) além de Ho-Ho... que a pagou caro! Vito Dumas passa Rockey Bank com iodo o pano, à velocidade máxima. O vento e o mar são de ta! violência que dois barcos patrulhas, saídos de False Bay, dão meia volta. De noite, o vento abranda, mas o cabo das Agulhas é vencido. Eis uma rajada do sul. Impossível dormir; a terra para onde impele está demasiado perto. Enfim, no dia 17, às 15 horas, quando já não repousava desde o dia 14, amaina a quadrangular e dorme. Dorme e tem um pesadelo. Está, de facto, na zona frequentada pelo célebre barco fantasma, o Flylng Dutchman, mensageiro da infelicidade. Enquanto governa, Vito Dumas lembra-se de que já lhe aconteceu uma história bem estranha. Foi durante a sua travessia do Atlântico. Tendo largado de Arcachon havia dois dias, encontrava-se em frente de Balboa. Era noite. Estava ao leme. De súbito, no interior do seu Lehg, ouviu um ruído de vozes. Duas pessoas discutiam em frases breves e abafadas. Impossível, disse consigo Vito; não tinha abandonado o barco antes da partida, durante 24 horas. A menos que esses clandestinos se tivessem fechado na cabina, a proa, onde nunca ia... «Ouve - dizia uma das vozes com forte sotaque espanhol - vou procurar de comer. - Cala-te! - respondia a outra voz com sotaque francês. - Ainda te vão ouvir! Depois calaram-se. Vito, com o mau tempo, não podia abandonar o leme. Um pouco mais tarde, ouviu por várias vezes uma das vozes pedir cigarros; ou, então, ruídos ligeiros. «A porta da cabina, pensou Dumas, deve estar aberta para o compartimento da proa senão, a nove metros de distância, com dois tabiques de permeio, não ouviria nada.» Durante 24 horas não pôde abandonar o leme. O barco balançava terrivelmente; Dumas disse consigo: «No cockpit já não estou muito bem; como não estarão os dois clandestinos na cabina! Coitados!» Que grande bondade! Levando esta bondade até ao fim, Dumas decidiu perdoar, desembarcar os dois fugitivos num porto. Mas a tempestade durou três dias e três noites, o barco metia água e Dumas apenas pôde bombear, recolher os víveres e voltar ao leme; não tinha tempo para ir à proa. Enfim, o bom tempo voltou, o cabo Ortegal foi dobrado e Dumas, que já estava ao largo de El Ferrol, gritou aos clandestinos para saírem. Não obteve resposta. Insistiu. Nada! Então, armado de um croque, foi à cabina e procurou, revolveu tudo por toda a parte. Ninguém; não havia ninguém! Teriam fugido a nado, de noite? Ou nunca teriam existido? «No mar, tudo é possível - concluiu Dumas. - Quem sabe o que há para além da vida?» Agora, as paragens onde a sua carta (exactamente!) assinala o Flying Dutchman estão vencidas. Eis, porém, uma surpresa mais real e quase não menos grave que uma aparição: água no porão. Não é possível! A querena, à partida, era estanque como um ovo e não se cansou. Desastre! É água doce. O reservatório de 200 litros esvaziou-se. Restam, para a imensa travessia, 160 litros de água noutros recipientes. Mal faz esta trágica observação, Dumas regressa ao leme; a meia milha, aproximam-se três enormes trombas de quase 100 metros de diâmetro. Passam adiante... Dumas nem sequer pensa em renunciar, em deixar-se levar para Durban, donde, todavia, não está longe. Dominar-se-á. Quer andar o mais possível, atingir o mais cedo que puder a zona mais calma (julga ele...) do outro lado da linha Amsterdão-Kerguelen. Lehg II faz 120 a 150 milhas por dia, com todo o pano. Por vezes, as vagas inundam-no; tanto pior. Na cabina, a temperatura é de 15 graus; mas, no exterior, é preciso um boné de orelhas. O oleado começa a esfolar (uma fotografia tirada em Valparaiso mostra-o literalmente em farrapos). Dumas alimenta-se quase unicamente de chocolate líquido ou sólido, de chocos com muita manteiga, de tâmaras e de vitaminas A e C. A «jantarada» que prepara para os seus 42 anos é constituída por... chocolate, sopa de legumes e, depois, champanhe. Na carta, ao norte, encontra-se Madagáscar; a nor-nordeste a Reunião, a ilha Maurícia. Que paraísos tentadores! Não. Dumas jurou seguir a «Rota Impossível» contra a corrente, que dá um mar terrível e com rajadas; aí permanece. Nem a falta de água doce o demove. Dumas já só toca no leme para o regular quando o vento muda de rumo: Lehg II navega sozinho a qualquer velocidade. Quanto ao velame, Dumas também não lhe toca; mantém-no sempre todo içado, seja qual for a força do vento. Conhece-se o ditado: Se queres ser um velho marinheiro arredonda as pontas e saúda os aguaceiros. Saudá-los, isto é, ao vê-los aproximar-se, amainar as velas altas (ou diminuir o pano por rizes ou voltas de rolete, o que o abaixa igualmente) como se faz com um pavilhão para saudar. Dumas não saúda nada. Quando o vento se torna mais forte, mantendo todo o seu pano, faz uma espécie de planning sobre a vaga, ultrapassando, por momentos, 15 nós. «A princípio - diz ele - é impressionante; depois a gente habitua-se. Andando tão depressa como a onda, esta deixa de ser perigosa.» Os teóricos exclamarão: é absurdo! As vagas andam muito mais depressa do que isso, têm normalmente uma velocidade da ordem dos 30 nós. Ninguém, à excepção de alguns navios de guerra, pode andar mais depressa do que elas, ainda menos com rajada, altura em que ultrapassam os 40 nós. Esta teoria é de todo exacta. Mas fala da velocidade de propagação da onda, que é a vaga. Não fala do seu rebentamento, que, esse - basta olhar para se ver —, «rebaixa-se», recua relativamente à onda. Quando a vaga se forma, a sua crista vai, sem dúvida, à mesma velocidade que ela; todavia, esta crista destaca-se, precisamente porque trava; as massas de água libertam-se, à frente relativamente a um ponto fixo, mas atrás relativamente à onda. É por isso que não são mortíferas (graças a deus) como os vagalhões que se quebram na costa, os quais carregam, cavados, desequilibrados para a frente pela ressaca da onda anterior. Assim, o rebentamento pode ser evitado pelo veleiro ou, pelo menos, reduzido a uma velocidade relativa tão fraca que é inofensivo, tanto mais que a popa do barco produz um redemoinho, mesmo uma ressaca, que rejeita esse rebentamento para a ré. Além disso, o efeito orbital de que já falámos não actua. Sem conhecerem a teoria, os grandes práticos tinham-no compreendido. Escutem o célebre piloto Bohlin, de Gloucester: «Com mar pela popa e uma rajada como esta (Atlantic Race de 1905), as vagas aliviam-nos a ré; e depois? «Deslizamos para longe delas», escapámos-lhes. Elas tentam subir a bordo, encapar-nos (envolver-nos); o barco, porém, não consente, foge-lhes no momento em que elas julgam dominá-lo. É por isso que mantenho todo este pano; a nossa quadrangular tira-nos de debaixo das vagas... Diz-se que carregar muito pano com mau tempo é uma loucura; talvez seja, na verdade, do modo como alguns o fazem; mas, por vezes, ó igualmente estúpido não içar o bastante. Têm-se perdido barcos precisamente por o terem reduzido demais, à velocidade que aqui levamos.» É esta também a opinião de Dumas, que a apoia com o argumento mais irresistível; o êxito. Dará, assim, a volta ao mundo, no meio dos piores furacões (ninguém pode fugir aos furacões nestas regiões), sem uma avaria, sem rasgar uma só vela! E, bem entendido, a uma velocidade média que não deixa qualquer dúvida sobre a realidade - e a eficácia - desta manobra. A vela grande? A âncora flutuante? Muito obrigado, diz ele; experimentou e o resultado foi o capsize (2) de 1937. Com a condição de ter água para andar (e aqui não falta!) e vento pela popa é o melhor! Ou, mais exactamente, um quarto pela popa, o que, entre outras van-tagens, permite ao leme estar sempre firme. (2) O acto de um navio se voltar de cima para baixo. - (N. do T.) Damos ao leitor os elementos da controvérsia: por um lado, a teoria de Voss, ilustrada por inúmeros exemplos, dos quais o de Sandefjord (um dos raros em que não se pode reclamar o efeito de uma guinada); por outro, a de Vito Dumas, apoiada por um dos maiores sklppers de regata oceânica - que ele demonstrava também na prática, pode-se bem dizer, pois, com um palhabote de 92 toneladas, atravessou assim o Atlântico em 13 dias, 9 horas e 43 minutos... O que se pode concluir é que a velocidade de fuga continua a ser muito arriscada, e exige do barco ou do sklpper qualidades especiais e uma perfeita preparação. Claro que não tomaremos a responsabilidade de aconselhar a quem quer que seja imitar Dumas... mais do que Tambs e Smeeton. No primeiro de Outubro, Dumas está perto das ilhas Crozet. A 3, o vento abranda, enfim, um pouco. Festa: puré de batata e arroz a indiana (que pensarão os médicos deste regime - chocolate, arroz, bolacha e quase imobilidade para a prisão de ventre?) Dez dias de «Pot-au-noir», como ele diz (horses latitudes) o que é uma maneira de falar, pois o Equador não fica precisamente ao lado; a Reunião está já 780 milhas ao norte. Mas a ilusão existe: as douradas, peixes das águas quentes, substituem em parte os albatrozes, aves do frio. A 24 de Outubro, com um horrível tempo chuvoso, deixa a ilha de Amsterdão. O oceano é assustador e majestático, ao mesmo tempo: vagas de 15 metros, ciclone sobre ciclone, um frio de novo terrível. Um pequeno pormenor de navegação que o irrita: a declinação é aqui enorme e a agulha magnética, em vez de marcar o norte, indica 35° leste. É aborrecido, julga-se que se comete um erro. Dumas sente o cansaço; por momentos, entrega-se a reflexões tristes, única consolação: a fidelidade de um pombo do Cabo, que alimenta e a quem salva dos albatrozes. Domestica uma mosca, mas uma tempestade rouba-lha. A água vai desaparecendo. A 9 de Novembro, tem apenas 50 litros. Após 56 dias de mar, Dumas barbeia-se pela primeira vez. Bem equilibrado, o barco mantém a rota, de través ao vento norte. Dumas lê Slocum, Voss, Pidgeon. Tem, contudo, um pouco de febre. O pior é se os abcessos recomeçam! De novo ciclones. Sempre ciclones é o pão de cada dia. A 13 de Novembro, está apenas a 130 milhas (nunca comete um erro de cálculo ou de observação) da costa sul da Austrália. Mas decidiu atingir de uma só etapa a Nova Zelândia. (Este teimoso deve ter, como deixava supor em criança, antepassados bretões...) No meridiano do cabo Leeuwin, o vento, contrariamente ao habitual, abranda, torna-se calmo. A giba de balão, pela primeira vez içada, nem sequer se enche. A calma dura dez dias. Calma ao sul de Leeuwin! Uma calma de morte. Dumas conhece a sede. Observa em si próprio os sintomas do escorbuto. A 22 de Novembro, Lehg II passa, enfim, o meridiano antípoda de Buenos Aires. Estava dada metade da volta. Mas de repente, na calma, o céu torna-se negro. São os «willywas», precursores de furacão; este não tarda. A 24, a escota da vela de giba cede (será a única vez, além de uma amura). O barco toma uma inclinação terrível. Não importa! Dumas não amainará pano, com um vento sul que sopra de través, a mais de 100 km/h. Leme amarrado, vai trabalhar para a vante... O vento abranda. Dumas, porém, não se regozija, muito pelo contrário: navega lentamente e, dentro em breve, já não terá que beber. A 800 milhas da Tasmânia começa a beber água do mar para economizar água doce. Aguenta-se menos mal (isto dedicado a Bombard). Aurora boreal. Navios. Submarino (é verdade, a guerra continua; como esta palavra, estas coisas parecem absurdas!). Terra! É a Tasmânia. O cronómetro leva minuto e meio de avanço. Parecem ilhas. A tentação de arribar - mais do que tentação - depressa é repudiada, apesar do frio, a falta da água, o vento de sudoeste e a aproximação de um ciclone. De novo Dumas mantém todo o pano içado; mas, desta vez e por causa da sua fraqueza, já não pode manobrar as velas. O vento ultrapassa os 150 km/h. (medido em terra nesse dia); uma vaga que parece ter 18 metros de altura abate-se sobra o barco, sem nada partir. Todavia, Dumas está tão fraco que já nem se segura de pé. O sono é irresistível, o barco oscila - perigoso. Vito Dumas consegue amainar a quadrangular (intacta; como dissemos, dará toda a volta). Sem faróis de noite e no caos, continua a navegar; só o compasso é a imagem viva da razão nesta demência. O escorbuto agrava-se e a sede também. Dumas, as maxilas doridas, a língua seca, já não pode mastigar bolachas. O oleado desfaz-se em pedaços. Um anticiclone polar é seguido de novo ciclone. O mar, agitadíssimo. Mas, nas 24 horas, faz 183 milhas. Segue-se um pouco de bom tempo; o pombo do Cabo, menos perseverante que Dumas, abandona-o (após uma bela travessia também), voa em frente para atingir a costa do cabo Foulwind ou do cabo Farewel. E eis o cabo Farewel, a Nova Zelândia no meio, após 101 dias de mar. Mas o tempo é péssimo, impossível fundear. Enfim, no dia de Natal de 1942, o vento abranda; às 16 horas, Dumas apresentase diante de Port Nicholson. Corrente e vento contrários expulsam-no por seis vezes para o meio de barcos de pesca, no entanto. Ele não quer reboque; nas condições em que se encontra é um heroísmo extraordinário, uma teimosia mais prodigiosa ainda que a de Gilboy. Pois que valor teriam aquelas poucas milhas? Não! Quer acabar sozinho o que fez sozinho. Só conseguirá entrar no dia 27 de manhã. - De onde vem? - De Capetown. Julgaram-no louco. Mas a capitania do porto estava prevenida e dão-lhe um amarradoiro. Está tão fraco que leva uma hora a amainar o velame. Vai, finalmente, poder dormir. Não: «Aparelhe berram-lhe - para ir à inspecção sanitária, a 100 metros daqui!» Dumas protesta. O médico, benevolente, grita-lhe da margem: - Boa rota? - Muito boa. - Alguma doença? - Nenhuma. E foi-se embora. Dumas dorme. Depois, saboreia as refeições que lhe trazem. Por fim, «dá-se conta»: fez sozinho, sem escala, 7400 milhas em 104 dias num mar «digno do inferno», sem perder a razão. «Mas, diz ele, ninguém poderá mais impor-me outro esforço deste género, salvo deus.» Salvo deus e ele próprio, pois... leiam o que se segue. Em Wellington só tem duas libras esterlinas. Porém, eis que surge um telegrama. Um telegrama? As fadas sabem tudo e dizem: «Se precisas de dinheiro, pede.» Ele responde. «Obrigado. Stop. Sim. Stop. Imediatamente.» Os marinheiros de guerra americanos e ingleses adoptam-no, reparam o Lehg II. Uma família alberga Dumas; de cada vez que desce a escada, repetem-lhe «Atenção, são 9 degraus.» Dumas acha este «gag» de um ridículo prodigioso, antítese burlesca entre a vida de casa e aquela que viveu. E, no entanto, volta a partir a 30 de Janeiro, depois de menos de 5 semanas de escala. Oh, para uma pequena etapa: 5400 milhas. Uma coisa que não se compreende muito bem é que não tenha mandado consertar o seu reservatório de água. Leva consigo apenas 160 litros; como conta gastar entre dois meses e meio a três meses, pode ser que chegue... Mas não nos podemos impedir de murmurar: «É bonito, a fé...» O vento não o poupa: desde o primeiro dia que sopra a 80 km/h, depois ainda mais forte. A água do mar também não: uma pequena avaria de aparelhagem dá origem a água aberta. A rota é a direita, 5000 milhas sem terra, salvo a ilha Chatham, que fica perto do ponto de partida e um pouco ao sul da rota. Dumas desce à cabina. Um choque! Encalhado? Recifes, aqui? Impossível! Não, Lehg II «abriu caminho» por entre duas baleias que fogem, aflitas. Esta história, vinda de outra pessoa, seria inacreditável; de Vito Dumas, é-se obrigado a aceitar, pois ele não é nem fanfarrão nem farsista. O tempo é, apesar de tudo, menos terrível que no Atlântico e no Oceano Índico. Aqui, vê-se, «por vezes», o horizonte. Ao cair no cockpit, Dumas parte ou desloca duas costelas falsas. Pouca sorte, Na verdade, o tempo está óptimo: brisas agradáveis de sudeste, um pouco «ásperas» (demasiado perto da proa do barco) para a rota a leste; mas Lehg II remonta bem. Belas etapas de 150 milhas por dia. Assim mesmo! Dumas encontra... as suas camisas de soirée e o seu smoking (!) em excelente estado. A volta ao mundo, pelo sul, de um smoking, sem uma ruga, sem bolor! Ócios. A 4 de Março, Dumas está a meio caminho. Uma pantufa de mulher flutua no oceano imenso. Pitcairn (a ilha dos revoltados da Bounty) fica 900 milhas ao norte. Vito saúda as tempestades... com gritos de alegria, pois fazem-no avançar enquanto que o bom tempo o atrasa. Acha ele que, com bom tempo, a navegação é «para senhoras». Um modo de falar, se consultarmos o seu livro de quartos: vento força 6, força 8, força 9... Após 71 dias de mar, sem avarias, sem história, com as costelas recoladas, contentíssimo por ter podido comer tranquilo o seu chocolate (e ementas, apesar de tudo, um pouco mais variadas), por ter, enfim, içado às vezes a sua giba de balão, avista o farol da ponta Curaumillas. Valparaiso; ronda por todas as tabernas do porto. Sim, ele! Deita-se e assim, mau grado a calma da baía, continua aos bordos! Lehg II? Lehg II é querenado pela primeira vez, após 17100 milhas! Vantagem das águas frias... Faltam só «3000 milhas» para regressar. Mas que milhas! A passagem do cabo Horn. Segundo o roteiro argentino, o período menos mau para o vencer é, (mau grado o frio), o pino do Inverno austral: 1.° de Junho, 15 de Julho (o mesmo que Bardiaux escolherá). Na verdade, nesta estação, tal como no cabo da Boa Esperança, não há gelos à deriva e os ventos são, em princípio, menos violentos. Vito Dumas aparelha a 30 de Maio de 1943 e sai para o largo, para evitar a costa que, norte-sul, é perigosa durante as tempestades de leste, muito frequentes. No entanto, não a perde «de vista», já que as nuvens que sobre ela se acumulam são visíveis de muito longe. Tal como previra, encontra, nesta época, muitas calmas (a costa norte do Chile desesperava outrora os grandes veleiros). A 9 de Junho, primeira tempestade. A 14, Dumas está à altura do golfo de Penas. Os dias tornam-se muito curtos, o frio cortante. A 18, está a 180 milhas do cabo Pilar, a leste. Dumas prepara refeições de emergência e toma sulfato de benzedrina contra o sono. Engordura o oleado e as luvas; seca as botas, introduzindo nelas o farol e verifica cuidadosamente o aparelho. A costa aproxima-se. Ao sul, há gelo; a leste e a norte, o terrível «Milky Way», os recifes, o mar enorme. A 23 de Junho (quase no dia mais curto do ano), após uma rajada de norte, eis o salto para sudoeste, a 80 km/h; depois, bruscamente, a calma. A corrente leva Lehg II na sua rota, enfim leste pleno; a ondulação, imensa, para aí o conduz. A sul, o céu está branco, do reflexo dos gelos. O frio é difícil de suportar, mas não terrível: uma nova rajada de norte, a 24, é favorável. À meia-noite, o cabo Este pelo través. Sem dúvida «para comemorar» um bordo atira Dumas contra uma vigia a sotavento. Dumas sangra do nariz: tributo modesto ao terrível Horn que lhe parece muito menos assustador que o Oceano Índico. A 25, Horn está para trás, Lehg II sobe, remonta leste-nordeste, ao largo da ilha dos États. O vento abranda, passa a sudoeste precisamente pela popa. Dumas está no Atlântico. Pensa no seu amigo Al Hansen que quis passar por ali, solitário também, mas no outro sentido o que é muito pior - e conseguiu, morrendo, porém, em Chiloé, quando o mais duro havia passado. O vento salta de novo para norte. É preciso bordejar, sem qualquer visibilidade, no meio de nuvens confusas. Uma foca indica a proximidade do continente, que Dumas não verá. Quer passar entre a Patagónia e a Malvinas (ou Falcland), caso contrário será devolvido a pleno Atlântico. Neve. Está sobre o banco Burwood quando o vento salta para ocidente, a mais de 80 km/h. Enfim, Dumas avista a ilha de São José das Malvinas. Navega directamente sobre o Mar dei Plata, a 450 milhas; salvo! A 5 de Julho, o tempo clareia. Terra em frente. Como, já? As nuvens abrem-se, a terra está muito perto, a 5 milhas. O cronometro, que gelou, atrasa-se 4 minutos, ou seja, 60 milhas em longitude. Teria sido verdadeiramente ridículo encalhar depois do perigo! Por outro lado, o tempo torna-se magnífico e as praias, imensas, são agradáveis. A 7 de Julho, um ano e uma semana após a partida de Bueco (Montevideu), de manhã, eis o Mar dei Plata, a terra, os amigos. Dumas fez 3000 milhas, passou o cabo Horn, em 38 dias, dos quais 7 inteiramente ao leme. Parado, faz-se rebocar, amarra ao Yacht Club. O resto da viagem, 200 milhas, não passará, julga ele, de uma formalidade. Mas não! Tal como Slocum, bordejando com brisa quase nula e tempo brumoso, aproximou-se demasiado de terra e, em plena noite, roça por um banco de areia; uma onda veio rebentar a bordo. Dumas, desesperado, crendo-se mau marinheiro, tenta fundear devidamente. À pressa, descarrega tudo e consegue encalhar no alto da praia. Ele não corre qualquer perigo, mas Lehg II é um barco perdido. Lamentável e grotesco! Com a maré baixa, Lehg II está em seco, sobre as escoras. Que lhe irá fazer a maré alta? Felizmente que o mar não cresce. O vento, porém, continua nulo, incapaz de soprar daquela costa. Um cavaleiro, encontrado de tarde, parte com uma mensagem para um rebocador. Este chega no dia seguinte, à noitinha... e volta a partir, prometendo comparecer de novo ao outro dia. Imaginam-se os transes de Dumas. O mar continua a não crescer, mas... Nâo. Ele é bom. não pregará tão má partida ao seu prodigioso amigo. Após um dia inteiro de trabalho, dois cabos de 1000 metros (um deles em coco, flutuante, e suportando o outro) são estendidos do largo até Lehg II. A maré sobe. Lehg II esquiva-se, roça um pouco com a quilha no fundo, flutua, sai para o largo. Dumas deixa o barco nas mãos dos seus salvadores e regressa a Mar del Plata, de automóvel, muito antes deles. Aí sabe pela voz pública que Lehg II não meteu uma gota de água! Enfim, as 200 milhas foram percorridas sem problemas... bem ao largo! Montevideu e Buenos Aires reservaram a Dumas, nesse mês de Agosto de 1943, uma recepção entusiástica e bem merecida: em plena guerra, um homem sozinho tinha dado a volta ao mundo mais de 20 000 milhas em quatro etapas, pela ROTA IMPOSSÍVEL (1). Só em 1966-67, precisamente após a morte de Dumas, Chichester fará «melhor»; falaremos dele mais adiante. (1) A vida ulterior de Dumas, quer como solitário, ou como corredor de regatas ou instrutor, assinalada por muitas desilusões de toda a ordem, excede o âmbito desta obra. Morreu em 1966. J.Y. LE TOUMELIN Tem-se escrito muito, escrever-se-á muito para «explicar» Jacques Yves Le Toumelin. Um ser humano é, regra geral, difícil de definir; este pode sê-lo como uma só expressão. Antes de escrevermos essa expressão, contemos uma anedota: Jacques-Yves acabava de chegar ao Croisic. Regressava de uma notável vitória, no momento mais favorável para um grande êxito de multidão. Era a 7 de Julho. O fluxo dos turistas desaguava em cheio na costa de Amour e via nele a grande atracção. Os jornalistas, que o Verão põe à míngua de original, saltavam sobre a dádiva, enchiam as suas colunas de ditirambos. A municipalidade de Croisic via com alegria todo o barulho feito em volta da pequena cidade e o afluxo dos curiosos; um pequeno atraso, perfeitamente involuntário criava o utilíssimo suspense até à maré alta, que parece querer ser bem alta e permitirá a Kurun ir directamente ao seu amarradoiro, entre os cais e os «juncos» cheios de gente. As aclamações eram imensas. Jacques-Yves, que tinha, no mar, visto os pais e os amigos, sabia de tudo e também que as autoridades o receberiam no cais. E lá estavam. Jacques-Yves viu-os. Mas, muito tranquilamente, pôs-se a tratar de Kurun, cuidadosamente, meticulosamente, como era habitual. Isto durou muito longas dezenas de minutos. Chamavam-no e ele continuava. Não havia naquela atitude - que não era, em rigor, uma «atitude» - nem insolência nem timidez. Jacques-Yves ocupava-se apenas do que era importante: o seu barco. J.-Y. Le Toumelin não tem um barco. Ele é o seu barco. Esse barco é o prolongamento de si mesmo e a alma do barco é ele. A um almirante que o felicitava, respondeu: «Muito obrigado em nome do meu barco e no meu próprio.» Eis a expressão: J.-Y. Le Toumelin é a personificação de um barco. Solitário? Porquê? Porque todo o barco é um solitário. No entanto, dir-se-á, não o foi no princípio da travessia. Não, porque os pais lhe haviam imposto essa condição e ele, bom filho, de 29 anos, não queria desgostá-los nem afligi-los. Mas logo que pôde, abandonou o fardo de um companheiro e encontrou, então, a sua verdadeira felicidade. O êxito de J.-Y. Le Toumelin nesta travessia é extraordinário; fê-la na totalidade sem uma verdadeira avaria, sem encalhar, sem perder nem rasgar uma vela ! No regresso, Kurun (trovão, em bretão) estava tão intacto como à partida. E isso não é fruto de «sorte». Durante anos, Le Toumelin tinha preparado o seu barco e prepara-se, ele próprio, para a expedição. Nascido a 21 de Junho de 1920, de pais bretões (o capitão de longo curso Le Toumelin, seu pai, é de Sarzeau, Morbihan; a mãe, de Saint-Malo), filho, neto de marinheiros, frequentava a Naval quando os Alemães surgiram; impossível chegar à escola, em zona livre. Jacques-Yves voltou-se para a Escola de Hidrografia de Nantes, onde aprendeu «a sua teoria» em 1941. Só lhe falta embarcar para ser tenente de longo curso. Em 1942, navega um pouco, à pesca grossa, na Mauritânia, com a traineira Alfred. De 1942 a 1945, pesca no Croisic com vários veleiros, entre eles o seu Tonnerre (de concepção bastante próxima do Kurun), depois destruído pelos Alemães durante a ocupação. Em 1946, Jacques-Yves é «col bleu», embarca no transporte Etel. Em 1947-1948 constrói Kurun e treina-se com ele. Não constrói Kurun pelas suas mãos, mas não sai do estaleiro enquanto Moullec não materializa o que o arquitecto naval Dervin desenhou, segundo os dados de Jacques-Yves. Na verdade, Le Toumelin tem ideias completamente claras, tanto sobre o tipo de barco que lhe convém, como sobre a própria navegação através dos oceanos. Essas ideias são, poder-se-ia dizer, o prefeito classicismo marinheiro: antes sobre do que falte; uma mão para o bordo, outra para si e prever ao máximo. As características de Kurun são: comprimento, 10 metros; comprimento na linha de água, 8,36 m; largura no maior vau (existe!), 3,55 m; calado, 1,70 m; quilha de ferro fundido de 1900 quilos. Kurun tinha sido pago em grande parte pelas indemnizações de guerra de Tonnerre; mas o resto do armamento custou caro. E então J.-Y. Le Toumelin partiu com... 50 000 francos (500 de hoje). Kurun Largou de Croisic a 19 de Setembro de 1949, com um bom camarada «Raton» Dufour, natural de Nantes, atlético, mas que não podia ir mais longe que Fedala. Só no princípio esta travessia enfrentou dificuldades, e Kurun teve que se abrigar algumas horas em Belle-Ile, que deixou ainda com forte brisa. Escalas em Vigo e em Lisboa. O barco encanta-o: cumpre todas as suas promessas. Jacques-Yves previu verdadeiramente tudo. Tudo? Não: falta-lhe uma ratoeira! Em Fedala (Marrocos) tem (a família exige-o!) que tratar de descobrir um tripulante. Os candidatos não faltavam. Por fim, Jacques-Yves fixou a sua escolha num excelente fotógrafo de 25 anos, Paul Farge, parisiense, escuteiro, de uma família de 14 filhos. Nunca tinha navegado... senão nos lagos dos Alpes! Claro que os lagos Léman e Neuchâtel têm «tempestades». Mesmo assim... esta navegação não prepara nem contra o enjoo, nem contra o temor do mar alto (de que não se deve ter a menor vergonha). Não põe também problemas de resistência, que são os principais; e se causa admiração ver Jacques-Yves Le Toumelin escolher um «marinheiro de água doce», ainda mais admira ver este assim lançado às cegas na aventura. Parece, em resumo, que Paul Farge suportou mal o mar e que foi essa a razão fundamental da separação. Paul Farge desembarcou em Tahiti. Tinha, portanto, atravessado todo o Atlântico e metade do Pacífico. Ver-se-á mais adiante que a sua presença não foi inútil, pois pôde tratar Jacques-Yves Le Toumelin quando este se feriu num pé com o seu perigoso arpão. Fez, além disso, belíssimas fotografias. Nada impediu, porém, que quando Jacques-Yves Le Toumelin se encontrou sozinho, se enchesse de alegria. Realizava o seu sonho mais caro: a verdadeira solidão, a responsabilidade total, a execução integral. Retomemos o contacto com a jovem tripulação no Marrocos. A travessia de Fedala a Las Palmas (Canárias), não é nada; mas eis o primeiro «bocado» duro de roer: a etapa Las Palmas-Antilhas. Durante os primeiros 17 dias, as condições de navegação são detestáveis. Parece que a ausência de alísios, em Maio desse ano, ao sul das Canárias, foi uma circunstância de todo excepcional, que se procurou explicar pelas grandes perturbações que afectaram o Atlântico Norte nessa época. Enfim, a 21, tudo muda. J.-Y. Le Toumelin escreve: «Icei os traquetes gémeos e não devia tocar mais na barra até à Martinica (durante 10 dias)... Sono, 6cio, rica vida!» Ao longo de um mês, entre o céu e a água Kurun não encontrou um único barco. A 2 de Junho, avista a baía de Fort-de-France e faz uma bela chegada: «...Decidi carregar pano. Icei o traquete de 15 cm2 que estava pronto e orientei convenientemente as minhas velas. Nunca esforcei tanto o barco. Com água a sair dos embornais, Kurun deslocava-se como um cavalo de corrida, remontando a barlavento. Às 17 horas precisas, a âncora caía a 50 metros do cais do Yacht Clube.» Depois, é o mar das Antilhas, 14 dias de travessia. Aí surge um incidente que teria podido acabar mal. Um arpão é uma espécie de «tridente» (que tem muito mais de três dentes e que serve para arpoar o peixe. O do Kurun era de concepção bastante inédita. Em vez de ser chato, como é habitual, as suas pontas, em número de doze, eram circulares, dispostas segundo as geratrizes de um cilindro de cerca de 25 cm de diâmetro. O aparelho, mortífero, era perigoso de manejar. É Farge quem conta: «Avistámos formas brancas na esteira do Kurun. A linha com que içávamos o peixe para bordo é muito fraca e parte-se. Jacques vai procurar o seu terrível arpão: mas, desequilibrado por um falso movimento de balanço, fura a planta do pé, felizmente de lado e com um só dente. Precipito-me para os pensos. A ponte está manchada de sangue e Jacques estendido no chão; temo que desmaie, mas volta a pôr-se de pé. Terminado o penso, retoma o arpão e segue os peixes, muito ocupados com os pedaços de algodão embebidos em sangue lançados peia borda fora. Atrai-os ao barco com a tampa brilhante, de uma caixa de conservas, presa a um fio de vela. Jacques atinge um, que traz para a ponte. É uma rémora de cerca de 70 cm; tem na cabeça uma ventosa com que se cola aos outros peixes ou aos cascos dos barcos. Alguns indígenas, diz-se, depois de as terem preso na ponta das suas linhas, largam-nas junto de tartarugas, às quais elas se colam. E é só puxar o conjunto... Embora atravessado por dois dentes, o animal vive muito tempo e terei grande dificuldade em descolá-lo da ponte para voltar a lançá-lo ao mar, pois não tem qualquer valor culinário.» A travessia do canal do Panamá não traz qualquer problema de navegação, mas sim... alguns atritos com as autoridades americanas. Le Toumelin modifica um pouco o seu velame, encurtando a carangueja. Depois volta a partir. Tinha previsto 40 dias para vencer as 900 milhas que separam Balboa da ilha San Cristobal, a primeira dos Galápagos, pois Alain Gerbault levara 37. Partindo a 26 de Setembro de Balboa, chega a 20 de Outubro a San Cristobal. «Travessia laboriosa que reclama toda a minha atenção. Encontrei menos calmas do que receava, mas o vento pela proa tem sido de constância implacável... «Depois de Malpeio encontro fortes brisas de sul-sudoeste a sudoeste. Humidade terrível. Noites péssimas, de gelar, transido na ponte. Céu baixo, encoberto, aguaceiros que se sucedem dias a fio. Observações impossíveis. Passo o Equador sem dar por ele.» Subitamente, sai do «Pot-au-Noir» e o tempo torna-se muito bom. Jacques-Yves Le Toumelin dá da estada nos Galápagos uma visão encantadora, concluindo: «Diz-se que os que comeram a goiaba da ilha lá voltarão um dia; não ponho a menor dúvida.» Logo, porém, se inquieta com a travessia para as Marquesas e, sobretudo, com a passagem das Pomotou, na rota de Tahiti: «Não é sem razão que lhe chamam «o arquipélago perigoso»: ilhas baixas que se vêm só no último momento, sem faróis nem balizas, corrente por vezes violenta e rajadas possíveis na altura em que lá me encontrasse...» Cobre as 3000 milhas que separam Santa Cruz das Marquesas em 30 dias. Observa: «Bom tempo... Não diminui o pano uma só vez; a minha navegação tem sido precisa e a ancoragem em Hiva-Hoa teria satisfeito o mais exigente comandante de paquete.» ~ O trajecto para Tahiti é também facilitado: «Chegada inesquecível: nesse dia, Kurun tinha navegado de vento em popa, dobrando a ponta Vénus a bela velocidade.» «Foi preciso coragem para partir (de Tahiti)...» Ainda, sempre, as «ilhas sereias». Nestas, além de beleza e da doçura, Le Toumelin encontrou., um verdadeiro rosário de bretões: em Nuka-Hiva, o bispo é de Questembert, o professor primário chama-se Le Bronnec, tal como, na Nova Guiné, monsenhor Sorin é bretão e bretão monsenhor de Boisnenu, entre outros. Paul Farge desembarca e temos Jacques-Yves sozinho. A apreensão que o invadia esfuma-se imediatamente e tudo corre às mil maravilhas. Vence sem escala as 3800 milhas de Bora-Bora a Port Moresby. «Navegação dura, mas bela», escreve. «Força dos alísios: 6, em média. Uma parte da travessia foi feita com o velame reduzido, com os traquetes gémeos e o leme amarrado; um dia, porém, o vento forte assaltou-me a ferragem de um dos tangões. Tive que renunciar à pilotagem automática e utilizar o velame normal, com vela de bergantim reduzida na relinga da carangueja e verga de mezena improvisada, em bambu leve. A velocidade aumentou ainda mais, variando entre 6 e 7 nós, mas, com este andamento próximo do vento pela popa, a presença constante ao leme é inevitável.» Teve que se pôr de capa para dormir. 6 também para resistir a uma forte rajada: «O barco é literalmente levantado por uma força irresistível; compreendo logo o que vai acontecer sem a menor apreensão; vou adernar ou, então, o camarote de convés será arrombado. «Sou violentamente projectado contra o forro e metralhado por todos os tipos de objectos, incluindo a totalidade da minha biblioteca, enquanto que a vigia da cozinha, aberta (para entrar um pouco de ar), vomita água a pleno débito como uma torneira gigante. «Tão brutalmente como adernara, mastros na água, Kurun readquire o equilíbrio. Estou convencido de que não fará «capsize», graças ao seu mastro escarvado, às suas três toneladas de lastro, à sua quilha metálica exterior, indispensável. «Aturdido, a cara tumefacta e coberta de sangue, ponho-me de pé de um salto e de outro chego à ponte: a água, à altura da armadoira, escoa-se lentamente pelos embomais... Nenhuma avaria...» Já com bom tempo, eis Port Moresby. As ilhas dos Cocos ficam a 3100 milhas de Port Moresby. Kurun leva 27 dias a cobrir esta distância, vencendo o estreito de Torres também pela passagem de Bligh. «A passagem do estreito de Torres não tem sido agradável para os amadores, antes uma navegação delicada e difícil, com um alísio que sopra em rajadas e correntes violentas. Praticamente, estive sem dormir desde a ilha Yule ao mar da Arafura: 84 horas de tensão contínua. Nunca me julguei capaz de tal resistência. Passei por momentos difíceis...» Mas o mar de Arafura, segundo o seu hábito, oferece-lhe a compensação de «um tempo esplêndido, o melhor que se possa imaginar. Céu muitas vezes sem nuvens, magníficas noites estreladas e luar». Nas ilhas dos Cocos, a sua estada é perturbada por uma inquietante verificação: as térmites instalaram-se no mastro. Diabo! É grave! Durante todo o seu regresso, a vida de Le Toumelin foi envenenada por esta ideia. Ora... Ora, em Paris, como o tivéssemos ido visitar acompanhados por um sábio especialista nestas questões (1), Jacques-Yves mostrou-lhe um dos hóspedes inoportunos: era, muito simplesmente, a larva de um «capricórnio das casas» (Hylotrupes bajulus) que... já estava, por certo, no mastro antes da partida de Croisic, no ovo, e que o calor tropical fizera desenvolver! (1) Budker, naturalmente. Quando se explicou isto a Jacques-Yves, ele exclamou: «Já tenho o título para o meu livro: A Volta ao Mundo de um Hylotrupe Bajulus»! Tal como a aranha de Slocum, este animal fechou também o círculo! Da travessia dos Cocos à Reunião, diz: «Excelente travessia, embora nem sempre tenha tirado o melhor rendimento do meu barco, conservando pano amainado para além do tempo necessário. Um pouco desconfortável. Brisa e, sobretudo, mar, O Oceano Índico está longe de ser um lago de patos...» Na Reunião, Jacques-Yves contratou os serviços de um carpinteiro de marinha, bizarramente chamado «Doce Jesus», que tinha trabalhado a bordo do Winibelle de Marin-Marie. J.-Y. Le Toumelin queria estar em Durban no Natal; mais feliz que os seus predecessores, chegou adiantado (apesar de muito mau tempo), a 4 de Dezembro. É preciso vencer agora o «cabo das Tormentas»: «A rota para o cabo acompanha a costa na direcção sul, com corrente favorável em cerca de 800 milhas. Boa travessia, mas bastante fatigante, pela falta de sono, em virtude da constante preocupação causada pela proximidade de uma costa temível. Depois do cabo das Agulhas, aguentei uma rajada de «South East» tão forte quanto clássica. Foi com pouco pano (1), correndo como uma flecha, que dobrei o impressionante cabo das Tormentas. (1) Como Bernicot. Não há dúvida que a prudência é compensadora! A força do vento era de 10 a 11. Paradoxo espantoso: depois de me ter posto de capa durante duas horas, a fim de me recompor enquanto fazia um último exame da carta, tendo em vista a minha entrada, de noite, em Capetown, o vento caiu subitamente, quando acabava de suportar rajadas capazes de desmastrear o barco... Mais de metade de um dia estive parado a 5 milhas do porto, onde penetrei com todo o velame içado e brisa fraca...» Mas, como já vimos, depois «acabou-se»: «As dificuldades da minha viagem estão para trás do cadaste do Kurun.» E eis que... sempre o amor dos animais no Atlântico! O comandante Le Toumelin, pai do navegador, conta: «Descobriu na sua provisão de salada um passageiro clandestino, uma rã que pensou repatriar numa jangada com provisão de água doce e víveres apropriados! A corrente e o vento puxavam para a costa, ainda próxima. Pensando melhor, porém, abandonou o projecto; é que, como no caso de Kon-Tiki, a ancoragem sobre recifes indesejáveis era um obstáculo sério, senão fatal. «A passageira foi, portanto, conservada, e fez da despensa de bordo o seu domínio. Jacques-Yves baptizou-a «Joséphine», em memória de «Joseph», um soberbo lagarto descoberto a bordo no Pacífico, na baía de Bora-Bora, em Junho de 1951. Esse outro clandestino, embarcado não se sabe onde nem como, numa escala anterior, saía discretamente dos seus refúgios (as antenas ligadas em cúpula sobre a passarela ou a cobertura à popa) para vir fazer companhia ao navegador solitário, nos dias soalheiros. No entanto, os duros golpes sofridos no Pacífico Ocidental, a ponte por vezes submersa e, por consequência, tantas vezes varrida, no estreito de Torres e no Oceano Índico, não tinham praticamente deixado qualquer dúvida sobre o triste fim deste simpático companheiro. Ora, um dia de sol quente, antes da chegada às ilhas dos Cocos, isto é, vários meses depois da última aparição, o skipper ficou muito surpreendido ao voltar a ver «Joseph», sereno, na passarela. Sabe deus como pôde alimentar-se e evitar sair pela borda fora. «Surgiu entretanto o primeiro peixe-voador, mas também os esqualos; um destes atribuiu-se a hélice da preciosa barquinha Walker, a terceira que sofria a mesma sorte... e a última, dado que não se havia conseguido encontrar sobresselentes nos schlpchandlers de Durban ou de Capetown. O resultado foi a ausência de cálculo do caminho percorrido, pelo menos durante as horas de sono. Observações mais frequentes passarão a obviar a essa carência.» Le Toumelin não fez escala nos Açores, mas tomou contacto com a fragata meteorológica Le Brix, estacionada no «ponto K», em pleno Atlântico. E, a 7 de Julho, foi Le Croisic. Bela proeza! «Bela proeza» também dos construtores - e do veleiro. É quase incrível que as duas quadrangulares tenham regressado também a Croisic, sem dúvida um pouco deformadas, mas utilizáveis; e não é um modo de falar, pois vimo-las, trouxemo-las mesmo às costas (famosa... e esmagadora honra...) da oficina do veleiro, esse bom Marquer, que lhe fez umas pequenas reparações, a fim de que pudessem ainda levar Kurun ao Havre, para ser conduzido ao Salão Náutico de Paris. Eis uma pessoa que podia sentir orgulho no seu trabalho e no seu aluno. Jacques-Yves Le Toumelin fez, em 1954, uma bela travessia solitária do Atlântico, ida e volta, com o mesmo Kurun. ***** MURNAN, PETERSEN, JEAN GAU, BARDIAUX, GUZZWELL, MICHEL MERMOD, AUBOIROUX, FRANK CÁSPER, CHICHESTER, O BENJAMIM LEE GRAHAM Semanas após J.-Y. Le Toumelin, dois americanos, um velho e um jovem, terminavam também a sua volta ao mundo. O velho, W. T. Murnan, conhecido por Bill, um homenzinho de cabelos grisalhos que, no regresso, tinha 56 anos, parece um notável artesão do ferro, pois ele próprio construiu um barco em aço inoxidável, material, sem dúvida, sedutor, mas demasiado caro para os nossos meios de franceses. Como resultado, ao que dizem os peritos americanos, é bastante feio e de tal modo pesado que, quando o combustível para os dois motores «Universal» de 25 CV é embarcado, o yacht já não estava na linha de água; no entanto, o seu comportamento no mar foi excelente. Este yawl marconi de 9,15 m, com deriva, Seven Seas II, é inspirado no Sea Bird, mas tem superstruturas muito altas, entre elas um dog-house ou, como diz Murnan, um cockpit coberto (?). Curiosidades não lhe faltam: os vidros das vigias em plexiglas são bastante abaulados, o que permite, do interior, «meter a cabeça», permanecendo protegido e obter um campo de visão muito mais vasto. A quilha é oca e serve… de reservatório. A popa, contém 180 litros de gasolina, (que assim se mantém fresca nos climas quentes) e, à proa, serve de «radiador» para a água dos motores; estes funcionam, portanto, em circuito fechado e não por bombagem do mar, o que suprime um rombo no casco e toda a possibilidade de obstrução pelas algas, depósitos de sal, etc. O dog-house contém um receptor T. S. F. que permite captar os sinais horários de todo o mundo. O velame é tratado contra a traça e não precisa de cuidados; os cabos são de nylon; a âncora flutuante é um pneu de camião que pode ser posto horizontal ou verticalmente (nada mal pensado) Os traquetes gémeos darão excelentes resultados, mas não estão ligados ao leme, cuja roda é travada por um tambor. Esta roda fica à entrada do dog-house e o homem do leme pode, conforme entender, governar do interior ou do exterior. Seven Seas II percorreu jornadas notáveis com o leme amarrado, por exemplo da ilha Christmas a Durban, ou seja, 5100 milhas em 53 dias. Não sem humor, Murnan apresenta assim a sua «jornada de trabalho»: «A jorna do cruzador é semelhante à de uma dona de casa; esta levanta-se, dá o pequeno-almoço ao marido, manda-o para o escritório e passa agradavelmente o resto do dia com os trabalhos domésticos. Eu levanto-me após uma noite bem descansada, apago o meu farol de mastro, deito uma olhadela ao compasso, regulo a rota e tomo o pequeno--almoço. Depois de lavar a loiça, entrego-me às pequenas ocupações de bordo, governo um pouco se isso me parecer útil, preparo outras refeições, leio um bocadito, e escrevo cartas (ele não fala da hora do levantamento do correio), acendo o meu farol de mastro e vou-me deitar. Ou o tempo permanece bom ou passa a ser mau, mas logo melhora; com um pouco de hábito aguenta-se conforme vier.» É bem o nosso provérbio marinheiro: «Aceitar o tempo como vier, o vento como soprar e o vinho ao gargalo quando não há copo!» Os dois motores permitiram a Murnan enfrentar uma rajada violentíssima de temporal (mais de 100 nós, diz ele), sem amainar nada, antes lançando tudo ao vento - solução pouco marinheira que merece ser apontada. Partido a 5 de Março de 1947 de Los Angeles, Bill Murnan, depois de passar pelo Panamá, Torres e o Cabo, estava em Nova Iorque a 21 de Agosto de 1952; nunca se apressou e, por duas vezes, embarcou a mulher pelas belas jornadas. Seven Seas II é um paquete individual. Três dias antes dele - a 18 de Agosto de 1952 - tinha chegado a Nova Iorque Alfred Petersen que acabava também a sua volta ao mundo. Uma volta ao mundo bem diferente. Mas este jovem americano era tão modesto que ninguém repara nele e teria, por certo, passado desapercebido se uma carta de Dacar não houvesse perguntado a um clube de Nova Iorque como contactar com ele; veremos, mais tarde, de quem era a carta. Encontrou-se Petersen embarcado como marinheiro a bordo de um yacht! Tinha, durante esse mês, casado, e, sem publicidade, pusera à venda o seu Stornoway (este nome é o da capital das ilhas Hébridas, a noroeste da Grã-Bretanha). O barco é um cúter «Colin Archer» (norueguês) modificado por Albert Strange e construído nos Estados Unidos em 1926, portanto, com 22 anos de idade quando Alfred Petersen largou de Nova Iorque, em Junho de 1948. Fred não passava de um operário metalúrgico, mas um mecânico americano pode, com as suas economias de rapaz, comprar um «Colin Archer» e dar com ele a volta ao mundo. Era ajudado por um pequeno motor. Petersen atingiu o Panamá utilizando o mais possível as vias navegáveis interiores da América. De Balboa, os traquetes gémeos - ligados ao leme, desta vez - levaram-no às Galápagos, às Marquesas, às Tuoamutou e ao estreito de Torres. Daí tomou a rota da Indonésia, e do Oceano Índico do norte, numa navegação impecável e sem história, até ao mar Vermelho. Mas… durante o sono, este habitue dos grandes espaços não desconfiou suficientemente dos mares estreitos e encalhou na costa do Iémen. Foi pilhado, preso; sem recursos, nem sequer pôde pedir socorros. Enfim, lá conseguiu libertar-se e atingir Port Said. Aqui, este encantador rapaz transformou-se, por sua vez, em Providência: como um inglês, Ed Poett, se achasse em grandes dificuldades para regressar sozinho com o seu Kefaya, cúter-piloto norueguês, Fred escoltou-o bordo a bordo até Malta e, depois, embarcou com ele e levou-o a Nice, donde regressou de vapor ao Stornoway. Em Gibraltar, reencontrou Poett numa cama de hospital. Restabelecido, este retomou o leme e os dois cúteres foram juntos até Dacar. Tudo isto os havia feito perder muito tempo, a estação tinha avançado e Petersen sabia bem que, atrasando-se assim, corria o risco de encontrar ciclones na costa americana. Tanto pior! Nem sequer falou no assunto; tentou a sua sorte e passou. Por modéstia, talvez por pudor, nem mesmo dera a morada ao seu grato amigo - que ardia de aflição em Dacar e acabou por escrever a todos os clubes de Nova Iorque. Poett dizia: «Os vagabundos do mar são todos irmãos; mas este é um cavalheiro nato e um manobrador sagrado. Os bons marinheiros são, regra geral, tipos decentes, não acha?» Jean Gau, nascido francês em Serignan (Hérauld), a 17 de Fevereiro de 1902, casado em Vairas (o pequeno porto vizinho, na embocadura do Orb) em 1926, partido em 1928 para os Estados Unidos, trabalhou como cozinheiro num grande hotel e naturalizou-se americano. Foi, pois, a bandeira estrelada que Onda II e Atom sucessivamente arvoraram. Gau permanece, contudo, francês de formação e de coração. Nada o tinha preparado para o mar: aprendiz de mecânico de auto-móveis, técnico curioso de aparelhos de rádio, soldado de infantaria argelino, cozinheiro de palácio… Devemos, no entanto, concordar em que tinha a paixão da água, pois, ainda muito pequeno, exercia os seus talentos de pintor, quase unicamente em marinas; e chegara a Nova Iorque havia apenas três anos quando, em 1931, comprou a um milionário inglês um soberbo palhabote de 12 metros, Onda II. Teve que esperar ainda quatro anos para se servir dele, levando para a Nova Escócia uma encantadora Betty. Foi uma história muito linda, mas daquelas que convém cada um guardar para si. Mais dois anos decorrem. E Jean Gau aparelhou, a 7 de Julho de 1937, sozinho, para atravessar o Atlântico, rumo ao seu país natal. Sozinho, a bordo de um palhabote de 12 metros, mais pesado ainda que Flre-Crest… Tudo correu bem até aos Açores, atingido 55 dias depois. Voltou a partir a 2 de Setembro e, a 30, avistava Gibraltar. Mas o mau tempo assaltou-o e, incapaz de se pôr de capa, foi atirado para um banco de areia, ao largo de Cádis, onde Onda II ficou inteiramente destruído. Jean Gau salvou-se ileso. Regressou ao hotel, às colheres e aos molhos, economizou dólar a dólar e, dez anos mais tarde, no Verão de 1947, podia voltar ao mar, sozinho, a bordo do seu Atom, soberbo keteh de 11 metros, de popa norueguesa. Desta vez, passando ainda pelos Açores, chegou sem dificuldades a Vairas. Em 1949, fez a rota inversa, mas pela Madeira; ligou o Funchal a Montauk (ponta N-W de Long Island) em 55 dias, o que é verdadeiramente notável, já que não desceu ao sul em busca do alísio, antes permaneceu numa zona de ventos variáveis, de calmas e de rajadas. Jean Gau é, portanto, um excelente navegador. E também um homem de muito bom senso: após cada viagem, regressa (por avião, se o barco está longe) aos seus fogões, no Hotel Taft; e também porque, sentindo-se envelhecer um pouco, tendo demonstrado que a vela pura não o assustava, equipou Atom com um bom motor de 20 CV. Em 1953 voltou a partir para uma volta ao mundo completa. Passou pelas Bermudas, Porto Rico, Panamá e atingiu Tahiti, onde ficou nove meses; seguidamente, a Nova Guiné, o Oceano Índico para se encontrar em Durban, em Novembro de 1955, após uma travessia de 87 dias, a partir da ilha Christmas. A Ascensão, os Açores, Gibraltar, levaram-no a Valras-Plage em Outubro de 1956, tendo dado uma impecável volta ao mundo, com mais de 50 anos. Depois do que recomeçou. Abandonando Vairas a 26 de Maio de 1963, partiu de Tahiti a 29 de Setembro de 1964 e atingiu Auckland, a Nova Guiné, Port-Moresby, Durban. Mas, no cabo da Boa Esperança, aderna, parte mastros e consegue, graças ao motor, entrar no pequeno porto de Possel-Bay, na África do Sul. Daí volta a partir a 13 de Outubro de 1966. Depois de grandes dificuldades para dobrar as Agulhas, teve que renunciar a fazer escala em Capetown e foi procurado pela aviação… enquanto navegava, muito normalmente, ao largo. Contudo, um pouco mais tarde rasgou a sua quadrangular, que só pôde substituir por uma pequena vela grande; assim, só em 14 de Fevereiro de 1967 atingiu, num ponto bastante mau, as paragens de Porto Rico, onde a marinha americana o rebocou (a demasiada velocidade, como é natural). Esta jornada exigira 123 dias de mar, uma das mais longas efectuadas por um solitário. Jean Gau continua para Nova Iorque… e anuncia a sua próxima partida. Em resumo, temos aqui o nosso Pidgeon. Acrescentemos que Jean Gau, na América, se aprendeu três línguas, fala muitas vezes a sua, a língua d'oc; e impõe lá a cozinha meridional autêntica. A única coisa, segundo diz, que o aborrece, ao partir para a sua volta ao mundo, é a ideia de ser obrigado a comer conservas! Simpático, este sujeito! Marcel Bardiaux, antigo canoeiro, construiu o seu barco, Les Quatre-Vents, (os marinheiros contam tradicionalmente sete, mais o capitão Norte), na água extremamente doce do Mame. Os salmões também nascem no rio. Com este barquinho foi, vindo do Atlântico, dobrar o cabo Horn. Só dois homens haviam navegado lá em baixo, sozinhos, neste sentido: Creston, talvez em 1849, e Hansen em 1934 - mas este perdeuse depois. No outro sentido, só se contam Vito Dumas e Chichester, sozinhos, Pandora (com dois homens) e o casal Moitessier. No estreito de Lemaire, entre a Terra do Fogo e a ilha dos États, fez uma «correcção», como diz, o que não admira, dado que o local tem má fama - audácia extraordinária para um barco tão pequeno e um homem sozinho, para mais nem profissional nem «velho lobo». O relato desta correcção, publicado em Le Yacht, é impressionante: «Aconteceu o que não julgava possível, embora tenha também acon-tecido ao comandante Bernicot, no seu Anahita, um pouco antes de ter atingido Magalhães ( e a muitos outros, como vimos ). Depois de uma guinada, Les Quatre-Vents, apanhado de través por uma vaga gigantesca que rebentou, voltou-se por completo, o que não teria sido tão catastrófico se a minha grande âncora não tivesse conseguido libertar-se das suas amarras e partir o cofre de provisões, e a mesa, bem como reduzir algumas garrafas a pó. Isto aconteceu no momento exacto em que eu descia em busca da minha âncora flutuante, pois tornava-se impossível conservar por mais tempo os 6 metros quadrados do traquete. «O painel estava, portanto, aberto nessa altura e enquanto durou este «jogo da cabra-cega», não prevista na navegação à vela, deixou entrar alguns hectolitros de água do mar que completaram o desastre. «Quis pôr o motor a andar, porque ele acciona duas bombas de porão, mas, depois de semelhante banho, aquele recusou-se obstinadamente a funcionar e tive que bombear durante várias horas, à mão, enquanto mantinha o barco de capa. A água, que se deslocava da proa para a popa, acentuava ainda mais os seus movimentos desordenados, e Les Quatre-Vents apontava desesperadamente a roda da proa para um céu cor de tinta ou mergulhava em abismos impressionantes. «Por momentos, aconteceu ser o mastro que se encontrava na hori-zontal, e não o casco.» Bardiaux fez depois rota para a ilha Horn, que viu por entre o nevoeiro. Contornou-a em seis bordadas, a 12 de Maio de 1952 e, pela baía Saint-François, atingiu a de Nassau, onde fundeou. A seguir, passando entre a grande ilha Navarin e a pequena Lennox, chegou a Ushuaia, a cidade mais austral do globo, para efectuar reparações. «Aí - diz-nos Árgon que o viu em Tahiti - julga que o seu barco está mais seguro na água que em seco, porque as rajadas são duras e as escoras insuficientes. Mas, ao chegar, um dia, ao barco, às 3 horas da tarde (era de noite e ele estava sozinho), encontrou Quatre-Vents sobre as pedras: as três âncoras tinham-se partido. Teve que se atirar à água (gelada), pôr a âncora ao ombro e rebocá-la com o cabo, vindo diversas vezes à superfície para respirar; depois, dar ao molinete. Há costelas partidas e será necessário esperar por uma temperatura mais clemente para fazer um conserto definitivo. «Bardiaux volta a partir. Durante mês e meio, vai desenrolar-se uma luta obscura. Na baía de Cook encontra uma ondulação monstruosa: levantado nas cavas, deitado nas cristas. O canal Cockburn, o estreito de Magalhães não são praticamente mais hospitaleiros. Tem que se aproximar à noite das falésias, com 60 metros de cabo suspenso e dormir amarrado para não ser tirado da cama. De manhã tem 100 ou 120 metros de cabo para alar. E a luta recomeça com o navio metido na água até ao bordo; as ilhas estão mal situadas na carta e a sua forma é mal indicada. É preciso cozinhar, mas a humidade surge imediatamente. O vestuário está molhado. Instala-se-lhe uma tal dor no lado direito que precisa fazer trejeitos para que o corpo não petrifique, gelado; a perna parece paralisada. A rota prossegue nos canais da Patagónia. Atinge, enfim, Puerto Montt, perto de Chiloé. As ancoragens são terríveis, mesmo em Valdivia ou Valparaiso, ganho em Setembro.» Bardiaux terá grandes dificuldades em recompor-se e em reparar o barco em Valparaiso, donde voltará a partir em Abril de 1953. A sua travessia até Papeete, sem escala, em 43 dias, é também notável. Depois de passar a Nova Zelândia, continuou para a Nova Caledónia. Eis o que escreve a propósito, na revista Le Yacht: Acabo de ter um acidente muito grave, do qual felizmente saio só com alguns ferimentos sem importância. Julgava ter deixado o mau tempo na Nova Zelândia, mas o mau tempo obstinou-se em perseguir-me. Em nove dias de uma travessia extenuante, tive apenas sete horas de sono no total. Nos últimos cinco dias, era Impossível qualquer observação. De noite, fui lançado sobre o grande recife sul da Caledónia, que se estende 45 milhas para atém do farol Amédée, por sua vez a 95 minhas de Nouméa É inconcebível que não exista lá sequer uma baliza, pois, com mar agitado - que era o caso - não se vêem os escolhos que se confundem com as vagas do largo. O motivo está em que nenhuma linha de navegação ruma ao sul; só as da Austrália por ocidente ou de Tahiti peto leste são frequentadas. Arrisquei-me, todavia, mais de vinte vezes a subir ao alto do mastro, mau grado as suas trajectórias impressionantes, sem descobrir outra coisa que não fosse um mar imenso em fúria. Num segundo, apercebi-me de que a minha situação era desesperada, já que não há exemplo de um barco atirado contra um recife se libertar. Mas, para mim, também não havia outra salvação atém do barco, visto eu não estar em condições de navegar até à primeira Ilhota, que se encontra a 15 milhas dali e que, aliás, nunca teria chegado a encontrar de noite: só tem 2 metros fora de água. Para mais, os tubarões parecem numerosos nestas paragens. Pergunto ainda a mim próprio onde pude ir buscar energia para lutar, primeiro com o molinete, depois com o balde e a bomba, quando, no momento do acidente, já estava extenuado. Esta luta durou com certeza duas horas, pois eram mais ou menos 22 na altura do primeiro choquei à meia-noite estava eu a flutuar do outro lado. A flutuar é um modo de dizer: só o camarote do convés emergia e, sem os meus reservatórios estanques, tudo teria acabado para mim e para Les Quatre-Vents. Passei o resto da noite a bombear sem descanso, e nem acreditava nos meus olhos ao vê-lo esvaziar-se tão serenamente. Metia água, sem dúvida; contudo, o essencial era esvaziá-lo pelo menos tão depressa quanto ela entrava, de modo que pudesse encalhar, logo que o dia nascesse, na primeira ilhota que visse. Segundo o meu cálculo, devia estar no paralelo deste recife, mas pelo menos a 20 milhas ao largo, senão mais. Devo ter sido desviado por uma corrente de outra força que não a indicada nas Instruções Náuticas; o vento soprou sempre de ocidente, N. W. ou S. W., enquanto que, nesta época e nesta latitude, deveria ser S. E. Já contava com a alteração, mas nunca pensei que fosse assim. Apanhado na ressaca em alguns segundos, era vã qualquer manobra. Les Quatre-Vents foi apanhado de flanco e não podia endireitar-se; a sua quilha tocava o coral. Fui então projectado para longe, para a água, bem como o painel, que foi arrancado, enquanto que o abrigo da popa era reduzido a migalhas e as duas veias a farrapos. Soube nessa altura o que era a corrente, de tal modo me foi difícil atingir o barco, cujos gemidos ouvia a cada uma das monstruosas massas de água que, mais do que o empurravam, o desfaziam. Consegui enrolar a quadrangular nova, depois tapar o buraco do painel e libertar uma âncora que arrastei comigo, no Impulso das vagas, até ao bordo interior do recife, ou seja, a cerca de 30 metros. Tudo isto sob o assalto constante das ondas, com os pés e as mãos em sangue. Quando, após 15 horas de navegação neste dédalo inimaginável onde, ao que parece, nenhum barco jamais se aventurou, mesmo com as cartas mais pormenorizadas - eu só conhecia a do conjunto de toda a ilha - penetrei, enfim, no porto de Nouméa, no dia seguinte, à noite, tinha envelhecido dez anos. Precisei de uns bons quinze dias para me recompor. Quanto ao barco é quase um destroço e exigirá vário® meses de trabalho. O mastro está fendido, as barras de flecha arrancadas e a quilha parece um acordeão. Todo o meu material - pelo menos o que resta - está num estado lastimoso. Mas o piloto de Nouméa e as autoridades marítimas acham que foi um verdadeiro milagre tê-lo trazido sozinho através deste imenso recife atravessado por correntes violentas, sempre a bombear sem descanso… Les Quatre-Vents foi, no entanto, consertado. E Bardiaux continuou o seu périplo por Durban (onde se achou reunido um espantoso número de navegadores solitários) Santa Helena, Pernambuco, para se encontrar, no princípio de 1957, no mar das Caraíbas. Após uma fractura sem gravidade, regressou, em Maio de 1957, a Pointe-à-Pitre e atingiu Nova Iorque a 24 de Agosto, tendo, assim, mais do que fechado a volta; depois, voltou a França. Aí, mandou construir um novo barco, mas, desde então, nunca mais navegou sozinho - como Moitessier, desposou uma «marinheira». Além de Al Hansen, que passou o cabo Horn de leste para oeste, ao largo, e remontou a terrível costa ocidental da Patagónia contra ventos e correntes (feito ainda não repetido), mas morreu perto de Chiloé, não se vê ninguém comparável a Bardiaux, senão Vito Dumas. ***** John Guzzwell, o mais jovem dos circum-navegadores solitários que até hoje completou o périplo (houve, sem dúvida, Lee Graham, partido aos 17 anos!), destaca-se por um facto curioso: foi quando a sua volta ao mundo não tinha ainda começado e, principalmente, quando nem sequer se encontrava a bordo, que surgiram aborrecimentos: primo, a sua magnífica viagem conhece apenas um único período de muito mau tempo, mas na primeira semana, o que o obrigará a regressar à faixa ocidental do continente americano (São Francisco) para partir de novo; secundo, sacrificando um ano (que se transformou em dois) do seu tempo, ajudou os seus amigos Smeeton a realizar o terrível périplo pelos «Roaring Forties», durante o qual Tzu-Hang «afocinhou», tal como já contámos, se desmastreou e só com grande esforço atingiu a costa sul-americana, graças aos talentos de marceneiro de Guzzwell. Todavia, a sua própria volta ao mundo por Torres e o Panamá vai decorrer quase «numa poltrona». John estava preparado para ela. Nascido em 1930 na ilha de Jersey, filho de um engenheiro naval, tendo, com a bela idade de 3 anos (que não deixa recordações), realizado com o papá, a mamã e um tripulante o passeio familiar de Jersey a Capetown, pátria da mãe, tornou-se marceneiro, isto é, um óptimo carpinteiro naval. Quando esteve em Inglaterra disse para si próprio que, para construir um barco, o ocidente canadiano seria mais favorável. Foi lá que fez, pelas suas próprias mãos, o excelente Trekka que, aparelhado em yawl, será, com os seus 6,25 m fora a fora, o mais pequeno barco que já fez a volta ao mundo - enquanto que ele, nos seus 25 anos, é o mais jovem circumnavegador. Estamos habituados às voltas ao mundo sem histórias nem história. Esta, porém, não é menos admirável. Que dizer dela? Que, à partida, no mar alto, um pescador americano lhe perguntou: «Onde diabo espera você ir nesse penico?» E que a resposta «a Honolulu» lhe valeu o epíteto breve e definitivo de crazy - o que, conforme o demonstrou, não tinha a menor justificação? Que, muitas vezes, escolheu a navegação cerrada de bolina para que o barco governasse melhor sozinho - o que é classicamente marinheiro? Que o único verdadeiro perigo de todo o périplo proveio do destroço de um cargueiro evitado por milagre (sabemos como é, na marinha mercante a vela muito descurada)? Que, com mau tempo, se amarra e deste modo se salva? Que o «penico» cobriu de uma vez 1101 milhas numa semana, o que é sensacional, mesmo com a ajuda da corrente geral? Pormenores pitorescos? Não. Óptimo trabalho, simplesmente. ***** O primeiro «inglês» a dar sozinho a volta ao mundo. Sim, inglês, como um bretão, como um normando são franceses. Jersey e as Ohausey de Marin-Marie fazem parte do mesmo arquipélago. Quando se fala dos marinheiros suíços, as pessoas sorriem; trata-se, no entanto, de uma muito bela volta ao mundo (ou quase, mas o que falta, a espessura do continente sul-americano, não tem, em verdade, grande importância, pois as Antilhas e o Panamá não apresentam, regra geral, dificuldades) a realizada pelo jovem de Vaud, Michel Mermod (antes explorador do Norte à Terra do Fogo e à Amazónia) em cinco anos, a bordo do seu pequeno sloup de 7,80 m, Genève. Partido do Callao, no Peru, a 4 de Novembro de 1961, remontou até às Galápagos, seguiu a rota clássica até à Nova Caledónia e aí, em vez de tomar o estreito de Torres, remontou até às Carolinas, a Manilha, tomou o mar da China e o estreito de Malaca, Ceilão, donde, com grandes desvios, atingiu a monção dos Chagos e as Seychelles, depois Madagáscar, rota muito original que foi o único a traçar; da África do Sul, por Santa Helena, ganhou Natal, fechando assim a volta com a restrição acima referida. Pelos Açores, atingiu Lisboa, a seguir o Mediterrâneo com (só nessa altura) um passageiro fotógrafo. O único incidente sério desta viagem impecável - se exceptuarmos o facto de ter sido tomado por espião peruano nas Galápagos! - foi o de ter adernado...à chegada, no golfo de Lion, entre as Baleares e Port Cros, pequena jornada familiar que, por isso, exigiu três semanas! Estava em Hyères a 7 de Dezembro de 1966. ***** Igualmente terreno parecia dever ser o destino do simpatiquíssimo francês Pierre Auboiroux que era motorista de táxi; por esse motivo intitula o seu livro Au Large des Passages Cloutés ( «Ao Largo dos Caminhos Pejados de Pregos». N. do T. ) Depois de ter mandado construir em Nantes um sloup marconi bastante bonito, de 8,50 m, muito clássico, equipado com pilotagem automática (veja o último capítulo) que denominou (astúcia!) NeoVent, partiu de La Trinité-sur-Mer a 22 de Setembro de 1964, rumo a Ocidente, para chegar também a Hyères, vinte e três meses mais tarde, a 29 de Agosto de 1966. Escolheu a rota mais curta, a dos trópicos, pelo Panamá e o Mar Vermelho, que, parece, se tornou menos mal frequentada. Eis as suas escalas: Madeira, Canárias, Martinica, Panamá, Galápagos, Marquesas, Tahiti, Tonga, Nova Caledónia, Nova Guiné; o estreito de Torres, onde vimos Gerbault, Bernicot, J.-Y. Le Toumelin; Thursday (os mesmos mais Slocum), Christmas, os Cocos-Keeling. Até então, é a mais clássica das rotas modernas; a seguir, porém, opta pela via das índias: Colombo, Jibuti, Suez, Génova (curioso desvio) e Saint Tropez. Após ter passado oito dias no hospital de Nouméa, teve grandes problemas no Oceano Índico, em virtude de forte água aberta na vante (uma má calafetagem irremediável)... e baratas. Mas depois de ter, por várias vezes, pensado abandonar o barco numa jangada, a sua coragem de... bombeador (o outro aspecto da profissão de motorista de táxi!) mais a óptima ideia de fazer empinar o barco, carregando-o na popa, constituem um êxito e foi sem auxílio que atingiu Colombo. Bravo! Leremos o seu livro com tanto mais prazer quanto ninguém falou dele. ***** Já o mesmo não se pode dizer de Chichester, actualmente (com, em França, o seu concorrente Tabarly, ( veja capítulo 7 ) a grande vedeta dos solitários, beneficiando da imprensa, da rádio, de poderosos apoios. Demasiado poderosos, talvez, pois, como vamos ver, levaram-no a utilizar um barco que não lhe convinha de modo nenhum. Por outras palavras, esta glória e estes apoios são os mais legítimos do mundo, na medida em que o que realizou em 1966-1967 é extraordinário. A sua proeza é simultaneamente a mais moderna - excedendo Vito Dumas - e a mais antiga: tratava-se de bater ou de igualar os veleiros (de tripulação numerosa) mais rápidos do mundo e de todos os tempos, em longas viagens, os célebres clippers da lã do século passado, na sua própria rota que é a volta ao mundo com uma só escala, a Austrália. E isto com 65 anos... Francis Chichester, editor londrino de cartas geográficas desde 1931. piloto solitário de hidroaviões, especialista do «ponto» astronómico, cor-rendo regatas no mar alto desde os 12 anos, tendo ganho a regata transa-tlântica de 1960 para solitários, e chegado em segundo lugar em 1964 (capítulo 7), é o defensor da navegação de recreio clássica (adoptando, todavia, o leme automático aéreo), o apóstolo dos barcos grandes e pesados. Demasiado grandes e pesados para ele, principalmente aos 65 anos, e, sobretudo, quando (é o caso, desta vez) malgré lul, se aposta nesta concepção. Se FireCrest era já manifestamente demasiado «forte» para Gerbault, que dizer deste Gipsy-Moth IV com o comprimento de 16,30 m? É verdade que o ket marconi é muito manejável (veja Vito Dumas), que o seu velame era moderado para a envergadura: 79 m2 sem contar o spinnaker de utilização difícil para um homem desta idade. Estes 79 m2 representam, mesmo assim, quase o dobro dos 42 m2 do Lehg II de Dumas, e o casco, de 12 toneladas, é muito mais pesado. A comparação impõe-se, já que o que estava em causa era enfrentar os mesmos «mares impossíveis». O Gipsy Moth IV O trajecto que Chichester seguiu foi o dos «ventos do comércio». Tratava-se, para os clippers da lã, magníficos três-mastros redondos, de casco fino - dos quais um dos mais célebres e rápidos foi o Cutty-Sark, com 3000 m2 de pano e servido por 45 homens - de ir o mais depressa possível de Plymouth a Sidney, de carregar aí a lã e de regressar quanto mais cedo melhor a Inglaterra, a fim de «mamar» os concorrentes. Para estes veleiros redondos que se cingiam melhor ao vento que os seus antecessores, mas ainda muito mal ao lado de veleiros áuricos, a «rota direita» dos vapores não era, evidentemente, o caminho mais curto. Precisavam, à ida, de descer com os ventos variáveis predominando de ocidente, depois com alísios do nordeste até às ilhas de Cabo Verde, passar na zona de maiores calmas equatoriais, o chamado «Pot-au-Noir», aproveitar os alísios do sueste quase até às costas do Brasil (foi assim que Cabral descobriu este país em 1500), reencontrar os ventos do quadrante oeste e tomar a rota de Vito Dumas, mas sem escala no Cabo: passar ao largo da Boa Esperança (sem se meter na zona dos icebergs), seguir os «quadragésimos rugidores» até à Tasmânia e remontar para Sidney, o que representa 14 000 milhas marítimas (26 mil quilómetros). Os clippers faziam, por vezes, este circuito em 100 dias; gastavam, porém, na maioria das vezes, 127 ou mais. Chegado a Sidney a 12 de Dezembro de 1966, Chichester gastou 107. Não ganhou, assim, a corrida contra-relógio que se poderia denominar a «corrida contra o fantasma» e mostra-se decepcionado. Julga ter cometido um erro ao cortar a direito entre a Tasmânia e o continente australiano, mas declara principalmente que «este barco não era de modo algum o melhor para o que queria fazer», muito pesado, mantendo mal a rota e mal preparado: «Seriam necessários, para o conduzir, três seres: um navegador, ao leme um paquiderme e, para chegar a certos recantos ou efectuar determinadas manobras no aparelho... um chimpanzé que possuísse braços de 2,5 m de comprimento.» Vemos assim que, tal como Slocum, Chichester sabe fazer graça. Acusa-se a si próprio de diversas faltas: de ter procurado remontar com o alísio mais cingido do que o considerado conveniente pelos clippers, anulando, deste modo, o impulso do barco a cada vaga forte e perdendo muita velocidade, mesmo tendo em conta o encurtamento da rota; de ter esquecido em casa as tabelas de navegação (de que é especialista!) o que lhe provocou, obrigando-o a refazer os cálculos, fadiga mental. É, na verdade, emocionante ouvir este marinheiro invulgar dizer com modéstia (sempre a linhagem de Slocum): «Estava convencido de que conhecia bem o mar e não imaginava que, por vezes, nos pudesse pregar «partidas do diabo». Além disso, não teve sorte: feriu-se numa perna antes da partida, foi obrigado a trabalhar sentado (que energia, na sua idade, e numa altura em que podia desistir, em que não era nada desonroso adiar o feito para o ano seguinte). Doíam-lhe os dentes. O leme automático em breve ficou inutilizado por uma rajada (ver-se-á que este instrumento nunca funciona, de um modo geral, como deve ser), o que lhe fez perder vários dias. O fogão não expulsava o fumo. Perto das costas da Austrália, colidiu com um barco de pesca e ficou ferido num braço, o que o impossibilitou de utilizar ao máximo o velame que, aliás, teve várias vezes que consertar. As observações astronómicas foram com muita frequência impossíveis. E, bem entendido, conheceu muito -mau tempo, mas sem incidentes graves. No fim, não estava contente com o que tinha feito que era, todavia, a mais longa viagem voluntária de um solitário (record que ele próprio bateu nos meses seguintes) e a contraprova dos métodos de Vito Dumas. Quando o relato da sua travessia for publicado, vai ser, por certo, apaixonante analisá-lo sobre este ponto de vista. Uma escala de 47 dias em Sidney permitiu-lhe descansar (mau grado o grande número de recepções), querenar o barco. Depois do que Chichester - perdão, Sir Francis, pois a rainha agraciou-o, armou-o cavaleiro no regresso com a espada de outro grande Francis, Sir Francis Drake - voltou a partir a 29 de Janeiro de 1967. Restava-lhe de facto «carregar a lã)>, essa lã que não era de todo ine-xistente, já que numa barca, ancorado, cultivava agrião pronto a colher em três semanas e precioso contra o escorbuto. Para completar, rumo a Inglaterra, o périplo de 28 500 milhas marítimas, por outras palavras, para cobrir ainda 14 500 (27 000 quilómetros) fechando a volta ao mundo. Na realidade, sempre para aproveitar os ventos em toda a sua força, a «rota do comércio» passa pelo outro lado, peio cabo Horn. Ora, nenhum solitário a utilizara ainda directamente. Na verdade, se um yacht com dois homens, o Pandora, a seguiu em 1910 (e se perdeu depois), Vito Dumas tinha feito escala em Auckland, na Nova Zelândia, e remontado a seguir com ventos agradáveis até Valparaiso; passado o cabo Horn, atingira a Argentina. Os Moitessier (um casal, não um solitário) vinham de Tahiti; e já vimos o que aconteceu a Tzu-Hang... Chichester, esse, evitando a Nova Zelândia pelo sul, rumou directamente ao cabo Horn - sempre nos «quadragésimos rugidores» - dobrou-o a 22 de Março, com mares terríveis e sem ter atracado e, remontou todo o Atlântico até Plymouth em 118 dias, o que constitui a mais longa etapa de um navegador solitário. O «tempo» dos clippers, que se reduzia, por vezes, a 100 dias, não foi batido, mas a proeza é extraordinária. Não foi no cabo Horn nem nos mares tão temíveis que o cercam a ocidente que Chichester correu o maior perigo, antes depois e não por causa do mar: por sua própria «culpa», como diz com a emocionante modéstia que lhe conhecemos. Tendo deixado o famoso cabo 50 milhas atrás de si, esgotado, julgou poder descansar um pouco, estendeu-se... e adormeceu de imediato, sem ter ajustado o indicador de rota encarregado de assinalar se o barco se afasta do rumo. Ora, foi o que aconteceu, descendo pelo menos 20 milhas a sudoeste, isto é, na direcção dos icebergs, particularmente perigosos no Outono austral. Passadas as ilhas Falcland, o resto não passava, em comparação, de um «passeio em águas azuis», o Atlântico familiar e o triunfo da chegada. A partir daqui, Sir Francis Chichester E depois? Depois desta volta ao mundo com uma só escala, que faltará ainda fazer? Realizá-la em menos alguns dias? Porque não a regata em volta do mundo? ***** Sem escala? A volta mais breve, por exemplo pelos «três cabos»: partindo de Sidney ou da Nova Zelândia, vencer - talvez sem os ver - Horn, Boa Esperança, Matapan. O círculo completo dos «rugidores». É o que vai tentar Moitessier. Que sentido poderá ter esta experiência? O mar pelo mar, no estado puro? Mas então, porquê a pressa? Por que motivo escolher o seu rosto hostil e não o seu rosto amável? Ou o absurdo? Entre esta concepção (exigida, outrora, pelos imperativos do comércio, nunca, por certo, em recreio) e a de um Pidgeon, desses casais que dão a volta ao mundo fazendo turismo, com a sua casa à vela, o mate lentamente possível (a espantosa senhora Strout com o marido por professor deu-a em camisa de noite), fruindo maravilhas sem conta, existe um mundo. Os imitadores que escolham. Mas por que razão o «desporto» no mar, com os seus assustadores desmandos e limites, será mais digno de entusiasmo (à distância... e sem sequer a presença do estádio) que a posse do mundo, também pelo mar? Já Chichester, ao cingir o planeta, só viu, fora as vagas, as estrelas, as nuvens e o seu barco sempre igual a si próprio, os cais de Sidney (que conhecia); chegar-se-á a ponto de nada ver? Considerada do ângulo da navegação, uma volta ao mundo sem escala, solitária, não poria, na verdade, problemas novos. O respeitante aos víveres para um só homem (se o barco não for demasiado pequeno) não seria diferente do que consiste em alimentar duas bocas durante metade do tempo, ou quatro num quarto; sabe-se hoje prevenir o escorbuto, a água já não dá origem a temores (aliás, Chichester recolheu-a, nunca o problema surgiu nestas latitudes). Quanto à fadiga, uma estada no mar de 200 a 300 dias não parece proibitiva para um homem treinado, jovem (não muito), ajudado por aparelhos automáticos. A solidão, bem ao contrário, deixa de fazer sofrer após algumas semanas. Saber onde se está é fácil em toda a parte, mesmo sem referências - e o erro é mais perigoso perto de terra do que nessas enormes etapas - o goniómetro substitui as estrelas com tempos cobertos, no momento das ancoragens. Só a ausência de querenagem, as vegetações que crescem na querena e afrouxam terrivelmente a velocidade do barco, constituiriam problema. Este, porém, não é novo: grandes veleiros de madeira andavam no mar muito mais tempo e podem imaginar-se meios para o resolver. Por outro lado, as águas frias trazem muito menos depressa este inconveniente que as águas quentes. Toda a questão está em saber se a experiência apresenta algum interesse, além do das sentenças e do «espectacular» (1). (1) Aos circum-navegadores referidos há que acrescentar Frank Cásper que. com o seu cúter de 9,10 m, Elsie, fez uma bela volta ao mundo clássica, de Miami a Miami (Dezembro de 1963-Junho de 1967), pelo Panamá, Port-Moresby, ilha Maurícia e o Cabo. Sobre esta travessia não foi ainda publicado qualquer relato; porém, modestíssimo, recusa o título de circum-navegador solitário, por ter tido até às Galápagos (nada!) dois companheiros sucessivos: marinheiros infelizes socorridos! Eis o que, pelo contrário, o dignifica.Quanto ao mais jovem dos circum-navegadores. Lee Graham, partido da Califórnia com 17 anos, estava, já no Verão de 1967, no Oceano Indico e, por isso, já quase o podemos referir Capítulo 6 - DOIS FANTASISTAS HANS ZITT, HERÓI DE JÚLIO VERNE J. E. SCHULTZ, RECORDISTA DA LOUCURA Pode-se ter nascido na Alemanha, querer imitar Romer e ser um folgazão desabrido. Pode-se também, americano, com 18 anos, elevar a inconsciência ao nível da grandeza. Podem-se escrever (é de nós que se trata) relatos absolutamente verdadeiros e perguntar se não se plagiou Júlio Verne. O salmão irrompe na nascente dos rios e desce-os antes de percorrer os oceanos. Hans Zitt, depois J. E. Schultz, tomaram cada um, perto da sua nascente, o maior rio de um continente, seguiram-no até ao mar com embarcações adaptadas a esse fim... e continuaram. O mar não se importou. HANS ZITT Em Março de 1927, Hans Zitt, estudante alemão, deu nas montanhas suíças uma terrível queda. Foi obrigado a permanecer quatro meses numa clínica e saiu de lá com uma perna irremediavelmente estropiada. Nunca mais andaria bem. Era um duro golpe para um desportista como ele. Renunciar ao desporto? Jamais! Tinha era que escolher um «em que fosse conduzido»; bicicleta, cavalo, barco. Cavalo? Boa ideia. De tal modo a considerou boa que, tendo saído da clínica com 50 marcos ao todo, comprou... uma sela. Já conhecemos um rapaz do mesmo género que, querendo navegar, comprou uma âncora e um farol de mastro; bastava-lhe evocar o que existiria entre os dois. Mas o cavalo não vinha colocar-se debaixo da sela e o professor de equitação desgostou Zitt: levava-lhe muito caro à hora para o pôr... a escovar a pileca do picadeiro! Zitt pensou que poderia construir sozinho um barco, por preço módico. Mergulhou nas bibliotecas, cujas obras de navegação achou, porém, um desastre. Acabou por dar com os olhos numa pequena brochura Como Construir um Barco à Veia, de uma colecção chamada Jeux et Travaux. Uma coisa vulgaríssima, diz ele, que apenas servia para ajudar um colegial a construir uma selha para brincar no lago da aldeia. Todavia, Zitt comprou a brochura (1) e, nessa mesma noite, meteu ombros ao trabalho de ampliar o plano. Calculou que a construção se poderia fazer em quatro semanas... Durou sete meses. O barco tinha 6 metros de comprido, 1,70 m de largo e uma deriva «sabre», isto é, que se introduzia verticalmente num poço de deriva central. Era semipontado, com pequena ponte à vante, camarote de convés com seis escotilhas e cockpit aberto. O pequeno camarote d3 convés abrigava um beliche e uma mesa de abrir que, atravancando muito, acabou por ser lançada pela borda fora. Zitt apurouse nos pormenores: instalou luz eléctrica e dotou o barco de um monte de bibelots de todo inúteis. Sem hesitações, armou o seu navio com um aparelho enorme: mastro de 11 metros (safa!) e vela de 30 metros quadrados (cruzes!). Isto teve uma grande vantagem: à medida que Zitt avançava em quilómetros (no Danúbio não se fala de milhas) e em experiência, ia amainando uma fira de pano, um aro de mastro, uma tira de pano, outro aro, outra tira...; de tal modo que, no fim, a vela ficou reduzida a... 7,50 m2! Zitt carregou o seu querido brinquedo num camião e levou-o para Ingolstadt, no Danúbio. Desastre! Mal lançado à água, Bayern (era o seu nome; Zitt levava assim com ele a sua pátria bávara) encheu-se de água, tal qual um cesto. (1) Vimos a brochura. Um achado... Como, por outro lado, Zitt se havia esquecido de amarrar o barco à fraga, Bayern foi-se afastando na corrente, levando consigo o rapaz e um amigo, ocupados, um (o amigo) a escoar desesperadamente a água (não sabia nadar), o outro remando em vão com uma prancha arrancada ao xadrez (parquete), em jeito de pangaia. Um encalhe num banco de areia providencial salvou a tripulação de um naufrágio iminente. O barco em seco, foi inspeccionado, o rombo responsável calafetado, o casco impermeabilizado e a honra salva. Zitt estava pronto para partir. Para onde? Para muito longe, muito longe. O Extremo Oriente tentavao. E, depois, porque não a volta ao mundo? Sozinho? Não. Entre os numerosos candidatos apresentados, escolheu o mais capaz (em palavras), o mais seguro, etc. Restava arranjar o dinheiro. Através de diligências e de correspon-dência, Zitt conseguiu interessar na empresa «firmas comerciais». Muito gostaríamos de saber quais... E a caminho, com a corrente. Viena não fica longe; os 380 quilómetros depressa são vencidos e os inúmeros incidentes desta «escola de marinheiros» são recebidos com risos. Os risos de Zitt, pelo menos, para quem o frio, a chuva, os banhos forçados são divertidíssimos. O companheiro... O companheiro fiel, seguro, etc, desaparece em Viena. Zilt espera-o; mas, ao fim de alguns dias, ele escreve-lhe de Munique, onde se acha «mais em seco». Zitt substitui-o por um andarilho. Como o papel de um andarilho ó palmilhar o globo, o rapaz, pensou que este faria, sem dúvida, mais de 380 quilómetros. Com ele - para arredondar um pouco o pecúlio da partida - realizou uma conferência: fiasco completo, como era de temer. Somente lhe restava partir. A estação má (de 1928) aproximava-se. A água do Danúbio tornava-se fria e brumosa, depois gelada nas fragas. A cabina do Bayern já não era suportável. Um camponês húngaro albergou por uma noite os dois rapazes no seu estábulo. Mas se os jovens estavam habituados a dormir de noite, os cavalos não. Comiam! O que era hóspede habitual do albergue gostou das calças (em fibra de madeira?) e do chapéu - sem dúvida tudo temperado de exotismo - do andarilho. Tragicomédia! Não, tragédia, só: na copa do chapéu estava escondida uma nota de 100 marcos, toda a fortuna do infeliz. A história não conta se ele teceu uns calções com a crina do cavalo. Na fronteira sérvia, os funcionários da alfândega pediram uma caução ridícula, várias vezes o valor do barco; aliás, grande ou pequena, era ainda infinitamente elevada, pois, em boa álgebra, alfa ou epsilon sobre zero são iguais ao infinito. Por infelicidade, os homens da alfândega húngara, que tinham simpatizado com os nossos rapazes, aconselharam--nos a deixarem-se levar pela corrente, como as gaivotas, durante a noite. Foi o que fizeram. E, no interior da Sérvia, nunca mais ninguém se preocupou com o barquito. Mas, em Belgrado, surgem gelos a jusante, a corrente quase deixa de existir e sopram ventos pela proa com vagas de um bom metro de altura. E o rio tem um quilómetro de largo. Zitt fez diligências junto de um lanchão alemão que lhe prometeu reboque. No entanto... Na altura combinada o lanchão não apareceu: tinha partido. Deviam, pois, vencer sozinhos aquela má passagem e, depois, o interminável desfiladeiro de Kazan, chamado «Portas de Ferro», 180 quilómetros apertados entre muralhas de quase 1000 metros - isto num rio convulso e fervilhando de redemoinhos como uma caldeira. Em Giurgiu, o grande porto do petróleo, no meio da grande planície romena, tiveram que hibernar. Aí, o andarilho continuou a andar sozinho e Zitt passou o Inverno, deixando Bayern num hangar, a visitar a Roménia, vivendo de artigos sobre a Roménia que enviava para a Alemanha e de artigos sobre a Alemanha que vendia aos romenos. A Primavera de 1929 chegou tarde; por fim, a neve fundiu e Zitt pôde pensar na partida. Retirou o camarote de convés, substituiu-o por um castelo (o que num navio se chama o castelo da vante) que dava uma ponte bem ampla. Depois encurtou o mastro pela quarta vez... Após alguns dias de navegação no grande rio, Zilt chegou a Sulina, nas margens do Mar Negro. Acabada a marinha de água doce. Agora, o mar! Zitt, porém, lembrou-se de que nunca tinha saído para o largo. O mais que fizera de semelhante fora a travessia de Fiume a Raguse, a bordo de um vapor. Assim, travou conhecimento com pescadores e com um piloto de Sulina e pediu-lhes conselhos e instruções. Este rapazinho não era de modo nenhum estúpido; e aprendia as línguas num abrir e fechar de olhos. AO romper do dia 25 de Abril, partiu para o Bósforo com uma bela brisa favorável de nordeste. Muito prudente, Zitt aproveitou o Mar Negro para se treinar, fazendo pequenos cruzeiros junto à costa; todas as noites, quando era possível, ancorava junto a costa ou num pequeno porto para dormir algumas horas. Não podemos contar aqui as estupefacções de Zitt no Bósforo, a decepção do porto de Constantinopla, a sua longa estada de sonho nesta cidade do Oriente, com que sonhava, a sua rota até Dardanelos. As primeiras dificuldades esperavam-no em Cumbas, onde uma violenta tempestade o assaltou. Correndo como uma flecha, viu um molhe meio demolido. Era um abrigo precário, talvez, mas sempre melhor do que nada. Da costa, tinham-no avistado e, quando se aproximou, a praia estava cheia de gente. Por sinais, as pessoas fizeram-lhe compreender que o fundo era perigoso e que devia enviar um cabo para terra. Conseguiu fazer-lhes passar um, que foi apanhado pela multidão, a qual se achou no dever de encalhar Bayern sem pedir opinião ao capitão. Por fim, o barco chegou à praia... com a deriva completamente dobrada. Zitt foi cumprimentado pela autoridade local e teve que apertar, pelo menos, cinquenta mãos. A seguir, viu-se arrastado para o café mais próximo, onde, à mesa, se viu obrigado a responder a mil perguntas, nomeadamente respeitantes á sua profissão. Era uma questão embaraçosa, já que os jornalistas são muito mal vistos na Turquia. Declarou, pois, que era mecânico. Devia, porém, no dia seguinte, pagar a mentira. O gendarme veio visitá-lo quando reparava a deriva do seu barco e perguntou-lhe se era verdade ele ser engenheiro; esta rápida ascensão perturbou-lhe a cabeça e Zitt respondeu «sim». O gendarme levou-o, então, à centra) eléctrica, onde o gerador se recusava a funcionar. Como o motor era alemão e Zitt também, os dois deviam - disso estavam convencidos os naturais - poder entender-se. Que outra coisa a fazer senão tentar? Zitt pegou numa chave e pôs-se, com ar absorvido, a desapertar todos os parafusos ao seu alcance, depois a colocá-los no lugar. Carregou no botão de ignição... e o motor começou a trabalhar! Zitt, muito discreto, desapareceu antes que o maldito motor parasse outra vez. Em Kum Kale, veio a terra para visitar as ruínas de uma fortaleza onde os alemães se haviam batido durante a guerra de 1914-1918. Quando regressou, não tinha barco! Descobriu-o, por fim, sacudido pelas vagas, derivando ao largo. Nem uma canoa à vista. Despiu-se rapidamente e pôs-se a nadar para o atingir. Só o conseguiu após duas horas de esforço, duas horas durante as quais teve tempo para compreender a parvoíce que acabava de cometer, pois a corrente teria podido levá-lo para o mar alto e nunca mais se ouviria, assim, falar dele. Como recebera o convite de um amigo para o visitar em Atenas, e como o trajecto o obrigava a grande desvio, deixou Bayern no porto de Mitilene e tomou um vapor. Nele conheceu um grego que, no meio da conversa, exclamou de repente: «Você é o homem que eu procuro!» Eu explico: tenho um barco (não era verdade) que naufragou num recife perto da ilha de Creta; é preciso ir lá buscar um cofre que contém 700 libras em ouro. A embarcação está ao pé da falésia, a uns 30 metros de profundidade. Para dois rapazes corajosos é só mergulhar...» «Pedimos, pois, emprestado - conta Zitt - um escafandro a um pes-cador de esponjas e dirigimo-nos para o local onde estava o barco. Nunca nenhum de nós tinha enfiado semelhante aparelho e, por isso, sentíamo-nos nervosos. O grego foi o primeiro a descer. Surgiu dez minutos mais tarde, completamente esgotado. Na manhã seguinte, fiz a minha expe-riência. A entrada da cabina do barco estava atravancada; libertei-a e penetrei no interior. Acendi a minha lanterna eléctrica e recebi o maior choque da minha vida: na minha frente havia um homem! Soltei um grito que ecoou dolorosamente no casco de cobre. O homem tinha os olhos muito abertos e a língua saía-lhe da boca. Era o capitão do barco naufragado que ali estava, naquela cabina, havia dois anos (?). Demorei um bom pedaço a retomar fôlego. Depois, pondo o cadáver de lado, comecei a procurar o cofre. Em breve o encontrei e amarrei solidamente à linha que pendia do nosso barco. A seguir, subi o mais depressa que pude. «Mal tirei o fato de borracha, puxámos a linha. «Mas o cofre tinha-se desprendido! Com a pressa e a perturbação amarrara-o mal!» Era necessário recomeçar. Se o cofre tivesse sido atirado para o lodo é que... No entanto, o vento começou a soprar e, quando acalmou, o barco havia deslizado para um local mais fundo onde era impossível alcançá-lo. Após esta aventura, Zitt voltou ao seu barco e rumou a Esmirna. Pouco antes de chegar a este porto, encalhou e só no dia seguinte de manhã conseguiu safar-se; o barco metia água e Zitt mal teve tempo de entrar em Esmirna. Neste porto, encontrou o capitão de um navio polaco que conhecera numa escala e que lhe propôs, como o vento soprava pela proa, rebocá-lo até ao cabo Kara Burun. Mas, conforme é hábito, o navio partiu a toda a velocidade; Zitt preparou-se para ver o Bayern desfeito, de tal modo os puxões provocados pela tensão brusca do cabo de reboque eram violentos. O mar agitava-se, a coisa ia acabar mal. Zitt pôs-se a grifar sem resultado. Por fim, um marinheiro avistou os seus gestos e o rebocador parou. Zitt pediu-lhe que fosse mais devagar; o capitão, porém, gritou-lhe: «Largue esse caixote infernal e venha para o meu barco!» Zitt, indignado, largou o reboque, e o vapor em breve desaparecia no crepúsculo que se avizinhava. Zitt via-se, de novo, sozinho. O vento soprava. O rapaz quis içar a vela de giba: esta ficou imediatamente em pedaços. O navegador substituiu-a logo e, minutos mais tarde, acontecia o mesmo à segunda. Só amarrando quatro coberturas umas às outras, em jeito de vela grande, conseguiu dominar o barco. (Eis um velame pelo menos original.) As vagas tornavam-se cada vez mais altas e curtas. Zitt estava per-manentemente coberto de poalha. Ao limpar a cara com a mão, sentiu areia a arranhar-lhe a pele. Areia! A costa! Ia dar à costa antes de poder tentar fosse o que fosse para salvar o seu Bayern. A quilha roçou pelo fundo, o mastro partiu-se em dois, uma vaga cobriu e encheu o barco de um só golpe; Zitt saltou para a água e, levado pelas ondas, nadando e caminhando, chegou a terra firme. Viu uma cabana entre a vegetação perto da praia, e nela adormeceu. No dia seguinte, regressado à praia, deu com dois gendarmes. A primeira vista, parecia que Bayern era recuperável. Zitt obteve autorização para morar em casa de um engenheiro e para ficar em território turco durante o tempo necessário às reparações. Este engenheiro, um homem encantador, havia estado, durante a guerra, em contacto com tropas alemãs. Decidira, por isso, aprender alemão e, para tanto, tinha-se fechado durante quinze dias no seu quarto com livros e trabalhado segundo um método muito pessoal: para aprender os verbos metia na cabeça: «Eu vou.» Mas achando a conjugação demasiado difícil, continuava: tu vais, ele vai, nós vais, vós vais, eles vais. Considerando também os substantivos verbais muito práticos, fazia-os de todos os verbos, acrescentando-lhes o equivalente alemão de «agem»; sono tornava-se, portanto, «dormagem», refeição «comagem». «Uma conversa com ele, diz Zilt, era uma verdadeira sessão de marionetes!» Três semanas mais tarde, Bayern estava consertado e Zitt pôde partir novamente. Depois de cruzar um pouco o mar Egeu, partiu de Agya Nikolaos, pequeno porto da costa leste da ilha de Creta, para a travessia de 400 milhas, rumo a Port Said. Era a sua primeira etapa ao largo. Nos dois primeiros dias, beneficiou de uma brisa bastante fresca, de nordeste, e, por isso, não dormiu para a aproveitar ao máximo; mas, no terceiro dia, a brisa caiu e a velocidade reduziu-se para dois nós. Havia 72 horas que navegava, e percorrera cerca de 100 milhas, segundo a barquinha (pois não sabia tirar o ponto); o pobre Bayem fazia o que podia. Como não mantinha rota sozinho, Zitt lançava a âncora flutuante e dormia... noites inteiras. Ao décimo terceiro dia, o mar tornou-se de poucos amigos e Zitt pensou que devia aproximar-se da costa; ia, enfim, ver a África! Durante todo o dia observou o horizonte com binóculo, mas como a brisa era muito fraca, mal tinha velocidade suficiente para manobrar. Receava que uma corrente o desviasse da rota. Até que, ao cair da noite, avistou uma linha vertical, muito fina, no horizonte: o farol de Damiette. Em resumo, o neófito tinha feito uma excelente navegação. O seu entusiasmo pela terra africana desfez-se, porém, rapidamente: na Polícia informaram-no que, para entrar no Egipto, precisava depositar uma caução de 50 libras. Zitt, que só tinha 20, implorou, implorou... Mas o polícia não se condoeu: «Lamento muito, mas tem de regressar à Grécia. Não pode desembarcar no Egipto!» Fez, depois, sinal a um árabe e disse-lhe qualquer coisa que Zitt não compreendeu; a seguir, acompanharam-no ao porto e conduziram-no a bordo de um vapor grego. Estava ele no passadiço, enquanto os polícias discutiam com o comandante, quando uma das gruas ergueu Bayern e o depôs na ponte. Zilt foi assaltado por uma violenta cólera e praguejou em todas as línguas que conhecia - um número bastante razoável. Tinha, porém, que obedecer. Em 36 horas, o vapor chegou a Creta. Ao passar lá a bordo de Bayern, Zitt teria podido desembarcar, pois era considerado marinheiro; mas chegando como passageiro num vapor e não tendo visto, era-lhe proibido ir a terra! E... ei-lo outra vez a navegar. O vapor fazia escala em todos os portos do mar Egeu; as circunstâncias eram sempre as mesmas, de tal modo que, quando regressou a Port Said, Zitt ainda não havia desembarcado! Seis semanas após a sua partida forçada, entrou, em triunfo, no porto egípcio e a primeira pessoa que encontrou foi o polícia que o tinha embarcado. Este quase desmaiou de pasmo ao ver Zitt. Que fazer? Obrigá-lo a andar permanentemente às voltas? Cansadas, as autoridades autorizaram-no, por fim, a desembarcar. Mas, para obter autorização para atravessar o canal de Suez, continuava a ser necessário depositar as 50 libras. Zitt respondeu que aguardava um vale. Dias mais tarde, conheceu um espanhol que lhe ofereceu cinco libras para jogar boxe num circo. Zitt aceitou sem hesitar... e apanhou uma sova que valia bem a quantia. Ganhou, depois, duas libras e uma vela nova onde se via escrito em grandes letras: «Venho da Alemanha. Tem uma máquina fotográfica para me tirar o retrato?» E adivinha-se como: com esta vela, navegava uma ou duas horas por dia no porto, a título publicitário. Tudo, porém, totalizava apenas 27 libras. Conseguiu, todavia, pedir emprestadas as 23 libras que faltavam e entregá-las à saída do canal. No Mar Vermelho teve um ataque de malária e, para cúmulo da infeli-cidade, uma fuga no reservatório de água deixou-o sem ter que beber. Ei-lo estendido na sua cabina, com 40° de febre, durante dois dias, sem uma gota de água numa temperatura também de 40°. A costa não estava longe, mas Zitt não tinha forças para manobrar. Ouviu gritar, julgou que delirava; era um vapor grego que, tendo avistado o barquinho sem ninguém ao leme, se aproximara. Agua, enfim! Levantou-se e... a emoção que sentiu fez-lhe desaparecer a febre, diz ele (há que estudar a emocionoterapia). Deram-lhe água, fruta e pro-puseram-lhe levá-lo para bordo, o que ele, naturalmente, recusou. Fez escala em Mula e Waldi, Janboel Bahr e Jidda, depois em Port-Soudan, Massaoua, El Hodeiha, para chegar a Aderi. Lembrou-se, então, de seguir a costa até Oman. Entre Haura e Makalla viu uma coroa de árvores numa colina e palpitou-lhe que lá houvesse água. Desembarcou, portanto, com uma vasilha e, como a região era pouco segura, pegou também no mosquete com a baioneta que se podia fixar ao cano. Junto das árvores, encontrou dois homens com três camelos; fazendo apelo a todo o árabe que sabia, cumprimentou-os, perguntando-lhes se havia água. Um dos homens respondeu com uma frase incompreensível e Zitt, pressentindo o perigo, rodou os calcanhares e encaminhou-se para a costa. O árabe saltou para o seu lado e pegou--Ihe no braço; com a outra mão, arrancou-lhe o binóculo. Zitt aproximou-se dele para o recuperar, mas o árabe apoderou-se da sacola que o rapaz trazia à cinta. O nosso navegador, pegando no mosquete, deu com ele um coronhada na tíbia do agressor, que largou a sacola. O resto da história é como no cinema: Zitt corre o mais que pode, tanto quanto lhe permite a perna estropiada; o árabe persegue-o, alcança-o sem dificuldade, aperta-lhe o pescoço; numa das mãos brilha-lhe uma lâmina. Grande plano: o rosto assustado e congestionado de Zitt; rito de angústia. No seu olhar, lê-se, porém, de súbito, uma determinação ina-balável: não tem outra coisa a fazer! Com um gesto hábil, enterra a baioneta no corpo do homem. Mas não é Isto que o detém! (É um homem duro, duro...) Ergue o punhal... Contudo, Zitt teve tempo de lhe acertar uma coronhada na cabeça. O árabe abateu-se na areia. Recuperando à pressa o binóculo, Zitt desatou a fugir, coxeando, o mais depressa que podia. E saltou para bordo de Bayern. Porém., aproximava-se o outro árabe. Não havia tempo de largar antes da sua chegada. Subtítulo: «Ou ele ou eu!» Zitt aponta a arma e dispara; o homem dobra-se em dois e rola na areia, onde o seu sangue faz uma grande poça. Ah! Zitt iça apressadamente a âncora e, graciosamente inclinado sob a brisa, Bayern ruma ao largo, transportando o herói triunfante (e sem fôlego). Diafragma, fundido, FIM. Pena que não haja uma heroína loura; mas o beijo não faz falta ao vencedor - é o mar que lho dá. Livre da terra, Zitt procura o largo, reencontra o círculo intacto do horizonte durante dias e dias. Não explica como se comporta Bayem» pobre canoa de água doce, o que significa, pois, que se comporta bem. Os dias passam e formam semanas, as semanas um mês, em dias tão monótonos e regulares como o vento que, nesta estação, sem monção, abrandava com o pôr-do-sol e caía de todo com ele. Há dois anos e meio que Zitt deixou a Alemanha. Uma manhã, o sol ergueu-se atrás de um manto de nuvens inquietantes. Ao longo do dia, o céu cobriu-se, a brisa cresceu de intensidade, o mar agitou-se e o ar tornou-se pesado. O vento, do norte, virou bruscamente ao sul, enquanto a escuridão surgia. Contando com uma noite desconfortável, mas sem imaginar o que se ia passar, Zitt lançou a âncora flutuante e deitou-se. Para distrair o espírito, leu umas linhas de um jornal grego já antigo e adormeceu. Seria, no máximo, uma hora da manhã, quando foi despertado por um choque terrível; o parquete subia a estibordo, enquanto que, a bombordo, mergulhava. Para fora, depressa! Bayern estava condenado e na altura em que Zitt conseguiu saltar da cama, adernou. Lançado ao mar, o rapaz ganhou como pôde o fundo chato do barco, agarotando-se a ele com todas as suas forças, enterrando os dedos na fenda do poço de deriva. O arinque da âncora flutuante acabou por ceder, gasto, apesar de ter sido forrado em terra. Embora as mãos o fizessem sofrer horrivelmente, embora as suas articulações estalassem, Zitt não desistiu. Ficou nesta posição até ao nascer do dia. Por sorte, a tempestade amainou um pouco; após «ter aguardado ainda algumas horas para recuperar as forças» (?), Zitt mergulhou para libertar o mastro e a vela; depois, aproveitando as vagas devolveu o casco à sua posição inicial e subiu para o cockpit. O reservatório de água doce tinha desaparecido e havia ainda, pelo menos, 500 milhas a percorrer até à costa mais próxima. Passados instantes de abatimento, Zitt começou a esvaziar o barco, trabalho de Danaides, pois a ponte flutuava a rasar a água e as vagas anulavam num segundo o pobre ganho obtido em longos minutos de duro trabalho. Por fim, Zitt viu o casco elevar-se, lentamente. Quando, horas mais tarde, o barco ficou sem água, pôde reunir o aparelho e, pouco depois, tudo estava mais ou menos em ordem. Tudo, salvo a água doce perdida. O jovem pensou: «Enquanto há vida há esperança! Terei a sorte de sair disto? Talvez... Não, sem dúvida!» Retomou a navegação com um aparelho de improviso, içando o sinal de pedido de socorro na sua quadrangular. No quinto dia, viu um ponto no horizonte, depois um fumo, a seguir mastros, depois um vapor. Era um paquete, o Queen of Sumatra, que ia de Ceilão para o golfo Pérsico; avistou Bayern e mudou de rota. Zitt subiu a bordo pela escada da popa e pediu água, que bebeu de um trago, por entre o disparar das máquinas fotográficas. Muito excitados, os passageiros pediam fotos do solitário, mas não as havia. Um americano passoulhe, então, um bilhete postal para ficar com um autógrafo e quando o rapaz lho devolveu assinado, exclamou «Dez dólares!», metendo-lhe uma nota na mão. Foi o principio do alvoroço; durante meia hora, Zitt assinou postais, enchendo os bolsos de notas de banco. O comandante do paquete ofereceu-lhe dois barris de água doce, que podiam conter juntos uma centena de litros. E depois de ter constituído uma maravilhosa «atracção» para os turistas, Zitt retomou a sua rota, rumo às índias. A décima primeira semana chegava ao fim; o objectivo, a índia, não podia estar longe. Finalmente, ao nascer do dia, avistou terra; dela se destacaram canoas de pesca que, pasmadas, seguiam o estranho «navio». Zitt chegou a uma aldeia de cabanas. Pôs o barco em seco e saltou para solo hindu. Este, porém, começou a oscilar, a tremer debaixo dele. Era então aquilo a chegada às índias, o sonho da sua infância, as paragens por que esperava havia três anos? A aldeia era exclusivamente habitada por indígenas, dos quais nenhum falava inglês. Era, pois, impossível a Zitt fazer-lhes compreender que procurava uma grande cidade, Carachi ou Bombaim. Nem sequer sabia se devia encaminhar-se para o norte ou para o sul. Mostrou-lhes o mapa, mas nenhum o compreendeu. Desesperado, desenhou num papel um soldado inglês e, por sinais, disseram-lhe que se dirigisse para o norte. Remontando ao longo da costa, deteve-se numa aldeia onde soube que, a poucos quilómetros, vivia um inglês. Zitt meteu por um atalho para o ir visitar, fraquejou e... então, Júlio Verne? No caminho, foi picado por uma serpente. Servindo-se de uma faca, cerrando os dentes, abriu e limpou a mordedura e fez meia volta. A sua perna, porém, inchava a olhos vistos e o cérebro tornava-se-lhe cada vez mais brumoso. Compreendeu que ia desmaiar e acabou por cair na selva. Continua no próximo número. Não. Vamos acabar sem mais delongas. Zitt acordou num lindo bengalis. Na sua frente, surgiu um homem ruivo que se pôs a rir. A doçura dos seus olhos contrastava com a expressão dura do rosto. «Então, ainda está cansado?» E, ao pronunciar estas palavras, apertou a mão de Zitt. Este viu na grande mão vermelhusca do homem outra mão, esta de múmia, de pele amarelada e com rugas nas articulações. Era a sua própria mão. Sim, tinha que reconhecer que era a sua própria mão. Soube, minutos depois, com grande pasmo, que os indígenas o haviam encontrado na floresta cinco semanas antes e que o tinham transportado para casa do inglês. Desde então entre a vida e a morte, parecia ter perdido a memória e a razão: acabava, porém, de despertar. Zitt compreendeu nessa altura o motivo por que, ao recobrar os sentidos, tinha tido, olhando o seu anfitrião, a sensação do «já visto». Depressa recuperou as forças, mas compreendeu que durante muito tempo não estaria em condições de navegar. Aliás, o passeio bastava--Ihe. De Carachi, embarcou numa chalupa para Port Said e, depois, graças aos dólares dos passageiros do Queen of Sumatra, pôde tomar um vapor para a Itália e o comboio para a Alemanha. Só uma coisa nos espanta: não diz o que fez de Bayern. Teria abandonado, sem nunca mais o ver, o admirável engenho que, fielmente, vivera com ele tantas peripécias? JOHN E. SCHULTZ «É imoral que um doido assim se safe, enquanto pescadores honestos se afogam!» Este juízo da encantadora e subtil livreira que nos indicava a aventura seguinte, parece-nos digno de figurar como exergo do relato. Ninguém ignora que o mar não é moral. Tem tudo do sátrapa oriental que condena ou perdoa a bel-prazer, perdendo os melhores e salvando os piores. Ao jovem John Schultz, estudante americano, de 18 anos, o mar disse, parafraseando a deusa de Maurras: A tua inconsciência teve a sorte de me agradar. Não precisas de saber porquê. John, interrompendo por algum tempo os seus estudos, tinha saído de Chicago na Primavera de 1947, para visitar a mãe e o padrasto que residiam temporariamente no Equador, nas margens do Pacífico. Como a reabertura das aulas só se verificava no Outono, disse consigo: «Tenho cinco meses para viajar. Por que não voltar para casa pelo caminho mais longo?» Foi então que leu um poema de John Masefield, intitulado Sea Fever: Tenho que descer até ao mar O mar solitário e o céu. Descer até ao mar? John já lá estava. Todavia, perto dali, podia começar a mais longa descida possível, a do Amazonas. Perto... na horizontal. Entre os dois, havia a cordilheira dos Andes, cujos cumes atingem nesta região os 6000 metros. «Bastava» vencer a cordilheira a pé, pelos atalhos das mulas, perto de Quito; na outra vertente, John encontraria o Napo, afluente do grande rio. Assim fez. No local onde o Napo se torna navegável, John comprou, por 4 dólares e 20 cêntimos, uma canoa indígena, um tronco escavado e... muito mais versátil que as canoas canadianas que Schultz conhecera em Chicago. Desce como pode os rápidos, come carne de macaco (não de conserva!) que, parece, é muito superior ao papagaio e atinge Iquitos, ao norte do Peru, não longe da confluência do Napo com o Amazonas. Aí tem de recompor os fundos, porque o padrasto só lhe havia dado um magro viático inicial: desembaraça-te, meu filho. John trabalha cinco semanas, como mecânico. A bem dizer, é precisamente a partir de Iquitos que a descida do Amazonas se torna banal: grandes navios (mesmo cargueiros de 7000 toneladas na estação das águas altas) percorrem-no sem cessar pelas 2300 milhas que separam Iquito do oceano Atlântico. De tal maneira que, para enviar mercadorias pesadas desta cidade peruana para a capital, Lima, ou vice-versa, se utiliza este rio, passando pelo Panamá e pelo Pacífico. O que dá 6500 milhas para um trajecto de 650 em linha recta! John economizou alguns fundos e mandou construir um barco um pouco mais estável, a que chamou Sea Fever («febre do mar», no sentido de paixão, de desejo), como o título do poema. O barco, ou melhor, o engenho é qualquer coisa de espantoso, feito também no tronco de uma espécie de cedro. Neste cedro escavou-se uma área cilíndrica, de modo a obter-se uma espessura de 2,5 cm para os lados e 6,3 para o fundo. O trabalho faz-se através de buracos sucessivos que se tapou depois com cavilhas (as quais se comportarão, mais tarde, muito bem no rio e muito mal no mar...). Escavado o tronco, abre-se, ao longo de uma geratriz, uma fenda que não vai de todo de extremo a extremo. Coloca-se então a madeira oca por cima de uma fogueira para que ela trabalhe e afastamse os dois bordos da fenda, preenchendo a abertura à medida que se vai alargando com cunhas cada vez maiores. Assim (quando isto não falha, ou seja, uma vez em cada duas) com um tronco de 75 cm de diâmetro obtém-se uma canoa monóxila (chamada casco, casca) de proa e popa afiladas, de 1,20 m de largo. Sea Fever tinha 5,15 metros de comprido. Os índios explicaram a John como se servir dela com pangaias, não da ré, mas sim da vante. E o rapaz, largando de Iquitos a 4 de Agosto, desceu assim - a única dificuldade era não se perder entre os inúmeros braços do rio - até Manaus, onde o rio Negro se junta ao Amazonas, mais ou menos a meio caminho do mar. Aí, John pensou que a largura do rio lhe permitiria navegar è vela e, por isso, resolveu-se a aparelhar em yawl o tronco de árvore escavado! Começou por lhe acrescentar uma quilha falsa e por o reforçar com cinco costelas e um verdugo, aumentando um pouco o bordo livre (a altura acima da água)... que não atingia, porém, senão 20 cm, com carga. Vinte centímetros! Construiu uma pequena passarela com uma minúscula braçola e pontou, se assim se pode dizer, a ré e a vante numa trintena de centímetros, reservando, além disso, uma outra «ponte» de 40 cm diante da enora do mastro grande. Mastro grande, enfim... Na verdade, este e o da vela de ré eram enternecedoramente iguais na mediocridade: 2,15 m cada um! Muito cómodo chegar à roldana da adriça e, sem dúvida, nunca criando a necessidade de lá subir. Depois, o mastro grande (da proa) foi prolongado por uma flecha que permitia içar uma bizarra «vela redonda triangular» (transformação, sem que ele saiba, do cyparum romano!) a que chama «o farrapo», por cima de uma vela verdadeiramente redonda. Para a navegação normal, o mastro grande tinha uma quadrangular de 4 m2 e um traquete com carangueja de 1,70 m2; a vela de ré era uma bermudiana de... 1 m2. E como o pano de vela era muito caro, foi tudo feito de pano de tenda, cosido a toda a largura! O mais extraordinário é que, segundo as fotos, o velame não enchia mal, mesmo depois da travessia. O leme era de machos; um minúsculo botaló projectava o traquete um pouco fora da proa. Instrumentos de navegação? Uma bússola de escuteiro! Um oficial da mercante, após ter tentado dissuadir o nosso jovem, deu-lhe um sextante de barco salva-vidas, um almanaque náutico e um exemplar do Navegador Prático Americano. Os conselhos, John não podia segui-los, não os escutou. E partiu. A sua experiência náutica consistia em algumas horas de snipe (minúsculo monotipo) num lago! Era verdade que Sea Fever (melhor, uma febre quente) se parecia um pouco com o snipe. Mas nenhum louco, nem mesmo Andrews ou Lawlor, havia partido para o largo com um snipe. Os cinco primeiros dias de descida à vela passaram-se sem incidentes. Mas, no sexto, John, que deixara as escotas amarradas - e, pior, as três na mesma amarração! - foi apanhado num redemoinho, viu todas as velas impar com vento contrário e adernou. Como a bordo nada estava preso, perdeu-se tudo, salvo um saco impermeável que continha o sextante e os livros. No charco, como se diz, John foi mordido pelas piranhas, os famosos peixes carnívoros (teve sorte: estes atacam muitas vezes um local particularmente... tenro e destacado). Enfim, vendo-o a cavalo no seu barco adernado, um canoeiro compassivo rebocou-o. Eis Santarém, ainda porto fluvial, depois Macapá na embocadura do Amazonas. Os prazos que John se fixou estão já largamente ultrapassados, visto que corre o mês de Novembro. Tanto pior para a reabertura das aulas! John vai visitar Belém (ou Pará), o grande porto do braço sul. Aí, um antigo oficial de marinha dá-lhe um bom compasso e uma pequena bomba. Em Macapá, John procura víveres: 10 libras de bolacha, 100 laranjas, algumas conservas, chocolate, 10 caixas de sumo de tomate e 45 litros de água em dois velhos bidões de azeite. E volta a partir a 13 de Dezembro de 1947. Durante 2 dias, navegou ainda no canal do norte, onde aguentou a passagem do «porocora», gigantesco macaréu que dá, em pequenas profundidades, uma ressaca de 3 metros. A ideia de John era afastar-se o mais cedo possível da costa, muito perigosa, e ir procurar a corrente lateral que impele para nordeste, para a ilha da Trindade. Mas eis que o vento, ele também, era de nordeste, mesmo pela proa e que Sea Fever (coisa que não nos surpreende) se recusa obstinadamente a bordejar. Aliás, para bordejar é preciso vontade e John já não tem: vomita as tripas. Amaina então a quadrangular e continua com a vela de ré e o traquete. No entanto, tem de se recompor: as cavilhas que obstruem os buracos outrora feitos para escavar o tronco «dançam» nos seus orifícios, e cada choque de onda empurra-as lentamente para o interior, criando uma torneirazinha bastante curiosa. John segura-as como pode, mas não consegue evidentemente tornar os buracos estanques. Terá de bombear de meia em meia hora. Fatigante. Tanto mais fatigante quanto John não pode dormir: só lhe é possível estender-se como um cão de espingarda, a cabeça debaixo do banco à popa. Este sistema avisa-o, aliás, automaticamente do nível de água, de modo muito mais eficaz que as latas de conserva de Rebell: quando a água lhe chega ao corpo, John sabe que tem de bombear. No primeiro dia, afasta-se uma dezena de milhas da costa. À noite, porém, amarra o leme e deita-se. De manhã... encontra-se exactamente no ponto de partida (sem dar à costa, ó sorte dos inocentes!). No dia seguinte e no outro, a mesma coisa ou quase. Só ao quarto dia reconhece a grande ilha de Maraca, a menos de 100 milhas do Amazonas. O mar e o vento tinham a gentileza de serem bastante moderados nas suas atitudes. Na noite de 16 de Dezembro, fizeram o favor, sempre com delicadeza, de passar a sudeste, o que dá, dobrada a ilha, vento pela popa. E a 17, John já não enjoa. Arruma, enfim, o material e as provisões... em estado que se imagina, sem caixas soldadas. O chocolate está verde. E um dos bidões de água vazio. A 18 de Dezembro, ao meio-dia, John perdeu a terra de vista, Sea Fever navega de vento em popa. Pois, mas... - diz o rapaz consigo - há que tirar o ponto. Pega no manual, devora-o e descobre com estupor («much to my surprise») que, para calcular a longitude, é preciso um relógio exacto. Um aborrecimento para quem se apresta a navegar para oes-noroeste. Quanto à barquinha, era uma velha barquinha de carretel, feita de uma tábua, de uma corda e de uma ampulheta; John não sabe puxar a cavilha e a taramela... não aguenta. Além disso, faz uma rota de tal modo em ziguezague que se torna impossível qualquer cálculo. Todos os dias, John exercita-se a tirar a meridiana, precedida de duas observações na meia hora anterior. A dificuldade... está em manter-se de pé a bordo da casca (que nome tão bem posto!). É obrigado a amainar a quadrangular; passa depois uma perna em volta de uma enxárcia, outra em redor do mastro da vela da ré e encaixa, enfim, um ombro noutra enxárcia. Assim, pode ter as mãos livres e tomar a altura do sol. Quando faz mau tempo, tem mesmo de se amarrar ao mastro da vela de ré. E chega a obter latitudes utilizáveis. Sabendo que a costa descai para ocidente, acompanha-a. A 24 de Dezembro encontra uma ilha. Diabo, que ilha será? Aproxima-se e fica estupefacto ao ouvir falar francês. Francês? Fala-se francês nesta região do mundo? E como encontra assim tão depressa uma ilha? A Trindade, já? Não, está longe dela, a mais de um terço do caminho. Navega, porém, muito perto do continente: é a ilha do Diabo, precisamente ao largo da Guiana francesa, cuja existência ignorava. Esta ilha, que tem para nós uma reputação muito má (é uma penitenciária) parece-lhe, com as suas árvores, um paraíso tão delicioso quanto inesperado. Volta a partir rumo à longínqua Trindade. Macerando de noite na água do cavername, sente-se gelado, embora se encontre no Equador. Como os acontecimentos lhe mostraram a pouca confiança que deve ter nas suas longitudes, acha mais prudente observar a rota dos navios. Comparando esta com latitudes convenientes, sabe «melhor» onde está. Assim, após 6 dias de rota para noroeste e deixando de ver navios, mas encontrando gaivotas (ó Moitessier), obliqua para oes-noroeste. O cálculo não é estúpido: a costa da ilha da Trindade faz com a embocadura do Orenoco uma barreira norte-sul; conhecendo a sua latitude, vai encontrá-la fatalmente. Na realidade, à noite, aparece o farol da ponta Galera, ao norte da ilha. John aborda-a. Mas está esgotado. Tem furunculose, todos os tipos de afecções cutâneas devidas à humidade quente. No hospital, durante oito dias, tratam-no com penicilina. Quando recebe alta não tem um centavo. Precisa de arranjar dinheiro. Associa-se a um certo De Boehmler e toma de empreitada a demolição de «duques de Alba» (estacas de amarração) construídos durante a guerra. Schultz aluga um escafandro para ir colocar dinamite na base das estacas e fazê-los saltar. O dinheiro assim obtido foi empregue em melhoramentos no Sea Fever: acrescentou-lhe uma nova quilha falsa de 115 libras e voltou a cavilhar a antiga, para a impedir de meter água (sem êxito), cobriu as suas pequenas pontes para as tornar estanques (também sem resultado), talhou uma giba de bordejar, esperando deste modo remontar melhor contra o vento (sem êxito). Comprou uma âncora, remos, e instalou toletes, visto o barco se ter tornado muito pesado para a pangaia. Tratava-se agora - já que John mantinha a decisão de regressar sozinho aos Estados Unidos tratava-se de abandonar o continente americano do Sul (a Trindade é praticamente o continente) para atingir o do Norte. Claro que, entre os dois, o mar não é livre: um rosário de ilhas, as Pequenas Antilhas, as Grandes Antilhas, Porto Rico, Haiti, São Domingos, enfim, Cuba ou as Bahamas, liga a Venezuela à Florida. Schultz podia ir de uma a outra. Não! Decidiu cortar caminho de Grenada até Porto Rico, através do mar das Caraíbas. Largou da Trindade a 4 de Maio de 1948 (as férias prolongam-se! A reabertura das aulas fica para o ano seguinte, pronto!) e ganha num dia Grenada; depois... gasta outro dia a entrar no porto de SaintGeorges. Durante dois dias terríveis - porque o enjoo ataca-o mais violentamente do que nunca vomita sangue. Após alguns dias de repouso, retoma o mar para a grande travessia. Gostaria de descansar numa ilhota, a ilha Aves. Mas, como o relógio lhe parou, «tem dificuldade em fazer uma navegação exacta»; duvida--se... Falha a ilhota e ei-lo de todo perdido (sempre a vomitar) no mar das Caraíbas. Os furúnculos regressam também. E o mau tempo. Sea Fever mete água, é preciso bombear, escoar. Mau grado este exercício, John gela. É que ele tem a febre, uma «sea fever» muito pouco exaltante. Faz rota nor-noroeste. Na verdade, corre poucos riscos de sair do Atlântico, pois o rosário de ilhas é quase contínuo. O único perigo é fazer «brum» nos escolhos. Precisamente o que esteve para acontecer uma manhã, a poucos cabos de distância: a lua do dia iluminou-lhe uma falésia na sua frente, alta no céu! Como John está a sotavento, o mar não quebra. Outra vez a sorte... E agora... E agora que falésia é essa? Schultz não faz a menor ideia. Há uma maneira de saber, uma maneira que constitui, pensa ele, o mais velho método de navegação do mundo: perguntar-lhe! Fundeia a canoa num sítio abrigado, vai a terra, interroga os habitantes: é a ilha Gorda, uma das ilhas Virgens inglesas. E terá um hospital para tratar aqueles malditos furúnculos? Sim, em Tortola, perto, para ocidente. O. K. John regressa ao barco. Mas sente-se muito fatigado, doente, já não tem força para bombear. Numa noite, a canoa enche-se de água. Apesar de tudo, flutua sem velame. Tortola, enfim! John é tratado. Vai de Tortola a São João de Porto Rico (114 milhas) em 29 horas, proeza muito notável com semelhante engenho. Aí, o clube náutico local encarrega-se das reparações do «navio». Schultz, em vez de passar a sotavento das ilhas, portanto, em mar abrigado, prefere, para andar mais depressa, acompanhá-las a barlavento e bastante ao largo. Voltou a partir a 4 de Junho e navegou durante 5 dias com brisas ligeiras. No dia 9 às 22 horas, sente um choque. O farol apaga-se. O barco abate-se, a água passa por cima da braçola. O cabo da âncora que pendia no exterior (!) de través, prendeu-se a qualquer coisa (os marinheiros, os navegadores de recreio, mesmo os trapalhões têm o direito de rebentar de riso com tanta incompetência! Em quê? Num recife de coral. Schultz, que temia encostar-se à Hispaniola de Cristóvão Colombo (Haiti-São Domingos) atirou-se mais ao norte contra o Silver Bank, recife coralífero cujo nome indica bem que o cobrem rebentações. Schultz teve a sorte de o atacar pelo bordo a sotavento; mas o esforço arrancou um «pitão da vante colocado abaixo da linha de flutuação» (pitão do cabresto do gurupés, sem dúvida). John teve de mergulhar para introduzir uma cunha no buraco, sem obter grande resultado. Retoma o largo por dentro do recife. Encontra calmas e um navio bananeiro que lhe dá pão e água. No décimo dia pensava fazer escala na Grande Inágua, a ilha mais meridional das Bahamas (ou Lucaias); mas, após ter dormido um bom sono, verifica que ultrapassou o seu objectivo (não faz mal! Sem maldade, apetece vê-lo falhar em cheio, pelo menos uma vez; isto é imoral, como diz a livreira). Bom! Regressa, pesca, atinge enfim Mattew Town, na Grande Inágua. Deverá agora acompanhar Cuba pelo norte; o vento, porém, aumenta perigosamente de intensidade. O barquito balança com violência, os seus mastros tocam a água; mas, graças à nova quilha falsa, aguenta-se sempre. Num destes balanços, John calca o sextante caído. Conserta-o! E pensar a gente nas precauções de que os navegadores rodeiam o sextante! Um pedaço de fósforo substituirá a mola do espelho, os vidros coloridos passarão a ser óculos de sol partidos; e o aparelho assim «consertado» tem de ser empregue ao contrário, porque o espelho está muito «doente»! Na barreira rochosa do nordeste de Cuba, Sea Fever salta ao eixo sobre um recife de coral; três saltos dados, acha-se outra vez em água livre, mas cheio dela, com a verga da mezena e o botaló arrancados, a quadrangular rasgada. Felizmente que o mar está calmo e John pode atingir a pequena ilha de Cayo Verde, onde conhece uma encantadora família cujos homens lhe reparam as antenas e as raparigas lhe cosem a vela. Aqui vive durante algum tempo, de modo idílico. Volta a partir para a etapa final. E depois de ter tocado as ilhas Anguila, entre Cuba e a Florida, entra, a 30 de Junho de 1948, após uma espectacular rajada final, na quarentena de Miami. E finita la commedia. CAPÍTULO 7 - A REGATA TRANSATLÂNTICA SOLITÁRIA OU A SOLIDÃO ORGANIZADA.. No lado oposto a estes loucos, existe uma nova fórmula de navegadores solitários que é preciso classificar à parte, pois os seus objectivos, o seu «espírito», a sua realização, são totalmente diferentes do que anima, do que viveram todos os heróis deste livro - e do que, sem qualquer dúvida, animará, encantará ou decepcionará muitos outros. Trata-se das regatas solitárias organizadas, primeiro através do Atlântico, logo após as mais modestas travessias. O leitor recorda-se do «precedente» da absurda regata de barcos minúsculos corrida em 1891 por Lawlor e Andrews no sentido oeste--leste, entre Boston e a Inglaterra, portanto, com ventos dominantes. A ideia foi retomada, sessenta e nove anos mais tarde, por um inglês, o coronel Hasler, reformado da Royal Navy onde se cobriu de glória, com o extraordinário raid em kayak contra Bordéus, durante a guerra. As diferenças de princípio eram, evidentemente, consideráveis. Primeiro, a partida foi dada de Inglaterra para a América, portanto, contra os ventos dominantes se se seguisse a rota directa. Depois, a navegação solitária expandiu-se enormemente nestes dois terços de século; havia-se adquirido experiência, os barcos tinham-se tornado «sérios». Todavia, a ideia do coronel em 1960 e ainda em 1964 não era, de modo algum, querê-los convencionais, clássicos, «normais» em recreio, mas, ao contrário, favorecer o ensaio nestas grandes distâncias de fórmulas originais: velas de juncos, muiticascos, etc. Os modernos meios de navegação (rádio, etc.) haviam-se vulgarizado, mas não imposto. Serão ou não empregues conforme se quiser. Mas a regata ia ser organizada a sério; a vigilância por navios de guerra e por aviões seria possível. Enfim e sobretudo, atravessar o «mar de arenques» tornara-se banal e o interesse poderia apenas incidir - sem receio de demasiados acidentes - nas performances de tempo. Em 1960, os concorrentes eram cinco, quatro britânicos e um francês. Parece que todos guardaram boa recordação da aventura, na medida em que todos se reinscreveram em 1964. O vencedor - 40 dias e meio - foi o decano, Francis Chichester, com o seu barco Gipsy Moth III, cúter clássico de 12,13 m, deslocando 10,7 toneladas, pesado para ele, mas rápido nas vagas contrárias. O segundo, o coronel Hasler, e o quarto, Valentine (Val) Howells, utilizavam ambos um barco popular - por isso chamado Folksboat - de 7,90 m; Val Howells Hasler, porém, havia substituído o velame normal por uma vela única, fasquiada à maneira dos juncos chineses, de superfície muito pequena (22,3 m2 contra 35 m2 para o aparelho de série) que se revelou notável, pois permitiu a travessia em 48,5 dias contra os 63 do sistership de velame regular. O último foi Jean Lacombe, esse operário parisiense que de uma oficina de marroquinar e de três voltas na água do Sena se tinha lançado anteriormente sozinho, de todo ignorante do mar, através do Mediterrâneo, depois do Atlântico, ao preço de desventuras épicas contadas na sua desopilante obra A moi l'Atlantique que se poderia subintitular «Ou o que não se deve fazer». Jean Lacombe Aprendeu à sua própria custa e se chegou em último, num tempo bastante longo (74 dias), foi porque, tendo tomado a rota do sul no alísio, saiu dela demasiado depressa. O seu barco era de deriva, lastrado de série, um Cap-Horn de 6,50 m, cujo interesse era o de mostrar que se pode atravessar o Atlântico sozinho com um barco pequeno «vulgaríssimo» (o que já se sabia, toda esta obra o mostra), e também com uma construção francesa de série (os ingleses haviam igualmente feito a mesma demonstração com o seu Vertue de 7,70 m, mas com dois tripulantes, de 50 e 60 anos). Houve dois concorrentes que não tiveram sorte: poucas horas após a partida, Lewis ficou sem mastros; teve de regressar a Plymouth donde voltou a partir dois dias mais tarde. Quanto a Val Howells, o rebentar de uma vaga quase o voltou e o navegador viu-se obrigado a perder oito dias nas Bermudas para proceder a reparações. Embora os tempos feitos nada tenham de extraordinário (independentemente das regatas, Chichester, de novo sozinho, gastou, em 1962, 33 dias, 15 horas e 7 minutos; em 1964, gastará um pouco menos de 30 dias e Tabarly 27), a regata teve grande repercussão e quando, em 1963, foi anunciada a sua edição de 1964, os candidatos pulularam: mais de 75 navegadores se quiseram inscrever. A responsabilidade dos organizadores tornava-se bastante grave, pois era evidente que nem todos estes homens eram solitários por gosto nem por capacidade, antes impelidos pelo espírito de competição, em grande parte inconscientes. Sim, mas que critério adoptar para os eliminar? O barco? Mesmo que as ideias do organizador tivessem sido outras, teria sido impossível criar dificuldades, eliminatórias, pois, na verdade, a primeira das travessias do Atlântico por um homem sozinho tinha sido efectuada outrora por Johnson com um dóri, embarcação de serviço, aberta, de pescadores de bacalhau! E depois, sem falar dos loucos, muitas das mais belas travessias havia sido ainda realizadas, como vimos, com as mais surpreendentes unidades, desde o kayak de tela do capitão Romer à piroga de Lindemann, à canoa pneumática de Bombard, ou no Pacífico à jangada de Willis. O regulamento decidiu, pois, que os yachts de qualquer envergadura e de todos os aparelhos ou tipos podiam concorrer... obtido o acordo dos organizadores. Como não nos chegou nenhuma queixa, parece que as recusas eram legítimas. Quanto aos candidatos, que deviam ter mais de 21 anos, sessenta foram afastados como «pouco sérios» ou então, desvaneceram-se em fumo antes da partida; felizmente que este desbaste correu bem... Mas que se passará com as regras futuras? Semelhantes bolas de neve são difíceis de derreter... mesmo no mar, suficientemente perto da margem para que delas nada resultem de mal. Os concorrentes que partiram a 23 de Maio de 1964 de Plymouth com destino a Newport foram, desta vez, dois franceses, Eric Tabarly e Lacombe, doze britânicos e um dinamarquês vindo da Nova Zelândia, sozinho, por mar, para tomar parte na regata. Dois inscritos não compareceram à partida: Mac Lendon, engenheiro americano cujo barco (o mais pesado - com quadrangular! - e o mais velho, que teria permitido uma comparação Interessante) explodiu em Yarmouth, três semanas antes da regata, e Arthur Piver que, vindo por mar das Bermudas com o seu trimaran Bird numa travessia durante a qual teria atingido velocidades de 30 nós (!) se atrasou, apesar de tudo, e teve de desistir. Classificados por ordem de idades, eis os concorrentes: 63 anos. Francis Chichester, inglês, de quem já falámos, vencedor em 1960. Quis mudar de barco, mas não pôde e voltou a partir, pois, com o seu Gipsy-Moth III apenas melhorado (como quase todos) com um leme automático de grande catavento. Quatro anos a mais para o homem e para o barco não tinham, por certo, tornado este último menos pesado de manobrar, com as suas duas grandes velas de «slutter» marconi. Rádio emissor. 55 anos. Alec R. Rose, britânico, hortelão, mas com prática de navegação solitária em mares frios. O seu Lively Lady é um cúter de recreio, um marconi com pequeno botaló em madeira, de 11 m. Catavento de leme médio. 50 anos. Coronel H. Hasler, britânico, o organizador, no mesmo folks-boat Jester com um camarote de convés incómodo, pesadão, e vela de junco única. Catavento de leme pequeno e frágil. 47 anos. Dr. David H. Lewis, britânico, educado na Nova Zelândia, médico, navegador solitário no Mar do Norte, concorrente em 1960. O seu barco, Rehu Moana é um «catamaran» (casco duplo) insubmersível com 12,20 m de comprimento, muito largo naturalmente (5,18 m), em contraplacado, porém, com grande peso, aparelhado em cúter com pequeno catavento. Botaló bizarro, bípode, camarote de convés em ângulo agudo, sem passarela. Lewis vai continuar a volta ao mundo. Rádio emissor. 45 anos. Jean Lacombe, francês (actualmente fixado nos Estados Unidos), desta vez com um Gollf Jog de série (sloup de plástico de 6,50 m; é o mais pequeno) ao qual se acrescentaram um esporão para melhorar a manutenção da rota e um catavento muito grande. 45 anos. Axel Pedersen, dinamarquês, emigrado para a Nova Zelândia. Vindo, de 1958 a 1960 (onde falha a partida), pelo Pacífico, e sem qualquer experiência à partida. Desta vez retido na Dinamarca, conta de novo dois dias de atraso. O seu barco, Marco Poio, é um ketch marconi de 8,54 m, dimensão muito pequena para este aparelho. Não tem catavento. 45 anos. Dr. Robert MacCurdy, médico escolar e rural britânico. O seu barco, Tammy-Noris é um soberbo ketch marconi de 12,35 m, com razoável velame, muito marinheiro e clássico. 38 anos. Valentine Howels (não confundir com o seguinte), britânico, concorrente de 1960, antigo marinheiro da mercante e de pesca. O seu apelido levou um jornal francês a tomá-lo por uma mulher e por isso se denominou a si próprio «a mulher de barba transatlântica». O barco holandês que lhe emprestaram, Akka é um belo sloup marconi de aço de 10,70 m, Catavento bastante grande. 38 anos. William (Bill) Howell, australiano, hoje dentista em Inglaterra, recordista da travessia do Atlântico pelo alísio em 24 dias circum-navegador parcial (Europa-Tahiti-Vancouver) com o seu Wanderer III. Barco actual: Stardríft, cúter marconi de botaló e velha silhueta com 27 anos, de 10,50 m. Pequeno catavento descentrado. 33 anos. Geoffrey Chaffey, inglês nascido em Calcutá, arquitecto, etc, sem qualquer experiência da navegação solitária. Para a regata comprou, sem o ver (I), Ericht II, cúter marconi de botaló, de 9,50 m, com vinte e seis anos. 32 anos. Eric Tabarly, veja mais adiante. 32 anos. Michael Butterfield (o nome seria um pseudónimo), inglês, familiarizado, parece, com regatas no mar alto, mas não sozinho. O seu barco, Misty Miller, é um «catamaran» clássico de 8,84 m, aparelhado em cúter (com uma enorme bóia no mastro!), muito pequena, posto emissor. 31 anos. Derek Kelsall, inglês, petroleiro na África e nos Estados Unidos; em 1963 foi, em «trimaran», do golfo do México à Maiorca. O seu barco, Folâtre é um triplo casco (só o casco central é habitável, os outros são mais flutuadores. Trata-se de uma «piroga de balanceiros») de 10,66 m, aparelhada em ketch... com a qual navegou apenas 5 dias! Pequeno catavento. 28 anos. R. M. Ellison, inglês, marinheiro da mercante. Inscrito em 1960, sofreu um acidente à partida. Emprestam-lhe Hala, casco de plástico moderno, de 10,90 m, mas aparelhado com dois mastros sem enxárcias e duas velas de junco que fazem dele, se quisermos, um palhabote (sem vela de giba, portanto, mais exactamente, um «sinagot»... oriental!). Pequeno catavento, rádio emissor. 28 anos. Robert Bunker, inglês empregado na cervejaria «Guiness» de Londres. Não tem outra experiência de navegação solitária que não sejam alguns passeios no mar... em canoa a vela! Mas é navegador de recreio de cruzeiro. Nota curiosa: tendo recebido do patrão 48 garrafas de cerveja... pretende não gastar mais de 48 dias na regata! Gastará um pouco menos de 50... Casou-se na véspera da partida: viva a fé! O seu barco, Vanda Caelea, é um sloup marconi de 7,62 m (o mais pequeno depois do Golif de Lacombe; será muito mais rápido por milha percorrida). Tábua trincada. Catavento médio. Os nossos dois concorrentes franceses são extraordinariamente opostos. Um, Lacombe, um homem simpático de origem popular e também o menos marinheiro possível, utilizando um barco de pequeno cruzeiro, é navegador solitário por gosto, faz parte dessa grande família de originais que, sem um centavo, passeiam nos mares com pouca pressa, sem grandes saudades dos continentes. Eric Tabarly, primeiro-tenente da armada, é um magnífico atleta. Bretão nascido em Nantes, passando as suas férias de menino na Trinité-sur-Mer - o melhor de todos os nossos portos, o que melhor permite o estudo graduado das dificuldades do mar - foi educado desde os seis anos por seu pai, principalmente a bordo de um enorme e antigo «cúter-franco», Pen Duíck I com três velas de giba, enorme vela quadrangular, flecha e mesmo mastro de flecha «calável», grandes prolongamentos, etc. Ganhou, por isso, ao mesmo tempo o gosto do mar pelo mar e o da regata, a formação dos marinheiros da costa bretã e a da regata do mar alto. O seu barco, Pen Duick II (bretão Pendufg, melharuco de cabeça negra), construído em contraplacado (que não se diga que este material só é bom para as praias!) em Trinité-sur-Mer (Morbihan), foi especialmente concebido, estudado, preparado para a travessia. Embora provido de uma grande linha de flutuação (10 m), favorável à velocidade, é leve e contenta-se, portanto - além da enorme triangular e da grande genovesa - com um velame bastante limitado, para mais muito dividido - o barco é um ketch de duas velas de giba mais uma vela de estai ocasionalmente entre os mastros (!). Parece muito confortável para um homem sozinho, mas não conviria praticamente para cruzeiro deste ponto de vista e do da aportada, por certo má, dado que a quilha, em bolbo, é muito curta e alta. (Espera-se, pois, que o seu êxito não conduza o recreio de cruzeiro francês, já tão marcado pelo espírito de competição, para barcos ainda mais orientados neste sentido, para um uso na realidade - mesmo com veleidades desportivas - totalmente diferente.) Os barcos são todos de envergadura razoável, a maior parte mesmo da máxima dimensão utilizável por um homem só; mas os três barcos de menos de 9 metros comportaram-se muito bem, principalmente o sloup de 7,72 m de Bunker que, como vamos ver, conseguiu a maior velocidade «à milha». Os «tempos» figuram no quadro a seguir. O primeiro número indica o tempo real, o segundo o «tempo compensado», tendo em conta o rating do barco, quociente complicado mas em que o comprimento da embarcação desempenha um papel essencial. Este «tempo compensado» não era aplicável aos muiticascos. De modo geral, observar-se-á que pouca influência teve na classificação: além do prejuízo infligido a Elison e de uma interversão entre o 4.° e 5.°, a classificação não foi modificada. Na realidade, uma regata destas não dá «oportunidades» idênticas a todos. Com efeito, os desvios de rota podem fornecer a uns ventos favoráveis, a outros rajadas pela proa, bruma, calmas; pior ainda, quando o primeiro chegou, os outros podem encontrar tempos contrários aos quais esse primeiro escapou (1). Foi o que aconteceu em 1964: (1) e o «tempo compensado» não compensa coisa nenhuma. Tabarly «passou» e os seguintes encontraram, muito perto de terra, calmas brumosas que lhes aumentaram o atraso de um modo totalmente desproporcionado. O que é justo (como fez Tabarly com admirável honestidade) ver onde estão os outros no dia da chegada do vencedor: o velho Chichester, com o seu pesado barco clássico, estava muito próximo; em condições meteorológicas iguais tinha menos de dois dias de atraso. O tempo compensado não podia ser igual (a não ser com muita sorte, também sorte excepcional), mas aproximava-se muito. Deste ponto de vista, o trajecto de Lacombe, que o seu ratlng deixava em desvantagem por causa da «carga» das vagas, é mais do que honroso. Os muiticascos, ao contrário, julgados à partida muito temíveis, pois, teoricamente, podem andar três vezes mais depressa que os outros, pelo menos com certos ventos, não obtiveram bons resultados, embora o tempo verdadeiro de Kelsall seja bom. Talvez que alguns ajustamentos permitissem corrigir esta decepção. No conjunto, a regata foi favorecida por uma proporção anormal de ventos favoráveis, uma ausência quase completa senão de rajadas (muito limitadas), pelo menos de tempestades contrárias. Esta circunstância desfavoreceu os concorrentes que tinham escolhido a rota norte - fria, desagradável, mais longa - na esperança de aí encontrarem ventos favoráveis: como os «directos» os tiveram, o sacrifício foi vão. Quanto aos que escolheram o sul e o calor (os Açores), cálculo, por vezes, excelente, já que «se pode normalmente» não encontrar nenhum vento contrário e cobrir, portanto, mais rapidamente uma rota porém mais longa, foram desta vez «enrolados» (para não empregar um palavra mais marinheira); para a próxima poderá ser diferente. Do mesmo modo, noutro ano, os barcos pesados mais «opiniosos» nos ventos fortes poderão achar-se favorecidos, enquanto que Pen-Duick o foi por brisas ligeiras. Tirar conclusões definitivas destas duas experiências seria um erro em todos os domínios. Inversamente, a segunda mostra que os lemes automáticos análogos ao concebido por Marin-Marie e descrito na p. 105, são ainda muito frágeis. O de Tabarly em breve se avariou e, depois, ficou sem conserto, o que condenou o navegador a dormir por períodos de um hora e meia, encarregando de o despertar um despertador que, por sua vez, também se estragou. A travessia tornou-se-lhe muito mais difícil. Mas, como diz, talvez mais rápida, evitando desvios nocturnos devidos a alterações da direcção do vento que o catavento não corrige, evidentemente, sozinho. O leme automático de Lewis não funcionou e o de Butterfield funcionou muito mal. Além da carangueja de Val Howels, quebrada por uma vedeta à partida - acidente de origem externa - as avarias foram todas falhas (mínimas) de aparelho à excepção de uma só: a ruptura do leme de Kelsall, talvez por destroço. Este leme de trimaran era, por certo, muito vulnerável como é o caso (alguns fazem tremer) dos «lemes suspensos» de muitos yachts modernos. O acidente mais frequente foi a ruptura de um eixo de roldana, acidente muito grave quando esta roldana se acha implantada num mastro marconi onde é preciso subir com mar difícil. Tarbarly conseguiu (com grande esforço e não sem perigo), mas Val Howels não o pôde fazer e teve de aportar à Irlanda, o que lhe fez perder um dia. Acidente igual aconteceu ao mastro grande de Ellison. Será que não se poderão utilizar roldanas sólidas? Que importarão algumas gramas a mais? Butterfield, Lewis e Lacombe viram a sua carangueja partida. Mesma observação. De repente, Lewis deixou de poder utilizar toda a sua vela, o que lhe fez perder muita velocidade. Os que tiveram mais aborrecimentos foram, por um lado, Butterfield com o seu catamaran: três cavilhas de quilha partidas, o que deu origem a perigosa água aberta e o obrigou a rumar aos Açores. O capot do motor arrancado, etc... Quem é o culpado? O princípio do catamaran demasiado rígido à vaga ou uma construção «leviana»? Por outro lado, Ellison: perdeu a sua barquinha (os marsuínos «comeram» duas das três levadas por Tabarly), pouca sorte. Mas a sua vela de junco pregou-lhe partidas piores: partiram-se várias fasquias e uma perfurou a vela; o mastro da mezena, sem enxárcias, quebrou-se - e o barco não pôde chegar ao fim. Este aparelho exigiria certamente mais cuidado. Em resumo, eis o principal interesse de tais manifestações: muito mais que os homens, todos competentes (não se verificou uma única falta de navegação, o que é reconfortante e honra a marinha de recreio), levar os barcos ao «banco de ensaios» de modo assaz severo; permitir às soluções modernas compararem-se com as fórmulas clássicas mais provadas. Sim. Mas a que preço? O do conforto: para ganhar horas, Tabarly teve de sair da doce Gulf-Stream e entrar nos ventos gelados; outros vão procurar o norte plano, enquanto que a rota normal dos solitários é a dos «mercadores», o delicioso sul. Ao deus velocidade, ao deus «relação entre as velocidades» mesmo a distracção pura sacrifica-se o prazer. Quase a saúde: dividir o sono em pequenos períodos, em vez de se pôr sossegadamente de capa, não é, por certo, indolor. A segurança também. Tal como os paquetes, para poupar caminho, os solitários põem-se a cortejar os icebergs; tal como os pescadores (obrigados a fazê-lo, esses) navegam na bruma entre temíveis destroços de navios. Içam demasiado pano, principalmente de noite. Manobrar sozinho uma triangular de 82 m , como o fez Tabarly, é de um magnífico desportivismo, mas contrário às tradições marítimas... que acabam sempre ter razão. Há pior. Na verdade, a mentalidade é de todo diferente. Em regata é-se acossado. O homem é o cérebro de uma máquina, seja esta um velame. É ela quem comanda, não ele. Sente-se o coração cheio de angústia. Que angústia? A angústia do velho perigo do mar? Não. A angústia de cometer um erro que faça «perder minutos». Cheio de inquietação. Do futuro? Não, da posição, já não marítima, mas sim «na classificação». Cheio de rancor, do pior dos rancores, o que alimenta a imaginação: aquele não terá mais sorte? Todos os nossos navegadores solitários anteriores, pouco apressados no mar, esqueciam a terra: aqui só pensam nela, estendem-se para ela fonte de informação, para ela chegada «gloriosa» ou «honrosa». Como se pudesse ser desonroso ir mais devagar, perder mais tempo, gozar o mar. Gozar o mar pelo mar, o que era a fina flor do êxito moral para tantos dos nossos primeiros heróis. Chegar verdadeiramente a pensar já não o «vou de... a...», mas sim o «estou no mar; chegarei sempre a tempo». Alguns acrescentavam: «cedo demais para reencontrar mil fealdades, mil absurdos, mil constrangimentos». Constrangimentos... Introduziram-nos a bordo. Criaram-nos. Submetem-se-lhes enquanto que a maravilha, ganha com tanta coragem, seria nem sequer os conceber. Trocar a liberdade, a divina liberdade por um número numa coluna! A verdadeira solidão contra uma «solidão vigiada», como a liberdade dos semicondenados... Uma revista escreve burlescamente em título, com visível alívio: «Os solitários não estarão sozinhos.» É isto precisamente o doloroso. Tal como a liberdade, a solidão não se partilha. A regata solitária no mar alto está «na moda». Para 1968, os participantes de 1964 mandam construir novos barcos, efectuam ensaios. O Pen Duick IV de Tabarly é um trimaran em liga metálica, leve, de 20 metros, com deriva, muito especial, pouco habitável, pois tudo foi sacrificado à aerodinâmica e à leveza. É concebido para não poder voltar-se completamente, o que constitui um dos grandes perigos dos multicascos. Jan de Kat construiu também, em grande parte pelas suas próprias mãos, em Nantes, um trimaran, mas mais pequeno (15 m) e em contraplacado, Yakcha. Uma jovem alemã de 26 anos, Edith Baumann, formada em Benodet, conduzirá igualmente um trimaran, Maftal 12, de 12 metros. E é ainda um trimaran estudado (magnífica referência) por Daniel de Monfreid, construído em «Sandwich» de poliéster e de mousse por J. Morin, Algrette, aparelhado em palhabote «Dinaêl», que será confiado pelo Y. C. de Odet a O. de Kersauzon, bretão de 24 anos, tripulante de Tabarly, tornado seu rival. O que darão nos mares cavados estes trimarans? Em 1966, produziram-se acidentes graves, causando três mortos. Podem romper-se. E, mesmo assim, as suas qualidades de velocidade são contestáveis. Isto quanto aos franceses e assimilados mais conhecidos. O tenente britânico Leslie Williams, esse prefere um cúter muito clássico, Spirlt of Cutty Sark (deve ter havido whisky no negócio...) em plástico, muito (demasiado?) grande, 53 pés, ou seja, mais de 16 metros... Mas o escocês Sandy Munro «cai», ele também, no multicoco, com o catamaran de 13 metros, maravilhosamente confortável, Ocean Highlander. Que fará Chichester? Na verdade, misturam-se unidades que deveriam ser separadas. Estes solitários «novo estilo» vão revolucionar o «espírito do largo» ou simplesmente acrescentar-se aos outros. O mar é grande. Pode conter muitos homens, loucos e prudentes, livres ou submetidos a mitos de todas as ordens. A navegação de recreio é grande, ela também, cada vez maior. Comporta muitas fórmulas, todas defensáveis, todas «boas», se restarem conformes a um desejo efectivo, se trouxerem satisfações e não «desordens». Solitários de regata ao lado de tantos solitários de cruzeiro, de turismo, de paixão, de loucura, porque não? Desde que uns respeitem os outros, desde que não pretendam suplantar-se mutuamente; desde que o público - e eles próprios - não façam confusão: por uma palavra, «record», já alguns estragaram a sua volta ao mundo nas maravilhas dos trópicos, a cores, a correr, quando tinham tanto para ver, tanto para amar pelo «caminho mais longo» de Bardiaux e de tantos outros. Desde que, enfim, os regulamentos não se intrometam. E que permaneça bem firme a grande lei da humildade: «O mar é grande, o barco pequeno.» E é quando se sabe pequeno, sozinho nessa pequenez, que o coração do homem se torna grande. CONCLUSÃO A «conquista dos mares» pelos solitários tem mais de 90 anos, se a limitarmos às travessias dos oceanos, 120 se contarmos os passeios sem passagem de oceano. O primeiro solitário certo de longo curso foi Crenston, um americano que, em 1849, partido de New Bedford, perto de Boston, foi, a bordo do seu cúter Tocca, sozinho até São Francisco pelo estreito de Magalhães ou o cabo Horn: volta à América, o que perfaz 13 000 milhas em 226 dias de mar. Houve, depois, a primeira travessia do Atlântico a dois, efectuada com Charter-Oak em 1857, de oeste para leste. A primeira travessia a dois, no outro sentido, muito mais difícil, é a de Buckley (americano) e Primoraz (austríaco), em 1870. O primeiro solitário a atravessar o oceano (o Atlântico) foi Johnson (americano), de ocidente para oriente, em 1876. Logo após, os solitários tornam-se legião, loucos ou prudentes, Andrews, Lawlor ou Blackburn. O primeiro pelo sul, para ocidente, em 1923: Gerbault (francês). O primeiro pelo norte, para ocidente, em 1934: Graham (inglês). O mais pequeno de todos neste sentido e nesta rota difíceis: John Riding, 1964-65, com uma quilha dupla de 3,60 m. A primeira travessia solitária do Pacífico foi feita em 1882-1883, com o alísio, por Gilboy (americano). Contra o alísio, Rebell (letão), 1931 -1933. Pelo norte, Kenixi Horie (japonês) 1962. A primeira volta ao mundo: Slocum (canadiano) 1895-1898, pelo estreito de Magalhães. Depois, quando o canal do Panamá foi aberto, registou-se toda uma série de sucessores, com Pidgeon (americano) à cabeça. O Horn foi dobrado a dois: em 1910 por Blyth (inglês) e Arapakis (australiano), depois por um casal, os Moitessier (francês), em 1966, no sentido do vento, de ocidente para oriente. Solitário: Para ocidente, o mais difícil, em 1934, Al Hansen (norueguês), ao largo; em 1953 por Bardiaux (francês), em plenos escolhos; em 1943, para leste, Vito Dumas (argentino), depois Chichester (inglês), em 1967. A «Rota Impossível» do sul de todos os oceanos em 1942-1943, por Vito Dumas que faz a volta ao mundo em quatro etapas; a volta ao mundo com uma só escala (Austrália), por Chichester, inglês, 65 anos, 1966-67, por esta rota integral. A primeira passagem pelo Suez, perigosa, não em virtude do mar, mas por causa dos homens: para leste, por Zitt (alemão) 1927; para oeste, a dois, por Robinson (americano), 1931; sozinho, Petersen (americano), 1952. O oceano Índico na monção por Guillaume 1956 (depois de Petersen, volta ao mundo). O oceano Indico contra a monção, por Hayter 1951. O Pacífico, em jangada, por William Willis, 1954. O Atlântico a remos, por Harbo e Samuelson (noruegueses da América) em 1896, depois por Ridgway e Blith (britânicos), em 1966. A motor: a dois, Newmann e seu filho (americanos), em 1902. Sozinho (e único), Marin-Marie (francês), em 1936. O Atlântico tropical em kayak: em 1928, o capitão Romer (alemão); em piroga, depois em kayak, Lindemann (alemão). O Atlântico sem água nem víveres: 1952, Bombard (francês). Mulher sozinha: Ann Davison (inglesa), 1952-1953. Septuagenário: Willis, em jangada. Adolescente de 17 anos: Lee Graham (já 35 000 milhas). Verdadeira regata oceânica: 1960 (5 concorrentes) e 1964 (15 concorrentes). Quanto ao número de navegadores solitários, a lista que incluímos In fine dará deles uma ideia: uma ideia... muito imperfeita. A proeza tornou-se tão corrente que se criou uma espécie de clube dos seus praticantes, a Slocum Society Esta publicou a seguinte lista que tomaremos por exemplo: 21 CRUZEIROS TRANSOCEÂNICOS EM 1956, SOLITÁRIOS OU A DOIS Onze solitários: quatro através do Pacífico, quatro através do Atlântico e três através do oceano Indico. O barco mais pequeno foi Hippocampe de Jean Lacombe: 5,50 m. O maior, Casella, de 10 metros; ambos no Atlântico. Catorze eram veleiros puros. Contavam-se 13 sloups, 4 ketchs, 1 yawl e 3 aparelhos desconhecidos. Houve 13 travessias do Atlântico, das quais 11 de leste para oeste (só uma fora dos alísios). As 5 travessias do Pacifico são efectuadas de oriente para ocidente e as 3 do oceano Indico no mesmo sentido. Por nacionalidades: 8 ingleses, 4 franceses, 2 holandeses, 2 alemães e 1 sueco, 1 grego, 1 filipino, 1 israelita e 1 argentino. Eis a lista dos 13 barcos que atravessaram o Atlântico de leste para oeste (entre eles 4 solitários): Buttercup (Major e Siller) sloup de 7,65 m de quilha dupla. Casella (Casell e Lindberg) sloup de 10 metros. Catherine (casal Kooistra) de 9,45 m. Gudrun (Dienst e Pokorny) sloup de 7,65 m. Hara (casal Savas Georgiou) sioup de 8,65 m. Hippocampe (lacombe) sloup de 5,50 m. Libéria (Lindemann) canoa à vela de 7,65 m. Manona (Hans e Anita Schneider) ketch de 7,30 m. Marco Poio (Armit e Loe) ketch de 8,65 m. Orenda (Smith e Battersby) ketch de 7,95 m. Salmo (Hamilton) sloup de 7,65 m. Skaffie (Beard e Auchterlonie) ketch de 6,10 m. Speedwelt of Hong Kong (Goodwin) sloup de 7,65 m. As cinco passagens transpacíficas foram as seguintes (das quais quatro solitárias); Jellicie (Bailes) sloup de 7,65 m. Lady Timarau (Das) sloup de 7,32 m. Lamerhak II (Hawkins) sloup de 7 metros. Trekka (Guzzwell) yawl de 6,10 m. Zomta III (Chiswell e Paiva) sloup de 9,75 m. O oceano Índico foi atravessado por três solitários: - Atom (Gau) ketch de 8,85 m. - Les Quatre-Vents (Bardiaux) sloup de 9,60 m. - Manchara (L. de V. Guillaume). Voltando à nossa lista final, ela não cita nem os solitários que não atravessaram oceanos e que são inúmeros, nem os fracassos - ainda mais numerosos. Para acalmar um pouco os entusiasmos, seria conveniente fazer um recenseamento; mas este, por um lado, é impossível, já que os seus heróis - ou as suas vítimas - não se vangloriam; por outro, seria cruel. Citemos, assim, simplesmente, ao acaso e a título de exemplo: Ira Sparks, solitário a bordo do Dauntless, partido do Hawai, perdido nas Filipinas (1924). Agnew, desaparecido o seu yawl Atone de 8,25 m, entre as Fiji e a Nova Zelândia. René Chabas, a bordo do Papillon de 5,80 m, sem mastros, leme quebrado ao sul de Toulon e a naufragar quando foi salvo por uma vedeta da marinha nacional (1951). Ou, então, reproduzamos um telegrama de agência (3 de Marco de 1954): UMA NAVEGADORA SOLITÁRIA SALVA POR UM BARCO FRANCÊS SAN DIEGO (Califórnia) - Partida a 20 de Fevereiro de São Pedro (Califórnia) para dar a volta ao mundo sozinha, a bordo de um veleiro, a senhora Vira Olive, cujo barco metia água havia cinco dias, foi recolhida ontem à noite pelo navio francês Maurier-Christmas, 15 milhas ao sul de San Diego. Foi depois transferida para um guarda-costas que a conduziu a San Diego. A senhora Olive, que sofre de deslocamento de uma vértebra, teve de ser hospitalizada. Um artigo de jornal (Ouest-France, Dezembro de 1960): Daniel G., um robusto parisiense de quarenta e nove anos que desembarcou no Havre no paquete Rotterdam, acaba de viver uma aventura bastante sensacional. No princípio do ano, este inspector da Previdência Social foi demitido pela administração em consequência de um diferendo profissional. Deprimido, procura uma consolação na leitura e ao ler o «Discurso do Método» afirma «descobre o modo de escapar à sociedade que o esmaga». Atravessará sozinho o Atlântico: sem nunca ter posto os pés num barco. Atira-se ao estudo das leis de navegação e, depois, com as suas economias, compra um pequeno cúter de 7,50 m, equipado com velame e motor auxiliar. A 31 de Maio de 1960, no Croisic, embarca na sua casca-de-noz, levando como únicas provisões 28 000 francos antigos de conserva e 10 000 de bolachas. Durante 159 dfas, navegará sozinho no oceano. A fome e a fadiga fá-lo-ão emagrecer 20 quilos. Por quatro vezes encontra cargueiros que tentarão, sem êxito, traze-lo para bordo. Doutra vez foi um submarino americano que se cruzou na sua rata. O comandante quis também pôr fim a esta perigosa aventura, mas não conseguiu e, resignado, deu-lhe algumas provisões. Dias mais tarde, porém, encontra guarda-costas americanos; o seu cúter foi logo rebocado e, desta vez, Daniel Gauthier, esgotado, foi içado para bordo à força A aventura terminou. Em Nova Iorque, o navegador solitário, sem passaporte, está sob a alçada dos serviços de emigração, que lhe confiscaram o barco. Escapa por pouco ao Internamento e os americanos decidem, por fim, embarcá-lo num paquete que partia para a França. À sua chegada ao Havre, ontem, uma jovem morena, a sua mulher, esperava-o no cais. Ele apertou-a longamente nos braços, antes de lhe confessar: «Sofri muito, estou curado da aventura e nunca mais poderei suportar momentos tão terríveis.» Por vezes, a aventura só redunda em «anedota»... para os outros. Eis um exemplo: Um certo Pierre Mello, natural de Nice, era, antes da guerra, camionista. Arruinado, empregou-se como porteiro num grande hotel de Paris. Mas «depois de ler Gerbault» foi picado pela tarântula das viagens marítimas (ignorava tudo do mar, para além de alguns passeios em canoa na sua infância). Ele próprio desenhou os planos do seu barco (não era, porém, Lacombe...) e construiu-o pelas próprias mãos, nos arredores de Paris. O resultado, cuja fotografia temos diante de nós, foi qualquer coisa de assustador. Antes de ter navegado, o barco (?) parece já partido ao meio. O Fugitif, que mede 9 metros por 2,80 m, com uma tonelada de lastro em quilha e que é aparelhado em houari sem motor, saiu, só em materiais, por 350 000 francos (1948-1950); por este preço, Nello teria comprado um em segunda mão. Mas está muito contente consigo próprio, tão contente que decide dar a volta ao mundo (nem mais...). Despede-se do emprego, cede o seu apartamento, vende os móveis e... a caminho! Declara não saber servir-se do sextante, não leva consigo nem barómetro nem velame substituto. Partirá sozinho? Não! Leva com ele a mulher, Blanche, de 29 anos, a filha, Claude, de 7, e o filho, Christian, de 4. Uma chalupa reboca Fugitif no Havre. Nello gasta todo o seu dinheiro na compra de víveres para 2 meses, num fogão a carvão (é Inverno, para cúmulo), num despertador (para os quartos, sem dúvida) e num compasso. Como Lacombe, nunca experimentou o barco; mas é a 23 de Dezembro - sim, em pleno coração do Inverno - e na perigosa Mancha que aparelha para Lisboa, Casablanca e Rio de Janeiro! Exactamente! O tempo está um pouco frio, mas bom. Vento favorável. Fugitif percorre algumas milhas. Surge, então, a bordo um companheiro imprevisto: o enjoo! Nesse momento, desmoralizado (Tatibouet estava-o bem!) pelos seus ataques, Nello vê, com atroz lucidez das insónias e das dores de estômago, que não tem outra coisa a fazer senão regressar e procurar um emprego, sem apartamento, sem móveis, dispondo por capital de um balde invendável e de dois meses de batatas, de arroz e de leite condensado. Aviso para os amadores. Aviso? Isto não os desencoraja. Quantas cartas não recebo eu, muitas vezes assustadoras, escritas por rapazes (e uma rapariga) que leram o que precede. Não trairei a sua consciência citando-os. Mas, por vezes, seguem ingenuamente a via dos pequenos anúncios, sem mesmo procurar o anonimato (sou portanto eu que apenas escrevo as iniciais): Desejando fazer cruzeiro solitário em volta do mundo em cúter de 7 m. de constr. firme, mas desprovido de meios, aceita ofertas de instrumentos e material: compasso, rádio, barómetro, barquinha, sextante, cronometro, cartas, velas de mau tempo (giba 5 m2, quadrangular 9 m2 marc.), etc. M. Ph. P., rue G. T. à T. Conclusão? Conclusões, antes. Na verdade, de todos os relatos que se leram, podem tirar-se muitas conclusões. Do ponto de vista marinheiro, são um tanto contraditórias. Os homens que vimos navegar são tão diversos como as suas embarcações. Uma coisa é certa: o barquinho de menos de 12 m governado por um homem, só pode passar quase por toda a parte se respeitar as leis da sua arte; e o «quase» restritivo aplica-se também aos grandes barcos; a gaivota cede, o grande navio resiste, a vantagem final nem sempre está na força, mas também nem sempre na pequenez. Outra lição se tira, menos claramente, todavia: o estudo aprofundado, a preparação minuciosa, a previdência levada ao extremo, compensam, em geral; só em geral, pois, no mar, ninguém deve estar seguro de nada. O excesso de audácia, o desprezo das regras recebidas e do mínimo vital, nem sempre são punidos... mas são-no muita vez. Do ponto de vista humano, a moral é certa: a energia do estranho animal que somos, principalmente na sua variedade marinheira, não tem praticamente limite. Quando é preciso, quando a aposta está feita, ele acha em si próprio recursos incríveis, e a recordação que guarda do seu sofrimento é tão imprecisa, esfuma-se tão rapidamente que está sempre pronto a recomeçar. O seu desconforto, a sua fadiga, a sua miséria, mesmo, e a acumulação das angústias nada pesam ao lado da felicidade que encontra. Que encontra em quê? No feitiço do mar que é, talvez, um dos rostos mais próximos de um deus. E depois? E depois em achar-se conforme a si próprio, ao mais profundo da sua natureza que só a solidão do mar lhe pode dar a conhecer inteiramente... O irlandês Conor O'Brien encontrou a chave deste feitiço, chamando ao seu barco Saiorse, LIBERDADE! FIM GLOSSÁRIO Adriça - Cabo destinado a içar velas, etc. Alheta - Canto da borda, resultante da junção da popa com um dos bordos. Amantllhos - Cabos que sustentam as vergas. Amarrar de cabeça e cadeira - Amarrar da proa à popa. Amura - Lugar à popa e à proa onde amarram as velas menores; direcção entre a proa e o través. Antena - Pau de madeira usado nos mastros do navio. Aparelho - Conjunto de cabos, peças de madeira ou ferro para a sua passagem, e velame de um navio. Arinque - Cabo amarrado à âncora e fixo a uma bóia. Armar - Prover o navio de tudo quanto for necessário à missão que tem de desempenhar. Barla - Prefixo que designa lugar donde vem o vento, a corrente, etc. Bordejar - Velejar, mudando de amura com certa frequência. Cabo - Distância equivalente a 120 braças ou 200 metros. Cabresto do gurupés - Cabo ou corrente que liga o gurupés à roda da proa. Cadaste - Madeiro perpendicular à quilha onde assenta o leme. Capear - Pôr-se de capa. Carangueja - Verga de forma especial para as velas quadrangulares. Carregadeira - Cabo que subtrai a vela à acção do vento. Costelas - Peças curvas de madeira dispostas transversalmente à quilha; constituem o cavername. Croque - Vara com ferragem na extremidade que serve para atracar ou afastar a embarcação do cais, etc. Desarmar - O contrário de armar. Embornais - Orifícios para dar passagem à água que se derrama no convés. Encapeladura - Nó; local onde o nó entra. Enfrechates - Cabos colocados horizontalmente nas enxárcias para por eles se subir à mastreação. Enxárcia - Conjunto de cabos que amarram o mastro à borda. Escoas - Réguas da proa à popa para consolidar a embarcação. Escota - Cabo fixo que serve para içar ou aguentar a vela a sotavento. Estaiar - Prover a mastreação de cabos; inclinar os cabos alando pelos estais. Estropo - Bocado de cabo sem fim que serve para ligar grandes pesos, etc. Fazer uma bordada - Caminho andado pelo navio sobre uma das amuras. Gacheta - Entrançado de forma especial para diversos fins a bordo. Gusas - Barras de ferro para lastrar navios. Houari - Embarcação armada com duas velas de baioneta. Madre - Parte do leme que encosta ao cadaste. Malagueta - Pega da roda do leme. Manobras - Cabos de manobra. Meter à orça - Virar de ló. Molhettia - Almofada de estopa para defender a embarcação de pancadas e roçaduras. Pangaia - Espécie de pá usada nas pirogas e outras pequenas embarcações para lhes imprimir movimento. Pau da amura da mezena - Pau que serve para amarrar a mezena. Pavez - Armação de resguardo à boda; balaustres e corrimão. Pique - Extremidade do mastro da mezena. Pontar - Guarnecer uma embarcação de ponte. Ponte —. Lugar donde é dirigido o navio. Pôr-se de capa - Receber o mar pela amura para melhor resistir ao tempo. Querenar - Virar o navio no mar ou no porto até mostrar a quilha, para proceder a consertos. Relinga - Cabos com que se atam as velas. Retenidas - Cabo para aguentar temporariamente qualquer peça. Rizes - Bocados de cabo para amarrar o pano e diminuir, assim, a sua superfície. Roda da proa - Peças de madeira ou metal que fecham a ossada do navio à proa. Sota - Prefixo que designa o lugar para onde vai o vento, a corrente, etc. Tábua trincada - Tábua sobreposta. Tangão - Espécie de mastro perpendicular ao casco do navio. Tirar o ponto - Estabelecer a posição do navio. Toleta - Fixação para os remos. Través - Cada um dos lados do navio. Travessão - Vento forte que ataca pelo lado contrário ao que o barco leva. Verga - Peça de madeira ou ferro onde amarra o lado superior das velas. Verdugo - Fasquia da proa à popa, pelo lado de fora do navio, para evitar roçaduras. Virar de ló - Aproximar-se o mais possível do vento. Xadrez - Grade de madeira que cobre o fundo das embarcações; parquete. Youyou - Qualquer barco muito pequeno. .--- ..- .-.. .. --- -.-. . … .- .-.
Download