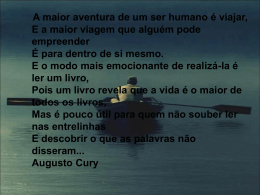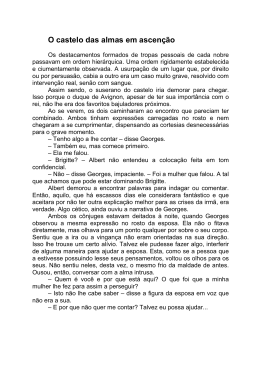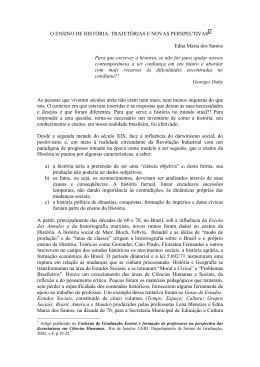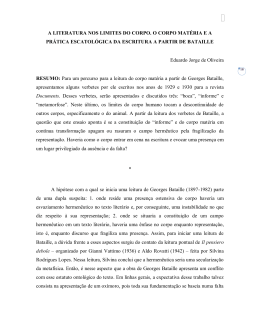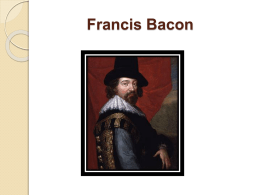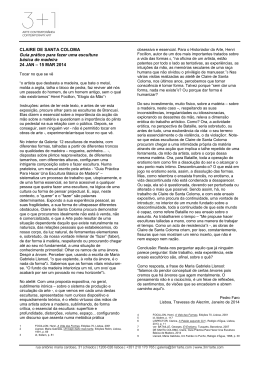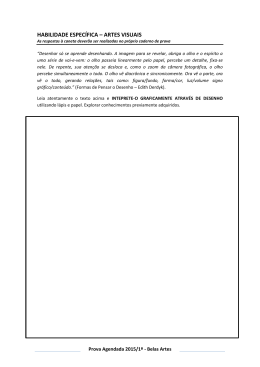59 III CAPÍTULO – O FUNDO QUE SEMPRE RETORNA É O JOGO QUE NUNCA TERMINA. A imagem nada tem a ver com a significação, o sentido, tal como a existência do mundo, o esforço da verdade, a lei e a claridade do dia implicam. A imagem de um objeto não somente não é o sentido desse objeto e não ajuda a sua compreensão, mas tende a subtraí-lo na medida em que o mantém na imobilidade de uma semelhança que nada tem com que se assemelhar. – Maurice Blanchot. Patrícia Laus – Natureza violentada V- negativo fotográfico da pintura – 2006. Um jogo que não cessa de retornar. Quando a série de seis telas parecia ter sido concluída, o pensamento plástico voltou a escorregar para um outro meio, dando origem a uma nova série de experimentações pictóricas. Nelas, a evidência da violência e da morte como excesso que animam a 60 vida, emerge e retorna como questão, permitindo uma interlocução mais próxima com Georges Bataille, particularmente através de suas reflexões sobre o sentido de um humano sempre habitado pelo seu negativo, o animal. Este mesmo autor permite pensar as dicotomias inerentes ao ser e a questionar o ideal de imagem como uma construção sólida, na qual se agregam valores positivos. Partindo da imagem de um corpo supliciado aberto em chagas, o filósofo propõe que esta é a condição de toda imagem, a de ser um corpo aberto, e remete ao fato de que para ver o olho precisa atender a exigência do visível, ou seja, fissurar, fender, rasgar, produzir a abertura atordoante e enlouquecedora do visível, para daí sangrar por dentro, de modo a deslumbrar e ser pelo mundo visto e deslumbrado. 1 – A natureza violentada: um ciclo de experimentações e seu destino plástico. Durante minha produção em ateliê, senti a necessidade de expandir o campo da minha pintura, arrancá-la do suporte tradicional para expandí-la, matando-a como tela para fazê-la reencarnar de modo diferente. Assim, realizei uma série de experimentações ao ar livre onde tomei por suporte folhas, árvores, pinhas e plantas. Procedi do mesmo modo como se estivesse pintando uma tela, aplicando base branca nos objetos para em seguida justapor as camadas de tinta em suas superfícies. Depois, busquei em cada objeto seu correlativo cromático em negativo. Patrícia Laus – serie de fotografias que retratam o processo de pintura do projeto natureza violentada – 2006. A reflexão sobre este processo me fez entender que, mais do que modificar o objeto cromaticamente, em cada pincelada eu o estava matando não só fisicamente, na medida em que a tinta viria a matar literalmente a planta depois de alguns dias, mas modificando seu estado 61 enquanto planta e entregando-lhe uma outra existência. O subterfúgio obtido com o registro das imagens em negativo fotográfico acentuava o caráter de morte presente em cada pincelada. Pelo negativo fotográfico obtive um objeto e um mundo estranhos, invertidos, desordenados por um perpétuo e arrebatado trabalho de inversão – corporal, plástica, semiótica – um objeto e um mundo que morrem juntos para nascer de outro modo. Patrícia Laus – Natureza violentada II – negativo fotográfico da pintura – 2006 Patrícia Laus – Natureza violentada VI – negativo fotográfico da pintura – 2006. A fatura como o percurso onde o fazer vai se constituindo, deslindava-me um mundo de paradoxos: milagre e violência, carícia e sacrifício. Por um lado, o delicado trabalho do pincel ao adentrar por cada veio, por cada entranha, por cada fissura da planta produzia um rasgão, como se cada pincelada reproduzisse o efeito de abrir e sacrificar aquela vida. Por outro lado, aquilo que parecia se constituir como um sacrifício não apenas físico, também possibilitava a passagem de um estado a outro completamente diferente. Neste trânsito, a violência desmontava como motor, configurando a dissolução relativa do ser ou do objeto numa ação que se faz pela negação, pela destruição ou, ao menos, pela transformação. Daí o milagre. A tinta acrílica aplicada sobre a planta mata e opera uma espécie de abertura que possibilita a passagem entre os diferentes modos de existir deste objeto morto-vivo. Mas é na fotografia também que obtemos não apenas uma espécie de morte, mas o registro de uma ressurreição. Ali nas lentes está a solução milagrosa obtida através da inversão cromática num jogo onde mato e devolvo a vida num ato ardiloso. Nestas fotografias algo inelutavelmente nos escapa pela morte, ao passo 62 que retorna à vida diante dos olhos como uma obra do delírio. Eis porque a série de experimentações me permite reconhecer questões relativas às tensões irresolutas do ser. Encontro nestas imagens o reflexo de uma tensão primordial, inerente ao humano. São imagens que parecem refazer algo relacionado à complexa relação que o homem estabeleceu com a morte. Imagens que existem e que vivem exatamente por figurar a morte e, por isso, imagens que falam do ser angustiado que somos em nossa condição de seres tencionados entre a vida e a morte. Patrícia Laus – Natureza violentada VI negativo fotográfico da pintura – 200 Patrícia Laus – Natureza violentada X negativo fotográfico da pintura – 2006. 6 2 – A violência: nascemos com ela, morremos com ela. A consciência da morte cria o humano. A relação que o animal homem estabeleceu com a morte foi preponderante na sua formação enquanto ser racional. Para Bataille, o sentido da humanidade, ou seja, do homem propriamente dito, este que denominamos como nosso semelhante e que remonta ao Paleolítico Superior, foi determinado pelos movimentos da morte. A morte impera sobre os sentidos humanos e é impossível refletir sobre o ser independente dessa verdade.1 Foi talvez diante da morte, dirá ainda Fustel de Coulanges2, que o homem teve, pela primeira vez, a idéia do sobrenatural e quis espiar para além do que via. A morte foi o primeiro mistério; coloca o homem na pista dos outros mistérios. Ela elevou seu pensamento do visível ao invisível, do transitório ao eterno, do humano ao divino. O ser humano foi o único ser vivo a perguntar-se o que 1 BATAILLE, Georges, O Erotismo, Arx,São Paulo,2004.p 21. apud DEBRAY,Régis,Vida e Morte da Imagem:Uma história do olhar no Ocidente, Vozes,Petrópolis.1994,pg.29. 2 63 fazer da morte e, mais agudamente: o que a morte fará de mim? Por não ter respostas a estas perguntas, coube ao homem proteger-se do desconhecido e do terror que ela representava. O uso da sepultura é a testemunha primordial de uma atitude cujo fim era a proteção através de interdições contra a violência e a morte, já que o morto representava uma ameaça: o morto é um perigo para aqueles que ficam: eles devem enterrá-lo menos para protegê-lo e mais para se protegerem do contágio.3 O uso da sepultura marca também uma diferença essencial entre o cadáver do homem e outros objetos. Hoje, essa diferença ainda caracteriza um ser humano em relação ao animal. Entre os primatas, a mãe chipanzé abandona sua cria ao perceber que esta já não tem mais vida. Abandona-o como se fosse uma coisa a mais entre outras coisas; esquece-o rapidamente. Já entre nós, dirá Debray4, um cadáver humano não se trata dessa maneira. Já não é um ser vivo, mas também não é uma coisa5, justamente porque nos ameaça e nos entrega à angústia. O que chamamos de morte é, em primeiro lugar, a consciência que temos dela. Percebemos a passagem do estado do ser vivo para o cadáver, quer dizer, para o objeto angustiante que é para o homem o cadáver de um outro homem.6 Neste ínterim, a morte caracteriza a passagem de um estado a outro completamente diferente, onde a violência é o motor, já que ela supõe a dissolução relativa do ser ou do objeto. Ao mesmo tempo, tal dissolução caracteriza uma espécie de abertura dos corpos pela qual o ser é dado à transformação, à transcendência e, num átimo, ao desaparecimento. Quanto mais racionais e civilizados nos tornamos, mais nos afastamos da morte. Aprendemos a criar subterfúgios para maquilar o que nos causa pavor; aperfeiçoamos os mecanismos que nos afastam do desconhecido; ascendemos as luzes para que nossa razão não se perca facilmente no breu. Cremamos nossos mortos não para entregá-los ao vento, às águas ou à natureza, mas sim para não termos deles nenhum sinal, nada que nos ameace a calma ordenação na qual optamos viver. Fizemos da morte um espetáculo que se encena só, no leito de um hospital, já que não é mais preciso retirar a mácula que costumava acompanhar os corpos; nos basta apenas 3 BATAILLE, Georges, O Erotismo, Arx,São Paulo,2004.p.73 DEBRAY, Régis, Vida e Morte da Imagem:Uma história do olhar no Ocidente, Vozes,Petrópolis.1994,pg29. 5 Ibdem.,p.29. 6 BATAILLE, Georges, O Erotismo, Arx,São Paulo,2004.p.64. 4 64 esquecer deles. Em contrapartida, esconder a morte, dirá Debray7, é perder de vista o insustentável, é embotar nosso sexto sentido do invisível e, por efeito indireto, os outros cinco. Negar a morte é ainda negar um movimento que anima todos os seres vivos. Para Bataille, o fracasso de todo o projeto humano está aí. Negar a violência e, concomitantemente, a morte é negar o próprio sentido de vida e humanidade. É até possível negar a morte do outro escondendo os seus vestígios. Impossível, para Bataille, é negar os próprios movimentos de violência e de morte que nos constituem enquanto seres vivos. O filósofo dirá que existe uma vida interior em cada ser, dos mais ínfimos aos mais complexos, e que esta vida interior só vive porque engendrada pela violência da morte. Para entendê-la é preciso primeiro compreender o conceito Batailleano que expõe o ser humano como um ser descontínuo. E é isto que faremos agora. O posicionamento do homem enquanto ser no mundo implicou a passagem de um estado a outro, implicou uma violência. Foi preciso uma perturbação fundamental para que suas formas de percepção – que o aproximavam do animal – adquirissem um outro caráter, fazendo-o migrar de um modo de ser contínuo a um modo de ser descontínuo8. Segundo Bataille (2004), o homem primitivo possuía uma existência contínua, ou seja, indistinta dos demais seres e objetos. Vivia na animalidade que é o imediatismo ou a imanência9, essência que se faz ver na relação do animal com seu meio, precisamente na situação dada quando um animal come outro. O que é dado, quando um animal come outro, é sempre o semelhante daquele que come: é nesse sentido que falo de imanência10. Semelhante porque o animal que come não distingue o animal comido de si mesmo e do meio em que vive. A distinção pede uma posição do objeto como tal, não havendo diferença apreensível se o objeto não for colocado. Para o primeiro animal – o que come – o segundo – o que é comido – não é visto como um objeto, muito menos como um sujeito, ele simplesmente não é visto e, neste 7 DEBRAY,Régis,Vida e Morte da Imagem:Uma história do olhar no Ocidente, Vozes,Petrópolis.1994,pg.36. 8 BATAILLE, Georges, Teoria da Religião, Atica, São Paulo,1993. 9 Ibdem.p.19. 10 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, Atica, São Paulo,1993.pg.19. 65 sentido, não há transcendência possível entre um e outro. Ambos pertencem ao mesmo meio e não se distinguem simultaneamente porque não se percebem simultaneamente, nem como seres, nem como objetos; estão, nas palavras de Bataille, como a água no interior da água. Para que o homem emergisse das águas da imanência, abandonando a existência contínua a qual pertencia, foi preciso que os meandros da morte operassem uma primeira ruptura, uma fenda sutil na sua percepção, mas suficiente para que o mundo circundante do qual ele participava viesse a se tornar uma abundância de seres e objetos subordinados à sua vontade e do qual, a partir de então, ele passa a não mais participar como antes. O trabalho ascendeu talvez a primeira centelha mordaz no homem primitivo. E isto vem de encontro com o que expúnhamos, até então, sobre uma espécie de trabalho que afastava o homem da violência e da morte. Teremos daqui por diante duas visões sobre o trabalho, uma criada em prol da racionalidade humana e outra associada à violência primordial. A capacidade adquirida pelo homem de fabricar ferramentas e utensílios, dando a tais objetos um fim útil, imprimiu no espírito humano toda a potencialidade que a morte encerra em cada ínfimo movimento. Trata-se, antes de mais nada, da capacidade adquirida pelo homem de modificar o estado dos seres e dos objetos contínuos, em outras palavras, da capacidade que o homem adquire de matar existencialmente um determinado ser ou objeto dando a ele uma outra existência, um outro significado, um outro fim, que em momento algum é seu fim verdadeiro. Associada à necessidade utilitária, há um quê de crueldade nas ações ainda animalescas deste ser a meio caminho da racionalidade. Por menor que pareça, existe uma diferença entre o galho de árvore utilizado pelo primata como arma para defender-se e a pedra polida de modo cortante utilizada como arma pelo homem. Para o primata, aquele galho sempre permanecerá um galho, enquanto a pedra polida, ou seja, trabalhada pelo homem já não é mais uma pedra, é uma arma fabricada com uma finalidade e depois será outra coisa. Há aqui uma ação que se faz pela negação, pela destruição ou, ao menos, pela transformação do objeto colocado. Em outras palavras, o ato de colocar o objeto, ou seja, arrancálo da imanência atribuindo-lhe um fim – no caso, polir uma pedra até torná-la uma arma – é uma ação negadora que tem a morte como fundamento. Cada ínfima posição efetuada pelo homem 66 implica uma espécie de morte existencial: a planta morre, enquanto planta, para ser colocada como um pedaço de madeira; a madeira morre, enquanto tal, para ser colocada como um instrumento com uma determinada finalidade; a pedra morre, enquanto pedra, ao ser polida e transformada em um instrumento cortante utilizado como arma; e daí, infinitas mortes se operam. Mais do que posicionar-se no mundo de forma distinta, recusando-se a ver-se como um objeto ou uma coisa, o homem distingue-se destes por possuir nas mãos a dupla capacidade de matá-los – imergir-lhes no plano do mistério – e de modificá-los existencialmente – de arrancá-los da imanência a qual pertenciam, enquanto seres contínuos, e subordiná-los a seu domínio. Bataille (1993) dirá que o objeto elaborado é a forma nascente do não-eu, rigorosamente estrangeiro ao sujeito, na medida em que é visto como sua propriedade. Por outro lado, o homem não opera simplesmente a morte, mas também é dela sua vitima, na medida em que subordinar não é apenas modificar o elemento subordinado, mas modificar a si mesmo.11 Alienado no mundo das coisas que ele próprio criou, não se dá conta que o instrumento muda ao mesmo tempo a natureza e a ele próprio (...) se ele põe o mundo sob seu poder, é na medida em que esquece que ele próprio é o mundo: ao negar o mundo é ele mesmo que é negado12 . Portanto, o homem primitivo vivia em um plano contínuo, sua existência era, antes de mais nada, um prolongamento do mundo no qual habitava. Foi preciso que sutilezas mortais operassem a ruptura que o transportou de um modo de ser contínuo a um modo de ser descontínuo, ou seja, distinto dos demais seres e objetos. No homem, não apenas a consciência da morte – de ser mortal – mas também a consciência de sua capacidade de operar com a morte – no sentido de submeter à natureza a seu domínio – trouxe, embutida em suas tramas, a consciência de uma descontinuidade. Em outras palavras, a consciência da morte isolou o ser. Somos todos seres descontínuos13, isto é, somos sós – nascemos sós, morremos sós. Mesmo que nossa existência interesse a outro ser, tudo o que se passa na nossa existência afeta diretamente a nós mesmos. Se vocês morrem, não sou eu quem morro, diz Bataille (2004), morremos sós. Somos seres descontínuos e entre eu e você há um abismo, uma descontinuidade. Esse abismo é profundo, não vejo o meio de suprimi-lo. Só podemos 11 Ibdem, pg. 36. BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, Atica, São Paulo,1993.pg.36. 13 Ibdem, pg. 21.22. 12 67 sentir em comum a vertigem desse abismo. Ele pode nos fascinar. Esse abismo, em um sentido, é a morte, e a morte é vertiginosa, fascinante.14 Parte da vertigem que nos causa a morte se deve à qualidade peculiar que ela tem de nos arrancar do modo de ser contínuo, trazendo-nos a consciência da descontinuidade e, paradoxalmente, a de possuir ela o sentido da continuidade do ser. Este pensamento se define com mais clareza quando Bataille o expõe sob a ótica da reprodução e do erotismo15. Para o filósofo, a reprodução leva à descontinuidade dos seres. Seja ela sexuada ou assexuada,16a reprodução envolve a morte ou a transformação de dois seres descontínuos ao gerarem um terceiro ser descontinuo – a longo ou curto prazo, a reprodução exige a morte daqueles que engendram. A morte de um, dirá Bataille (2004), é o correlativo do nascimento do outro, que ela anuncia e do qual ela é condição17. Mas, segundo o próprio (2004), a passagem de um ser a outro implica um instante de continuidade entre os dois. Exatamente no ponto em que um torna-se dois, conseqüentemente uma continuidade se estabelece entre eles para formar um novo ser, a partir da morte, do desaparecimento de seres separados – descontínuos. Em suas palavras: o primeiro morre, mas em sua morte aparece um instante fundamental de continuidade de dois seres.18 Estes dados que a princípio parecem insignificantes estão, segundo Bataille, na base de todas as formas de vida e são eles que conferem a existência interior19 em todos os seres, dos maiores aos menores, dos mais complexos aos mais simples. Na base, há passagem do contínuo ao descontínuo ou do descontínuo ao contínuo. Na base, há ainda um sentido profundo de morte presente na constituição do ser humano. Os aspectos da vida interior do homem estão repletos de uma violência que o funda e que o mantém em movimento. Sem essa violência essencial não haveria a violação do ser constituído – que se constituiu na descontinuidade – e, neste sentido, não 14 Ibdem, pg. 22. Assunto que ocupou parte de sua vida e que aparece em praticamente em todos os seus ensaios literários. 16 Ambas as formas de reprodução, na base colocam em jogo a divisão das células funcionais. O Erotismo.pg.24. 17 Neste sentido a vida é sempre um produto da decomposição da vida (BATAILLE,85:2004). 18 Ibdem. pg.23. 19 BATAILLE, Georges, O Erotismo, Arx,São Paulo,2004. 15 68 haveria também a passagem de um estado a outro essencialmente distinto. Sem violência, a vida pára – nos tornamos coisas, objetos inertes, imutáveis. A importância da violência neste processo é que ela se opõe ao estado fechado, ou seja, ao estado de existência descontínua. Ela dá abertura a um estado de comunicação que revela a busca de uma continuidade além do ser fechado em si. O ser se abre para a continuidade através da violência. No desejo humano de durar – continuar - o que está sempre em questão é a substituição do isolamento do ser, a substituição de sua descontinuidade, por um sentimento de continuidade profunda. Ou seja, o desejo por durar se caracteriza pelo desejo de retorno a uma continuidade que religa o homem ao ser através de uma violação limítrofe – supressão dos limites – ao limiar da morte. Em outras palavras, a duração do ser, ou seja, sua existência e, portanto, sua vida, se dá nos limites da morte. Morte que o homem tanto nega por nela não visualizar nada além de destruição, desordem e aniquilamento. Tensão irresoluta. Paradoxos da existência. Neste Dédalo entre morte, vida e violência, o homem se funda enquanto ser tencionado. Em geral, ele recusa compreender a agitação peculiar que o anima, recusa ainda aceitar que o movimento de prodigalidade da vida depende das ações da morte ou do que Bataille (2004) chamou de “luxo do aniquilamento”, na medida em que a morte sozinha assegura um constante reflorescimento, sem o qual a vida declinaria.20 Há um excesso que ilumina este movimento e que se apresenta como uma verdade mais eminente que a vida21. Este excesso é a morte. Apesar disso, o homem em geral nega à morte o seu caráter pródigo. Para ele, a vida em si é a negação da morte. Em princípio, ela é o contrário de uma função cujo nascimento é o fim; é sua negação, sua exclusão. Essa reação é ainda mais forte na espécie humana, cujo horror está ligado ao aniquilamento e à podridão do corpo que se decompõe. O homem suporta mal a situação que o sujeita à individualidade perecível que é, assim como suporta mal o sentido íntimo da violência que compõe sua essência e que se revela na morte. É preciso muita força para perceber a íntima ligação entre a promessa da vida e o aspecto luxuoso da morte e, mais ainda, para aceitar a violência que nos anima. 20 21 Ibdem,pg. 92. Ibdem,pg. 32. 69 Daí a tensão que fende a existência humana. Aberto, o homem se dá como um entremeio, como um espaço suspenso à espera de ser ocupado por sentimentos de ordem contrária, consentindo o desenvolvimento de um e de outro. Toda potência da angústia se encontra no movimento de deslize em que o homem transita de um a outro extremo, da vida à morte. Este trânsito acontece no intervalo composto essencialmente de tensão, o qual Heidegger associa ao habitat humano. Habitat que não diz respeito exclusivamente ao espaço físico que se encontra entre o céu e a terra, mas acima de tudo ao lugar da nossa própria humanidade. Neste complexo trajeto percorrido entre a animalidade e a humanidade, o espírito humano se fixou de maneira sistemática sob a oposição de modalidades inconciliáveis entre as quais a vida se dilacera, se fende e se abre à uma angústia incurável. Fruto da tensão violenta da qual procura se afastar, ao passo que dela necessita como fundamento de seu ser. Ambíguo por natureza, habitado por tensões e constantes movimentos que nele circulam fazendo chocar razão e violência, forjando assim suas relações com o meio, com o outro, consigo mesmo e com todo o resto. Não importa que nomes lhes dêem ou que sentido lhes confiram, o homem sangra por dentro. Emil Michel Cioran22 dirá : devemos a quase totalidade das nossas descobertas às nossas violências, à exacerbação do nosso desequilíbrio. Bataille (2004) nos dirá que a tensão própria do homem provocou a entrada de uma violência desvairada nas engrenagens do mundo humano organizado pela razão baseada no trabalho. Tal violência, precedida pela angústia, deixa de ser uma violência puramente animal, para assumir além de uma satisfação imediata, um sentido divino, ou seja, esta violência tornou-se desde cedo religiosa e, no mesmo movimento, ganhou um sentido humano. Ou seja, a descoberta da nossa humanidade, da nossa racionalidade e, conseqüentemente, da religião e da arte tem por base tal desequilíbrio; todos fazem parte de um mesmo drama histórico cujas cenas principais são a depreciação do mundo e da carne. O horror à carne que se corrompe, aos órgãos que se depreciam e se decompõem em graxas pestilentas, evidenciando a morte, estão diretamente relacionadas à nossa identidade humana. 22 Pesquisado em: http://www.citador.pt/pensar.php / Filósofo e escritor romeno radicado na França, Emil Cioran (1911-1995) estudou Emmanuel Kant, Arthur Schopenhauer, e principalmente Friedrich Nietzsche. Tornou-se um agnóstico, tomando por axioma A inconveniência da existência. Também foi influenciado pelas obras de Georg Simmel, Ludwig Klages e Martin Heidegger. Na base de seu pensamento a crença na arbitrariedade da vida e o tema da morte. 70 3- O supliciado chinês: dilaceramento e descontinuidade. Nenhuma outra imagem representou tanto as tensões inerentes ao humano quanto as fotografias de um suplício para Georges Bataille. Obcecado pelo corpo de um jovem dilacerado, aberto, cujas talhas deixavam entrever o coração pulsando e os demais órgãos aos poucos esmorecendo, enquanto o rosto resplandecia uma expressão inabalável. Fou Tchou Li, parece sereno, concentrado, imperturbável. A despeito de tudo, seu rosto conserva uma expressão bizarra, desafiadora, como se não fizesse parte da cena: um rosto fora de cena, de lugar, de sentido. Na mais contraditória das imagens, a jovem vítima parece não sentir o que sente, um sujeito que não se coaduna com o corpo23. Georges Dunas – Série de fotografias do Supliciado Chinês – 1905. 23 BORGES, Augusto Contador, Georges Bataille: Imagens do Êxtase in revista Agulha, S.P. 2001.ops sit www.revista.agulha.nom.br/ag9bataille.htm 71 Bataille o tomou como guia. Tal imagem o intrigara ao observar que, por piores que fossem o meticuloso trabalho do carrasco e as dores da vítima, o que se via em seus olhos era uma expressão de êxtase. Esta tensão teve um papel decisivo na sua vida e na sua obra, dados os temas que desenvolveu como o erotismo, o riso, a morte, o êxtase, o impossível, todos de alguma forma presentes na imagem do suplício. No corpo do jovem chinês talvez se encontre o aspecto da morte que afete crua e diretamente o homem com maior pungência, aquele cuja violência sem medida deixa entrever a aparência intolerável das carnes corrompidas. Mas também sobressai nestas imagens o teor de sacrifício que afeta de algum modo toda a existência. Em ambos os casos, a morte é regente a conduzir o espetáculo da vida e animar as tensões que lhe são inerentes. Diante de um cadáver humano que se decompõem nos vemos prostrados à frente de nós mesmos, ou melhor, do que seremos. Para cada um dos que ele fascina, o cadáver é a imagem do seu destino24. A angústia que nos consome frente a imagens de um cadáver é em parte a humilhação que sentimos ao vermos que no fim não somos mais do que líquidos fétidos, oriundos da purulência e da fermentação luxuosa entre a morte e a vida – eis o caráter desconcertante em que a vida se liga à morte: o ser é o excesso do ser e o excesso está fora da razão – e, em parte, se deve à intuição de um vazio misterioso contra o qual nenhuma atitude humana sairá vitoriosa. A face aterradora de um corpo em decomposição abre um vazio no interior do qual a morte introduz o mistério e a ausência; campos do obscuro onde tateamos feito cegos em um breu que nos rouba todas as certezas e onde cada apalpar se configura na constatação de uma falta. Nossa cultura com muita freqüência associa a morte à privação da luz. Para nós, que somos seres formados sob os signos da racionalidade, na obscuridade reside também a falta de razão, o não saber, o desconhecido, o estranho. É neste ponto, em que a morte opera no limiar da inteligibilidade sem nos oferecer nenhuma possibilidade de reconhecer ou classificar o que habita a escuridão, que o homem se vê entregue aos poderes cruéis da imaginação, para daí surpreender-se com sua própria perversidade. Nessa negritude em que os insuspeitados pavores que nos habitam dão asas a uma imaginação que, num ápice, constrói mil formas para um perigo, é aí que o sujeito confronta e algumas vezes se defronta com sublimes imagens da morte, numa espécie de fusão, a 24 BATAILLE, Georges. O Erotismo, Arx,São Paulo,2004.pg.69. 72 medo, com o nada.25 A escuridão é pavorosa porque nela, não podendo mover-se, nem perceber, nem emitir, nem receber, o espírito se despoja de todas as faculdades de agir e pensar – como se estivesse morto, como se tornasse nada. Este é o sentido do que Bataille chamou de Experiência Interior. O que caracteriza esta experiência pura é a falta de resposta, ou seja, a escuridão. Ela não procede de nenhuma revelação – iluminação – nela nada, tampouco, se revela a não ser o desconhecido. Trata-se, portanto, de uma experiência peculiar análoga à descida na noite da existência que comporta o não saber; a súplica infinita da ignorância; o esquecimento de tudo; o não querer ser; a angústia. Ela pede uma renúncia: cessar de querer ser tudo. Nela, o essencial é a perda de si até na morte. Esta experiência não traz nada de apaziguante, não dá consolo, ao contrário, ela excede, ela expõe, ela desnuda e deixa entrever a angústia de um ser que quis ser tudo pelo saber – luz – mas descobre irremediavelmente que não é nada, na medida em que o não-saber furta-lhe o sentido das coisas e de seu próprio ser – ele é escuridão. Ele é também silêncio terrível, vazio e sem promessa. O silêncio é a profunda noite secreta do mundo26. A Experiência Interior é justamente o jogo múltiplo das forças que submetem o homem e anulam seu saber. Só através de uma íntima cessação de toda operação intelectual que o espírito se expõe à única verdade do homem, que é ser uma súplica sem resposta.27 Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender – entender era sempre limitado. Mas não-entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus28. Neste sentido, a noite é para o filósofo o lugar do ser; é o abismo em que o sujeito, perdendo o significado, mergulha no desconhecido. O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas29. Será este o coração que vemos bater até se extenuar entre as chagas abertas do supliciado chinês? Um coração entregue ao nada num corpo aberto cujo caráter noturno representa a dissolução da fronteira espaço-temporal que separa o exterior do interior. O sujeito está, em toda parte e em 25 FRADE, Pedro Miguel, Obscuridades e Paixões, Paixões do Obscuro in As “Paixões”. Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa: Ed Afrontamento, pg.47.1987. 26 LISPECTOR, Clarice, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Ed Rocco, RJ. 1998. pg 36. 27 BATAILLE, Georges. A Experiência Interior. São Paulo. Ed Ática.1992.pg 21. 28 LISPECTOR, Clarice. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Ed Rocco, RJ. 1998. pg 43. 29 Ibdem.p.38. 73 nenhuma, flutuando no vazio. Na noite do não-saber, o sujeito é suprimido – etapa culminante do êxtase. Contemplando a noite, diz Bataille, não vejo nada, não sinto, não amo. Permaneço imóvel, congelado, absorvido por ela. É uma paisagem de terror sublime, uma visão indefinida do excesso.30 É a paisagem de Fou Tchou Li. A noite representa a forma avassaladora do aberto. Foi talvez diante do cadáver aberto em chagas que a vidência obscura ou cegueira lúcida revelou ao olhar suprimido – a seu vazio, portanto – o nada; inexorável abismo do homem: na noite só há a noite. Mas nela também secretamos tentativas de ultrapassagem: cada um tira das coisas a parte do desconhecido que ele tem a coragem de suportar sem desvanecer ( ... ) mas só suportamos cada vez o desconhecido à condição de que, nele, o muito conhecido e o mais apreensível para nós, tranqüilize-nos 31. 4 - A arte como filha da noite. No escuro – onde o olhar não penetra e o pensar apenas encontra dúbios e informes apoios – nosso sentido de proteção diminui consideravelmente. Lá, o objeto de pavor adquire dimensões gigantescas. Este objeto é capaz de excitar a imaginação a ponto de antecipar o sofrimento, a dor ou os perigos de morte antes mesmo que eles aconteçam. Miguel Frade escreve: Um objeto de terror sê-lo-á pelo caráter excessivo dos perigos a que ele poderá concebivelmente expor-nos. Cedo o homem intuiu que ver é prever; que poder ver é poder tranqüilizar-se. Quando nós conhecemos toda a extensão de um perigo, quando os olhos podem acostumar-se a ele, uma grande parte de medo se dissipa. Desta necessidade de dissipar o medo surge a arte como uma faísca, um lampejo, um clarão. A arte nasce sob o aguilhão da morte, dirá Debray; surge do impulso de tornar visível o invisível, de figurar o inominável. Nada melhor para dominar o invisível do que criar dele uma imagem. Aos olhos dos nossos antepassados longínquos, o escuro, o invisível, o sobrenatural, era o lugar do poder. Havia, portanto, todo interesse de conciliar-se com o 30 31[ Augusto Contador Borges, 2001. BATAILLE, Georges. A Experiência Interior. São Paulo. Ed Ática.1992.pg.205 74 invisível, visualizando-o para, através da imagem, garantir uma defesa contra o desconhecido, contra a inevitabilidade da morte. Pela imagem, o vivo apreende o morto, os demônios e a corrupção das carnes. A arte nasce, portanto, do “escuro”, com a função quase divina de iluminarlhe. Mas algo neste plano humano de proteção – iluminação – pela imagem saiu errado. Com Debray encontramos a afirmação de que a função arcaica da imagem foi a de garantir a sobrevivência do morto através de seu duplo. À imagem foi reservado o poder de abrigar a alma daquele que jaz entregue à putrefação. Para o homem primitivo, há realmente transferência de alma entre o representado e a sua representação32. Para ele, a imagem não é uma metáfora, mas uma metonímia real, um prolongamento sublimado, mas ainda físico, de sua carne. Portanto, topar com uma imagem ou um ídolo significa tê-lo em pessoa a sua frente; não há aqui separação entre objeto de terror e representação terrifica. Aqui o duplo - imagem - assusta tanto quanto o original o morto. Protejo-me da morte do outro e da minha própria morte por um desdobramento, mas não tenho certeza de conseguir desligar-me do duplo, escreve Debray. Neste sentido, a imagem, ao contrário de apaziguar o horror da morte – a escuridão – se converte para alguns numa paixão do terror, num sobressalto que aumenta a força das paixões do obscuro e a potência indeterminada da escuridão, trazendo a tona uma emoção irreprimível, uma paixão avassaladora do espanto. A imagem torna-se ofuscante, arrebatadora. Sua luz, que deveria apaziguar os temores da escuridão, torna-se tão intensa que acaba por cegar os olhos daqueles que ousam mirar-lhe diretamente. Longe de garantir a visibilidade, a luz produz uma espécie de opacidade excessiva, um cegamento que devolve o olhar às incertezas, mergulhando-o em um breu luminoso. Nessa espessura impeditiva que o ofuscamento contrapõe majestosamente ao exercício do olhar: a fonte luminosa é por excelência aquilo que obriga a desviar os olhos.33 Se diante de um cadáver – imagem da morte, metáfora de escuridão – o homem desvia os olhos em busca de luz, ao encontrála, esta luz opera um deslumbramento que, de igual modo, ofusca e cega, devolvendo os olhos à 32 DEBRAY,Régis. Vida e Morte da Imagem:Uma história do olhar no Ocidente, Vozes,Petrópolis.1994 pg.26. 33 FRADE, Pedro Miguel. Obscuridades e Paixões, Paixões do Obscuro in As Paixões. Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa: Ed Afrontamento, 1987.pg 80. 75 escuridão. As coisas que à noite trazem as almas, a luz também oferece tornando-se mais uma parcela do horror, uma outra forma de obscuridade com o seu caso extremo: o excesso de luz. Antítese suprema onde ver é igual a ver a noite, ou seja, é deslumbrar-se, porque a noite deslumbra, diz Bataille, e enquanto tal a noite iguala-se ao sol. Do que se trata, portanto, mais precisamente, neste sol? Compreende-se que é o sol mais negativo, se assim se pode dizer, no sentido em que está o mais longe possível do lugar que habitualmente ocupa no campo do idealismo, desde Platão; e que é ao mesmo tempo o sol mais real, porque é o sol enquanto que olhado, fixado diretamente. É portanto um sol da crise, da retina queimada, um sol combustão – preto portanto -, um sol da loucura e para além disso, porque constitui o informe por excelência, é finalmente um sol da abjeção, do sangue e do excremento [...] É assim que, pelo jogo de uma circularidade tão imperiosa quanto paradoxal (ver...a noite...deslumbrante...de um sol...de dejeto e da crise), é assim que a visão se advém igualmente ao ato extremo, o mais dilacerante, o mais tonitruante da abertura das bocas: é o grito de horror ou de medo. 34 A exigência de ver volta-se não apenas para a exigência de deslumbrar e de ser deslumbrado, mas também para a abertura da imagem e da visão: abertura para uma dimensão outra, invocadora, penetrante, disforme, a abertura atordoadora ou enlouquecedora do visível35. Associar a morte à privação de luz, à noite, portanto, e ainda falar de imagens que são como a noite, ou seja, imagens da desrazão, imagens terríveis não só porque assustadoras, mas incompreensíveis como a morte, é tangenciar o nada. A arte surge, concomitantemente, à racionalidade humana, ou seja, ao homem. Mas surge sob uma tensão primordial: o medo da morte e do nada. Debray (1994), ao se perguntar sobre o motivo que levou o homem a produzir suas primeiras imagens, lança a questão: por que motivo há imagens em vez de nada? E ele mesmo responde, ao afirmar que a imagem nasce tumular, sob o aguilhão da morte, nasce como uma preocupação bem prática de sobreviver, ou seja, da necessidade do homem em recusar o nada para assim prolongar a vida. Mas tal recusa não significa ruptura, ela anuncia, ao contrário, um acordo mais profundo. Perseguindo uma compreensão semelhante, Blanchot lembra que uma das funções da imagem é a de apaziguar e humanizar o 34 DID-HUBERMAN, Georges. A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille. In As Paixões. Revista de Comunicação e Linguagems. Ed Afrontamento.Porto. 1985.p11. 35 Ibdem.p.11. 76 informe, retirando a obscuridade inapreensível do destino, tendendo para a intimidade como fundo exterior e sórdido sobre o se qual afirma as coisas através de seu desaparecimento. Assim, o pensador francês considera que a imagem fala-nos e parece que nos fala intimamente de nós (...) quer que tudo retorne ao fundo vazio como nada que afirma o inflexível de um reflexo, fazendo-nos crer na forma sem matéria e na semelhança desencarnada que nos conduz à eternidade transparente do irreal (...) Íntima é a imagem porque ela faz de nossa intimidade uma potência exterior a que nos submetemos passivamente: fora de nós, no recuo do mundo que ela provoca, desgarrada e brilhante, a profundidade de nossas paixões36. Neste sentido, toda tentativa empreendida pelo homem para suplantar suas paixões, a morte e o nada, através das imagens, traz, ironicamente, como num espelho, a sua própria face e nela a morte embutida, além do irreal e o nada. Tentativas frustradas não só porque as paixões dilaceram, a ilusão é imprescindível e o nada é irredutível, assim como o é a morte a ele associada, mas porque as próprias imagens trazem e exigem seu teor de paixão, ilusão e uma espécie de morte. Toda imagem é um convite à ilusão, à paixão e à morte. São todas tentativas frustradas, falsos consolos aos olhos, miragens que acreditamos apreender por um minuto e, no seguinte, se perdem. Em outras palavras, nos convidam a penetrar em tudo o que há de misterioso. Fato é que grande parte da arte contemporânea deixou de problematizar o mundo como mistério e espanto e de produzir o trânsito das formas. Sobre este aspecto, Jean Baudrillard aponta o assassinato da ilusão como parte constitutiva da realidade. Esta teria sido substituída pelo conteúdo documental do espetáculo jornalístico, literário, fílmico e fotográfico, o qual nada mais faz do que recalcar a condição mais remota e recôndita da imagem, para colocar no seu lugar os registros políticos, econômicos, sociais, etc. Abrindo mão de ser um acelerador de ilusão e recusando o pensamento silencioso e hipersensível que opera por contaminação e se precipita como água próxima da cascata, a imagem fica reduzida à condição de mero vestígio do mundo, aumentando o efeito anestésico que a recobre. Assim, denunciando o que resolveu chamar de pornografia das imagens e complô da arte, Baudrillard constata a miséria da imagem superdotada que se torna orgia do hiper-real, enquanto recusa a potência que advém do desaparecimento dos 36 BLANCHOT, Maurice. O Espaço Literário. R.J. Ed. Rocco, 1987, pág.263. 77 objetos e da descoberta das coisas como aparição. Recuso-me, assim como o pensador francês, a considerar a arte como mero espelho hiperbólico ou território de imagens desnudadas de segredo, posto que ignorar o mistério e segredo das aparências serve apenas para recalcar aquilo que se afirma em sua condição de simulacro37[8]. Ao contrário, meu trabalho plástico supõe que toda imagem, enquanto ilusão, impõem um além, daí que ela nunca está no ponto onde a apreendo e o que eu olho não é nunca o que eu quero ver. São imagens da noite, inapreensíveis, abertas, e ao me perguntar que tipo de olho se dá a elas, entendo que só pode ser um olho igualmente fendido, furado e aberto. É neste sentido que mais uma vez volto a Bataille, na medida em que o desejo de ver causa perturbadoras passagens, deslizes de um estado a outro através da violência deste ato mortal. O ver possibilita a abertura dos corpos, como uma violação limítrofe – supressão dos limites – ao limiar da morte; experiência análoga ao sagrado. Daí que ver é a abertura extrema, é sangrar, é sacrificar e violentar o visível; é fender o próprio rosto daquele que vê. Ver é ver a noite e para ver a noite é preciso violência, é preciso delírio, é preciso um olho violento e delirante. Um olho fendido. Se esperarmos encontrar no olho o espelho da alma, encontramos um olho que opera no limite, que se abre e se dá às transformações e ao transbordamento do olhar. Olhar que coaduna com a essência humana animada pela morte. Talvez o olhar não seja simplesmente um espelho íntegro, mas seus cacos que disformes rejeitam o ponto geometral para aceitar a refração de luzes e imagens emaranhadas, sobrepostas, escorregadias, que nos entregam à ilusão do visível. Esse olho, espelho em cacos, é talvez nossa mais potente arma pela qual morremos e matamos, nos expomos enquanto morte e operamos com ela a violar os limites do visível e, num átimo, a matá-lo. Daí a exigência da experiência do visível em Bataille: é preciso que o olho se transforme em boca para devorar todo o visto e, em contrapartida, ser por ele devorado. O pintor Francis Bacon parece, com suas pinturas, ter atendido a tal exigência. 37 BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro,Ed. UFRJ/ N-Imagem,1997 78 5 – Ver: uma experiência de incorporação mortífera. De olhos furados e de boca aberta. É assim que a babá de O Encouraçado Potemkin, filme de Sergei Eisenstein, nos olha. Não pelo olho irremediavelmente ferido, mas pela boca escancarada num grito surdo. Esta boca em desespero, assim como a boca daquela que vê massacrarem seu filho em O Massacre dosInocentes (1630-1631) de Poussim, e também todos os lindos desenhos coloridos feitos à mão mostrando a boca aberta e seu interior doente, obcecaram Bacon38. Sergei Eisenstein – Imagem de O Encouraçado Potemkin - 1925. Nicholas Poussin: detalhe de O massacre dos Inocentes - óleo sobre tela - 1630/1631. Em toda sua obra, o que mais se vê são elas, bocas que não nos falam, nem apenas nos gritam, mas, sobretudo nos olham. Nos olham porque nos devoram. Bacon explorou com excelência os limites do ser humano. Perturbando os cânones clássicos da representação da figura humana, a desfigurou interrompendo a incansável sucessão de corpos transfigurados em ascensão aos céus em busca do divino. Como se fizesse uso de uma corrente invisível, o pintor atou à terra a existência humana, por vezes, equiparando-a a existência animal. Fez com que o homem assumisse sua monstruosa e vil humanidade, encontrando sua beleza onde poucos a foram buscar, por detrás de infindáveis máscaras de sofrimento e orgulho, de angústia do sexo, de solidão e terror da morte, de decrepitude e de opulência insolente. Seu trabalho revela a existência da besta humana, expõe todas as tensões de um ser fendido, aberto, sangrando, um ser revirado de dentro pra fora, e 38 SYLVERTER, David. Entrevistas com Francis Bacon, A brutalidade dos Fatos,Ed Cosac & Naify, Itália, 1995. 79 evidencia a pouca diferença existente entre o humano e o animal irracional, tanto na vida – ao levar a cabo as funções essenciais da existência como o sexo ou a defecação – como na solidão da morte. Francis Bacon – detalhes de diferentes obras dispostas de modo a apresentar a representação do grito no trabalho do pintor. Neste jogo representativo de tensões onde o ser é exposto pelo avesso, a ação que persegue quase todas as figuras de Bacon é o ato mais extremo, o mais dilacerante, o mais tonitruante da abertura das bocas: o grito. É pela boca, abertura irremediável destas imagens, que se tem a visibilidade de uma crise provocada por uma espécie de antítese extrema: o desejo do homem de ser sol, e a angústia de descobrir-se noite39. Um sol platônico, ideal, tradicional; um sol que ilumina 39 DIDI-HUBERMAN, Georges. A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As Paixões. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987. pg.10-11. 80 a racionalidade humana e dá o seu tom; um sol de valor emblemático de elevação e plenitude e, por isso, um sol que garante uma suposta segurança baseada na luz da racionalidade contra a violência e a irracionalidade latentes no ser humano. Um sol ainda que inunda de luz o mundo, tornando-o visível e nítido ao olho, possibilitando assim sua justa distância e medida, a fim de melhor discernir os objetos. Em contrapartida, este mesmo sol quando fixado diretamente torna-se o sol da retina queimada, sol buraco negro, portanto, um sol da crise. Um sol que só ilumina na medida mesmo em que cega. Este é ainda o sol mais real para Bataille: um sol enquanto noite. Alegoria de um ser cujo sentido da humanidade não anula a bestialidade, ao contrário, sua condição de ser é dada enquanto besta. É exatamente neste valor de reviramento que, para Bataille, reside a condição da existência humana, a qual Francis Bacon pinta com excelência. Figuras dilaceradas, animalescas, que ultrapassam qualquer racionalidade e dificultam uma pronta identificação, na medida em que o humano é apresentado através do seu negativo. Em suas imagens, o ser não passa de um bolo de carne disforme, restos de uma existência abjeta; um sol negativo da cegueira que do interior de sua escuridão evidencia sua própria condição: um sol da loucura, do informe por excelência, da abjeção, do sangue e do excremento. Francis Bacon – 1952 – óleo sobre tela - 1952 Francis Bacon – Quadro central do tríptico Três estudos para uma crucificação – óleo sobre tela – 1962. Francis Bacon – Quadro central do tríptico Crucificação – óleo sobre tela – 1965. Francis Bacon –sem titulo – óleo sobre tela -1949. As imagens de Bacon poderiam funcionar como uma espécie de enunciado ao que Bataille considera a experiência do visível. Experiência que exige o deslumbramento, a vibração nervosa, a 81 violência que projeta o ser fora-de-si; experiência ainda que se dá no nó do sofrimento e do prazer; um sacrifício, enfim. Toda aposta do trabalho de Bataille está nesta experiência que produz uma espécie de rasgão; uma fenda que fura o sol e o faz noite. Fenda por onde adentra a destruição de tudo o que é constituído sobre os alicerces do discurso e da razão. Fenda que destrói a noção clássica de imagem tida como uma espécie de construção sólida, portadora de todas as certezas do visível, e a torna ruína porque rasgada e atravessada pelo órgão da visão. O olho que, desde a renascença, é tido em todo o seu positivismo assume em Bataille seu lado mais negativo – um órgão exposto aos ataques, um órgão que se injeta de sangue, que se exorbita e que se segura na mão, que se torna objeto (...) e que não deixa, com efeito, de ser cortado; é um órgão que faz apelo ao grito e, finalmente, é um órgão que se come40. Deslize metonímico, dirá Didi-Huberman: o olho enquanto órgão da visão é então ao mesmo tempo compreendido como órgão voraz41. Dentro da “boca do olho” tudo se desfaz, se desfigura, se transforma, se transfigura para, enfim, ser cuspido como outra coisa. Um órgão de ver, de comer e beber. Órgão devorado por aquilo mesmo que vê42. Devorado, deglutido e vomitado: o supliciado Chinês opera este trabalho de reviramento em Bataille; o devora. Obcecado por ele, Bataille declara: eu o amava de um modo no qual o instinto sádico não tomava parte: ele me comunicava sua dor, ou antes, o excesso de sua dor, e era justamente isso que eu buscava, não para me deliciar, mas para arruinar em mim aquilo que se opõe à ruína43. Ali, naquela formidável arquitetura sangrante, dilacerada, está não só o abismo, mas também o apogeu da experiência do visível. Porque a ruína daquele corpo denuncia também a ruína de toda imagem quando o olho opera um trabalho de decomposição, de delírio e ilusão; quando o olho é olhar e é exatamente neste reviramento que o visível é atingido. Ou seja, através de uma experiência propriamente derrubadora da realidade visível. As chagas abertas do jovem supliciado cortado em cem pedaços e ainda vivo trouxeram à tona em Bataille a noção de que em tudo o que é ruína, resto, abjeto, reside a condição humana. 40 BATAILLE, Georges. História do Olho, São Paulo SP: Cosac Naify, 2003. DIDI-HUBERMAN, Georges: A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As “Paixões”. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987.pg12. 42 Ibdem.pg.12. 43 BORGES, Jorge Contador. 2001 41 82 Condição que exige uma visão também dada à ruína. Um olho que destrói e é destruído pelo visível. Cada uma daquelas chagas exige ser olhada de frente, exige ser atravessada pelo olhar, exige que o olho adentre por elas e torne-se também um rasgão. Exige o sacrifício tanto da imagem, quanto do órgão da visão. Contra toda noção clássica de imagem dada como construção, a imagem do supliciado evidencia um trabalho de antítese violenta e arrebatada, na qual também a imagem é violada, violentada e, por fim, aberta. Uma imagem que não ilumina nem dá consolo, ao contrário, como um sol fixado diretamente, cega, queima a retina, gera uma crise, dá acesso a uma profundidade só compreendida como um deslumbramento, porque a noite deslumbra, diz Bataille, e enquanto tal a noite iguala-se ao sol44. Daí que ver é igual a ver a noite. Ver é sempre uma operação onde o visto desliza, escapa, se transforma, se transmuta, se dissolve; ver é sempre um ato delirante, deslumbrante e, por fim, sacrificante; uma experiência mortal onde, em parte, somos vítimas e, em parte, carrascos. Em parte, devoramos e, em parte, somos devorados. Tudo isso nomeia uma relação do olho com a boca, mas também do mundo visível ao mundo do sacrifício. A boca sabe incorporar o objeto, o toca, o sente, o morde, penetra e rasga. O olho enquanto boca incorpora o visível até sangrar por dentro. A boca seria assim o lugar eminente de uma possível conversão pela qual uma simples existência espectadora – o olho mais longe daquilo que vê – pode chegar à radicalidade de uma existência mártir, de uma existência que comunica a sua carne45. Carne dilacerada de um supliciado; carne esquartejada em Rembrandt; carne exposta de Cristo; carne pelo avesso em Bacon; carne da pintura, carne da planta, carne como o ato de maior rasgamento. Interessante é que para toda carne há no mínimo um par de olhos a rasgá-la. Na imagem do jovem chinês nota-se a presença de uma platéia espectadora a acompanhar o esfacelamento da carne supliciada. Em Rembrandt, um par de olhos furtivos a guardam de soslaio. Na carne da planta que rasgo com minha pintura, os olhos camuflados pelas lentes da câmera registram o lento trabalho da morte e revelam o milagroso retorno à vida. Em uma das inúmeras crucificações de 44 DIDI-HUBERMAN, Georges. A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As Paixões. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987.pg.10. 45 Ibdem.pg.12. 83 Bacon, olhos ocultos numa sombra, olhos fugidios de um fantasma à espreita da carne em putrefação. Georges Dunas – fotografia – 1905 Harmenszoon van Rijn Rembrandt – óleo sobre madeira. 1655 Em outras tantas imagens de crucificação representadas na história da arte, encontramos olhos plangentes que se esvaem junto da carne morta. Ou seja, parece que a morte é sempre um espetáculo e, como tal, feito para o olhar, pelo olhar e nele se completa. A morte parece necessitar de um olhar que lhe dê o tom do jogo no qual devorar é ser devorado. Junto dos olhos, as bocas abertas prestes a tocar a carne em chaga viva, prestes a devorar a partir de baixo pela ignomínia das marcas da paixão, ou pelo próprio corpo enquanto ruína. Francis Bacon – sem titulo óleo sobre tela – 1950. Matthias Grünewald - Retable d'Issenheim, - óleo sobre tela. 1512-1516. Detalhe do retábulo ao lado. 84 No primeiro tríptico de Bacon intitulado Três estudos de figuras ao pé de uma crucificação, não é preciso ver a carne sangrante, supliciada e sacrificada de Cristo, ela já está dada nestas estranhas e monstruosas criaturas de bocas escancaradas. São três Eumênides – deusas encarregadas de castigar os crimes, especialmente os delitos de sangue, mas poderiam ser também carpideiras; poderiam ser Marias Madalenas, Virgens Marias e todas aquelas figuras que aos pés da cruz se deliciam, extasiam, devoram e são devoradas pela carne em chaga viva numa mistura de dor e êxtase, dada no exato momento em que os olhos tocam e comem e as bocas beijam e olham o que há de abjeto e disforme. Gozam ou choram estas mulheres sob os pés de Jesus? E quantas delas beijaram a carne de Cristo morto descido da cruz? Rogier van der weyden. detalhe - A descida da cruz – 1436. Rogier van der weyden. detalhe - A descida da cruz – 1436. Fra Angelico – pieta têmpera sobre Madeira 1436. O olho enquanto suscetível de tocar e incorporar o visível torna-se boca; incorpora o visível como um grito surdo; como um beijo no imundo, no que há de abjeto, podre e morto. Abjeção que aparece como condição essencial do valor transformador de um olho voraz . Mas então o olho, justamente, revira-se, revolve-se, já não vê46. É olho enquanto olhar; enquanto cego; enquanto noite; enquanto delírio do ver. É olho enquanto sacrifício ao olhar. E quanto à imagem, para Blanchot a verdade da imagem é que ela é um limite que se aproxima do indefinido e como tal pede a supressão ao mundo – seu sacrifício – tendendo para a intimidade como fundo exterior e sórdido sobre o qual o corpo se afirma através de seu desaparecimento, ou seja, se reafirma no sacrifício. Tal como um cadáver, sua estranheza advém do fato de que está diante de nós, mas não realiza plenamente aquilo que está diante de nós, assim estabelece uma relação entre o aqui e parte nenhuma, pois o despojo em sua estranha solidão é sempre presença de algo que nos abandonou. Imóvel, o morto participa do golpe que o arremeteu. Imóvel, Fuo Tchou Lee está ali e em parte alguma. A imagem do jovem não coabita com ele e nem encontra nele um rebatimento, 46 Ibdem.pg.14. 85 constituindo-se como vazio, descontinuidade feita de identidade e não-identidade, distância e nãodistância47[10]. Assim é também toda imagem. Diante de tal ambigüidade, o olho só pode desejar uma coisa: tocá-la, tal qual São Tomé toca a chaga de Cristo para ter certeza de sua carne. Ou tal qual o pintor exige o movimento do olho do espectador, no sentido de perfurar aquilo que o incrédulo fez com o dedo, ultrapassando a tela para chegar ao grande buraco, ao vazio. Michelangelo Merisi da Caravaggio – A dúvida de Tomé – 1599. Neste sentido, a experiência do visível para Bataille configura-se no enfrentamento de um suplício inexorável; experiência feita à custa de sacrifício e sofrimento; experiência que se refaz e se renova cada vez que devoramos o visível e por ele somos devorados, como águias a devorar diariamente o fígado reconstituído ou como uma chaga mantida aberta por dedos descrentes. Todos de alguma forma são carrascos que supliciam ou são vitimas supliciadas através da experiência do olhar. Todos somos Prometeus e todos somos águias, somos chagas e Tomés na medida em que o visível é atingido não apenas no ponto do rasgo de uma imagem violenta, mas sobretudo no ponto 47 BLANCHOT, Maurice. O Espaço Literário. Rio de Janeiro. Ed. Rocco, 1987. 86 onde descobrimos a nossa própria violência. No ponto onde descobrimos que somos carrascos também e não apenas uma vítima em potencial. Como não pensar que o olhar de Genet48 sobre o passageiro à sua frente não é um olhar de carrasco a açoitar de maneira silenciosa a sua vítima? Como não pensar que o olhar que lhe devolve o passageiro não está repleto de sutis desejos de torturar o homem que lhe mira? E qual não é a angustia de Genet quando este tem a compreensão de que ao açoitar o homem à sua frente está a açoitar a si mesmo? Seu olhar não era o de outro: era o meu que eu reencontrava num espelho, inadvertidamente e na solidão e esquecimento de mim. Eu me vertia de meu corpo, e pelos olhos no do passageiro, ao mesmo tempo que o passageiro se vertia no meu49. Ambos estavam a devorar-se. Talvez a angústia de Genet não fosse apenas a angústia de encontrar na podridão, na sujeira, na violência, no asco, no grotesco, enfim, no que há de mais vil a unidade universal de todos os homens, mas a angústia de se descobrir carrasco também. Novamente a ambigüidade inerente ao ser humano: o desejo de ser o sol e se descobrir noite. As obras de artistas como Rembrandt e Francis Bacon nos proporcionam tal descoberta porque há imagens que atendem a exigência do olhar – a de deslumbrar e ser deslumbrado – e que por sua potência arrebatadora provocam a abertura atordoadora e enlouquecedora do visível50. Este é o caso também, segundo Bataille, da imagem do jovem chinês cortado em cem pedaços. O filósofo foi dele uma vítima, mas dele também foi íntimo carrasco. No seu artigo Reflexões sobre o carrasco e a vítima51, Bataille afirma que não podemos ser humanos sem ter percebido em nós a possibilidade do sofrimento, assim como a da abjeção. Bacon parece ter certeza disso ao realizar seus retratos, auto-retratos e os inúmeros estudos do tema da crucificação buscando, no que há de mais disforme e grotesco, ressaltar o que há de mais humano em nós. Abrir a pele pra descobrir o que se esconde por baixo da carne; quebrar o relógio pra entender como funciona o tempo. Buscar no horror, a humanidade. O conhecimento do Mal reforça em nós o sentimento da humanidade por viabilizar no fundo maior compreensão de nós mesmos. O jovem e sedutor chinês [...] entregue ao 48 GENET, Jean, Rembrandt, José Olympio, 2002. Ibdem.pg.43. 50 DIDI-HUBERMAN, Georges, A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As Paixões. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987. 51 apud BORGES (2001) 49 87 trabalho do carrasco, eu o amava - confessa Bataille - [...] eu o amava de um modo no qual o instinto sádico não tomava parte: ele me comunicava sua dor, ou antes, o excesso de sua dor, e era justamente isso que eu buscava, não para me deliciar, mas para arruinar em mim aquilo que se opõe à ruína52. Era horrível o sentimento de Genet para com o homem a sua frente e lhe era espantosa a possibilidade de o amar. Genet deixa transparecer nos seus relatos a humanidade que lhe possibilita amar até a mais vil das criaturas e a humanidade que lhe faz ser completamente impiedoso e alheio a elas; diria, alheio a si mesmo. Daqui a pouco nada mais importará...53 O rosto, em geral a parte física do corpo que nos garante com mais eficácia uma identidade singular, é para Rembrandt, ao contrário, a certeza de que todos os homens são iguais, o que de certa forma reforçaria a idéia de humanidade. Rembrandt não sabia captar a diferença entre um homem e outro. Não será talvez por que esta diferença não exista?54 Mas há em Rembrandt a sutileza de quem retrata a delicadeza do um rosto e a gravidade do olhar de uma Fiencée juive, e deixa transparecer o seu cu55. Sob as saias de Hendrickje, sob os casacos guarnecidos de peles, sob as sobrecasacas, sob o extravagante roupão do pintor, os corpos cumprem a suas funções: digerem, estão quentes, pesados, respiram, evacuam. A massa carnal que desfigura seus retratos, despersonalizando seus modelos e retirando dos objetos todos os traços que os identificam, paradoxalmente, vêm lhes conferir mais peso e mais realidade. Harmenszoon van Rijn Rembrandt – Conjunto de retratos e auto-retratos. 52 Ibdem. GENET, Jean. Rembrandt, José Olympio, 2002. 54 GOULARDT apud GENET, Jean, Rembrandt, José Olympio, 2002.pg.23. 55 Ibdem. 53 88 Da mesma maneira, Francis Bacon busca nas vias indiretas da desfiguração, da quase abstração de suas imagens, a real aparência de seus modelos de modo a expressar sua total semelhança. Sempre espero poder deformar as pessoas no sentido da aparência delas, não me é possível pintá-las literalmente. Às vezes os retratos que faço de maneira menos literal são os que mais se parecem com os modelos, mas de forma mais dramática56. Francis Bacon – Conjunto de retratos e auto-retratos. De volta a Rembrandt, sua maneira de trabalhar os retratos, de modo a castigá-los com a decrepitude causada pelo tempo, deixa aparente a existência de uma ferida na qual suas figuras se refugiam. Ferreira Gullar dirá: na qual ele próprio – Rembrandt – se refugia. Foi na verdade o olhar devorador de Rembrandt que marcou de forma decisiva a alma de Genet; a partir de então todos os homens, estivessem eles em vagões, nas ruas, nas tabernas, em qualquer lugar, todos eram vistos por Genet projetados sob as manchas de Rembrandt. Rembrandt nos mostra que é possível amar a decrepitude; Genet compreende arrebatado por uma angústia que nunca mais o deixaria; Francis Bacon declara: talvez eu carregue esse sentimento de morte o tempo todo. Porque se a vida emociona, o oposto dela, como uma sombra, a morte, também deve emocionar. A dor impressa e pintada sem véus; a decrepitude do ser humano exposta como um desafio a todos os possíveis 56 SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon. 1995. 89 meios de fuga, são imagens de um céu que não mais abriga nem dá consolo, mas que, ao contrário, fornece a via de acesso que nos liga a nós mesmos, à nossa vil humanidade, à nossa violenta forma de ser. Rembrandt e Bacon são nossos carrascos e ao mesmo tempo são os seus próprios algozes. Nos colocam propositadamente diante do que há séculos tentamos camuflar ou esconder: a morte. Para a sobrevivência e perpetuação do modelo que escolheu para si mesma, a civilização – principalmente a judaico-cristã – readaptou convenientemente – a ponto de quase esquecer – a origem das imagens de modo a afastar dela a morte, o erotismo, a violência e o terror que faziam parte de um mesmo ritual religioso. Tanto Rembrandt quanto Bacon não nos deixam esquecer estes temas e a morte, assim não esquecemos da vida. Nesse sentido, a arte recoloca em cena a vida em sua nudez mais crua, isto é, a atividade humana, seus efeitos e suas deformações sob o impacto de uma estética de revelação do corpo que põe a nu suas funções, seus odores, seus líquidos. Põe a nu um corpo que evacua; um corpo que transborda o seu lado mais podre e ao mesmo tempo seu lado mais violento e sagrado. Francis Bacon – Tríptico maio-junho – óleo sobre tela – 1973. A arte teria este caráter de trazer à lembrança o fio de um acontecimento terrível e repeti-lo para uma determinada comunidade. A arte como ritual. Não por acaso, um mecanismo análogo ao dos sacrifícios. O sangue das ovelhas que encharcam os trabalhos de Karin Lambrecht57, por exemplo, nos defrontam com este ritual de sacrifício. Karin assiste ao abate do animal e a maneira do rito judaico espera até que o animal suspenso sangre sua última gota vermelha. Depois mancha de sangue tecidos, vestidos e pedaços de algodão, utilizando as próprias vísceras do animal. 57 Artista plástica, nascida em Porto Alegre (1957) onde vive e trabalha. 90 Karin Lambrecht – Mensagens da terra – mista – 2000. Para Agnaldo Farias58, esta série de trabalhos representa um intervalo, uma ferida por onde escorre um pouco do muito que há de oculto entre a passagem da vida e da morte. O que fica quando a substância vital flui de um corpo através de um ato violento para impregnar o tecido de algodão branco? Seria o sacrifício um fato comum como o é nossa própria passagem? As obras de Bacon nos respondem que sim; que o sacrifício é corriqueiro, é diário. Ele está nos seus autoretratos; ele está no rosto de Lucian Freud; de George Dyer; de Isabel Rawsthorne; está nos corpos que transam; está no tríptico maio-junho de 1973; está em todas as suas crucificações. Parece estar também de forma sutil nas armadilhas que crio, nas plantas que mato, nas telas que pinto. Em todo o meu trabalho plástico há um aspecto sutil da solidão. O momento de descoberta da ilusão pode ser deflagrador de uma espécie de solidão. Entendo a perda na ilusão da imagem como um momento em que acuada, a presa está só dentro da arapuca. Igualmente só está cada pedaço de planta que abandono num mundo invertido. 58 Catalogo da XXV Bienal de São Paulo. 2005 91 Patrícia Laus – Natureza negativa XIV – fotografia – 2006. Só, também estava Cristo, no momento de sua morte. A eficácia das imagens cristãs da crucificação está não apenas na compaixão que elas despertam, mas no jogo que se realiza toda vez que o expectador se involui na imagem do próprio Cristo, deseje o que ele deseja, sofra com o seu sofrimento e, assim, transcenda, saia de si para o Outro, que é Deus. Para Bataille (1987) é preciso imitar o sujeito que sofre o sacrifício, mas imitá-lo no seu único momento extremo, que é de solidão. Jesus, que durante longo tempo de sua vida foi três – pai, filho e espírito – no momento extremo de sua morte sente-se abandonado; sente-se só. A maioria dos crucificados de Bacon estão nesta situação, sós. É a solidão que, no pensamento ateu de Bataille, proporciona um mergulho no próprio corpo, na sua sujeira, podridão e morte, uma sondagem de seus limites em busca de superação. 92 Francis Bacon – sem título – óleo sobre tela – 1962 Francis Bacon – TrípticoTrês ensaios para uma crucificação – óleo sobre tela – 1962. Francis Bacon – TrípticoTrês ensaios para uma crucificação – óleo sobre tela – 1962. Daí a experiência interior ser definida como uma viagem no limite do possível do homem, uma viagem nas trevas do não-saber, sem tábua de salvação. É esta solidão que metaforiza a imagem aberta de Bataille; uma imagem sem nome, sem verbo, sem abrigo, sem consolo, sem pai. Esta é também a condição do jovem chinês que morre sem nome, sem pai, sem verbo e, sobretudo, sem nenhuma possibilidade de ressurreição. Talvez as obras de Bacon possuam a eficácia deste tipo de imagem. Bacon não se interessa pela ressurreição, mas pela ignomínia do corpo aberto em chagas, retorcido e revirado pelo avesso. De maneira trágica, seus elementos corporais investem contra a racionalidade instituída. Este é o ato de maior rasgamento: a imagem que se choca com a crença e com o senso comum, atingindo em cheio a doxa cristã. O corpo – imagem – se abre e é mantido(a) aberto(a) pelo dedo do pintor a encarar de frente o maior paradoxo do olho voraz, a coexistência do horror e do fascínio, do assustador e do imperioso; a necessidade do imundo e do que é abjeto como condição essencial do valor transformador; miraculoso, estático. Como num beijo de São Francisco de Assis na pele do leproso, Bacon apresenta Deus pelas vias do profano, erige e apresenta o corpo através do simulacro preferido do Deus cristão, a chaga viva. O sofrimento que leva a plenitude. Mas neste caso a plenitude não se alcança. Bacon traduz em imagens o desejo de Bataille: prolongar para sempre os três dias de negatividade – equivalentes à morte de Cristo antes de sua ressurreição–, e deixar apodrecer Jesus no seu sepulcro. A ovelha que sangra até secar. A morte sem ressurreição. Bataille desejaria beber até ao fim a imagem mortífera e parar, sem consolo, no puro momento negativo, o mais aberto, o mais impressionante: o momento 93 em que o filho morto não vai juntar-se, para além do azul do céu, à direita do Pai e na companhia do seu Espírito-Santo59 Talvez as imagens de Bacon nos deixem cientes desta condição de filhos órfãos que somos. Do mesmo modo, as obras de Lea Crespi, com seus ambientes sórdidos abrigando um corpo nu, desfocado, aparentemente frágil e solitário. Lea Crespi – Ensaio fotográfico - 2001 Francis Bacon – Estudo para um corpo humano 1949 - óleo sobre tela - 1949 59 Lea Crespi – fotografia - 2001 DIDI-HUBERMAN, Georges: A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As “Paixões”. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987.pg16. 94 Ver suas imagens, contra todo o consolo que ver fornece, dá acesso à solidão, obrigando o corpo a ramificar-se além de si mesmo. Um fora de si alcançado pela conversão da opulência vital em decrepitude abjeta. Um fora de si que talvez estas imagens noturnas e violentas, onde temos o homem em estados extremos, sirvam como rasgão que proporciona nossa própria saída. Talvez minhas plantas, corpos estranhos e sós, num mundo invertido, desejem apenas isto, possibilitar uma projeção onde o homem fora de si talvez consiga encontrar a si próprio. Patrícia Laus – Natureza violentada IV – negativo fotográfico da pintura – 2006. Lea Crespi – fotografia - 2001 95 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALPERS, Svetlana. A Arte de Descrever. Edusp, São Paulo. 1999. BANFI, Antonio. Filosofia da Arte, Rio de Janeiro RJ: Civilização Brasileira, 1970. BATAILLE, Georges. A Experiência Interior. São Paulo. Ed Ática. 1992. BATAILLE, Georges. História do Olho, São Paulo SP: Cosac Naify, 2003. BATAILLE, Georges. O Erotismo, Arx,São Paulo,2004 BATAILLE, Georges. Teoria da Religião, Ática, São Paulo,1993. BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de Janeiro,Ed. UFRJ/ N-Imagem,1997 BLANCHOT, Maurice. O Espaço Literário. Rio de Janeiro. Ed. Rocco, 1987. BENJAMIM, Walter. Magia e técnica, arte e política. S.P.: Brasiliense, 1985, Coleção Obras Escolhidas. BORGES, Augusto Contador. Georges Bataille: Imagens do Êxtase in revista Agulha, São Paulo. 2001. ops sit www.revista.agulha.nom.br/ag9bataille.htm BORNHEIM, A Gerd. As Metamorfoses do Olhar, in O Olhar, São Paulo SP: Ed. Companhia das Letras, 1988. BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar, in O Olhar, São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1988. CARREIRA, Eduardo. Os escritos de Leonardo da Vinci sobre a arte da Pintura, Brasília, UNB, 2000. CHARTIER. R. Le monde comme représentation, in Annales ESC, 1989, n6, pp.1514-5. apud GINZBURG. Carlo, Olhos de Madeira: Nove Reflexões Sobre a Distância. São Paulo, Cia das Letras,2001. CHALUMEAU, Jean Luc. As Teorias da Arte, Filosofia, Crítica e História da Arte de Platão aos Nossos Dias, Lisboa: Instituto Piaget, 1997. CHAUÌ, Marilena. Janela da Alma, Espelho do Mundo, in O Olhar, São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1988. DEBRAY, Régis. Vida e Morte da Imagem: Uma história do olhar no Ocidente, Vozes, Petrópolis.R.J. 1994. DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. O que é filosofia. São Paulo. ed 34.1993,cap.I. DIDI-HUBERMAN, Georges. A Paixão do Visível Segundo Georges Bataille in As Paixões. Lisboa: Revista de Comunicação e Linguagens: Ed Afrontamento 1987. DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Buenos Aires, Ed Hidalgo, 2006, pág. 119. DIDI-HUBERMAM,Georges. La Pintura Encarnada, Universidad Politécnica de Valencia, 2007 DIDI-HUBERMAN, Georges Didi-Huberman. O que Vemos, o que nos Olha, São Paulo SP: Ed 34, 2005. 96 DIDI-HUBERMAN, Georges. O rosto e a Terra:onde começa o retrato, onde se ausenta o rosto, in Porto Arte, revista de artes visuais, Porto Alegre,UFRGS,1998. FRADE, Pedro Miguel. Obscuridades e Paixões, Paixões do Obscuro in As Paixões. Revista de Comunicação e Linguagens, Lisboa: Ed Afrontamento, 1987. GENET, Jean. Rembrandt, José Olympio, 2002. HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura, São Paulo SP: Martins Fontes, 2000. HOCKNEY, David. O Conhecimento Secreto Redescobrindo as Técnicas Perdidas dos Grandes Mestres, Cosac & Naify Edições, 2001. LACAN, Jacques. O Seminário: Livro 11: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1985. JOYCE, James. Ulysses (1922) apud DID-HUBERMAN, Georges. O Que Vemos o que nos Olha Ed 34, São Paulo. 1998. LEBRUN, Gerard. Sombra e Luz em Platão, O Olhar, São Paulo: Ed. Companhia das letras, 1988. LISPECTOR, Clarice. A Legião Estrangeira. Rio de Janeiro RJ, Ed Rocco.1999 . LISPECTOR, Clarice. Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Rio de Janeiro RJ, Ed Rocco.1999 . NOVAES, Adauto. De Olhos Vendados, in O Olhar, São Paulo SP: Ed. Companhia das Letras, 1988. PONTY, Maurice Merleau. O Visível e o Invisível. Ed Perspectiva, São Paulo, 2000. PONTIERI,Regina. Clarice Lispector: Uma poética do Olhar, Ed Ateliê Editorial. São Paulo, 2001. SHINER,Larry. La invención Del Arte, Ed Paidós Estética, Barcelona, 2004. SYLVESTER, David. Entrevistas com Francis Bacon: A brutalidade dos fatos. Tradução: Maria Tereza Rezende Costa. Itália: Cosac & Naify, 1995.
Download