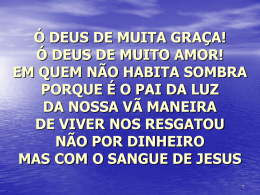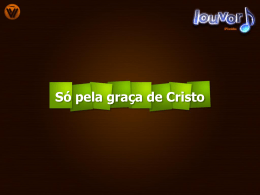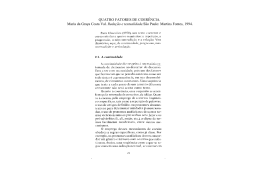BRANCA DE NEVE De Lídia Jorge Conto publicado na Alemanha pela editora Der Club RM Buch und Medien Vertrieb, Verlagsgruppe Random House em 2002. In “Vésperas de Natal”, colectânea de Contos, Ed. D. Quixote, 2002, ISBN: 972-20-2362-4 Haverá, por acaso, maior felicidade do que uma pessoa cumprir os seus próprios objectivos e ter a consciência disso? Não, não há, sobretudo se apenas se conta trinta e cinco anos de idade e já se iniciou uma carreira de gerente bancária. Sobretudo se a jovem gerente, ao proceder ao último balanço, verifica que alcançou os volumes de crédito previstos. Era isso, precisamente, o que Maria da Graça constatava, ao encerrar a última pasta, naquele fim de dia de infatigável trabalho. Para lá do vidro, o relógio do Grande Hall marcava as horas e as duas agulhas rodando pareciam falar da harmonia do Mundo. Oito horas. A harmonia sobressaía do rosto do relógio em face dos números exarados na primeira folha da última Pasta. Dentro do gabinete, fazia um frio quase intenso. O chão de mármore parecia de gelo. O ar condicionado havia sido desligado, o sistema informático havia sido libertado apenas para ela, visitante solitária das instalações do Banco, naquele dia feriado, antes de vários feriados. De véspera, todos se tinham despedido. Mas ela tinha continuado ali encerrada, a cumprir a tarefa que a levaria a atingir o objectivo previsto. Por aquecimento, apenas o café que saía da máquina e o casacão castanho de caxemira. Tinha passado o dia enrolada nele e no silêncio ameaçador que um recinto habitado por demasiada gente engendra, quando despovoado. Não fazia mal, ali estava. Embrulhada, cansada, satisfeita, a terminar a tarefa. Durante toda a tarde, tinha-se desfeito em telefonemas para clientes que viajavam para longe, para outros que já se encontravam em estâncias distantes, pessoas a fugirem da cidade, a procurarem repousos de sonho, locais iluminados por estrelas e velas. E ela tinha-os alcançado, atingido, marcado encontros para dali a cinco dias, assegurando assim os movimentos de crédito que lhe permitiriam ultrapassar os objectivos previstos. Apenas um deles, cuja voz parecia emergir de algum lugar imóvel, lhe tinha perguntado – «Ouça lá, num dia destes, o que a fez mover?» E ela tinha-lhe pedido desculpa, desligando em seguida. Conhecia-o, era um cliente rebelde, uma dessas criaturas amargas com o Mundo. Sobre a secretária, ainda ela tinha o cartão que ele lhe havia deixado, agarrado a uma garrafa de champanhe. O cartão representava um infalível Jesus de olhos azuis, sorridente, como se tivesse nascido com três anos de idade, de mãos no ar e joelhinhos dobrados. De qualquer modo, um Jesus, uma imagem dessas sob as quais, as pessoas equilibradas costumam escrever apenas Boas Festas, Feliz Natal. Mas ele, o cliente rebelde, como se fosse insensível, tinha escrito em letra geométrica, trancada, própria dos severos e agastados – Em que altura a criança troca a moeda de oiro da inocência pela agulha da perversidade? – Silva Dias. Assim mesmo, sem mais nem menos, como se espalhar a suspeita sobre os seres humanos fosse a sua prenda de Natal. Pois o que queria o Engenheiro Silva Dias dizer com aquele arrazoado? Que o Cristo de joelhinhos levantados ainda mantinha a moeda de oiro? Que estava destinado a perdê-la, como qualquer ser humano? E que todo o homem, por conseguinte, era perverso porque não havia outra saída possível para a sua natureza? Também Cristo? À excepção de Cristo? - Não, não tinha continuado o telefonema. Face ao enigma das palavras, Maria da Graça sentia que era um descanso lidar com a lógica dos números. Crédito, não crédito. Lucro, não lucro. Tinha desligado. E agora, ao sair para o frio móvel da rua, não queria pensar mais nesse cliente bárbaro. As armações eléctricas ofereciam uma floresta de luzes e brilhos, como num incêndio brando onde se caldeassem em uníssono as boas intenções da vida. Estrelas e sinos, feitos de lâmpadas acesas, falavam-lhe na urgência em que estava. Ainda tinha de passar pela Pastelaria para arrecadar uma torta, ainda tinha de tomar um táxi para ir buscar o carro que havia deixado a lubrificar. Ainda, ainda. E eram quase nove horas. Já com a caixa na mão, Maria da Graça encerrou-se por completo dentro do longo casaco de caxemira e avançou avenida fora. Sim, a Avenida EUA, longa e larga, um corte de Nascente a Poente sobre uma elevação considerável, essa não suportava enfeites a não ser os que sobejavam de uma ou outra árvore alucinada, piscando no interior dos pátios. Os prédios altos, as duas margens da via bem afastadas, entre as quais um rio de trânsito passava, não o permitiam. Naquela noite, o vento que soprava do Atlântico batia ali, a pleno galope, como se fosse feito de facas. No clima ameno de Lisboa, onde nada de grandioso acontece, por aquela ocasião, soprava um vento assim. Túneis na avenida, jardins intercalares intermináveis. Papéis e pedaços de pinheiro levantados no ar. Por perto, não passava um táxi. Então iria descer. Iria descer, acompanhando o movimento do trânsito para poder chamar um carro livre, assim que surgisse. Entretanto, como avançava rente às paredes, nem se importava. Fazia-lhe bem caminhar depois de um dia de contínuo trabalho. Fazia-lhe bem respirar aquela aragem. O mundo leve, as abas do casaco quente a protegerem-lhe o corpo, a balouçarem no andamento. Via-se nos vidros das portas, o desenho do casaco amplo a voar, os espelhos correndo paralelos à marcha. Espelhos ocasionais pelo passeio da avenida abaixo. Ao largo, de momento para momento, a situação mudava. Agora já pouca gente na rua, já poucos carros, nenhum táxi, não fazia mal. Maria da Graça sentia-se levada pelas abas do casaco e pelo conforto do seu cumprimento pessoal. Nem sentia nada, de concentrada que ia na sua marcha. A certa altura, porém, sentiu. Era uma espécie de presença, o cheiro dum outro, um bafo atrás. O fumo dum cigarro? Sobressaltou-se. Não tinha que se sobressaltar. Virou-se e apenas dois garotos caminhavam como ela, passeio abaixo. «Dois garotos?» – pensou. Os dois garotos tinham parado. Ela havia recomeçado a andar. Teriam tido medo dela e por isso teriam parado? Sim, eram apenas dois garotos, em sapatos de ténis, descendo, avenida abaixo, na mesma direcção. Não importava. No dia trinta de Dezembro, quando houvesse a última reunião do ano, ela, a gerente, teria atingido todos os objectivos. Teria ultrapassado o que se havia proposto. Leve, leve. Saco na mão e torta ao peito. A presença atrás. Então virou-se e percebeu que os garotos caminhavam mesmo no seu encalce e não eram dois, mas três. Um deles, o mais próximo, mostrou a boca onde luziam, na frente, dois dentes adultos a despontar. Mínimo, o garoto disse-lhe – «Não tenha medo, dona, vamos aqui, abrigados na sombra do seu casaco...». Maria da Graça recomeçou a andar. «Na sombra do meu casaco...» – pensou. É como nas corridas. De facto, a pessoa da frente corta o ar e abriga os outros, facilita a vida aos de trás. O da frente corta o ar, o frio ou o calor. Naquele caso, três crianças procuravam o cone criado pela aba do seu casaco para se abrigarem do vento frio. Então ela virou-se e viu que eram quatro. Quatro garotos desciam a Avenida EUA, à sombra do seu casaco. Vista de cima, que figura interessante, a sua pessoa não haveria de criar. Ela, a andar, com quatro putos pequenos a seguirem-na, para se abrigarem. A imaginar-se fora de si e a ver-se seguida por quatro crianças mínimas. Encheu-se de ternura pela vida, pelo calendário litúrgico, pelos meninos que a seguiam. Quatro. Avenida abaixo. O casaco de caxemira quase aberto, a andar de um lado a outro, para poder criar um cone de protecção maior. Merecia, ela merecia aquela surpresa maravilhosa, depois de um dia de trabalho intenso e solitário, para cumprir as metas. Voltou-se, a rir, e viu. O garoto com dentes nascentes, demasiado largos e demasiado curtos, continuava a ser o primeiro. Os outros três caminhavam atrás. «Para onde vão vocês?» – perguntou Maria da Graça, pensando que iria alcançar o fim da Avenida, iria atravessar o Parque, e se eles precisassem, naquela noite, noite simbólica da caridade entre os homens, ela, que atingia objectivos de produtividade bancária, poderia colocá-los dentro do carro e leválos até próximo do seu destino. Se não mesmo ao seu destino. Os seus amigos esperavam-na. Quando chegasse ao Restelo, pelas onze horas, poderia contar como havia descido a Avenida EUA, com quatro crianças atrás do seu casacão. Virou-se – «Eu vou atravessar o Campo Grande. E vocês?» Intimidados, eles não diziam nada. Só a seguiam, pouco enroupados, as mãos debaixo dos sovacos, os cotovelos rente ao corpo. O da frente, a rir desabridamente. Parando, quando ela parava. Cada vez o trânsito rareava mais. Os táxis passavam ao centro da avenida, longínquos, os sinais desligados, a recolherem para qualquer lugar como animais para o amalho. Maria da Graça pensou – «Vou atravessar por aqui, talvez eles venham atrás...» Vamos fazer companhia uns aos outros. Se eles não viessem comigo, eu não viria por aqui... Eu adiante, de casaco aberto, fazendo bandeira para eles, e eles a fazerem-me companhia... Eu muito feliz, muito feliz. Aqui vou eu, atravessando a direito, por entre as árvores do Parque. Depois de atravessá-lo, seria só atingir o outro lado e meter-se no carro. Tinha ficado com uma segunda chave, sentia-a na algibeira. A oficina havia encerrado nas já longínquas cinco horas da tarde. E ela ali. Meninos que seguem o capote duma gerente bancária, que cumpriu objectivos e atravessa a noite feliz. «Meninos?» – Virou-se. Estava no meio duma clareira do Parque, uma zona bastante iluminada. Atrás dela não caminhavam apenas quatro meninos. Caminhavam mais, embora a fila compacta não permitisse contá-los. Seria difícil. Até porque Maria da Graça continuou em frente, entrou numa zona de sombra e teve a certeza de que eram muitos mais. Eles tinham-na cercado. Não, não lhe faziam mal. Estavam só à volta dela, e caminhavam agora abertamente a seu lado, a rirem para ela, como se fossem a sua guarda pretoriana. O maior entre eles já deveria fazer a barba, mas mesmo assim, era baixo, dava-lhe pelo ombro. O dos dentes nascentes era mesmo mínimo. Os outros, mínimos também. Ela tinha parado, tinha levantado a caixa da torta à altura do peito. «Eh! Eh!» – disse ela, sem saber muito bem o que dizer, sentindo-os demasiado próximo. Tão próximos que lhe levantavam as roupas, metiam as mãos pequenas por baixo do casaco, atingiam-lhe o cós da saia. Para se proteger, Maria da Graça tinha largado a caixa da torta. Ao debruçar-se para o chão, a fim de alcançá-la e de se recompor, sucedeu que as crianças mínimas, precisamente, lhe puxaram violentamente o saco, atirando-a por terra. E contudo, era tudo silencioso, rápido, como num sonho. Não faziam ruído. Ela tinha-se precipitado para o saco, mas eles afastavam-se, agitando-o, procurando, dentro dele, a parte que lhes interessava. «Eh! Eh!» – continuava ela a dizer, em voz baixa, incrédula. «Eh rapazes!» Eram seis à volta do saco e da carteira, entornada na relva. O chefe, o atarracado, olhava em volta, assegurava-se que os carros passavam apenas a dez metros de distância. Eram sete. O chefe, esse mesmo, escolhia o conteúdo na relva. Levavam o que levavam. Lá dentro, Maria da Graça sabia ter apenas uns brincos, uma caneta de aparo de prata e restantes objectos pessoais. E a carteira com cartões e dinheiro. «Eh! Eh!» Por favor, as minhas fotografias, a fotografia da minha mãe e do meu pai... «Eh! Eh!» Maria da Graça estava sentada no chão e não sentia dureza nenhuma. Era como se ainda estivesse em pé e levasse várias crianças acolhidas na sombra da sua saia. Mas não, a verdade era outra. Em que altura a criança troca a moeda de ouro da inocência? Em que altura? Sempre troca? Totalmente troca? Ela gritou – «Seus filhos da puta, seus raspelhos malvados! Aqui, as fotografias!» O vento, ali, na abrigada plana do Parque, não se fazia sentir. Dava para ver tudo claro, enquanto, escondidos na sombra das árvores, entre si, os miúdos lutavam. Um novelo de miúdos à volta de um saco. O chefe, o mais velho, tomou-o pelas asas e fugiu, agitando-o no ar. Mas um deles, um outro, esgueirando-se da luta, correu na direcção dela como uma flecha, devolvendo-lhe, atirando-lhe a carteira esfrangalhada. Era o mais mínimo de todos, o dos dentes nascentes, e por um instante, só por um instante, o mínimo ficou parado em frente dela, a rir, a olhá-la de lado, de frente, a cabeça agitada como um pássaro, pronto a fugir para outro lugar, ao menor sinal. Era o primeiro que se havia aproximado, quando aquele sonho era bom e eles seguiam atrás dela, na sombra do casaco. Era esse, de frente, de lado, ainda ali, a olhar para ela, e já longe, a sumir-se no escuro da noite. Aliás, ele nunca tinha chegado a dizer-lhe que lhe devolvia as fotografias porque ela as havia reclamado, ele nunca chegou a dizer-lhe, aqui tem, senhora gerente, prazer em conhecê-la, feliz encontro, Feliz Natal. Ela é que julgou que sim. Ou não, não julgou. Maria da Graça quis antes que fosse assim. Procedeu como habitualmente procedia com as operações do crédito bancário - rasurava detalhes, dúvidas, simulações, arredores das causas e transformava-os em percentagens, débitos, produtos, em função de projectos que ocupavam uma única linha. Depois de um traço, uma ordem simples na complexidade intrincada dos factos. Foi em tudo isso que ela pensou, duas horas mais tarde, ao entrar na casa dos amigos que festejavam a Natividade, envergando ainda o amplo casaco de caxemira, sujo da terra do Parque. Então Maria da Graça contou de que modo o menino dos dentes incisivos nascentes tinha olhado para ela, com simpatia por ela, e lhe havia dito – Desculpe, dona, aqui tem as suas fotografias. Boa noite, feliz Natal. Só depois o miúdo teria desaparecido por detrás das árvores, deixando-a no chão. Pois Maria da Graça, a jovem gerente bancária, ainda a sacudir-se, na casa dos seus amigos, sem torta e sem saco, achava que o Mundo não era só como era, era antes de mais aquilo que dele se escolhia para ser contado no dia seguinte. E ela queria que fosse assim – Sete miúdos haviam viajado na sombra do seu casaco, seis não passavam de vis ladrões, mas um deles tinha-se salvo. Tratava-se de uma percentagem pequena, atendendo a que tudo acontecera, numa noite de Natal. Mesmo assim, era uma percentagem válida. Era ou não era? «Oh! Maria da Graça!» A casa dos seus amigos, enfeitada de velas, ao Restelo, parecia um cais. Os próprios amigos, em seu redor, pareciam guardas. Só aí ela havia estendido o braço, pedindo por favor um lenço de assoar.
Download