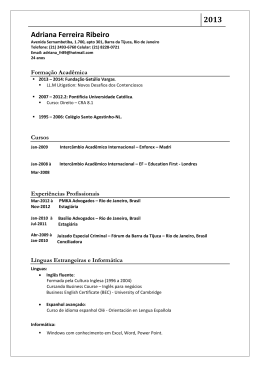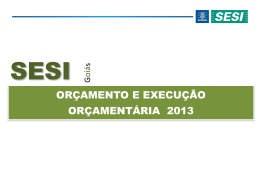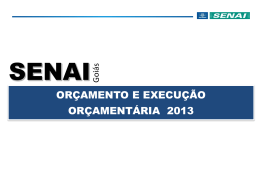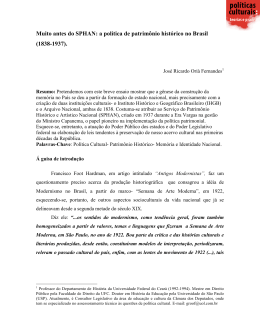R IHGB a. 170 n. 442 jan./mar. 2009 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO DIRETORIA – (2006-2008) Presidente: Arno Wehling 1º Vice-Presidente: João Hermes Pereira de Araújo 2º Vice-Presidente: Victorino Coutinho Chermont de Miranda 3º Vice-Presidente: Max Justo Guedes 1ª Secretária: Cybelle Moreira de Ipanema 2º Secretário: Elysio de Oliveira Belchior Tesoureiro: Fernando Tasso Fragoso Pires Orador: José Arthur Rios CONSELHO FISCAL Membros efetivos: Antônio Gomes da Costa, Marilda Corrêa Ciribelli e Jonas de Morais Correia Neto Membros suplentes: Joaquim Victorino Portella Ferreira Alves e Pedro Carlos da Silva Telles COMISSÕES PERMANENTES Admissão de sócios: José Arthur Rios, Alberto Venancio Filho, Carlos Wehrs, Francisco Luiz Teixeira Vinhosa e João Hermes Pereira de Araújo Ciências Sociais: Lêda Boechat Rodrigues, Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão, Helio Jaguaribe de Mattos, Cândido Antônio Mendes de Almeida e Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Estatuto: Affonso Arinos de Mello Franco, Alberto Venancio Filho, Victorino Coutinho Chermont de Miranda, Célio Borja e Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior Geografia: Max Justo Guedes, Lucinda Coutinho de Mello Coelho, Jonas de Morais Correia Neto, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e Miridan Britto Falci História: João Hermes Pereira de Araújo, Maria de Lourdes Viana Lyra, Eduardo Silva, Elysio Custódio G. de Oliveira Belchior, Pe. Fernando Bastos de Ávila e Guilherme de Andréa Frota Patrimônio: Affonso Celso Villela de Carvalho, Claudio Moreira Bento, Joaquim Victorino Portella Ferreira Alves, Victorino Coutinho Chermont de Miranda e Fernando Tasso Fragoso Pires CONSELHO CONSULTIVO Membros nomeados: Augusto Carlos da Silva Telles, Luiz de Castro Souza, Lêda Boechat Rodrigues, Evaristo de Moraes Filho, Max Justo Guedes e Hélio Leoncio Martins CEPHAS (Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas) Coordenadoras: Maria de Lourdes Viana Lyra e Lucia Maria Paschoal Guimarães Editor do Noticiário: Victorino Coutinho Chermont de Miranda DIRETORIAS ADJUNTAS Arquivo: Carlos Wehrs Biblioteca: Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha Museu: Vera Lucia Bottrel Tostes Coordenadoria de Cursos: Maria de Lourdes Viana Lyra, Mary del Priore Patrimônio: Guilherme de Andréa Frota Projetos Especiais: Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão Informática e Disseminação da Informação: Esther Caldas Bertoletti Relações Externas: João Maurício Ottoni Wanderley de Araújo Pinho Iconografia: Pedro Karp Vasquez REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO Hoc facit, ut longos durent bene gesta per annos. Et possint serâ posteritate frui. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170, n. 442, pp. 9-420, jan./mar. 2009. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ano 170, n. 442, 2009 Indexada por/Indexed by Historical Abstract: America, History and Life - Ulrich’s International Periodicals Directory Handbook of Latin American Studies (HLAS) - Sumários Correntes Brasileiros Comissão da Revista - Editores Miridan Britto Falci (Diretora) - Esther Bertoletti - Maria de Lourdes Viana Lyra - Mary Lucy Murray Del Priore Conselho Editorial Arno Wehling (Presidente) Antonio Manuel Dias Farinha Carlos Wehrs Eduardo Silva Elysio de Oliveira Belchior Humberto Carlos Baquero Moreno João Hermes Pereira de Araújo José Murilo de Carvalho Vasco Mariz Conselho Consultivo Amado Cervo Aniello Angelo Avella Antony Russel-Wood Antonio Manuel Botelho Hespanha Carlos Humberto Pederneiras Corrêa Claude Lévi-Strauss Edivaldo Machado Boaventura Fernando Camargo Geraldo Mártires Coelho José Octávio de Arruda Mello José Marques Junia Ferreira Furtado Leslie Bethell Márcia Elisa de Campos Graf Marcus Joaquim Maciel de Carvalho Maria Beatriz Nizza da Silva Maria Luiza Marcílio Nestor Goulart Reis Filho Renato Pinto Venâncio Stuart Schwartz Victor Tau Anzouategui Correspondência: Rev. IHGB - Av. Augusto Severo, 8-10º andar - Glória - CEP: 20021-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil Fone/fax. (21) 2509-5107 / 2252-4430 / 2224-7338 e-mail: [email protected] home page: www.ihgb.org.br © Copright by IHGB Tiragem: 700 exemplares Impresso no Brasil - Printed in Brazil Revisora: Julia Carion Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. - Ano 1-4 (jan./dez.,1839)-. Rio de Janeiro: o Instituto, 1839v. : il. ; 23 cm Trimestral Título varia ligeiramente ISSN 0101-4366 N. 408: Anais do Simpósio Momentos Fundadores da Formação Nacional N. 427: Inventário analítico da documentação colonial portuguesa na África, Ásia e Oceania integrante do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro / coord. Regina Maria Martins Pereira Wanderley N. 432: Colóquio Luso-Brasileiro de História. O Rio de Janeiro Colonial. 22 a 26 de maio de 2006. N. 436: Curso - 1808 - Transformação do Brasil: de Colônia a Reino e Império 1. Brasil - História. 2. História. 3. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - Discursos, ensaios, conferências. I. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ficha catalográfica preparada pela bibliotecária Célia da Costa SUMÁRIO Apresentação Miridan Britto Falci I– INÉDITOS Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Maraliz de Castro Vieira Christo 7 9 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI 45 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) 75 Maria Renata da Cruz Duran Fabiano Vilaça dos Santos Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil 125 Maria Isabel de Siqueira Astronomia na Pré-história da Bahia 141 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII 163 Fernando Bonetti Tavares e Maria Beltrão Márcia Amantino II– COMUNICAÇÕES Genealogias negras: limites e possibilidades Victorino Chermont de Miranda 183 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas 197 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano 233 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais 249 Douglas Apratto Tenório Fernando Tasso Fragoso Pires Rogéria Moreira de Ipanema George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil 267 Melquíades Pinto Paiva A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado Ana Maria Carvalho de Miranda Sá III–COMUNICAÇÕES (ainda d. João) Astronomia na regência de dom João Ronaldo Rogério de Freitas Mourão A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias Cybelle de Ipanema 295 319 337 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro 363 Carlos Alberto Figueiredo A inteligência e o desenvolvimento econômico 387 O Brasil faz as pazes com o mar 401 Elysio de Oliveira Belchior Helio Leoncio Martins IV–RESENHA Ensaios históricos e saborosas inconfidências diplomáticas Vasco Mariz Antônio Celso Alves Pereira 413 APRESENTAÇÃO Nossa primeira revista do ano de 2009 apresenta quatro partes. Na primeira, designada como Inéditos, alencamos artigos especiais enviados por historiadores diversos: o ensaio intitulado Gonzaga Bordando: imagens de um conjurado de Maraliz de Castro Vieira Christo, o estudo sobre Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Maria Renata da Cruz Duran, a interessante pesquisa de Fabiano Vilaça Santos intitulada A Casa e o Real e Serviço: Francisco Xavier de Mendonça, o extenso trabalho de síntese sobre Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa de Maria Isabel de Siqueira,o interessante trabalho Astronomia na pré-história de Fernando Bonetti Tavares e Maria Beltrão e finalmente a pesquisa de Marcia Amantino sobre A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVII. São sete belos trabalhos de pesquisa e reflexão de historiadores e pesquisadores de várias partes do Brasil e que foram julgados e aprovados pelo nosso corpo de pareceristas. A segunda parte, denominada Comunicações, traz artigos apresentados na Cephas (Comissão de Pesquisas Históricas que se reúne às quartas-feiras) ou enviados por historiadores mas que se caracterizam por serem menos densos em suas preocupações metodológicas ou informações bibliográficas. Dentre os inúmeros trabalhos apresentados nas seções anuais da Cephas, que nos chegaram seguindo as normas de editoração e foram posteriormente selecionados por pareceristas, transcrevemos: Genealogias negras: limites e possibilidades do nosso sócio e genealogista Victorino Chermont de Miranda, grande pesquisador, que faz reflexão sobre o significado da genealogia, sua importância e sua especificidade em relações às populações ditas sem história, como é o caso de nossos escravos. Duas comunicações sobre os engenhos de açúcar e sua sociedade vieram alargar conhecimentos: o Caminhos do açúcar engenhos e casasgrandes de Alagoas do historiador Douglas Apratto Tenório e Engenhos do açúcar no Recôncavo Baiano de Fernando Tasso Fragoso Pires. Nossa convidada Rogéria Moreira de Ipanema nos apresentou o estudo sobre Distinção do poder e o nosso sócio Melquíades Pinto Paiva fez um estudo sobre o ictiologista George Sprague Myers e sua atuação no Brasil. Finalmente o estudo de história, cultura e misticismo intitulado A proteção do Rosário de N. Sra. de Ana Maria Carvalho de Miranda Sá. São pesquisas ou partes de pesquisas ainda em elaboração. Na terceira parte, reunimos também Comunicações sob o tema Dom João, cuja chegada ao Brasil em 2008, completou duzentos anos e que levou o Instituto a elaborar congresso internacional, palestras especiais, cursos e edição de trabalhos já em duas anteriores revistas do IHGB. São estudos de sócios e de convidados. Dentre os primeiros temos a Astronomia na regência de Dom João de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias de Cybelle de Ipanema, As missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia de Carlos Alberto Figueiredo, A inteligência e o desenvolvimento econômico de Elysio de Oliveira Belchior, e finalmente, O Brasil faz as pazes com o mar do almirante Hélio Leoncio Martins. Todos os trabalhos foram apresentados no Colóquio realizado no IHGB em agosto de 2008. Na última parte, Resenha, anexamos o trabalho de Antonio Celso Alves Pereira sobre o livro de Vasco Mariz intitulado Ensaios históricos e saborosas inconfidências Diplomáticas recém lançado. Compreendemos a responsabilidade de apresentar ao público acadêmico mais uma produção de nossos historiadores e acreditamos que estamos assim colaborando para a divulgação e o conhecimento da mais expressiva produção historiográfica do Brasil. Miridan Britto Falci Sócia titular – Diretora da Revista Pós-Doutora em História -Professora Adjunto da UFRJ Gonzaga bordando: imagens de um conjurado I – INÉDITOS Gonzaga bordando: imagens de um conjurado1 Maraliz de Castro Vieira Christo2 Resumo: O presente artigo analisa como o pintor Pedro Americo concebeu a Conjuração Mineira, quando, em 1893, planejara pintar uma série composta de cinco quadros sobre o movimento. Particularmente, nos interessa a imagem criada pelo artista para Tomás Antônio Gonzaga e como o mesmo dialogou com a memória construída sobre o poeta ao longo do século XIX. Palavras-chave: Tomás Antônio Gonzaga, Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, Pedro Americo. Abstract: This article examines how the painter Pedro Américo conceptualized the Minas Conspiracy when, in 1893, he planned a series of five paintings about the independence movement. We are particularly interested in the image the artist created for Tomás Antônio Gonzaga and how it conversed with the remembrance of the poet formed during the nineteenth century. Keywords: Tomás Antônio Gonzaga, Minas Conspiracy, Inconfidência Mineira, Pedro Américo. Bordando. Assim Pedro Américo (1843-1905) imagina Tomás Antônio Gonzaga no primeiro quadro da narrativa concebida pelo pintor sobre a Conjuração Mineira, que culmina com o conhecido “Tiradentes Esquartejado” (1893). A proposta de Pedro Américo encontra respaldo em que tradição? Os textos historiográficos, as histórias literárias, as introduções e prefácios às obras do poeta, ou mesmo os textos ficcionais a ele dedicados, que imagem construíram de Gonzaga ao longo do século XIX? O ato de bordar teria algum significado na composição dessa memória? Que papel lhe era atribuído na Conjuração Mineira quando Pedro Américo planejou a série? A narrativa seria composta por cinco quadros:3 “a cena idílica de 1 –1 Este artigo baseia-se no segundo capítulo de nossa tese: Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro Américo e “Tiradentes Esquartejado”. Campinas, 2005 (UNICAMPIFCH, Doutorado em História) 2 –1 Profª. Dra. de História da Arte da Universidade Federal de Juiz de Fora, bolsista da Fundation Getty junto ao Institut National d’Histoire de l’Art de Paris (2003-2004). 3 –1 Embora não a tenha realizado em forma definitiva, o pintor executou alguns estudos para a série e a nomeou “O Tiradentes supliciado” em Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 11/07/1893, p.1. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 9 Maraliz de Castro Vieira Christo Gonzaga a bordar a fio de ouro o vestido nupcial de sua Marília” – na prisão, Tomas Antônio Gonzaga negou sempre seu envolvimento com a conjura, declarando-se um poeta apaixonado, que passava o tempo bordando, desconhecendo a trama dos amigos reunidos em sua própria casa; Pedro Américo retrata não o líder intelectual do movimento mas um anti-herói; “a mais importante das reuniões dos conjurados” – na casa do tenentecoronel Francisco de Paula Freire de Andrade, os conjurados reticentes apenas ouvem Tiradentes, não há manifestação de júbilo ou juramento solene que mostre a adesão a uma causa; a presença de Silvério dos Reis, corrói o valor afirmativo da cena, trazendo à memória a traição, o erro do herói em confiar em demasia nos poderosos de Minas�������������������� ; “a cena da constatação de óbito, passada diante do cadáver de Cláudio Manuel da Costa” – o artista não se decide pelo suicídio ou assassinato de Cláudio, fixa-se no início da infelicidade dos conjurados, na fragilidade daquele que morreu por ter confessado e denunciado os amigos; “a prisão de Tiradentes em uma casa da antiga rua dos Latoeiros” – representa um preâmbulo à cena do esquartejamento, lembrando os três anos das agruras da prisão, tempo em que a imagem de Tiradentes se transforma, como afirmara o historiador Joaquim Norberto de Souza Silva, em seu livro História da Conjuração Mineira (SOUZA, 1873): “Prenderam um patriota; executaram um frade!” – e, por fim, “Tiradentes supliciado”. O primeiro contato com a enunciação dos momentos da narrativa nos evoca a estrutura de uma tragédia: felicidade, erro e catástrofe, numa relação de causa e efeito. Gonzaga, feliz na expectativa do casamento, Tiradentes errando ao confiar nos conjurados e a catástrofe das prisões e execução de Tiradentes. Vale lembrar que o cerne de uma tragédia não se limita à maldade por si só, recaindo sobre a vítima, mas o virtuoso que erra e sofre consequências. Pedro Américo planejara iniciar a série com Tomás Antônio Gonzaga. Para muitos, o verdadeiro líder da Conjuração Mineira: ouvidor inflexível, leitor de Voltaire, escritor das Cartas Chilenas e responsável, com Cláudio Manuel da Costa, pela redação das leis da nova república, a ser proclamada em Minas Gerais. Entretanto, o artista pensou retratar 10 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Gonzaga em cena idílica, sobrepondo o poeta ao conjurado. Apesar de não termos encontrado os estudos para Gonzaga bordando..., há uma referência ao quadro, quando do anúncio da exposição de Tiradentes supliciado, na sede da Cidade do Rio: O distincto artista, sempre brilhante nas composições a que empresta todo o vigor do seu talento, tem já promptos outros quadros, entre os quaes se destacam (...) Gonzaga, o grande poeta lyrico, bordando, em tête-â-tête amoroso, a velludo e ouro, um vestido para Marília de Dyrceu, que inspirou os seus versos, e que nelle apparece illuminando-o com a sua bella physionomia de mulher, vencendo, subjugando um grande coração de artista. 4 A origem do tema Pedro Américo retoma explicitamente a lira XXXIV, da segunda parte de Marília de Dirceu, obra de Tomás Antônio Gonzaga: Vou-me, ó Bela, deitar na dura cama, De que nem sequer sou o pobre dono; Estende sobre mim Morfeu as asas, E vem ligeiro o sono. Os sonhos, que rodeiam a tarimba, Mil cousas vão pintar na minha ideia: Não pintam cadafalsos, não, não pintam Nenhuma imagem feia. Pintam que estou bordando um teu vestido; Que um menino com asas, cego e loiro, Me enfia nas agulhas o delgado, 4 –1 “O Tiradentes”, Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 02/07/1893, p.1. É temerário aceitar passivamente a descrição do jornal. Se Pedro Américo não trouxe consigo, para o Brasil, os estudos, a partir de que informação o jornal o descreve? De um depoimento do artista? Ante à vista de desenhos, de fotografias? Entretanto, apesar das ressalvas, é instigante pensarmos na imagem proposta pelo jornal. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 11 Maraliz de Castro Vieira Christo O brando fio de oiro. Pintam que entrando vou na grande Igreja: Pintam que as mãos nos damos, e aqui vejo Subir-te à branca face a cor mimosa, A viva cor do pejo. Pintam que nos conduz doirada sege À nossa habitação; que mil amores Desfolham sobre o leito as moles folhas Das mais cheirosas flores. Pintam que dessa terra nos partimos; Que os amigos, saudosos e suspensos, Apertam, nos inchados, roxos olhos Os já molhados lenços. Pintam que os mares sulco da Bahia, Onde passei a flor da minha idade. Que descubro as palmeiras, e em dois bairros Partida a grã Cidade. Pintam leve escaler, e que na prancha O braço já te of’reço, reverente; Que te aponta c’o dedo, mal te avista, Amontoada gente. Aqui, alerta, grita o mau soldado; E o outro, alerta estou, lhe diz, gritando. Acordo com a bulha, então conheço Que estava aqui sonhando. Se o meu crime não fosse só de amores, A ver-me delinquente, réu de morte, Não sonhara, Marília, só contigo, Sonhara de outra sorte. 12 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Pedro Américo parece seduzir-se pelo desejo do poeta, primeiro, por pintar, segundo, de não pintar “cadafalsos”, “nenhuma imagem feia”. A percepção da poesia como pintura está presente não apenas na lira acima, mas em toda Marília de Dirceu.5 São numerosas as referências ao ato de pintar, à pintura ou a elementos da arte pictórica. Conscientemente o poeta opta pelo preceito horaciano e arcádico do ut pictura poesis, como ele próprio define: “Pintam, Marília, os poetas” (Primeira parte, II, 1). Os sonhos, ignorando-lhe o encarceramento e acusações, “pintam” ao poeta o devir outrora planejado. Dirceu almeja a retomada de sua liberdade, de sua vida privada e amores. Em Marília de Dirceu o futuro desejado confere significado ao tempo presente. Se este torna-se nefando, o futuro apresenta-se como conquista humana e individual possível: o amor que a tudo sobrepõe.6 Entre o sofrimento da prisão e o sonho restaurador do devir, presentes em toda a segunda parte de Marília de Dirceu, Pedro Américo pensou em retratar-lhe o sonho, a vida sem desventura, “nenhuma imagem feia”, como se a conjuração não lhe mudasse o destino. O sonho de Dirceu, na lira XXXIV, abrange seis momentos: o bordado, o casamento, a noite de núpcias, a partida, a viagem, interrompido justamente na chegada à Bahia. Cabe lembrar que o casamento de Tomás Antônio Gonzaga (Dirceu) com Maria Joaquina Dorotéia de Seixas (Marília) estava marcado para o fim de maio, sendo ele preso no dia 23 de maio de 1789. Se realizado, os noivos logo partiriam para a Bahia, onde o poeta seria empossado como desembargador da Relação, cargo para o qual estava designado desde 11 de outubro de 1786. Desses momentos, Pedro Américo fixa-se no primeiro: “A cena idí5 –1 CRISTÓVÃO, Fernando. Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga: ou a poesia como imitação e pintura. Vila da Maia: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1981. (Série Temas Portugueses). 6 –1 POLITO, Ronald. A persistência das ideias e das formas; um estudo sobre a obra de Tomás Antônio Gonzaga. Niterói: 1990 (Dissertação, Mestrado em História, UFF), p. 226, 232-233 e 256. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 13 Maraliz de Castro Vieira Christo lica de Gonzaga a bordar a fio de ouro o vestido nupcial de sua Marília”. Esse mesmo gesto amoroso fora antecipado na lira XV: Se não tivermos lãs e peles finas, Podem mui bem cobrir as carnes nossas As peles dos cordeiros mal curtidas, E os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido Por mãos de Amor, por minhas mãos cosido. (Segunda parte, XV) Na segunda parte de Marília de Dirceu - que corresponde ao período de prisão na Fortaleza de São José da ilha das Cobras e, posteriormente, aos segredos da Ordem Terceira de São Francisco –, o poeta, em versos, repete parte dos argumentos utilizados na construção de sua defesa. O que Alberto Faria mais tarde chamou de “Crônica processual rimada”.7 No primeiro interrogatório – presidido pelo desembargador José Pedro Machado Coelho Torres, em novembro de 1789, mais de cinco meses após sua prisão –, Gonzaga respondia à acusação de, uma vez despachado para a Bahia, continuar em Vila Rica “com o frívolo pretexto de um casamento, que tudo é ideia, porque já se achava fabricando leis para o novo regime de sublevação”.8 Negando sempre seu envolvimento, Gonzaga defende-se argumentando que se encontrava em Minas apenas aguardando licença da rainha para o seu casamento, já contratado há dois anos. Em fevereiro de 1790, dois meses e meio após o primeiro interrogatório, Gonzaga volta a ser inquirido por Torres. O desembargador lhe faz ver novamente a insuficiência de sua defesa ante as provas, particularmente quanto ao fato de ter ouvido o acusado em sua residência conversas sobre a sedição “por mais de uma vez e até fora de sua própria casa”.9 Gonzaga 7 –1 Citado por: LAPA, M. Rodrigues. Tiradentes e Gonzaga. In: Revista do Livro. 1958, p. 103. 8 –1 Arquivo Público Mineiro(1979). Apud GONÇALVES, Adelto. Gonzaga, um poeta do Iluminismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 261. 9 –1 OLIVEIRA, Tarquínio . Apud GONÇALVES, A. Idem. 14 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado reconheceu que Alvarenga Peixoto, o padre Toledo e o advogado Cláudio Manuel da Costa frequentavam sua residência, admitindo que os três podiam ter falado sobre a sedição sem que ele participasse da conversa, ainda que na mesma sala, “por estar entretido a bordar um vestido para o seu casamento, do qual entretenimento nunca se levantava senão para a mesa, o que não parece compatível com as ideias e paixões de uma sedição”.10 Tomás Antônio Gonzaga está construindo para si, agora não em linguagem poética, a imagem de um homem embriagado pelo amor, totalmente alienado da conjuração. Essa imagem contrasta com a sentença condenatória: Mostra-se, quanto ao réo Thomaz Antonio Gonzaga, que por todos os mais réos conhecidos n’estas devassas era geralmente reputado por chefe dos conjurados, como mais capaz de dirigil-a, e de se encarregar do estabelecimento da nova republica....11 A ideia de Pedro Américo representar Tomás Antônio Gonzaga bordando significa não só enfatizar-lhe a condição de poeta, mas negar-lhe a participação na conjura. Significa endossar a própria imagem defensiva, construída por Gonzaga. A memória de Tomás Antônio Gonzaga, no séc. XIX Neste período, a memória de Gonzaga oscila entre o protesto do po10–1 AUTOS de Devassa da Inconfidência Mineira. 2ª ed., Brasília, Câmara dos Deputados; Belo Horizonte, Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1982., v. 5, p. 221. Grifos nossos. Gonzaga, tanto nos próximos depoimentos quanto nos embargos, não voltará a aludir ao fato de estar bordando em sua defesa. 11–1 Documento reproduzido em: Conspiração em Minas Geraes no anno de 1788 para a Independência do Brasil. In: Revista Trimensal de História e Geographia ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro. n.º 3, 3º trimestre de 1846. p.328-329. Na época, o ato de uma sentença refletia apenas a convicção dos juízes, sem levar-se em consideração as provas produzidas. No caso de Gonzaga, os juízes não conseguiram provas contundentes de sua participação na conjura, tinham apenas fortes indícios de que estava ciente de sua existência e não a denunciara. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 15 Maraliz de Castro Vieira Christo eta por sua inocência, por não ser confundido com os vis traidores conjurados, e o desejo de se construir a história brasileira a partir de uma consciência nacional, onde o poeta teria papel relevante. Vejamos cronologicamente como essa memória foi se constituindo, a partir dos exemplos mais significativos. O inglês Robert Southey (1774-1843), baseando-se apenas na sentença da alçada, foi o primeiro a publicar informações sobre a Conjuração Mineira, em sua History of Brazil, editada inicialmente em Londres, em três volumes, respectivamente nos anos de 1810, 1817 e 1819. Nela, reconhece ser Tiradentes a figura propulsora do movimento. Entretanto, escreve: Mas quem para com todos os confederados passava por seu chefe e guia era Tomás Antônio Gonzaga, homem de grande nomeada pelos seus talentos, dizendo-se ter-se ele encarregado de confeccionar as leis e arranjar a constituição para a nova república. Todavia, o mesmo autor adverte sobre a incerta participação de Gonzaga no levante. (...) Havia dúvida quanto à parte por ele tomada; tanto Tiradentes como o padre Carlos Correia negaram que houvesse ele comparecido em algumas das suas reuniões, ou tido quinhão nos desígnios, sendo eles que se haviam servido do seu nome, por causa da sua reputação e do peso que a sua suposta sanção daria à causa. Tiradentes protestou ainda que não dizia isto para salvar Gonzaga, pois que entre os dois existia pessoal inimizade. Para contrabalançar este testemunho positivo não havia prova direta, mas para a suspeita havia este fortíssimo fundamento: tinha instigado o intendente a cobrar o imposto, não pela deficiência dos quintos de um ano somente (que era o que o governador tencionava), mas por todos os atrasados. A defesa do acusado foi crer ele que tentando isto se convenceria da sua absoluta impraticabilidade à junta da fazenda, e representando consequentemente à rainha, obteria a remissão. Mas pareceu esta política fina demais para ser lisa, e os juízes entenderam que ele obrara mancomunado com os conspiradores para excitar descontentamento e tumulto, e condenaram-no nessa con- 16 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado formidade.12 Em 1826, Tomás Antônio Gonzaga passa a figurar na história da literatura brasileira, citado pelo francês Jean-Ferdinand Denis (1798-1890) em seu Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire littéraire du Brésil. Esta foi a primeira obra em que a literatura brasileira é apresentada separadamente da literatura portuguesa, como um todo autônomo13. Ferdinand Denis salienta o papel da biografia de Gonzaga na compreensão de sua obra, expressão de sentimentos verdadeiros, assim como sua inocência frente à uma conjuração que sequer teria ocorrido: Para bem compreender a poesia de Gonzaga é preciso conhecerlhe a vida, pois há nêle um sentimento que se intromete em todos os outros – o amor. E amor tão verdadeiro como inalterável. O poeta de Vila Rica ocupava alto pôsto na magistratura; andava apaixonado por uma jovem pertencente a uma das principais famílias da região, quando se viu envolvido, juntamente com três amigos, em suposta conspiração, formada sem dúvida para prejudicar algumas personagens influentes de Minas Gerais, com o objetivo de lhes arrebatar os haveres. Em vez de se unir a Marília, ou ocupar o honroso cargo para que fôra designado, o desventurado Gonzaga viu-se metido numa enxovia, e de lá transportado para as costas da África, onde morreu muito tempo depois. (...).14 12–1 SOUTHEY, Robert. História do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: EDUSP, 1817, v. 3, p. 371, 374. A revista do IHGB do 3º trimestre de 1846, publicou a tradução de José de Rezende Costa (Filho) – inconfidente que, após o cumprimento da pena, retornou ao Brasil e tornou-se membro honorário do IHGB –, da parte específica da obra de Robert Southey sobre a Conjuração, assim como a sentença. Data de 1862 a tradução e publicação integral do texto no Brasil. 13–1 Antes de Ferdinand Denis, apenas dois outros europeus, Friedrich Bouterwek (17651828) e Simonde de Sismondi (1773-1842) preocuparam-se com autores brasileiros, em obras panorâmicas de história literária; entretanto, nenhum deles citam Tomás Antônio Gonzaga. 14–1 DENIS, Ferdinand. Resumo da história literária do Brasil. Porto Alegre: Lima, 1968, p. 78. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 17 Maraliz de Castro Vieira Christo João Manuel Pereira da Silva (1817-1898) também incluiu Gonzaga no Parnaso Brazileiro ou selecção de poesias dos melhores poetas brazileiros15, publicado em 1843. Em sua introdução, J. M. Pereira da Silva advoga a inocência dos poetas condenados, embora reconhecendo a importância da conjuração para o futuro. (...) A perseguição, que então se fez aos mais influentes, abastados e instruidos Brazileiros, em vez de acabar com os desejos, que elles poderiam ter para a politica de emancipação do seu paiz, crime, que lhes foi imputado sem razão n’aquella epocha, concorreo, em nossa opinião, e muito, para appressar o momento da independencia e liberdade do paiz. Dois anos após, J. M. Pereira da Silva, na introdução à edição de Marilia de Dirceu de 1845, apresenta ao leitor a Conjuração Mineira, apontando-lhe duas possibilidades causais: Quer elles [os condenados] tivessem já em seus sonhos previsto a independencia do seu paiz, e talvez mesmo a pretendessem prematuramente realizar; quer, não lhes passando ainda pelo pensamento um egual futuro não tivessem feito mais de que discorrer com franquesa sobre o novo imposto da derrama de ouro, que então o governo fizera na provincia de Minas substituir ao da capitação: o certo he que seus nomes são hoje considerados e glorificados, como os dos primeiros martyres do Brasil.16 Quanto à Gonzaga, J. M. Pereira da Silva reafirma acreditar em sua inocência: “elle pouca ou nenhuma parte n’ella poderia ter”.17 No final da década de 40, Antonio Gonçalves Teixeira e Souza, baseando-se em Robert Southey e na sentença, escreve o romance Gonzaga ou a conjuração do Tira-dentes, publicado entre 1848 e 1851. O títu15–1 SILVA, João Manuel Pereira da. Parnaso Brazileiro ou selecção de poesias dos melhores poetas brazileiros. Rio de Janeiro, Laemmert, 1843, vol. 1, p. 41-42. 16–1 GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Nova ed. mais correta e aumentada de uma introdução histórica e biográfica pelo Dr. J. M. P. da Silva, Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1845, p. IX. 17–1 GONZAGA, Tomás Antônio. Op., p.X, 18 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado lo sugere certa ambiguidade, mas, logo de início, o autor esclarece: “O personagem, que offereço aos meus leitores, como heróe deste pequeno romance, é (...) Thomás Antonio Gonzaga!”18. Os capítulos se sucedem dedicados ora a Gonzaga ora a Tiradentes. O autor também informa: “É-me absolutamente preciso acompanhar os amores de Gonzaga com a revolução de Tira-dentes, ou a revolução de Tira-dentes com os amores de Gonzaga, até reunil-os no mesmo plano, tanta conexão tem estes dous objectos entre si”.19 Os dois personagens apresentam-se paralelamente. Teixeira e Souza insere na trama conhecida vários elementos a ela estranhos. O personagem Tiradentes retorna de uma viagem à França e aos Estados Unidos da América – que o personagem real não fez –, profundamente arrebatado pela ideia de liberdade. Entretanto, por sua pouca educação, não soube avaliar o quanto as ideias republicanas eram prematuras no Brasil. Apesar de ser “republicano de coração”, Tiradentes teria fomentado a revolta por vingança, ante as mortes de sua irmã e de seu cunhado, causadas pela Inquisição. Tiradentes é apresentado como ativista, desconfiado dos homens de letras: “(...) gente de lettras, tractam mais das theorias, que da practica, e quando é preciso obrar, que o tempo é precioso, elles o-gastam em discussões”.20 Quanto ao personagem Gonzaga, uma vez chegando à Vila Rica, viu-se à mercê das circunstâncias. Logo apaixonou-se por Marília, então cobiçada por Silvério dos Reis. Este, ao ser preterido, arquiteta um plano para vingar-se de Gonzaga. Entra na conjuração com o único objetivo de envolver Gonzaga e denunciá-lo: é Silvério quem sugere seu nome aos conjurados. Convidado, Gonzaga aceita participar, visando, exclusivamente, convencer os conjurados da inviabilidade de seus propósitos: Ora alguns dos convidados menos espertos, ou pouco experientes adheriram a conjuração com toda sua alma, os mais sabidos porém, e mais velhacos adheriam por comprazer, porque pensavam 18–1 Idem, p. 3. 19–1 Idem, p. 65. 20–1Idem, p. 69. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 19 Maraliz de Castro Vieira Christo que aquillo não passava de uma extravagancia de cabeças exaltadas, e escandecidas. Gonzaga porém não era do numero de uns, e nem de outros. Elle tinha um coração liberal, e verdadeiro; mais conhecia a impossibilidade da realisação de um plano tão extravagante; e fiando-se em suas luzes, sua eloquencia, e prestigio, adheriu ao plano, para o-ir procrastinando, e desvanecel-o a final, sem ser funesto a pessoa alguma, porque elle esperava que tarde, ou cedo os principaes conjurados conheceriam que seu plano era prematuro, porque o paiz estava imaturo não só para um tal systema, como para sustentar uma guerra funesta, que não seria para os portuguezes tão infausta, como fora a dos Estados Unidos para os inglezes europêos!21 Quando Gonzaga procura Barbacena a fim de persuadi-lo a declarar a derrama, a pedido dos próprios conjurados, o faz no intuito de provarlhes que o povo não se revoltaria: Bem sabia Gonzaga que a lei seria posta em execução, e que o povo impassivel lhe-deixaria tirar até a ultima camisa de corpo, porque conhecia que o povo briga por interesses dos grandes, e nunca por seus proprios interesses! (...) Tudo isto sabia Gonzaga, mas elle queria mostrar aos conjurados, que mal andavam elles contando tanto com o povo, suppondo que o povo tomaria armas por causa da derrama.22 Ao final, Gonzaga é condenado e deportado, casando-se, posteriormente, em Moçambique, onde enlouquece. O personagem Gonzaga, que emerge do romance de Teixeira e Souza, é, portanto, um inocente. Sabe da conjura, deixa-se envolver, mas com o propósito de abortá-la e a todos salvar. Para o autor: “(...) ha muito quem hoje acredite na innocencia do poeta; e elle protestou por ella sempre com afinco”.23 21–1Idem, p. 96-97. 22–1Idem, p. 132-133. 23–1Idem, p. 59. 20 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado O historiador Varnhagen (1816-1878) inclui-se entre os que acreditam na inocência de Tomás Antônio Gonzaga. Em 1849, afirma: “Estamos profundamente convencidos de que Gonzaga foi martyr da prognosticada sedição, e que até era a ella inteiramente alheio”. E mais: Não se deve taxar Gonzaga de falta de patriotismo por ser alheio á tal projectada revolução, quando sua paixão o fazia alheio a tudo. Isto pelo que respeita á verdade historica e á honra do poeta, que não diria o que diz, e do modo porque o diz, se a verdade fôsse outra. Para nós perderia muito de valor o romance verdadeiro de Marilia e Dirceu se nos convencessem que Dirceu tramava revoluções quando assegurava á triste Marilia que era ella o objeto único de seu cogitar. E quanto mais poesia não há na perseguição injusta?.... 24 A década de 60 assiste à uma mudança na imagem do poeta, até então visto como inocente. Enquanto em 1862 o Cônego Fernandes Pinheiro (1825-1876), no compêndio didático Curso Elementar de Literatura Nacional, tem-no como respeitado ouvidor e feliz poeta enamorado, preso apenas por suas amizades25, Joaquim Norberto de Souza Silva já o apresenta como líder da conjuração. O historiador acrescentou à edição 24–1VARNHAGEN, Francisco Adolpho de. Biographia dos brasileiros distintos por letras, armas, virtudes. Revista Trimensal de História e Geographia ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro. 2º trimestre de 1849, p 126 e 128. Também em sua História Geral do Brasil, Varnhagem tornará a afirmar a inocência de Gonzaga: “(...) Não se pode afirmar que este último tomasse na sublevação parte activa, e as suas negativas são terminantes para fazer crer o contrário; entretanto não há dúvida que os conjurados não lhe escondiam seus planos, e que muitos contavam proclamal-o por chefe; apezar de ser nascido na Europa (era filho do Porto). (...)”. Tomo II, Rio de Janeiro: E. e H. Laemmert, 1857, p. 275. 25–1 “As íntimas relações que mantinha Gonzaga com os principais conspiradores, e a voz pública que o indigitava para chefe do novo governo, aconselharam a sua prisão, que, com bastante pesar, ordenou o visconde governador.” PINHEIRO, Cônego Fernandes. Curso Elementar de Literatura Nacional. 3ª ed., Rio de Janeiro/Brasília: Catedral/ INL, 1978, p. 303. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 21 Maraliz de Castro Vieira Christo do mesmo ano de Marília de Dirceu26 uma nova biografia de Gonzaga, baseada nos documentos das duas devassas a que se procederam no Rio de Janeiro e Minas Gerais, por ele localizados no Arquivo da Secretaria de Estado dos Negócios do Império27, do qual era responsável desde 185928. Joaquim Norberto assim se expressa sobre seu texto: (...) Apartando-me tantas vezes do caminho trilhado pelos biographos de Gonzaga, fui guiado por outras luzes, e vi-me como que na necessidade de basear as minhas asserções nos documentos que possuo ou consultei. Segui em tudo e por tudo a verdade historica; ninguem dirá que romantisei á estrangeira.29 Apesar da incorporação de novos documentos, Joaquim Norberto, como anteriores biógrafos de Gonzaga, não fará distinção entre os poemas de Marília de Dirceu e os documentos processuais, extraindo de ambos fatos a comporem sua narrativa, sem nenhuma mediação frente à natureza específica das fontes utilizadas. Logo no início de sua biografia, Joaquim Norberto nos apresenta Gonzaga: Reminescencias de amor, de saudades e de gloria ligam-se ao nome de Gonzaga, o dedicado amante da mulher virgem e bella que assombrára a capital das terras diamantinas com a sua formo26–1 Liras de Tomás Antônio Gonzaga precedidas de uma notícia biográfica e do juízo crítico dos autores estrangeiros e nacionais e das liras escritas em resposta as suas e acompanhadas de documentos históricos por J. Norberto de Sousa S. Ornada de uma estampa. GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Rio de Janeiro: Liv. B. L. Garnier, 1862. 27–1 “As duas devassas acompanhadas dos appensos dos autos de perguntas feitas aos reos da Conjuração Mineira de 1789 e dos termos de sequestros. Estes manuscriptos volumosos e tam preciosos, existiram por muito tempo no Archivo da Secretaria de estado do imperio, desconhecidos, e ignorados, pois achavam-se cosidos n’um saco de couro!”. Idem. 28–1 SOARES, Sônia R. P., Joaquim Norberto de Souza Silva: historiador; um olhar sobre Minas Gerais Colonial. Campinas, 2002 (Dissertação de mestrado, IFCH – História Social do Trabalho), p. 65. 29–1 GONZAGA. Op. Cit., p. 113. 22 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado sura, o disfarçado chefe da conspiração mineira, o prisioneiro da ilha das Cobras, o proscripto de África, o poeta popular, cujas lyras retinem de um a outro extremo do Brasil.30 Contradizendo Varnhagen, Joaquim Norberto afirmará a participação ativa de Gonzaga na Conjuração: “Gonzaga, que não era alheio á conjuração que se tramava, e se havia unido a Claudio Manuel da Costa para a collaboração do codigo legislativo, procurava aplainar o terreno por onde tinham de rodar o carro da revolução”.31 Por quatro vezes Joaquim Norberto se refere à Gonzaga a bordar o vestido de sua noiva. Inicialmente, aproximando a imagem de poeta à de conjurado: Entre os sonhos de amor mesclavam-se-lhe os sonhos da conspiração. Alli onde bordava noite e dia a ponto de ouro o vestido com que a sua linda noiva devia esposal-o, alli vinham o coronel Ignacio José de Alvarenga, o padre Carlos Corrêa de Toledo, o Dr. Claudio Manuel da Costa, o conego Luiz Vieira da Silva, e outros illustres conjurados tratar dos meios da independencia de um grande estado e das bazes constituitivas de uma nova nação (...). 32 Segunda, quando narra seu estado de espírito na prisão, repetindo o conteúdo do sonho da lira XXXIV de Marília de Dirceu: “Outras vezes recordava-se do vestido que bordava, incitado de amor, que lhe ensinava a enfiar nas agulhas o brando fio de ouro. Lembrava-se então que estava para casar-se, que já ia entrando na grande igreja (...).” Terceiro, referindo-se à defesa de Gonzaga, repisando seu depoimento: ‘É verdade, ajuntava elle, que aquelles que frequentavam a sua casa como seus amigos e que se diziam reos, poderiam ter fallado em sublevações, mas que nunca os ouvira discorrer sobre esta materia, talvez por ter estado sempre occupado na distração de bordar um vestido para a sua 30–1 Idem, p. 41 (grifos nossos). 31–1 Idem, p. 48. 32–1 Idem, p. 51. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 23 Maraliz de Castro Vieira Christo noiva.’ Por último, reportando-se ao casamento de Gonzaga em Moçambique e ao abandono da antiga amada: “(...) era a esposa do sublime cantor que eternisara em suas nomeadas lyras essa noiva que ficara com as vestes nupciaes, bordadas por elle mesmo, de pé, a sua espera, junto das aras de hymineu.” 33 A ênfase ao bordado surge no momento de sublinhar a entrega total de Gonzaga ao amor, de apresentá-lo como poeta. Em 1863, a edição completa em forma de livro das Cartas Chilenas também sinaliza para a mudança na concepção do papel de Tomás Antônio Gonzaga na Conjuração Mineira. Embora a definição de sua autoria só se firmasse no século posterior, durante a ditadura de Getúlio Vargas, o “Epílogo” de Luiz Francisco da Veiga à referida edição já aponta Gonzaga como seu autor. Diante das poucas fontes disponíveis para o estudo da conjuração, as Cartas Chilenas foram lidas como visceralmente ligadas ao movimento35. Tratava-se do documento histórico strito sensu da gênese do levante. Veiga define bem a visão da época: 34 libelo acusatório contra o governador [Cunha Meneses]; e, se para muitos não é, ou não será, uma justificativa plena da revolução e dos revolucionários, explica aquela suficientemente e livra estes inteiramente de qualquer pecha, que porventura possa desairá-los ante a razão calma do mais pacífico cidadão.36 Mesmo que nas Cartas Chilenas Gonzaga não fosse contrário à do33–1 Idem, ps. 62, 75, e 84. 34–1 O poeta Critilo conta a Doroteu os fatos de Fanfarrão Minésio, governador do Chile. Copiadas de um antigo manuscrito de Francisco Luiz Saturnino da Veiga, e dadas à luz com uma introdução por Luiz Francisco da Veiga. GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas (treze). Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1863. Antes dessa edição em forma de livro, foram publicados, em 1826, a ‘Epístola a Critilo’ pelo Jornal Scientifico, Economico e Litterario e, em 1845, Santiago Nunes Ribeiro apresenta sete cartas na Minerva Brasiliense, já atribuindo-as a Gonzaga. 35–1 Ver: FURTADO, Joaci Pereira. Uma república de leitores; história e memória na recepção das Cartas Chilenas (1845-1989). São Paulo: Hucitec, 1997. Cap. 3. 36–1 GONZAGA, Tomás Antônio. Op. Cit., 1863, p.215-6. 24 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado minação colonial37, sua crítica indignada e satírica aos desmandos do Governador Cunha Meneses contrastava com a visão do poeta inocente a cantar Sãos Amores. Muitos não aceitavam Gonzaga como autor das Cartas Chilenas por julgarem incompatíveis o poeta apaixonado de Marília e o “revolucionário” das Cartas 38. Castro Alves (1847-1871), na peça Gonzaga ou a revolução de Minas, drama em 4 atos, de 1868, a exemplo de Teixeira e Sousa, também elege Gonzaga como figura principal. Porém, a visão de Castro Alves sobre seu personagem em muito difere da imagem de Gonzaga construída na primeira metade do século XIX: para o abolicionista, Gonzaga acredita e participa efetivamente da conjuração. Em sua fala, Maria Dorotéa o define: “(...) ele, o poeta, soldado; ele, o grande homem; ele, o herói” (cena IX, Ato 1), “(...) o poeta e tribuno, o revolucionário e o libertador” (cena XII, Ato IV) 39. O Gonzaga, de Castro 37–1 Para Ronald Polito, “(...) Critilo é um ferrenho defensor da política geral da Coroa e seu corpo de leis. Nisto ele não pretende em nenhuma hipótese alterar as linhas de dominação impostas à colônia pela Coroa. No máximo vislumbram-se traços de uma tímida definição por ‘reformas’, visando sempre a retomada das diretrizes legais já definidas.” POLITO, Ronald. A persistência das ideias e das formas: um estudo sobre a obra de Tomás Antônio Gonzaga. Niterói, 1990. (dissertação, mestrado em história, UFF), p. 106. 38–1 Sentimento que também perpassa o século XX. Afrânio Coutinho, por exemplo, indaga: “Como um lírico melodioso, suave, cantante, terno e sentimental, inspirado num ideal familiar e burguês (Rodrigues Lapa), da qualidade de Gonzaga, poderia ser, ao mesmo tempo, o autor das liras e da sátira forte, gorda, áspera de linguagem e pensamento agressivo, por vezes violenta e plebéia? Eram duas atitudes que não se coadunariam facilmente na mesma pessoa, a do lírico mavioso e a do satírico brutal e maldizente.” COUTINHO, Afrânio. As Cartas Chilenas. In: O processo de descolonização literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983, p. 69. Muitos atribuíam a autoria das Cartas a Alvarenga Peixoto, a exemplo de Varnhagen (1851), Ferdinand Denis e Camilo Castelo Branco. O francês Ferdinand Wolf que, em 1863, publica Le Brésil littéraire, considerava Alvarenga escritor das Cartas e um dos líderes da conjuração, enquanto julgava Gonzaga inocente: “Poder-se-ia ao menos censurá-lo de ter conhecido os projetos que ele supunha quiméricos; e de ter tido muita nobreza para não denunciar os seus amigos.” WOLF, Ferdinand. O Brasil literário (História da literatura brasileira). São Paulo: Comp. Ed. Nacional, 1955, p. 109. 39–1 ALVES, Antônio de Castro. Gonzaga ou a revolução de Minas; drama em 4 atos. Rio de Janeiro: Serviço Nacional de Teatro, 1972, p. 31 e 171. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 25 Maraliz de Castro Vieira Christo Alves, conduz os conjurados, cabendo-lhe promover a condição essencial para a “revolução”: a derrama. Em nenhum momento o personagem de Castro Alves nega o envolvimento com a “revolução”, pelo contrário, se dispõe, por ela, a enfrentar o cadafalso, a exemplo da cena XII, do Ato III, quando os conjurados, reunidos, estão na iminência de serem presos. 40 Castro Alves por duas vezes se referirá ao ato de Gonzaga bordar o vestido de sua noiva. Na cena VIII, ato II, estando Gonzaga confiante na “revolução”: Gonzaga: Maria, como eu sou feliz! Queres saber? Já não tenho desconfianças nem receios... eu estou descansado sobre o nosso futuro. Ah! tenho de fazer-te uma surpresa. Breve te enfeitarei com o vestido que bordei a ouro para a minha noiva.41 E, na cena VIII, ato IV, quando preso, Gonzaga tem a ilusão de estar prestes a ser libertado: Gonzaga: (...) Oh! agora eu amo a liberdade. É que ser livre é poder apanhar as madressilvas agrestes para fazer uma coroa para os seus cabelos... sonhar contigo nos cerros soberbos do Itacolomi, bordar na cachoeira do rio o teu vestido de noiva, admirar os prismas do sol nas folhas verde-negras do sertão...(...)42 40–1 “Gonzaga – Pois bem, senhores, é ainda alguma coisa, Nós temos cadafalso ... é quanto nos basta! O cadafalso!... mas é um pedestal... Para o tirano ali o mártir se levanta como um fantasma, para o cativo como um Cristo. O cadafalso!... Os homens pensam que levantaram um parapeito sobre o nada, não, levantaram um degrau para o céu... e lá de cima... e lá do alto... como a águia que rola morta do topo do seu rochedo, como a avalanche que desaba do cimo dos Alpes... será grande, soberbo, gigantesco o tombar das cabeças revolucionárias nos braços do povo, o espadanar do sangue de titãs na face dos tiranos! Sim, não nos deixaram viver para a pátria, morreremos por ela... Meus amigos, neste momento solene nós escutamos um rumor sublime... é o futuro que nos sorri... É uma campa e um berço – campa enorme de vossos avós escravos que nos diz: – Vingainos: – berço enorme de nossos filhos que nos diz: - Libertai-nos... Saibamos morrer – entre estes dois concertos divinos um da aurora da vida, outro da aurora da eternidade! Morramos.” (Cena XII, ato III). Idem, p. 109. 41–1 Idem, p. 59 (grifos nossos). 42–1 Idem, p. 159 (grifos nossos). 26 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Bordar é compreendido por Castro Alves como estar livre, vivendo o devir sonhado. A “revolução” não se concretizou, os companheiros estão presos, mas, naquele momento, o personagem pensa poder ser livre para realizar seu futuro individual. Interessante observar, face ao triângulo amoroso formado por Gonzaga, Maria Dorotéa e Barbacena, a composição dos personagens masculinos: revolucionário/moço/amado, em oposição a conservador/velho/ repugnante, obedecendo à estética romântica, em franca dissonância com o real. Recordemo-nos que, à época, Gonzaga contava quarenta e quatro anos, apenas dez anos mais novo que o Visconde de Barbacena, enquanto Maria Dorotéa era uma jovem de dezesseis anos. Apesar de Dirceu deixar transparecer seu próprio envelhecimento – “Já, já me vai, Marília, branquejando / loiro cabelo, que circula a testa; / este mesmo, que alveja, vai caindo,/ e pouco já me resta” (lira IV, parte II) –, Castro Alves preferiu conceber Gonzaga como um jovem poeta revolucionário e abolicionista. Teixeira e Sousa também deu ao personagem a juventude necessária aos heróis românticos “Estava ainda elle na flor da edade (...).”43 Antes dos textos literários de Teixeira e Souza e Castro Alves, em 1843, João Maximiliano Mafra (1823-1908) representara Gonzaga à óleo44. Na tela, via-se Gonzaga preso, escrevendo as liras. Como bem percebera Eduardo Frieiro: “Esse Gonzaga pintado de imaginação representa um moço alto e esbelto, com o mesmo perfil numismático de adolescente 43–1 SOUSA, Antônio Gonçalves Teixeira e. Gonzaga, ou a conjuração do Tira-Dentes. Romance. Niterói: Fluminense de C. M. Lopes, 1848, p. 11. 1ª vol. 44–1 Hoje desaparecido, o quadro esteve presente na IV Exposição Geral de Belas Artes de 1843, na seção de Pintura, sala 9, sob o número 0015/053, acompanhado da seguinte informação: “Tomás Antônio Gonzaga. Natural de Pernambuco (sic), o autor de Marília de Dirceu, conspirando com outros ilustres filhos do Brasil em prol da sua independência, é preso e encerrado na Fortaleza de Santa Cruz. O poeta acaba de escrever uma de suas imortais liras, e parece meditar em outra.” LEVY, Carlos Roberto Maciel. Exposições Gerais da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes. Período Monárquico. Catálogo de artistas e obras entre 1840 e 1884. Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 1990, p. 47. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 27 Maraliz de Castro Vieira Christo e a mesma expressão pensativa e melancólica de Lord Byron retratado por R. Westall”. 45 Reproduzida desde 1845, em subsequentes edições de Marília de Dirceu, a imagem criada por Mafra impôs-se como a representação “oficial” do poeta. No final do século XIX, quando Pedro Américo planeja a série sobre a conjuração, está será a única estampa conhecida de Gonzaga. Em 1873, Joaquim Norberto publicará a História da Conjuração Mineira 46, projeto que desenvolvia desde o encontro dos documentos das devassas no Arquivo da Secretaria de Estado dos Negócios do Império47. Seu livro tornar-se-ia, por longo tempo, a referência historiográfica obrigatória à Conjuração Mineira. Um exemplar deste livro fora emprestado pelo Barão do Rio Branco a Pedro Américo, para que o artista pudesse conceber a série sobre a conjuração48. Joaquim Norberto, a exemplo da biografia de 1862, reafirmará a imagem de Gonzaga como idealizador da República e um dos responsáveis pela conspiração. Para o historiador: A ideia porém de república naquele empório de ouro e de diamantes, a qual quando muito estender-se-ia ao Rio de Janeiro e 45–1 FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do cônego: Como era Gonzaga? E Outros temas mineiros. 2ª ed. rev. e aum., São Paulo: Ed. Itatiaia: EdUSP, 1981, p.72. 46–1 SOUZA SILVA, Joaquim Norberto de. História da Conjuração Mineira: Estudos sobre as primeiras tentativas para a Independência Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1948. Segundo Sônia Regina Pinto Soares, Joaquim Norberto aponta como os principais conjurados: O Tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade e os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. SOARES, Sônia R. P. Joaquim Norberto de Souza Silva: historiador; um olhar sobre Minas Gerais Colonial. Campinas: 2002 (Dissertação de mestrado, IFCH – História Social do Trabalho) p. 191. 47–1 A partir de 1855, o processo viera a público fragmentadamente em vários periódicos como o Brasil Histórico, por Mello Morais (pai), a Rev. do IHGB, pelo Barão Homem de Mello, o Arquivo do Distrito Federal, por Mello Morais (filho). Idem, p. 136. 48–1 Carta de Pedro Américo ao Barão do Rio Branco. Florença, 14/11/1892. Correspondência, Lata 812, Maço 4, pasta 14, Arquivo Histórico, Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro. 28 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado a S. Paulo, deixando o resto da colônia entregue ao cativeiro colonial, como uma vasta Guiana, pertence a um indivíduo, que a formulou hipoteticamente. Foi Gonzaga o seu autor (...). O coronel Alvarenga e o vigário Carlos Correia de Toledo, que eram hóspedes de Gonzaga, (...) abraçaram imediatamente a hipótese; discutiram-na como projeto realizável, e propagaram a ideia pelos círculos de seus amigos, pelas casas que frequentaram à noite, onde tomavam chá e jogavam entrando pelas horas da madrugada. O tenente-coronel Francisco de Paula e o dr. Cláudio Manuel da Costa, menos ativos, porém assaz condescendentes, deixaram-se levar pela torrente. Achou-se o pretexto e a ideia encarreirou-se e fez prosélitos. O lançamento da derrama, tão temido pelo povo, tornou-se desejado pelos conjurados. Viu-se assim Tomás Antônio Gonzaga à frente de uma conspiração sem que ele mesmo suspeitasse que era o seu chefe. A fim de engrossarem as suas fileiras espalharam os conjurados ao ouvido de seus amigos a cumplicidade do desembargador, e deu-se-lhe a colaboração das leis tendo por auxiliares a Alvarenga e outros de sua escolha. Repetiram-se as práticas na presença do ex-ouvidor da comarca e em sua própria casa, práticas altamente criminosas, para as quais cominava severas e bárbaras penas a legislação ominosa daqueles tempos. Sabia o magistrado o perigo a que se expunha, mas, ou não deu importância que merecia à matéria e brincou com a hipótese, ou abraçou a causa confiado na grande oposição que nasceria no povo pelo lançamento da derrama, e certo portanto do feliz êxito que daí resultaria. A negação sistemática que Gonzaga adotou por defesa, e na qual tão habilmente se entrincheirou, faz que se hesite em qualificá-lo como conspirador, mas os depoimentos do coronel Alvarenga, que era seu parente, e de Cláudio Manuel da Costa, que era o seu mais íntimo amigo, dão testemunhos de sua cumplicidade (...). O historiador tentará novamente conciliar conjurado e poeta. É interessante observar como em um parágrafo descreve o poeta bordando, para iniciar o seguinte tendo-o na responsabilidade de líder conjurado. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 29 Maraliz de Castro Vieira Christo Enquanto, porém, demorava-se a licença [de casamento] solicitada ao governo real por intermédio do intendente do ouro, e que era esperada na nau que trazia o novo vice-rei, ia Gonzaga bordando a ponto de ouro com toda a paciência, debruçado sobre um bastidor, o vestido de cassa branca com que a sua noiva tinha de apresentarse ante o altar nupcial. Neste entretenimento o vinham surpreender os seus amigos e hóspedes, que procuravam a sua casa, os quais arrancavam a prosaica agulha das mãos do novo Apolo para escutarem e apreciarem a leitura dos seus versos tão amenos e delicados pela simplicidade da expressão, pela harmonia do ritmo, pela naturalidade da rima e pela riqueza de seus consoantes, e que ainda hoje são lidas com interesse e figuram traduzidas em algumas línguas. Ia cair a derrama sobre o povo segundo as ordens vindas da corte. Chegara a vez de Gonzaga encaminhar a conjuração pelas seguras veredas ao resultado feliz que se lhe antolhara poder colher (...).49 Quando Joaquim Norberto descreve a ação de Gonzaga, ante a indecisão do intendente Pires Bandeira em lançar a derrama e sua posterior suspensão pelo governador, mais uma vez busca conciliar a “brandura do poeta” com a “audácia do conspirador”, como faces contraditórias, mas não excludentes, de um mesmo personagem: tornou-se Gonzaga o advogado, não do povo oprimido, mas do lançamento da derrama, que era a verdadeira opressão; marchando indiretamente, buscava habilmente encobrir-se. (...) Apresentou o intendente objeções ao argumento do seu amigo, que não conservaram os documentos históricos. Não desanima porém Gonzaga. O plácido e ameno cantor daquelas liras que todo o Brasil repete como canções populares, era dotado de uma tenacidade a toda a prova e não cedia de seus intentos. Estava a brandura do poeta em perfeita contradição com a audácia do conspirador, como a melancolia que reina nas poesias de Cláudio oferecia perfeito contraste com o seu gênio jovial e humorístico. Para ele não estava perdida a causa; foi pois advogá-la no palácio do próprio governador, ante o duro taciturno visconde de Barbacena. 49–1 Grifos nossos. 30 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Segundo o texto de Joaquim Norberto, as ideias para a conjuração nasceram das especulações hipotéticas de Gonzaga, e é esse mesmo personagem a reconhecer-lhes o fim: Jantaram nesse dia os amigos de Gonzaga em seu domicílio. Notava-se geral frieza nos conjurados, e o cônego Luís Vieira aproximando-se do desembargador pediu-lhe notícias do levante. Respondeu-lhe Gonzaga com aquela frase fria e lacônica que a história conservara: ‘– A ocasião para isso perdeu-se.’ E essa frase pôs fim a encetada prática, e bem provou o ânimo em que todos estavam depois da suspensão da derrama, a qual tirando o pretexto, desarmou a conjuração, e fez abortar o levante. Três anos após a edição de História da Conjuração Mineira, em 1876, o conceituado escritor português Camilo Castelo Branco (18251890), em seu Curso de litteratura portuguesa, vê também Tomás Antônio Gonzaga como líder. Entretanto, nega qualquer relevância tanto à sua lira quanto à própria Conjuração Mineira. O movimento expressaria “um patriotismo desvairado, intempestivo, suggerido pela imitação dos Estados Unidos e esbrazeado pelo bafo escandecente da revolução francesa”. Gonzaga é descrito negativamente e o ato de bordar aparece com ironia: Gonzaga negou illaqueando as provas com trapacices de advogado ladino (...). Salvos do patibulo, Gonzaga, o cantor de Marilia, e ao mesmo tempo alfaiate de seu vestido de noivado, topa em Moçambique uma dama com quem casa, e no tribunal ecclesiastico declara que nunca promettera casamento a outra... Camilo Castelo Branco reconhece apenas em Tiradentes certa grandeza heroica: “Taes homens eram indignos de correr perigos ou tentar glorias com o Tira-dentes, único vulto grandioso que os frades, na hora derradeira, apequenaram, diante do patíbulo”.50 Em 1883, Sacramento Blake (1827-1903), ao apresentar Gonzaga em verbete do Diccionario bibliographico brazileiro, retorna a Varnha50–1 BRANCO, Camilo Castelo. Curso de litteratura portuguesa. Lisboa: M. Moreira, 1876, p. 254. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 31 Maraliz de Castro Vieira Christo gen: E essa opinião nutro tambem eu: Gonzaga foi allheio à sedição, foi um martyr. Um homem que ama deveras, que espera anciosamente unir-se à sua amada, para quem sómente vive, e que é ao mesmo tempo chamado a assumir elevada posição na carreira que abraçou, não póde envolver-se em conspirações dessa ordem. Ao falar de seu amor por Marília, também Blake alude ao ato de bordar: Sabe-se que Gonzaga, quando preso, bordava o vestido de sua noiva para o casamento e no sequestro de seus bens, feito por occasião de sua prisão, entrou o dedal de ouro com que fazia este trabalho. Desculpe-me o leitor estas considerações ao correr da penna e mal cabidas neste livro. Trata-se de um dos maiores vultos da litteratura brazileira e que tem sido accusado sem poder defender-se (...).51 É interessante observar a inexistência de um verbete sobre Tiradentes no dicionário de Sacramento Blake. A segunda metade da década de 80 verá surgir duas significativas publicações sobre a história da literatura brasileira, que divergirão entre si a respeito do papel de Gonzaga na Conjuração Mineira. Em 1885, o argentino Eduardo Perié apresenta ao público, em 439 páginas, A litteratura brazileira nos tempos coloniais, escrito a pedido de seu amigo brasileiro Félix Ferreira. Nela Tiradentes era a “alma do movimento” e Gonzaga “(...) passava quasi indifferente ao lado da Conjuração Mineira, considerando-a como um sonho (...) a paixão que constituia a sua existencia não lhe dava tempo para pensar na patria”. 52 51–1 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario Bibliographico brazileiro. Rio de Janeiro: C.F.C., 1970, p. 277-8. 52–1 PERIÉ, Eduardo. A litteratura brazileira nos tempos coloniais: do século XVI ao começo do XIX: esboço-histórico seguido de uma bibliographia e trechos dos poetas e prosadores d’aquelle periodo. Buenos Ayres: E. Perie, 1885, p. 17 e 223. 32 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Enquanto Eduardo Perié segue Varnhagen neste aspecto, Sylvio Romero (1851-1914), às vésperas da República, 1888, interpela o que chama de historiografia monárquica, em seu livro História da literatura brasileira, defendendo o papel ativo de Gonzaga na conjuração: Há entre nós uma escola, eivada de certo lusitanismo teimoso, cuja divisa é dizer mal de todas as agitações dos brasileiros. Esta gente, quando escreve a nossa história, toma-se de entusiasmo por todos os feitos praticados pela metrópole e seus governos na colônia, e vomita o fel de suas cóleras quando se lhe depara entre nós algum fato como a conjuração de Tiradentes, a revolução de 1817, e outros... (...) Gonzaga nos depoimentos de seus colegas de infortúnio foi mais ou menos poupado, e ele próprio negou até a última que tivesse tomado parte da conjuração; assim o declarou aos juízes e em suas poesias a Marília. Por tais motivos Varnhagem é levado a crer que ele fosse estranho à Inconfidência. Não é esta a verdade que sai dos fatos; o insigne poeta não precisa dessa justificativa póstuma, falsa e insidiosa. Não há razões sérias para arredar de sua fronte a auréola de patriota santificado pelo sofrimento. Sim; o poeta teve o sonho revolucionário; este grande título deve religiosamente ser-lhe conservado pela história. Não se busquem para ele reabilitações falaciosas, inspiradas por meras adulações monárquicas. Dirceu quis o levante, quis a república, quis a independência. É por isso que ele tem sido e continuará a ser um dos guias imortais do povo brasileiro. 53 Em 1890, pouco menos de três anos antes de Pedro Américo planejar a série sobre a conjuração, Araripe Jr. (1848-1911) publica Literatura brasileira: Dirceu 54, um opúsculo sobre Marília de Dirceu. Para o autor, 53–1 ROMERO, Sílvio. História da Literatura Brasileira. 7ª ed., Rio de Janeiro: J. Olympio; Brasília: INL, 1980 v. 2, p. 426-427, 467. 54–1 ARARIPE JUNIOR, 1848-1911. Literatura brasileira: Dirceu. Rio de Janeiro: Laemmert, 1890. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 33 Maraliz de Castro Vieira Christo a Inconfidência não passou de um “artifício de poetas”, uma “fábula dramatizada”. Ele propõe a mesma questão que levantamos inicialmente: “Que papel representou Gonzaga na Inconfidência?”. A qual responde: A analyse dos factos e o estudo do temperamento do autor das Lyras leva-me, comtudo, a affirmar que a conspiração mineira e a poetica de Dirceu corrêrão parallelas, mas nunca chegarão a se penetrar. A nullidade do papel político do poeta e a influencia negativa do movimento sobre o seu estro provão-se, entretanto, reciprocamente.55 Araripe Jr. descreve Gonzaga apático e indolente. Será este o autor que mais explorará a imagem de Gonzaga bordando, como definidora da entrega total de Gonzaga aos amores, em negação ao ato da conjura. Quando Gonzaga foi colhido pelos acontecimentos da Inconfidência estava bordando um vestido para Marilia, com um dedal de ouro,56 que celebrisou depois o pobre espolio do poeta. Por isso disse elle nas Lyras: Pintou que estou bordando um teu vestido; Que um menino com azas, cégo e louro, Me enfia nas agulhas o delgado, O brando fio de ouro. Essa occupação, em tão apertada hora, escolhida por um exouvidor, nomeado para uma Relação, conspícuo entre os mais conspícuos no lugar, versado diurna e nocturnamente na lição dos classicos, e ainda mais aguerrido em jurisprudencia pelo manusear constante das leis e dos reinicolas; esse capricho de exercer o papel de Hercules junto a Omphale, em um homem que já attingira os 44 annos de idade, é, quanto a mim, de uma importancia capital para a critica do caracter de Gonzaga; e, pintando a situação exacta 55–1 Idem, p. 3, 4 a 7. 56–1 Araripe Jr. apresenta a seguinte nota sobre o dedal: “Esse dedal de ouro figurou no seqüestro feito em 23 de maio de 1789, e no Instituto Histórico existem bilhetes de letra do poeta, pedindo ao dono de uma loja vizinha fios de ouro e objetos de bordar.” 34 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado do espirito do poeta, descobre a fonte verdadeira de onde emanou todo o lyrismo de Dirceu. A apathia de Gonzaga prova-se pela sua posição na Inconfidencia. O seu sensualismo, porém, resalta evidentemente da sua collocação ou antes da sua deslocação diante de uma menina de 18 annos, ardente e exuberante.57 As longas citações anteriores relativas aos autores interessados em Gonzaga, impuseram-se necessárias para respondermos, de maneira clara, às questões propostas e por incluírem obras pouco conhecidas. Percebe-se que, na primeira metade do século XIX, a memória de Gonzaga atém-se à imagem que o poeta forjou para si mesmo em Marília de Dirceu: um ser completamente absorto pelo amor, incapaz de imiscuirse numa conjuração. Aos poemas de Gonzaga também será devedora a própria memória da Conjuração Mineira. Joaquim Norberto já aponta, em 1865, para o fato da conjuração tornar-se conhecida a partir da popularidade com que as sucessivas edições de Marília de Dirceu foram recebidas58. A década de 60 revela um novo Gonzaga. Trata-se de um ativo participante da conjuração: o crítico ferrenho aos desmandos dos representantes da coroa, presente nas Cartas Chilenas, o jovem revolucionário, em Castro Alves, o poeta audaz e chefe dissimulado, nos textos de Joaquim Norberto. Entretanto, a imagem “revolucionária” de Gonzaga não se firmará como hegemônica. O movimento republicano, a partir de 1870, dará a Tiradentes o status de líder, acarretando, consequentemente, o retorno à representação de Gonzaga como “alheio” à conjuração. O ato de Gonzaga bordar o vestido de Marília será explorado pelos autores, muitas vezes com ironia, como importante evidência de sua fragilidade. Principalmente por não ser apenas ato amoroso de um pastor da 57–1 ARARIPE JUNIOR, 1848-1911.Op. Cit., p. 13-14. 58–1 O que será endossado por LUCAS, Fábio. A Inconfidência Mineira na literatura brasileira. IX Anuário do Museu da Inconfidência, Ouro Preto, 1993, p. 139. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 35 Maraliz de Castro Vieira Christo arcádia ou um sonho, mas fato relatado como verídico pelo poeta em sua defesa. O bordar constituiu-se em símbolo máximo de alheamento. É a essa forte tradição, derivada de Jean-Ferdinand Denis/ J. M. Pereira da Silva/ Teixeira e Souza/ Varnhagen/ Sacramento Blake/ Eduardo Perié/ Araripe Jr. (e não de Joaquim Norberto/ Castro Alves/ Sylvio Romero), que se filia Pedro Américo. Sua escolha por representar Gonzaga bordando, não foi uma opção exótica e isolada do pintor. Ela coaduna-se perfeitamente com a visão predominante de Gonzaga, na época. Um homem bordando O que daria licença a um homem, no final do século XVIII, para representar a si próprio bordando e como, um século depois, este mesmo ato seria interpretado? Quando Gonzaga, em Marília de Dirceu, respectivamente, nas liras XV e XXXIV, segunda parte, escreve: “Mas ao menos será o teu vestido/ Por mãos de Amor, por minhas mãos cosido” e “Pintam que estou bordando um teu vestido;/ Que um menino com asas, cego e loiro,/ Me enfia nas agulhas o delgado,/ O brando fio de oiro” o faz poeticamente, no sentido de afirmar sua dedicação total ao amor. Essa atitude será corroborada por um forte exemplo de paixão que a precede: Eu sou, gentil Marília, eu sou cativo; Porém não me venceu a mão armada De ferro e de furor: Uma alma sobre todas elevada Não cede a outra força que não seja À tenra mão de Amor. (...) Honro a virtude, e teus dotes amo: Também o grande Aquiles veste a saia, Também Alcides fia (Primeira parte, Lira IX) 36 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado Este é de Ônfale o retrato: Aqui tens (quem o diria!) Ao grande Hércules sentado Com as mais damas no estrado, Onde em seu obséquio fia (Terceira parte, Lira I) O poeta árcade busca o respaldo da mitologia para seu ato de bordar, recorrendo ao exemplo de Hércules, também conhecido pelo nome de Alcides. Espelhando-se no herói grego, o poeta vê-se como “Uma alma sobre todas elevada”, honrando a virtude, mas cativo de sua amada. Hércules, num ímpeto de loucura, teria matado seu amigo Ifitus e, em função deste delito fora condenado a tornar-se escravo de Onfale, rainha da Lídia, por três anos. Thomas Bulfinch (1796-1867), em seu popular Livro de ouro da mitologia, 1855, sobre o comportamento de Hércules escreve: “Durante esse tempo, a natureza do herói modificou-se. Ele tornou-se efeminado, usando, às vezes, vestes femininas e tecendo lã com as servas de Onfale, enquanto a rainha usava sua pele de leão”59 As representações pictóricas de Hércules fiando, habitualmente o mostram sentado ao lado de Onfale, nu, o corpo em abandono, sem vitalidade, recebendo carícias. A característica essencial é a troca de atributos. Enquanto Hércules segura o fuso, Onfale apropria-se de sua pele de leão e clava. Damas e cupidos circundam o casal. Esta fase da vida de Hércules está ausente da arte grega clássica60. Tratava-se de uma dupla humilhação: ser escravo de um povo considerado bárbaro e desempenhar funções femininas. Do Renascimento ao Rococó, esse tema será associado ao domínio da mulher sobre o homem, preservando-o como objeto de desejo feminino, como poderemos confirmar nos diversos trabalhos de Luca Giordano (1634-1705), em Rubens (1577-1640), ou em Giovanni Fran59–1 BULFINCH, Thomas. Livro de ouro da mitologia: a idade da fábula – Histórias de deuses e heróis. 28ª ed., Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 2002, p. 182. 60–1 HALL, James. Diccionario de temas y símbolos artísticos. 2ª ed., Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 189-190. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 37 Maraliz de Castro Vieira Christo cesco Romanelli (1610-1662), Luigi Garzi, François Lemoyne (1688 -1737), Francois Boucher (1703-1770) e Gaetano Gandolfi (1734-1802) 61 . A maneira pela qual o Diario de Noticias apresenta o quadro em que Gonzaga borda, na presença de Marília – “illuminando-o com a sua bella physionomia de mulher, vencendo, subjugando um grande coração de artista”–, nos faz pensar numa possível aproximação, também por parte de Pedro Américo, entre Dirceu e Hércules; eliminando-se, porém, a nudez e o aspecto de cena de alcova, presentes em algumas das representações de Hércules e Onfale62. O aval do herói mitológico se estende ao pastor árcade. Se Hércules fia, Dirceu está livre para bordar. Entretanto, Gonzaga ultrapassa a linguagem poética e declara, no processo em que é réu, estar bordando. O dedal de ouro arrolado por ocasião do sequestro de seus bens, levado a efeito em 23 de maio de 1789, mencionado em listas de compras, onde se incluem fios de ouro e objetos de bordar63, como também o depoimento de testemunhas próximas a Gonzaga64, apontam para uma possível dedicação sua ao bordado do vestido de sua amada. As obras escritas por Gonzaga deixam transparecer apego ao conservadorismo social, à fidalguia65. Embora já apresentando sintomas 61–1 Luca Giordano, Museo del Palazzo Reale de Nápoles; Rubens, Musée du Louvre; Romanelli, The Hermitage; François Lemoyne, Musée du Louvre; Francois Boucher, Pushkin Museum of Fine Arts; Gandolfi, Staatsgalerie, Stuttgart. 62–1 É curioso observar que, um ano após, Pedro Américo irá pintar O noviciado, enfatizando o sentimento contrário, a resistência a uma sedução. 63–1 Esclarece Joaquim Norberto sobre a lista: “Ao Instituto Histórico ofereceu o sr. dr. J. M. de Macedo alguns autógrafos de Gonzaga; entre eles há bilhetes de sua letra nos quais mandava pedir em uma loja vizinha fios de ouro e objetos de bordar.” 64–1 Segundo essas testemunhas, inquiridas na Devassa sobre a vida do desembargador Gonzaga: “Nos dias que antecederão a sua prisão, só communicava com seos mais intimos amigos, negando-se à muitas visitas por estar occupado em bordar o vestido destinado á sua noiva, devendo seo casamento ser d’ ahi a oito ou dez dias”. Inconfidencia Mineira. Revista do IHGB, 64, 1901, p. 169-170. 65–1 POLITO, Ronald. A persistência das ideias e das formas: um estudo sobre a obra de Tomás Antônio Gonzaga. Niterói: 1990 (Dissertação, mestrado em história, UFF), p. 103. 38 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado de transformação, a sociedade mineira de Vila Rica, no final do século XVIII, ainda procurava pautar a vida pública pelos valores e organização da sociedade de corte66. Os atributos pessoais: a insígnia (emblemas, armas), hábito (vestimenta, penteado), gesto (forma de saudar, comportamentos) e retórica (forma de falar, o discurso estilizado em geral) seguem um rígido código de comportamento, distinguindo o “ser nobre” nesta sociedade67. Nas Cartas chilenas, Gonzaga bem define seu valor: Que o gesto, mais o traje nas pessoas Faz o mesmo, que fazem os letreiros Nas frentes enfeitadas dos livrinhos Que dão, do que eles tratam, boa ideia.68 Por várias vezes, censura a não-observância dos preceitos da fidalguia no comportamento público: Amigo Doroteu, estás mui ginja*; Já lá vão os rançosos formulários, Que guardavam à risca os nossos velhos: Em outro tempo, Amigo, os homens sérios Na rua não andavam sem florete; Traziam cabeleira grande, e branca, Nas mãos os seus chapéus; agora, Amigo, Os nossos próprios Becas** têm cabelo; Os grandes sem florete vão à Missa, Com a chibata na mão, chapéu fincado, Na forma, em que passeiam os Caixeiros. Ninguém antigamente se sentava Senão direto, e grave nas cadeiras; Agora as mesmas Damas atravessam As pernas sobre as pernas. (...) 66–1 Ver: KANTOR, Iris. Tirania e fluidez da etiqueta nas Minas setecentistas. LPH: Revista de história. Ouro Preto: UFOP, n. 5, 1955, p. 112-121. 67–1 Ver: BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 e ELIAS, Norberto. A sociedade de corte. Lisboa: Ed. Estampa, 1987. 68–1 Gonzaga, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 52. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 39 Maraliz de Castro Vieira Christo * Ginja: homem velho que segue os princípios e costumes antigos. ** Becas: magistrados69 O sequestro dos bens de Gonzaga revela a importância atribuída pelo desembargador às vestes. Aparentemente não muito rico, seus bens foram avaliados em 845$900 reis. Entretanto, 27,93 % de seu cabedal referia-se à indumentária. Valor suficiente para a compra de dois ou três escravos, a 70$000 ou 80$000 cada70. Nesse momento, a atenção dos homens fidalgos dirigia-se para pescocinhos, cabeleiras, sedas, rendas e cetins, instrumentos de distinção social. O apego à fidalguia levou Gonzaga a manter a antiga tradição de bordar o vestido da noiva. Tomas Brandão, em seu livro sobre Maria Joaquina Dorotéia de Seixas (Marília), de 1932, nos esclarece: Um dos costumes elegantes da classe nobre de Vila Rica, o qual chegou até a Independência, era a obrigação imposta ao noivo de bordar o vestido nupcial da que ia ser sua espôsa... Era de estilo que o vestido, o qual devia primar pela singeleza e alvura, fôsse de cassa ou de cambraia de linho, e não de sêda, como foi mais tarde adoptado.71 Assim, nada mais natural ao fidalgo Gonzaga, quando acusado de participar da Conjuração, o defender-se, afirmando estar entretido a bordar. Se, no século XVIII, tal comportamento não provoca surpresas, o mesmo não se poderá afirmar a propósito da exposição, no final do século XIX, da imagem de um desembargador sedicioso, bordando. Não mais vestindo babados e rendas, o homem oitocentista pauta69–1 GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas. 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.124. 70–1 FURTADO, João Pinto. Inconfidência Mineira, crítica histórica e diálogo com a historiografia. São Paulo: 2000 (Tese de doutoramento, USP), p. 151-152. 71–1 BRANDÃO, Tomas. Marília de Dirceu. Belo Horizonte: Guimaraes, 1932, p. 167168. 40 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado se pela sobriedade. A moda do século XIX privou-lhe da roupa como elemento de sedução erótica. Se, desde o Renascimento, o esplendor dos veludos, rendas e brocados uniam homens e mulheres, agora, a beleza é exclusiva do mundo feminino. O homem abdicara do uso da cor, da riqueza dos tecidos e das formas extravagantes, aprisionando-se a um uniforme preto, perdendo-se na multidão, como nos quadros de Manet72 e Renoir73. Resta, apenas, ao seu narcisismo, o chapéu, a bengala, o bigode e o charuto. O ascetismo da roupa masculina moderna visa a sobressair apenas a personalidade e o talento, necessários à vida burguesa.74 Marcado por essa enorme barreira entre a moda masculina e feminina – onde os adornos dariam ao homem um ar afeminado –, ligado ao mundo prático e austero dos negócios, é provável que o olhar do homem de 1893 se voltasse para a representação de Gonzaga bordando, proposta por Pedro Américo, com profunda estranheza. O único relato que conhecemos de um homem diante de outro, bordando, em época próxima a 1893, nos veio do depoimento dado a José Murilo de Carvalho por Antônio Manuel de Souza Guerra. Durante a Revolta dos Marinheiros, em novembro de 191075, Antônio Guerra pertencia ao 51º Batalhão de Caçadores de São João del Rei, encarregado da guarda dos presos da revolta. Nesta função conheceu João Cândido, líder do movimento, coincidentemente também encarcerado na Ilha das Cobras, onde esteve, no século XVIII, Tomás Antônio Gonzaga. De acordo com José Murilo: O que mais chamou a atenção do jovem sargento interiorano, no entanto, foi o fato de o temido João Cândido, que com seus ma72–1 A música nas Tulherias, 1862, óleo sobre tela, 0,76x1,19 m., Londres, National Gallery. 73–1 O Moulin de la Galette, 1876, óleo sobre tela, 1,31 x 1,75 m., Paris, Museu do Louvre. 74–1 SOUZA, Gilda de Mello e. O espírito das roupas: a moda no século dezenove. 4ª reimp. São Paulo: Companhia das Letra, 2001, p. 52-85. 75–1 Também conhecida como a revolta da chibata, por terem os marinheiros se oposto ao uso da chibata e a outras práticas humilhantes pela marinha brasileira. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 41 Maraliz de Castro Vieira Christo rujos assustara a cidade e forçara o governo a buscar ajuda de tropas mineiras, passar o tempo todo bordando. O sargento jamais vira homem bordando, e o primeiro fora logo João Cândido. (...) Embora toscos, os bordados certamente não são obra de alguém que se aventurava pela primeira vez neste tipo de artesanato. João Cândido sabia bordar e sem dúvida aprendera a arte em sua vida de marinheiro. Teria parado de bordar ao sair da marinha? Por que não mencionou esta sua habilidade nas inúmeras entrevistas que deu? A única explicação que me ocorre é que escondeu o fato devido ao preconceito social. Na época, bordar era coisa de mulher. O interiorano Antônio Guerra não seria o único a estranhar o fato de ver um homem bordando. A maioria das pessoas na época teriam tido a mesma reação. A estranheza seria maior ainda em se tratando de um suposto machão, herói de uma revolta audaciosa.76 Atrevera-se alguém a iniciar uma narrativa sobre a revolta da marinha, em 1910, representando seu principal líder bordando? 77 A visão preconceituosa do discreto homem moderno sobre outro do antigo regime, envolto em rendas e bordados, atingirá também diversos autores que, sobre Tomás Antônio Gonzaga, escreveram ao longo do século XX. Orestes Rosolia, em seu romance Marília, a noiva da inconfidência78, contabiliza o tempo gasto por Gonzaga a preparar-se para o baile de recepção ao novo governador, Barbacena. Orestes, em página e meia, descreve o intrincado processo do cabeleireiro preparar-lhe a peruca, durante uma hora, como também a espera, por mais duas horas, dos amigos Cláudio e Alvarega pelo término da toilette de Gonzaga, enquanto jogavam gamão. Eduardo Frieiro, por sua vez, apresenta Gonzaga 76–1 CARVALHO, José Murilo de. Os bordados de João Cândido. In: Pontos e bordados: escritos de história e política. Belo Horizonte: EdUFMG, 1998, p. 19 e 23. Os bordados de João Cândido encontram-se expostos no Museu de Arte Regional de São João del Rei e foram doados por Antônio Manuel de Souza Guerra, que, por sua vez, os recebera como presente do marinheiro. 77–1 Também Lampião bordava suas vestes e não foi representado em tal atividade. 78–1 ROSOLIA, Orestes. Marília, a noiva da inconfidência. romance histórico. 3ª ed., São Paulo: Saraiva,1957. v. 1, p. 112-4. A primeira edição data de 1933, a segunda, de 1941, introduzindo profundas modificações no romance. 42 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Gonzaga bordando: imagens de um conjurado como um “juiz casquilho e poeta namorador”79. Com ironia, a partir do sequestro dos bens de Gonzaga, descreve em longo parágrafo o poeta escolhendo os trajes e vestindo-se para a missa de domingo, o que, segundo o autor, demoraria duas horas. Sérgio Buarque de Holanda também deixa transparecer certo preconceito, observando o reacionarismo de Gonzaga frente aos costumes, nas Cartas chilenas: (...) o efeminamento dos homens, manifesto até nos vestuários e no costume de mosquearem o rosto, de pintarem os lábios, os lóbulos das orelhas, as faces e usarem brincos, ajudava a desfazer qualquer resistência na gente de melhor casta. E como sempre sucede em tais casos, as mulheres, por sua vez, masculinizavam-se, usando cabeleira de bandas, largando o espartilho, exibindo os sapatos e cheirando rapé. Pensando bem não deixa de ser paradoxal o fato de Gonzaga, que bordava os vestidos da noiva, escandalizar-se ante essa masculinização das mulheres(...).80 Pedro Américo, ao iniciar a série sobre a Conjuração Mineira com Tomás Antônio Gonzaga a bordar o vestido de sua Marília, atira seu personagem a uma fogueira inquisitorial. É um preâmbulo lírico de uma narrativa trágica. Porém, artista nos coloca frente ao sonho do poeta que, inocentemente encarcerado, deseja retomar seu devir. A narrativa da conjuração iniciar-se-ia expondo um primeiro drama: o sacrifício do sonho de um inocente. É duplamente dramático ser condenado por algo que não se fez. Recordemo-nos da interrogação de Varnhagem: “E quanto mais poesia não há na perseguição injusta?(...)”. Aquele a quem os conjurados reconheciam como líder, mesmo em potencial, é apresentado como “alheio”. A conjuração estaria morrendo 79–1 FRIEIRO, Eduardo. O diabo na livraria do cônego: Como era Gonzaga? e Outros temas mineiros. 2ª ed.ver. e aum. São Paulo: Ed. Itatiaia. EdUSP, 1981, p. 79. O capítulo “Como era Gonzaga?” foi primeiramente publicado na Coleção Cultural, n.º2, Belo Horizonte: Secretaria do Estado de Minas, 1950. 80–1 HOLANDA, Sérgio Buarque de. As Cartas chilenas. Tentativas de mitologia. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 228. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 43 Maraliz de Castro Vieira Christo em seu próprio nascedouro. O primeiro quadro já apontaria para o fracasso do movimento. Gonzaga, bordando, apenas provocaria a estranheza preconceituosa daqueles que, agora, austeramente, cobrem-se de preto. Se Pedro Américo endossasse a posição de Joaquim Norberto/ Castro Alves/ Sylvio Romero, apresentando Gonzaga como revolucionário, mentor da conjura, afirmaria o papel das ideias, dos intelectuais na conjuração. Enfatizar Gonzaga bordando é seguir caminho oposto, é denunciar a fragilidade das bases em que se alicerçava o levante. Mesmo raciocínio seguiram Jean-Claude Bernardet e Alcides Freire Ramos, ao analisarem o filme de Joaquim Pedro de Andrade, Os inconfidentes (1972), no livro Cinema e História do Brasil81. Para os autores, o propósito do filme seria “focalizar o papel exercido pelos intelectuais conjurados”, censurando-lhes o comportamento desmoralizador, a falta de uma participação mais ativa ou de um projeto revolucionário. No filme, Joaquim Pedro também recria o sonho da lira XXXIV, mostrandonos Gonzaga na prisão, bordando ao lado de um cupido. Não casualmente, esta foi a única imagem do filme reproduzida no livro de Jean-Claude Bernardet e Alcides Ramos, seguida da legenda: “Os inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade. Uma crítica aos intelectuais conjurados”. Na série não concluída sobre a Conjuração Mineira, Pedro Américo expõe seu próprio julgamento sobre o levante: um movimento débil internamente, condenado pelos seus erros ao fracasso antes mesmo de ser reprimido. Uma narrativa que se inicia com aquele apontado como mentor intelectual bordando, negando qualquer envolvimento, só poderia findar com o abandono de um corpo esquartejado. 81–1 BERNARDET, Jean-Claude e RAMOS, Alcides Freire. Cinema e história do Brasil. São Paulo: Ed. Contexto, 1988, p. 25-32. 44 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):9-44, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Maria Renata da Cruz Duran1 Abstract: In this article, I tried to make sermonística as an important expression of thought eighteenth, of the sermons and profiles of the main icons in Rio Ioannina and then highlighting a supposed uniformity in themes, interests and work, especially from the prayers and the position of the Fray Francisco Monte Alverne, one of the main representatives of sermonística of their time. Palavras-chave: Sermonística, Frei Francisco do Keywords: Portuguese America, Sacred oraMonte Alverne, literatura brasileira oitocentista. tory, eloquence. Resumo: No presente artigo procura-se localizar a sermonística como uma expressão do pensamento lusobrasileiro oitocentista focalizando a importância de Monte Alverne como um dos principais representantes da sermonística. Francisco José de Carvalho nasceu em 1783, no Rio de Janeiro. Seus primeiros estudos parecem ter sido realizados sob as ordens de Manuel Inácio da Silva Alvarenga que, em agosto de 1782, abriu um curso de retórica e poética no Rio de Janeiro, fechado em dezembro de 1794, quando Alvarenga foi preso e enviado para a Ilha das Cobras, permanecendo ali por cerca de dois anos e meio. Em seu retorno, Alvarenga reabriu a escola e, neste período, Francisco José de Carvalho estudou as primeiras letras. Em 1800, Francisco José de Carvalho apresentou-se ao convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro. O ministro provincial do período, frei Antônio de São Bernardo, expediu o documento oficial de ingresso em 27 de julho de 1801, com a ajuda do frei Vitorino de São José. A aprovação de ingresso na ordem dependia de uma inquirição jurídica que consistia numa investigação para averiguar: os antecedentes criminais, a legitimidade familiar, a integridade física, se o sujeito não bebia ou se bebia de1 –1Doutora em História pela UNESP/ Franca e, com a orientação do prof. dr. Jean Marcel Carvalho França, redigiu Ecos do Púlpito. Oratória sagrada no tempo de d. João VI, obra premiada pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal em 2007, atualmente no prelo pela EDUNESP. E-mail: [email protected]. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 45 Maria Renata da Cruz Duran mais, a possibilidade de concubinato e, por fim, se aquela era realmente a sua vontade. No caso de Francisco José de Carvalho, tal investigação foi realizada em duas datas, 9 e 10 de setembro de 1802, com o testemunho de José de Freitas e João de Mello, Inácio Botelho de Siqueira e João de Souza Machado. Aos 17 anos, Francisco José de Carvalho ingressou na carreira dos estudos a fim de tomar a primeira tonsura, que dependia, desde 1788, da aprovação nos estudos de filosofia, retórica, geografia, cronologia e história eclesiástica, exigência subordinada ao bispo d. José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco, presbítero do hábito de São Pedro e, desde 24 de março de 1781, responsável pelo seminário São José. Os estudos de retórica eram supervisionados pelo frei Alexandre de São José, mas a cadeira de retórica estava ocupada pelo frei Sampaio, que havia tomado as mesmas aulas com frei São Carlos. Data desse momento, a amizade entre frei Sampaio e Francisco José de Carvalho. Tal sentimento seria lembrado pelo poeta português Antonio Castilho, num episódio muito peculiar: Da austeridade do seu caráter, ou antes, do seu gênio fogoso, se contam muitos casos. Um dos mais falados foi que, tendo o imperador dom Pedro I prometido o bispado de S. Paulo ao eloquente padre mestre fr. Francisco de S. Paio, indo ele próprio ao convento dizê-lo ao frade, nomeou depois outro bispo por empenho da marquesa de Santos, que podia tudo naquele tempo. Indo depois o imperador ao convento, no dia de S. Francisco, como era de costume, Sampaio saiu de sua cela a receber o monarca, sem dar mostras de ressentimento. Monte Alverne, vendo isso, chegou-se ao padre e disse-lhe em voz alta: “Onde vais? Lembra-te que és Sampaio, o grande Sampaio, e não desça do capítulo às hegemonias dos criminosos. Volta, Sampaio, volta para a companhia dos teus livros, que foram os que te ajudaram a ser grande”. E ambos voltaram para a cela sem falar ao imperador.2 O coleguismo entre os pregadores imperiais chegava, como indicam 2 –1CASTILHO: 1921, p.83. 46 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI alguns documentos da Província e cartas dos pregadores, à troca de sermões entre os freis. De modo que, muitos dos sermões, ou mesmo de trechos, de alguns eram pregados por outros, e vice-versa. A austeridade ou a intransigência de Francisco José de Carvalho não se estendia, pois, aos seus colegas de “missão”. De qualquer maneira, a postura do aspirante à carreira religiosa não mudaria com o tempo, afinal, como escreveria um discípulo seu: Posto que grave de costumes, de caráter, e de aspecto, era muito expansivo; sua sensibilidade moral muito exaltada. Aplaudia com transportes o belo e o sublime em todas as coisas e do mesmo modo se indignava com tudo o que lhe parecia repreensível.3 Tal postura, que demonstrava a crença na equivalência dos poderes da Igreja e do Estado, como era comum na época, também trazia um pouco da personalidade marcante do frei, sempre cioso da distinção social que entendia lhe caber, na qualidade daquele que intercedia junto a Deus pelo Estado. Esta distinção seria reafirmada quando, após a primeira tonsura, Francisco José de Carvalho passou a ser chamado de frei Francisco do Monte Alverne. Essa mudança de nome garantia a manutenção da tradição pela qual os religiosos filiavam-se à Igreja católica no período, demonstrando que, de certa forma, eles renasciam. Uma vez religioso, frei Francisco do Monte Alverne investiu na mobilidade social, possibilitada aos clérigos do período, além disso, pôde estudar disciplinas às quais não teria acesso caso não tivesse condições de custear, pois “ter um filho frade era no Brasil desse tempo grande honra para uma família; por outro lado não sabiam os pais, que melhor direção pudessem dar ao filho, que mostrava grande amor ao estudo”.4 Neste sentido, entre 1804 e 1807, as fontes não nos permitem definir uma data exata, frei Francisco do Monte Alverne mudou-se para São 3 –1MAGALHÃES, Domingos de. Biografia do padre Monte Alverne. Rio de Janeiro: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1882, p. 395. 4 –1MAGALHÃES. Op. Cit., p. 394. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 47 Maria Renata da Cruz Duran Paulo a fim de completar seus estudos no convento São Francisco de Assis. Quando chegou ao convento São Francisco, Monte Alverne estudou filosofia e teologia por quatro anos, junto a uma turma em que constavam 11 brasileiros e 11 portugueses. Essa equivalência devia-se a uma norma pela qual o mesmo número de estrangeiros e de brasileiros devia ser aceito nas instituições de ensino. O novo guardião e regente do convento, frei Antônio de Santa Úrsula Rodoalho, foi quem lhe ministrou as aulas de teologia. Entre as aulas de filosofia e as de teologia, Monte Alverne instruiu-se nas Ordens Sacras e, em 1808, recebeu as quatro ordens menores. Apenas duas delas foram registradas: em 1° de fevereiro de 1808, o subdiácono ou Epístola, e em 8 de fevereiro do mesmo ano, o diaconato ou Evangelho; ambas foram recebidas pelas mãos de d. Mateus de Abreu Pereira. Os três anos de Teologia incluíam as disciplinas de história eclesiástica, dogma, moral, direito canônico e exegese. Não nos parece que tal modelo tenha sofrido muitas variações até a data dos estudos de Monte Alverne, assim como os livros a que teve acesso na biblioteca do convento, de quatro mil volumes. De suas leituras Monte Alverne gabavase, exaltando o seu autodidatismo, que incluiu o aprendizado solitário da língua francesa. Além das dificuldades no aprendizado da língua, havia outras matérias de que o frei se ressentia por não ter tomado lições, como, por exemplo, de política. O frade creditava a força de vontade para superar tais obstáculos ao amor pela pátria: Advogando sempre a causa do meu país, sem seguir a causa de algum homem (...) confesso que nunca fui iniciado nos altos segredos da política (...) mas é porque devo advogar a causa de meu país; porque devo zelar pelos interesses da sociedade5 (que me empenho nos estudos). No intuito de zelar pelos interesses da sociedade, frei Francisco do Monte Alverne esmerou-se no desenvolvimento de seus raciocínios, que para ele eram garantidos por dois tipos de princípios: uns de fé, outros 5 –1Idem, Diário de Anúncios, 20 de novembro de 1833. 48 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI de evidência. Os últimos seriam oriundos de três fontes: os sentidos externos, a consciência e a inteligência;6 sentidos que o frade acreditava possuir, como brasileiro que era: Sempre vi no caráter dos brasileiros esta superioridade de talentos que ninguém os contesta, esse futuro grandioso, esta glória que deveria ilustrar o nosso país tão espezinhado pelo estrangeiro, que não nos conhece e aprecia, porque talvez não nos possa bem-avaliar.7 No ano de 1810, Monte Alverne teve oportunidade de tornar públicos tais princípios, pois a congregação do convento mudou o corpo docente do colégio São Paulo. Embora fosse tradição que um instrutor acompanhasse a turma até o término dos estudos, o frei Inácio de Santa Justina Leite, que lecionava filosofia, foi transferido para Taubaté como superior do convento de Santa Clara. Frei Antônio do Bom Despacho Macedo foi quem o substituiu no cargo de lente de prima e frei Joaquim de Santa Catarina Loyola como lente de vésperas. Essas modificações faziam parte de uma renovação dos quadros e ocupações promovida por d. Caetano da Silva Coutinho, bispo responsável pela Província da Imaculada Conceição desde 1805, quando morreu o bispo Castelo Branco. Mudanças e transferências que atingiriam a outros partícipes do convento, como Monte Alverne, que foi eleito para pregador passante do convento. As aulas do passante consistiam numa revisão das matérias já estudadas, mas a partir desta primeira nomeação Monte Alverne ocuparia inúmeros cargos na Província franciscana. Na congregação capitular de 24 de abril de 1813, realizada no Rio de Janeiro, Monte Alverne foi eleito professor de filosofia do colégio São Paulo. Para lecionar, segundo Manuel Joaquim do Amaral, discípulo de Monte Alverne, os padres recebiam entre 200 e 150 contos de réis anuais. No curso de filosofia, cabiam os ensinamentos de lógica, matemática, 6 –1Idem: 1858, PAR. 174. Compêndio de filosofia. 7 – Monte Alverne em carta ao amigo Castilho de 4 de dezembro de 1855, apud CASTILHO: 1921, p.90. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 49 Maria Renata da Cruz Duran ética e física. No primeiro anos estudava-se lógica e matemática. A disciplina de ética era ensinada no segundo ano e a de física no terceiro ano. direito natural era matéria também para o segundo ano e geometria elementar, para o terceiro. Segundo os registros das Tábuas provinciais8, a primeira aula de filosofia do frei Francisco do Monte Alverne começou com uma diferenciação entre o empirismo inglês e a proposta eclética de interpretação, muito apreciada no período. Além de uma breve exposição das influências francesas na educação do Brasil9. A proposta eclética era respaldada pelos escritos do francês Victor Cousin, a quem o frei dedicava imenso reconhecimento. Entre a influência francesa, a inglesa e, especificamente, a eclética, Monte Alverne indicava três princípios de conhecimento humano: a análise, a analogia e a experiência. Para esse franciscano a experiência era a melhor forma de efetivar o conhecimento humano, pois apenas por meio da experiência as duas opções anteriores também poderiam ser contempladas. Sendo assim, para ele, a experiência era o meio mais completo de conhecimento. Monte Alverne dedicou alguns anos de estudo à filosofia, anos que resultaram, em meados de 1833, na escrita do seu Compêndio de filosofia, que só foi publicado em meados de 1850. Ao longo da primeira metade do oitocentos, conhecer a composição do discurso significava, entre outras coisas, exercitar uma moralidade que só poderia ser explicitada por meio da educação dos costumes, ou, nas palavras dos coetâneos, por meio da civilização do povo. Quando Monte Alverne se dispôs a revisar seu compêndio, a fim de publicá-lo, a retórica, que fazia parte dessa educação de costumes, sofria algumas contestações que também eram constatadas pelo frei. Daí ele defender a publicação de um compêndio de filosofia em detrimento de um compêndio de eloqüência, como era corrente até então: 8 –1Citadas por LOPES, Frei Roberto. Monte Alverne: Pregador imperal. Rio de Janeiro: Vozes, 1958. 9 –1Acerca de sua relação com Monte Alverne, escrevemos o artigo A perspectiva eclética: razão entre as luzes e o catolicismo, publicado na revista eletrônica Intelléctus, da UERJ, em setembro de 2004. 50 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Não sou inimigo da retórica; conheço o seu valor, aprecio os socorros que ela pode ministrar ao talento; mas, a quem deveu ela estes recursos? De quem aprendeu ela os meios de evitar os desvios, ou os excessos que anulam, inibiam a composição? Ficai certo; é mister educar, instruir e disciplinar este povoléu de literatos e oradores.10 Se em 1855, quando Alverne escreveu essa carta, existia um povoléu de oradores e literatos, até 1808 esse quadro não se mostrava tão amistoso, pois, segundo o próprio frei, a formação desse povoléu só seria possível com a chegada da Corte e com as transformações impulsionadas por essa nova condição. Com a chegada da Corte, esse ensino da civilização tornou-se, senão mais fácil, mais presente, pois, com a transferência da sede do Império, criou-se uma certa autonomia para o Brasil, na oração em ação de graças pela elevação do Brasil a reino pregada na vila de Itu, no dia 4 de fevereiro de 1826, Monte Alverne ainda iria assinalar que essa autonomia conquistada com a transferência da corte foi o agente propulsor da elevação do Brasil a reino: Que reflexões tão dignas da filosofia, tão próprias para amadurecer a experiência, despertaram-se com esta rápida e faustosa transição por que acabamos de passar! Que contraste entre os esmeros de um príncipe cuidadoso do engrandecimento do Brasil e os quadros de horror que conspurcam os anais da espécie humana!(...) O impulso vigoroso, que impele o carro, em que o Brasil se mostra ovante, não descobre uma vontade firme e determinada em promover o adiantamento do Brasil? Quando nossos netos perguntarem: quem tornou florentes nossas povoações, fomentou a agricultura, deu segurança aos nossos estabelecimentos rurais, pejou nossos portos com navios nacionais e estrangeiros, fundou arsenais, criou escolas, erigiu academias, fez surgir uma nova capital e embelezou com os edifícios mais suntuosos? Haverá um só que não pronuncie seu nome, este nome tão caro aos seus, tão respeitável aos estranhos? As vantagens incalculáveis da paz serão de agora em diante preferíveis ao esplendor efêmero das façanhas belicosas.11 10– Ibidem, p. 106. 11–1Ibidem, p.280. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 51 Maria Renata da Cruz Duran Em resumo, para Monte Alverne, o Rio de Janeiro do primeiro quartel do século XIX viveu um tempo de grandes mudanças: Chegou a época em que galgamos o degrau honorífico tão longamente aguardado. Abriu-se a mesma lice ao talento. Nós pretenderemos, nós subiremos às honras com esta altivez, que distingue um povo livre. Ontem filhos mais moços de Portugal, somos hoje seus iguais. Reapertaram-se estas molas sociais, cuja ação atrairá sobre nós olhares respeitosos. Realizaram-se os desejos dos grandes homens, que não recearam invocar o amor do gênero humano, e haviam bebido suas luzes no fogo sagrado, que os abrasava. A liberdade ilimitada do comércio do Brasil deve sem dúvida excitar os mais ativos esforços, e reanimar todas as indústrias. Não se duvida mais que se deve ao comércio a felicidade dos povos e a grandeza dos Estados; que sua opulência deve ser fundada no trabalho, e que vale mais do que o ouro e a prata. A importação ministra e fornece as matérias que devem excitar o desenvolvimento industrial: a exportação anima a fabricar além do que exige o consumo doméstico. O acréscimo de comodidades recompensa os suores e as fadigas. Os espíritos adquirem um vigor novo. As ciências, as artes são cultivadas com sucessos sempre novos, sempre renascentes, porque são mais conhecidas nos Estados, em que a indústria é mais desenvolvida.12 Esse novo vigor que a transferência da Corte e os acontecimentos que a sucederam trouxeram para o Rio de Janeiro eram exaltados por Monte Alverne como um ponto de inflexão pelo qual a história do Brasil foi reanimada num sentido civilizatório. A missão de homens de letras, como ele, era a de colaborar para que esse momento fosse adequadamente aproveitado para a instrução da mocidade, o que garantiria ao futuro a continuidade desses “progressos”. Tais progressos incluíam também o desenvolvimento de outros setores: Quem não sente, quem não vê o andamento do Brasil, firmado na consciência universal? A força cede à inteligência. A opinião pú12– Oração em ação de graças pela elevação do Brasil a reino pregada na vila de Itu, Província de S. Paulo, no dia 4 de fevereiro de 1816. Ibidem, p. 278-279. 52 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI blica alue os alicerces do poder efêmero dos déspotas; e a imprensa fortalece a nova rainha do mundo, para alterar esses opressores subalternos, que em nome dos reis votam às suas paixões, e à sua imbecilidade, súditos que valem mais que seus tiranos. O Brasil não pode já retrogradar. A criação dos conselhos provinciais, a organização das câmaras municipais, a instituição dos jurados, o estabelecimento dos juízes de paz afiançam ao Brasil uma estabilidade tão sólida, e tão duradoura, que frustraria os ardis de todos os seus inimigos. Qualquer tentativa para forçar o Brasil a descer da sumidade, em que está colocado, faria rebentar comoções, que dariam em resultado a perda do equilíbrio na balança social.13 A transferência da Corte para o Rio de Janeiro alargou os limites dessa posição social de Monte Alverne, pois, em 20 de abril de 1816, nomeado por d. José Caetano da Silva Coutinho, assumiu também as funções de teólogo da nunciatura e de lente de retórica no seminário São José. Mais tarde seria nomeado para as cadeiras de teologia dogmática e filosofia racional; no ano seguinte, em 1817, examinador da Mesa de Consciência e Ordens, tribunal criado por alvará de 22 de abril de 1808; e em 1818, guardião do convento da Penha, no Espírito Santo, cargo a que renunciou três anos depois. Em 1814, seria eleito secretário da Província e custódio da mesa capitular. Como religioso, frei Francisco do Monte Alverne iria se mostrar um trabalhador assíduo, envolvido em várias atividades. Com a partida do rei d. João VI e, sobretudo, com a ascensão do governo regencial, novas mudanças foram enfrentadas pela população carioca. Tais mudanças também foram avaliadas por Monte Alverne, mas dessa vez sob um novo ângulo: O infortúnio tem apalpado muitas vezes o Brasil. A guerra civil, a anarquia, a perfídia tem conspirado para inutilizar os planos da providência, que assegura ao Brasil a sorte mais gloriosa; os terrores de um futuro incerto e tenebroso tem agravado os males do momento, para este gigante dos trópicos, que a onipotência divina sustenta, e fortifica; mas nós podemos afiançar sem temor de 13– Oração em ação de graças recitada no dia 25 de março de 1831, aniversário do solene juramento da constituição, celebrado na Igreja de São Francisco de Paula, pelo povo fluminense. Ibidem, p. 333. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 53 Maria Renata da Cruz Duran exagero que o Brasil teria desaparecido envolto em luto, coberto de ruínas, se, por efeito de sua justiça terrível, o Eterno deixasse terminar uma vida, que o Brasil quisera resgatar à custa dos mais duros sacrifícios.14 Esses infortúnios também atingiram as ordens religiosas. Neste sentido, o frei Francisco do Monte Alverne formulou um Plano de Reforma para a Província Imaculada da Conceição em 1833. A Província enfrentava uma crise naquele período que podia ser notada, entre outros fatores, pelo número de 40 ou 50 aspirantes à carreira religiosa, face às 400 vagas oferecidas pelo convento São Francisco de Assis, em São Paulo. A redução no número de internos deu-se tanto pela proibição da admissão de novos membros quanto pela redução dos honorários dos clérigos – duas medidas que foram tomadas pelo Estado. Inspirado por essa crise, Monte Alverne escreveu cerca de 20 páginas analisando a situação da Província Imaculada da Conceição e da Ordem Franciscana no Brasil e propondo mudanças de cunho estrutural para a ordem. Essas 20 páginas constituíam o Plano de Reforma para a Província Imaculada da Conceição. Nos itens da Reforma, Monte Alverne parecia acreditar que, uma vez vinculados, Estado e Igreja, cabia ao Estado socorrer a Igreja em suas necessidades materiais e cabia à Igreja socorrer o Estado em suas necessidades espirituais. Mas, como a Igreja encontrava-se esquecida pelo século, era preciso que ela se adaptasse à essa nova situação. Nesse plano, ele solicitava ainda maiores liberdades e menores encargos aos franciscanos, reclamava dos custos da profissão e da falta de uma modernização da ordem, pontos que entendia extensivos à toda a Igreja católica. A cobrança por renovações, ou mesmo por novidades, foi, ao longo desse período, uma constante nos escritos de Monte Alverne. O entendimento de que a novidade sempre guardava consigo bons presságios acompanhou Monte Alverne, como muitos outros de sua época. Mas em nenhum outro escrito seu ela 14–1Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde se sua majestade imperial o senhor d. Pedro II, celebrada pelo primeiro Batalhão da Guarda Nacional, na igreja paroquial do Santíssimo Sacramento no dia 3 de novembro de 1833. MONTE ALVERNE, Francisco. Compêndio de Philosofia. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1859, tomo II, p. 315. 54 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI foi mais enfática do que no Plano de Reforma, pois, neste, o novo significava a vida de sua ordem, e, por extensão, a sua também. Para Monte Alverne, em 1833, mudar significava manter a importância da ordem franciscana no país e a sua própria importância dentro da mesma. O Plano de Reforma, entretanto, não seria aproveitado até 1900, quando algumas modificações foram feitas na ordem. Nota-se que sua influência mais efetiva foi na vida do próprio Alverne que, em 1835, descontente com a Ordem, encaminhou um pedido de Breve de Secularização para o Vaticano. Esse pedido era feito quando algum religioso tinha a intenção de desligar-se da ordem à que pertencia ou mesmo quando queria abdicar dos votos feitos, deixando a carreira de religioso. O pedido de Monte Alverne, contudo, seria revogado pelo próprio frei apenas seis meses depois de ter sido encaminhado (COSTA: 1999). Embora aceitasse algumas medidas extravagantes, que poderiam ser entendidas como revolucionárias, Monte Alverne não pautava seu discurso, e conquanto sua atitude, por meio destas. Monte Alverne não era um aspirante a revolucionário. Acreditava que a sociedade só poderia conquistar a ventura pública, por meio de um pacto: Não procuremos, senhores, depois de tantos disparates, uma perfeição social, incompatível com a fraqueza do homem. A ventura pública só pode basear-se em um pacto de harmonia com os seus antigos hábitos. Uma constituição, que aperta em um só feixe todas as partes deste grande todo, que concilia todas as ambições particulares com o fim grandioso da utilidade comum, pode só deixar em legado à posteridade uma nação forte, respeitável, feliz, e poderosa.15 A constituição reclamada por Monte Alverne foi promulgada em 25 de março de 1824. Mas a marcha gloriosa do Brasil, que havia conquistado a sua carta magna, deveria vir acompanhada de uma outra marcha, a das luzes: 15– Oração em ação de graças recitada no dia 25 de março de 1831, aniversário do solene juramento da constituição, celebrado na igreja de São Francisco de Paula, pelo povo fluminense. Idem, p. 334. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 55 Maria Renata da Cruz Duran Nenhum espetáculo é mais fecundo em reflexões do que a marcha progressiva do gênero humano, lançado na carreira com todas as suas promessas, e todos os seus destinos. A filosofia acendendo seu archote, e recebendo novas luzes da lâmpada inextinguível da religião, dissipou as trevas espessas em que a ignorância tinha envolto os séculos; e justificou os desígnios desta previsão eterna, que dirige os impérios. O homem colocado no seu tempo, e no espaço, para tudo conquistar com a sua inteligência, não encontrou mais no acaso a origem dos sucessos, que abrilhantam os fastos da humanidade; e as teorias do mundo moral, outrora tão obscuras, prestam-se hoje a um desenvolvimento, que os reflexos mais puros da razão nunca puderam ministrar.16 A marcha progressiva do gênero humano aceitava mudanças, guiadas pela razão. Às vezes o homem poderia sentir-se acuado mesmo a ponto de levar revoluções a cabo, mas essas só serviriam para disseminar a anarquia e a discórdia, que eram contrárias à civilização: Senhores eleitores, não esqueçais as lições da história; não desprezeis os conselhos da experiência. Quando uma nação é desgraçadamente mal representada, só espera das revoluções um estado de coisas mais feliz; e expõe-se a ser o ludíbrio, e instrumento de todo o faccioso que se apresenta para socorrê-la. O povo liga-se por instinto àquele que tem bastante valor para falar em seu abono; aprova as reclamações feitas em seu nome; e prefere muitas vezes para seus intérpretes ambiciosos e hipócritas que o seduzem, prometendo seu auxílio; e destroem o Estado pretextando defendê-lo.17 Atente-se que a civilização e as luzes são guiadas pela religião e que, na falta desta, a falta de caráter pode levar o Estado à corrupção e o povo à revolução, assim, o instinto de felicidade à que se referiu Monte Alverne 16–1Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde se sua majestade imperial o senhor d. Pedro II, celebrada pelo primeiro batalhão da guarda nacional, na Igreja paroquial do Santíssimo Sacramento no dia 3 de novembro de 1833. Ibidem, p. 317. 17–1Discurso recitado no dia 28 de maio de 1833, na capela imperial do Rio de Janeiro, perante o colégio eleitoral, reunido para proceder à eleição de um senador por esta província. Idem, p. 343. 56 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI só seria possível por meio da libertação da população que seria efetivada com a civilização da mesma: A liberdade não pode existir sem espírito público, sem elementos de justiça, e princípios de equidade; mas esses sentimentos elevados, estas brilhantes qualidades são a conseqüência de uma educação virtuosa estabelecida na religião, e na verdadeira filosofia.18 O bom caminho dependia, pois, da religião, a tal ponto que a semente da verdadeira ilustração só poderia ser oferecida pela cruz preciosa invocada por Monte Alverne. Isso significava que a religião, além de um valor pessoal, tinha um peso coletivo na ilustração dos povos. Em outras palavras, a razão pela qual o gênero humano tinha conquistado sua libertação e fundamentado a sua civilização deveria ser buscada na religião: Senhor, assim se manifestou na oportunidade dos tempos esta religião divina, que as necessidades do gênero humano invocavam imperiosamente. Cercado de seus mistérios, sustentado por suas esperanças, enobrecido com sua moral, o cristianismo dissipou todos os prejuízos, derrubou os monumentos do homem; e forte de princípios, forte de comoções, colocou-se à testa do grande movimento racional, e realizou os prodígios da civilização moderna.19 Aliás, a razão não está apenas fundada na religião, mas está também submetida a ela: “Perguntai agora aos filósofos se por ventura seus sistemas podem assegurar tão estupendas maravilhas; e se a providenciado o século tem-se o direito de escarnecer as teorias da cruz’.20 A racionalidade estaria, portanto, vinculada à religião, no sentido de que dependia dela. Este vínculo era estabelecido sob quatro parâmetros: a) a existência, âmbito no qual a racionalidade se desenvolve, estaria subordinada à vida; b) 18–1Discurso recitado no dia 28 de maio de 1833, na capela imperial do Rio de Janeiro, perante o colégio eleitoral, reunido para proceder à eleição de um senador por esta província. Ibidem, p. 343. 19– Sermão do Santíssimo Sacramento. Pregado na igreja Matriz, do mesmo título, no Rio de Janeiro, em 1834. Alocução a s. m. o imperador o Sr. d. Pedro II. Ibidem, p. 244. 20– Sermão do mandato. Pregado na igreja da Misericórdia de Rio de Janeiro. Ibidem, p. 133-134. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 57 Maria Renata da Cruz Duran a vida era um milagre possibilitado por Deus; c) como o milagre da vida, a razão não poderia explicar outros mistérios que só a religião entendia; d) justamente por entender a importância desses milagres é que a Igreja não participava suas explicações ao povo, que deveria estar preparado, senão civilizado, para recebê-las. Em resumo, quanto mais civilizado era um povo, mais ele entendia dos mistérios da fé e, portanto, mais religioso ele era. Tratava-se de um sentimento de espiritualidade, com o qual compactuavam não só os religiosos do início do Oitocentos, como também os homens de letras da época. Monte Alverne tentou sintetizar esse sentimento de espiritualidade com as seguintes palavras: Não perguntemos à razão os segredos que a fé tem reservado em seu seio: não pretendamos encontrar nos milagres da inteligência a solução destes problemas, que só ao cristianismo é dado resolver. Abrilhantada de suas luzes imortais, anunciada pelos mais famosos oráculos, seguida dos chefes da família depositária da tradição, e das promessas mais importantes, a religião abre o livro dos profetas; mostra o desempenho da palavra do Eterno, e sobre as ruínas de todos os sistemas, a despeito de todas as paixões, oferece aos olhos do universo as maravilhas desta redenção preparada nos espaços de quarenta séculos, e perfeitamente realizada no complemento das idades.21 Se entender os segredos da fé não era permitido para aqueles que não faziam parte de um dado grupo, qual seja, o de religiosos da Igreja católica, compreender outros mistérios do homem também não era permitido para aqueles que não eram iniciados em grupos de relevância no período, como a maçonaria ou as sociedades literárias. Não obstante, a história tinha um papel especial no raciocínio de Alverne. Imprescindível para aqueles que pretendiam ilustrar a população, dela sairiam os exemplos “reais” que poderiam convencer a população a tomar o melhor caminho, a escolher a melhor maneira de pensar, a optar pelo melhor partido, ou seja, dela sairia o respaldo e a justificativa para este ou aquele pensamento. Da mesma maneira que as citações, o uso da história nos discursos da época 21– 1º Sermão da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pregado na capela Imperial do Rio de Janeiro. Idem, tomo I, p. 135-136. 58 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI tinha uma implicação moral. Citar este ou aquele autor era vincular-se moralmente a ele, mencionar esse ou aquele momento da história era vincular-se moralmente a ele também. Querendo mostrar reprovação, o sermonista deveria reprovar o “fato” narrado, e vice-versa. Referir-se a um personagem considerado reprovável sem reprová-lo expunha o pregador ao risco de ser vinculado moralmente a ele. O gosto pela novidade, pelo reformismo, pela ilustração, pelo humanismo, pelas ideias de libertação e de espiritualidade, pelo exemplo histórico e pelo mistério seriam afirmados por Monte Alverne em praticamente todas as suas falas. O eixo norteador de todas essas variantes era, para Monte Alverne, a virtude e o seu objetivo era a revelação do patriotismo brasileiro. Para Monte Alverne, a virtude era o único título de ilustração de que o homem podia gloriar-se. Neste sentido, todos os homens tinham o dever de procurar o caminho da virtude. O que não significa que deviam fazê-lo coletivamente, pois, como atentava Monte Alverne, um arraigado defensor do “culto do eu”: Um só homem basta para levantar ou destruir um império: de um só homem pode depender, e tem dependido muitas vezes, a perda ou a salvação dos povos. Nas assembleias deliberativas, um só voto, e muitas vezes o voto de um ignorante, ou de um perverso, sanciona, sem remédio, as decisões tão funestas, que nem os séculos podem reparar.22 De certa forma, esse individualismo demonstrado por Monte Alverne complementava a ideia de missão, tão cara ao pregador. Afinal, alguns homens, como os de letras, eram dotados de maiores capacidades que os demais e, por isso, deveriam colocar seu gênio a serviço de todos, pois se “há no gênio uma superioridade que arrasta os espíritos medíocres, os homens superiores possuem a chave deste segredo, que 22– MONTE ALVERNE: 1858, tomo II, p. 343. E, ainda: Quando o júbilo domina todas as populações, quando não há quem deixe de sentir o preço de um benefício, que fortaleceu com a prosperidade geral todas as prosperidades individuais, seria não desconhecer os arrojos do amor da pátria, especular sobre talentos. (Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde de sua majestade o imperador o senhor D. Pedro I, celebrada na capela dos Terceiros de N. Senhora do Monte do Carmo no dia 18 de Janeiro de 1830, pelos criados de sua casa. MONTE ALVERNE: 1858, tomo II, p.305). R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 59 Maria Renata da Cruz Duran sabe dirigir os sentimentos mais exalados e [devem] empregá-los na razão direta de seus interesses, ou de sua glória”,23 que, ao fim e ao cabo, contribuiriam para a glória de todos. Mas de que maneira os homens de gênio deveriam cumprir a sua missão? Para Monte Alverne, espalhando a civilização. Todavia, o que era civilização para o pregador? Civilização era o conhecimento e o domínio, no sentido normativo, do próprio saber em função de uma causa comum, o patriotismo, por exemplo. De suas preferências literárias faziam parte Chateaubriand e Bossuet, pois estes são os autores mais citados em todos os seus trabalhos. Antonio Vieira foi citado apenas uma ou duas vezes ao longo de toda a sua obra, mas sempre com certa reverência. Ao comentar a personalidade de Vieira, que inspirava confiança, e ao mesmo tempo ao vincular os louros da nação à atuação do pregador, Monte Alverne demarcou duas das principais características que, para ele, deveria ter um pregador: virtude e sentimento de missão. Além disso, referendava o pressuposto pelo qual citar algum autor era vincular-se à sua importância, à sua magnitude e confiabilidade. Portanto, ao preferir Bossuet ou Chateaubriand a Vieira, Monte Alverne estaria ampliando o alcance de sua oratória para além dos limites luso-brasileiros, para um âmbito mais universal, como deveria ser para aquele que pretendesse desenvolver a civilização. Monte Alverne, supostamente, não estava preocupado com a forma de seus sermões. A forma oral, com a qual iria apresentar os sermões, lhe conferia essa aparente flexibilidade, mas, a ordem de seu discurso ainda era normatizada: valia mais o que convencia melhor, e o convencimento dependia das emoções atingidas que, como ele bem sabia, no caso de um país de analfabetos, dependia mais da sonoridade do discurso do que da sua coerência. Essa terra de grandes oradores ouviu o primeiro sermão do capuchinho encarnado no primeiro domingo da quaresma de 1810, seu título era Sobre o amor dos inimigos. Em 1810, quando Monte Alverne finalmente ingressou nas atividades do púlpito, eram muitos a se aventurarem 23–1Sermão do senhor bom Jesus atado à coluna. Pregado no convento da ajuda desta cidade. Idem, tomo I, p.280. 60 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI na pira em que arderam os olhos24 do frei – há de se salientar, por exemplo, que a oratória sagrada era uma tradição na ordem franciscana, muito numerosa no Brasil. Se o caso era cumprir uma missão honrosa legada por seus pais, então a tarefa dos pregadores era a de proteger e guiar essa população pelo caminho do bem que, no período da ilustração, era o caminho da instrução da mocidade. Diametralmente, esta missão estava relacionada à manutenção de planos paternos, anteriores a essa mocidade, tradicionais. No Brasil da primeira metade do século XIX esses planos de tradição estavam relacionados a muitas referências: àquelas da metrópole, àquelas forjadas na própria colônia, enfim, a referência à tradição incluía naquele momento uma noção de artifício intrínseca – por ser exportada ou recém-criada – , senão uma urgência por sua invenção. Frei Francisco do Monte Alverne cumpriria sua missão de instrutor da mocidade ao se destacar nas atividades do púlpito. Em 1816, foi transferido do convento São Francisco de Assis, em São Paulo, para o convento Santo Antonio, no Rio de Janeiro. A partir de 7 de outubro daquele ano, Monte Alverne seria, aos 33 anos, pregador imperial. A oratória sagrada significava para o frei, entre outras coisas, exercer seu dever de instrução pública: Eu direi pouco sobre o objeto, que deveis ter longamente meditado, e sobre o qual já vos pronunciastes uma vez. Quando se trata do bem público diante de cidadãos, animados da dedicação mais ilustrada, o orador não pode recear do sucesso. Se a província aplaudir, como espero, a vossa escolha; se a nação fizer justiça ao vosso discernimento, e à pureza de vossas intenções; eu me regozijarei por ter contribuído com o que posso prestar na minha posição social.25 Uma década e meia depois, em meados de 1830, Monte Alverne já sentia a gravidade dos problemas nervosos que o levariam à cegueira 24–1MONTE ALVERNE (1858). Op. Cit., tomo I, p. XV. 25–1Discurso recitado no dia 28 de maio de 1833, na capela imperial do Rio de Janeiro, perante o colégio eleitoral, reunido para proceder à eleição de um senador por esta Província. Ididem, tomo II, p. 339. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 61 Maria Renata da Cruz Duran completa. Em 1836, cego, abandona os louvores do púlpito para resguardar-se em sua cela no convento Santo Antonio no Rio de Janeiro. Depois da cegueira que o levou a um certo tipo de exílio involuntário, Monte Alverne pleiteou a concessão do voto de chancela, para que pudesse continuar a atuar nas articulações da ordem de que pertencia. Com a concessão do voto de chancela, pelo qual rubricava os documentos que eram encaminhados à votação após terem sido lidos na frente de todos, Monte Alverne ainda participou de muitas atividades na Ordem Franciscana, entre 1836 e 1856, mas nenhuma remunerada, como as aulas e os sermões. E, como os franciscanos não podiam guardar dinheiro, Monte Alverne passou a ter dificuldades em manter seus costumes e seu tratamento de saúde. Em 1837, solicitou à nunciatura absolvição de seus gastos, que lhe foi concedido “pelas circunstâncias especiais”26. Entretanto, neste mesmo ano, as parcas economias que Monte Alverne havia guardado foram retidas pela ordem, justamente para cobrir os gastos que foram absolvidos. Em 1855, após enviar carta para o irmão pedindo dinheiro – a única carta para um familiar de que se tem notícia –, voltou a reclamar divisas para o tratamento de sua saúde e foi tranquilizado pelo bispo de então, conde de Irajá, que lhe ofereceu um numerário para sua garantia. Desse período, restam apenas algumas cartas entre Monte Alverne, Araújo Porto Alegre, Antonio Castilho e alguns escritos esparsos que fazem parte dos Trabalhos oratórios e literários. Além disso, algumas cartas entre Gonçalves de Magalhães e Monte Alverne fazem crer que algumas biografias, entre outros ensaios, podem, neste período, ter sido produzida sem a assinatura do autor – escritos destinados à revista Niterói, ao Instituto Histórico da França e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre outras instituições de que fazia parte. Após as glórias alcançadas em 19 de outubro de 1854, com o segundo panegírico de São Pedro de Alcântara, o frei deu-se o direito de aparecer em público algumas vezes mais, e de tentar fazer mais um sermão em 15 de agosto de 1856, o segundo panegírico de Nossa Senhora da Glória, assim como de 26–1SCHUBERT, Mons. Guilherme. 200 anos de Mont. Alverne. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, abr./jun., n. 343. Rio de Janeiro: 1984. 62 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI participar das atividades da Província de maneira mais frequente. O panegírico de São Pedro de Alcântara reanimou, pois, o frade a retomar as atividades que ocupava anteriormente. Contudo, uma congestão cerebral o acometeu dias antes de apresentar o sermão de 15 de agosto e, como o compromisso já estava firmado, o frei apresentou-se, mas não com a mesma graça, nem tampouco a mesma inspiração de 19 de outubro. Mas, que graça era essa? O que compunha a força das palavras de Monte Alverne? Gonçalves de Magalhães assim descreveu o frade numa biografia póstuma: Era Francisco de Monte Alverne de alta estatura; de uma organização forte, musculosa e seca, curvava-se um pouco para diante, quando caminhava, porque bastante míope desde a sua juventude, procurava ver onde punha os pés; fora isso se mantinha direito, com a cabeça levantada. Tinha o rosto longo, descarnado, pálido e severo; o que tão bem se moldura no capuz negro do cenobita; muito alta a fronte, que para cima ia se alargando, mal coberta de cabelos, tanto pelo começo da calvície quanto pelo circilio e que negros tinham sido na mocidade. Grandes, rasgados e bem desenhados os olhos, em que se exprimia o entusiasmo pela força do olhar, e dilatação das pálpebras. Os supercílios contraídos sempre pelo hábito da meditação, e não menos por esse esforço, que fazem os míopes para ver, formavam um profundo rego de alto a baixo sobre a raiz do nariz, que longo e direto se elevava, descrevendo com a linha da base um ângulo ligeiramente obtuso. A boca, ou antes, os lábios muito contornados e móveis deviam ter sido de uma fôrma grega, e exprimiam, quando parados, desdém e desgosto, talvez pelos trabalhos e monotonia da vida.27 A força dos traços era importante, mas, para um orador, ela significava muito menos do que a expressão da voz. Neste sentido, Monte Alverne também se destacava, pois, segundo Magalhães: A voz de Francisco de Monte Alverne era forte, prolongada, flexível, cavernosa, e um tanto áspera, o que nele, porém não era defeito, antes lhe aumentava a energia, e dava-lhe uma vibração 27–1MAGALHÃES. Op. Cit., p. 395. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 63 Maria Renata da Cruz Duran metálica que retinia no mais vasto templo, e perfeitamente se ouvia nos corredores laterais. Declamava com muita ênfase, como quem tão fortemente sentia o que dizia, acentuando todas as sílabas, que ecoavam de modo tal que uma só não se perdia (...). Seus movimentos, cuidadosamente estudados, eram sempre precisos, largos e majestosos; e tão sublime dominava o púlpito que seu olhar inspirado impunha silêncio, e não se pode imaginar mais perfeito modelo de orador sagrado.28 Se Monte Alverne era um modelo de orador sagrado, isso significa que havia parâmetros de comportamento para o orador, assim como havia modelos para a retórica e a eloquência.29 Além de uma postura elegante mais emocionada, séria, porém íntima, o orador sagrado deveria manter uma relação de correspondência entre o que dizia e como agia. Quanto ao estilo, o estilo pomposo da eloquência poderá jamais igualar a linguagem muda, mas ardente do coração”.30 O que queria dizer que, de uma certa forma, o orador sagrado não poderia decidir quando e como seriam seus sucessos no púlpito, pois este dependia de uma inspiração que estava além de seu controle, uma inspiração que era divina. Por isso uma das partes mais recorrentes nos discursos da época era a invocação, pela qual o orador solicitava uma ajuda de Deus para continuar sua fala, invocação tal como a de Monte Alverne no Sermão do senhor bom Jesus atado à coluna, pregado no convento da Ajuda, no Rio de Janeiro: Fogo imortal, e eterno, que acendestes o vulcão de caridade, que abrasou o coração de Jesus Cristo, e o deu à terra em penhor de sua reconciliação, e sua liberdade; fazei sentir ao orador a impressão desse calor admirável; e ele saberá anunciar o prodígio mais estupendo de sabedoria, da onipotência, e da misericórdia divina.31 28–1Ibidem, p. 394. 29–1Modelos que serão tratados com mais afinco na minha tese de doutoramento que está em fase de redação final. 30–1Sermão do senhor bom Jesus atado à coluna. Pregado no convento da Ajuda desta cidade. MONTE ALVERNE (1858). Op. Cit., tomo I, p.289. 31–1Sermão do senhor bom Jesus atado à coluna. Pregado no convento da Ajuda desta cidade. Ibidem, p.282. 64 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI A invocação poderia, ainda, apresentar-se sob a forma de uma oferta. De qualquer maneira, essa invocação afirmava o orador sagrado como alguém que estaria dotado dos poderes da Igreja, a fim de legitimar a relação desta com o Estado e de ambos com o povo. O orador sagrado poderia, senão revelar os mistérios do povo, contribuir para a sua civilização, pois era instrumento da revelação divina. Sua fala, então, dava a conhecer a verdade obscurecida. Tarefa que não se escolhia, mas se era escolhido para ela. Como o orador teve que aceitar da religião a chama sagrada para revelar os segredos dessa economia espantosa, sua obrigação era a de zelar pela linguagem da verdade, afinal: Há um quilate moral, que jamais deixa equívoca a linguagem da verdade. Há um toque inofuscável, que manifesta o valor destas emoções que só o sentimento é capaz de produzir. É impossível enganar-se com a manifestação do sentimento. É impossível que os cânticos de um povo, prostrados aos pés dos altares para confessar a importância dos bens, de que o Todo-Poderoso se tem dignado enriquecê-lo, não sejam marcados com o selo da convicção mais profunda. Quando a imaginação antecipa os nossos danos, quando uma extrema sensibilidade parece agravar a situação dos povos ou exagerar a ventura; seus transportes formam apenas o elogio do seu coração. Mas quando males reais são dissipados pela providência; quando o eterno, restabelecendo a primeira pedra do edifício social, fechou a voragem, em que um povo inteiro ia desaparecer com todas as suas esperanças; as apoteoses, as ações de graças mais solenes são um tributo pequeno, mas bem sincero e verdadeiro.32 Falar a respeito das revelações a que tinha acesso, com a linguagem da verdade, era, portanto, a missão do orador sagrado e, para isso, não bastava que esse orador treinasse, ele deveria ser escolhido por Deus para 32–1Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde de sua majestade o imperador o senhor d. Pedro I, celebrada na capela dos Terceiros de N. Senhora do Monte do Carmo no dia 18 de janeiro de 1830, pelos criados de sua casa. Idem, tomo II, p. 303. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 65 Maria Renata da Cruz Duran interceder pelas vontades do povo junto ao monarca e, neste ensejo, agir com humildade. Destarte, o orador deveria estar destinado a seguir o caminho da religião, uma missão à qual não poderia furtar-se, afinal, “não está no poder do homem sufocar as emoções do entusiasmo. A mais fria indiferença não pode gelar esta lava abrasadora, que o patriotismo faz transbordar do coração”.33 Esse sentimento em relação à pátria estaria presente em praticamente todas as falas de Alverne, não como a projeção de um tema a ser pensado, e sim como a revelação de uma missão a ser cumprida: civilizar a nação para que ela perceba esse sentimento com o selo da convicção mais profunda. Do mesmo modo que um sermonista era convidado para discursar a respeito deste ou daquele tema e que tal convite era resultado da providência divina, este ou aquele homem era chamado a uma ou outra missão, conforme sua competência e, sobretudo, conforme a vontade de Deus; ser chamado revelaria, nesse homem ou nesse orador, a predestinação que justificava sua presença. Para mais, a nobreza da missão que desempenhava, garantiria a sua vitória. Mas como Monte Alverne procedeu para revelar à população do Rio de Janeiro do primeiro quartel do século XIX o seu patriotismo? Para o pregador, o sentimento de patriotismo havia sido guardado no peito dos brasileiros até então, porque “um governo miseravelmente opressor abafava toda a efusão do amor da pátria, comprimia todos os voos do gênio”,34 mas, com a transferência da corte, era inevitável que o patriotismo brotasse na população brasileira: O espetáculo majestoso do Brasil mostrando sua cabeça augusta coroada com o diadema imperial gera sensações tão profundas que 33–1Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde de sua majestade imperial o senhor d. Pedro II, celebrada pelo primeiro Batalhão da Guarda Nacional, na igreja paroquial do Santíssimo Sacramento, no dia 3 de novembro de 1833. Ibidem, p.314. 34–1Sermão pregado na capela imperial de Rio de Janeiro em 1 de Dezembro de 1827, aniversário da sagração de s. m. i. o senhor d. Pedro I, e fundação da Ordem do Cruzeiro. MONTE ALVERNE (1858). Op. Cit., tomo II, p. 292. 66 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI não é possível decifrar. Será sempre a partilha dos que tiverem de aparecer neste dia para serem intérpretes dos votos mais ardentes poderem apenas recordar emoções que o coração pode sentir, mas que a língua do homem não pode manifestar.35 As “emoções que o coração pode sentir, mas que a língua do homem não pode” revelar, eram os sentimentos de grandeza que o Brasil inspirava nos brasileiros: No Brasil tudo é prodígio, tudo é maravilha. Este sol, que fecunda nossos campos e perpetua nossa primavera, escalda a imaginação de seus filhos, e realiza estes portentos de imaginação de seus filhos; e realiza estes portentos de inteligência, fazem dos brasileiros um objeto de admiração e de espanto.36 Os brasileiros, no entanto, “objeto de admiração e espanto” para os estrangeiros, ainda não estavam, segundo Alverne, cônscios das grandezas com que eram contemplados: Tendo diante de vós esta série imensa de graças, que à porfia vos são prodigalizadas, objeto das vistas paternais do mais benéfico dos príncipes, recebendo de sua munificência favores jamais obtidos por nossos pais, vendo alargar-se o futuro mais risonho, poderíeis recusar as provas mais enérgicas do vosso patriotismo, e do apreço em que tendes a dádiva que acabais de receber? Nossos destinos gloriosos não podem ser desconhecidos. O Universo admira o lugar eminente, que nós vamos ocupar na ordem política. O grão de importância que o Brasil vai obter por sua elevação à categoria de reino não deve escapar à vossa penetração, e à vossa reconhecida inteligência. Uma colônia tão importante por sua posição topográfica, sua vasta extensão, e seus imensos recursos; célebre por sua fidelidade viu enfim restabelecida sua reputação, premiados seus serviços, assegurada sua preeminência, por esta distinção, digna de um grande povo. Quem desconhece o que somos, quem ignora o que já éramos, quem não entrevê o que seremos? Quanto 35–1Ibidem, p.284. 36–1MONTE ALVERNE apud SILVEIRA BUENO. História da Literatura Luso-Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 125. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 67 Maria Renata da Cruz Duran é grandioso, quanto é magnífico este quadro! Seu desenho devia ser confiado a um orador que reunisse os conhecimentos mais profundos e o mais subido patriotismo. Aceitarei, senhores, as inspirações do vosso entusiasmo; e subjugado pela emoção, de que sois tão vivamente possuídos, forcejarei por falar-vos com dignidade e escolha. Amor sublime da pátria renova os prodígios, de que tu só és capaz. Inunda meu peito, abrasa minha alma; e teus fogos imortais ministrarão ideias, suprirão talentos.37 Como orador inspirado pelo entusiasmo patriótico, Monte Alverne, a fim de referendar esse sentimento, ressaltaria a distinção do Brasil de várias formas, comparando, por exemplo, a sua grandeza com a de outras nações da América ou exaltando a maneira como assegurou a sua independência em relação a Portugal, ou saudando o país pela paz que acompanhou seus processos políticos de mudança, ou, ainda, destacando a solidez de seu sistema governamental: Forte como uma monarquia, livre como uma república, o Brasil, defendido por uma constituição e sustentado em um trono hereditário, zombou de todos os desatinos democráticos, e obteve um auxílio eficaz para abafar os vulcões ainda mal extintos das sublevações, e de desordens domésticas.38 O patriotismo, para Monte Alverne, já existia nos corações dos brasileiros desde a época em que o Brasil era uma colônia, mas, com sua elevação a reino, que trouxe em seu bojo sucessos e problemas, esse sentimento foi fortalecido, sobretudo por causa dos empenhos da Corte, ou, como costumava dizer, “da Casa de Bragança”. A virtude, eixo do qual partia Monte Alverne, vinculava o patriotismo à religião, o que era recorrente no período, como assinalou o poeta 37–1Oração em ação de graças pela elevação do Brasil a reino pregada na vila de Itu, Província de S. Paulo, no dia 4 de fevereiro de 1866. MONTE ALVERNE (1858. Op. Cit., tomo II, p.272-273. 38–1Oração recitada na solene ação de graças pelo feliz restabelecimento da saúde de sua majestade imperial o senhor d. Pedro II, celebrada pelo primeiro Batalhão da Guarda Nacional, na igreja paroquial do Santíssimo Sacramento no dia 3 de novembro de 1833. Ibidem, p. 318. 68 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Castilho, ao referir-se a Monte Alverne: “São sempre as ideias dominantes do grande homem – a pátria e o evangelho”.39 Reputado como o mais religioso dos sermonistas, Monte Alverne era conhecido também como o mais sábio entre eles. Tal sabedoria era oriunda de seus supostos conhecimentos filosóficos, que o autorizavam a falar com propriedade dos mais diversos assuntos e mesmo de desvendar parte dos mistérios da fé. Como era um sábio, Monte Alverne podia revelar à população os seus sentimentos mais profundos, como o patriotismo, e como era um religioso de muito fervor, encarou essa revelação como uma missão. Imbuído de uma missão virtuosa, Monte Alverne supunha, como já mencionamos, que estava fadado à vitória. Esse pressuposto tornava mais enfáticas suas palavras e, consequentemente, mais convincente o seu discurso. Em verdade, essas características eram comuns aos coetâneos de Monte Alverne: religião, virtude, patriotismo, individualismo, senso de mistério, a ideia de libertação e a de novidade, sentimento de missão. Porém, elas eram mais acentuadas no frei, o que fazia dele tanto uma figura diferente quanto uma figura comum. Diferente porque era mais célebre, mais notável, mais enfático que os outros sermonistas. Comum porque era célebre, notável ou enfático justamente em razão daquilo que os unia: o acento dado aos sentimentos acima elencados. Frei Francisco do Monte Alverne, pregador imperial, esforçou-se no sentido de revelar o patriotismo existente nos corações brasileiros da população carioca dos primeiros 25 anos do Oitocentos por meio de seus sermões. Essa tentativa de revelar o patriotismo teve repercussão junto à população local: porque a missa era um dos únicos eventos que contavam com a presença do povo, acostumado a ela, ou mesmo sem outras opções; porque, com a transferência da Corte, a sermonística galgou certo prestígio junto a essa população, em razão do destaque fornecido por d. João VI à oratória sagrada; e, porque, na ausência de outros braços e vozes, os sermonistas ocuparam um espaço preponderante naquela sociedade. A contribuição de Monte Alverne deu-se, sobretudo, através da popularidade alcançada por sua oratória, que colaborou para o incremento 39–1 CASTILHO: 1921, p.90. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 69 Maria Renata da Cruz Duran de uma opinião pública no Rio de Janeiro, disseminou uma linguagem que reunia as tradições religiosas às necessidades locais do período e que, por fim, criou padrões discursivos que seriam tomados como modelo pela literatura vindoura. Monte Alverne também colaborou para o estabelecimento de uma postura a ser seguida pelo intelectual que, pautada pela ideia de virtude, buscava respaldo numa expressão rebuscada e numa suposta “super erudição”. Além disso, em seus sermões, Monte Alverne promoveu a afirmação do vínculo entre a ideia de pátria e o Brasil, mediada por um debate inspirado pela contemporaneidade do romantismo que, ainda em estágio embrionário no Brasil, pôde se valer das ideias veiculadas nos sermões de Alverne como mote para o seu desenvolvimento. Em resumo, a intelligentsia brasileira deve a Monte Alverne os esforços iniciais para a formação de um público consumidor de cultura, de um discurso com características que se reclamavam “brasileiras”, de uma postura para o intelectual do país e de um tema a ser por eles debatido. Referências bibliográficas CANDIDO, A. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1969. CARVALHO, José Murilo de. História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura. Topoi. No.1,vol.1. Rio de Janeiro: Ed. Letras, UFRJ, 2000. CARVALHO, Laerte Ramos de. A lógica em Monte Alverne. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1946. CARVALHO, Ronald. Estudos brasileiros. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1976. CHATEUBRIAND. O gênio do cristianismo. Vol. II. Porto: Chardron de Lello & Irmão, 1928. COSTA, Frei Sandro Roberto da. Frei Francisco do Monte Alverne e o plano da reforma para a Província da Imaculada Conceição do Brasil. In: Revista Vida Franciscana, ano LVII, no. 74. Rio de Janeiro: Vozes, 2000. COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro: GB, 1975. ELLEBRACHT, Frei Sebastião. Religiosos franciscanos da Província da 70 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Imaculada Conceição do Brasil na Colônia e no Império. São Paulo: Vozes, 1989. FERNANDES PINHEIRO, J. C. Biografia de Monte Alverne. Rio de Janeiro: Garnier/ RIHGB, tomo XXXIII, 1870. FORTES, Pe. Inácio Felizardo. Breve exame de pregadores, pelo que pertence a arte de Retórica, extraído da obra intitulada: O pregador instruído nas qualidades necessárias para bem exercer o seu ministério; pelo (...).(Publicações da Imprensa Régia, M.C.C. 1818). FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Literatura e sociedade no Rio de Janeiro oitocentista. Lisboa: Casa da Moeda/Imprensa Nacional, 1999. FREIRE, Laudelino (direção). Estante clássica da revista de língua portuguesa: Antonio Castilho. Rio de Janeiro: Typographia Fluminense, 1921. GALVÃO, Benjamin Franklin Ramiz. O púlpito no Brasil. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo 92, volume 146. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1926. KIEMEN, Mathias. Francisco Monte Alverne’s plan for the franciscan Province of Rio de Janeiro, 1833. Washington: P.O. Box , 1972. LOPES, Frei Roberto. Monte Alverne: pregador imperial. Roteiro para um estudo. Rio de Janeiro: Vozes, 1958. LOPES, Frei Roberto. Para não esquecer Monte Alverne. In: Revista vida franciscana, ano X, n.15. São Paulo: setembro de 1951. ______. Um clarão no ocaso. São Paulo: Revista vida franciscana, ano X, São Paulo: setembro de 1951. ______. Oratória Sacra no Brasil: Do século XVI ao século XIX. In: Separata da revista língua e literatura, n. 5. São Paulo: USP/ FFLCH, 1976. ______. Um romance libelo. In: Boletim bibliográfico da biblioteca Mario de Andrade. V. 42, n. 1. São Paulo: BMA, jan./mar. 1981. ______. Monte Alverne em São Paulo. In: Suplemento literário, O Estado de São Paulo 4/6/1966. (Convento São Francisco de Assis – São Paulo/Largo São Francisco, 133 - Pasta 1). ______. As ideias políticas de Monte Alverne I e II. In: Suplemento literário, O Estado de São Paulo 6/11/1965 e 30/10/1965. (Convento São Francisco de R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 71 Maria Renata da Cruz Duran Assis – São Paulo/Largo São Francisco, 133 - Pasta 1) MAGALHÃES, Domingos de. Biografia do padre Monte Alverne. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: 1882. ______. Ensaio sobre a história da literatura no Brasil. Niterói. In: Revista brasiliense. São Paulo: Academia Paulista de Letras, 1978. MARTINS, Wilson. História da inteligência brasileira (1794 – 1855). São Paulo: Cultrix, 1977. MENDONÇA, Yolanda. Frei Francisco do Monte Alverne: esteta da palavra. Rio de Janeiro: Livraria Antunes, 1942. MERCADANTE, Paulo. A consciência conservadora no Brasil. Rio de Janeiro: Saga, 1965. MONTE ALVERNE, Francisco. Compêndio de Philosophia. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1859. Exemplares na USP/ FD e FE. ______. Trabalhos oratórios e literários. Collegidos por Câmara Bittencourt (Raymundo). Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1863. (Anexas anotações de Monte Alverne, manuscritos e cartas de Roberto Lopes. Encontrados no convento São Francisco de Assis, em São Paulo). OLIVEIRA, Antonio Rodrigues Velloso de. A igreja no Brasil. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: TXXIX, 1a. Parte, 1866 (159 – 199 pp.). PAIM, Antônio. O ecletismo esclarecido. In: História das idéias filosóficas no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1967. (51-125 pp.). PARANHOS, Haroldo. História do romantismo no Brasil (1830-1850). São Paulo: Edições Cultura Brasileira, 1937. PINASSI, Maria Orlanda. Três devotos, uma fé, nenhum milagre. São Paulo: Unesp, 1998. PIVA, frei O. Frei Francisco de Monte Alverne (1784-1858). In: Alfredo SGANZERLA (org.). Brasil franciscano. FFB. Petrópolis: Vozes, 1998. SCHUBERT, Mons. Guilherme. 200 anos de Mont’Alverne. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: abr./jun., n. 343. Rio de Janeiro: 1984. SILVEIRA BUENO. História da literatura luso-brasileira. São Paulo: 72 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 Frei Francisco do Monte Alverne no Rio de Janeiro de d. João VI Saraiva, 1968. SOUZA, Roberto Acízelo de. O Império da eloquência: retórica e poética no Brasil Oitocentista. Rio de Janeiro: EDUERJ/ EdUFF, 1999. SPINELLI, Miguel. O empenho filosófico de Monte Alverne na época do Brasil Imperial: seu valor histórico e interesse filosófico. In: Revista Reflexão. N. 26, ano VIII, maio/agosto. São Paulo: 1983. VERISSIMO, José. História da literatura brasileira: de Bento Teixeira (1601) a Machado de Assis (1908). Rio de Janeiro: José Olympio, 1969. WOLF, Ferdinand. O Brasil literário: história da literatura brasileira. Vol. 278. Pref/Trad. Jamil Almansul Haddad Sirú. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1955. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):45-73, jan./mar. 2009 73 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759)1 Fabiano Vilaça dos Santos2 Resumo: Este artigo aborda a trajetória de Francisco Xavier de Mendonça Furtado à luz da renovação dos estudos biográficos e dos percursos de administradores coloniais. A partir de sua correspondência, de documentação encontrada em Portugal e no Brasil e de registros bibliográficos de diferentes épocas, o artigo propõe-se a discutir: o perfil do personagem (origem, formação e experiências), aspectos considerados os mais significativos de sua ação administrativa e as preocupações com os negócios da família em meio à resolução de questões pertinentes ao governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Palavras-chave: Trajetória – Francisco Xavier de Mendonça Furtado – Estado do Grão-Pará e Maranhão Abstract: This paper analyses the trajectory of Francisco Xavier de Mendonça in the light of the renewal of biographical studies and routes of colonial administrators. Based on his personal mail, documentation found both in Portugal and Brazil and bibliographic records from different times, this paper aims to discuss three main topics: the character’s profile (origin, professional background and experiences), the most significant aspects of its administrative action and the concerns about his family business amid the resolution of issues relevant to the government of the State of the Grand-Para and Maranhão. Keywords: career – Francisco Xavier de Mendonça Furtado – State of the Grand-Para and Maranhão O personagem e a historiografia No dia 15 de novembro de 1769 faleceu em Vila Viçosa, aos 69 anos, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, cargo que assumira em 20 de março de 1760, depois de passar alguns meses como secretário assistente ao despacho de seu irmão mais velho, Sebastião José de Carvalho e Melo, responsável pela pasta do Reino.3 De acordo com João Lúcio 1 –1Este artigo foi elaborado a partir de minha tese de doutorado, defendida no Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, em 2008, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Beatriz Nizza da Silva. 2 –1Doutor em História Social. Pesquisador da Revista de História da Biblioteca Nacional. 3 –1Cf. SUBTIL, José. “No crepúsculo do corporativismo. Do reinado de D. José I às invasões francesas (1750-1807)”. In HESPANHA, Antônio Manuel (coord.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, vol. 4, pp. 417. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 75 Fabiano Vilaça dos Santos de Azevedo, citando as Anédoctes du ministère du marquis de Pombal, Mendonça Furtado não resistiu “à súbita ruptura de um abscesso”, o que teria demandado rápido funeral “por causa da infecção horrível que logo exalou o cadáver” .4 A ascensão à administração do Reino seguiu-se ao retorno do governo do Estado do Grão-Pará, iniciado em 24 de setembro de 1751. Dessa passagem pelas conquistas do Norte, com a missão de restaurar os domínios portugueses, ficaram imagens díspares, considerando-se os depoimentos coevos e as interpretações historiográficas veiculadas em diferentes épocas. Em carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 28 de fevereiro de 1759, o bispo do Pará comentou a partida de Mendonça Furtado dizendo nunca ter pensado “experimentar a crueldade deste golpe” e afirmando que “todo este Estado chora e chorará eternamente a ausência deste seu ilustre Conquistador e Restaurador”. Para D. frei Miguel de Bulhões e Sousa, acérrimo colaborador dos projetos pombalinos, nem mesmo a separação da pátria, do irmão e dos amigos com que foi criado doeu-lhe tanto quanto a perda da companhia do capitão-general.5 Dias depois, o juiz de fora Feliciano Ramos Nobre Mourão também escreveu a Carvalho e Melo comentando a saída de Mendonça Furtado do cargo, “deixando gloriosamente o seu nome memorável para todas as idades, pelas suas heróicas ações e esclarecidas virtudes”. O magistrado fez questão de enumerar as qualidades do administrador colonial que promoveu a liberdade dos índios, protegeu os moradores, incentivou o comércio, aumentou as rendas provenientes das criações de gado e da produção de diversos gêneros, tudo isso graças ao seu “exemplar procedimento, honestidade, zelo ardente” que o fizeram comparável a Afonso de Albuquerque e a D. João de Castro no governo da Índia.6 4 –1AZEVEDO, João Lúcio de. Estudos de história paraense. Pará: Tipografia de Tavares Cardoso & cia, 1893, pp. 28. 5 –1Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo (doravante IANTT). Ministério do Reino. Belém do Pará, maço 598. 6 –1Arquivo Histórico Ultramarino (doravante AHU) – Projeto Resgate. Pará (avulsos). CD 5, cx. 44, doc. 4065. Ofício de 2 de março de 1759. 76 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) Não é difícil entender a razão de depoimentos tão laudatórios. Naquele momento, Mendonça Furtado partia de Belém com o objetivo de auxiliar o irmão que iniciava uma fase de sua carreira denominada por José Subtil como a de “consolidação do poder” do secretário do Reino, verificada entre os anos de 1759 e 1765.7 Sebastião José de Carvalho e Melo estava no auge de sua carreira política, favorecida pela reconstrução de Lisboa, assolada por um terremoto em 1755, e pela forma como conduziu o processo contra os jesuítas e os nobres acusados de envolvimento no atentado a D. José I, em 1758. Não foi à toa que no ano seguinte foi feito conde de Oeiras, assistindo a expulsão definitiva da Companhia de Jesus de Portugal e do império ultramarino. Os registros historiográficos, por outro lado, nem sempre reservaram a Mendonça Furtado lugar dos mais honrosos entre os administradores coloniais da América portuguesa. No final do século XIX, João Lúcio de Azevedo traçou a personalidade do capitão-general a partir de uma pesquisa em documentos pessoais: “enérgico por natureza, como o primeiro ministro seu irmão; rude por hábito adquirido no tirocínio da profissão marítima; altivo pela sua posição de governador, não falando na consangüinidade com o árbitro dos destinos de um reino; arrogante por necessidade na capitania [...]”. Afiança João Lúcio que o capitão-general fora o “oráculo” responsável pela concepção da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, fundada em 1755. E reconhece que a administração de Mendonça Furtado deixou “nos arquivos da capitania [do Pará] testemunhos de sua ilustração bastantes para podermos reputar mal informados os que lhe regatearam dotes intelectuais pouco vulgares”.8 Uma caracterização diametralmente oposta é encontrada em Figuras históricas de Portugal, de Bourbon e Menezes e Gustavo de Matos Sequeira, publicado em 1933. Enquanto João Lúcio enalteceu a obra de Mendonça Furtado, equiparou suas virtudes às de Sebastião José de Carvalho e Melo e procurou justificativas para o temperamento do governador no exercício do cargo, da pena dos biógrafos citados surgiu uma 7 –1SUBTIL, José. “No crepúsculo do corporativismo...”, pp. 417-418. 8 –1AZEVEDO, João Lúcio de. Estudos de história paraense..., pp. 13-17. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 77 Fabiano Vilaça dos Santos espécie de arremedo de Carvalho e Melo: “Foi uma duplicação em matéria pobre do ilustre irmão, um tentáculo com que ele se prolongou até onde não podia chegar, um alter-ego, como tantos que Pombal teve com a desvantagem do mesmo sangue a ferver em cabeça de menos peso”. Para Menezes e Sequeira, “não foi sem um encargo oculto que o pingue e honroso cargo” de governador e capitão-general do Estado lhe fora dado, referindo-se à fundação da companhia de comércio que causaria a ruína do “comércio particular”. Mendonça Furtado “não teve individualidade própria nesse alto cargo. A sua ação foi absorvida inteiramente, se a teve, imiscuindo-se na do marquês”. Além disso, “era grosseiro no trato, brusco e altivo, dizem-no alguns”.9 Tal caracterização, eivada de termos depreciativos, apresenta de maneira distorcida aspectos discutidos ao longo desse trabalho, alguns deles enfatizados pelo próprio Mendonça Furtado, como a pouca rentabilidade simbólica e material do cargo que ocupava. Por outro lado, alguns termos presentes nas caracterizações acima ganharam aceitação plena na historiografia, perpetuando-se na atualidade, principalmente o fato de que Mendonça Furtado foi inegavelmente o artífice dos planos de seu irmão para a Amazônia. Adotando pontos de vista distintos, a historiografia contemporânea parte desse princípio para analisar a ação administrativa do capitão-general. Dedicada ao estudo dos projetos urbanísticos de Belém, Macapá e Mazagão na segunda metade do século XVIII, a fundação de vilas na jurisdição do Estado do GrãoPará e Maranhão e a ocupação de territórios de fronteira, como o Cabo do Norte, Renata Malcher de Araújo enfatiza o viés restaurador do governo de Mendonça Furtado.10 Em análise mais recente do “projeto civilizacional” gestado por Sebastião José de Carvalho e Melo para a Amazônia, Geraldo Mártires Coelho atribuiu a Mendonça Furtado a “condição de sujeito instaurador da lógica operante do mesmo projeto”. O governador estaria habilitado para 9 –1MENEZES, Bourbon e & SEQUEIRA, Gustavo de Matos. Figuras históricas de Portugal. Porto: Livraria Lello, 1933, pp. 115-116. 10–1ARAÚJO, Renata Malcher de. As cidades da Amazônia no século XVIII: Belém, Macapá e Mazagão. Porto: FAUP, 1998. 78 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) executar a obra concebida pelo irmão, pois “como integrante da intelligentsia portuguesa do tempo, mais no sentido de contemporaneidade do que de inflexão modelar, [...] respirou em Portugal num ambiente intelectual renovado”. É preciso assinalar a propriedade com que Geraldo Mártires Coelho fez a ressalva de que Mendonça Furtado mais respirou os ares impregnados “pela filosofia de Descartes, pela epistemologia de Locke e pela metodologia científica de Newton”, do que realmente se debruçou sobre esses ramos da ciência.11 Era um homem do mar e, por isso, aproximava-se mais do perfil rude traçado por João Lúcio de Azevedo, ainda que sem o necessário mau gênio apontado por Menezes e Sequeira. O governador e capitão-general não era um estudioso das leis ou das ciências. Como lembra Geraldo Mártires Coelho, a inspiração das teses defendidas por Sebastião José, com ênfase na liberdade dos índios, provinha da leitura dos jusnaturalistas, como o espanhol Juan de Solórzano Pereira, autor da conhecida Política indiana (1647).12 Mas, seguindo essa linha interpretativa, segundo a qual a correspondência de Mendonça Furtado funciona “como um espelho a refletir as imagens da retórica reformista de Carvalho e Melo para a Amazônia”, é preciso acrescentar que o próprio Mendonça Furtado interessou-se em conhecer a doutrina jurídica contida na obra de Solórzano. Ao solicitar uma enorme e variada remessa de provisões, roupas e material de trabalho ao seu procurador em Lisboa, frei Luís Pereira, fez a seguinte requisição: “Quero que Vossa Reverendíssima me mande o Solórzano, de Jure indiarum, primeiro e segundo tomo, porque ainda que eu o trouxe sumiu-se-me daqui a segunda parte”, livros que o procurador poderia encontrar “às portas de Santa Catarina em casa de um livreiro francês que ali contrata neles”. Ao que parece, as leituras de Mendonça Furtado estavam relacionadas à sua formação militar e direcionadas para as questões do momento. Aproveitou o ensejo para pedir também “dois livros de quarto, intitulados Milícia prática, que não 11–1COELHO, Geraldo Mártires. “Índio, súdito e cidadão”. In ______. O violino de Ingres: leituras de história cultural. Belém: Paka-Tatu, 2005, pp. 268-269. 12–1Ibidem, p. 265-266. Ver também PEREIRA, Juan de Solórzano. Política indiana. Madri: Oficina de Diego Diaz de la Carrera, 1647. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 79 Fabiano Vilaça dos Santos sei aonde se vendem”.13 Referia-se aos dois volumes do manual de Bento Gomes Coelho, publicado em 1740. Ao falar da “assunção de Mendonça Furtado ao governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão” Geraldo Mártires Coelho reforça, por meio da palavra empregada – assunção –, a idéia de que um poder maior alçou o militar ao cargo, algo que o simples termo nomeação não seria capaz de traduzir. No entanto, ao comentar o perfil dos membros da comissão demarcadora de limites, encabeçada por Mendonça Furtado, o historiador aponta a existência de contradições que o governador “produziu e vivenciou na sua identidade de administrador, de matiz reformista, nos domínios do grande espaço tropical do Brasil”.14 Mesmo sem avançar na análise dos percursos da comissão, tomando por base as características da formação e as experiências acumuladas por Mendonça Furtado, devese rever a assertiva, uma vez que a sua “identidade de administrador” começou a ser forjada no momento em que desembarcou em Belém, aos 51 anos de idade, quando sua trajetória no Real Serviço assumiu nova direção. * * * Muitos traços da biografia de Mendonça Furtado são já bastante conhecidos em virtude, principalmente, do parentesco com o poderoso ministro Carvalho e Melo.15 A digressão historiográfica, necessária por se tratar de personagem central na retomada da colonização amazônica no período pombalino, apresentou dados corroborados pela historiografia atual. Mas ainda há passagens obscuras da vida e dos percursos do primei13–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina. Correspondência inédita do governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1751-1759). São Paulo: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1963, t. 1, pp. 324. 14–1COELHO, Geraldo Mártires. “Índio, súdito e cidadão...”, pp. 271 e pp.275. 15–1 – Uma síntese da trajetória de Mendonça Furtado pode ser encontrada em DOMINGUES, Ângela. “Francisco Xavier de Mendonça Furtado”. In SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coord.). Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil. Lisboa: Editorial Verbo, 1994. 80 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) ro governador e capitão-general do Estado do Grão Pará e Maranhão.16 Francisco Xavier de Mendonça Furtado nasceu na freguesia de Nossa Senhora das Mercês, em Lisboa. Era o segundo filho do capitão de cavalos Manuel de Carvalho e Ataíde e de D. Teresa Luísa de Mendonça, ambos naturais da capital do Reino. Os avós paternos, Sebastião de Carvalho e Melo e D. Leonor Maria de Ataíde, e os maternos, João de Almada de Melo e D. Maior Luísa de Mendonça também eram nascidos em Lisboa. Kenneth Maxwell discorre brevemente sobre a família, destacando sua origem na pequena fidalguia prestadora de serviços à monarquia no campo militar, como oficiais régios e membros do clero. Manuel de Carvalho e Ataíde teve passagens pela Armada e pelo Exército, chegando em 1708 ao posto de oficial da cavalaria da Corte. Seu irmão, Paulo de Carvalho e Ataíde, foi responsável por significativo acréscimo de bens materiais e de distinção social ao patrimônio da família. Lente na Universidade de Coimbra e arcipreste da Igreja Patriarcal de Lisboa, legou ao sobrinho Sebastião José de Carvalho e Melo propriedades em Pombal e Oeiras e foi o sustentáculo dos sobrinhos – Mendonça Furtado teve 11 irmãos, quatro falecidos prematuramente – quando Manuel de Carvalho e Ataíde faleceu.17 Aos 11 anos, quando ainda assinava Francisco Xavier de Carvalho, tornou-se moço fidalgo da Casa Real, assim como o pai. Na mesma ocasião, a mercê foi estendida ao irmão imediato, Paulo de Carvalho e Mendonça.18 Nada se sabe a respeito da formação e das atividades de 16–1Para uma abordagem dos principais aspectos da colonização do Estado no período pombalino, ver WEHLING, Arno & WEHLING, Maria José C. de. Formação do Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994, pp. 177-181. 17–1MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. 2ª ed., São Paulo: Paz e Terra, 1997, pp. 2-3. 18–1IANTT. Registro Geral de Mercês. D. João V, livro 5, fl. 357. Alvará de 23 de novembro de 1711. Na mesma página há um despacho referente ao alvará de 20 de abril de 1760, pelo qual D. José I autorizou que se emendasse o nome do beneficiado no livro de filhamentos, pois o mesmo já havia mudado para Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Pelo alvará de 25 de janeiro de 1740, Paulo de Carvalho e Mendonça, cônego da Sé Patriarcal, tornou-se fidalgo capelão com o acréscimo de 250 mil réis à sua moradia (originalmente de mil réis) e uma vestiária por ano. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 81 Fabiano Vilaça dos Santos Mendonça Furtado até os 35 anos de idade. É possível que tenha se dedicado a cuidar das propriedades da família – com as quais muito se preocupou durante a estadia no Pará – enquanto o irmão mais velho, Sebastião José, iniciava a carreira diplomática. Sabe-se, de acordo com seu memorial de serviços, que em 14 de abril de 1735 sentou praça no Regimento da Armada, no qual serviu por quase dezesseis anos, desde o posto de soldado até o de capitão de mar-e-guerra, encerrando a carreira em 7 de janeiro de 1751, cerca de três meses antes de ser nomeado governador e capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão.19 Como soldado, Mendonça Furtado participou de expedições de socorro à Colônia do Sacramento quando Portugal assistia ao fim de seus planos de fincar “raízes definitivas no Prata”, por meio da “implantação de uma política efetiva de povoamento e pelas sucessivas tentativas de alargar o domínio português pelo litoral e pelo interior do território”, sobretudo, durante o governo de Antônio Pedro de Vasconcelos (17221749).20 Quando chegou ao Rio de Janeiro a nau Arrábida, comandada por Luís de Abreu Prego, este recebeu ordens do governador Gomes Freire de Andrade para se juntar a uma esquadra no rio da Prata. A partida deu-se a 1º de dezembro de 1736 e após cinco meses de permanência na região platina, Mendonça Furtado retornou ao Rio de Janeiro, seguindo para Pernambuco a fim de se juntar aos efetivos que se organizavam para socorrer a Ilha de Fernando de Noronha, invadida pelos franceses. A comissão se estendeu de 1737 a 1738, desdobrando-se no “serviço do mar” e no cuidado das fortificações, até o desembarque em Lisboa, no dia 10 de junho. Do final dos anos 1730 até 1750, Mendonça Furtado, promovido a tenente por volta de 1741, integrou oito expedições guarda-costas, sendo duas nos Açores e uma na Ilha de Tenerife. Pouco antes de sua carreira sofrer uma inflexão, alcançou o posto de capitão de mar-e-guerra.21 Ao chegar à administração colonial, Mendonça Furtado possuía a 19–1IANTT. Ministério do Reino – Decretos (1745-1800). Pasta 13, n.º 83. 20–1Cf. POSSAMAI, Paulo. A vida quotidiana na Colônia do Sacramento (1715-1735). Lisboa: Livros do Brasil, 2006, pp. 28-29. 21–1IANTT. Ministério do Reino – Decretos (1745-1800). Pasta 13, n.º 83. 82 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) experiência militar valorizada nos titulares do governo das conquistas do Norte e a vivência dos problemas de fronteira entre os domínios portugueses e castelhanos. Na região platina, teve a oportunidade de conhecer problemas similares aos que enfrentaria anos depois no Pará e no Rio Negro. Nas expedições guarda-costas, aprendeu o valor de manter a integridade e a segurança dos territórios lusos, tanto na costa do Reino quanto nas possessões ultramarinas. Sendo assim, ao parentesco com Sebastião José de Carvalho e Melo somaram-se requisitos importantes. Pouco antes de partir para a América, recebeu a mercê do hábito de cavaleiro da Ordem de Cristo. As diligências tiveram início em 30 de abril de 1751 e transcorreram rapidamente, uma vez que Mendonça Furtado contava com a prévia habilitação de seus pais, avós paternos e maternos – Manuel de Carvalho e Ataíde fora cavaleiro da Ordem de Cristo e familiar do Santo Ofício enquanto o avô materno, João de Almada de Melo, professara na Ordem de Santiago da Espada, segundo a primeira testemunha inquirida, D. Antônio Caetano de Sousa. O clérigo regular da Divina Providência acrescentou que o tio do habilitando, Paulo de Carvalho e Ataíde, fora lente na Universidade de Coimbra, colegial de S. Pedro, deputado da Junta do Santo Ofício de Coimbra e depois deputado da Inquisição de Lisboa, na qual desempenhou ainda a função de desembargador dos agravos. Também fora deputado da Mesa da Consciência e Ordens e primeiro arcipreste da Igreja Patriarcal de Lisboa. Por sua vez, Sebastião José de Carvalho e Melo, à época secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, também era professo na Ordem de Cristo.22 É de notar que Mendonça Furtado passava dos 50 anos e não há menção à necessária dispensa régia para a habilitação. Quatro dias depois do início das inquirições, em 3 de maio, frei José Antônio Correia de Castilho, um dos encarregados pela Mesa da Consciência e Ordens das diligências, atestou que Francisco Xavier de Mendonça Furtado era “fidalgo ilustre por seus ascendentes e limpo de sangue”, portanto, sem impedimento para entrar na Ordem de Cristo, de acordo com seus de22–1IANTT. Habilitações da Ordem de Cristo. Letra F, maço 1, doc. n.º 11. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 83 Fabiano Vilaça dos Santos finitórios.23 As alvarás de permissão para receber o hábito de cavaleiro noviço, no Mosteiro de Nossa Senhora da Luz, ser armado cavaleiro, na Santa Igreja Patriarcal ou na igreja de Nossa Senhora da Conceição e, finalmente, para professar na Ordem, no mencionado mosteiro, datam de 8 de maio de 1751, poucos dias antes da partida de Mendonça Furtado para São Luís, de onde seguiria por terra até Belém.24 Não há dúvida de que a concessão do hábito de Cristo significou uma recompensa pelos serviços do militar, além de um incentivo ao cumprimento da nova comissão na América portuguesa. O processo de habilitação à Ordem de Cristo transcorreu normalmente dando a impressão de que não havia qualquer ponto discutível na história pessoal de Mendonça Furtado. Mas, por trás das aparências, vicejavam os rumores. Não se pode esquecer que a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo ao ministério, primeiro dos Estrangeiros e depois do Reino, causou antipatia no seio da alta nobreza. Sua família, enobrecida pelos serviços e não pelo sangue, ficou mal vista quando seu pai forjou uma genealogia com o fim de apurar suas origens. Kenneth Maxwell aponta um conjunto de fatores que favoreceram Carvalho e Melo em sua carreira diplomática e, mais tarde, na entrada no ministério: o casamento com D. Maria Leonor Ernestina Daun, enlace que lhe valeu o apoio da rainha-mãe de Portugal, D. Maria Ana, austríaca como D. Maria Leonor, e o patrocínio de seu tio Paulo de Carvalho e Ataíde e do secretário Marco Antônio de Azevedo Coutinho a quem Carvalho e Melo tratava por “tio”.25 Após a morte de Manuel de Carvalho e Ataíde, em 1720, outra figura não mencionada por Maxwell despontou no seio da família. Viúva, D. Teresa Luísa de Mendonça casou-se em 1723/1724 com Francisco Luís da Cunha de Ataíde, aparentado da avó paterna de Mendonça Furtado e de Sebastião José, D. Leonor Maria de Ataíde. Bacharel em direito pela Universidade de Coimbra, fidalgo da Casa Real, membro do Desembargo 23–1Idem. 24–1IANTT. Chancelaria da Ordem de Cristo. Livro 236, fls. 94v-95v. 25–1MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal..., pp. 3-4. 84 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) do Paço, governador e chanceler da Relação do Porto e chanceler-mor do Reino a partir de 1747, Francisco Luís da Cunha de Ataíde era viúvo de D. Josefa Leocádia Coutinho desde 1719, não tinha filhos e “dispunha de meios de fortuna e de consideração social”.26 Mas, qual a relação entre Cunha de Ataíde e Francisco Xavier de Mendonça Furtado? Para alguns autores, seriam pai e filho. Daí provém a idéia de que o militar era meioirmão do futuro marquês de Pombal.27 A correspondência de Mendonça Furtado, compilada por Marcos Carneiro de Mendonça, contém algumas missivas endereçadas ao padrasto. Em todas elas, o governador do Estado se refere ao chanceler-mor do Reino como “meu pai”, o que levou o historiador, apressadamente, a validar a paternidade. Pela leitura das cartas percebe-se a admiração e o respeito que Mendonça Furtado devotava a Francisco Luís da Cunha de Ataíde. Com ele trocava impressões sobre a situação do Grão-Pará – a ruína do comércio, as desordens na administração da Fazenda, o povoamento de Macapá –, extravasava sua insatisfação com o cargo, com o preço exorbitante do açúcar e de outros gêneros de subsistência e enviava-lhe presentes, a exemplo de uma partida de cacau.28 De acordo com Joaquim Veríssimo Serrão, Francisco Luís da Cunha de Ataíde desempenhou papel relevante no início da carreira de Sebastião José de Carvalho e Melo, uma vez que “lhe caucionou empréstimos de dinheiro” junto ao marquês das Minas para que pudesse aprontar a viagem a Londres na qualidade de embaixador. Ao refutar a tese de que Sebastião José se opôs ao segundo casamento da mãe e por isso se retirou do convívio familiar, Serrão conferiu talvez demasiado relevo às instâncias 26–1Cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O marquês de Pombal: o homem, o diplomata e o estadista. Lisboa: Câmaras Municipais de Lisboa, Oeiras e Pombal/Sociedade Industrial Gráfica Lisboa, 1982, pp. 17-18. 27–1Ver, por exemplo, SILVA, Andrée Mansuy-Diniz. “Portugal e Brasil: a reorganização do Império, 1750-1808”. In BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina: a América Latina colonial. Tradução de Maria Clara Cescato. São Paulo: EDUSP; Brasília: FUNAG, 1997, vol. 1, pp. 485. 28–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 43 e pp. 125-126. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 85 Fabiano Vilaça dos Santos de Cunha de Ataíde ao afirmar que o magistrado foi peça fundamental na nomeação de Sebastião José para a pasta dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, pois desde 1747 era chanceler-mor do Reino, e uma espécie de consultor jurídico para as medidas tomadas pelo secretário nos cinco primeiros anos de sua gestão – Francisco Luís faleceu em 1755, em idade bastante avançada, vítima do terremoto que arrasou Lisboa.29 “O grande protetor de Sebastião José na vida diplomática e na carreira política”30 – papel creditado por outros a D. Luís da Cunha – não poderia ter oferecido seu patrocínio a Mendonça Furtado, possivelmente, no ingresso na Armada? Nesse caso, a correspondência respeitosa e confiante na interlocução de Francisco Luís da Cunha de Ataíde colocaria fim à questão. A importância do chanceler na vida dos irmãos poderia conferir-lhe a posição de pai. Tomando por base a concepção ampla de família de Antigo Regime, a hipótese não é improcedente. Ademais, Mendonça Furtado perdeu o verdadeiro progenitor aos 20 anos e no momento em que escrevia ao padrasto para dar vazão aos problemas da administração colonial, passava dos 50. Conviveu, portanto, muito mais tempo com Francisco Luís da Cunha de Ataíde. Mas a questão não se encerra com essas conjecturas, pois a dúvida sobre a paternidade de Francisco Xavier de Mendonça Furtado não surgiu de informações colhidas em fontes pouco confiáveis ou de interpretações errôneas dos historiadores. Trata-se de um rumor contemporâneo ao personagem posto que seja impossível precisar a origem ou a extensão. Perante o comissário encarregado das provanças para o ingresso de Mendonça Furtado na Ordem de Cristo, a testemunha Domingas da Veiga, viúva de Manuel Gonçalves, “homem marítimo”, declarou ter conhecido bem os avós maternos do habilitando na freguesia de Nossa Senhora do Rosário dos Olivais, aonde viviam em uma quinta e tiveram uma filha, D. Teresa Luísa de Mendonça, casada com Manuel de Carvalho e Ataíde. Dos filhos do casal sabia Domingas da Veiga ser um deles secretário de Estado, “outro que dizem vai para o governo do Maranhão” e um terceiro, 29–1SERRÃO, Joaquim Veríssimo. Op. cit., pp. 19ss. 30–1SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O marquês de Pombal..., pp. 19. 86 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) cônego na Patriarcal.31 Uma mulher viúva e simples talvez não se arriscasse propagando um rumor que depunha contra a honradez de uma família que já contava com grande prestígio político na Corte. Porém, o boato estava enraizado e devia ser alimentado por setores poderosos, adversários de Sebastião José de Carvalho e Melo – já elevado a conde de Oeiras. O processo de habilitação de Mendonça Furtado a familiar do Santo Ofício é uma mostra de que o secretário do Reino desejava calar definitivamente as vozes difamatórias. Não deixa de ser interessante a data em que a carta de familiar foi expedida: 6 de setembro de 1759, três dias depois do decreto que baniu a Companhia de Jesus de Portugal e domínios ultramarinos. O processo é sumaríssimo se comparado aos de Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, governador do Maranhão, e de Manuel Bernardo de Melo e Castro, sucessor de Mendonça Furtado no Grão-Pará. Após as diligências de praxe, a Mesa do Santo Ofício concluiu que o habilitando era “irmão inteiro do conde de Oeiras, familiar do Santo Ofício, e de Paulo de Carvalho e Mendonça [...]. Nunca foi casado, nem consta que tenha filhos ilegítimos”. Não se procedeu a qualquer averiguação sobre a pureza de sangue do candidato.32 Outros pontos sugerem que o processo foi construído no sentido de extirpar os rumores indesejáveis sobre a paternidade de Mendonça Furtado. As testemunhas interrogadas freqüentavam o palacete da Rua Formosa, residência do conde de Oeiras e do irmão. Além disso, para conferir veracidade ao processo foram anexados os assentos de batismo de ambos, 31–1IANTT. Habilitações da Ordem de Cristo. Letra F, maço 1, doc. 11. 32–1IANTT. Habilitações do Santo Ofício. Maço 88, diligências 1499. Maria Tereza Sena analisou alguns processos de habilitação da família de Mendonça Furtado, dentre os quais o de seu pai e o de Sebastião José de Carvalho e Melo (1738). Concluiu que muitos de seus ascendentes, incluindo os da primeira esposa de Carvalho e Melo, D. Teresa de Noronha, eram ligados ao Santo Ofício. Analisou também os procedimentos para o ingresso na familiatura, suas atribuições e o perfil dos habilitados. Cf. SENA, Maria Tereza. “A família do marquês de Pombal e o Santo Ofício (amostragem da importância do cargo de familiar na sociedade portuguesa Setecentista e Oitocentista)”. In SANTOS, Maria Helena Carvalho dos (coord.). Pombal revisitado. Lisboa: Editorial Estampa, vol. 1, 1984, pp. 337-385. Especificamente sobre o processo de Mendonça Furtado, há apenas uma menção, sem qualquer consideração à questão da sua paternidade (pp. 376-377). R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 87 Fabiano Vilaça dos Santos nos quais constava serem filhos legítimos de Manuel de Carvalho e Ataíde e de D. Teresa Luísa de Mendonça.33 No entanto, segundo Fernanda Olival, ao menos nos processos de habilitação às ordens militares, em meio às adulterações de documentos “os assentos paroquiais seriam dos mais falsificados, pela sua reputação em matéria de prova”.34 Independentemente da alteração dos registros batismais, a conjuntura política era extremamente favorável ao conde de Oeiras. O processo de laicização e de secularização do Estado caminhava a passos largos, demarcados pela expulsão dos jesuítas, pelo rompimento das relações com a Santa Sé, que se estenderia pela década de 1760, e pela destituição do inquisidor-geral D. José de Bragança, substituído por Paulo de Carvalho.35 Revista a história de vida de Mendonça Furtado, é hora de discutir – em linhas gerais – os termos de sua ação administrativa nas conquistas do Norte. Como ressuscitar um cadáver Em 31 de maio de 1751, um conjunto de 38 “Instruções régias, públicas e secretas” passado às mãos de Francisco Xavier de Mendonça Furtado com a finalidade de nortear a sua administração e, por extensão, dos 33–1IANTT. Habilitações do Santo Ofício. Maço 88, diligências 1499. 34–1OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado moderno: honra, mercê e venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001, pp. 413. 35–1Cf. PAIVA, José Pedro. Os novos prelados diocesanos nomeados no consulado pombalino. Penélope, n. 25, Oeiras, 2001, pp. 42. 88 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) seus sucessores.36 O governo que se estabeleceu em 1751, acompanhado da mudança na configuração política do Estado, abriu novas perspectivas de colonização para a região amazônica e para uma unidade administrativa encarada a partir de então como uma “nova colônia”, ou ainda, com um “estado nascente”. Em linhas gerais, Ciro Flamarion Cardoso estabeleceu que entre 1650 e 1750, as conquistas do Norte viviam em total dependência do trabalho do indígena aldeado, empregado nas atividades produtivas (extrativismo em larga escala) e domésticas. A partir de 1750, a agricultura no vale amazônico, o povoamento, inclusive, com elementos europeus, e a escravidão africana ganharam impulso.37 Os aspectos mais relevantes das instruções podem ser esquematizados – ainda que o objetivo não seja esgotar as possibilidades de análise 36–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 26-38. Ver as “Instruções régias, públicas e secretas para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, capitão-general do Estado do Grão-Pará e Maranhão”. Lisboa, 31 de maio de 1751. Essa referência abrange todas as citações das referidas instruções. A historiografia brasileira ainda carece de um trabalho que se detenha na análise da correspondência de Francisco Xavier de Mendonça Furtado no governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão, tomando o conjunto reunido por Marcos Carneiro de Mendonça como objeto de estudo. Em Portugal, há a dissertação de mestrado de RODRIGUES, Maria Isabel da Silva Reis Vieira. O governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado no Grão-Pará e Maranhão (1751-1759). Contribuição do seu epistolário para a história portuguesa e do Brasil. Universidade de Lisboa, 1997. Neste trabalho, a historiadora privilegiou a correspondência relativa ao período de 1754 a 1759, deixando de lado os primeiros anos da administração de Mendonça Furtado (o segundo volume é dedicado à transcrição de cartas). Nas “notas prévias”, Maria Isabel diz que ao iniciar suas pesquisas deparou com “um enorme manancial de fontes sobre este período ainda por publicar e estudar, embora se tenha que assinalar a notável obra de divulgação documental de Marcos Carneiro de Mendonça”. João Abel da Fonseca dedicou-se a estudar 19 cartas escritas por Sebastião José de Carvalho e Melo ao irmão, entre 6 de julho de 1752 e 2 de dezembro de 1756, distribuídas da seguinte forma: sete tratavam das negociações de limites entre Portugal e Espanha, 10 de conselhos do futuro marquês de Pombal acerca de vários assuntos da administração do Estado, uma de um pedido de favor e a última era de cunho familiar. Cf. FONSECA, João Abel da. “Amazônia pombalina. Cartas secretas de Sebastião José a Francisco Xavier. Uma visão global”. In PIMENTEL, Maria do Rosário (coord.). Portugal e Brasil no advento do mundo moderno. Actas das VI Jornadas de História IberoAmericana. Lisboa: Edições Colibri, 2001, pp. 207-244. 37–1CARDOSO, Ciro Flamarion. Economia e sociedade em áreas coloniais periféricas: Guiana Francesa e Pará (1750-1817). Rio de Janeiro: Graal, 1984, pp. 96. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 89 Fabiano Vilaça dos Santos das mesmas – de modo que se perceba a essência dos planos da Coroa portuguesa para as conquistas do Norte no período pombalino. A primeira instrução contém os fundamentos da colonização portuguesa e a orientação da conquista e formação de um Império que não dispensa a perspectiva da evangelização, muito nítida na Amazônia pela própria natureza de sua ocupação.38 As primeiras instruções já traduziam a necessidade de reconquistar a região, fazendo “ressuscitar aquele muito mais cadáver do que Estado”39 – para usar uma expressão do próprio Mendonça Furtado. As bases da colonização do Estado do Grão-Pará e Maranhão estavam assentadas na “glória de Deus”, na “extensão e aumento do cristianismo” e no “aumento das povoações do Estado” (1ª instrução).40 Um esquema das instruções permite que se tenha a noção do conjunto dos problemas a serem enfrentados, e a importância conferida a cada um deles, haja vista a quantidade de instruções que os abrangiam. A sistematização das instruções a Mendonça Furtado permite, ainda, o acompanhamento da resolução das questões mais relevantes da políti38–1Sobre a ocupação da Amazônia, em que a presença de missionários de diferentes ordens religiosas foi essencial para assegurar os interesses portugueses na região, ver REIS, Arthur Cezar Ferreira. A conquista espiritual da Amazônia. 2ª ed., Manaus: EdUFMA/ Governo do Estado do Amazonas, 1997. Reflexão sobre o papel estratégico desempenhado pelos missionários, especialmente os primeiros jesuítas instalados na região, no século XVII, as dificuldades enfrentadas para vencer barreiras naturais, a hostilidade dos índios, o martirológio jesuítico, encontra-se em CHAMBOULEYRON, Rafael e CARDOZO, Alírio Carvalho. “Fronteiras da cristandade: relatos jesuíticos no Maranhão e Grão-Pará (século XVII)”. In DEL PRIORE, Mary e GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). Os senhores dos rios: Amazônia, margens e histórias. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2003, pp. 33-61. Fábia Martins analisa o modelo de missão implantada pelos jesuítas no Estado do Maranhão, no século XVII, enfatizando a proposta de conversão/evangelização do gentio e o combate à escravidão indígena pelos jesuítas. Cf. MARTINS, Fábia. “A concepção de missão no projeto da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão e Grão-Pará, no século XVII”. In NEVES, Fernando Arthur de Freitas e LIMA, Maria Roseane Pinto (orgs.). Faces da história da Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2006, pp. 43-81. 39–1IANTT. Ministério do Reino. Decretos (1745-1800). Pasta 13, n.º 83. 40–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 26. 90 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) ca pombalina para a Amazônia, os avanços e retrocessos verificados nas sucessivas gestões e o modo como os titulares das capitanias principais e das subalternas lidaram com as demandas da administração das unidades para onde foram designados. Assim, tem-se a segunda instrução abrindo a discussão de um dos principais, senão o principal problema a ser solucionado na região: a liberdade e o uso da mão-de-obra dos índios. A maior parte das instruções foi dedicada ao tema e aos seus desdobramentos: reorganização das missões, das formas de exploração do trabalho indígena, a promoção do seu comércio e a introdução de escravos africanos (2ª a 10ª, 13ª a 23ª e 27ª). Para tanto, observou Jorge Couto ao analisar algumas instruções, era necessário acabar com os “abusos, inconvenientes e prejuízos” decorrentes de legislações anteriores que abriram precedentes ao cativeiro dos índios, como o alvará de 28 de abril de 1688.41 O incentivo ao povoamento do vasto território amazônico, à agricultura e à defesa dos domínios confinantes com possessões de outras monarquias, é particularizado em algumas instruções ou está imbricado em outras que tratam da questão indígena. Nesse sentido, o estabelecimento de povoadores oriundos das ilhas atlânticas (especialmente dos Açores) e de Lisboa, os quais deveriam se dedicar à lavoura, é recomendado na 14ª instrução. Da mesma forma, o povoamento do rio Mearim e do Cabo do Norte a fim de evitar incursões de franceses e holandeses, aparece na instrução 19ª, atrelado ao estabelecimento de missões indígenas naquelas localidades. A 22ª instrução completava esse projeto, conferindo aos jesuítas a primazia na instalação de missões no Cabo do Norte, por serem aqueles padres “os que tratam os índios com mais caridade e os que melhor sabem formar e conservar as aldeias”. Porém, deviam permanecer restritos em sua atividade religiosa, reprimindo-se o poder temporal sobre 41–1COUTO, Jorge. “O poder temporal nas aldeias de índios do Estado do Grão-Pará e Maranhão no período pombalino: foco de conflitos entre os jesuítas e a Coroa (17511759)”. In SILVA, Maria Beatriz Nizza da (coord.). Cultura portuguesa na Terra de Santa Cruz. Lisboa: Editorial Estampa, 1995, pp. 55. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 91 Fabiano Vilaça dos Santos os índios.42 Para garantir a defesa dos domínios lusos, previa-se, ainda o aparelhamento das fortalezas e a construção de outras, principalmente em Macapá (no Cabo do Norte), além da disciplina das tropas, o seu pagamento, fardamento e armamento, de acordo com as instruções 28ª e 29ª. Para incrementar a agricultura de subsistência e o comércio de gêneros de exportação, proibia-se a busca e prospecção de minas em todo o Estado, da mesma forma que a comunicação com as Minas Gerais, e o contrabando com domínios estrangeiros (30ª a 33ª instruções). Outras instruções versavam sobre a permissão para a fundação de recolhimentos e conventos (24ª a 26ª), caso houvesse recursos disponíveis para tal, sobre as comunicações com Mato Grosso (36ª), a circulação de moeda metálica (34ª), a execução do Tratado de Madri (35ª), e outros assuntos. Em suma, de acordo com um esquema construído por Isabel Vieira Rodrigues, o qual não cabe detalhar, a ação colonizadora de Francisco Xavier de Mendonça Furtado consistiu em: fortificar, delimitar, povoar e desenvolver o no Estado do Grão-Pará e Maranhão.43 É preciso sublinhar que os princípios que nortearam a sua gestão não se limitaram ao período de 1751 a 1759, em que foi governador e capitão-general. Tanto as instruções quanto os seus desdobramentos se fizerem presentes na rotina dos sucessores de Mendonça Furtado, evidenciando que suas propostas e efeitos não podiam ser aprisionados pela cronologia e que tais instruções não pertenciam a um governador, mas a todo um período de renovação nas conquistas do Norte. Nos dois tópicos seguintes foram privilegiados aspectos essenciais da retomada da colonização das conquistas do Norte. 42–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). Op. cit., t. 1, pp. 33. Jorge Couto também faz menção à importância das missões religiosas para o povoamento do Estado, evitando-se assim a penetração de franceses e holandeses em terras portuguesas. Op. cit., pp. 56. 43–1RODRIGUES, Isabel Vieira. “A política de Francisco Xavier de Mendonça Furtado no norte do Brasil (1751-1759)”. Oceanos, n. 40, Lisboa, 1999, pp. 94-110. Ver pp. 103110. 92 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) Liberdade dos índios: fim de uma “trama diabólica” “Este poder que se deu aos regulares sobre os índios foi a rede mais sutil que podia inventar o Demônio”, declarou Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao irmão Sebastião José, em carta de 2 de novembro de 1752.44 A tutela religiosa e temporal dos regulares, sobretudo dos jesuítas, sobre os índios, era identificada como a principal causa da ruína do Estado do Grão-Pará. Urgia extirpá-la para trazer os nativos ao convívio da sociedade e civilizá-los, livrando-os da “tirania” dos missionários. As palavras do governador e capitão-general são exemplos, dos mais pungentes, da antipatia e intolerância em relação aqueles que – amparados na própria legislação emanada da metrópole, o Regimento das Missões – representavam um empecilho aos planos de revitalização das conquistas do Norte. A tarefa de reconstruir o Pará e toda a jurisdição do Estado pode ser comparada à preparação de um terreno a ser cultivado. Era preciso remover as pedras e as ervas daninhas que impediam o florescimento do campo. Muito tempo antes de Mendonça Furtado, a Companhia de Jesus fora identificada como o principal obstáculo à utilização da mão-deobra indígena pela Coroa. Seu sistema de organização missionária fincara raízes profundas e se alastrara, na percepção do capitão-general, como “erva que pode embaraçar-me esta lavoura”, sendo necessário proceder igualmente como “fazia ao escalracho das vinhas de Oeiras, que à custa de muito dinheiro mandava tirar e o punha na estrada onde era queimado, só porque compreendi que ele fazia prejuízo aos bacelos que eu estava plantando”.45 44–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 260. 45–1Ibidem, t. 2, pp. 498. Carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 18 de fevereiro de 1754. O termo de comparação empregado por Mendonça Furtado – escalracho ou esgalracho – dá a medida do enraizamento das práticas jesuíticas. A palavra refere-se à “erva, ou raiz, que se cria debaixo do chão nas terras de milho”. Cf. SILVA, Antônio de Morais. Diccionário da língua portugueza. 5ª ed., Lisboa: Tipografia de Antônio José da Rocha, 1844, t. 1, pp. 814. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 93 Fabiano Vilaça dos Santos É fácil verificar na correspondência de Mendonça Furtado que este conseguiu poucos resultados concretos nos três primeiros anos de seu governo. Os preparativos para o encontro das comissões de demarcação dos limites no Norte, em cumprimento do Tratado de Madri, ocuparam sobremaneira o governador. Além disso, era grande a resistência dos regulares amparados na legislação vigente desde o final do século XVII sobre a exploração do trabalho indígena. E foi justamente durante os trabalhos para a execução dos trabalhos de demarcação, que Mendonça Furtado (nomeado 1º comissário) encontrou os maiores obstáculos da parte dos jesuítas. Este momento, segundo Paulo de Assunção, representou o ápice da deterioração das relações entre os inacianos e a Coroa portuguesa.46 O enraizado e bem difundido sistema de organização das ordens regulares foi denunciado desde a chegada do governador em 1751. Os alicerces fundados pelos missionários aparecem bem definidos na primeira carta dirigida a Sebastião José de Carvalho e Melo, em 21 de novembro daquele ano.47 O uso da língua geral, forma híbrida dos dialetos nativos com o português, era uma barreira que mantinha os religiosos no controle da situação, pois todos faziam uso dela nas missões. E a resistência dos regulares em realizar os trabalhos de conversão do gentio em português continuava a ser um empecilho à “extensão e aumento do cristianismo”, contrariando uma das finalidades expressas na primeira instrução de Mendonça Furtado. Este denunciava também a submissão dos aldeados à escravidão nas fazendas da Companhia de Jesus, aos casamentos forçados usados como punição. A concentração das terras e dos efeitos do comércio indígena nas mãos dos jesuítas era algo incômodo. Na mesma correspondência de novembro de 1751, Mendonça Furtado faz um diagnóstico da indesejável inserção dos jesuítas nos negócios do Grão-Pará, o qual conduziria as suas ações no sentido de afastar os regulares do caminho das reformas: 46–1ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos: o cotidiano da administração dos bens divinos. São Paulo: EDUSP, 2004, pp. 29. 47–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 63-78. 94 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) “como os regulares se viram senhores absolutos desta gente e das suas povoações; como se forma fazendo senhores das maiores e melhores fazendas deste Estado, vieram a absorver naturalmente todo o comércio, assim dos sertões como o particular desta cidade e vieram a cair os direitos reais e dízimos, e em conseqüência a cair o Estado, sem remissão”.48 Nos três volumes da correspondência de Mendonça Furtado, organizada por Marcos Carneiro de Mendonça, a culpa pela miséria do Estado do Grão-Pará atribuída aos jesuítas foi o mote para demonstrar a premência de sua expulsão. Uma das primeiras medidas concretas tomadas foi a retirada do cargo de procurador dos índios da esfera de influência dos missionários. Conforme a provisão de 10 de julho de 1748, o procurador dos índios não devia ser mais eleito pelo superior das missões da Companhia, mas em Junta de Missões, por pluralidade de votos, para evitar parcialidades. Segundo essa norma, os homens recrutados para tal cargo deveriam preencher certos requisitos: a independência em relação aos moradores e às religiões, entendidos respectivamente como os principais da terra e as ordens regulares; a capacidade para conduzir a liberdade dos índios e ser homem temente a Deus e de família nobre. O procurador dos índios teria preferência nos requerimentos feitos em Junta de Missões e seu pagamento, de 200 réis, seria extraído da dízima paga pelos réus condenados e dos jornais referentes a dois dias de trabalho dos índios libertos.49 Sendo assim, o cargo passava para o domínio da administração pública, pois em 28 de novembro de 1751, Francisco de Mendonça Furtado manifestou ao irmão a necessidade de um novo regimento que pudesse orientar o procurador dos índios, conferindo-lhe o status de funcionário régio. O novo regimento substituiria o antigo Regimento das Missões, de 1686. É certo que o governador temia sublevações dos proprietários de escravos com o fim dos descimentos para fins de exploração da mão-deobra nativa. Por outro lado, as propostas de Mendonça Furtado estavam em sintonia direta com a política de civilização dos índios da segunda metade do século XVIII, expressa na legislação que entrou em vigor da 48–1Ibidem, t. 1, pp. 72. 49–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). Op. cit., t. 1, pp. 55-57. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 95 Fabiano Vilaça dos Santos década de 1750. Para Ângela Domingues, o desejo da Coroa era transformar os índios em vassalos com plenos direitos, mesmo que isso representasse uma aparente contradição com a possível e temerária escassez de mão-de-obra na região.50 A inserção dos índios no grêmio da civilização implicava em uma mudança no seu estatuto jurídico e na consolidação do processo de aculturação, o que lhes permitiria exercer ofícios públicos, postos militares e a educação nos moldes previstos na legislação portuguesa (estimulava-se o convívio com as famílias dos colonos brancos). As últimas sugestões de Mendonça Furtado para um novo regimento são reveladoras da concepção de que os nativos eram capazes de se autogovernar e representar e, portanto, não careciam da tutela temporal dos regulares. Justamente para esta função seria nomeado o procurador dos índios. Tais concepções foram ratificadas na publicação do Diretório dos índios, em maio de 1757, precedido, no entanto, de algumas leis sobre a liberdade dos índios51, de 6 e 7 de junho de 1755, que estabeleciam, respectivamente, o fim da escra- 50–1DOMINGUES, Ângela. Quando os índios eram vassalos. Colonização e relações de poder no norte do Brasil na segunda metade do século XVIII. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, pp. 38. 51–1Discussões mais detalhadas sobre os aspectos citados da legislação indigenista podem ser encontradas em DOMINGUES, Ângela. Quando os índios..., pp. 38-51. Outro trabalho que analisa o projeto de “civilização” dos índios, tomado a partir da própria experiência acumulada pela Coroa portuguesa ao longo do processo de colonização, é o de ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização no Brasil do século XVIII. Brasília: Ed. UnB, 1997. Abordagem frequentemente citada sobre a política indigenista na Amazônia é a de FARAGE, Nádia. As muralhas dos sertões: os povos indígenas no Rio Branco e a colonização. Rio de Janeiro: Paz e Terra; ANPOCS, 1991. 96 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) vidão indígena e da tutela temporal dos regulares.52 A elaboração do Diretório consolidou a legislação sobre os índios, fruto do amadurecimento da própria colonização portuguesa e de uma reflexão sobre o conjunto de dispositivos jurídicos precedentes. Nesse sentido, para analisar o corpus do Diretório, Rita Heloísa de Almeida partiu em uma viagem “retrospectiva aos conceitos de civilização, colonização e governo”, noções engendradas pelo colonizador em seu esforço de “ordenação da sociedade”.53 A promoção da liberdade e da participação do índio nas funções civis e militares, uma vez que o nativo era essencial não só como braço na lavoura, mas também como contingente populacional, não seria instantânea. Tal medida poderia surtir efeito contrário, afugentando os índios para as matas que serviram de abrigo a muitos desertores e fugitivos das 52–1Para uma apreciação geral sobre a legislação indigenista, ver o trabalho de PERRONE-MOISÉS, Beatriz. “Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII)”. In CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 115-132. Em ALMEIDA, Rita Heloísa de. Op. cit., ver o tópico “Os autores de projetos” (pp. 128-131), no qual a autora estabelece que a liberdade dos índios foi proclamada em 1755 com base na seguinte legislação: a bula do papa Bento XIV, de 20 de dezembro de 1741, publicada pela diocese do Pará em 29 de maio de 1757; a lei de 6 de junho de 1755 determinando o fim do cativeiro indígena; a lei de 7 de junho de 1755 que secularizava as aldeias, pondo fim à tutela temporal dos missionários sobre os nativos, e o alvará de 17 de agosto de 1758, que estendia as determinações do Diretório dos Índios a toda a América portuguesa. Uma discussão acerca dos limites, da extinção do Diretório e da introdução, em 1798, do “Plano para a civilização dos índios” pelo governador do Pará, Francisco Maurício de Sousa Coutinho, é o tema do ensaio de SAMPAIO, Patrícia Melo. “Administração colonial e legislação indigenista na Amazônia portuguesa”. In DEL PRIORE, Mary e GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). Os senhores dos rios: Amazônia, margens e histórias. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2003, pp. 123-139. Ronald Raminelli analisa os efeitos negativos da política pombalina para o povoamento da região amazônica depois da aplicação do Diretório e da transformação das aldeias em vilas administradas por diretores seculares, no artigo “Testemunhos do despovoamento: Amazônia colonial”. In Leituras: Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa. S. 3, n. 6, Lisboa, 2000, pp. 41-53. Sobre a política de organização de aldeamentos indígenas nos moldes da legislação do século XVIII, ver ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias indígenas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003. A autora concentra sua análise nas missões do Rio e faz algumas comparações com as da Amazônia no mesmo período. 53–1ALMEIDA, Rita Heloísa de. O Diretório..., pp. 128. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 97 Fabiano Vilaça dos Santos fazendas. Some-se a isso a visão negativa acerca da utilidade do trabalho indígena, considerado pouco produtivo pela facilidade com que se entregavam ao ócio. Nesse sentido, pode-se entender o Diretório como o instrumento que, segundo Mauro Cezar Coelho, permitiria a inserção dos indígenas do Vale Amazônico no convívio com os portugueses, assimilando sua cultura, costumes e organização social (pela via do casamento e da condição de vassalos do rei, por exemplo), além das formas de obtenção da riqueza pela agricultura e o comércio. Tudo isso, em detrimento da cultura nativa.54 As próprias autoridades reconheciam que não se tratava de uma transformação fácil de ser operada. Para evitar a perpetuação de comportamentos indesejáveis à luz da racionalidade do trabalho produtivo, Mendonça Furtado exortava os padres a que usassem o púlpito para fazer pregações contra a preguiça e o ócio e incutir na mente dos índios a idéia de que os vadios deviam ser desprezados e afastados do convívio dos mais diligentes.55 No entender do governador, a adaptação dos índios ao modelo de colonização previsto na legislação portuguesa deveria ser gradual. Entre a tomada de consciência da liberdade e o pleno gozo de suas prerrogativas, os índios deviam permanecer nas fazendas onde estavam por cerca de seis anos, inclusive para que os proprietários tivessem tempo e condições de substituí-los por escravos negros.56 Apesar das exortações do governador, os missionários jesuítas recusavam-se a cumprir as ordens régias, conforme denunciou a Sebastião José de Carvalho e Melo, em carta de 25 de outubro de 1752. Os padres se recusaram a acatar uma provisão do Conselho Ultramarino de 1748, que determinava a visita do bispo às aldeias, argumentando que a mesma 54–1COELHO, Mauro Cézar. “A cultura do trabalho: o Diretório dos Índios e um novo paradigma de colonização na Amazônia do século XVIII”. In ______ e QUEIROZ, Jonas Marçal de (orgs.). Amazônia: modernização e conflito (séculos XVIII e XIX). Belém: UFPA/NAEA; Macapá: UNIFAP, 2001, pp. 66-67. 55–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 2, pp. 794-795. Carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 4 de agosto de 1755. 56–1Ibidem, t. 2, pp. 821-826. Carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 11 de novembro de 1755. 98 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) provisão só poderia ser executada depois de submetida aos definitórios da Ordem. Mendonça Furtado sustentava que a autoridade régia estava em risco, atribuindo aos inacianos uma postura desafiadora do poder do soberano, dado que os mesmos impuseram uma condição para a obediência da referida provisão: “Se ao tal definitório lhe não pareceu bem, deixa de Sua Majestade de ser obedecido, não se executa tal ordem, e em conseqüência fica Sua Majestade inferior”.57 Em uma conjuntura de reforço do poder monárquico e de preparação para a secularização da administração das aldeias, tal atitude dos jesuítas contribuiu para o crescimento da animosidade entre os regulares e as autoridades. Paulo de Assunção assinala que os inacianos descumpriam mesmo bulas papais, como a de 20 de dezembro de 1741, sobre o fim da escravidão indígena – uma das principais “infrações” cometidas pelos padres, segundo o historiador, – além de fomentar querelas com os governadores. Diante desse quadro de desobediências, em 8 de outubro de 1757, D. José I instruiu a Francisco de Almada de Mendonça, embaixador junto à Santa Sé, que este levasse ao conhecimento do pontífice “as afrontas e insultos que os religiosos empreendiam no Norte e no Sul da América portuguesa”.58 Até aqui foram apresentados os argumentos das autoridades coloniais contra a ação dos regulares, em especial os jesuítas. Estes, por sua vez, não se calaram diante dos ataques, recorrendo à proteção de pessoas reais, à sombra das quais a Companhia se expandiu em Portugal e seus domínios.59 Queixas sobre a conduta de Mendonça Furtado foram mandadas à Corte, como o próprio atestou em correspondência com Sebastião José de Carvalho e Melo, dizendo que na última frota que partira de 57–1Biblioteca Nacional de Lisboa (doravante BNL). Seção de Reservados. Fundo Geral de Manuscritos. Códice 11393//1, fls. 43v-44. 58–1ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios jesuíticos..., pp. 36-37. 59–1Para conhecimento do modo pelo qual a Companhia de Jesus se estabeleceu e se expandiu em Portugal e na América portuguesa, além da influência cultivada pelos inacianos junto às pessoas reais e na Corte, ver ASSUNÇÃO, Paulo de. Op. cit., em especial a parte II, “A Companhia de Jesus em Portugal: uma empresa de vulto” (pp. 87-147), e a parte III, “Os jesuítas na América portuguesa: esta terra é nossa empresa” (pp. 149-224). R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 99 Fabiano Vilaça dos Santos Belém “muito bem me ia feita a cama”. Participava o fato ao irmão para que este visse como “esta gente [os regulares] cuida em intimidar para conservar aqui o seu domínio absoluto”.60 Em carta de 1º de fevereiro de 1752 à rainha D. Maria Ana de Áustria, o padre Francisco Wolff, “prostrado aos pés de V.M. rend[ia] as mais humildes graças pelo mimo dos prêmios que V.M. foi servida mandar-me pelo padre confessor, José Ritter”61. Posteriormente, o mesmo religioso certificou a rainha dos sucessos das missões para as quais se dirigiram alguns padres sob os auspícios de D. Maria Ana e buscava a sua intercessão para atalhar a oposição movida pelo governador Mendonça Furtado: “tive o máximo prazer em entender pelas cartas de V.M que as disposições de espírito do sereníssimo rei para com as nossas missões são tais que não faria quererá mudar nada a respeito da jurisdição temporal das aldeias. Temos, contudo, novas razões para recear que o governador prepare a ruína dela pintando tudo com tais cores e com tanta arte, que tratando disso em particular e sem ninguém o saber, por meio do seu irmão, a venha a obter de Sua Majestade Fidelíssima. E por isso acode a Missão a V.M. suplicando que coisa semelhante se não decide, com não pouco desdoiro da Companhia, sem que primeiro, tirada a máscara da aparência de verdade, se mostrem serem certas as culpas que porventura nos impõem”.62 De acordo com o missionário Francisco Wolff, do Pará, Mendonça Furtado estaria movendo uma conspiração contra os jesuítas apoiado, na Corte, por seu irmão Sebastião de Carvalho e Melo, com o propósito de responsabilizar os jesuítas pelas mazelas do Estado. No pedido de auxílio e intercessão da rainha, o padre Wolff também relatava os sucessos da missão “com o reforço de seis missionários alemães, do que é devedora a V.M”, agradecia mais uma vez os presentes recebidos por intermédio do padre Ritter e pedia a Deus “nos santos sacrifícios, juntamente com toda 60–1AHU – Projeto Resgate. Pará (avulsos). CD 5, cx. 39, doc. 3689. Carta de 22 de novembro de 1755. 61–1Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (doravante IEB/USP). Coleção Alberto Lamego. Códice 1.5. 62–1IEB/USP. Coleção Alberto Lamego. Códice 1.4. 100 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) a Missão, que conserve por muitos anos a saúde de V.M., do Rei Fidelíssimo e de toda a Casa Real”.63 A animosidade entre os jesuítas e o governador Mendonça Furtado motivou o padre Gabriel Malagrida a buscar também o amparo de D. Maria Ana, denunciando os desmandos de Mendonça Furtado em um extenso memorial. Expunha toda a insatisfação dos missionários em relação à interferência do novo governador na organização das aldeias e sua intenção de subtrair aos missionários a tutela temporal sobre os índios, evocando a experiência do padre João Batista Carboni no Maranhão, e reiterando o compromisso estabelecido entre a Coroa e a Companhia de Jesus por meio do Regimento das Missões, “feito para melhor ordem e administração do governo político, e espiritual de todas as aldeias; porém muito mal admitido e pior interpretado pelos governadores do Estado, vendo nele distinguido o absoluto poder que pretendem ter sobre elas com grave prejuízo do serviço de Deus e de S.M”.64 No memorial do padre Malagrida, Mendonça Furtado figurava entre os governadores que interpretavam erradamente o Regimento das Missões. O jesuíta criticou um dos principais tópicos da política indigenista – convertido, mais tarde, na lei de 7 de junho de 1755 –, voltando-se para a defesa da antiga legislação – o Regimento das Missões, ainda em vigor: “Chegou ultimamente o governo do senhor Francisco Xavier de Mendonça todo fundado em arbítrios, e novas idéias de mudança total do Estado, sem mais consulta, sem mais conselho, ou informe que a tenacidade do seu juízo falto de experiências da terra, e circunstâncias do tempo, que parece se devem antepor aos maiores juízos que a regularidade dos acertos. O verdadeiro intento e empenho deste senhor, e em que persiste pelo que mostra, é em tirar o governo temporal, que Sua Majestade é servido conceder aos missionários no seu Regimento querendo que este fiquem só com o espiritual, sem advertir, que este sem o primeiro totalmente se perde [...]”.65 63–1Idem. 64–1IEB/USP. Coleção Alberto Lamego. Códice 43.95. 65–1Idem. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 101 Fabiano Vilaça dos Santos Rememoradas por Gabriel Malagrida, as arbitrariedades e calúnias atribuídas a Mendonça Furtado datavam da época em que foi organizada a expedição para a demarcação do Tratado de Madri, em 1754: “A calúnia que por hora dá mais cuidado aos nossos missionários é dizer o governador que eles têm praticado aos índios para não irem à expedição das demarcações; porque é trabalhosíssima, e ficarão por lá todos, sendo isto tanto pelo contrário que desejando os ditos missionários que uma expedição tanto do agrado de Sua Majestade pelos muitos gastos que tem feito da sua Real Fazenda, [...] tem animado aos seus aldeãos a seguir viagem por ser assim vontade do nosso rei”.66 Para o jesuíta, os missionários não eram os verdadeiros culpados pela resistência dos índios em acompanhar a expedição demarcatória, mas os próprios nativos, “inclinados ao descanso, e fáceis em fugir por leves motivos, lembrando-se das tropas, que os anos passados foi do Mato Grosso [...] foram tão mal tratados na viagem, que a maior parte por lá ficaram mortos: e vendo de mais a mais o rigor com que no Real Serviço os tratam os soldados, dando-lhe sem piedade os afugentam e metem medo de fazerem com eles viagem, além de lhe faltarem os pagamentos ou tardarem tanto com eles que os fazem desesperar”.67 A outra calúnia proferida pelo governador contra os jesuítas era a de que possuíam vasto patrimônio, quando o padre Malagrida argumentava no memorial enviado à rainhamãe, que os religiosos só dispunham dos “25 índios que Sua Majestade é servido conceder aos nossos missionários”, os quais, realmente, tinham “bem sucedidas as suas canoas na extração dos gêneros do país, porque sabem empregar bem o seu valor no ornato das suas igrejas, na muitas peças de pano de algodão que repartem pelos mais pobres aldeões”.68 Antes mesmo das leis de junho de 1755, o governador Mendonça Furtado tratou de elaborar um inventário das fazendas dos jesuítas na capitania do Pará, aproveitando-se de uma resolução do Conselho Ultramarino sobre o confisco das terras dos padres e a substituição dos seus 66–1IEB/USP. Coleção Alberto Lamego. Códice 43.95. 67–1Idem. 68–1Idem. 102 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) rendimentos por côngruas suficientes para o seu sustento. A principal fazenda do Colégio de Santo Alexandre era a do Cruçá, na vila da Vigia, para onde os padres haviam levado grandes levas de índios para trabalhar nas lavouras de arroz, tabaco, algodão, legumes e nas manufaturas de farinha, peixe seco e nas salinas. Noutras fazendas, os jesuítas possuíam fábricas de telhas e canoas, além de várias moradas de casas e currais de gado na Ilha Grande de Joanes. Uma notícia detalhada sobre as posses dos jesuítas no Maranhão era aguardada pelo governador para comprovar informações de que a quantidade de fazendas da Companhia de Jesus naquela capitania era muito maior do que no Pará, pois no Maranhão os jesuítas tinham estabelecido menor número de missões, o que teria permitido a acumulação de propriedades onde cultivavam diversos gêneros e criavam gado, vendendo os produtos no comércio local.69 Um ano depois do levantamento das fazendas dos jesuítas e do estabelecimento do quantitativo de sua produção, em 14 de março de 1755, Sebastião José de Carvalho e Melo comunicou ao irmão a resolução régia de substituir as fazendas dos padres por uma côngrua, encerrando uma querela movida cerca de duas décadas antes pelo procurador da Câmara de São Luís, Paulo da Silva Nunes, acusando os regulares de possuírem bens indevidamente vinculados à dotação dos colégios. A resolução régia previa a transformação, em seguida, das aldeias e fazendas em vilas destinadas a trazer os índios à civilização e ao contato com a população branca.70 As investidas das autoridades coloniais contra o patrimônio dos jesuítas continuaram até que em junho de 1757 ajustaram-se os meios para a redução das fazendas dos jesuítas, que deveriam ser repartidas entre os moradores ficando os padres somente com aquelas indispensáveis à manutenção de seus colégios. A Coroa procurou restringir o número de conventos e de padres residentes, assim como a admissão de postulan69–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 2, pp. 485-489. 70–1Ibidem, t. 2, pp. 659-664. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 103 Fabiano Vilaça dos Santos tes.71 Em setembro do mesmo ano, diante da resistência dos religiosos em cumprir as leis de liberdade dos índios, o visitador e vice-provincial da Companhia, Francisco de Toledo, foi expulso do Pará juntamente com um grupo de jesuítas, por não ter obviado a atitude dos padres.72 No mês seguinte, os religiosos daquela capitania foram intimados a restituir as alfaias indevidamente retiradas das igrejas da vila de Melgaço. Convocados a deixar as aldeias missionárias, transformadas paulatinamente em vilas, foram instruídos por meio de ordens régias a não levar quaisquer paramentos das igrejas locais.73 A indisposição com os jesuítas já se fazia sentir em Lisboa, sobretudo, após a tentativa de regicídio de D. José I. Ainda em 1758, de acordo com uma carta do secretário de Estado Tomé Joaquim da Costa Corte Real, os padres foram expulsos do Paço e proibidos de entrar na Corte. Na mesma ocasião fez-se uma relação de 15 religiosos vindos do Grão-Pará e Maranhão, dentre eles o padre Francisco de Toledo, desterrados para lugares distantes de Lisboa, como Porto e Viana do Castelo.74 Até a expulsão definitiva, em 1759, faltava pouco tempo para desarticular-se – na visão da metrópole e dos administradores coloniais – a “trama diabólica” dos jesuítas, o que deu a medida das tensões enfrentadas na primeira década da reorganização do governo das conquistas do Norte. O Tratado de Madri e o decoro do Real Serviço Nos dias que antecederam a sua partida para o Rio Negro, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 1º comissário para a demarcação do Tra71–1Ibidem, t. 3, pp. 1098-1104. 72–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). Op. cit., t. 3, pp. 1144-1145. Sobre a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, ver LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: INL, 1949, sobretudo, o capítulo “Perseguição e sobrevivência”, t. VII, pp. 335-363. Ver também, por exemplo, MIRANDA, Tiago dos Reis. Ervas de ruim qualidade: a expulsão da Companhia de Jesus e a aliança angloportuguesa, 1759-1763. Dissertação de Mestrado em História. FFLCH/USP, 1991. 73–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 3, pp. 1150. 74–1Ibidem, t. 3, pp. 1176-1177. 104 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) tado de Madri no Norte da América portuguesa, oficiou à Corte sobre os preparativos da viagem dizendo ter gasto todo o dinheiro enviado pelo rei na frota, juntamente com as provisões necessárias à expedição. Partiria dali a alguns dias, absolutamente desprovido de numerário. Suas palavras sugerem preocupação com o sustento da comitiva, assim como o temor de encontrar os espanhóis pelo caminho e não dispor de meios para socorrêlos caso precisassem.75 Embora a angustiante possibilidade do encontro não se concretizasse, o comissário não abandonou a preocupação com um aspecto que ainda não foi devidamente considerado no âmbito dos trabalhos de demarcação do Tratado de Madri: o decoro na realização de um projeto que deveria demonstrar a força da monarquia lusitana. As inúmeras dificuldades precisavam ser contornadas não apenas para evitar a ruína da expedição, mas para evidenciar a autoridade dos portugueses em território sobre o qual pretendiam ratificar a sua soberania. No Sul, a situação não era diferente, conforme relatou a Lisboa o encarregado dos trabalhos naquela repartição, o governador do Rio de Janeiro Gomes Freire de Andrade. As notícias chegaram ao outro extremo da América portuguesa. Em carta ao irmão, de julho de 1754, Sebastião José de Carvalho e Melo disse que os preparativos no Sul já tinham “exaurido os cofres da grossa Provedoria do Rio de Janeiro para se sustentar a dignidade dos ministros de Sua Majestade nas conferências do Rio Grande de São Pedro e o Exército”.76 Embora não seja o propósito discutir os meandros do acordo firmado pelas monarquias ibéricas, é oportuno situar o Tratado de Madri no quadro das transformações que se processaram na Amazônia no período 75–1BNL. Seção de Reservados. PBA, F.R. 213, fls. 7v-8. 76–1Biblioteca da Ajuda. 54-XI-27, n.º 16 – Cartas de Sebastião José de Carvalho e Melo para seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do Grão-Pará, e de El Rei ao mesmo e outros. Fls. 16v-17. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 105 Fabiano Vilaça dos Santos pombalino.77 Celebrado em 13 de janeiro de 1750 entre as Coroas de Portugal e de Espanha, representadas respectivamente pelos diplomatas Alexandre de Gusmão e D. Jose de Carvajal y Lancaster, o acordo retomava antigas discussões sobre os limites das possessões das duas monarquias na América. Considerando-se, porém, a marcha do processo colonizador conduzido pelas duas metrópoles, o uti possidetis passou a ser o princípio regulador da nova legislação, tendo os índios do lado português assumido papel estratégico na ocupação do território como vassalos do rei.78 O programa de revisão da política colonial começara no reinado de D. João V. Como aponta Ricardo de Oliveira, o monarca tinha diante de si uma dupla tarefa: rever as linhas de ação sobre a América portuguesa – fortalecendo os vínculos com suas possessões – e redefini-la “do ponto de vista político e territorial”.79 A culminância desse processo se deu com a assinatura do Tratado de Madri, no final daquele reinado. Por meio do acordo, Portugal controlaria os principais rios da bacia amazônica (Madeira, Mamoré, Guaporé, Negro, Solimões, Tapajós) e impulsionaria a ocupação efetiva do vasto território confinante com domínios de várias potências: Espanha, França, Holanda e Inglaterra.80 Mas, como realizar um plano essencial à soberania portuguesa sem os recursos necessários? A tarefa de Mendonça Furtado não podia ser viabilizada sem que a Corte enviasse recursos financeiros – com os quais a Fazenda do Pará seria incapaz de arcar – e houvesse uma rede de abastecimento no Estado que atendesse às necessidades de provisões. Também não seria possível transportar para os confins da Amazônia os 77–1A historiografia possui trabalhos clássicos acerca da questão de limites entre Portugal e Espanha na América, a exemplo de CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri. Rio de Janeiro: Instituto Rio Branco, 1950 e ALMEIDA, Luís Ferrand de. Alexandre de Gusmão, o Brasil e o Tratado de Madri (1735-1750). Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990. 78–1Cf. DOMINGUES, Ângela. Quando os índios..., pp. 212. 79–1OLIVEIRA, Ricardo de. “Política, diplomacia e o império colonial português na primeira metade do século XVIII”. História: Questões & Debates, n. 36, Curitiba, 2002, pp. 254. 80–1Cf. COUTO, Jorge. “O poder temporal...”, pp. 53-54. 106 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) apetrechos da demarcação, armamentos, mantimentos, além de membros da comitiva (astrônomos, desenhistas, engenheiros, geógrafos) e guarnições militares sem meios de transporte adequados (canoas), conduzidos por grande número de braços (indígenas). Eis os elementos integrantes do rol de dificuldades enfrentadas por Mendonça Furtado. O primeiro problema – a escassez de recursos – foi uma constante durante a permanência da comissão de demarcação no Rio Negro. A questão do abastecimento não foi menos sentida na expedição, evidenciando a fragilidade da economia das principais capitanias do Estado. Por sua vez, a falta de canoas para o transporte de tudo e de todos teve de ser contornada por Mendonça Furtado. Este problema, somado ao delicado e imprescindível recrutamento de índios para remadores, foi um dos mais difíceis de solucionar. Ambos causaram embates entre o poder temporal, encarnado pelo governador e comissário, e o poder religioso representado pelos jesuítas. Tais vicissitudes, portanto, punham em risco – na visão de Mendonça Furtado – o decoro do Real Serviço. A falta de canoas foi um dos primeiros problemas constatados por Mendonça Furtado nos preparativos da expedição. Em carta ao irmão, esclareceu que no Pará cada morador dispunha basicamente de uma embarcação para suas necessidades e as disponíveis para aluguel – na verdade afirmava existir apenas uma – pertenciam aos jesuítas, que as disponibilizavam ao preço de 13 réis cada, mas “somente pelo casco”.81 E ao cogitar lançar mão das canoas dos moradores, o governador percebeu o enorme prejuízo que a medida causaria, pois se eram os meios de transporte por excelência em uma região entrecortada por rios, ao mesmo tempo representavam o único meio de abastecer de mantimentos a sede do Estado. Segundo Mendonça Furtado, privados de suas canoas os moradores ficariam isolados em suas roças, e Belém “em conseqüência sem poder subsistir faltando-lhe os mantimentos que deverão entrar-lhe; porque não tem outro modo de lhos fornecerem senão por água”.82 Suas palavras ilus81–1IANTT. Ministério do Reino. Belém do Pará, maço 597. Carta de 8 de novembro de 1752. 82–1Idem. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 107 Fabiano Vilaça dos Santos tram a permanência de uma situação descrita pelo padre Antônio Vieira nos idos de 1660: “Para um homem ter o pão da terra, [...] há de ter roça, e para comer carne há de ter caçador, e para comer peixe, pescador, e para vestir roupa lavada, lavadeira, e para ir à missa ou a qualquer parte, canoa e remeiros”.83 A descrição de Vieira demonstra, claramente, que o uso de canoas era um hábito arraigado no cotidiano da população amazônica. Nesse sentido, a demanda de Mendonça Furtado, posto que fundamental para a execução de um projeto de Estado, subverteria um costume diretamente ligado à sobrevivência dos colonos da região amazônica. Como seriam necessárias mais de 50 canoas para a expedição, principalmente aquelas do tamanho que os padres usavam, Mendonça Furtado percebeu que alugá-las por conta da Real Fazenda traria gastos enormes para cofres vazios e já demasiadamente empenhados. Mandou, então, construir o maior número possível de embarcações, retirando das aldeias missionárias os canoeiros necessários. E para cobrir as despesas da fábrica de canoas, resolveu suspender os pagamentos ordinários. Mas, passado um ano, o governador continuava enfrentando dificuldades para arranjar as canoas e os mantimentos para a expedição, não dispondo do suficiente para manter seus oficiais nem para aplacar sua angústia quanto à possível chegada dos espanhóis ao Rio Negro antes dos portugueses.84 A ajuda financeira da metrópole chegou no início de outubro de 1753 e, como foi dito, se esvaiu antes mesmo da partida da expedição. Antes de escrever a carta comentada no parágrafo acima, Mendonça Furtado enviou outra ao irmão agradecendo pelo dinheiro com que se manteria no Rio Negro, deixando claro pela primeira vez o aspecto que se pretende realçar aqui: o decoro do Real Serviço. Das instalações que deveriam ser construídas no Rio Negro, no local reservado ao encontro com a comissão espanhola (o arraial de Mariuá), ao oferecimento de refeições pelo governador aos seus oficiais e demais membros da comitiva, tudo estava 83–1Transcrito em BOXER, Charles. A idade de ouro do Brasil. Tradução de Nair de Lacerda. 2ª ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969, pp. 289. Grifo nosso. 84–1IANTT. Ministério do Reino. Belém do Pará, maço 597. Carta de 17 de novembro de 1753. 108 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) diretamente ligado à respeitabilidade de seu cargo e de sua pessoa. Por conta disso, sentenciou: Todos deviam “achar a minha mesa franca para se sentarem a ela [...] porque depois de Sua Majestade me honrar com a patente de general deste Estado, não é justo, nem decoroso que todo oficial que quiser sentar-se a ela ache a porta fechada ao meiodia”. Tal situação era inaceitável, “porque seria isso faltar à principal, e no meu sentir essencial obrigação do lugar em que me acho, e que fazendo o contrário não conciliaria demasiado amor, e respeito dos meus súditos”. Além dos oficiais de infantaria, sentia-se obrigado a dar mesa aos geógrafos, engenheiros, ao provedor da Fazenda, que acumulava as funções de tesoureiro e de escrivão, e ao secretário da expedição, João Antônio Pinto da Silva, “com sete até nove pratos ao jantar, e três até quatro à noite”.85 As angústias de Mendonça Furtado e as preocupações com o decoro do Real Serviço não se restringiam aos temores de que sua respeitabilidade ficasse abalada. A própria imagem do rei e da monarquia poderia ser atingida caso os espanhóis considerassem pífio o esforço dos portugueses para promover o encontro das duas comissões de demarcação. Para evitar que tal acontecesse, o monarca ordenou no artigo quinto das instruções enviadas a Mendonça Furtado “que nos casos em recorrerem-vos os ditos comissários [espanhóis], não experimenteis faltas do que lhes for preciso, pois bem vereis que estas não só seriam indecentes ao Meu Real Decoro, mas poderiam ter a conseqüência de se fazerem suspeitosas, dando motivos aos ditos comissários para suspenderem a execução do tratado”.86 No entanto, levando-se em conta os constantes rogos de Mendonça Furtado à Corte, a letra da lei mais uma vez não correspondia à realidade da execução dos trabalhos. Para satisfazer às necessidades das duas comitivas quando instaladas no arraial de Mariuá, nos dois anos que antecederam a partida para o rio 85–1IANTT. Ministério do Reino. Belém do Pará, maço 597. Carta de 4 de outubro de 1753. 86–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 361. Grifo nosso. Ver “Instrução que V.M. há por bem mandar expedir a Francisco Xavier de Mendonça Furtado para passar ao rio Negro..., pp. 359-367. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 109 Fabiano Vilaça dos Santos Negro Mendonça Furtado expediu ordens aos missionários responsáveis pelas aldeias próximas ao local, e fez petições à Corte de alguns paramentos necessários à recepção da comitiva chefiada por D. José de Iturriaga. Aos regulares, ordenou-se que os índios abrissem roças no local, principalmente de mandioca, e criassem patos e galinhas em quantidade. A Lisboa foram enviadas relações de gêneros que deveriam desembarcar no Pará e seguir para o interior da Amazônia.87 E para garantir a decência à mesa nas recepções ao comissário espanhol, solicitou-se a remessa de uma baixela de prata, indisponível no Palácio do Governo em Belém, “porque este ministro [D. José de Iturriaga] há de jantar algumas vezes em minha casa, e eu na sua, na qual ele sem dúvida se há de servir com prata, e eu desejaria tratá-lo com igual decência”.88 Superados os percalços iniciais, na medida do possível, a expedição partiu de Belém no dia 2 de outubro de 1754. Mendonça Furtado deixava o governo nas mãos do bispo do Pará, D. frei Miguel de Bulhões e Sousa, e seguia para os confins de sua jurisdição acompanhado por 1.025 pessoas, dentre as quais 511 índios, em 23 canoas grandes (aparentemente não contando as que transportavam ferramentas, utensílios em geral e víveres). O diário da expedição, escrito pelo secretário João Antônio Pinto da Silva, registra logo à partida um contraste entre as agruras dos preparativos – obviamente, sem contar aquelas vividas no caminho e em Mariuá – e a pompa verificada na decoração das principais canoas, em especial as duas que cabiam ao capitão-general e 1º comissário das demarcações.89 De acordo com João Antônio Pinto da Silva, a canoa maior dispunha de uma “câmara bastantemente espaçosa, forrada toda de damasco carmesim com filetes dourados”, guarnecida “de caixões cobertos de coxins do mesmo damasco”, e mobiliada com seis tamboretes, duas cadeiras es87–1Ibidem, t. 2, pp. 437. Carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 14 de novembro de 1753. 88–1MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 322-323. Carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 22 de novembro de 1752. 89–1Ibidem. “Diário da viagem que o Ilmo. e Exmo. Sr. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador e capitão-general do Estado do Maranhão o fez para o Rio Negro à expedição das demarcações dos reais domínios de Sua Majestade”, t. 2, pp. 615-631. 110 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) tofadas de damasco, uma mesa grande e uma papeleira “com o retrato de El Rei no topo”, como que a reafirmar o verdadeiro sentido daquela empresa. De cada lado da embarcação, havia quatro janelas e duas no local destinado aos símbolos figurativos da monarquia, “no painel da copa, que todo estava guarnecido de talha primorosamente aberta, e no meio as armas reais, tudo muito bem dourado”, sendo o restante pintado de vermelho e azul.90 A guarnição dessa canoa compunha-se de 26 remadores, todos vestidos de camisas brancas de cassa, calções azuis e barretes de veludo azul e seda dourada. Enquanto isso, o “jacumaúba”, como era chamado o índio que pilotava a canoa, “levava a libré de cassa, com um talabarte de veludo e seda das mesmas cores, com um bom chinfarote (sic) e uma grande chapa de prata com as armas”. A segunda canoa era menor, guarnecida por 16 remadores mais o piloto, todos vestidos da mesma forma que os da embarcação principal.91 O luxo presente nos barcos reservados ao serviço de Mendonça Furtado demonstrava sua dupla condição de representante do rei nas conquistas do Norte (governador e capitão-general e 1º comissário das demarcações), cuja imagem deveria ser reverenciada com a devida pompa. Outros membros da comitiva, como o ajudante de ordens João Pereira Caldas, futuro governador do Piauí, procuraram imitar aquela figuração. O bispo do Pará, que presidiu as cerimônias de despedida da expedição, fez questão de comentar com o governador do Maranhão, Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, pai de Pereira Caldas, que este fora “entre todos os que concorreram para a grandeza da expedição o mais especial [...] porque assim no bom gosto da sua canoas, como na riqueza dos barretes, e mais ornato de seus remadores, foi o que imitou com maior perfeição ao excelentíssimo senhor general”.92 Tais elogios, por sua vez, também deixam entrever indícios da rede de colaboração que se pretendia reforçar para 90–1Ibidem, t. 2, pp. 615. 91–1Ibidem, t. 2, pp. 615-616. Chifarote, termo de origem árabe, designava uma “espada curta direita”, enquanto talabarte ou talim a “correia a tiracolo donde pende a espada”. Cf. SILVA, Antônio de Morais. Diccionário da língua portugueza..., t. 1, pp. 430 e t. 2, pp. 810. 92–1BNL. Seção de Reservados. PBA 627, fl. 30. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 111 Fabiano Vilaça dos Santos o bom andamento dos trabalhos de demarcação – o bispo falava como governador interino e precisaria do auxílio de Gonçalo Pereira. No caminho para Mariuá a expedição continuou sentindo os efeitos da carência de provisões. Persistia igualmente um problema identificado durante os preparativos da viagem: a dificuldade de recrutar índios para remadores. Meses antes de deixar o Pará, Mendonça Furtado queixara-se ao irmão das resistências e sublevações dos índios que não se curvavam diante das ordens régias.93 Em vista da animosidade entre o governo temporal e os regulares, a atitude dos nativos foi creditada a uma campanha dos missionários, especialmente os jesuítas, tidos por interessados em colocar obstáculos à demarcação dos limites. Foi com o propósito de evitar a intromissão dos inacianos no cumprimento do Tratado de Madri, que Sebastião José de Carvalho advertiu ao irmão sobre a necessidade de “separar os padres jesuítas [...] da fronteira de Espanha, valendo-se de todos os possíveis pretextos”.94 Diretores e principais das aldeias, informados do recrutamento, teriam incentivado os nativos a fugir para os matos. A aldeia de Guaricuru, de onde pretendia retirar seis índios, foi encontrada praticamente deserta, pois os aldeados haviam se escondido. Quando Mendonça Furtado tentou lançar mão dos nativos que serviam aos missionários – pelo Regimento das Missões, ainda em vigor, os religiosos tinham o direito de manter 25 índios ao seu serviço – a resistência manifestada pelo diretor espiritual, um jesuíta de origem alemã, foi interpretada como obstrução ao trabalho da comissão de limites. Na aldeia de Arucará, a experiência não teria sido diferente. Tencionando retirar dela mais índios, Mendonça Furtado encontrou apenas o principal e poucos nativos, porque os demais estavam ocultos nos matos, conseguindo com esforço obter doze para acompanhá- 93–1BNL. Seção de Reservados. Fundo Geral de Manuscritos. Códice 11393//1, fls. 1116v. 94–1Biblioteca da Ajuda. 54-XI-27, n.º 16 – Cartas de Sebastião José de Carvalho e Melo para seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governador do Grão-Pará, e de El Rei ao mesmo e outros. Fl. 20. 112 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) lo.95 Uma justificativa para as ações dos jesuítas foi dada por João Lúcio de Azevedo. Para o historiador, os missionários, vendo a sua “melhor obra” (a Missão) ameaçada de ruína, foram “obrigados” a reagir por meio de “ardis ingênuos” a fim de não colaborar com as requisições de Mendonça Furtado: não forneciam canoas alegando estarem desmanteladas, desencorajavam o recrutamento dos índios por desertarem facilmente e não se prontificavam a abastecer a expedição protestando escassez de alimentos nas aldeias.96 Interpretação oposta a de João Lúcio é a de Isabel Vieira Rodrigues, que em poucas palavras sintetizou os obstáculos enfrentados por Mendonça Furtado: “apenas dos oficiais das fortalezas teve apoio e mantimentos; dos regulares, só obstáculos”.97 A chegada a Mariuá após 88 dias de viagem foi celebrada de maneira grandiosa, repetindo a pompa da partida em Belém. O comissário português desembarcou por uma escada decorada com arcos floridos e atravessou um arco do triunfo para entrar no arraial. A récita de um soneto em língua portuguesa por um índio, o entoar de um Te deum laudamus por um grupo de nativas e a celebração de uma missa encerraram a recepção98, carregada de sinais do projeto de civilização que se pretendia implantar na Amazônia. Como ressaltou Geraldo Mártires Coelho, tomando por base a ereção do arco do triunfo, este representava a vitória, o poder, a superioridade do colonizador sobre aquele espaço.99 Em Mariuá, a escassez de provisões para manter a comitiva e aguardar a chegada dos comissários espanhóis não se alterou. Pedidos de auxí95–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 2, pp. 633-635. 96–1AZEVEDO, João Lúcio de. O marquês de Pombal e a sua época. 2ª ed., Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1990, pp. 113. 97–1RODRIGUES, Isabel Vieira. “A política de Francisco Xavier de Mendonça Furtado...”, pp. 104. 98–1Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de Mendonça (coord.). Op. cit., t. 2, pp. 629630. 99–1COELHO, Geraldo Mártires. “Índio, súdito e cidadão”..., pp. 295. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 113 Fabiano Vilaça dos Santos lio foram encaminhados ao bispo do Pará e ao governador do Maranhão. A este foram solicitados rolos de pano de algodão, galinhas e carregamentos de farinha, de arroz e de feijão, lembrando-lhe Mendonça Furtado que “este arraial necessita de muitos mantimentos e deve ser provido abundantemente como Sua Majestade me recomenda”100, aludindo indiretamente ao decoro da expedição. Somando-se a incapacidade do Pará e do Maranhão de satisfazer à demanda de víveres e à difícil comunicação com o arraial de Mariuá, não é de espantar que passado um ano não houvesse resposta de Gonçalo Pereira sobre as requisições de mantimentos. D. frei Miguel de Bulhões ainda aguardava a remessa de gêneros do Maranhão, carente de farinha como o Pará, com perspectivas de receber apenas os rolos de panos de algodão e as galinhas.101 Para manter a comitiva de quase 900 integrantes, segundo Isabel Vieira Rodrigues, a solução foi recorrer aos peixes e tartarugas dos rios Negro e Solimões e às roças abertas no arraial, embora persistisse a dependência dos mantimentos vindos do Pará. A situação se agravava na medida em que os espanhóis demoravam a chegar.102 A permanência de Mendonça Furtado no arraial de Mariuá se estendeu até 22 de novembro de 1756, quando os negócios do Estado (a publicação das leis de liberdade dos índios) reclamaram a sua presença em Belém. Por quase dois anos esperou os espanhóis que partiram de Cádiz em 13 de janeiro de 1754 e se detiveram na região do rio Orinoco, sem avançar em direção ao local de encontro com a comissão portuguesa. Em 1758, retornou ao Rio Negro mais para cumprir as ordens régias sobre a fundação de vilas do que para encontrar os espanhóis, “porque já desconfio inteiramente da sua vinda, quando eles se deixaram persuadir dos pa- 100 1– BNL. Seção de Reservados. PBA 628, fl. 4. Carta de 16 de janeiro de 1755. 101 – BNL. Seção de Reservados. PBA 622, fl. 124-125. Carta de 27 de janeiro de 1756. 102 – RODRIGUES, Isabel Vieira. “A política de Francisco Xavier de Mendonça Furtado...”, pp. 104. 114 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) dres da Companhia para se estabelecerem no Orinoco”103, atribuindo mais uma vez aos jesuítas a criação de empecilhos à demarcação. A comitiva espanhola finalmente chegou a Barcelos (antigo arraial de Mariuá), sede da capitania de São José do Rio Negro (criada em 1755), em outubro de 1760, quando o Estado já era governado por Manuel Bernardo de Melo e Castro. Mesmo assim, a demarcação não teve efeito. Os desacordos e interesses expansionistas das duas partes em questão inviabilizaram o Tratado de Madri e levaram à sua anulação e substituição pelo de El Pardo, em 1761.104 Interessa ressaltar as impressões sobre a atuação de Francisco Xavier de Mendonça Furtado na chefia da comissão de limites. Sua preocupação constante em realizar a missão que lhe fora confiada da forma mais decorosa, deu margem a interpretações díspares. Nos textos de época, é possível encontrar visões distintas sobre as ações levadas a cabo nas demarcações. No final do diário da expedição, destinado a servir de crônica dos feitos portugueses nos sertões amazônicos, João Antônio Pinto da Silva fez questão de sublinhar que aquela era uma empresa desacreditada pela população do Pará, especialmente porque seria dificílimo manter o número de índios essenciais à viagem. Para o secretário da expedição, tudo foi possível graças à “atividade, grande desvelo e incomparável trabalho” do chefe da comissão portuguesa. Interpretação diametralmente oposta ficou registrada na obra de Robert Southey, do início do século XIX. Mesmo não conhecendo o Brasil, o acesso a fontes sobre a colonização permitiu ao escritor inglês delinear uma visão própria da dominação portuguesa. Algumas observações presentes em sua História do Brasil – a brutalidade do colonizador e o reco- 103– IANTT. Ministério do Reino. Belém do Pará, maço 597. Carta a Tomé Joaquim da Costa Corte Real, de 25 de outubro de 1757. A segunda partida de Mendonça Furtado para o Rio Negro se deu em janeiro de 1758. 104– Para uma síntese das questões de limites entre Portugal e Espanha na América portuguesa e os tratados correspondentes, ver SILVA, Andrée Mansuy-Diniz. “Portugal e Brasil: a reorganização do Império, 1750-1808...”, pp. 477-518. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 115 Fabiano Vilaça dos Santos nhecimento do esforço dos missionários jesuítas105 –, podem ser percebidos na imagem que construiu de Mendonça Furtado: “Míope e arrebatado como um déspota”, o governador simplesmente requisitou “todos” os índios que pretendia empregar nas demarcações. Violando a legislação indigenista e perseguindo os padres da Companhia, teria alterado de propósito a rota do Pará ao Rio Negro apenas para facilitar o acesso às missões jesuíticas, “visitando todos aqueles estabelecimentos um por um, como querendo conjuntamente inspecionar e intimidar” os padres, a pretexto de obter mais índios e provisões.106 Southey não registrou, todavia, que Mendonça Furtado estava autorizado a requisitar e fazer uso de todos os índios de que precisasse. Uma ordem régia de 18 de maio de 1753, dirigida ao provincial da Companhia de Jesus, extensiva aos superiores das missões do Carmo, das Mercês e das províncias capuchas de Santo Antônio e da Piedade, facultava ao comissário tal prerrogativa. O rei ordenou aos religiosos que instruíssem aos seus respectivos missionários, “para que cada um deles dê da aldeia em que assiste[m] todos os índios que lhes forem pedidos pelo dito governador e capitão-general, aos quais se há de pagar pela Fazenda Real [...] e tem ordem o dito governador, para no caso de que por algum pretexto (o que não é presumível) não tem os índios, que lhes possa tirar por força”.107 É importante voltar ao aspecto privilegiado neste tópico: o esforço de Mendonça Furtado para manter o decoro do Real Serviço, posto que diante de condições as mais adversas e difíceis de contornar. Mesmo não sendo a sua vontade, teve que se conformar com o freqüente descompasso (que não era um problema exclusivo das conquistas do Norte) entre 105 –Uma análise da estrutura da obra de Robert Southey, publicada entre 1810 e 1819, pode ser encontrada em IGLÉSIAS, Francisco. Historiadores do Brasil: capítulos de historiografia brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Belo Horizonte: Ed. UFMG/IPEA, 2000, pp. 48-49. 106 –SOUTHEY, Robert. História do Brasil. Tradução de Luís Joaquim de Oliveira e Castro. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981, vol. 3, pp. 279-280. 107 – Fundação Biblioteca Nacional. Divisão de Manuscritos. 19, 4, 2, fls. 9-9v (doc. 6). 116 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) as instruções régias e a realidade colonial, especialmente em se tratando de uma região cuja recuperação econômica era mais uma tarefa a realizar. Nos relatos históricos, o capitão-general aparece como realizador e déspota. Sem enaltecer a figura do administrador colonial, desconsiderando seus erros e excessos, é válido admitir que na faina governativa, Mendonça Furtado almejasse demonstrar o valor de bem servir ao rei e à monarquia. A Casa e o legado de serviços Durante o governo, Francisco Xavier de Mendonça Furtado nunca deixou de se preocupar com os negócios particulares de sua Casa. Correspondendo-se regularmente com o irmão Sebastião José sobre os problemas da administração colonial, procurava manter-se informado a respeito das propriedades da família, na quais havia trabalhado, e manifestava a sua angústia por não poder contribuir como desejava para o “acrescentamento” da Casa, o que lhe competia mesmo na condição de filho segundo.108 Com isso, expressava o ethos característico da nobreza, vigente especialmente entre o último quartel do século XVII, no período pósRestauração, e o início do século XIX. Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, esse ethos consistia em um “sistema de disposições incorporadas”, acumuladas e passadas pelas gerações, que deve ser tomado a partir de dois aspectos essenciais: a idéia de Casa e de Serviço ao rei.109 Esses elementos subjazem às recomendações acerca dos bens familiares e das possibilidades de cessão de serviços, entremeadas na correspondência de Mendonça Furtado. Os concertos também envolviam Paulo de Carvalho e 108– O “acrescentamento” da Casa era obrigação de filhos e filhas, primogênitos ou secundogênitos, casados ou encaminhados à vida religiosa. Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, “[...] a Casa e a disciplina da Casa traduziam-se, em primeiro lugar, num conjunto de obrigações que se estendiam a todos quantos nela nasciam”. Cf. MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “O ethos da aristocracia portuguesa sob a dinastia de Bragança: algumas notas sobre a Casa e o Serviço ao rei”. Revista de História das Idéias, vol. 19, Coimbra, 1998, pp. 383-402. Citação à página 390. 109– Ibidem, pp. 389-396. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 117 Fabiano Vilaça dos Santos Mendonça, o mais novo dos três irmãos, e projetavam o futuro da Casa de Sebastião José, cujo primogênito e herdeiro era Henrique José de Carvalho e Melo. E como Sebastião José, dado os inúmeros afazeres de Estado, não podia “cuidar nestas coisas”, concluiu Mendonça Furtado: “já lhe mandei dizer que se encarreguem estas diligências ao monsenhor [Paulo de Carvalho], que é ocioso e deve servir à Casa, que é obrigação que temos os filhos segundos”.110 A baixa rentabilidade do governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão era motivo de angústia para Mendonça Furtado. O cargo não oferecia maiores possibilidades de ganhos, conforme declarou em carta ao padrasto, Francisco Luís da Cunha de Ataíde. Comparando seu posto ao do 4º conde da Ribeira Grande, D. José da Câmara, que retornava a Lisboa do governo dos Açores (1742-1752), disse: “Seja muito bem chegado a essa Corte o conde da Ribeira, e o seu governo sem dúvida era muito mais pingue do que o meu que apenas pode dar para o sustento da casa”, referindo-se às despesas ordinárias.111 A Coroa já havia reconhecido os préstimos de Mendonça Furtado concedendo-lhe o hábito de Cristo em 1751. No ano seguinte, recebeu a mercê da comenda de Santa Marinha de Mata de Lobos, da Ordem de Cristo, encartada no bispado de Lamego. Em gratidão a Sebastião José de Carvalho e Melo “porque em todo o tempo em que se havia empregado [...] no meu Real Serviço tinha feito grande despesa à Casa de seu irmão”, pediu permissão para renunciar à comenda em favor do mesmo e 110–Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 2, pp. 532-534. 111–Ibidem, t. 1, pp. 269. Carta de 6 de novembro de 1752. Para a biografia do 4º conde da Ribeira Grande, ver TORRES, João Romano (ed.). Portugal – Dicionário histórico, corográfico, heráldico, biográfico, bibliográfico, numismático e artístico. Lisboa: s/n, vol. VI, pp. 228. Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, os governos dos Açores, da Ilha da Madeira e de Mazagão, praça abandonada pelos portugueses em 1769, eram claramente aristocráticos. Ver MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Governadores e capitães-mores do império atlântico português no século XVIII”. In BICALHO, Maria Fernanda e FERLINI, Vera Lúcia Amaral (orgs.). Modos de governar: idéias e práticas políticas no império português (séculos XVI-XIX). São Paulo: Alameda, 2005, pp. 104. 118 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) de sua descendência.112 A disposição de favorecer o irmão mais velho era anterior. Em 22 de dezembro de 1751, escreveu-lhe expondo a intenção de “repartir com V.Ex.ª alguns das armadas que fiz” que, possivelmente, aumentariam os rendimentos de uma comenda que Sebastião José havia recebido. Mas o secretário precisaria da dispensa régia para poder se encartar no benefício. A fim de atalhar o expediente, Mendonça Furtado lhe enviaria algumas folhas em branco assinadas para que Sebastião José redigisse a petição necessária. Em contrapartida, pedia que os rendimentos da comenda fossem aplicados nos “muros da Quinta da Serra, porque terei pena que depois de eu ter o trabalho de ajuntar naquele belo sítio uma tão boa fazenda [...], haja de a ver (sic) desmazelada e perdida por falta de um pouco de cuidado”. No ensejo, anunciava a remessa de madeiras para reformas no palacete da Rua Formosa e na Quinta de Oeiras.113 Os carregamentos particulares de madeiras nobres evidenciavam até onde Mendonça Furtado pretendia chegar sem comprometer a sua honra: “Bem que desejara, meu irmão, que este governo, segurando eu a honra e consciência, pudesse render com que ajudasse a nossa Casa, porém aqui não há nada mais do que o soldo, e até as propinas, que tinham os governadores na rematação dos contratos dizimaram, e fica sem outra alguma coisa, e para o governador perder o respeito que deve conservar, e em conseqüência se perder a si, basta aceitar ou interessar-se em negros, porque logo se faz dependente, e tomam confiança com ele, e se lhe atrevem, com que é preciso uma grande circunspecção nesta matéria de transpor112– IANTT. Chancelaria da Ordem de Cristo. Livro 264, fls. 413-413v. Alvará de 25 de maio de 1753. A comenda de fato passou ao usufruto de Sebastião José de Carvalho e Melo, conforme o trecho de uma carta do secretário Pedro da Mota e Silva a Mendonça Furtado, de 1º de junho de 1753: “O negócio da renúncia de Marta de Lobos (sic) está feito, e concluído na forma que V.S.ª pedia a Sua Majestade”. Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 403. No decreto de 28 de julho de 1786, pelo qual D. Maria I autorizou Henrique José de Carvalho e Melo a usar o título de marquês de Pombal (já ostentava o de conde de Oeiras), constava também a mercê da comenda de Santa Marinha de Mata de Lobos, além de outra, de São Miguel das Três Minas, assentada no arcebispado de Braga. IANTT. Ministério do Reino – Decretos (1745-1800). Pasta 39, n.º 74. 113– Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 128. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 119 Fabiano Vilaça dos Santos tes, e como conheço que ambos imaginamos igualmente, se algum dia tivermos o gosto de nos vermos, sem dúvida V.Ex.ª estimará mais ver-me carregado de honra do que de diamantes, com o que, mano, daqui não há esperança de tirar mais do que trabalho e apelar para a sua mesa, para poder comer umas sopas, se Deus quiser levar-me a Lisboa”.114 Provavelmente, não queria que suas ações levantassem suspeitas e justificassem intrigas palacianas: “[...] também me não esqueceu, nem me esquece nunca que, depois que Sua Majestade me fez a honra de nomear-me governador deste Estado, se disse em uma conversação de fidalgos, [...] que os governadores irmãos de secretários de Estado tinham liberdade para fazerem as insolências que quisessem, para fazerem as conveniências que lhe parecessem, e que depois tudo se havia de dar por bem feito”.115 A prática de atividades ilícitas, mormente ligadas ao comércio colonial e ao transporte de mercadorias para Portugal, causou a desgraça de alguns governadores ultramarinos. Segundo Nuno Gonçalo Monteiro, havia certas “liberdades” para o envio de efeitos para a Corte116 – a exemplo das remessas de madeiras por Mendonça Furtado. Em carta a frei Luís Pereira, Mendonça Furtado sugeriu ao seu procurador: “Se Vossa Reverendíssima achar comissário seguro e navio que se obrigue a levar 114– Ibidem, t. 1, pp. 130. 115– Ibidem, t. 1, pp. 341. 116– Cf. MONTEIRO, Nuno Gonçalo. “Trajetórias sociais e governo das conquistas: notas preliminares sobre os vice-reis e governadores-gerais do Brasil e da Índia nos séculos XVII e XVIII”. In FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp. 277. A legislação pertinente à matéria foi atualizada com certa freqüência ao longo do século XVII e primeira metade do XVIII: o alvará de 28 de maio de 1648; as provisões de 27 de janeiro de 1661 e de 27 de fevereiro de 1673; o alvará de 31 de março de 1680; as leis de 29 de agosto, 3 de setembro de 1720 e 13 de janeiro de 1724; as provisões de 23 de abril de 1738, 26 de janeiro e 3 de fevereiro de 1741 proibiam o comércio aos governadores, capitães-mores, funcionários da Justiça, Fazenda e Guerra, sob pena de nulidade e confisco, de acordo com as Ordenações Filipinas (Livro IV, titulo 15º). A exceção ficou por conta da resolução régia de 26 de novembro de 1709 que permitiu aos governadores e demais funcionários a prática do comércio. Cf. LISBOA, João Francisco. Crônica do Brasil colonial: apontamentos para a história do Maranhão. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976, pp. 517. 120 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) a madeira, ouço aqui dizer que bretanhas, chitas, alguns droguetes, berimbaus, alguns vinhos doces, que tudo isto é fazenda que tem consumo pronto. Também me dizem que algumas frasquinhas de água ardente se vendem bem, mas tire Vossa Reverendíssima informação que eu não sou muito prático nestas matérias”.117 Ainda de acordo com Nuno Gonçalo Monteiro, os limites entre o que era permitido – como receber propinas nas arrematações de contratos – e o que poderia ser considerado ilícito eram tênues, o que torna difícil isentar de culpa algum administrador que tenha favorecido a sua Casa com qualquer remessa durante o exercício do governo ultramarino. Mendonça Furtado conhecia o valor da honra e a necessidade de manter respeitável a sua posição. Sabia até onde podia se enveredar em atividades alheias à função governativa ao declarar que bastaria “aceitar ou interessar-se em negros” para se enredar em uma trama que o tornaria vulnerável perante seus governados, pondo em risco toda a confiança que nele fora depositada pelo irmão e pelo rei para conduzir o processo de revitalização das conquistas do Norte. O zelo e a atenção dispensados às propriedades da família continuaram presentes em meio aos negócios públicos. Em extensa carta a Sebastião José de Carvalho e Melo, de 22 de novembro de 1752, após relatar as agruras sofridas em uma viagem pelos sertões em direção a Macapá, Mendonça Furtado expressou mais uma vez a frustração de não poder contribuir para o adiantamento de sua Casa, cuja sucessão recaía sobre seu sobrinho Henrique José de Carvalho e Melo: “[...] bem desejara eu poder concorrer para o aumento da Casa do nosso Henrique, porém este ofício é magro, e apenas me poderá dar para a côngrua sustentação, porque nele não há mais do que puramente o soube, sem alguma outra propina [...]”.118 Mesmo assim, não deixava de mostrar interesse pela educação dos sobrinhos, comentando com gosto uma carta de Henrique José recebida no arraial de Mariuá: “Aqui me escreveu Henrique uma carta em 117–MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 1, pp. 127. 118– Ibidem, t. 1, pp. 320. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 121 Fabiano Vilaça dos Santos francês, a qual estimei infinitamente ver porque, além de ter um excelente trabalho de letra, me consta que cuida em aplicar-se quanto cabe nos seus tenros anos”. Da sobrinha não podia dizer o mesmo: “[...] parece que não é tão curiosa. Lá mando argüir por uma resposta que me deve há um par de anos; veremos a conta que dá de si”.119 Vigilante quanto aos negócios da família, especialmente aqueles em que empregou esforços pessoais e os parcos cabedais que possuía, Mendonça Furtado cumpria à risca seu papel de filho segundo. Nas correspondências com o irmão mais velho, não perdia a oportunidade de se desvencilhar “das matérias de ofício” e “por um breve tempo ter o alívio de conversar [...] em coisas de Oeiras, onde, com a laboriosa vida de feitor, lograva melhor saúde, tinha menos cuidado e maior descanso”. Em 6 de outubro de 1753 confessava-se alegre e satisfeito com as notícias de que o irmão Paulo cuidava bem da Quinta da Serra, “porque foi fundação minha, em que eu trabalhei muito, e com grande gosto fazendo nela despesa a que podia [...], persuadindo-me a que rendia à Casa um grande serviço [...]”.120 As recomendações estendiam-se às vinhas da Quinta do Selão, cujo muro começado devia ser concluído a fim de evitar que as culturas se perdessem com o terreno a servir de pasto para animais invasores. O desejo do capitão-general, ciente de que o governo colonial, embora penoso, poderia se converter em benefícios para si e para a família, era recolher-se àquelas propriedades quando retornasse ao Reino, “exercitando o antigo ofício de fazendeiro em que sempre me fui muito bem”, como se dispensasse qualquer honraria decorrente de seus serviços nas terras amazônicas. Os cuidados de Paulo de Carvalho estenderam-se às plantações de amoreiras na Quinta da Gamela (ou Gramela), na região central de Portugal. Louvando a iniciativa do irmão mais moço, Mendonça Furtado realçou a utilidade para o país e solicitava o envio de sementes da planta 119– Ibidem, t. 2, pp. 749. 120– MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). Op. cit., t. 1, pp. 409-412. 122 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 A Casa e o Real Serviço: Francisco Xavier de Mendonça Furtado e o governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão (1751-1759) ao Pará, no intuito de promover o seu cultivo.121 Em 1755, o monsenhor informou “que se não tem descuidado de Oeiras, e que igualmente se lembra da Gamela” e manifestou a intenção de vincular uma propriedade que recebera como mercê do rei, convidando Mendonça Furtado para “primeiro administrador” do morgado que pretendia instituir. Afetando desinteresse e conformidade diante de sua condição de filho segundo, o capitão-general declarou: “Depois de lhe agradecer a atenção que quer ter comigo, lhe mando perguntar quem lhe dissera que eu queria nunca passar de filho segundo e meter-me a homem rico, quando estou sumamente contente e descansado na certeza de que V.Ex.ª me não há de negar nunca umas sopas e um quarto nas casas da Rua Formosa [...] e liberdade para ir a Oeiras sem o trabalho de me vir ao pensamento que há um palmo de terra em todo o mundo que seja meu; e fiquem os morgados para quem Deus quis que nascessem primeiro, porque eu estou sumamente contente com a minha sorte”.122 Anos depois, o então secretário adjunto do conde de Oeiras dirigiu uma petição ao rei para que todos os seus serviços, desde o início da carreira na Armada Real até o governo do Grão-Pará e Maranhão, fossem revertidos em benefício da Casa de Sebastião José de Carvalho e Melo. Em 18 de julho de 1759, de volta ao Reino, justificou o pleito da seguinte forma: “Pede a Vossa Majestade não por via de remuneração [...] mas sim e tão-somente por grandeza de V.M. [...] e também para que na Casa a que o suplicante deve o nascimento, a educação, e a subsistência, fiquem perpetuadas algumas honradas memórias do seu reconhecimento, que ao mesmo tempo estimulem os sucessores dela [...] visto que o mesmo suplicante nem tem outros sucessores, nem necessita para viver com decência de acrescentar rendas aos emolumentos com que a grandeza de V.M. o tem abundantemente provido para o servir decorosamente”.123 Solteiros e sem filhos, Mendonça Furtado e Paulo de Carvalho con121–Cf. MENDONÇA, Marcos Carneiro de (coord.). A Amazônia na era pombalina..., t. 2, pp. 532-534. 122– Ibidem, t. 2, pp. 748-749. 123–IANTT. Ministério do Reino – Decretos (1745-1800). Pasta 13, n.º 83. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 123 Fabiano Vilaça dos Santos verteram bens e serviços em favor da Casa do irmão mais velho.124 E, por meio de seu requerimento, enunciava um fundamento clássico da nobreza: a “teoria biológica” de La Roque, segundo a qual as virtudes dos ancestrais – conservadas na memória – revestiam de distinção as gerações posteriores.125 Atendendo ao pedido de Mendonça Furtado, D. José I concedeu a Sebastião José de Carvalho e Melo o senhorio da vila de Oeiras, com permissão para apurar as eleições da Câmara, confirmar os vereadores eleitos e fazer nomeações para todos os ofícios camarários, tudo de juro e herdade. As mesmas prerrogativas foram estendidas à vila de Pombal. Duas vidas, além das previstas, foram acrescentadas nas comendas de Sebastião José que passou a usufruir a alcaidaria-mor de Lamego de juro e herdade, com dispensa de três vidas fora da Lei Mental. Várias rendas foram anexadas ao morgado instituído pelo conde de Oeiras “ficando para sempre com a natureza de bens patrimoniais para todos os herdeiros, e sucessores da sua Casa e morgado”.126 Considerações finais A historiografia cristalizou a imagem de Francisco Xavier de Mendonça Furtado como uma espécie de coadjuvante dos planos de recolonização da Amazônia concebidos pelo irmão mais velho. Porém, inserida nos meandros da sociedade portuguesa de Antigo Regime, a relação fraternal permitiu a Mendonça Furtado – na condição de filho segundo que tanto demonstrou conhecer – dar sua contribuição para o engrandecimento da Casa de Oeiras e de Pombal, representada pelo todo-poderoso ministro de D. José I. 124–Cf. MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal..., pp. 3. 125–Cf. RICHET, Denis. “Autour des origines ideologiques lointaines de la Révolution Française: élites et despotisme”. Annales E.S.C., 24 (1), Paris, 1969, pp. 1-23. Ver pp. 9. 126–IANTT. Ministério do Reino – Decretos (1745-1800). Pasta 13, n.º 83. 124 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):75-124, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil Maria Isabel de Siqueira1 Resumo: A preocupação com a conservação/preservação dos recursos naturais esteve sempre presente na relação do homem com o meio sujeito ao seu domínio. A importância que os recursos naturais do Brasil tiveram para a Coroa portuguesa ao longo da conquista e exploração do nosso território estavam relacionados ao desenvolvimento de uma política que o Estado português objetivava para garantir a posse e a manutenção do reino. As Ordenações portuguesas dispõem sobre a importância da madeira para o Estado. A consecução dos objetivos da Coroa portuguesa requereu a elaboração de uma produção legislativa que no período da União Ibérica foi mais intensa para exploração do pau-brasil e, portanto, para o controle da Colônia. Nossa proposta é analisar o Regimento do pau-brasil (1605) para avaliar na política desenvolvida pela Coroa, a dimensão da sua preocupação com a conservação e/ou preservação da natureza. Palavras-chave: conservação e/ou preservação, recursos naturais, cultura. Abstract: The preoccupation with the conservation/preservation of natural resources has always been present in man’s relationship with the environment he controls. The importance that Brazil’s natural resources had for the Portuguese Crown throughout the conquest and exploitation of our territory was related to the development of a policy that the Portuguese State envisaged to guarantee the possession and upkeep of the kingdom. The Portuguese Ordinances regulate on the importance of wood for the State. The accomplishment of the Portuguese Crown’s objectives required the designing of a legislative production, which during the Iberian Union was more intense for the exploitation of Brazil-wood and thus for the control of the Colony. Our aim is to analyze the Brazil-wood Rule (1605) to assess, in the policy developed by the Crown, the extent of its preoccupation with the conservation and/or preservation of nature. Keywords: conservation and/or preservation, natural resources, culture. Atualmente se tem falado e escrito muito acerca da utilização dos recursos naturais e da relação de comunhão que o homem deve manter com a natureza. Isto porque chegamos a uma situação onde o planeta está em crise e a nós cabe a conta apresentada pela natureza em virtude da má utilização dos recursos que ela nos oferece. Entretanto, a preocupação com a conservação ou preservação dos recursos naturais esteve sempre presente na relação do homem com o meio sujeito ao seu domínio. As necessidades de cada sociedade, em diferentes tempos históricos, ditaram as regras para regulamentar o que poderíamos chamar de conservação dos 1 – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Unirio – Doutora no departamento de história. [email protected] R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 125 Maria Isabel de Siqueira recursos naturais com o objetivo de, minimamente, resguardar o meio do qual retiravam as condições da vida.2 É fato que, paralelo ao crescimento das sociedades, do aperfeiçoamento das técnicas e da elaboração do direito que resguarda estas questões, o entendimento da utilização dos recursos da natureza foi sendo gradualmente ampliado. Entretanto, como sabemos que as relações desenvolvidas entre o homem e o meio natural que o cerca até o século XIX pressupunha uma concepção de natureza vista como “objeto, fonte ilimitada de recursos à disposição do homem”3, pretendemos refletir até que ponto as medidas tomadas pela Coroa portuguesa, em relação à exploração dos recursos naturais da sua colônia na América, traduziam a intenção de conservar ou preservar 4 as riquezas naturais disponíveis nestas terras e com que finalidade. Vamos privilegiar a abordagem temática, embora o corte temporal faça referência a períodos específicos, e como trabalhamos com a legislação referente à exploração da madeira do pau-brasil 2 – Cf. MARTINI, A. J. O plantador de eucaliptos: a questão da preservação florestal no Brasil e o resgate documental do legado de Edmundo Navarro de Andrade. Dissertação de mestrado apresentada à pós-graduação em história social da Universidade de São Paulo. Faculdade de filosofia, letras e ciências humanas. Departamento de história, 2004. “Em algumas civilizações da antiguidade encontramos exemplos de leis que se propunham a proteger a natureza, como é o caso da Lei das XII Tábuas (450 a C.) contendo disposições para previnir devastações; na Grécia (século IV a C.) encontramos as referências a punição (pena de morte) aos que ateavam fogo à vegetação e Platão lembra do papel preponderante das florestas como reguladoras do ciclo da água e defensora do solo contra erosão; em Roma (com pena de deportação), Cícero considerava inimigo do Estado aqueles que abatiam as florestas”. 3 – BERNARDES, Júlia Adão & FERREIRA, Francisco Pontes de Miranda. Sociedade e natureza. In: CUNHA, Sandra Baptista da & outro. A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 17. 4 – Em relação à questão da atitude de conservar ou preservar o recurso natural, estamos entendendo a atitude de conservação como a possibilidade de se manejar a espécie para salvá-la da extinção e a atitude de preservação ligada à noção de isolamento, o que poderia resultar em seu desaparecimento. Informamos o site htt:// www.uff.br/geographia/rev_08/ luiz8.pdf para consulta do artigo em 1/12/2008 de VALLEJO, Luiz Renato. Unidades de conservação: uma discussão teórica à luz dos conceitos de território e de políticas públicas. In: Revista Geographia, Rio de Janeiro, v. ano 4, nº 8, p. 77-166, 2003. 126 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil chamamos a atenção que pela abrangência do assunto, o trabalho circunscreveu-se ao processo de produção legislativa e não à sua recepção na sociedade em questão. Preliminarmente consideramos importante observar que no período da expansão comercial e marítima que os europeus vivenciaram a partir do século XV, Portugal tinha interesse em encontrar e explorar as riquezas naturais porque atenderiam às demandas deixadas pela escassez do ouro e da prata5, além da necessidade de reflorestamento para atender às atividades da metalurgia e construção naval. A carta de Pero Vaz de Caminha6 narra o encontro entre os portugueses e os nativos e estes acenavam com a mão em direção à terra e depois para o colar do capitão, como querendo dizer onde encontrariam o ouro. Sabemos que tal percepção não se concretizaria neste momento. Entretanto, as terras encontradas aqui surgiam aos olhos dos portugueses como possibilidades geradoras de riquezas, uma vez que eram terras de extensas florestas de madeira que cobriam uma área de vegetação ocupando, praticamente, todo litoral que ia do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, adentrando um pouco o território.7 Essas matas foram o alvo da exploração dos colonizadores e a madeira do pau-brasil foi reconhecida pelos portugueses como a única mercadoria de valor encontrada no litoral e que, além disso, tinha aceitação no comércio europeu para o tingimento de tecidos8 e a “tinta vermelha era excelente para tingir panos de lã e seda, e se fazer dela outras 5 – SIQUEIRA, M. Isabel de. O direito e o Estado no Brasil filipino: inovação ou continuidade legislativa. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em direito. Universidade Gama Filho, 2001, p.111. 6 Carta de Pero Vaz de Caminha (com estudo de Jaime Cortesão). Rio de Janeiro: Livro de Portugal, 1943, p. 206. 7 – SOUZA, José Bernardino de. O pau-brasil na história nacional. São Paulo: Companhia Editora nacional, 1939, p. 104-107. 8 – SIMONSEN, Roberto C. História econômica do Brasil (1500-1820). 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. p. 52. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 127 Maria Isabel de Siqueira pinturas e curiosidades” 9, como atestavam os cronistas da época. Neste sentido, a exploração do pau-brasil passa a ser de controle “exclusivo” de Portugal: declara-se o monopólio para a extração da madeira e para garantir a posse e a manutenção da colônia desenvolve-se uma política que, objetivamente, requeria o controle legal dessa exploração. Para Fernando Novais10 “a legislação colonial procura disciplinar as relações concretas, políticas e, sobretudo, econômicas” e, para se definir o sentido da colonização europeia no Antigo Regime deve-se ter em conta “a importância das normas legais, pois nelas se cristalizam os objetivos da empresa colonizadora, aquilo a que se visava com a colonização”. Legislar especificamente para determinada riqueza natural pode representar uma atitude voltada para a conservação do recurso natural, mas num contexto de exploração, a devastação e no caso em tela, a da floresta de paubrasil. Esta constatação se insere na conjuntura de exploração das terras americanas pertencentes a Portugal, onde metrópole e colônia estiveram submetidas ao jogo de pressões e contrapressões. A Coroa pressionava para que as vontades particulares não se sobrepusessem aos interesses do rei e os homens envolvidos na conquista e colonização vinham “fazer a América”11 buscando encontrar dentro do sistema12 imposto, um caminho que melhor se adaptasse aos seus desejos. Quer sejam por interesses econômicos ou de outra monta, a preo9 – BRANDÃO, Ambrósio Fernandes (Brandônio). Diálogos das grandezas do Brasil. São Paulo:Melhoramentos, 1977. p. 137. 10– NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1983. p. 58. 11– C.f. CAVALCANTE, Paulo. Negócios de trapaça: caminhos e descaminhos na América portuguesa, 1700-1750. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2006. p. 25-29. 12– C. f. NOVAIS, Op. Cit., p. 58, chama atenção para o fato de que este sistema pode ser visto pelo fenômeno da colonização “resultado do alargamento de expansão humana no globo, pela ocupação, povoamento e valorização de novas regiões, (...) que se dá nas mais diversas situações históricas e que nos Tempos Modernos tal movimento se processa travejado por um sistema específico de relações, assumindo a forma mercantilista de colonização (...). E na p. 144 que este “Antigo Sistema Colonial, na realidade, era parte de um todo, que se explica nas suas correlações com esse todo: o Antigo Regime (absolutismo, sociedade estamental, capitalismo comercial)”. 128 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil cupação com as florestas sempre esteve representada na legislação portuguesa, embora não se possa, pela documentação,13 afirmar que os regulamentos relativos ao corte da madeira eram mais rigorosos. O que podemos observar é que as medidas oscilavam ao sabor das crises de subsistências, das necessidades urbanas ligadas ao comércio da madeira. Neste sentido, do conjunto de medidas que salvaguardaram a produção florestal até o século XVI, a chamada Lei das Àrvores – “Que se plantem árvores para madeira” (1565) - pode ser considerada como o “modelo” da nova legislação florestal do Renascimento, porque denuncia a falta de madeira e lenha em muitos lugares do reino além de dar relevo às necessidades da madeira para as armadas reais e marinha mercante, como pode ser extraído do preâmbulo da referida lei, (...) em muytos lugares de meus reynos há grande falta de madeira & lenha & que por serem estraidos & arrancados matos & cortados em muytas partes, os moradores dos ditos lugares padecem grande detrimento por não terem madeira pera suas casas & edificios & para outras cousas de que tem necessidade (...).14 Resgatando indícios do empenho da Coroa com a causa do desmatamento em Portugal, nas Ordenações Afonsinas há referência a que nas “ditas matas de acoutamento é desejo que não corte madeira, nem lenha...15”; em relação às Ordenações Manuelinas, a preocupação com as queimadas quer sejam para caçar ou para fazerem carvão são explicitadas logo no início, quando encontramos a assertiva “Defendemos que pessoa alguma de qualquer qualidade e condição que seja, não ponha fogo em 13– Cf. DEVY-VARETA, Nicole. Para uma geografia histórica da floresta portuguesa: do declínio das matas medievais à política florestal do Renascimento (séc. XV e XVI). In: Revista da faculdade de letras-geografia. I Série, Vol. I, Porto: 1986, p. 5 a 37. http://ler. letras.up.pt/site/default.arpx?qry=id04id17id2118sum=sim Consulta em 2/12/2008. 14– Cf. DEVY-VARETA, Op. Cit., p. 28. 15– Ordenação Afonsinas. Reprodução fac-similada da edição feita na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1792. 2 ed. Livro I, títulos LXVII, itens. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998, p. 400. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 129 Maria Isabel de Siqueira parte alguma”, 16 penalizando com multas aqueles que põem fogo em qualquer lugar e em relação às Leis Extravagantes 17 – 1546 - proibe-se o corte da madeira nas áreas reais e noutras propriedades, mas permite a exploração “de sobreiros (...) de que tivessem necessidade, não sendo para carvão ou cinza (...)”. No século XVII, as Ordenações Filipinas (1603) – onde está incluída a lei de 1565, pouco alterada –, além de incorporar os regulamentos contidos das ordenações anteriores, faz referência ao reflorestamento em Portugal com a proibição do corte aleatório das árvores resultando em indenizações, açoites e degredo, numa demonstração efetiva com a conservação das árvores frutíferas, como sinaliza o ítem abaixo: O que cortar árvore de fructo, em qualquer parte que estiver, pagará a estimação dela a seu dono em tresdobro. E se o dano que assim fizer nas árvores fôr valia de quatro mil reis, será açoitado e degredado quatro anos para África. E se fôr valia de trinta cruzados e daí para cima, será degredado para sempre para o Brasil.18 Estas legislações, como “formas institucionalizadas e objetivadas são representações que marcam de forma perpetuada a existência da comunidade” 19 demonstrando, por meio das circunstâncias sociais e econômicas, como os monarcas tomavam providências no empenho da proteção das matas, mesmo que estas tentativas legais tenham sido a partir de uma política voltada para atender às demandas de um Estado buscando resolver questões prementes ao seu desenvolvimento. 16– Ordenações Manuelinas. Reprodução fac-similada da edição feita na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1797. Livro V, título LXXXIII: Da pena que averam os que poem foguos. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984, p. 247-251. 17– Cf. DEVY-VARETA. Op. Cit,, p. 28. 18– Ordenações Filipinas. Reprodução fac-similada da edição feita por Cândido Mendes de Almeida, publicada pela tipografia do Instituto Filomático, Rio de Janeiro, em 1870. Livro V, título LXXV – Dos que cortão arvores de fructo ou sovereiros ao longo do Tejo. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1985, p. 1222. 19– VAINFAS, R. O berço da micro-história. Os protagonistas anônimos da história: micro-história. Rio de Janeiro: Campus, 2002, cap. 2, p. 64. 130 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil É neste sentido que podemos entender que a partir do século XV a política de expansão vai modificar a mentalidade dos grandes proprietários que não assentavam suas fontes de rendimento somente sobre a terra, mas também no pastoreio, no comércio e na armação de navios. As recomendações Reais para o plantio das árvores foram mantidos até o período Filipino, aliás momento em que os esforços legislativos visando à proibição dos cortes indevidos e o fogo na mata foram mais intensificados.20 Tanto que, a partir da conjuntura filipina, a preocupação manifestada em Portugal com o desmatamento está registrada no alvará de 1597, para região de Leiria com o reflorestamento e expansão da área arborizada, no alvará de 1598 proibindo os cortes indevidos e o fogo no pinhal da mesma região, no Regimento de 160521 que trata das funções do guarda florestal – aquele que indicaria as árvores que pudessem ser cortadas, além de outras recomendações legislativas durante o século XVII - 1618, 1623, 1630, 1633 etc - que estariam empenhadas, neste particular tempo, em assegurar para o rei espanhol a supremacia da sua frota de guerra e mercantil.22 A política desenvolvida na metrópole em relação à conservação das matas se reproduz aqui na Colônia. O mesmo rei governa os dois Estados e verifica-se a preocupação dos filipes, seja por quais forem razões, com a questão do desmatamento. Portanto, um momento importante para a América portuguesa – o período Filipino – porque temos a elaboração do Regimento de 160523 que pode ser considerado como a primeira intenção 20– Cf. DEVY-VARETA, Nicole. Para uma geografia histórica da floresta portuguesa: do declínio das matas medievais à política florestal do Renascimento (séc. XV e XVI), p. 36. http://ler.letras.up.pt/site/default.arpx?qry=id04id17id2118sum=sim. 21– Cf. DEVY-VARETA, Nicole. Para uma geografia histórica da floresta portuguesa: do declínio das matas medievais à política florestal do Renascimento (séc. XV e XVI), p. 33. http://ler.letras.up.pt/site/default.arpx?qry=id04id17id2118sum=sim. 22– Cf. DEVY-VARETA, Nicole. Para uma geografia histórica da floresta portuguesa: do declínio das matas medievais à política florestal do Renascimento (séc. XV e XVI), p. 37. http://ler.letras.up.pt/site/default.arpx?qry=id04id17id2118sum=sim. 23– Regimento do pau-brasil, de 12.12.1605. In: MENDONÇA, M. C. de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Conselho Federal de Cultura, 1972. t. 1, p. 363. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 131 Maria Isabel de Siqueira em ordenar a exploração da madeira do pau-brasil aqui na Colônia. Resta sabermos se o olhar do legislador estava centrado numa perspectiva de conservação ou de preservação da mata e por que? A legislação representando, na perspectiva de Chartier, o discurso do rei é uma das modalidades em que podemos apreender a maneira como ela afetou a sociedade e a conduziu a uma nova compreensão do mundo à sua volta. Temos uma Coroa interessada em controlar a exploração desordenada da madeira porque a saída do pau-brasil, sem controle, causava danos à Fazenda Real e ao comércio e uma sociedade que dependia da estrutura da exploração da terra e que muitas vezes reagia porque não recebia a parte que lhe cabia. Neste sentido, buscamos a interação do domínio socioeconômico com o ambiente natural e as relações sociais que resultam desta interação para descobrir as configurações do poder que, por meio das leis, dialogam grupo e natureza.24 Existem semelhanças guardadas em relação aos documentos que serviram ao ordenamento anterior da Colônia em relação ao do período Filipino. A análise destes documentos25 nos revela a intenção do legislador que, expressamente, ordena “guardar e conservar o pau-brasil e não queimar as florestas” (1534), “explorar com menos prejuízo à terra” (Regimento de 1549, item 34). Observamos que a intenção e a palavra conservar vai se repetir no Regimento de 1605 quando o rei, no preâmbulo do regimento, demonstra a sua preocupação não só com as “desordens que há no sertão do pau-brasil e na conservação dele”, “respeitar o estado das matas, não retirando mais do que convém” (ítem 7) e o cuidado no corte para as árvores brotarem novamente” (ítem 8) ressaltando uma continui24– Cf. WORSTER, D. Para fazer história ambiental. In: Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8, 1991, p. 198-215. DRUMOND, J. Augusto. A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8, 1991, p. 177-197, DUARTE, Regina Horta. História e Natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 25– Cf. Refiro-me à Carta de Doação, ao Foral e ao Regimento de Tomé de Souza In: SIQUEIRA, M. Isabel de. O direito e o estado no Brasil Filipino: inovação ou continuidade legislativa. Tese de doutorado, 2001. 132 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil dade legislativa em relação à exploração da madeira. 26 Outro exemplo revelador da intenção de conservar a mata é o da advertência que o rei faz ao então governador-geral Diogo Botelho (1603-1608) ao tomar ciência da existência de matas de pau-brasil em Ilhéus e Porto Seguro: “(...) fica advertido (...) [e] vos encomendo muito que o dito pau se guarde e conserve nas ditas matas, se não danifique nem corte, sob as penas que vos parecer.” 27 Neste sentido, a proposta de conservar vem ao encontro do que estamos entendendo como conservação do recurso natural, uma vez que se a preocupação do rei é com a utilização da madeira para fins de mercado e ele ordena que se tenha cuidado no corte para que elas voltem a brotar novamente, então a utilização da palavra é no sentido de se manejar a espécie para salvá-la da extinção. Além do que, a reiteração da norma demonstra pouca eficácia da determinação anterior, o que neste caso facilita a nossa percepção em relação à preocupação com a conservação – impedir que se acabe ou deteriore – que tinha um endereço certo visando à manutenção da exploração. As diferenças em relação aos documentos anteriores são marcadas pela minuciosidade legal realçada no Regimento de 1605 por meio dos procedimentos para a exploração da madeira. Nas concessões para a extração do pau-brasil, o rei ordenava uma melhor avaliação por parte das autoridades locais para exploração da madeira e não mais a concessão ser mandada diretamente da Coroa. (...) A dita repartição do pau que se há de cortar em cada Capitania (...) se terá respeito do estado das matas de cada uma das capitanias, para lhe não carregarem mais, nem menos pau do que convém, para benefcio das ditas matas (...). 28 (...) Hei por bem e mando, que nenhuma pessoa possa cortar, nem 26– Cf. SIQUEIRA, M. Op. Cit., p. 364. 27– Correspondência de Diogo Botelho. Carta de 20.10.1606. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 73, parte 1, 1910, p. 34. 28– Regimento do pau-brasil, de 12.12.1605. In: MENDONÇA, M. C. de. Raízes da formação administrativa do Brasil, t. 1, item 7, p. 364. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 133 Maria Isabel de Siqueira mandar cortar o dito pau brasil (...) sem expressa licença, ou escrito do provedor-mor de minha fazenda, de cada uma das capitanias, em cujo distrito estiver a mata (...). 29 O dito provedor-mor para dar a tal licença, tomará informação da qualidade da pessoa que lhe pede; e se dela há alguma suspeita que o desencaminhará (...). 30 Estes itens do Regimento demonstram que estando o rei distante não poderia ter a percepção clara das condições propícias para a extração, daí deixar a cargo da autoridade local o desempenho e a incumbência de tocar a exploração. O que garantia que a autoridade colonial entenderia como “melhor avaliação” para efetivação do negócio? Explorar conservando foi o objetivo da política desenvolvida pela Coroa nos onze artigos do regimento do Pau-brasil. Isto fica claro nas normas que se referem ao corte, à quantidade e ao tempo, que deveriam ser rigorosamente observadas. É fato que para desenvolver uma política de conservação da mata de pau-brasil, a Coroa fixou normas rígidas probindo os cortes que impediam as árvores de florescerem e os roçados provenientes das queimadas, permitindo ao julgador penalizar aos que desobedecessem as regras, conforme o seu parecer. (...) uma das cousas que maior dano tem causado nas ditas matas, em que se perde e destrói mais paus (...) e porque outrossim sou informado, que a causa de se extinguirem as matas dos dito pau, como hoje estão, e não tornarem as árvores a brotar, é pelo mau modo com que se fazem os cortes (...) Mando que daqui em diante se não façam roças em terras de matas (...) e serão para isso cortadas com todas as penas, e defesas que têm estas coutadas reais e que nos ditos cortes se tenham muito tento à conservação das árvores, para que tornem a brotar, deixando-lhes varas e troncos (...) e os que o contrário fizerem, serão castigados com as penas que parecer ao julgador. 31 29– Idem, p. 363. 30– Idem, p. 363. 31– Idem, p. 364-365. 134 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil Uma posição de vanguarda quanto à preocupação com o desmatamento da floresta, se bem que a intenção era resguardar a matéria-prima para a exploração. Entretanto, em termos gerais, a própria norma dificultava o cerceamento da desobediência na medida em que ficava a critério do julgador o tipo de sanção a ser aplicada. Esta prerrogativa nos leva a refletir sobre a possibilidade de haver proteção na aplicação da sanção aos que descumprissem a determinação da norma, levando ao que denomina-se de descaminho. Ainda, dentro desta perspectiva, visando a impossibilitar o desvio do que constava no contrato, determinava-se que as autorizações fossem anuais, entendendo que incidiria sobre a desobediência o mesmo tipo de sanção. Para que não se corte mais quantidade de pau da que eu tiver dada por contrato (...) Mando que em cada ano se faça repartição da quantidade do pau que se há de cortar em cada capitania (...). 32 Conservação das matas? Pode ser, mas o que estava em jogo era o comércio do pau-brasil e se coibir o contrabando que seria danoso ao próprio comércio. Portanto, no contrato de exploração tratou-se de estipular a quantidade de árvores a serem cortadas, existindo medidas prevendo a penalização dos que cortavam madeira a mais e que não deveria exceder a cem quintais. Uma vez que estas sanções variavam de acordo com o status social do indivíduo, seria fatal para o infrator, fosse qual fosse a sua condição social, exceder o corte do pau-brasil na quantidade estipulada como teto. E toda pessoa que tomar mais quantidade de pau de que lhe for dada licença, além de o perder para a minha fazenda, se o mais que cortar passar de dez quintais, incorrerá em pena de cem cruzados, e se passar de cinquenta quintais, sendo peão, será açoutado, e degradado, por dez anos para Angola, e passando de cem quintais morrerá por ele e perderá toda a sua fazenda. 33 A intenção de se acabar com a exploração aleatória da madeira e a 32– Idem, p. 364. 33– Op. Cit., p. 70 - 110. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 135 Maria Isabel de Siqueira devastação da mata está prevista na repartição das licenças, feitas pelo governador 34 e pela obrigatoriedade de se entregar ao contratador toda a quantidade de madeira declarada na obtenção da licença. 35 Por fim, a tentativa para se evitar o descumprimento da lei era prevista na devassa anual do corte da madeira 36 e com a presença de dois guardas nos locais de extração nas matas, nomeados pela Câmara e aprovados pelo provedor. 37 O que estaria por trás de uma legislação tão detalhista? O resultado da exploração sem critérios levou à rápida decadência e ao esgotamento de algumas florestas. Juntamente com a cana-de-açúcar, a madeira continuou representando lucro rápido para a Coroa. Tanto que desde o Regimento de 1549 o legislador preocupava-se em proteger os interesses de Portugal evitando a devastação ordenando que explorasse “com menos prejuízo à terra que se puder” e na correspondência de Filipe III (15981621) ao governador Botelho é reiterada a preocupação com a menção da conservação das matas de pau-brasil, ao advertir que “(...) vos encomendo muito que o dito pau se guarde e conserve nas ditas matas, se não danifique nem corte (...)”. 38 O contexto colonial continuava permeado por prejuízos decorrentes não só do descaminho 39 do pau-brasil, mas também da má utilização do solo o que acarretava baixa nos lucros da metrópole, além de ser danoso ao próprio comércio, já mencionado anteriormente. Em outra correspondência enviada pelo rei ao governador Diogo Botelho, em 1607, o monarca avisa a existência de navios saídos da Holanda em direção a Ilhéus com a intenção de buscarem o pau-brasil, além de denunciar a traição de um funcionário – o provedor da fazenda de Ilhéus, Bernardo Ribeiro. E, mais uma vez temos a oportunidade de perceber na documentação a in34– MENDONÇA. Op. Cit., p. 364. 35– Idem, p. 363. 36– Idem, p. 365. 37– Idem, p. 365. 38– Correspondência de Diogo Botelho. Op. Cit., p. 34. 39– Cf. CAVALCANTE, Paulo. Op. Cit., p. 36. 136 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil tenção do monarca em resguardar a exploração para a Coroa e intimidar o descaminho da madeira. (...) E se avisa que (...) saíram de Texel, lugar da Holanda, uma nau e um patacho mui grande e duas lanchas mui grandes no intento de irem à capitania dos Ilhéus, onde se diz que se tem descoberto pau, e que um Bernardo Ribeiro, que serve de provedor da fazenda dessa cidade foi à dita capitania e fez quantidade do dito pau e a faz em parte onde os inimigos o possam tomar (...).40 A importância econômica do pau-brasil para o reino é encontrada na recomendação e na exigência da aplicação das normas relativas à sua exploração nos regimentos dados aos governadores gerais. No regimento de Gaspar de Souza (1613-1617) 41 recomenda-se, mais uma vez, a conservação das matas não só para a manutenção dos engenhos, mas também para utilização nos navios, além do não assentamento de aldeias indígenas próximas aos engenhos de açúcar porque os roçados tornariam as terras improdutivas, chegando-se a afirmar a preferência por menos engenhos para que se pudesse ter mais àrvores e madeira, “(...) porque muito mais importará menos engenhos com lenha bastante, que haver mais com falta dela e consumir-se de maneira que venha a faltar a todos e perder-se tudo (...)”.42 Fica claro o que transparece na legislação – a preocupação com a conservação das áreas naturais da madeira do pau-brasil –, ou seja, utilizar a espécie sem que ela se acabe. O que impulsionou Portugal a adotar uma política de conservação das matas foi a necessidade de reflorestamento para atender as atividades da metalurgia e construção naval, embora não se possa afirmar que os regulamentos relativos ao corte da madeira eram mais rigorosos uma vez que oscilavam ao sabor das crises de subsistências, das necessidades urbanas ligadas ao comércio da 40– Correspondência de Diogo Botelho, de 17.03.1607. In: Revista do IHGB, t.73, parte 1, 1910. p. 12-13. 41– Regimento de Gaspar de Souza. In: MENDONÇA, M. C. de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB, t. 1, p. 413-436. 42– Idem, p. 426. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 137 Maria Isabel de Siqueira madeira. Embora, no início da colonização da América portuguesa, dos contratos de arrendamento do pau-brasil não constarem cláusulas que expressassem a conservação da madeira, a preocupação acerca desta ação parece ter iniciado a partir das Cartas de Doação e do Foral. Contudo, as marcas da devastação das florestas eram o resultado de uma exploração aleatória e rudimentar. Na tentativa de reverter os danos causados pelos exploradores e assegurar o lucro da exploração para a Coroa, elaborouse um regimento específico que, mesmo tendo que enfrentar o risco da escassez, organizou a extração, consolidando a legislação. Coube a Filipe da Espanha esta proeza de sistematizar esta legislação sendo vista como a primeira tentativa oficial de conservar a mata atlântica, “não para fins conservacionistas, mas para exploração comercial racional”. 43 Conservar para explorar foi o objetivo da política desenvolvida pela Coroa nos onze artigos do Regimento do Pau-brasil e esta política foi reforçada pela intenção de Portugal proteger aqueles que trabalhavam em prol do seu erário. Estamos nos referindo ao privilégio concedido, aos que por força contratual exploravam a madeira, de responder por todo e qualquer delito em juizado especial – a Conservatória do Pau-brasil (1635) – , mas esta realidade não é objeto desta investigação. Referências Bibliográficas Fontes impressas Carta de Pero Vaz de Caminha (com estudo de Jaime Cortesão). Rio de Janeiro: Livro de Portugal, 1943. Correspondência de Diogo Botelho. Carta de 20.10.1606. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, t. 73, parte 1, 1910. Correspondência de Diogo Botelho, de 17.03.1607. In: Revista do IHGB, t.73, parte 1, 1910 Ordenações Afonsinas. Reprodução fac-similada da edição feita na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1792. 2. ed. Livro I, título 43– WEHLING, A. O Estado no Brasil filipino: uma perspectiva de história institucional. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: a. 166, n. 426, p. 43. 138 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Conservação ou preservação das riquezas naturais na América portuguesa: o regimento do pau-brasil LXVII. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998. Ordenações Manuelinas. Reprodução fac-similada da edição feita na Real Imprensa da Universidade de Coimbra, no ano de 1797. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984. Livro V, título LXXXIII. Ordenações Filipinas. Reprodução fac-similada da edição feita por Cândido Mendes de Almeida, publicada pela tipografia do Instituto Filomático, Rio de Janeiro, em 1870. Livro V, título LXXV – Dos que cortão arvores de fructo ou sovereiros ao longo do Tejo. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1985, p. 1222. Regimento de Gaspar de Souza. In: MENDONÇA, M. C. de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB, 1972, c. 1. Regimento do pau-brasil, de 12.12.1605. In: MENDONÇA, M. C. de. Raízes da formação administrativa do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Conselho Federal de Cultura, 1972, t. 1. Obras Consultadas BERNARDES, Júlia Adão & FERREIRA, Francisco Pontes de Miranda. Sociedade e natureza. In: CUNHA, Sandra Baptista da & outro. A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. BRANDÃO, Ambrósio Fernandes (Brandônio). Diálogos das grandezas do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1977. CAVALCANTE, Paulo. Negócios de trapaça: caminhos e descaminhos na América portuguesa, 1700-1750. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2006. DEVY-VARETA, Nicole. Para uma geografia histórica da floresta portuguesa: do declínio das matas medievais à política florestal do Renascimento (séc. XV e XVI). In: Revista da Faculdade de LetrasGeografia. I Série, Vol. I, Porto: 1986, p. 5 a 37. http://ler.letras.up.pt/site/ default.arpx?qry=id04id17id2118sum=sim. Consulta em 02/12/2008. DUARTE, Regina Horta. História e Natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. DRUMOND, J. Augusto. A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisa. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro: vol. 4, n. 8, 1991. MARTINI, A. J. O plantador de eucaliptos: a questão da preservação florestal no Brasil e o resgate documental do legado de Edmundo Navarro de Andrade. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 139 Maria Isabel de Siqueira Dissertação de Mestrado apresentada à pós-graduação em história social da Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de História. São Paulo: USP, 2004. NOVAIS, Fernando Antônio. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1983. S imonsen , Roberto C. História econômica do Brasil (1500-1820). 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. SIQUEIRA, M. Isabel de. O direito e o Estado no Brasil Filipino: inovação ou continuidade legislativa. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em direito. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 2001. SOUZA, José Bernardino de. O pau-brasil na história nacional. São Paulo: Companhia Editora nacional, 1939. VAINFAS, R. O berço da micro-história. Os protagonistas anônimos da história: micro-história. Rio de Janeiro: Campus, 2002. WEHLING, A. O Estado no Brasil filipino: uma perspectiva de história institucional. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: a. 166, n. 426. WORSTER, D. Para fazer história ambiental. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro: vol. 4, n. 8, 1991. 140 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):125-140, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Astronomia na Pré-história da Bahia Fernando Bonetti Tavares1 Maria Beltrão2 Resumo: Esta nota trata basicamente de arqueoastronomia, ramo da astronomia e da arqueologia que busca desvendar a função que os astros desempenhavam no cotidiano dos povos antigos e préhistóricos. A discussão se desenvolve a partir das considerações sobre três sítios arqueológicos com arte rupestre, localizados na Bahia: Toca do Tapuio, Toca dos Índios e Toca do Pintado. Os dois primeiros são raros exemplares de gravuras. Apenas a Toca do Pintado corresponde à uma manifestação de pintura. Há um grande descompasso na arte rupestre brasileira, de vez que é muito maior o número de trabalhos relativos às pinturas rupestres do que às gravuras. As analogias entre os sítios foram propostas por Fernando Bonetti Tavares, enquanto Maria Beltrão apresenta argumentos em favor de sua autoria por ancestrais do tronco Macro Jê. Palavras-chave: Arqueoastronomia, Gravuras e Pinturas Rupestres, Macro Jê. Abstract: This note is basically about archaeoastronomy, a branch of Astronomy and Archaeology, which seeks to disclose the role of astros in the ancient and pre-historical people daily life. The discussion is developed from considerations about three archaeological sites, with Rupestrian Art, in Bahia: Toca do Tapuio, Toca dos Índios e Toca do Pintado. The first two are exceptional engraving manifestations. Only the third one corresponds to painting. A large unbalance can be observed in the Brazilian Rupestrian Art, once there are many more studies related to the Rupestrian painting than to Rupestrian engravings. The analogies comparing the sites were proposed by Fernando Bonetti Tavares. Maria Beltrão presents arguments in favor of ancestors from the Macro Jê branch, as the authors of these Rupestrian Art manifestations. Keywords: Archaeoastronomy, Rupestrian Engravings and Paintings, Macro Jê. Introdução A denominação “arte rupestre” corresponde a uma designação mais ou menos genérica de toda manifestação artística que utiliza a rocha como suporte. Ela engloba desenhos, esculturas, pinturas e gravuras que, longe de “uma arte pela arte”, constitui, de fato, o instrumento das crenças mágicas na arte das cavernas, e o meio de registrar e comunicar realidades objetivas, nas manifestações de cunho esquemático concrecionadas ao ar livre. Em sua obra Ensaio de arqueologia, uma abordagem transdiscipli1 – Pesquisador em arqueoastronomia. Pesquisador associado ao Projeto Central, BA. 2 – Diretora de projetos especiais do IHGB. Professora-titular associada ao deptº de Geologia e Paleontologia da UFRJ. Pesquisadora sênior do CNPQ. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 141 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão nar, Beltrão propõe uma série de significados possíveis, além, claro, da concreção artística em si. Segue-se a exposição, na forma de tópicos: - como forma de comunicação ideográfica (através dos símbolos); - como regras ecológicas (inferidas dos rituais ligados à caça: animais que não deveriam ser caçados); - como representativas de prescrições e restrições sociais e religiosas; - como conhecimentos astronômicos (complexos e insuspeitados); - como práticas mágico-religiosas; isto é, como uma forma do homem ver o universo e nele se inserir; - como reveladoras de antigos movimentos migratórios. No presente trabalho, nos deteremos, em especial, nas imagens associadas à observação dos céus e dos astros, e a eventos de ordem astronômica. Como elemento de importância para a análise do tema (astronomia), abordaremos contemporaneamente um possível sistema de contagem presente nos três sítios citados. Arqueoastronomia Desde os tempos mais remotos, o ser humano vem experimentando uma irresistível atração pelos céus e pelos astros que neles habitam. E, assim, a princípio por curiosidade e, depois, motivados por uma razão de ordem prática, dedicaram-se com tal afinco à observação dos céus que nem uma só cultura, aparentemente, se eximiu desses registros. Ao contrário, entre as comunidades primevas, a astronomia parece ter constituído componente essencial da vida cotidiana, associando-se de forma indissolúvel às tradições míticas e religiosas daquela gente. No mundo de hoje, um número cada vez mais expressivo de especialistas vem chamando a atenção para o surpreendente nível de precisão verificado no registro de astros, ciclos e fenômenos astronômicos, não somente entre as civilizações antigas, mas também no seio de comunidades ágrafas que, em certos casos, não haviam sequer emergido da condição de caçadores e coletores, anárquicos predadores da natureza. 142 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia De fato, já não causa surpresa constatar que a grande pirâmide de Quéops, orientada segundo a Estrela Polar, antes de se ver transformada em monumento funerário pela soberba de algum faraó pretensioso, consistia o suporte para registros de ordem matemática e astronômica. A cada dia, no entanto, acrescem as notícias de registros similares no âmbito de comunidades líticas. Estas notícias induzem à constatação de que a construção das pirâmides e do complexo de Stonehenge representavam a maturidade de um saber que tinha seus fundamentos num período até então não vislumbrado pelos estudiosos. A prova mais antiga destes registros foi obtida pelo pesquisador americano Alexander Marshack, que identificou o registro de lunações na superfície de ossos colhidos na localidade de Blanchard, França. Ao analisar os ossos, que datavam de 30 mil anos, contou sessenta e nove sinais em espiral, entre os quais se distinguiam formas de foice, feijão e uma moeda. Não foi difícil reconhecer na progressão espiralada das figuras a evolução dos aspectos da Lua, ao longo de uns tantos meses. Fenômenos desta classe passaram a ser melhor identificados com o advento da arqueoastronomia, na década de 70. Em gênero, podemos dizer que, a princípio, a arqueoastronomia se preocupa em identificar os corpos celestes – Sol, Lua, estrelas e constelações, principalmente – no âmbito de desenhos, pinturas e gravuras concretizadas pelos grupos préhistóricos que viveram nos sítios em questão. E, num segundo momento, objetivava-se a relação destes astros com dados cíclicos, como solstícios, equinócios e demais fenômenos celestes. Em outras palavras, ela estuda a relação entre a posição dos astros e a disposição dos elementos de referência, sejam eles o pórtico de um templo, um pilar de pedra ou uma gravura. A propósito, o astrônomo Rundsthen Nader, do Observatório do Valongo, Rio de Janeiro, expõe que, entre as áreas melhor estudadas na pesquisa arqueoastronômica, acham-se as estruturas megalíticas e construções ritualísticas e seus aparentes alinhamentos ou associações com fenômenos astronômicos. E um dos maiores complicadores na análise da R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 143 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão arqueoastronomia, no Brasil, se deve ao fato de não termos construções como em outros pontos do planeta. O que temos resume-se, basicamente, a pinturas e gravações feitas em rochas, o que dificulta a tentativa de compreensão do significado das imagens. Em vista destas condições, propõe o citado astrônomo que tomemos todo cuidado ao oferecer uma interpretação para o objeto da nossa observação e que evitemos sempre nos mostrar taxativos sobre a análise de uma pintura ou gravura. Foi em atenção a tal critério que nos propusemos a oferecer a nossa contribuição em relação aos sítios citados da Chapada Diamantina, Bahia. À sua vez, propõe a arqueóloga Maria Beltrão: A arqueoastronomia é um campo de estudo que tem oferecido significativas contribuições que permitem vislumbrar uma parcela da cultura imaterial dos indivíduos que viveram no período pré-histórico. Assim sendo, representações de fenômenos astronômicos podem estar associadas a signos que aparentemente têm sua origem em imagens tiradas do céu; porquanto mesmo que os sentidos respondam a fenômenos reais, as sensações, sejam visuais e/ou auditivas, são transpostas do mundo real para o da mente. Até o momento, as figuras que melhor têm se prestado à busca de uma identificação de convenção são as representações de animais e as celestes, como Sol e Lua, talvez por serem de natureza e identificação mais fáceis. Com imagens que vão da expressão naturalista à esquemática, passando por praticamente todos os estilos, inclusive o filiforme, as representações de lagartos, por exemplo, são encontradas também em associações regulares a imagens e ou eventos astronômicos.3 Gerardo4 descreve de forma fascinante o significado atribuído pelos nossos indígenas aos astros. Revela como estes têm influência na sua or3 – BELTRÃO, Maria. Ensaios de arqueologia: Uma abordagem transdisciplinar. Rio de Janeiro: Zit Gráfica e Editora, 200, p. . 4 – REICHEL-DOMATOFF, Gerardo. Desana: Simbolismo de los índios Tukano del Vaupés. Bogotá: Procultura, 1986, p. 166. 144 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia ganização social e no seu imaginário: Aquelas facetas do espaço celeste que são de imediata importância para os índios referem-se tanto a relações estáveis, tais como os contornos de certas constelações, quanto a relações dinâmicas, como aquelas que existem entre os corpos celestes. Estas referemse principalmente a relações de mudança entre o Sol, a Lua e os planetas maiores e às mudanças de posições da Via Láctea. Esses espaços fixos e órbitas fixas são muito importantes para os índios que vêem neles um conjunto de princípios de ordem, de organização. Pela mesma razão, qualquer dissonância nessa harmonia celeste é pensada como nociva. Eclipses, cometas, meteoritos, estrelas cadentes e conjunções planetárias são muito temidos porque são pensados como um espelho de condições calamitosas que existem em algum lugar dessa Terra. Dissonâncias não predizem eventos que virão, ao invés, elas apontam para disfunções que de fato estejam ocorrendo na sociedade humana ou na natureza. A observação de disfunções celestes é, portanto, um procedimento de diagnóstico. Astronomia nativa não é muito envolvida com predição astrológica, mas sim com o aprendizado de leitura do céu que espelha esse mundo; o céu deve ser escrutado em todo detalhe porque ele é um mapa e um espelho da natureza. O que importa é a leitura correta, uma vez que o céu não é somente um modelo para a tenacidade do homem dessa terra, mas também um guia para o desenvolvimento espiritual e a integração moral. Festas tapuias O importante papel da astronomia no cotidiano dos nossos indígenas, mostrando como realizavam estas observações, que influenciavam a sociedade, materializando tais observações de modo a deixar vestígios na própria organização social, pode ser aquilatado, de certa forma, através do relato que se segue. Depois de um século de catequese com os tupi do litoral, jesuítas e capuchinhos chegaram entre os “tapuia” do sertão, no séc. XVII, esperando um “conhecimento vago e confuso” de Deus, a poderosa ação de satã, mediante os “rituais gentílicos” e a presença de “feiticeiros”, os “maiores R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 145 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão contrários” dos padres, conforme expressão de Nóbrega. Segundo a Carta do P. Jacobus Cocleus ao p. Geral Oliva, datada de 1673, os “feiticeiros” eram principalmente adivinhos e profetas, prognosticando boa ou má caça, chuva ou estiagem, morte e vida; mais do que objeto de crença, Varakidzan (Varakidran, Arachizâ, Erachisam, conforme fontes) é objeto de culto: ele é o grande protagonista da maior festa celebrada pelos “tapuia”. Segundo tais fontes estas celebrações relacionavam-se a uma festa de “renovação” ligada aos ciclos astrais determinados por Órion e as Plêiades. “Chamam um outro filho de deus Ken BaBaré e outro Varikidzan, que festejam (solemnem faciunt) todo ano, ou a cada seis meses com um rito ou jogos de oito dias”.5 Sobre etnoastronomia Mostra-se igualmente ilustrativo o relato do capuchinho francês Claude D’Abbeville (1614), que participou da frustrada tentativa de se criar uma França equinocial no Norte do país. Com relação aos indígenas que habitavam a Ilha do Maranhão e suas adjacências, ele esclarece que: Poucos entre eles desconhecem a maioria dos astros e estrelas de seu hemisfério; chamam-nos a todos por seus nomes próprios, criados pelos seus antepassados (...). Observam também o curso do Sol, a rota que segue entre os dois trópicos, como seus limites e suas fronteiras que jamais ultrapassa; e sabem que quando o Sol vem do pólo ártico traz ventos e brisas e que, ao contrário, traz chuvas quando vem do outro lado, em sua ascensão para nós. Contam perfeitamente os anos com doze meses como nós fazemos, pelo curso do Sol indo e vindo de um trópico a outro. Eles os reconhecem também pela estação das chuvas e pela estação das brisas e dos ventos.6 5 – POMPA, Cristina. Cartas do Sertão: a catequese entre os Kariri no século XVII. In: Revista ANTHROPOLÓGICAS, 2003, vol. 14. 6 – D’ABBEVILLE, Claude. História da Missão dos padres capuchinhos na ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Livraria Martins, ed., 1945. 146 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia O padre capuchinho quantifica em trinta e dois o número de astros e constelações que habitavam os céus da cosmologia daqueles antigos habitantes da região. A título de fonte referencial, analisaremos, nesta breve nota, apenas três constelações citadas por várias etnias indígenas: • Criçá, que significava Cruz à constelação por nós conhecida como Cruzeiro do Sul, que costumavam representar com apenas quatro estrelas, excluindo a nossa Intrometida. Entretanto, ela se fazia acompanhar sempre das estrelas α e β de Centauro; • Uènhomuã, que correspondia a uma constelação cuja forma recordava o Guaiamun ou Lagostim, e que se identifica com o nosso Escorpião; • Nhandutim, que correspondia na forma ao Nhandú, mais conhecido por Ema, a maior das aves brasileiras. Na representação da constelação, a Ema vem sempre acompanhada dos “dois ovos” (duas estrelas) por eles chamados de Uirá-upiá. A constelação da Ema não tem correspondente no nosso zodíaco. Toca do Tapuio e Toca dos Índios No caso específico das tocas do Tapuio e dos Índios, parece haver um complexo cultural organicamente inter-relacionado (uma cosmologia própria e comum). Uma das características marcantes é a existência, em ambos os sítios, do que aparenta ser uma escrita numérica ou um sistema de contagem. O dado leva-nos a concluir por uma forma de escrita linear concatenada com o fluxo temático de forma aparentemente lógica. Sobretudo na Toca do Tapuio, observamos um registro bastante distinto de outros remanescentes de arte rupestre. Diferente dos demais, em que visualizamos figuras isoladas, dispostas aleatoriamente num painel ou por vezes pequenas cenas, a impressão que permanece é que na Toca do Tapuio houve um planejamento para a composição de todo o ambiente. Em poucas palavras, o que o sítio nos mostra é a cobertura de toda a R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 147 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão gruta, de cima a baixo, de um lado a outro, como se estivéssemos diante de uma narrativa com começo, meio e fim; uma linguagem regida por uma lógica própria. Os dois sítios estão localizados no município de Caetité (BA), mais exatamente na bacia hidrográfica do rio do Gentio ou Grande, bacia formada pelas serras de Santa Isabel e do Ouro; a distância entre os dois sítios é de aproximadamente quatro quilômetros. Abaixo uma tabela comparativa das características dos sítios: Toca do Tapuio Toca dos Índios Caatinga e caatinga arbustiva (Gerais) Microbacia hidrográfica do rio do Gentio ou Grande Gruta à meia encosta, com córrego nas proximidades, na planície. Abrigo em cânion estreito, hoje pouco iluminado e com córrego seco. Gravuras em baixo-relevo, pintadas em vermelho conservado em pequena parte da gruta. Gravuras em baixo-relevo, profusamente pintadas, com sobreposição do vermelho sobre o preto. Grau de integridade em cerca de 40% Grau de integridade em cerca de 90% Não há sedimentos do piso recobrindo as gravuras Sedimentos do piso recobrem algumas das gravuras Amplitude visual em relação ao céu: horizontal = 180°, vertical = 90°. Gruta voltada para o norte Amplitude visual em relação ao céu: Horizontal = 160°, vertical = 45° Abrigo voltado para sudoeste Formação arenítica Serra do Espinhaço Toca do Tapuio Toca dos Índios Altitude 910 m. Altitude 875 m. Gruta com 14,4 metros de profundidade, em forma de corredor, painel principal com 7,1 m de extensão Abrigo com 9,00 metros, painel principal em concavidade com 6,00 m A vegetação não impede o acesso ao sítio (pouco íngreme). Acesso íngreme dificultado pela vegetação nativa. Suporte do painel originalmente preparado Sulcos feitos por abrasão. Profundidade dos sulcos = 0,5 >1,5 cm. 148 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Em ambas as tocas, fica evidente que o suporte foi previamente preparado (alisado) antes de receber as incisões, que foram promovidas por uma técnica de fricção, delineando os sulcos em perfil de “meia-cana”. A característica porosa da rocha arenítica deve ter orientado a opção do artista pelas gravuras, que foram realçadas, à sua vez, com a aplicação de tinta mineral, denotando, possivelmente, a sua preocupação com a perpetuação dos grafismos. O sistema de contagem Uma das características marcantes verificadas nos sítios pesquisados é a frequente presença de três signos principais: o bastonete, o ponto e o semicírculo. - O bastonete é apresentado em sequências horizontais, nas quais a verticalidade é praticamente constante. Verifica-se, também, a presença do registro na contagem de intervalos, quando aparece associado ao semicírculo emborcado (pente), possível referência à contagem de lunações. - O ponto é apresentado isoladamente ou em sequências agrupadas, frequentemente horizontais, fração mínima, um dia, uma fase da lua etc. - O semicírculo, simples e duplo, emborcado ou não, como um “U”, e raramente na vertical, ou como um “C”, constituiria, possivelmente, a representação gráfica da Lua como referência temporal. Toca dos Índios – Detalhe contagem R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Fig. 1 149 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão Toca do Tapuio - Detalhe contagem Fig. 2 As afinidades e até similaridades entre as gravuras da Toca do Tapuio e a Toca dos Índios são variadas. Em ambos os sítios, por exemplo, os grafismos assemelhados à contagem são idênticos, tanto na forma sua individual quanto no sentido coletivo, caracterizado por suas repetições agrupadas em alinhamentos. Já nas pinturas da Toca do Pintado, os mesmos grafismos representativos desse sistema de contagem aparecem isolados, não agrupados, embora dispostos em forma linear. As referências temporais Em ambos os sítios observam-se registros com identidade comum: a presença da referência solar como demarcador temporal, através de símbolo identificador de solstício. Esta convenção, em forma de tridátilo, seria um ideograma convertido da observação das retas projetadas pelo Sol, no horizonte, na ocasião dos solstícios e equinócios, e suas derivações gráficas. Esta família de símbolos corresponde a figuras recorrentes na maioria dos painéis de grafismos rupestres existentes no sertão baiano. 150 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Fig. 3 Toca dos Índios – Período intersolsticial, cinco lunações, 21 fases da Lua R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Fig. 4 151 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão Toca do Tapuio – Período intersolsticial, interceptado pela representação do lagarto (Sol). Fig. 5 O calendário lunissolar A presença de elementos astronômicos nos painéis dos sítios analisados caracteriza a necessidade dos artistas pré-históricos de identificar, através de suas gravuras e pinturas, um sincronismo temporal entre o Sol, as fases da Lua, a Via Láctea, constelações e estrelas, estabelecendo com isso um calendário anual de atividades relacionadas. Toca do Tapuio A gruta apresenta excelente amplitude visual, favorecendo a observação dos céus. Em seu painel principal encontram-se vários símbolos de referencial astronômico: representações de constelações, estrelas e acontecimentos celestes. Ao longo do painel pode ser observada uma “linha do tempo” e um sistema de contagem agregado, acoplados a representações gráficas de acontecimentos e de constelações aparentes. O desenho das constelações, assim como seu transcurso no painel, acompanha uma sequência visível atualmente. A primeira representação de constelação observada no painel no ca- 152 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia minho ao interior da gruta seria uma representação esquemática da atual constelação de Escorpião, representada em formato de “remo”, encimado por um “tridente”. Na parte inferior desta representação há um grafismo de contagem, um “pente” emborcado de seis “dentes” e cinco espaços internos, que parece dar início à uma contagem/intervalo. A seguinte constelação perceptível é representada pelo conjunto de três estrelas dispostas em triângulo. Devido à sua proximidade da constelação subsequente (Cruzeiro), pode-se afirmar que se trata de α e β de Centauro sobreposicionadas por terceira estrela, possivelmente Lupus (Lebre). A constelação seguinte corresponde à Ema (sempre associada aos dois ovos), característica do céu de inverno, cujo desenho é formado provavelmente por estrelas das constelações de Carina e Vela. Outro destaque no painel é a representação de Januare* (estrela Vésper/Vênus) e a Lua (minguante) que, segundo as tradições indígenas (D’Abbeville), equivale ao “cão querendo devorar a Lua”. A partir deste ponto, na parte superior do painel, inicia-se a representação da constelação da Grande Serpente, desenho interceptado pela representação de um cometa, provavelmente o Halley, cujo período orbital é de 76 anos. Este cometa, devido à sua regularidade orbital, próxima ao ciclo de vida humana, faz parte da sabedoria cósmica e da transmissão oral desses povos. Daí constituir fato natural os registros esquemáticos dessa representação em sítios da área pesquisada, o que de resto ocorre praticamente em todo o território brasileiro. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 153 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão Toca do Tapuio – Período intersolsticial, interceptado pela representação do lagarto (Sol). Fig. 6 154 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Alfa e beta de Centauro e Cruz Ema e os dois ovos (Uirá-upiá) Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Januare – Lua minguante e Vésper (Vênus)Fig. 10 Escorpião e contagem R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 155 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão A grande serpente Cometa 156 Fig. 11 Fig.12 Céu Toca do Tapuio em 21/7/08 Fig.13 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Toca dos Índios O abrigo situa-se na vertente superior de um cânion, acessado atualmente pelo leito de córrego seco, através de íngreme escarpa; seu excelente estado de conservação deve-se à vegetação nativa existente no seu entorno, que obstruiu a insolação direta e a ausência de contato antrópico no período histórico. O abrigo é voltado para sudoeste, pôr do sol, e possivelmente foi utilizado para cerimoniais noturnos, restritos a um pequeno número de participantes. Devido à sua provável utilização noturna, os grafismos representativos da Lua aparecem registrados em suas formas peculiares, suas fases, com destaque na instância superior do painel, estando associadas ou não a elementos característicos de contagem como pontos, bastonetes e “pentes”. Na concavidade (instância) central do painel é onde se encontra a maior concentração de grafismos, com destaque para uma linha dupla paralela que traceja horizontalmente toda a extensão da concavidade. Seria uma linha do tempo, a Via Láctea? Em toda sua extensão, as linhas são “interceptadas” por grafismos com orientação (movimento) vertical, predominando, na parte superior, a representação do “U” emborcado, simples ou duplo e pontos sequenciais. Representações de lagarto, estrelas e constelações são perceptíveis nas três instâncias do painel. Pela posição da linha dupla em relação ao painel, podemos concluir que o mesmo deve ter sido utilizado para cerimônias à época da posição horizontal da Via Láctea e constelações pertinentes, atualmente, ao nosso inverno. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 157 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão Toca dos Índios – Representação de constelação, estrelas e lua. Fig.14 A questão da autoria A identificação da autoria destas ocorrências constitui, ainda, um desafio. Esta é, realmente, uma das maiores dificuldades do arqueólogo. Quase tudo que sabemos é que esses conjuntos de arte rupestre não são obras dos indígenas aqui encontrados pelos descobridores europeus. De maneira geral, já foi proposta a hipótese de que os autores dessas projeções, incluindo-se aquelas de caráter astronômico em que predominam motivos geométricos, constituiria a obra ancestral do tronco macro-jê (Beltrão, 2000). Daí a especificar o exato grupo linguístico responsável pela autoria, o problema é mais profundo. A representação de um plano de aldeia Jê, com a superposição intencional de vários eventos astronômicos, provavelmente de caráter mágicoreligioso, na Toca do Pintado (BA), bem como a presença da cerâmica Jê junto à toca e a total ausência de animais parecem contar como argumento 158 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia a favor da hipótese acima proposta. Entre os desafios que tivemos de enfrentar nesta tarefa, dedicamonos à interpretação das pinturas e gravuras rupestres dos sítios baianos mencionados, como forma de tentar chegar aos seus possíveis autores em épocas pretéritas. E também nesta proposta partimos de um posicionamento estabelecido pela arqueóloga Maria Beltrão. Além da autoria macro-jê, a arqueóloga do Museu Nacional do Rio de Janeiro fixou-se, após uma série de levantamentos, no grupo tukâno, que habita, atualmente, a região do rio Uaupés. Na verdade, os índios tukâno vivem nos dois lados da linha do Equador; os tukâno ocidentais, na Colômbia; e os tukâno orientais na Amazônia brasileira. Estes tukâno estão de alguma forma relacionados em origem e um argumento em favor disso reside no fato de que os nomes Uaupés, Uaupé e Bopé significam “caminho da migração”. Uma possível prova da presença de índios tukâno fora da Amazônia pode ser encontrada na obra de Fernão Cardim7 datado de 1587. Em referência aos tupi-guaranis, ele comenta: “... além destes, para os sertões e campos da Catinga, vivem muitas nações tapuias que se chamam de tucanoçu, que vivem no sertão do Rio Grande8 pelo direito de Porto Seguro9.” Além disso, existe hoje o município de tucano, na Bahia, cujo nome tem sua origem numa possível aldeia de índios tukâno existente na região. Está claro que existe uma distância enorme do Uaupés até a Chapada Diamantina, mas não deixa de ser um começo. 7 – CARDIM, Fernão. Tratado da Terra e gente do Brasil. São Paulo: Ed. USP, 1980. 8 – Rio Grande = Rio São Francisco. 9 – Pelo direito de Porto Seguro = indo em linha reta em direção a Porto Seguro, segundo Aryon dell’Inha Rodrigues. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 159 Fernando Bonetti Tavares Maria Beltrão Conclusão Conforme mencionado nos três exemplares analisados, os sistemas de contagem, embora lineares, não se assemelham. Esta constatação implica no questionamento da existência de uma escrita numérica para eventos astronômicos de cunho mágico-religioso ou cosmológico e uma outra escrita numérica para contabilizar colheitas, caça etc. O estudo das pinturas e gravuras rupestres demonstra claramente o constante interesse do homem pelos símbolos. Daí a necessidade de se firmar um conceito de “convenção” a partir dos dados arqueológicos. Assim, ao nosso entender, a ideia de “convenção” implica a utilização de imagens que podem ser signos, símbolos ou imagens “esquemáticas”, pois o que importa é a intenção subjacente de comunicar dada informação. No caso em questão, as imagens e sinais examinados se situam em um patamar de representação onde as convenções foram usadas para comunicar uma quantidade limitada de informações, não necessariamente ligadas à linguagem falada. Até o momento, as figuras que melhor indicam a existência de convenção são as representações de animais como a ema e o lagarto, entre outros; do Sol, da Lua e da Via Láctea. Para nós, no entanto, o desafio de descobrir o significado dessas manifestações pré-históricas continua tão grande quanto o de estabelecer uma autoria para estas representações, filiando-as a grupos existentes na atualidade. Neste sentido, Beltrão parece ter levantado uma pista confiável que, comentamos, aponta para uma ancestralidade macro-jê. 160 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 Astronomia na Pré-história da Bahia Referências bibliográficas BELTRÃO, Maria. Ensaio de arqueogeologia: uma transdisciplinar. Rio de Janeiro: Zit Gráfica e Editora, 2000. abordagem CARDIN, Fernão. Tratado da terra e gente do Brasil.São Paulo: Ed. USP, 1980. D’ABBEVILLE, Claude. História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Tradução: Sérgio Milliet. Introdução e notas: Rodolfo Garcia. São Paulo: Livraria Martins Ed., 1945. GALDINO, Luiz. Itacoatiaras. uma Pré-história da arte no Brasil. São Paulo: Editora Rios, 1988. MARSHACK, A. Lunar Notation on Upper Paleolithic Remains. Washington: vl. 146, n. 3608, 1964, p. 743-5. REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Desana: Simbolismo de los indios tukano del Vaupés. Bogotá: Procultura, 1986. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):141-161, jan./mar. 2009 161 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII Márcia Amantino1 Resumo: Do século XVI ao XIX inúmeros documentos, tratados, discursos e análises dividiram os índios da América Portuguesa e depois do Brasil em uma imagem dicotômica e simplista: os Tupi e os Tapuias. Uns mais mansos que outros. Os primeiros propensos à catequese e controle e o outro ao extermínio e à escravização, posto que não aceitassem os ensinamentos. Os índios que foram considerados hostis ao projeto de colonização imposto em Minas Gerais ao longo do século XVIII sofreram inúmeras formas de extermínios e os que sobreviveram foram sistematicamente transformados em mão de obra cativa. Contudo, como esta era uma prática ilegal, os colonos e, em alguns casos, as autoridades, conseguiram criar mecanismos que disfarçavam o cativeiro. Palavras-chave: índios, Minas Gerais, escravidão. Abstract: From XVI to XIX century many documents, treaties, speeches and analysis divided the Indians of Portuguese America an after of the Brazil in an image dichotomous and simplistic: the Tupi and Tapuia. A few moro gentle than others. The first, prone to cateshesis and control and the other, the estermination and enslavement since not accept the teachings. The Indians who were hostile to the project of colonization imposed im Minas Gerais during the eighteenth century suffed many forms of exterminations and those who survived were systematically transformed into labor-captive. However, as this was illegal practice, the settlers, and in some cases, the authories, created mechanisms to disguise the captivity. Keywords: Indians, Minas Gerais, slavery. Desde o século XVI, inúmeras leis foram criadas pelo governo português visando a dirimir questões ligadas à liberdade dos indígenas. A legislação ora atendia aos apelos dos jesuítas, ora a dos colonos, ávidos por mão de obra. Desta forma, os conflitos eram inevitáveis e, apesar das proibições de escravização dos nativos, quase sempre havia nas leis condições específicas em que o cativeiro era possível, pelo menos para alguns grupos.2 O cativeiro era considerado legal quando o índio em questão havia 1 – Professora do programa de pós graduação da Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO. 2 – PERRONE-MOISES, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial. Séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (org). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992, p. 115-132. e SILVA, Francisco Ribeiro da. A legislação seiscentista portuguesa e os índios do Brasil. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Brasil: Colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2000, p. 15-27. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 163 Márcia Amantino sido conquistado em guerra justa ou através de compra dos que estavam à corda, ou seja, dos que eram prisioneiros de outras tribos. No Brasil Colônia, as guerras justas eram vistas pelos fazendeiros como uma opção para adquirirem mão de obra e conseguirem desenvolver suas atividades econômicas. As tribos que fossem consideradas hostis ao projeto de colonização eram passíveis de sofrer a guerra justa. Ainda no século XIX, a guerra justa foi usada como arma para a eliminação de tribos hostis. No caso em questão, o grupo que sofreu a perseguição foi o dos botocudo, acusados de serem terríveis e de não aceitarem qualquer contato pacífico. Há que ressaltar, contudo, que eram denominados como Botocudos todos os índios que usavam botoques nos lábios e nas orelhas, não faziam parte do grupo tupi e eram hostis ao contato com o branco. O que fazer com esses índios tidos como ferozes era realmente um problema para as autoridades em Minas Gerais no século XVIII. A economia mineradora não estava nada bem. Era necessário buscar novas possibilidades de encontrar ouro e aumentar as áreas destinadas à agricultura. Para isto, acreditava-se que seria essencial retirar os indígenas das terras que ocupavam. A guerra justa serviu então como uma fórmula perfeita. Bastava um ataque qualquer a uma fazenda, por menor que fosse, e estava aberta a possibilidade de guerrear a tribo inteira. Índios mansos e índios bravios Para os europeus, a suposta dualidade identificada entre Costa e Sertão no espaço colonial podia ser vista também entre os que habitavam estes dois mundos: havia os índios que viviam no litoral e os do interior – os tupi e os tapuia, respectivamente. Os portugueses, ao interagirem com os tupi através de casamentos, alianças, trabalho ou mesmo do uso da língua tupi-guarani, apropriaram-se de seus valores, bem como das imagens que estes faziam sobre os tapuia e sobre o Sertão. Assim, além do português identificar o Sertão como o espaço longe da costa, passou a associá-lo também, numa aparente contradição, a uma área despovoada, mas ao mesmo tempo habitada pelos tapuia, mais bárbaros do que os tupi. 164 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII Na realidade, o Sertão para o português seria sempre identificado como espaço vazio de elementos civilizados, logo, vazio de populações que merecessem algum tipo de tratamento humano. 3 Os tupi não só auxiliaram os colonos como também legitimaram as guerras, o extermínio e a escravização dos tapuia, seus inimigos seculares. Para o tupi, tratava-se de manter acesa a tradição da guerra contra aquele que vivia de maneira diferente, podendo então ser guerreado, morto, devorado ou escravizado. 4 Além disto, fornecer escravos tapuia para os colonos significava para os grupos tupi aliados manter longe de si a escravidão e manter acessa a tradição milenar da guerra como elemento de reafirmação de valores e de preparo de guerreiros. Para o português, interessava não só alimentar este conflito milenar entre os dois grupos como também obter o controle sobre suas terras e sobre uma possível mão de obra. Assim, os interesses de ambos os lados confluíam. Há que se ressaltar, todavia, que as disputas não ocorriam apenas entre tupi e tapuias. Mesmo no interior desses grupos havia guerras e inimizades e os colonos souberam utilizar muito bem essas divergências. Ainda que os guerreiros não pudessem mais matar a todos e realizar os rituais antropofágicos, a tradição guerreira dos tupi estava mantida através das alianças com os portugueses e com suas batalhas.5 Para os tupi, a guerra era um mecanismo essencial de reprodução social. Um homem somente poderia se casar se já tivesse matado um inimigo e mudado seu nome de infância. A acumulação de nomes através de atos guerreiros era sinal de uma memória de bravura, signo da honra tupinambá e possibilidade de acumular mulheres. Quanto mais inimigos matasse e quantos mais fossem comidos pela tribo, maior a honra. Comer 3 – AMANTINO, Márcia. A conquista de uma fronteira: o sertão Oeste de Minas Gerais no século XVIII. In: Dimensões – Revista de História da UFES. Vitória, 2002, n.14, p.6590. 4 – CASTRO, Eduardo Viveiros de. O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem. In: Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992. v. 35 p. 21-74. 5 – Há que se ressaltar, todavia, que as disputas não ocorriam apenas entre tupi e tapuia. Mesmo no interior desses grupos havia guerras e inimizades seculares e os colonos souberam utilizar muito bem essas divergências. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 165 Márcia Amantino inimigos era acumular honra, mas era também o medo da putrefação do corpo. Para os tupi não era nobre morrer e ser sepultado sob a terra. O inimigo ideal de um tupinambá era outro tupinambá. Assim, os prisioneiros que não o eram precisavam ser transformados em algo parecido através da depilação, da pintura e do disfarce. O canibalismo era uma vingança, mas era também a manutenção da memória na relação com o outro. Morrer nas mãos alheias é uma honra para o indivíduo e uma ofensa para o grupo, daí a vingança, essencial na manutenção do grupo. Esta elaboração mental mostrando os habitantes do Sertão como sendo inferiores aos do litoral permaneceu na construção das primeiras obras sobre o Brasil e a partir dela criou-se a dicotomia entre tupi e tapuia. Gabriel Soares de Souza, em sua obra Tratado descritivo do Brasil em 1587, através de inúmeros exemplos demonstrou como que alguns grupos de índios eram úteis à colonização, posto que haviam aceitado a catequese e o trabalho, e outros que, pelo contrário, eram verdadeiros algozes das populações. Para ele, os aimorés eram “tão selvagens que, dentre outros bárbaros, são havidos por mais do que bárbaros”. Também não possuíam pelos pelo corpo porque arrancavam, não possuíam casas, roças ou plantações. Alimentavam-se de caça que comiam crua ou mal assada, quando tinham fogo. Nas constantes pelejas que tinham com outros grupos, atacavam sempre de maneira atraiçoada, pelas costas, com seus disparos certeiros de flechas. Para piorar, comiam “carne humana por mantimento”. Complementava o cronista, afirmando que a Capitania de Porto Seguro e a dos Ilhéus estavam destruídas e quase despovoadas por causa do temor que a população tinha dos bárbaros. Os engenhos estavam abandonados porque todos os escravos haviam sido mortos e os que haviam conseguido escapar tinham tanto pavor que, só no ouvir falar dos aimorés, fugiam. Os brancos também se comportavam da mesma forma. Concluía o cronista que enquanto não se buscasse “algum remédio para destruírem estes alarves, eles destruir[iam] as fazendas da Bahia, para onde [iam] caminhando de seu vagar.” 6 6 – SOUZA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: Ed. Nacional, 1987, p. 80. 166 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII Cardim, em 1621, após relatar as características dos tupi apresentados como amigos dos portugueses, passou a demonstrar como que os tapuia fossem diferentes, inferiores e selvagens. De acordo com ele, viviam nos matos, não utilizavam o fogo para cozer os alimentos, matavam crianças, devoravam inimigos, possuíam couros em vez de peles, eram covardes, despovoavam regiões, não falavam uma língua que pudesse ser entendida e eram extremamente perigosos.7 Há outras nações contrárias e inimigas destas, [dos tupi] de diferentes línguas, que em nome geral se chamam tapuya, e também entre si são contrárias (...) e para o Sertão, quanto querem, são senhores dos matos selvagens, muito encorpados, e pela continuação e costume de andarem pelos matos bravos têm os couros muito rijos, e para este efeito açoitam os meninos em pequenos com uns cardos para se acostumarem a andar pelos matos bravos; não têm roças, vivem de rapina e pela ponta da flecha, comem a mandioca crua sem lhes fazer mal, e correm muito e aos brancos não dão senão de salto, usam de uns arcos muito grandes, trazem uns paus feitiços muito grossos, para que em chegando logo quebrem as cabeças. Quando veem à peleja estão escondidos debaixo de folhas, e ali fazem a sua e são mui temidos, e não há poder no mundo que os possa vencer; são muito covardes em campo, e não ousam sair, nem passam água, nem usam de embarcações, nem são dados a pescar; toda a sua vivenda é do mato; são cruéis como leões; quando tomam alguns contrários cortam-lhe a carne com uma cana de que fazem as flechas, e os esfolam, que lhes não deixam mais que os ossos e tripas: se tomam alguma criança e os perseguem, para que lha não tomem viva lhe dão com a cabeça em um pau, desentranham as mulheres prenhas para lhes comerem os filhos assados...não se lhes pode entender a língua. 8 Além de demonstrar o quanto eram diferentes os dois grupos, Cardim também fez um tipo de análise que será constante em diversos cronistas. Ele associou o índio não domesticado a animais, no caso, ao leão. 7 – CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional/ Brasília: INL, 1878, p. 123 e 124. 8 – Idem R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 167 Márcia Amantino Para ele, eram ferozes e antropófagos, comendo inclusive, para grande pavor dos cristãos, mulheres e crianças, e, principalmente, não se conseguia compreender a língua, o que confirmava o grau de barbárie em que este povo estaria na mentalidade destes homens nos primeiros contatos. Esta barbárie podia ser percebida também pelo fato dos tapuia não dominarem a agricultura e a pesca e nem utilizarem o fogo para cozer seus alimentos. Rocha Pita, escrevendo em 1730, ainda que não diferencie os tupi dos tapuia, também percebia variações entre os diversos índios, divididos em “inumeráveis nações, algumas menos feras, mas todas bárbaras”.9 Para ele, todos viviam sem religião, nus, e alguns eram antropófagos. Esta mesma ideia a respeito das diferenças entre os índios permaneceu até o século XIX e pode ser identificada em Varnhargen. Para ele, muitas vezes apenas o convencimento pela catequese não era suficiente para resolver o problema das tribos que teimavam em viver errantes pelos matos. Sem alguma dose de violência não se conseguiria domesticá-los. Acreditava que para os bárbaros só o emprego da força os faria aceitar o cristianismo e adotarem hábitos civilizados. Concordava com o ministro do Império, que afirmava: “sem o emprego da força (...) não é possível repelir a agressão dos mais ferozes, reprimir suas correrias e mesmo evitar as represálias a que ellas dão lugar (...).”10 Praticamente as mesmas ideias podem ser percebidas em Domingos Alves Moniz Barreto, capitão de infantaria e autor de um texto sobre a civilização dos índios do Brasil e da Bahia. É possível identificar na obra características típicas do pensamento iluminista. O rei era para ele, um ser iluminado e que devia acudir os índios, pois “um homem considerado no estado bárbaro [não pode] conhecer as suas obrigações para com Deus e para com seu rei”. 9 – PITTA, Rocha. História da América portuguesa. Lisboa: Ed. Francisco Artur da Silva, 1980, p. 25. 10– VARNHAGEN, Francisco A de. História geral do Brasil. São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, s.d. p. 274. 168 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII Acreditava também poder dividir os índios do Brasil entre os mansos e os bravos. Os primeiros habitavam a costa, falavam a língua geral, não comiam carne humana e possuíam uma “sujeição a um só cabeça”. Já os bravos eram “homens agigantados e muito valentes e por isso usam de uns arcos demasiadamente grandes... A sua morada é incerta... nada semeiam... caça, comem-na crua... São muito amigos da carne humana... não tem mais lei que a da sua vontade... não adoram a Deus...têm uns confusos vestígios da imortalidade da alma”. 11 Para este autor, todas as formas pacíficas de contato deveriam ser tentadas para convencer os índios bravios de que valeria a pena aceitar o aldeamento proposto. Entretanto, se depois de todas as tentativas determinados indígenas se mostrassem irredutíveis, aí sim, deveriam ser subjugados: Neste suposto e crítico estado se deve unir toda ou a maior parte da legião, sendo auxiliada com uma ou duas companhias da tropa para regular, para os procurar em campanha e rebater o seu orgulho, trabalhando-se primeiro, quanto puder ser, para que esta guerra seja feita mais com máximas e enganos do que com fogo e ferro, que só no último caso, depois de esgotados todos os meios de brandura, deve mostrar o seu estrago.12 Em todos os casos apresentados, o índio foi analisado através do que se acreditava faltar em sua cultura. E todos esses elementos “ausentes” provocam um sentimento de que se tratava de grupos bárbaros e, na maioria das vezes, perigosos. Foram associados sempre ao estado bruto, muito próximo à natureza – também bravia, sendo a condição de antropófago a mais grave dentre todos os elementos negativos apresentados por eles. Estavam em um estado tão primário que nem mesmo poderiam ser classificados como sociedades. Eram apenas bandos sem qualquer liderança ou apego à religião. A análise feita sobre eles baseou-se no tipo de contato que mantinham com os colonos. Se pacífico, eram úteis; se 11– BARRETO, Domingos Alves Branco Moniz. Plano sobre a civilização dos Índios do Brasil e principalmente para a capitania da Bahia (1788). In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo XIX, 1856. 12– Idem, p. 90. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 169 Márcia Amantino não aceitassem a dominação deveriam ser escravizados ou exterminados. A escravização dos grupos era percebida como uma forma de mantê-los sob controle, destribalizá-los e torná-los úteis ao projeto de civilização proposto para a colônia. A escravização de indígenas em Minas Gerais Os índios do Sertão em Minas Gerais foram, em sua maioria, encarados como inimigos e acusados de dificultarem o seu povoamento e desenvolvimento. Daí, segundo as autoridades, a necessidade de enviar algumas expedições para atacar suas aldeias e conseguir sua pacificação e aceitação dos ensinamentos de Deus, mesmo que à força. 13 As justificativas ideológicas para as expedições se pautavam na importância de colonizar e povoar o Sertão a fim de desenvolvê-lo. Para isso, tornava-se necessário eliminar, de uma forma ou de outra, a presença marcante dos grupos considerados hostis. Os índios mais “teimosos” em não aceitarem os contatos deveriam ser exterminados em nome de uma ocupação mais efetiva. Os aspectos econômicos eram também usados como justificativas para a decretação da guerra justa contra um determinado grupo indígena em Minas Gerais. Este tópico sempre esteve presente na documentação trocada entre as autoridades coloniais e metropolitanas. O argumento era que, eliminando os gentios bravios, novas regiões poderiam ser incorporadas à colonização e com isto novas fazendas seriam criadas, aumen13– Na Capitania mineira, durante o século XVIII, houve inúmeras expedições preparadas com este fim. Em 1734, uma bandeira liderada por Matias Barbosa e contando com 70 homens e 50 escravos, atacou grupos de botocudos e “limpou” o Sertão Leste até as Escadinhas da Natividade. Nessa mesma região, foi fundado o Presídio do Abre Campo; em 1748, o coronel Antonio Pires de Campos criou vários aldeamentos de bororós para controlar e atacar os caiapós que circulavam na área; em 1769, Antonio Cardoso de Souza, recebeu do conde de Valadares ordens precisas para a conquista do gentio nas imediações do cuieté; em 1775, d. Antonio de Noronha, governador de Minas Gerais, decretou guerra aos botocudos que atacavam o aldeamento do Pomba e atrapalhavam a conquista do cuieté; em 1782, João Pinto Caldeira liderou uma expedição que tinha por objetivo liquidar com os quilombolas e os caiapó que fossem encontrados no Campo Grande. 170 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII tando a produção e a arrecadação de impostos. Sem contar que poderiam também encontrar ouro.14 O comandante do Arraial do Cuieté, em uma carta enviada ao governador Valadares, reclamava dos botocudo e dos puri e afirmava que eles eram muito bravos e que várias regiões eram povoadas e posteriormente despovoadas por causa deles: É sem dúvida que os gentios botocudo e poris são as nações mais brabas que há e os que tem infestado com distúrbios os moradores de Santa Rita, São José, Ribeirão do Macuco, Santa Anna do Abrecampo e o próprio Cuieté, despovoado três vezes por conta dos mesmos, roubando e destruindo tudo de tal sorte que se acham muitos sítios desertos e povoações solitárias... a causarem os danos que se experimentam fazendo com o temor das suas crueldades que os moradores se não alarguem a explorarem os córregos que se acham na barra do rio Cuieté até o Mainguassu.15 No ano seguinte, em uma outra carta, confirmava a natureza agressiva dos botocudos e afirmava serem antropófagos, “sustentando-se de carne humana, tanto dos índios que matam quanto dos católicos(...)”. Em função de todos os problemas causados pelos botocudos, sugere sua completa extinção16. Entretanto, alguns dias antes, já havia sido dada uma ordem de ataque a estes indígenas acusados de responsáveis por algumas mortes na região do Pegabem.17 O século XIX vai encontrar a região ainda às voltas com os indígenas que não aceitavam o controle sobre suas terras e vidas. Em 1805, Ba14 –1 Representação dos oficiais da Câmara de V. Nova da rainha para d. Maria I. Arquivo Ultramarino do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Códice: cx 142. Doc. 53 cd 42. Local: Vila Nova da Rainha. 3.1.1796. 15 – Carta de Paulo Mendes Ferreira, comandante do Cuieté ao Governador Valadares, em novembro de 1769. Arquivo conde de Valadares - Biblioteca Nacional, seção de manuscritos -18, 2, 6. 16– Carta de Paulo Mendes F. Campelo ao conde de Valadares, em 23 de abril de 1770, Cuieté. Arquivo conde de Valadares -Biblioteca Nacional, seção de manuscritos. 18, 2, 6 doc. 229. 17– Ibidem, p. 1055. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 171 Márcia Amantino sílio Teixeira de Sá Vedra, tratando sobre a colonização da região Leste de Minas Gerais, salienta que a colonização e enriquecimento dos colonos e da Coroa só seria possível com o controle sobre esta população: Nesta capitania se acha ainda terreno incomensurável ocupado de gentio chamado de botocudo, o mais bravo do Brasil, particularmente nas margens do Rio Doce, que é constantemente reputado por muito rico em ouro e muito fértil de todos os gêneros, aonde expulsando o gentio, descortinando o rio e feitas povoações capazes de resistir ao mesmo gentio, se podem empregar muitos desses braços, ou inúteis ou prejudiciais.18 A escravização de índios foi, durante todo o século XVIII, constante na vida de fazendeiros de Minas Gerais, ainda que os religiosos ou os diretores das aldeias tentassem, em alguns poucos casos, minimizar este uso ou mesmo impedí-lo. As fontes têm demonstrado também que no século XIX os índios eram utilizados como mão de obra cativa, mesmo que sob diferentes disfarces.19 Esta escravização indígena, legítima ou não, mas disfarçada quase sempre, pode ser vista de diferentes maneiras e em locais e períodos distintos dentro do território que compreendia a Capitania e, posteriormente, a Província de Minas Gerais. A Capitania mineira tinha no século XVIII algumas realidades sócioeconômicas bastante diferentes entre si. De um lado, havia os que possuíam capital suficiente para a compra de negros africanos; de outro, formando a maior parte dos que possuíam algum cabedal, estavam aqueles que tinham terra, mas não tinham condições de comprar um número elevado de escravos africanos. A solução para os pequenos e médios fazendeiros era os índios. Como desde o século XVI a escravização dos indígenas era ilegal, esta solução enfrentou uma série de obstáculos e teve que ser disfarçada 18– SÁ VEDRA, Basílio Teixeira de. Informação da Capitania de Minas Gerais. In: Revista do Arquivo Publico Mineiro. Belo Horizonte, 1897, ano II, p. 676. 19– Relatórios dos Diretores de Índios. SG 04, 07, 12, 15, 20, 21 ,22 , 24. Arquivo Público Mineiro. 172 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII na maior parte das vezes. Entretanto, em alguns momentos, as próprias autoridades mostravam como esta proibição, pelo menos em algumas áreas, era letra morta na Colônia. A presença de índios considerados como ferozes foi uma das causas do abandono de terras em várias regiões de Minas Gerais, ou mesmo da impossibilidade de serem avaliadas e colocadas no mercado. Isto acontecia tanto com o pequeno proprietário e seus poucos escravos como com o grande fazendeiro. Alguns inventários do 1º Ofício mostram estes casos de maneira exemplar:20 Antonio Gonçalves Pedrozo era casado com Faustina Gonçalves e viviam em um pequeno sítio na Freguesia de Piranga junto com seus três filhos de seis, quatro e dois anos e mais oito escravos. Em nove de março de 1749, sofreram um ataque de índios e sua mulher foi morta. O inventário foi feito no ano seguinte. Antonio alegou que não o fez antes porque precisou abandonar seu sítio em “razão da vizinhança de gentio(...)”21 Também em 1750, uma grande proprietária sofria o mesmo problema com a presença dos índios. A viúva do capitão Antonio Alvarez Ferreira, falecido em dezembro de 1749, declarou que possuía 58 escravos, um sítio de roça e lavra de terras minerais, uma terra de roças em capoeira com terras minerais, duas datas de terras minerais, uma morada de casas que servem de venda, uma morada de casas que servem de loja, umas capoeiras, uma morada de casas térreas e uma posse de roça com terras de matos virgens com índios. Esta roça localizava-se na barra do Rio Chopotó e, segundo a inventariante, eles eram sócios do padre Roque Leal. Contudo, não se podia fazer qualquer avaliação por causa da “vizinhança do gentio(...)”22 Em pior situação estava Maria Valentina da Silva Leal. Seu marido, 20– Agradeço à Carla Maria Carvalho de Almeida por ter cedido estes inventários. 21– Inventário de Faustina Gonçalves. 1º Ofício cód. 10, auto 375 – 1750, Freguesia de Guarapiranga. 22– Inventário do capitão Antonio Alvarez Ferreira. 1º Ofício - cód. 36, auto 843 – 1750, Freguesia de Guarapiranga. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 173 Márcia Amantino o capitão-mor José da Silva Pontes, havia morrido em 29 de janeiro de 1800. O casal possuía 75 escravos e o monte geral de sua fortuna era de 16: 452$392 contos de réis. Entretanto, duas sesmarias na “paragem chamada os Oratórios Beira Rio de Guarapiranga” estavam dominadas por índios botocudos e por isso não podiam ser avaliadas. Uma outra sesmaria, agora no Rio Doce, que pertencia ao casal, estava apresentando o mesmo problema e também não podia ser avaliada. Estes exemplos mostram que tanto os pequenos proprietários quanto os que possuíam muitas terras e escravos passavam pelos mesmos problemas com relação aos índios. Mostram ainda a luta destes últimos para manter suas terras, “legalmente” entregues à população colonial. Apesar desta luta sem trégua de ambas as partes, os índios levaram a pior no confronto de poder. Atestam isto os inúmeros documentos de relatam as formas de escravidão, de extermínio e de assimilação de sua cultura. Entre 1717 a 1720, os moradores da vila de Pitangui mantiveram-se amotinados contra o recolhimento do quinto e outras questões. Uma de suas atitudes para marcar a vontade de não mais ceder aos mandos dos que estavam investidos do poder foi colocar nos principais postos de decisão alguns “homens bons” do local.23 As tentativas de retomar o poder realizadas pelo conde Assumar, provocaram a saída de um número considerável de pessoas. Temeroso de que a região se esvaziasse novamente facilitando assim a vida dos quilombolas e dos índios, Assumar perdoou os amotinados. No documento abaixo percebe-se que além do perdão receberam grandes benefícios, dentre eles, a diminuição nos impostos sobre negros e carijós, ou seja, escravos indígenas: Concedo a todos, tanto a uns quanto a outros [amotinados e pessoas que quisessem ir para Pitangui] uma cobrança de quintos com 23– FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. O Império em apuros: notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no império colonial português, séculos XVII e XVIII. In: FURTADO, Júnia F. (org). Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. p. 237 174 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII suavidade, sendo que os novos moradores da vila que tiverem mais de dez negros ou carijós, nos próximos dois anos, só pagarão metade dos quintos; serão dadas aos novos moradores que tiverem família, por sesmarias in perpetum a eles e seus descendentes, terras para suas lavouras.24 A utilização de índios como mão de obra era do conhecimento das autoridades e estas, na maioria das vezes, facilitavam ou pelo menos não impediam, que os colonos usassem sua força de trabalho. O conde de Noronha, governador da Capitania em 1754, escrevendo para João de Godói Pinto da Silveira, afirmava que havia recebido a sua carta onde ele relatava a entrada que fizera aos sertões mineiros. Através desta correspondência podem-se identificar aspectos do cotidiano desta expedição, como por exemplo os transtornos pelos quais passou ao ser, segundo ele, perturbado pelos agrestes e a perda, por causa de uma doença, de seis índios bororos de muita serventia, posto que eram treinados no uso das armas. Além do que, reclamava também que em um ataque feito a uma aldeia indígena [não informa qual] havia conseguido aprisionar poucos índios. O conde lhe respondeu de maneira ambígua dizendo que não poderia concordar com o fato de que a expedição fosse dirigida a aprisionar índios dentro de suas aldeias, posto que o rei proibisse este tipo de atividade. Mas que ficava satisfeito pelo fato da expedição ter sido bem coordenada e explicava que possivelmente não havia sido mais lucrativa porque dias antes dois “caciques” haviam abandonado a aldeia em uma bandeira.25 O uso de índios como trabalhadores estava tão presente na vida dos mineiros que na esfera pública se discutia como proceder com referência à repartição dos que fossem capturados. Em muitos documentos não fica claro se estas capturas eram ou não realizadas durante as guerras justas, um dos casos em que o cativeiro indígena estaria liberado. A carta acima é um exemplo disto. Em sua continuação, o conde de Noronha relem24– Bando de Assumar em 30 de maio de 1718. Citado por MARTINS, Tarcísio José. Quilombo do Campo Grande: a História de Minas roubada do povo. São Paulo: Gazeta maçônica, 1995 p. 27 25– Carta do Conde de Noronha para João de Godoi Pinto da Silveira Arraial de Prairas 11 de janeiro de 1754 (Goiás) , Biblioteca Nacional doc. 17 - 1,4,1 papeis vários. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 175 Márcia Amantino bra que o rei não queria violências contra os indígenas, mas que ele não a proibia quando os índios atacassem as expedições. Neste caso estaria liberado o uso de violência “iguais ou ainda muito maiores”. E que o rei “(...) só quer usar força da necessidade quando de outra maneira não pode rebater os insultos que o mesmo gentio ordinariamente está fazendo aos seus vassalos(...)”.26 Paulo Mendes Ferreira Campelo, comandante do arraial do Cuieté, enviou ao governador Valadares em novembro de 1769 uma carta dandolhe várias notícias do estado em que se encontravam as entradas ao sertão. Um dos maiores problemas era o costume que as pessoas que estavam ligadas à conquista da região tinham de repartir os índios entre si sem que antes os mesmos fossem entregues ao comandante da expedição para que ele os distribuísse entre os que pudessem instruí-los na fé. Relata que seu objetivo era o de “(...) evitar o pernicioso meio de cada um fazer seu o que apanha e distribuí-lo debaixo de algum interesse próprio como se tem visto (...)”.27 O resgate de “índios de corda” era uma outra modalidade que permitia o acesso aos indígenas. Não se tratava da liberalização da escravidão como na guerra justa. De acordo com a lei, estes se tornavam propriedades do comprador por um período de tempo estipulado ou mesmo por toda a vida, caso o valor pago no momento do resgate fosse muito elevado. O pagante do resgate tornava-se responsável pelo indígena ficando no dever de cristianizá-lo e tratá-lo com humanidade, mas podendo usar sua força de trabalho como desejasse. 28 Em seu testamento, feito em 1821, Ignácio Correia de Pamplona,29 um dos maiores líderes das bandeiras que percorriam o território de Minas Gerais no final do século XVIII afirmava ter disponibilizado uma 26– Idem. 27– Carta que Paulo Mendes Ferreira Campelo, comandante do Arraial do Cuiethé enviou ao governador Valadares em novembro de 1769. Biblioteca Nacional - 18, 2, 6 Arquivo conde de Valadares, Biblioteca Nacional, seção de manuscritos. 28– PERRONE-MOISES, Beatriz. Índios livres e índios escravos. Op. Cit. 29– Testamento de Ignacio Correia Pamplona, de 1821. São João del Rei, Cx 100. 176 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII considerável soma com as despesas feitas na expedição de 1769. Entre seus gastos havia o pagamento “(...)dos que andavam com a corda(...)”, ou seja, eram índios prisioneiros de alguma tribo que foram comprados por ele. A busca pela liberdade Ainda que a escravidão indígena, disfarçada ou não, fosse constante em algumas regiões mineiras, os índios tiveram como recorrer à justiça para garantir seus direitos. Como desde os primórdios das relações com os portugueses eles foram definidos como incapazes legalmente, lhes foi concedida a figura do procurador dos índios, cuja finalidade era resguardar os interesses dos grupos indígenas pacificados. Em 1700, foram criados os cargos de ouvidores gerais das Capitanias de Pernambuco e Rio de Janeiro para atuarem também nas questões pertinentes à liberdade dos índios. Foram a estes membros que os indígenas recorreram sempre que solicitavam sua liberdade.30 Normalmente, em sua defesa alegavam o fato de que todos sabiam que a escravização deles era ilegal e que eles não eram passíveis de serem tratados como escravos negros.31 Os castigos físicos, os impedimentos de se deslocarem, a má alimentação, enfim, tudo era usado pelos requerentes para reforçar o argumento de que estavam sendo tratados como propriedades de alguém. Foi o que Leonor, seus filhos José, Manuel e Severina e seus netos Felix, Mariana, Narcisa e Amaro, todos “de geração carijó”, fizeram em 1765 ao requererem ao governador que em função das leis de 1755, deveriam ser considerados “libertos e isentos de escravidão em que se achavam”. Afirmavam ainda que Domingos de Oliveira os mantinham em seu poder como se fossem escravos. Estando ciente de que transgredia a lei, o tal Domingos de Oliveira, por ocasião da visita do governador à freguesia, os colocara sob a guarda de seus filhos, impedindo-os assim 30– MELLO, Márcia Eliane A. de Souza. Rastros da Memória: histórias e trajetórias das populações indígenas da Amazônia. Manaus: EDUA, 2006. p. 48. 31– MONTEIRO, John Manuel de. O escravo índio, esse desconhecido. In: GRUPIONI, Luis Donisete (org). Índios no Brasil. Brasília: MEC, 1994. p.117. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 177 Márcia Amantino de protestarem seu direito à liberdade. O governador ordenou que se fizessem averiguações junto a várias autoridades e pessoas idôneas. Todas confirmaram a história de Leonor quanto à irregularidade da situação. A pobre e miserável mulher, que com a petição retro recorre a V. Ex.ª, é mui digna, e merecedora de que V. Ex.ª olhe com piedade e se compadeça da miséria e da consternação em que se acha, e os seus filhos; porque sendo, como me consta, liberta e oriunda de ventre livre e de carijós, vive com os seus filhos em um rigoroso cativeiro com o falho pretexto de administrada, e com escandalosa vida e ofensa de Deus de que, querendo se apartar, o não conseguiu pelo grilhão do falso cativeiro em que injustamente a constringem.32 É curioso que um vigário tenha declarado em defesa da índia o fato de que ela vivia em escandalosa vida e ofensa a Deus. O cativeiro ilegal e injusto de Leonor e de sua família provocava também a ruína da moral e dos bons costumes. Logo, era mais um motivo para que fosse decretada a liberdade do grupo. Ante tais depoimentos, o governador ordenou que uma escolta fosse libertar os carijós. Um outro caso de escravidão ilegal foi o de Maria Moreira, nascida de “pais livres por serem carijós de cabelo corredio”. Também se achava indevidamente escravizada, e suplicava ao governador que lhe fosse concedida a liberdade de sair da casa de seu senhor para poder tratar de seu requerimento. O governante concordou, advertindo-a de que seria punida caso se afastasse “de viver com a regularidade devida” - advertência que parece querer lembrar à suplicante que seus dissabores e inseguranças de mulher pobre não cessariam com a liberdade.33 Em 1772, o índio João, vindo da Capitania do Maranhão, que estava 32– Requerimento que fez a Sua Excelentíssima Leonor e seus filhos José, Manuel e Severina com seus filhos Felix, Mariana, Narcisa e Amaro, de geração carijó, com os despachos e informações que houverem e deferimento de Sua Excelentíssima. Dez 1764 e fev 1765, APM SC Cod 59, fls. 103 e 104v. 33– Petição de Maria Moreira, índia de nação, e despacho de Sua Excelentíssima. Vila Rica, 21.2.1765. APM SC Cod 59 fls. 101v-102. 178 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII vivendo na Paragem do Rio do Peixe “debaixo das obrigações do mais rigoroso cativeiro”, foi vendido pelo cônego Francisco Ribeiro da Rocha como cativo, juntamente com alguns bois e outros escravos, a Cipriano Pereira de Azevedo. O conde de Valadares imediatamente ordenou que se soltasse o índio e lhe fosse restituída a liberdade. 34 Como conseqüência, em novembro, os cônegos Francisco e José Botelho foram presos devido ao cativeiro ilegal do índio.35 Concluindo A escravidão indígena tem sido nos últimos anos analisada a partir de variados tipos de documentos e as pesquisas têm comprovado que a utilização deles executando trabalhos compulsórios era uma situação presente em inúmeras regiões brasileiras e em diferentes momentos históricos. A historiografia sobre o trabalho escravo tem demonstrado que a partir do início do século XVII haveria uma predominância de mão de obra cativa de origem africana nas regiões voltadas para a produção em larga escala e exportadora. Entretanto, nas regiões mais interiorizadas ou mais carentes de recursos econômicos a utilização do índio como mão de obra cativa foi durante o período escravista uma realidade36. Mesmo na mineração, onde havia um emprego em larga escala de escravos negros, o índio foi usado como mão de obra para faiscar para os pequenos exploradores ou para os clandestinos. Pelo exposto, fica evidente que a questão da escravização de indígenas durante o século XVIII precisa ser revista e pesquisada com maior profundidade. Mesmo que ela não tenha sido, neste momento, de caráter estrutural como a africana, ela existiu e foi, pelo menos em determinadas regiões da Capitania, essencial aos projetos de colonização e povoamen34– Carta de conde de Valadares a João da Silva Tavares em 3 de julho de 1772. Arquivo Ultramarino. Cx. 103, doc 6, cd. 29 - Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 35– Carta de conde de Valadares ao marquês de Pombal. Em 20 de novembro de 1772. Arquivo Ultramarino. Cx 103. Documentos 87, cd. 30. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 36– GORENDER, Jacob. O escravismo Colonial. São Paulo: Ática, 1985. p. 125. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 179 Márcia Amantino to. Pode-se perceber, portanto, que os indígenas em Minas Gerais foram vítimas de políticas que objetivavam transformá-los em uma reserva de mão de obra – quando pacíficos – ou exterminados em nome do sossego público e da segurança do povoamento da região, com base em um corpo de ideias que justificava a guerra justa. Desta forma, o povoamento, a criação de aldeamentos e as políticas de extermínio de alguns grupos faziam parte de um mesmo contexto, qual seja a do alargamento e manutenção do Império Colonial Luso. Apesar disto, alguns conseguiram usar os próprios mecanismos coloniais a seu favor e lutaram por suas liberdades, demonstrando que não eram seres passivos e que sabiam, na medida do possível, como agenciar suas vidas. 180 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 A escravidão indígena e seus disfarces em Minas Gerais no século XVIII Referências Bibliográficas ALMEIDA, Rita Heloisa de. O Diretório dos Índios: um projeto de civilização no Brasil do século XVIII. Brasília: Ed. UNB, 1997. BARRETO, Domingos Alves Branco Moniz. Plano sobre a civilização dos Índios do Brasil e principalmente para a capitania da Bahia. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Tomo XIX. 1856. CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional/Brasília: INL, 1878. CASTRO, Eduardo Viveiros de. O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem. Revista de Antropologia. São Paulo: USP, 1992. v. 35. CUNHA, Manuela Carneiro da (org). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. DOMINGUES, Ângela. Os conceitos de guerra justa e resgate e os ameríndios do Norte do Brasil. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Brasil: Colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2000. ESPÍNDOLA, Haruf Salmen. Sertão do Rio Doce. Bauru, São Paulo: Edusc, 2005. FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. O Império em apuros: notas para o estudo das alterações ultramarinas e das práticas políticas no império colonial português, séculos XVII e XVIII. In: FURTADO, Júnia F. (org). Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. GRUZINSKI, Serge. La colonizacion de lo imaginário: sociedades indígenas y occidentalizacion en el México español. Siglos XVI-XVIII. México: Fondo de Cultura Econômica. 2000. MATTOS, Izabel Missagia de. Civilização e Revolta: os botocudos e a catequese na Província de Minas. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004. MELLO, Márcia Eliane A. de Souza. Rastros da Memória: histórias e trajetórias das populações indígenas da Amazônia. Manaus: EDUA, 2006. MONTEIRO, Jonh Manuel de. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. _______ . O escravo índio, esse desconhecido. In: GRUPIONI, Luis Donisete (org). Índios no Brasil. Brasília: MEC, 1994. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 181 Márcia Amantino MONTERO, Paula.(org). Deus na aldeia: Missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006. NAZZARI, Muriel. Da escravidão à liberdade: a transição de índio administrado para vassalo independente em São Paulo Colonial. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Brasil: Colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2000. OILIAM José. Indígenas de Minas Gerais: aspectos sociais, políticos e etnológicos. Belo Horizonte: Edições Movimento e Perspectivas, 1965. PERRONE-MOISES, Beatriz. Índios livres e índios escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial. Séculos XVI a XVIII. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. (org). História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura: FAPESP, 1992. RESENDE, Maria Leonia Chaves de. Devassas gentílicas: inquisição dos índios na Minas Gerais colonial. São João del Rei:UFSJ, 2005. SAMPAIO, Patrícia Maria Melo. Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdades na Colônia- Sertões do Grão-Pará, 1755-1823. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado apresentada à Universidade Federal Fluminense, 2001. SILVA, Francisco Ribeiro da. A legislação seiscentista portuguesa e os índios do Brasil. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Brasil: Colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2000. VARNHAGEN, Francisco A de. História Geral do Brasil. São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, s.d. VENÂNCIO, Renato Pinto. Os últimos carijós: escravidão indígena em Minas Gerais. 1711-1725. In: Revista Brasileira de História. São Paulo. V. 17, n. 34, 1997. 182 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):163-182, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades II – COMUNICAÇÕES Genealogias negras: limites e possibilidades Victorino Chermont de Miranda1 Introdução A Genealogia, como todo saber, corre o risco de ser desvirtuada, especialmente quando deixa de acompanhar a evolução dos tempos. Inicialmente identificada com os estudos nobiliárquicos e destinada a ser um dos suportes do Antigo Regime, foi aos poucos alargando seu foco de interesse para incorporar, primeiramente, a burguesia e, a partir da segunda metade do século passado, extratos outros antes excluídos, mas hoje integrados no tecido social. Com isto, e para sorte sua (pois, do contrário, nada teria a dizer em nossos dias), pode encontrar o seu verdadeiro leito: o estudo das raízes de todas as famílias, sem preconceitos de qualquer natureza. Genealogia – é bom fixar – é um binômio de nome e de sangue transmitido de geração em geração. E isto, embora alguns finjam desconhecer, todos têm, seja qual for o lustre de suas origens, a cor de seus membros ou posição social. Mas é exatamente neste ponto que se põe, ainda, um dos grandes tabus do nosso tempo. Vale dizer, as chamadas genealogias negras, que muitos continuam a ver, acima de tudo, como uma impossibilidade histórica, à conta do passado escravista, sem se aperceberem da carga ideológica que se esconde em tal posição. Não estamos, é claro, falando de genealogias que remontem a Adão, até porque muitas das que, sem se atreverem a tanto, mergulham na noite dos tempos, não passam de fantasias pseudo-documentadas, que não re1 –1Sócio titular. Membro do Colégio Brasileiro de Genealogia. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 183 Victorino Chermont de Miranda sistem ao rigor historiográfico. Estamos falando de famílias, que se mantém através de gerações, que se abrem num feixe de relações parentais e se traduzem em vínculos de pertencimento iguais aos de qualquer outra. A antiguidade, neste particular, se não chega a ser irrelevante, cede diante da carga identitária de cada história familiar. Da suposta volatilidade das relações cativas Por outro lado, argumentos como o de que as relações cativas eram voláteis e fugidias, comprometendo a identificação de núcleos familiares e o levantamento de genealogias negras, são cada vez mais desautorizados pela moderna produção historiográfica. Estudos como o de Carlos Engelmann2 demonstram, inclusive com abundancia de dados estatísticos, que já nos grandes plantéis escravistas é possível identificar não apenas a existência da família escrava, a partir de núcleos constituídos, no mais das vezes, por um casal ou, eventualmente, por um viúvo com filhos, como a complexidade dos laços parentais entre os diversos grupos estabelecidos no plantel. Leia-se, por exemplo, o que escreveu sobre a comunidade escrava da Real Fazenda de Santa Cruz: Havia lá treze famílias formadas por mais de duas gerações, muitas delas compostas por netos aos cuidados de seus avós. Irmãos que viviam juntos compunham outros treze núcleos domésticos. Santa Cruz foi capaz de produzir uma infindável seqüência de vestígios de parentesco amplo e de uma constituição orgânica que foram eclipsados pela sólida certeza de que as relações de parentesco eram voláteis, fugidias.3 E, mais adiante, referindo-se aos vínculos parentais: 2 –1De laços e de nós. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 3 –1Op. cit., p.59. 184 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades Nos estudos de famílias escravas, normalmente o limite da família é dado pela escassez de fontes. Aqui não. Há sempre uma nova união matrimonial que abre um novo leque de aparentados, e assim se sucede ad nauseam.4 A conclusões semelhantes chegaram os estudos de Daisy Macedo de Barcellos, Miriam de Fátima Chagas et alii sobre a comunidade negra de Morro Alto, no Rio Grande do Sul5, onde foi possível resgatar laços sociais desde os tempo de cativeiro e com eles traçar bem documentadas genealogias, que os próprios autores fizeram questão de retratar em gráficos que nada ficam a dever aos de obras congêneres. O mesmo se colhe no artigo ‘Parentesco e família entre os escravos de Vallim’, de Manolo Garcia Florentino e José Roberto Goes, constante do livro Resgate: uma janela para o oitocentos6, in verbis: Em meados de 1860, [Manoel de Aguiar Vallim] deu início a um paciente registro de seus escravos, então distribuídos por três propriedades: Resgate, Veríssimo e Três Barras, no município de Bananal. Para cada cativo, anunciou-lhe o nome, o sexo, a idade, a cor, a origem e a profissão. Antes disso, desde 1856 (e até 1871), periodicamente anotava a data dos nascimentos e os nomes das crianças escravas, além dos de suas mães. Todas essas informações compõem um livro manuscrito, guardado hoje pelo Arquivo Histórico de Bananal. Na capela da fazenda do Resgate, [...], cuidava de salvar as almas dos negros, batizando-os e casando-os. O arquivo da Cúria Diocesana de Lorena conserva tais registros.7 E prosseguiam: Falecendo, deu ocasião à abertura de um rico inventário post-mor4 –1Ibidem, p. 68. 5 –1Comunidade negra de Morro Alto: historicidade, identidade e territorialidade. [Porto Alegre]: UFRGS, s.d. 6 –1MATTOS, Hebe M. Mattos, SCHNOOR, Luis Eduardo Schnoor, org. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. 7 –1Op. cit., p. 144-145. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 185 Victorino Chermont de Miranda tem, ao qual está anexada a lista de seus escravos, matriculados em 1872. Pode-se encontrá-lo no Arquivo do Ofício Judicial da Comarca de Bananal. Mas não é só. Estão também disponíveis (nos mesmos arquivos) os registros de batismo dos escravos dos pais e do sogro de Vallim, dos quais herdaria cativos, bem como seus respectivos inventários.8 No mesmo sentir, Miridan Brito Falci em suas pesquisas sobre a família escrava em Oeiras, PI9, reportadas em artigo intitulado “Família escrava: antigas e novas reflexões”, no n. 25.1 de CLIO Revista de Pesquisa Histórica, do Programa de Pós-Graduação em História da UFPE: O Piauí tinha uma economia baseada na pecuária, com pouca inversão de capitais, com uma mão-de-obra fixada em laços de família entremeados com seus senhores. Havia famílias de escravos que estavam com a mesma família de senhores por 3 gerações.10 A estabilidade desses laços, malgrado flutuações conjunturais, também não passou despercebida a Carlos A. M. Lima, em sua dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, depois publicada sob o título Artífices do Rio de Janeiro (1790-1808), permitindo-lhe grupar, a partir de dados expressos em inventários postmortem existentes no Arquivo Nacional, no período de 1789-1839, escravos do sexo masculino e feminino com laços familiares por grupo etário e posse ou não de ofícios artesanais.11 Para famílias negras, portanto, que, ainda hoje permanecem na região de antigas propriedades escravistas ou de quilombos, não é, em tese, impossível, reconstituir não apenas seqüências genealógicas, como até mesmo entroncamentos nos núcleos ali outrora existentes. Mas, ainda que famílias outras não logrem chegar a tanto, é possível, 8 –1Ibidem, p.145. 9 –1Demografia escrava no Piauí. In: História e população. Estudos sobre a América Latina. São Paulo: ABEP, IUSSP, CELADE, 1990. 10–1Op. cit., 2007, p. 146. 11–1Rio de Janeiro: Ateliê, 2007, 2008, p. 179-193. 186 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades sim, contar com uma genealogia de três a quatro gerações, e quem sabe cinco, a partir dos assentamentos do Registro Civil, numa busca retrospectiva em que o registro do mais jovem contém o nome de seu ascendente imediato e, assim sucessivamente, em intervalos de 25 a 30 anos, para homens ou mulheres, conforme o caso. A bibliografia genealógica brasileira registra, inclusive, um título que abona o que se acaba de dizer – Famílias pirenopolinas: ensaios genealógicos, de Jarbas Jayme, com um capítulo dedicado às famílias de origem africana, com nada menos de 44 páginas e 24 sub-títulos.12 E, ainda, um segundo – O índio, o negro e seus descendentes: na obra de Carlos G. Rheingantz ‘Primeiras famílias do Rio de Janeiro, séculos XVI e XVII’, de Egon e Frieda Wolff,13 a desafiar a capacidade de pesquisa de quem queira trazer aos nossos dias a genealogia dos troncos por eles ali apontados. E isso sem falar na obra prima da genealogia negra, no Brasil, Dietário dos escravos de São Bento: originários de São Caetano e São Bernardo,14 onde o autor, Luis Gonzaga Piratininga Junior, a partir de anotações deixadas por um escravo, seu ancestral, reconstituiu, e documentou fotograficamente, a saga de sua família. O “Dietário” é a história do escravo Nicolau Tolentino, nascido na Fazenda São Caetano em 10 de setembro de 1855, filho da também escrava Guilhermina e do então abade do Mosteiro, frei João de São Bento dos Santos Pereira. Alforriado em 1877, chegaria a procurador leigo da Ordem em 1875. Viveu até 1929, cercado de numerosos parentes e agregados. Com base nas referidas anotações, o autor reconstituiu-lhe os costados maternos e os de sua mulher, Josefa, nascida livre, remontando os dele ao começo do século XVIII, numa genealogia de nove gerações, com 74 negros escravos e 43 livres. Referindo-se a tal obra, escreveu Piratininga: 12–1Pirenópolis, Goiás: [s.n.], 1973, 5 v. 13–1Rio de Janeiro: [s.n.], 1990. 14–1São Paulo: HUCITEC; São Caetano do Sul, SP, Prefeitura, 1991. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 187 Victorino Chermont de Miranda O que desencadeou inicialmente esta pesquisa foi o arquivo de um desses escravos, posteriormente homem livre. Nem seria preciso dizer do lado extraordinário desse fato: um negro que formou arquivo, guardando sua história e seu viver. Salvou sua escravidão do vazio documental e do perigoso esquecimento.15 O que falta às famílias negras não é, portanto, genealogia. É conhecimento do que sejam, hoje, tais estudos e pesquisas. Da queima dos livros de matricula E aqui tocamos no segundo dos surrados argumentos contra as genealogias negras: a queima dos livros de matrícula dos escravos e entradas nas alfândegas, atribuída a Rui Barbosa. É preciso que se diga, em primeiro lugar, que tais registros não são a única fonte primária da história da população negra no Brasil. Estão aí, ainda hoje, à disposição de qualquer pesquisador, os livros de registro de batismos, matrimônios e óbitos das paróquias, livros – diga-se- de registros muitas vezes específicos de escravos. E não apenas esses, mas os autos de inventários e testamentos dos antigos senhores, hoje no Arquivo Nacional e em arquivos públicos estaduais, às vezes com dados de ocupação, procedência e até mesmo condições físicas de sua escravaria, necessários à determinação de seu valor econômico. E, com eles, os processos outros, administrativos e judiciários, que, uma vez catalogados por data e região e cruzados entre si, poderão fornecer subsídios importantes em termos de investigação genealógica. E, depois, como tudo no Brasil, convém não tomar ao pé da letra o que se contém em certas leis, já que entre o escrito e a realidade medeia não pequena diferença. No caso da queima dos arquivos da escravidão, é hoje assente na historiografia que tal norma, salvo na Capital Federal, e talvez na Bahia, não teve fiel execução, como se colhe no livro Rui Barbosa e a queima dos arquivos, de Américo J. Lacombe, Eduardo Silva e 15–1Op. cit. p. 18. 188 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades Francisco de Assis Barbosa.16 A propósito, anotou Assis Barbosa: No que se refere à execução desses atos e sua extensão em todo o país, torna-se impossível verificar os danos. Quantos documentos foram de fato incinerados? Falta uma avaliação precisa. mesmo em dados aproximativos...17 No mesmo sentido, Américo J. Lacombe, invocando os testemunhos de Luiz Viana Filho e Arthur Cesar Ferreira Reis, e indicando outras fontes documentais existentes nos próprios arquivos da Bahia e na Amazônia.18 E, ainda, Miridan Britto Falci, no artigo já citado: ... desde a renovação dos estudos sobre escravidão (década de 90 do século XX) que a maioria dos historiadores brasileiros concorda que o número de escravos que vivia em famílias era bem mais elevado do que se supunha. Essa análise de maior participação do escravo em famílias se deve principalmente à introdução de fontes que não eram trabalhadas anteriormente, possibilitando uma análise cotidiana dos cativos. Os pesquisadores passaram a procurar e vasculhar nas paróquias de suas cidades os inúmeros livros de batizados e casamentos descobrindo as relações que ali se expressavam. Alem dos registros paroquiais, os inventários post-mortem, os censos demográficps, as listas nominativas, entre outros, estão dando respostas a questões anteriormente insolúveis [...].19 Tais fontes, como ela bem observou, não apenas facilitaram o levantamento de laços genealógicos, mas permitiram estabelecer novos paradigmas para determinar, para além do modelo de família constituída a partir do casamento religioso, onde o pai exercia o pátrio poder, o conceito de família escrava, sem o qual aqueles laços restavam comprometidos. 16–1Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988. 17–1Op. cit., p. 18. 18–1Op. cit., p. 36. 19–1Op. cit., p. 147. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 189 Victorino Chermont de Miranda Outro não é o testemunho de Cacilda Machado, em seu estudo sobre os plantéis escravistas de São José dos Pinhais, PR,20 quando, tomando como exemplo o grupo familiar encabeçado por Jerônimo, escravo do capitão Antonio João da Costa, e Verônica, mulher livre que vivia sob a administração do mesmo, lhe pode reconstituir a genealogia por três gerações: Esse casal, unido em torno de 1765, teve ao menos seis filhos (quatro mulheres e dois homens), todos livres. Resgatei os casamentos de quatro deles, sendo que dois (um homem e uma mulher) se casaram com escravos e ao menos dois netos livres se casaram com escrava, determinando a reinserção do cativeiro na história familiar.21 E prossegue, numa alusão a essa pluralidade de fontes, que aí estão a desafiar historiadores e genealogistas: O cruzamento de dados das listas nominativas e dos registros paroquiais me permitiu, igualmente, detectar alguns arranjos familiares multidomiciliares, por vezes englobando avós, filhos e netos. É o caso das famílias de Dorothea e Elena, e dos casais Antonio Guiné e Esperança, e Antonio Angola e Simoa.22 Nada mais anacrônico, portanto, que ficar a praguejar contra Rui Barbosa. Da alegada ausência de sobrenomes Mas há, ainda, um terceiro argumento que não costuma faltar na cantilena dos que descrêem das possibilidades de uma genealogia negra: é a ausência de sobrenomes. Também aqui é preciso fazer uma ressalva. Uma coisa é não poder 20–1A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. 21–1Op. cit., p. 98. 22–1Ibidem, p. 98. 190 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades reconstituir os laços com a África; outra, o não ter sobrenome. No primeiro caso, é de fato uma limitação de horizontes (salvo exceções como a de baianos libertos que retornaram a Lagos, na Nigéria, estudados por Manuela Carneiro da Cunha e Antonio Olinto),23 mas é bom saber que não é exclusiva das famílias negras. Em todas as genealogias, nobres ou plebéias, brancas ou negras, nacionais ou estrangeiras, há um momento em que, à falta de dados, não é possível avançar e a pesquisa acaba. A pesquisa, não a genealogia, porque esta se estabelece dali para frente e o último nome levantado passa a ser o do patriarca ou matriarca de que se provém. No segundo caso, o problema está mal posto. Os sobrenomes, ao longo do tempo – e isto vale para brancos e negros – foram adotados e transmitidos a partir de diferentes referenciais, como o local de origem da família, características físicas ou ocupação de seu fundador, antigos patronímicos e até mesmo por empréstimo, como é o caso de afilhados, que tomavam os apelidos de seus padrinhos, ou dos antigos cativos, que o faziam em relação a seus senhores. E, mesmo neste caso, o que até pouco tempo era tido como um minus em termos de identidade, já tem, hoje, na moderna historiografia, leitura diversa. Endelmann, já citado, o disse com clareza: Antes que se pense apenas na adesão ou devoção desses aos seus senhores, é possível postular que essa foi uma “herança” tomada ao antigo senhor. Um nome, uma identidade no mundo lusocolonial. Algo que permitisse a construção de relações livres. [...] Enfim, uma estratégia sem dolo, mas com ganho.24 De resto, como ele demonstrou em seu livro, apoiado em Carla Hackenberg,25 a tomada por um cativo de um sobrenome, fosse qual fosse (e os havia também em homenagem a antepassados ou parentes próxi23–1Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África (São Paulo: Brasiliense, 1985) e Brasileiros na África, de Antonio Olinto (Rio de Janeiro: GRD, 1964). 24–1Op. cit., p. 132. 25–1Famílias em cativeiro. Dissertação inédita, Curitiba: UFPR, 1997. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 191 Victorino Chermont de Miranda mos), representava para o escravo um acréscimo de auto-estima, na exígua escala social do cativeiro, e o último estagio no caminho da formação comunitária. O uso de sobrenomes antecede, portanto, à Abolição ou à alforria e tem um componente histórico e até mesmo genealógico que não é possível ignorar. Das dezesseis fazendas observadas por Hackenberg, no Rio de Janeiro, por exemplo, apenas três não possuíam escravos com sobrenome; na Real Fazenda de Santa Cruz, já em 1791, havia nada menos de 797 cativos com sobrenome, e, na do Cabussú, apenas 35% o tinham relacionados aos proprietários, contra os 62% referentes a parentes e padrinhos. Ver, portanto, nos sobrenomes “brancos” de famílias negras, um estigma ou diminuição é, no mínimo, um equívoco trágico, a esvaziar uma dimensão importante de sua história. Não se tire disto, é claro, que do ponto de vista da identidade de uma família negra, um sobrenome africano não representasse um plus para sua história (como os Alakija, da Bahia). Mas sobrenomes se perdem, em qualquer família, com o passar do tempo, especialmente quando a transmissão se faz por linha feminina (e, em certos casos, mais de uma vez), e nem por isto seus membros deixam de se reconhecer e de ser reconhecidos como tais a partir de um determinado ancestral. E mais: em tempos de casamentos inter-raciais, desconhecer os dados genealógicos de origem negra de um dos cônjuges, pelo só fato de serem exíguos ou insuscetíveis de remontar à África, é correr o risco de fazer com que a história de sua descendência se dissolva na genealogia de seu parceiro. A Genealogia como direito de todos Já é tempo, portanto, de não ceder ao jogo da exclusão. A Genealogia é um direito de todos. Genealogia não é sinônimo de nobiliarquia, nem certificação de qualidade; genealogia não tem cor. É resgate da continui- 192 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades dade de uma família, de cada família, no tempo. É sucessão de gerações. É nome, sim, mas é, sobretudo, sangue, gene, DNA. É história e memória dos que nos precederam. Há mais de cem anos da instituição do Registro Público em nosso país, portanto, todos os nascidos a partir da segunda metade do século passado têm, em princípio (e salvo a inexistência do registro à época) a possibilidade de levantar os assentamentos de seus pais, avós e quiçá bisavós.26 E isto já é muito, em termos de Brasil, onde a grande maioria não sabe sequer o nome completo dos avós de ambos os lados. Ninguém precisa, conseqüentemente, ficar frustrado de não chegar a Adão. Estamos falando, pois, de pelo menos três a quatro gerações no Brasil. Se somarmos a isso as relações colaterais, já teremos um universo bastante representativo em termos genealógicos. E é exatamente nessa transversalidade que, em muitos casos, bem mais se sente a força dos laços familiares, a reunir irmãos, tios, sobrinhos e primos numa verdadeira malha, que se reconhece e identifica como um só e mesmo sangue. E, de resto, não é o número de gerações ou de vínculos parentais que dá sentido a uma genealogia, mas a significação do que ela representa para seus membros. Cruz e Souza, o grande poeta negro do Simbolismo, o disse, de forma definitiva: “Todas as vozes que procuro e chamo Ouço-as dentro de mim porque eu as amo [...].27” O papel da memória familiar – especialmente as lembranças dos mais velhos – completa e vivifica o que a sucessão e o intercurso das gerações revela. É ela o grande agente transmissor dos rituais, símbolos e valores 26–1Antonio Olinto, por exemplo, na obra citada, refere o caso de um certo Saint Alexander Ayodele Vera-Cruz, cujos antepassados, retornados do Brasil, remontavam a 1814 (p. 217). E, num trabalho de fazer inveja a genealogistas, chegou a compor um fichário de descendentes de brasileiros, com informações, inclusive, de vínculos colaterais, como as que publicou acerca de Antonio Odalapo Borges da Silva, já nascido em Lagos, Nigéria, mas filho de brasileiros (p. 269-270). 27–1Poesias completas: broqueis, faróis, últimos sonetos. Rio de Janeiro: Ediouro; São Paulo: Publifolha, 1997, p. 213. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 193 Victorino Chermont de Miranda de cada grupo familiar e a ninguém ocorrerá dizer que nas famílias negras os mais idosos não cumpram tal papel. Não é a Genealogia, portanto, que conduz à exclusão social. É o desconhecimento dela, pois desfalca o homem de uma dimensão fundamental de sua vida, que é o conhecimento de seu passado familiar.28 Martinho da Vila, ao lançar o seu Memórias póstumas de Teresa de Jesus, sua mãe, o disse, de forma lapidar: Acho que todo mundo deveria escrever a história de sua família. Se não fosse este livro, Alegria, minha filha de três anos, chegaria aos trinta sem ter idéia de quem foram seus avós, seus tios, sua gente.29 É preciso – repita-se – não fazer o jogo da exclusão. Não há genealogias superiores ou inferiores. A melhor genealogia para cada um é a de sua própria família, porque é a sua história, a sua tradição, o seu capital simbólico – herança e legado para seus descendentes. Não se trata, portanto, de um daqueles ‘padrões brancos’ denunciados por Neusa Santos Souza, em seu Tornar-se negro ou As vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social,30 capazes de fragmentar-lhe a identidade, mas algo que fala diretamente às suas raízes, à história dos seus, reforçando-lhe a auto-estima e a idéia de pertencimento, tão necessárias num mundo, como o nosso, de relações atomizadas. Ela mesmo o disse, com ênfase que importa registrar: Os antepassados ocupam um lugar privilegiado na história do negro, particularmente do negro brasileiro. Substancialmente investidos de energia libidinal, suas palavras têm estatuto de verdade e força de lei e seus projetos não realizados são o destino dos descendentes.31 28–1MIRANDA, Victorino Chermont de. Genealogia e identidade. Revista de História da Biblioteca Nacional, a. 3, jul. 2008, p. 98. 29–1O Globo, 16 ago. 2003, 2º caderno, p. 1. 30–1Rio de Janeiro: Graal, 1983. 31–1Op. cit., p. 35-36. 194 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 Genealogias negras: limites e possibilidades Quem teve oportunidade de ler Alex Haley, em seu Negras raízes,32 há de entender toda carga de verdade que emana dessas palavras, pois também ele, em outras plagas, soube encontrar, na saga dos seus, a força necessária para ‘fazer-se gente’, sem renunciar a sua identidade. Conclusão A Genealogia brasileira pode e deve chamar a si o desafio de fazer do resgate das raízes negras um espaço a mais de inclusão social. Omitir-se é permitir que a história genealógica brasileira continue a ser escrita sem a presença de uma parte importante de seus troncos fundadores. E – o que é pior – sem que os que deles descendem possam assumir o legado de seus maiores, como código de identidade pessoal e familiar. 32–15 ed. Rio de Janeiro: Record, s.d. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):183-195, jan./mar. 2009 195 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Douglas Apratto Tenório Resumo: É vasto o mundo do açúcar em Alagoas. Seus limites vão das regiões da mata e do litoral, onde nasceu, até os confins do sertão e do Rio São Francisco. O ciclo econômico que teve início com os engenhos Escurial e Buenos Aires formou uma sociedade hierarquizada, escravista, senhorial, que influiu fortemente, e continua influindo, na vida alagoana. Ele está representado nas casas-grandes e senzalas que ainda restam. Foi o engenho o suporte das expedições colonizadoras e o responsável pelo surgimento dos primeiros povoados que deram origem a muitas das atuais cidades alagoanas. Este trabalho estuda a importância do açúcar na formação social de Alagoas, apresenta um roteiro dos últimos engenhos remanescentes na região e destaca a importância da preservação desse patrimônio. Palavras-chave: açúcar, engenho, patrimônio. Abstract: The world of sugar in Alagoas is vast. Its limits go from the region of the bush and the coast, where it is originally from, until the end of the hinterland and the São Francisco River. The economic cycle that began with the Escurial and Buenos Aires sugar mills formed a hierarchical and slavery society commended by landlords that strongly influenced, and still contributes in the life-style of Alagoas. Nowadays it is represented in the main houses and slave quarters that still remain. The sugar mill was de support of the colonizing expeditions and the responsible one for the sprouting out of the first villages that became many of the today cities in the state. This work studies the importance of the sugar in the social formation of Alagoas and presents a guide of remaining sugar mills in the region and emphasizes the importance of the preservation of this patrimony. Keywords: sugar, sugar mill, patrimony. O mundo do açúcar em Alagoas Cumbe, Massanguinha, Andrequinice, Bananal, Brejo, Embiribas, Canabrava, Uruba, Riachão, Varrela, Mucuquinha, Nambu, Jaboticaba, Mundaú, Poxim, Jenipapo, Prata, Marrecas, Terra Nova. Anhumas, Lamarão, Boa Sorte, Boa Esperança, Furado, Pratagi, Gorjaú, Penanduba, Itamaracá, Cachoeira, Urucu, Salgado etc. São sonoros os nomes dos engenhos estabelecidos em vários pontos do território alagoano. São tantos, tantos, desde o período de ouro da era colonial até os dias de decadência e morte do período republicano, que R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 197 Douglas Apratto Tenório registrá-los de forma completa seria uma missão impossível, pois muitos tiveram vida fugaz e outros foram esquecidos nos cadernos de anotações de cronistas e historiadores. Todos, porém, são representantes de um sistema de vida familiar, econômico e cultural que ao longo dos séculos condicionaram o ethos da sociedade alagoana. Quanto há de verdade na afirmação de Diégues Júnior de que a história de Alagoas é a história do açúcar? O ciclo econômico que se iniciou e se expandiu na faixa litorânea da parte austral da capitania de Pernambuco, o atual Estado de Alagoas - que teve sua colonização iniciada com os engenhos Escurial e Buenos Aires, obras do fidalgo Cristóvão Lins no século XVI -, formou uma sociedade hierarquizada, de castas, escravista, senhorial, de traços feudais, que influencia as nossas vidas até hoje. Ela está simbolizada nos exemplares de casas-grandes e senzalas que ainda restam nas fazendas que substituíram os antigos engenhos. Casas-grandes e igrejas, pouquíssimas da era colonial, a grande parte ainda de pé ou em ruína parcial, vindas do período imperial ou começo da República. Apesar da descaracterização e da devastadora destruição que sofreram, várias dessas unidades remanescentes ainda exibem uma arquitetura forte e sóbria que enche a vista e encanta quem as mira. Ao vê-las, vislumbramos o mundo do açúcar com o seu cotidiano de plantio de cana, de movimento de moagem, de senzalas, escravos, festas, sinhazinhas, missas, capelães, carros de boi rangendo, compadrio, banho de rio, banho de gamela e trotar de cavalos, o transporte mais usado. Lembramos do cheiro de doces, cuscuz e tapioca. Alagoas não é só o lugar das utopias armadas, dos canais e lagoas, terra dos marechais e dos heróis do Quilombo dos Palmares. É a terra dos engenhos e do açúcar. Por isso, Jaime de Altavila, chamado “O príncipe dos poetas alagoanos”, no seu poema Canto Nativo, cantou como um menestrel enamorado o tema: “Eu trago a minha terra em meus olhos, eu trago a minha terra em meu olfato, minha terra cheira a mel quente dos engenhos, minha terra tem o gosto ardente dos canaviais”. 198 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas É vasto o mundo do açúcar em Alagoas. Seus limites, que começam nas regiões do litoral e da mata, onde nasceu e se consolidou, hoje chegam próximos do agreste e do sertão e penetraram definitivamente o núcleo são-franciscano na sua bela capital, a “mui leal e heróica Penedo”, que já nos seus primórdios conheceu tanto o ciclo do gado quando o ciclo da saccharum officinarum. Estende-se pela maior parte do território alagoano um verde dominador e obsessivo. Até parece ao observador incauto que nada mais brota da terra e pergunta-se o porquê da preferência quase absoluta. Essa mesma interrogação foi feita quatro séculos atrás pelos louros neerlandeses invasores como Gaspar Barléus, encantado com o território que denominou “os mais férteis campos do Brasil”. Seria uma espécie de sina, um fadário de Tupã ou Rudá contra os importunos colonizadores que invadiram as matas úmidas, cheias de terra massapê, para instalar uma ordem nova, onde eles não mais seriam invocados. E os usurpadores não se contentaram apenas com os vales úmidos e as matas do tombo real, chegaram também aos tabuleiros, tidos como terra ruim, onde só a mangaba, o ouricuri e o araçá eram apreciados. O viajante que percorre o território de gente mestiça e de presença forte na história intui que existe um simbolismo que une o presente ao passado. Ao passar em estradas emolduradas pelos inumeráveis canaviais, de um lado e de outro, que se estendem por quase todo o território alagoano, detém a visão por um instante sobre aquele imenso oceano verde e conclui que, sob o mar de caules ondulantes de hoje, jazem, já decompostas, inúmeras outras plantações de cana que lhe antecederam naquele mesmo chão. Plantações que tomaram o lugar de outro verde, o da Mata Atlântica, abatida pelos colonizadores pioneiros, exploradores que chegaram aqui trazidos pelas caravelas do almirante Cabral. Desbravadores que se tornaram senhores de engenho. Engenhos de pilões, mós e eixos, movidos por escravos, água ou animais, com instalações rudimentares e seus processos morosos, fragmentos esparsos de uma velha civilização, mergulhados no silêncio do fogo morto, fumegando na memória de um passado distante, num ciclo que prosseguiu por séculos até hoje, sobrevivendo na paisagem contemporânea, marcando ao mesmo R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 199 Douglas Apratto Tenório tempo os contrastes e a continuidade nas modernas instalações atuais. São as usinas e as destilarias – esses parques industriais que lideraram o processo de modernização do setor sucroalcooleiro do Estado, trabalhando estratégias competitivas no acirrado mercado nacional – que representam, na verdade, o componente do estágio mais recente desse mundo enigmático e desafiador. Elas transformaram a pequena unidade federativa no segundo maior produtor e exportador de açúcar e álcool do Brasil. Deixaram também uma alta conta social a pagar pela falta de diversificação econômica e baixíssimo grau dos indicadores de desenvolvimento humano. Antonil dizia que “para os que não sabem o que custa a doçura do açúcar a quem o lavra, o conheçam e sintam menos dar por ele o preço que vale”. As cidades e os engenhos A cana-de-açúcar já tomava conta da paisagem alagoana desde os primórdios da colonização. Ao pretender fixar o homem à terra e consolidar o domínio português no Novo Mundo, o donatário Duarte Coelho decidiu construir engenhos e mais engenhos em seu território. Em 1526, já figura na Alfândega de Lisboa o pagamento de direitos sobre o açúcar proveniente de Pernambuco, território onde Alagoas estava na época inserido. Foi o engenho de açúcar o suporte da expansão colonizadora e o responsável pela constituição dos primeiros núcleos povoadores que deram origem às cidades alagoanas. A própria capital, Maceió, teve formação mais tardia, no século XVII, “nasceu espúria, no pátio de um engenho colonial, sem a ascendência conhecida e assentamento autorizado nas crônicas do período histórico da luta pelo domínio do gentio e conquista da terra”, como assinalou o historiador Craveiro Costa. O antigo reduto de indígenas e pescadores originou-se em torno de um banguê – com capela inicialmente dedicada a São Gonçalo do Amarante, depois a Nossa Senhora dos Prazeres, de propriedade do capitão de ordenanças Apolinário Fernandes Padilha – que moeu apenas dois anos, 200 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas mas foi fator determinante para o desenvolvimento da célula inicial da cidade. Exatamente após o fim do domínio holandês teve início o primeiro núcleo de colonização da capital, através da construção do engenho Maçaió, nas proximidades do riacho do mesmo nome, no local onde hoje se encontram a Catedral e a Praça D. Pedro II. Após a fase da extração do pau-brasil, madeira abundante, que atraiu a presença francesa, das feitorias e das bandeiras de apresamento dos caetés e tabajaras, passou Alagoas a viver a experiência da colonização baseada na exploração da cana-de-açúcar e da criação de gado. Das feitorias estrangeiras restam a longínqua lembrança dos franceses em vários pontos da costa, principalmente em Paripueira, Coruripe, São Francisco e a maior delas, em território do atual município de Marechal Deodoro, na famosa Praia do Francês. A ocupação do antigo território caeté, a parte austral da capitania da Nova Lusitânia, foi feita a partir de três pólos de povoamento. O primeiro em Porto Calvo, o outro em torno das lagoas maiores, a do Norte e a do Sul, conhecidas pelos indígenas como Manguaba e Mundaú, que viram florescer os povoados de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul e Santa Luzia do Norte. Finalmente, o terceiro, mais ao Sul, tendo como centro Penedo. A irradiação desses três núcleos, fundamentados os dois primeiros em torno dos engenhos, e o terceiro, nos currais e na pecuária, deflagrou o processo de colonização. O povoamento da região norte, a chamada Alagoas Boreal, começou com a bandeira capitaneada por Cristóvão Lins, entre 1575 e 1585. Essa expedição expulsou os potiguares das suas terras e escravizou aqueles que foram capturados vivos. A expansão do território conquistado pelo fidalgo Lins, origem de um dos clãs mais destacados de Alagoas, compreendia uma enorme faixa de território que alcançava os atuais municípios de Maragogi, Japaratinga, Jundiá, Jacuípe, Porto Calvo, Porto de Pedras, Passo de Camaragibe, Matriz de Camaragibe, Colônia de Leopoldina e São Luís do Quitunde. Nessa enorme sesmaria surgiram inicialmente sete engenhos, um pujante pólo açucareiro. Deles, o Escurial e o Buenos R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 201 Douglas Apratto Tenório Aires foram os que mais sobressaíram. Quanto ao segundo núcleo, o donatário pernambucano concedeu outra sesmaria a dom Diogo Soares da Cunha, nas terras em torno da Lagoa do Sul, com uma ativa população que progredia com a pesca e o gado, e principalmente com o cultivo da cana-de-açúcar. O filho de dom Diogo, Gabriel Soares, foi o fundador dos dois primeiros estabelecimentos ali, os engenhos Velho e Novo. Já as terras em torno da Lagoa do Sul, ou Mundaú, foram concedidas a Miguel Gonçalves Vieira pelo donatário Jorge de Albuquerque Coelho. Esta sesmaria tinha cinco léguas de largo, abrangendo toda a extensão do Rio Santo Antonio Mirim até a Pajuçara. Mas o sesmeiro não teve muito interesse no privilégio concedido, pois não levantou nenhum engenho nem deixou nenhum povoado em seu domínio. A tarefa seria realizada por Antonio Martins Ribeiro, que em 1610 edificou um engenho de açúcar na região. O sesmeiro que fez a concessão a Martins Ribeiro foi o filho de Miguel Gonçalves, Diogo Gonçalves Vieira. O povoado que nasceu após a vinda deste foi o de Santa Luzia de Siracusa da Lagoa do Norte. Por último, na parte Sul de Alagoas, Penedo teve suas origens na fundação de um forte construído na margem esquerda do Rio São Francisco, ainda pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, quando estava consolidando sua posse nas terras que ganhou. Era um arraial fortificado e núcleo de defesa da parte mais extrema do território. Como nos dois outros pólos, a colonização aqui também não descurou do plantio da cana-de-açúcar. Vários engenhos surgiram na região, mas com o tempo o gado despontou como a grande opção econômica, exatamente para suprir a demanda da região canavieira do litoral, daí o São Francisco ser denominado “rio dos currais”. Mais tarde, outros núcleos foram surgindo, como Atalaia, Anadia e São Miguel dos Campos, por ocasião das guerras palmarinas e durante a invasão holandesa, mas os três vilarejos iniciais passaram a deter a hegemonia do processo colonizador. Foi o açúcar o grande agente impulsionador desses povoados e, consequentemente, da formação inicial da maioria dos atuais municípios e 202 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas cidades alagoanas. Poucos foram os que escaparam desse destino histórico. O açúcar moldou praticamente todos os aspectos da sua sociedade. Os ciclos do couro e do gado têm, é verdade, suas peculiaridades e sua importância, mas foi nos vales úmidos, na “terra garanhona do massapé”, na expressão cunhada por Gilberto Freyre, que surgiu, em torno dos engenhos e das capelas, o verdadeiro ethos do povo alagoano. Índios, portugueses, africanos, franceses e holandeses fizeram um caldeamento étnico que gerou uma população mestiça com presença forte na história nacional, uma identidade vigorosa que se firma e se reafirma com o tempo pelos laços da tradição açucareira e costumes comuns. O açúcar modificou a paisagem primitiva e foi o alicerce das primeiras aglomerações que iam surgindo nos tempos dos pioneiros e sesmeiros. Pilar, por exemplo, teve início como povoação com um banguê movido a água pertencente a José de Alarcão Ayala, antepassado do barão de Mundaú. Era o Engenho Velho, em torno do qual começou a cidade. De nada valeria sua privilegiada situação estratégica no extremo norte da Lagoa Manguaba, com estradas que se comunicavam com o Vale do Paraíba e com a capital, se não houvesse uma florescente produção açucareira. Um mapa dos engenhos existentes lá, em 1854, mostra dezesseis deles em plena atividade, exportando 49.900 arrobas de açúcar e 94.700 canadas de mel. Eram eles: Lameirão, Novo, Gorjaú de Baixo, Gorjaú de Cima, Boacica, Terra Nova, Flor do Paraíba, Pilarzinho, Brejo, Camurupim, Salgado, Pilar, Volta, Quebra Carro, Chã de Terra Nova e Subaúma Mirim, com 8.458 homens livres e 1.348 escravos. A cidade recebeu o nome em homenagem a Nossa Senhora do Pilar, santa de devoção de Alarcão Ayala, de sangue espanhol, que construiu uma igreja em seu engenho para a santa venerada em Zaragoza. Uma urbe que cresceu a partir do humilde Engenho Velho, recebendo muitos benefícios da modernização no século XIX, como produtos importados europeus, pianos nas casas das famílias mais abastadas, saraus, associações operárias e literorrecreativas e muitos jornais. Outros municípios também tiveram origem idêntica. Um burgo vizi- R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 203 Douglas Apratto Tenório nho a Pilar também remonta à existência de um engenho de açúcar pertencente à família Calheiros de Melo, construído às margens do Rio Mundaú, que recebeu o nome de Rio Largo, denominação da cidade hoje. Nos últimos anos do século XIX, a junção das terras dos engenhos Cachoeira e Rio Largo permitiu a constituição da Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos que ensejou a decolagem da cidadezinha como centro industrial. A velha capital de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, hoje com o nome do proclamador da República, Marechal Deodoro, que seria a região mais dinâmica do modelo espacial colonizador, teve o seu florescimento também ligado ao valorizado produto na época colonial. Ainda hoje persistem na memória da população local os nomes, as histórias e as lendas em torno de seus engenhos - Boca da Caixa, Cumbe, Oiteiro, Piedade, Hortelã, Carrobas, Lama, São Caetano, Cafundó, Riacho Branco, Galhofa, Sumaúma, Praturaes, Congo, Tapera, Gurganema de Baixo. João Lopes Cavalcante, o capitão João Lopes, proprietário do Engenho Gurganema, era famoso pelos severos castigos aplicados aos escravos de sua propriedade e aos mais rebeldes que lhe eram enviados pelos outros senhores para amansar. A palmatória de maçaranduba de seus feitores era famosa; por isso, o seu engenho ficou mais conhecido como “Quebra-Bunda”. No precioso mapa 14 do “Livro que dá Rezão do Estado do Brasil”, de 1612, estão identificados os engenhos Nossa Senhora da Encarnação e Nossa Senhora da Ajuda, dois dentre muitos da região que deram impulso aos efêmeros dias de glória do burgo lacustre de Santa Luzia de Siracusa. Ali próximo, muito tempo depois, outros dois engenhos originaram também o povoado de Satuba, que se consolidaria com a chegada dos trilhos e dos trens da Great Western, no século XIX. A região norte, compreendida entre os municípios que vão de Maragogy a Barra de Santo Antonio, teve em Porto Calvo o centro de gravitação que evoluiu de um bastião militar para o principal núcleo político do que se conhece como Alagoas Boreal – território que se tornou uma verdadeira rota do açúcar, pontilhado de engenhos, de mão de obra es- 204 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas crava e que formou uma aristocracia rural influente na vida política local antes mesmo que a autonomia da província fosse estabelecida institucionalmente. Percorrer a região é ter uma verdadeira aula de história a céu aberto. Diz Dirceu Lindoso: O rio Manguaba é um dos nossos roteiros de civilização, uma espécie de caminho hídrico por onde a civilização europeia dos séculos XVI e XVII penetrou no interior de Alagoas Boreal. Caminho de índios, de colonos espanhóis e portugueses, e de soldados e de comerciantes das Índias Ocidentais. Em suas ribeiras plantaram-se os primeiros centros de colonização e de produção colonial: os engenhos de açúcar. E eram eles: Porto Lino, Porto das Ostras, Bateria, Porto Gercino, Tibau, Barbaça, Preguinha, Pinheiro, Estaleiro. E no vale do Grapiúna, os engenhos Caxangá, Areal, Sabiaú e o Capivara. Mais adiante, Passo de Camaragibe, assim como Matriz, teve sua origem no porto primitivo da primeira, utilizado pelos barcos que faziam o comércio da venda de escravos africanos e da exportação do açúcar produzido pelos engenhos do vale que tem o nome do seu rio. Na sequência da rota, São Luís do Quitunde, onde havia um antigo mocambo escondido nos palmares do rio, teve o povoamento iniciado em função do Engenho Castanha Grande, às margens do Rio Castanha, afluente do Santo Antonio. Essa aldeia inicial teve seus moradores transferidos para o Engenho Quitunde por iniciativa de seu proprietário Joaquim Machado da Cunha Cavalcanti, em 1870, que encarregou um engenheiro alemão, Carlos Baltenstern, de realizar o traçado do novo povoado. As origens das povoações primitivas tiveram sempre um elo comum. São Miguel dos Campos, terras dos índios sinimbys, da nação caeté, chamada de Campos dos Arrozais dos Inhaúns, considerado pelos holandeses como “os campos mais férteis do Brasil”, surge em 1912, quando foi feita por Duarte Coelho Pereira a doação da sesmaria a dona Felipa de Moura, recebendo aquela viúva de Pedro Marinho Falcão e seus genros as terras R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 205 Douglas Apratto Tenório marginais do Rio São Miguel, ali edificando um engenho com o nome do arcanjo guerreiro e do curso fluvial. Boca da Mata desenvolveu seu núcleo a partir do Engenho Santa Rita com seus extensos canaviais. Campo Alegre, da mesma forma, com o Engenho Mosquito, lá pelos idos de 1800. Coruripe, que ficou famoso pela tragédia com o bispo Sardinha, Poxim, Feliz Deserto e Jequiá da Praia, todos seguiram a mesma linha dos arruados que se formaram em torno da lucrativa atividade açucareira. O Vale do Coruripe, como o de São Miguel, firmou sua população e sua história com a vocação agrícola e industrial. Trajetória da qual não se desviou a região serrana e dos quilombos, território de matas exuberantes e serras, também cheias de engenhos, mas que ofereceu condições de refúgio e sobrevivência a milhares de negros fugidos que formaram, na Serra da Barriga, o Quilombo dos Palmares, epicentro de uma comunidade que se estendia a vinte e sete mil quilômetros quadrados, uma via alternativa e ameaçadora ao projeto colonial lusitano. Zumbi e seus liderados lutaram bravamente, mas foram derrotados. Consolidou-se, então, a sociedade senhorial do açúcar. Chã Preta surgiu de uma fazenda com engenho de açúcar edificado na chã pela numerosa família Inácio, de cor negra. Ibateguara, do Engenho Roçadinho, foi cercado por Vicente de Paula, o famoso “caudilho das matas”, mas seus moradores, heroicamente comandados pelo senhor do engenho, resistiram ao ataque dos cabanos e os rechaçaram, entrincheirados e colocando piquetes em torno da casa-grande. Antes da emancipação, o município, por isso, era conhecido por Piquete. São José da Lage teve início com a vinda para suas terras de José Vicente de Lima e sua mulher Angélica de Mendonça que, muito religiosos, doaram a São José, em 1828, “cem mil réis a bem de suas almas”, edificando uma capela ao santo padroeiro e construindo o Engenho Esperança, com casa-grande e senzala a sudoeste da cidade atual, passando a produzir açúcar. Costumam dizer seus habitantes que Lage é a terra do pioneirismo. Nem tanto pela importação dos gados zebu e guzerá da 206 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Índia, que melhoram enormemente a qualidade do plantel bovino de Alagoas, mas, sobretudo, pela implantação da Usina Central Serra Grande, em 1898, um marco da modernização na história do açúcar, e pela construção, em 1918, de uma estrada de ferro com locomotivas importadas da Europa para atender o seu parque industrial, com 46 quilômetros de extensão e 60 desvios, o que desenvolveu ainda mais a produção açucareira. Além disso, foi lá, em 1927, a apresentação para o Brasil do primeiro combustível genuinamente brasileiro, o Usga – Usina Serra Grande, uma mistura de álcool, éter e óleo de mamona. No palco das inovações, há a destacar o empreendedorismo dos coronéis do açúcar Carlos Lyra e seu filho, Salvador Pereira de Lyra. Atalaia, situada no coração da mata alagoana, antigo arraial do Palmar, surgiu para vigiar o movimento dos palmarinos em direção à Serra da Barriga. Habitada anteriormente por índios tupis e tapuias, foram, entretanto, os paulistas do temível bandeirante Domingos Jorge Velho que, contratados para destruir o famoso quilombo negro de Zumbi, ali se concentraram para investir contra o inimigo. Após conseguirem o seu intento, os mercenários receberam terras como parte do pagamento de seus serviços e ali instalaram suas fazendas e engenhos. Em 1871 foram contados 28 engenhos naquela área. A primeira usina de Alagoas, a Brasileiro, foi instalada em seu solo. Viçosa, conhecida como a “Princesa das Matas”, ou “Atenas Alagoana”, o burgo que mais se notabilizou pela importância de seus intelectuais e pela valorização de suas tradições, não escapou do mesmo fadário das irmãs. Por sua privilegiada topografia, foi refúgio de negros fugidos da escravidão, pois fazia parte dos domínios do Quilombo dos Palmares que se espraiavam de seu núcleo principal da região, nos vales do Paraíba e do Mundaú, até os limites de Pernambuco. Como os aborígines faziam antes, os negros palmarinos também aproveitavam as ricas matas que lhes ofereciam fácil meio de subsistência e abrigo contra os inimigos, pois o acesso era difícil para quem não conhecia suas exíguas trilhas na floresta. Após a derrota de Zumbi e de seus seguidores, as terras onde hoje R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 207 Douglas Apratto Tenório se encontra Viçosa foram distribuídas a um lugar-tenente de Domingos Jorge Velho, o capitão André Furtado de Mendonça. Negros e mestiços, que haviam passado para o lado dos paulistas na guerra, continuaram a viver nos mocambos ou a trabalhar nas fazendas e engenhos da região. O primitivo nome, Assembléia, que perdurou muitos anos, foi dado porque os moradores tinham por hábito reunir-se nas calçadas de suas casas todo final de tarde para conversar sobre os assuntos políticos da capital, o cotidiano das lavouras e discutir o preço do açúcar e do algodão. O Alvará Régio de 16 de setembro de 1817, que criou a capitania de Alagoas concedendo-lhe a desejada autonomia, traçou linhas limítrofes num chão cujas fronteiras estavam traçadas imemorialmente por atos oficiais sucessivos que ficaram como marcos definitivos. As três vilas principais presidiram o desenvolvimento da colonização e os núcleos foram se formando naturalmente, ao impulso da expansão colonizadora, avançando sempre do litoral para o sertão. Já no tempo da criação da comarca, 1710, dentro de uma formação geográfica que ia do Rio Una, ao norte, ao Rio São Francisco, ao sul, foram delineadas as linhas do seu território. A população que nele se fixou dedicou-se à agricultura e as povoações surgiram, tendo o engenho por célula, sob a proteção do sesmeiro, senhor da terra, da escravaria e do gado – elementos essenciais do trabalho colonial. O florescimento dos primeiros burgos, a expansão de povoados e vilas não afastou o engenho de açúcar e o seu proprietário, que passou a exercer autoridade sobre as atividades que se congregaram. Essa autoridade ampla, dominadora e absorvente se transmite naturalmente com a sucessão da propriedade aos seus descendentes. E como afirma com razão conceituado cronista da vida alagoana em um de seus trabalhos, “esse predomínio está na razão direta da opulência senhorial”. Foram as áreas canavieiras, e não outras, as que se destacaram como o espaço de maior importância dentro do território alagoano; pontas de lança da penetração ocupadora do sertão, de Porto Calvo a Penedo, a última fronteira. Dentro delas, as aldeias principais que tiveram mais 208 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas crescimento - gerando famílias influentes, oligarquias poderosas após a fase dos pioneiros, firmadas na lavoura da cana plantada em grandes extensões de terra - foram Porto Calvo, Porto de Pedras, Maragogy, Ipioca, Santa Luzia, Pilar, Coruripe, Camaragibe, São Miguel e Alagoas do Sul. Nas vésperas da abolição, em 1870, a população escrava desses dez centros agrícolas com suas freguesias era de 32.746 pessoas, com 116.192 homens livres. O escravo era o esteio do regime, sem o que a economia desses locais não apresentaria grandeza. A província, naquele ano, estava dividida em 28 freguesias. As dez já citadas estavam inseridas na zona canavieira; nas demais, a organização econômica era baseada na pecuária, na atividade pastoril e na também valorizada cultura do algodão. Nelas, o braço escravo não era tão numeroso e a sociedade era menos rígida na sua estratificação. Não rivalizava com a opulência das casas-grandes da zona da mata e do litoral. Por isso mesmo, os homens mais abastados não tiveram na política alagoana o mesmo papel exercido pelos senhores de engenho, principalmente do Norte. A distância que ficavam do centro do poder, a capital, tornava sua influência bem menor, longe dos acordos vantajosos e das conspirações, da ocupação de privilegiados postos nas altas esferas administrativas. Nas dezoito freguesias açucareiras existentes naquela época no sertão, havia apenas 16.052 escravos, a metade dos que havia nas dez citadas. Por isso diz Craveiro Costa, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no ocaso do Império, em 1889, abrindo as senzalas e deixando um claro nos campos agrícolas e pastoris “a zona pecuária não chegou a desorganizar-se para o trabalho”. O que não aconteceu com a zona dos banguês, onde a falta de organização do trabalho a abalou como um terremoto, pois a casa-grande construiu seus alicerces sobre o dorso negro do escravo. E maior não foi o abalo porque, desde algumas décadas atrás, com as sucessivas leis restritivas ao tráfico, a população escrava já vinha sofrendo redução. Em 1819, por exemplo, na gestão do governador Melo e Póvoas, o conselheiro Veloso de Oliveira, cumprindo determinação régia, computou em 111.973 os habitantes da nova capitania recém-emancipada. E desses, a R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 209 Douglas Apratto Tenório população escrava superava a de homens livres, 69.094 para 42.879. A elevação do território à condição de comarca reduziu um pouco a onipotência dos senhores pelo surgimento generalizado da lei e o prestígio da autoridade judiciária. Agora havia um poder maior a que se podia recorrer, mesmo que na maioria dos casos inutilmente, do arbítrio feudal. Mesmo morosa, ineficaz, a lei cerceou de alguma forma o poderio dos senhores de terra, restringindo suas arrogâncias e truculências aos limites dos engenhos ou das fazendas. Causou espécie em Alagoas quando Costa Rego autorizou expressamente em sua gestão governamental, na década de 20 do século passado, a entrada da polícia militar para capturar criminosos em qualquer lugar do Estado, sem nenhum privilégio aos bastiões dos coronéis rurais, santuários sagrados até então inacessíveis à ação governamental. Um escândalo sem precedentes que ajudou a esculpir o mito em torno daquele governante de formação essencialmente urbana, nascido em Pilar, mas educado e vivido na cosmopolita capital da República, no Rio de Janeiro, para onde foi muito cedo devido à orfandade. Até então, o senhor dentro de seus domínios era a autoridade máxima. A casa-grande, mais que uma construção, era um símbolo de poder. Há nuanças nas transformações que se verificam com a tardia urbanização alagoana. A soberania do senhor em suas terras solidifica-se quando a capitania inaugura vida política independente. O chefe senhorial perde a rudeza colonial ao contato com novas ideias políticas e influências sociais, mas alarga o seu raio de autoridade ao sair de suas divisas para estender-se sobre vilas e municípios circunvizinhos, ligando-se a outros de sua condição por diferentes laços de aliança. A eleição de políticos em vários níveis exige um número superior de votos que os moradores de um só feudo rural não podem oferecer. Surgem as oligarquias municipais. Regiões açucareiras tornam-se um enovelado de oligarquias com forte poder de decisão na partilha governamental. Fernandes Lima e Batista Acioly são representantes legítimos de sua classe e de sua região. O clã dos Góis Monteiro, mais adiante, que dirigiu o Estado de 1930 a 1950, é originário do Engenho Guindaste, 210 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas então pertencente a São Luís do Quitunde. A oligarquia dos Malta, procedente de Mata Grande e Penedo, bem como os demais governantes, só governou com vice-governadores ou alianças fortes feitas com a base política originária da zona da mata açucareira. Até mesmo na segunda metade do século XX, quando o mundo urbano torna-se mais potente que o rural, governadores como Arnon de Mello, Afrânio Lages, Lamenha Filho, Divaldo Suruagy, Guilherme Palmeira, José Tavares, Manoel Gomes de Barros têm fortes ligações com o mundo forjado secularmente pelos velhos banguês coloniais. Fernando Collor, que se tornaria o primeiro presidente da República eleito após o fim do regime militar de 1964, tornou conhecida sua passagem pelo Palácio dos Martírios, em 1987, pelo “acordo fiscal com os usineiros”. Nas eleições governamentais de 2006, sem mais prepostos, os candidatos mais fortes que disputaram o pleito junto com mais três pretendentes foram dois usineiros – João Lyra e Teotônio Vilela – oriundos de duas famílias tradicionais da chamada açucarocracia. A antiga comarca continua como dantes, a classe senhorial dominando com sua hegemonia econômica, com preeminência política, como expressão social incontestável. O número de famílias foi reduzido quando os engenhos se eclipsaram; passada a fase áurea, eles foram substituídos pelas grandes unidades agroindustriais. Os escravos foram substituídos pelos boias-frias e pelas máquinas. Mas os sucessores da secular estrutura senhorial são os maiores produtores da riqueza caeté, os grandes eleitores da vida política do Estado, uma aristocracia que está no topo social, sem os títulos nobiliárquicos de outrora, mas com o mesmo prestígio do passado. O açúcar tem seu gosto amargo. A área mais rica de Alagoas é também a mais pobre na conta dos indicadores sociais e de desenvolvimento humano. Quase não há mais casas de moradores. O desemprego e a miséria se acentuaram com a evolução que sofreu o mundo do açúcar. A usina é um verdadeiro parque industrial, uma fábrica moderna, mas nunca vai esquecer o primitivo banguê, do qual saiu como o pinto sai do ovo. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 211 Douglas Apratto Tenório Não se conseguiu, nessa extraordinária trajetória de modernização fabril, oferecer ao trabalhador orientação segura e eficientes estímulos. No lar dos trabalhadores em usina não existem comodidades. Faltam educação e saneamento básicos. Sobrou apenas uma herança apática que impede qualquer aspiração de crescimento. Eles formam uma imensa massa, presa fácil da demagogia e do embuste das promessas eleitorais. Craveiro Costa, observador arguto da transformação por que passou o nosso mundo do açúcar na década de 1930 escreveu com uma forte dose de pessimismo sobre esse trabalhador desditoso, acabrunhado por tantos males oriundos da ignorância e da escravidão, legado do extinto mundo dos engenhos: Quem vive nessas espécies de luras é gente sem alegria, dominada por um desânimo penoso; homens combalidos pelas sezões; fumadores de maconha; alcoólatras; tocadores de viola; pobres criaturas fatalistas, com a noção integral de sua desdita a que procuram se subtrair, fugindo do engenho onde estão para outro em que se encontram os mesmos infortúnios; mulheres desgrenhadas, em estado permanente de gravidez, como se fossem ratazanas gigantescas, amigas do cachimbo e da pinga, metidas em sarapatões, sem o menor traço de feminilidade; crianças ventrudas, sujas, piolhentas, dadas ao prazer que a psicanálise tão bem explica de chupar os dedos. As estruturas sociais que pouco se alteram, com o correr dos tempos cristalizam-se, tendem à inércia, são arcabouços prisionais de longa duração. Mudou a tecnologia na produção do açúcar, acabaram-se os banguês, surgiram as usinas, as commodities, o universo financeiro, mas não mudaram muitas das condições do campesinato rural que surgiu com a extinção da escravidão, acabrunhado por tantos males oriundos da ignorância a que os reduziu a açucarocracia desde os tempos coloniais d’antanho. Quando se passa pelos trabalhadores nos campos na faina da cana, vemos homens humilhados diante de si mesmo, pobres criaturas sem estímulo para nada. O mesmo historiador já citado nos fala de uma manifestação popular 212 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas regional, autêntica criação artística do caboclo da cana – a embolada – um canto aparentemente cheio de alegria, mas que indica todo o sofrimento por que passa este homem do eito, a incerteza de seu viver, a incoerência de suas ações em perene antagonismo com os mandos dos proprietários dos latifúndios, em cuja mentalidade o cativeiro negro ou as sobrevivências do mesmo obliteraram totalmente as mais rudimentares noções de justiça e a ideia de respeito pelos seus operários. Não vamos tratar aqui de cantar as gestas dos homens ou das classes. Queremos alargar o enredo de nossa memória coletiva. História é o que o homem sabe de si mesmo, sua certeza de si mesmo. Cinco séculos nos separam do início da formação daquilo que hoje denominamos Alagoas. Passaram os anos, passaram os homens, mudou o cenário, novidades foram surgindo, mas continuam vivos, presentes em seu arcabouço social, os vestígios do mundo do açúcar. Frágil, a memória é enganosa, seleciona, interpreta, reconstrói dentro da visão do presente. Será que é exagero dizer que a casa-grande e seu complemento, a senzala, continuam dominando a vida alagoana? Será possível narrar a história do Estado sem vê-lo com suas capelas, moendas, plantações pairando no alto das várzeas, das encostas, influenciando de forma poderosa a sua política, a sua cultura, o seu modo de ser, o elo entre a cidade e o campo? O açúcar é um veio inesgotável do ciclo econômico de maior duração e intensidade de nossa história. Nenhum tipo de relato da história de Alagoas seria possível sem unir fatos e símbolos a ele relacionados. Os dois episódios mais expressivos do nosso período colonial, a odisseia dos Palmares e a invasão holandesa, ambos ocorridos no século XVII, estão a ele vinculados, sendo este último conhecido também, por isto, como “Guerra do Açúcar”. Dos engenhos alagoanos negros escravos fugiam, embrenhando-se nas densas matas, até então habitadas pelas tribos dos destemidos e desgraçados indígenas que engrossaram a legião de espártacos que seria imortalizada na história. A epopeia palmarina é um poema de feitos heróicos da resistência de uma gente sofrida que R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 213 Douglas Apratto Tenório provou a falácia da submissão consentida para a dura faina da escravidão. Zumbi, hoje guindado ao panteão dos heróis brasileiros, é o símbolo maior desse ideal de liberdade, que pretendeu uma sociedade alternativa, fora dos padrões da época e que tinha dificuldade para sobreviver ante os sucessivos ataques contra a sua existência. No “Diário de Viagem do Capitão Blaer aos Palmares em 1645” há um registro sobre o Quilombo dos Palmares que diz que ele “era uma forma diferente de cultura da terra denunciadora do trabalho individual e não de trabalho por turmas como se fazia na terra dos engenhos”. Todavia, mesmo deixando em polvorosa fazendas e vilas, entregues à monocultura canavieira, os próprios palmarinos também mantinham o cultivo da cana para a sua existência. No interregno de escaramuças e combates travados e nos breves períodos de paz, antes do assalto final à paliçada da Serra da Barriga, houve comércio entre as partes litigantes, principalmente no tempo em que portugueses, espanhóis e holandeses se digladiavam, em que o açúcar serviu, dentre outros produtos de subsistência, como moeda de troca nas vilas e engenhos vizinhos. Com relação ao segundo episódio, referente à presença flamenga em Alagoas, aconteceu em função da invasão a Pernambuco com o objetivo de garantir as fontes produtoras do açúcar, artigo precioso no mercado internacional e cujos compromissos comerciais estabelecidos tradicionalmente com Portugal estavam sendo desprezados pela Espanha, a nova detentora do trono de Lisboa em função da União Ibérica. Alagoas era parte importante da região dos engenhos de açúcar que tanto queriam os neerlandeses. A figura mais emblemática da guerra, Domingos Fernandes Calabar, o mestiço arrojado que mudou os rumos da guerra, era proprietário de alguns engenhos de açúcar em Porto Calvo e foi submetido a julgamento sumário após ser capturado em sua terra natal, por ordem do comandante Matias de Albuquerque. Uma das batalhas mais importantes do conflito foi travada nas imediações do Engenho Mata Redonda, entre Porto de Pedras e Camaragibe, na qual perdeu a vida o general espanhol D. Luiz Rojas y Borja, sucessor de Matias de Albuquerque no comando das tropas luso-espanholas. 214 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas No governo do príncipe Maurício de Nassau, o esclarecido governante holandês, houve um esforço para estabelecer o aparecimento de pequenas propriedades e a policultura, introduzindo outros gêneros alimentícios ao lado da cana-de-açúcar, mas isto não foi bem aceito pela Companhia das Índias Ocidentais nem pelos grandes proprietários, que desejavam continuar com a vantajosa monocultura. Os senhores de engenho não gostaram das ordens de Nassau para que plantassem roças de mandioca, apesar dele ter garantido que compraria a primeira safra. Ele pretendia fazer de Alagoas a fonte de abastecimento de farinha e de víveres alimentícios da região. Houve também divergências entre as duas partes, os holandeses mais voltados para a atividade comercial e o colono português mais afeito à faina agrícola. Falando dessa aversão que o elemento holandês tinha pelo campo, Johannes Von Waalbeck, um dos comissários da Companhia, observa em relatório escrito sobre visita feita às Alagoas: Sendo, no Brasil, as mercadorias européias muito caras, a agricultura não pode dar frutos que lhes permita manterem-se devidamente, conforme a condição que tinham em sua Pátria. Os moradores portugueses, tanto os simples camponeses como também os senhores de engenho, estão afeitos comumente a comer um pouco de bacalhau e legumes ordinários, de modo que, em alguns engenhos, não há vinho por algum tempo; os nossos compatriotas, porém, não se contentam tão somente em tomar à mesa um trago de vinho ou cerveja. Mas gostam também de se reunir, às vezes, aos seus amigos, do que resulta que as despesas de manutenção são muito desiguais, onde pode subsistir um, o outro se arruína. A guerra holandesa legou terrível herança de abandono, assolação e miséria. Os moradores sofreram toda sorte de privações, mesmo nos lugares mais distantes do front da guerra. As labaredas que incendiaram mais de cem casas e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Alagoas do Sul, os saques, os ataques e as mortes se espalharam praticamente por todo o território, especialmente pelas vilas mais florescentes. A economia foi abalada e nos engenhos a reconstrução foi a palavra de ordem para R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 215 Douglas Apratto Tenório os moradores. Muitos ficaram em ruínas e passaram à condição de fogo morto. As regiões produtoras de açúcar foram as mais afetadas, pois, além do produto que motivou o conflito, os invasores podiam encontrar víveres e mantimentos para suprir suas tropas. Na crônica dos feitos mais importantes da guerra há, incontestavelmente, um lugar de honra para Alagoas. A bandeira e o brasão atual do Estado trazem a lembrança desse período. Além do colmo da cana-deaçúcar, representativo do que movia a antiga capitania, ressaltam a simbologia dos três núcleos povoadores iniciais, traduzidos nos três morros postos em faixa de Porto Calvo, as três tainhas de Alagoas do Sul e o Rio São Francisco, e ainda o forte estratégico de Penedo, herança da engenharia heráldica holandesa nos primitivos brasões criados por Maurício de Nassau. Entre a atual bandeira e o brasão de armas criados pela Lei nº 2.628, de 23 de setembro de 1963, e os primitivos símbolos coloniais, Alagoas teve outra representação heráldica criada em 25 de maio de 1894, por Gabino Besouro, no alvorecer do período republicano. Nela avultam um vapor e um trem como principais meios de transporte da época e os ramos de café e de cana, representando as riquezas do Estado recém-criado. Se o café foi uma experiência fugacíssima na economia local, a cana conservou a majestade vinda desde os tempos iniciais, ultrapassando anos, séculos, mudanças e crises. O processo evolutivo da agroindústria açucareira em Alagoas registra crises e adaptações em suas diferentes etapas. Desde 1850 que no Porto de Jaraguá desembarcavam em quantidade arados de ferro vindos da Inglaterra que iam ganhando adeptos, apesar do velho apego à enxada, foice e machado. No processo de modernização por que passou a sociedade alagoana no final do século XIX, pode-se perceber muito bem isto. Como superar a estagnação do setor diante da forte queda de preços e pela forte concorrência no mercado internacional com a expansão do açúcar antilhano e o vigoroso crescimento da produção da beterraba na Europa e nos Estados Unidos? 216 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas O governo imperial imaginou grandes engenhos centrais, visando a separar a atividade agrícola da industrial, moendo canas alheias. Apesar de todo o apoio estatal, a iniciativa não prosperou. Em Alagoas, três engenhos centrais foram tentados, mas com uma característica diferente, pois foram construídos em terras próprias e não obedeceram ao princípio de separação da atividade agrícola da atividade industrial; eram, portanto, usinas. Compreendeu-se que só com elevado nível tecnológico poder-seia superar a intensa competição do exterior. Quem não o fizesse pereceria nessa guerra implacável. Parece que a vinculação visceral da terra caeté com a cana a fez portadora de uma visão aguçada de proteger-se das tormentas e buscar os aperfeiçoamentos técnicos necessários. As usinas Brasileiro, Utinga Leão e Serra Grande passaram a ser exemplos. A decadência dos engenhos coincide com o aparecimento da usina, uma realidade tecnológica muito diversa. O aproveitamento da eletricidade como força-motriz, a utilização do bagaço como combustível, o uso da cal como decoada em lugar da potassa, as formas de açúcar de metal, o aparelhamento para fabricar açúcar branco sem purgar e o uso do arado foram inovações que acompanharam a mudança. Essa nova realidade e a competição acabaram por liquidar o engenho. Sem poder concorrer com a produtividade e a alta qualidade do produto da usina, os engenhos de açúcar foram pouco a pouco ficando de fogo morto. Ficou para trás o tempo do tratamento rudimentar do caldo de cana e das moendas movidas por escravos ou animais de tração. O poeta alagoano Ledo Ivo, na apresentação do livro de Luciano Trigo Engenho e Memória, diz que “a usina, que engoliu os engenhos e trouxe a industrialização gulosa e desumana, criou novas formas de servidão e infelicidade, o êxodo rural que inchou cidades e tornou mais claras e até mais escandalosas as separações sociais e econômicas”. O que se tem agora é a alta tecnologia proporcionando, além de açúcar, rapadura, melaço e aguardente, o álcool combustível que move grande parte dos veículos que trafegam pelas rodovias brasileiras, com expectativas de fazer o mesmo além do território nacional. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 217 Douglas Apratto Tenório Um breve roteiro dos engenhos hoje O entendimento da alma e da cultura de um povo acontece quando os limites do cotidiano são ultrapassados e a percepção do espaço-tempo é alargada, passando a ser melhor conhecida. Quando percorremos os campos de Alagoas e divisamos alguma edificação, ou o que dela restou, na paisagem verde do seu interior, temos alguma noção dessa ruptura do espaço-tempo e, indiferentes ao presente, assistimos a um verdadeiro flashback do mundo do açúcar desde os primeiros dias do Buenos Aires e do Escurial até agora, com as chaminés das megausinas. Relembramos o sofrimento dos negros, a crueldade da escravidão, o infortúnio de cassacos, cortadores, cambiteiros, boias-frias. A riqueza da casa-grande, a opulência do senhor, o seu poder absoluto na política e o monopólio na economia. Passeamos pelos antigos sítios dos caetés, aspiramos o ar perfumado da cana esmagada, ativamos uma vida que em tudo registra lembranças. Paul Valery diz que “os mortos vão bem guardados na terra que os aquece e os mistérios lhes encerram”. Causa e consequência de nosso destino social. Quantos vestígios desse mundo encontramos nas capelas, cemitérios, nos casarões, em suas ruínas, nos objetos guardados ciosamente pelos descendentes? Para melhor conhecê-los é preciso ir até o pouco que restou das centenas dessas unidades rurais que surgiram ao longo de cinco séculos. De grande valor histórico e cultural para as regiões onde estão sediados, os antigos e últimos engenhos – que já foram, um dia, modernos e produtivos na época áurea do açúcar – não podem mais passar despercebidos pelos roteiros turísticos. Um roteiro breve do que restou dessas edificações nos leva a alguns municípios e um viajante com um mínimo de boa vontade vai encontrá-los em diferentes pontos do Estado. Iniciaria com a parte boreal do Estado, exatamente onde tudo começou – o Engenho Marrecas, em Maragogi. Um belo casarão no alto do morro, que atrai o olhar dos que passam, tendo em seu redor um paraíso ecológico e rural. O engenho já serviu de cenário para a novela “A Indo- 218 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas mada”, da TV Globo, e tornou-se um novo alento do turismo ecológico e rural alagoano. Uma mostra de que essas construções, bem aproveitadas, podem oferecer os mesmos benefícios que as fazendas do ciclo do café proporcionam à economia do Vale do Paraíba, no sul do país. O Engenho Marrecas teve capela, senzala e casa-grande e é conhecido desde abril de 1817, quando Nicolas Paes Sarmento, capitão-mor da Real Vila de Porto de Pedras, em correspondência de campanha citava o engenho como propriedade de Antonio Holanda. Foi durante muito tempo domínio do poderoso clã dos Holanda Cavalcanti, sesmeiros da região quando Alagoas ainda fazia parte da capitania de Pernambuco. As rivalidades e lutas pelo poder entre membros da família levaram à morte trágica de um dos chefes da família, o que alcançou extraordinária repercussão e disputas judiciais dos herdeiros. No mesmo município podem ser vistos ainda os engenhos Jenipapo, Cachoeira e Papagaio. A casa-grande do primeiro, distante quatro quilômetros da sede, data de 1806, foi construída pelo português Corrêa Leal e hoje pertence aos irmãos Wanderley, que lutam para preservar um dos mais interessantes exemplares da arquitetura do açúcar do Estado. O imponente casarão apresenta várias marcas de bala, resultantes dos conflitos travados por ocasião da Revolução Pernambucana de 1817. A fundação do engenho, porém, é muito mais antiga. Seu território foi invadido pelas tropas holandesas do major Cristóvão Arcizewski em 1637, e no século XIX assistiu ao confronto entre negros, índios e forças legais do império na Guerra dos Cabanos. Da sua igreja só resta um sino fundido em bronze como lembrança. O segundo tem esse nome devido à existência na propriedade das chamadas Cachoeiras do Marinheiro, pequenas quedas d’água. Além da casa-grande, permanece a capelinha devotada a São José, padroeiro do engenho. A região, que abrigava as famosas Matas do Tombo Real, viveu a aventura das guerras holandesas, foi cenário de movimentos sociais como os Cabanos e tem em Porto Calvo – berço da discutida figura de Calabar R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 219 Douglas Apratto Tenório – a sua cidade mais conhecida, a primeira e mais antiga comunidade política de Alagoas. Lá, onde começaram a economia canavieira e a colonização portuguesa, ainda estão de pé os engenhos Caxangá; Comandatuba, que pertenceu a Calabar e se encontra desfigurado; o Águas Frias, relativamente bem conservado, e o Estaleiro, ainda em condições de funcionamento. Do Engenho Escurial, considerado um dos mais antigos do país, existe apenas o velho bueiro do núcleo original. Matriz e Passo do Camaragibe, quase tão antigas quanto Porto Calvo, ambas de forte tradição açucareira e que ainda nas primeiras décadas do século passado possuíam propriedades e uma série de engenhos banguês - Santa Justina, Carrilhos, Bom Jesus, Engenho do Meio, Serra d’Água, Travessão, Valle, Água Comprida, Peru, Maranhão, Engenho Velho, Castro, Pé de Veado, Unussú, Ilha Bela, Ilha Vitória, Vale de Souza, Paraná - hoje apresentam poucos exemplares de sua época áurea. Do Engenho Buenos Ayres, construído em 1850, só resta lembrança. Está totalmente destruído. Merece, porém, como o Escurial, uma visita ao lugar. Em Matriz, a Igreja do Bom Jesus e a de São Benedito. No Passo, temos os engenhos Várzea de Souza, o primeiro a moer a vapor; o Santa Justina, perto de exuberante mata, e ainda o São José do Patrocínio, o último a ser desmembrado do Engenho Buenos Ayres, hoje totalmente voltado para a pecuária. Dos demais municípios da região citamos, em Porto de Pedras, o Engenho Mata Redonda, pertencente à Usina Camaragibe, local onde ocorreu a famosa batalha do mesmo nome envolvendo portugueses, espanhóis e holandeses e onde morreu o general Rojas y Borjas, comandante em chefe das tropas luso-espanholas, além do sobrinho de Maurício de Nassau, o príncipe Carol Nassau. Em São Miguel dos Milagres, o Engenho Boa Vista, no povoado Toque, e o Bom Destino, no povoado Porto da Rua. Em São Luís do Quitunde temos o Engenho Castanha Grande, que deu origem à cidade, e o Engenho Roncador, antigo Santa Regina, além dos velhos armazéns de açúcar, denominados trapiches, construídos no final do século XIX, quando os banguês começavam a dar lugar às primeiras usinas centrais. 220 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Nas terras limítrofes entre São Luiz e Barra, mas registrada na primeira, está a interessante casa-grande do Engenho Coronha, que pertenceu ao ex-governador Lamenha Filho. Ainda na região Norte, mas por força das novas divisões regionais na chamada hoje de Grande Maceió, está Barra de Santo Antônio, com os engenhos Lagoa Vermelha, Cabeça de Porco e São Salvador do Guindaste – este, um belo exemplar no estilo mudéjar, como o seu similar Jenipapo. Mais antigo e famoso por sua resistência durante a guerra holandesa, o Guindaste teve gerações de famílias ilustres a nascer em suas terras, entre elas, o famoso clã dos Góis Monteiro, que deu vários governantes e políticos. O general Góis Monteiro, o governador Silvestre Péricles, o senador Manuel e os interventores Edgar de Góis e Ismar de Góis Monteiro foram batizados em sua formosa capela, que ainda está de pé. O mesmo não se pode dizer da casa-grande, posta abaixo pelos que adquiriram a propriedade da família - que deu ao Estado o nome de Alagóes. A microrregião que forma a Grande Maceió teve também como forte componente de sua colonização a cana-de-açúcar, que influenciou e moldou todos os aspectos de sua vida. Em Pilar, por exemplo, dentre tantos engenhos, destaque para o Lamarão, Terra Nova, Gorjaú e o Salgado. O primeiro tem casa-grande bem conservada e sua capela, preservada, talvez seja uma das mais representativas do mundo do açúcar no Estado. Pela posição estratégica, à margem da lagoa, com fácil escoamento da produção, exerceu liderança dentre as dezenas unidades produtoras do entorno. Lamarão é um nome citado em vários documentos. Um deles é a anotação no diário do imperador dom Pedro II, em 9 de janeiro de 1860, quando de sua visita à província ... “à esquerda, os dois engenhos do sogro de Titatara, o Lamarão e o Bonjardim”. Titatara é José da Silva Titara, diretor da Instrução Pública. O que se sabe pelo registro oral dos mais velhos é que há mais de um século a propriedade está nas mãos da mesma família, passando por muitas gerações e algumas reformas que a mantém íntegra. A mais recente tirou parte do grandioso telhado e criou mais um pavimento para receber novos membros do clã. O Salgado é outro exemplar que merece ser visitado. A igreja do R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 221 Douglas Apratto Tenório Terra Nova é uma das mais belas do roteiro e ainda possui o cemitério dos moradores. Rio Largo, que nasceu de um banguê do mesmo nome que o da sesmaria doada a Antonio Martins Ribeiro, não guarda quase nada da sua origem, mas disputa com a vizinha Santa Luzia do Norte, de onde foi desmembrado, a sede do Engenho Riachão, um engenho com trezentos anos de história que se transformou na atual Usina Santa Clotilde. A sesmaria do Riachão, que foi a célula-mãe daquele parque industrial de hoje, data de 1700 e tem seu nome ligado ao bandeirante Domingos Jorge Velho, que comandou o cerco final ao Quilombo dos Palmares. O tenente-coronel Barnabé Pereira da Costa, trineto do titular, herdou um dos muitos engenhos fundados por Manoel Rodrigues Calheiros no Vale do Mundaú. Na sala do Riachão realizou-se, no dia 24 de dezembro de 1949, a histórica reunião da Assembleia Geral para a fundação da Cooperativa de Plantadores de Cana do Vale do Mundaú. Num dos sítios históricos mais importantes de Alagoas, a antiga Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, o atual município de Marechal Deodoro, primeira capital de Alagoas, encontramos a antiga vila cujo nome deu origem à província e ao Estado, ainda com sua economia baseada na cana-de-açúcar como antigamente. Os antigos engenhos Hortelã, Gurganema, Cafundó, Lama e Sumaúma, Tapera, Carrobas e Congó guardam vestígios da época em que, movidos a vapor, a água ou a tração animal faziam do território um grande centro produtor de cana. A decadência da urbe no segundo quartel do século passado foi revertida com o fim do isolamento geográfico e a instalação de usinas de açúcar que encontraram campo fértil e vocação no solo deodorense. O Engenho Cumbe ainda tem a sua casa-grande às margens da Lagoa Mundaú, no povoado de Massagueira. Também vale visitar as ruínas do Boca da Caixa, de Feliz da Costa Moraes, que, com suas paredes de porte colossal, é um caso para estudo. É surpreendente que em terreno de lagoa florescessem tantas unidades de banguês. De todos dali, porém, o São Caetano é o que tem mais bem preservadas as características originais. 222 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas A região são-franciscana, embora famosa pelos currais e pela pesca, contou nos seus primórdios com unidades açucareiras. Dos antigos engenhos, só saudades, mas o verde do canavial voltou a imperar nas últimas décadas do século passado com os modernos parques industriais de açúcar e álcool hoje implantados em seu território. Da mesma forma que em outros lugares, o Vale do Coruripe, famoso pelos seus trapiches e engenhos d’água, assistiu à ruína de tudo que se relacionava com os velhos bangüês. Na medida em que as usinas despontavam com força industrial, os engenhos foram comprados e as ferragens vendidas como sucatas. Os antigos casarões de orgulho passado foram derrubados, como o Glória, o Mocambo e o Santo Antonio. Nas vizinhanças, a antiga Vila do Poxim, conhecida como Vila Real de São José do Poxim, onde os senhores, dos alpendres de suas casas, viam passar os carros de boi chiando nas estradas e levando a cana plantada para as moendas. Só resta hoje a igreja de São José como testemunha daqueles anos d’antanho. No município vizinho de Jequiá da Praia encontra-se, talvez, a mais imponente de todas as casas-grandes de Alagoas, o Engenho Prata, pertencente à família Palmeira e que até há pouco tempo estava em território de São Miguel dos Campos. Sem a atmosfera de vida de antes, ela continua lá, sólida, guardando uma história de lutas, vitórias, sofrimento e principalmente muita alegria. Muitos fatos da história de Alagoas surgiram ali, em sua área de 8.640.000 braças quadradas, que produzia anualmente 10.000 arrobas de açúcar, 12.000 canadas de mel e 500 de aguardente. Dispunha de 20 trabalhadores livres e 80 escravos. O autor do projeto inicial foi um arquiteto gaulês de nome não identificado, como era comum na época onde a influência francesa predominava. Teve como primeiro proprietário Manuel Duarte Ferreira Ferro, o barão de Jequiá, em 1849. Irmão do visconde de Sinimbu, era um dos nomes da nobiliarquia alagoana, coronel da Guarda Nacional e filho do capitão de ordenanças Manuel Vieira Dantas e de Ana Lins, considerados heróis da Revolução de 1817 e da Confederação do Equador, em 1824. Alguns autores chamam a sua casa-grande de “a trincheira da República”. Ornamentada pelas palmeiras régias que destacam suas linhas elegantes, testemunhas do fastígio de R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 223 Douglas Apratto Tenório antigamente, velando em silêncio as sombras dos que viveram e participaram no passado de sua história, foi lar de gerações da família Palmeira, de onde saíram políticos proeminentes, deputados, senadores e governadores. Nas lápides dos túmulos do cemitério do engenho, protegido por uma mata acolhedora, estão gravados nomes conhecidos da história do Estado e do país. Indo mais adiante, à região agreste, em Maribondo, é possível encontrar a casa-grande do Engenho Olho d’Água. Muito mais distante, lá na região serrana sertaneja, em Mata Grande e Água Branca, encontram-se vestígios dos velhos engenhos que produziam o apreciado açúcar mascavo. O Cristo Redentor, em Água Branca, é o solitário guardião da tradição alimentar, produzindo sazonalmente a rapadura, tão importante para a dieta do sertanejo. Em São Miguel dos Campos, que conheceu em sua plenitude o esplendor social característico da vida dos engenhos e da chamada sociedade senhorial, restam somente as tradições, a casa-grande e a igreja do Engenho Pau Brasil, propriedade de Gustavo Soares; a igreja do Engenho Furado, que guarda em seu interior túmulos da tradicional família Cavalcanti, e o Varrela, hoje propriedade da família Lyra. Citada nos relatórios de Waalbeck e Moucheron ao Conselho das Índias Ocidentais, a outrora “cidade heráldica”, território primitivo dos caetés, guarda pouco do apogeu dos banguês, embora mantenha-se fiel ao mundo do açúcar, com suas usinas e canaviais dominando a economia e paisagem. O lugar possuía as mais férteis terras do Brasil, segundo os holandeses, o melhor massapé para o cultivo da cana. Vale uma mirada na igreja do Furado e no Varrela, que ainda conserva – mesmo sem a maquinaria e com o edifício já transformado por muitas modificações – traços fortes da antiga unidade industrial. O cemitério possui um arco de entrada muito peculiar e está bem cuidado, com inúmeros túmulos de várias gerações. O Rio São Miguel é testemunha de séculos de tráfego de canoas, sumacas e barcaças que conduziam a produção açucareira para a antiga Alagoas ou para Maceió, a nova capital a partir de 1839. 224 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Guiomar Alcides de Castro, cronista dos costumes da cidade, lembra a época de fausto da famosa aristocracia canavieira local, no Engenho Jequiá do Fogo, propriedade de José Torquato de Araújo Barros: “Criados de libré, pagens uniformizados, damas de companhia, e muitos escravos se movimentavam naquele casarão muito largo [...] Uma aia inglesa, Sara, lhe cuidava dos filhos, um professor alemão ministrava-lhes curso de línguas, além de outros mestres, todos vivendo sob o mesmo teto. Da igreja de Nossa Senhora da Luz, contígua ao engenho, foi capelão o padre Jonas Batinga. O padre Júlio de Albuquerque diz sobre o mesmo engenho que ao derrubar-se uma casa centenária no Jequiá do Fogo apareceu nos alicerces um tijolo de tamanho e peso descomunal com a seguinte inscrição: De hoje em diante, o diabo é quem faz mais um milheiro de tijolos destes por meia pataca”. Os tempos de ouro são lembrados também nas modinhas, comparando os banguês da região com um astro de maior luminosidade e seus satélites. “Subaúma é prata fina// O Varrela ouro em pó!// No Rosário [...] Né Menino// Riacho Branco, negro só”. Em 1879, ao ficar pronta a capela com afrescos no teto, um grande sino de 60 quilos, de bronze, tinha o registro do artista fabricante: “Nicolao Oliveira da Silva fez para o engenho Varrela do Senhor Major Aristides Cansanção”. Segundo Maria Rocha Cavalcanti Accioli, conceituada cronista da família, o major Aristides era então comandante-superior da Guarda Nacional em Alagoas, deputado provincial e chefe político do Partido Liberal. E chegou a levar para o Rio de Janeiro, a capital do Império, dois escravos para aprenderem o ofício de sapateiro e alfaiate. Levando nosso roteiro para outro cenário, um relevo acidentado chamado pelos geógrafos de “mar de morros”, drenado pelos rios Mundaú e Paraíba, encontramos a histórica microrregião serrana dos Palmares, que tem como elo de seus municípios a mais importante rebelião negra das Américas, o Quilombo dos Palmares, maior e mais desenvolvido quilombo brasileiro. Território de matas exuberantes e serras, ofereceu condições de refúgio e sobrevivência aos negros fugidos que formaram na comunidade palmarina uma via alternativa e ameaçadora do projeto R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 225 Douglas Apratto Tenório colonial lusitano. Nessa região insulada, fronteiriça, rural e montanhosa, fundem-se a persistência da cultura afro-bantu, a sociedade senhorial açucareira, os elementos ibéricos e as nossas raízes indígenas, bases de um grande apego às manifestações populares e aos sonhos libertários. União dos Palmares, a capital da região da famosa república negra, guarda na Fazenda Anhumas as ruínas do velho Engenho Anhumas. Localizado num bolsão da Mata Atlântica, cativa o viajante pela imponência e beleza. O nome, que vem de um pássaro típico do lugar, remete também à deslumbrante casa-grande, verdadeira joia do mundo do açúcar alagoano. O engenho possui 84 entradas e pequenas quedas d’água em seus domínios, que atraem ainda mais o visitante, que faz prece aos céus para que os proprietários e as autoridades não deixem que desapareça aquela edificação de tão bom gosto. O Anhumas foi cenário do filme “Joana, a Francesa”, estrelado pela atriz Jeanne Moreau e dirigido por Cacá Diégues. Outra construção no município de Chã Preta, na mesma região serrana, originalíssima e que também serviu de cenário para um filme - “São Bernardo”, baseado na obra literária do escritor Graciliano Ramos - é o Engenho Boa Esperança. Isolado, quase fronteiriço com o vizinho Estado de Pernambuco, sua casa-grande domina o cenário exuberante do alto de uma elevação, parecendo mais um castelo medieval europeu. Dezenas de engenhos da região desapareceram no século passado, e peças como as rodas d’água foram abandonadas e atraem a curiosidade dos que passam por ali. Viçosa, com suas grotas, vales e chãs, que disputa com União as glórias da sede dos Palmares, tinha na cana-de-açúcar o principal ramo da agricultura, especialmente a modalidade caiena, que se popularizou como caiana. Segundo o cronista Alfredo Brandão, que escreveu “Viçosa de Alagoas”, em 1914, existiam no começo daquele século cerca de cento e vinte engenhos fabricando o açúcar mascavo bruto, hoje tão apreciado pelos adeptos da alimentação saudável, preparado da mesma forma que nos idos coloniais. Lembra aquele cronista que havia o uso de secar o pro- 226 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas duto ao sol, em balcões ou grandes tabuleiros, e que o mel dos tanques, conhecido por mel de furo ou mel cabaú, era empregado no fabrico do retame, assim chamado o açúcar de qualidade inferior, usado no fabrico da aguardente, bebida apreciada como verdadeira ambrosia por todas as classes sociais. O mesmo Brandão, tio e protetor do revolucionário Octavio Brandão, no livro sobre sua amada Princesa das Matas ressalta os engenhos que “safrejam mais de mil saccos por anno”: o Boa Sorte, o Bananal, o Dourada, o Riacho Seco, o Mata Verde, o Limoeirinho e o Floresta. “Os que possuem maiores machinismos são o Boa Sorte e o Bananal, do coronel Manoel Fernandes”. Destaca ainda a boa construção do Barro Branco, reformado em 1898 pelo seu proprietário, o coronel Theotonio Torquato Brandão. Descreve com detalhes o processo de fabricação, desde quando a cana é colhida no campo, da mesma forma que nos séculos de Colônia e Império. “Exprimida a canna nas moendas, o caldo é aparado no parol e deste segue em bicas para o assentamento, o qual consta, em regra geral, de cinco tachas, onde vae se fazendo gradativamente o cozimento, a separação das impurezas e a apuração do mel”. O caldo esguicha para o cocho, escorre para o vaso morto, “donde será transportado para o caldeirote, a caldeira e as cozinhadeiras, até ficar em ponto”. Depois é conduzido para as formas, onde se solidifica. A última etapa é o ensacamento, quatro dias depois, quando, já tendo deixado escorrer o mel que o penetrava para os tanques, o açúcar está seco e pronto para ser entregue aos compradores. Duas casas-grandes ainda estão de pé nesse município de tantas tradições e famoso por seu folclore. A do Engenho Boa Sorte, da família Vilela, por onde passaram tantas figuras ilustres - entre elas o Menestrel das Alagoas, o senador Teotônio Vilela, e o cardeal dom Avelar Brandão. O Engenho Bananal vale a pena ser apreciado, já que é carinhosamente preservado externa e internamente pelos seus proprietários. Não esquecer que há dois engenhos com a mesma denominação, sendo um deles o Bananal Fernandes, em alusão ao primeiro proprietário. Pelo topônimo, o Bananal deve ter sido originalmente um dos vários quilombos dos PalR IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 227 Douglas Apratto Tenório mares. Uma publicação do governo, datada de 1849, intitulada Mapa dos Engenhos de fabricar açúcar, moentes e correntes da Província das Alagoas, o relaciona entre os quatro engenhos então existentes na então Vila da Assembleia: Quizanga, de Manuel Bezerra de Vasconcelos; Bananal, de Manuel Carneiro da Cunha; Jacu, de Afonso de Albuquerque Melo e Dois Irmãos, de José Martins Chaves. Entretanto, atribui-se ao Bananal a primazia da antiguidade, pois aparece na escritura de aquisição, por Manuel Carneiro, a data de 24 de janeiro de 1835. Finalmente, o roteiro deve terminar com um passeio de trem, saindo pela velha estação inaugurada pelos ingleses em Maceió, correndo por dentro dos canaviais até o distrito de Lourenço de Albuquerque, e uma passagem por duas usinas que iniciaram a transição dos velhos engenhos para as grandes unidades industriais, aglutinando os vários banguês da região no processo de modernização do setor, iniciada no final do século XIX e começo do XX. Utinga Leão, em Rio Largo, onde as ruínas da antiga unidade central falam por si, e a Serra Grande, em São José da Lage, pioneira na fabricação do combustível alternativo da marca Usga, nos anos 1930/40, em substituição à gasolina. Tanto na Serra Grande quanto na Utinga ainda se encontram as locomotivas a lenha, desativadas, outrora usadas no transporte da cana do campo para a usina. Ambas são exemplos de ações inovadoras no mundo do açúcar, que também englobariam a utilização dos tabuleiros, na década de 60 do século XX. Em 1864 temos o início da era ferroviária em Alagoas com a Lei nº 428, de 2 de julho, época em que foram feitos os estudos para implantação da primeira via férrea, do Porto de Jaraguá para o centro da província. Mais adiante, junto com a navegação a vapor, criava-se a Alagoas Railway Company, do grupo inglês de Hugh Wilson. Disputavam-se aos burros, bois, cavalos e canoas o transporte do açúcar, o ouro verde. Dos salões do Hotel Terminus, na capital da velha Albion, Londres, ouvia-se atentamente, dos solenes esquires, notícias e relatórios técnicos e financeiros de uma província distante, de um distante país tropical. O mundo do açúcar em Alagoas ingressava a reboque na acelerada transformação que marcaria o período dos grandes melhoramentos materiais do império 228 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas brasileiro no segundo quartel do século XIX. O trem de ferro foi o perfeito símbolo de uma nova etapa que surgiu avassaladora nos centros de decisão e nas periferias nacionais. A ampliação do mercado externo, a passagem do trabalho servil para a mão de obra livre, a nascente República, a transnacionalização – ou melhor, a globalização – da economia, tudo isso conduziu ao fim dos banguês, cujos sinos das capelas dobraram para o ocaso de uma era e o advento de um novo tempo. Como bem retratou Humberto Gomes de Barros em seu poema Usina Santa Amália: Do Alto Camaragibe tudo quanto é bangüê ficará de fogo morto nunca mais irá moer Do Engenho Alagoas a fornalha e a caldeira deixarão de atender Senhor de engenho acabou por inteiro é tempo agora de usineiro A roda do tempo é a roda do açúcar. A velha roda que moeu tanta cana, tanta gente, tantas gerações, agora não mói, não cozinha nem dá o ponto, hoje é só uma lembrança guardada como relíquia. É possível, entretanto, encontrar ainda em vários lugares verdadeiras relíquias do tempo dos engenhos. Muito da nossa história está ali. Em algumas propriedades rurais ainda sobrevivem construções de grande imponência e beleza. Elas podem ser também uma boa indicação para a exploração do turismo ecológico e cultural, o que já é feito com muita competência nos estados do sul e do sudeste do país. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 229 Douglas Apratto Tenório Referências bibliográficas ACCIOLI, Maria Rocha Cavalcanti. Fatos, Personagens, História de São Miguel dos Campos. Brasília: Gráfica do Senado, 1992 ALEMÃO, Francisco Freire. Cana de Açúcar. Investigações históricas de sua introdução no Brasil. Rio de Janeiro: Serviço de Informações do Ministério da Agricultura, 1929. ALVES, Hermilo. Breve Notícia sobre a Província das Alagoas e Memória Justificativa dos planos organizados e apresentados ao Governo Imperial para a construção da Estrada de Ferro Central da mesma província. Rio de Janeiro: Typographia do Soares e Niemeyer, 1880. AMARAL, Luís. História Geral da Agricultura Brasileira. São Paulo: Ed. Nacional,1940. ANTONIL, André. Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1974. AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Arquitetura do Açúcar. São Paulo: Nobel, 1990. BELO, Júlio. Memórias de um Senhor de Engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936. BRANDÃO, Moreno. História de Alagoas. Penedo: Typographia de J. Amorim, 1909. CARLI, Gileno de. Aspectos da Economia Açucareira. Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1942. CARVALHO, Cícero Péricles de. Formação Histórica de Alagoas. Maceió: Grafitex, 1982. CASTRO. Guiomar A de. São Miguel dos Campos. Maceió: Ed. DEC, 1964. CONDÉ, José. A Cana de Açúcar na Vida Brasileira. Recife: IAA, 1972. COSTA PORTO. Velhos Engenhos. Recife: Departamento de Cultura,1977. DIEGUES JR., Manuel. O Bangüê nas Alagoas. reed. Maceió: Edufal, 2002. ________. Engenho do Açúcar no Nordeste. reed. Maceió: Edufal, 2005. ESPÍNDOLA, Thomaz do Bomfim. Geografia Alagoana – Descrição Física, 230 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Caminhos do açúcar engenhos e casas-grandes de Alagoas Política e Histórica da Província das Alagoas. reed. Maceió: Ed. Catavento, 2002. FALCÃO, Pedro Barreto. O Bangüê na Formação Econômica de Alagoas. Maceió, 1937. FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. reed. Rio de Janeiro: Record, 1992. _________. Nordeste. Aspectos da cana sobre a Vida e a Paisagem do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro __________. A presença do Açúcar na Formação Brasileira. Recife: Instituto do Açúcar e do Álcool, 1975. GUERRA, Flávio. Idos do Velho Açúcar. Recife: Sociedade Auxiliadora da Agricultura, 1982. GUSMÃO, Carlos de. Alagoas e suas Propriedades Rurais. Maceió: Diário Oficial 24 e 31/out; 05 e 16/dez 1923. HELENO, Sebastião. Marechal Deodoro. Maceió: Edufal, 2002. LEITE E OITICICA. F. de Paula. A Igreja de N. Sra. da Ajuda do Engenho Mundaú. Maceió: Revista do IHGAL, v. 5, 1931-1941. MARROQUIM, AD. Terra das Alagoas. Roma: Editori Maglione & Strini, 1922. MELO JUNIOR, Maurício. No País dos Caralâmpios. Recife: Ed. Bagaço, 2006. MOURA, José. Onde há Fumaça, há Fogo. Crônicas de uma Usina de Açúcar. Maceió: Ed. Catavento, 2002. OITICICA, Jarbas. Engenho Riachão. Maceió: Gráfica Gazeta de Alagoas, 2002. PONTES, Fernando Galvão de. Velhos Caminhos de São José da Lage. Maceió: Gráfica Gazeta de Alagoas, 1984. KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1972. PIRES, Fernando Tasso Fragoso e GOMES, Geraldo. Antigos Engenhos de Açúcar no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1994. REGO, José Lins do. Menino de Engenho. Rio de Janeiro: Andersen, 1952. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 231 Douglas Apratto Tenório __________. Bangüê. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1954. SANT’ANA, Moacir Medeiros de. Contribuição à História do Açúcar em Alagoas. Recife: Museu do Açúcar-IAA, 1970. TOLLENARE, L.F. Notas Dominicais durante uma viagem em Portugal e no Brasil em 1816,1817 e 1818. Recife: IAGP, 1904. TENÓRIO, Douglas Apratto. Capitalismo e Ferrovias no Brasil. Curitiba: HD Livros, 1996. __________. A Metamorfose das Oligarquias. Curitiba: HD Livros, 1997. VASCONCELOS, Mons. Cícero Teixeira de. O Bananal dos Meus Avós. Salvador: Editora Mensageiro da Fé, 1964. VERÇOSA, Élcio de Gusmão. Cultura e Educação nas Alagoas. Maceió: Edufal, 1997. WAALBEECK E MOUCHERON, Henrique de. Relatório Alagoas em outubro de 1643. Recife: Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, 1887. 232 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):197-232, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano Fernando Tasso Fragoso Pires1 O ser senhor de engenho, he título, a que muitos aspirão, porque traz consigo, o ser servido, obedecido e respeitado por muitos (...) (...) E se for, qual deve ser, homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quanto proporcionadamente se estimão os títulos entre os fidalgos do Reyno. Porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor quatro mil pães de assucar (...) (Do cabedal que há de ter o senhor de um engenho real, livro I, capítulo I).2 Dos fenômenos econômicos vividos no Brasil durante sua existência, o ciclo do açúcar foi o primeiro, o que mais tempo de duração e permanência teve e o que mais influenciou a evolução e o desenvolvimento do país, enquanto Colônia, vice-reinado e nação independente. Atesta-o a autoridade de Gilberto Freire, ao afirmar que o Brasil “nasceu e cresceu econômica e socialmente com o açúcar (...) base na formação da sociedade e na forma de família (...)”. Com maior ou menor intensidade, presença e participação, o açúcar integrou o cenário econômico brasileiro por cerca de quatro séculos. E ao se estudar o açúcar aflora à mente a imagem da casa-grande de engenho, definida por aquele consagrado sociólogo como a “base de um complexo sociocultural de vida”. A casa-grande, como era chamada a principal habitação da unidade rural produtiva, era núcleo em torno do qual tudo gravitava, era como que 1 – IHGB – sócio titular 2 – ANTONIL, André João, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, 1711. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 233 Fernando Tasso Fragoso Pires o símbolo do poder; no presente, é a reminiscência visível dessa participação extraordinária do “senhor”, que não raro ultrapassava de muito as fronteiras do engenho para influenciar no comportamento das gentes, na vida em sociedade e nos rumos da política no Brasil. A divulgação da história da economia açúcar eira no Brasil e a incursão pelos seus contornos sociológicos transportam-nos à memória do passado no ambiente rural de tempos idos, de uma sociedade desaparecida e sepultada para sempre, porque alicerçada em parâmetros inaceitáveis na civilização e na mentalidade modernas: o tempo das sinhás e das sinhazinhas, em que a mulher era uma reclusa na casa-grande, sujeita e submissa às tratativas dos casamentos arranjados pela conveniência e as crianças brincavam com os “moleques” no bagaço doce e quente da canade-açúcar, em montanhas que as moendas não paravam de alimentar. Os antigos engenhos no Recôncavo baiano, eloquentes testemunhos resultantes da riqueza proporcionada pela economia próspera, destacando-se alguns como reflexo do perfil excêntrico dos donos, se apresentam às gerações que se sucedem como verdadeiras obras de arte arquitetônica, relíquias a serem preservadas e admiradas. Enquanto evocam valores históricos, sociais e humanos revivem lembranças caras à nacionalidade, na medida em que o acervo remanescente torna fator de sua identidade, concebido e avaliado como inestimável patrimônio cultural. A imagem da casa-grande de engenho e o relato dos acontecimentos que a envolveram, com especial relevo para os senhores de engenho nobilitados, encerram capítulo fundamental e fascinante da história do Brasil, capítulo a que o notável Tobias Barreto chamaria de açúcar ocracia. O período chamado das Grandes Navegações, aliado ao incremento da influência do reino de Portugal no comércio ultramarino coincide com a chegada de Cabral ao litoral da futura Bahia e a explosão da produção do açúcar, fenômeno que com especial relevância iria influenciar a história social e econômica do Brasil por quatro séculos, quer dizer, durante a Colônia, período de apogeu por sua hegemonia na atividade, no vicereinado e com epílogo no Brasil imperial. A casa de engenho, segundo 234 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano o autor de “Casa Grande e Senzala” foi modelo da fazenda de cacau, da fazenda de café e da estância rio-grandense, influenciando também, destarte, os demais ciclos ocorridos ao longo da história. Antes do século dezesseis, o açúcar era conhecido e consumido como autêntico remédio, do qual se acreditava possuir propriedades terapêuticas e por isso mesmo tinha preço elevado, tanto por essa particularidade como também pela diminuta oferta no mercado de varejo, oferecido em pequenas porções embaladas como se fosse uma panacéia. Em meados dos anos quatrocentos, Portugal já obtinha açúcar de canaviais plantados na Ilha da Madeira e também, em menor escala, Açores e São Tomé. Assim é que com o desenvolvimento da produção do açúcar de cana na virada do século XV para o XVI, o preço em declínio pelo aumento da oferta estabilizava-se em patamares reduzidos, compatíveis com o consumo popular generalizado, tornando, daí em diante, alimento indispensável na mesa das populações civilizadas. Ao ser descoberto o Brasil, Portugal tinha no açúcar um de seus principais produtos de comércio, fazendo frente às afamadas especiarias do Oriente. Esta coincidente demanda europeia pelo produto novo constituiu, entre outros, fator influente e estimulante para a exploração e ocupação do litoral da Colônia, o que ocorreu com especial relevo na Zona da Mata pernambucana e no Recôncavo baiano. Com o advento da divisão da Colônia em capitanias hereditárias, a atividade acelerou-se a partir de 1535. Polo açúcar eiro de desenvolvimento pioneiro foi a Bahia, muito embora esta capitania não tivesse tido a sorte de Pernambuco, no que respeita ao seu donatário. Francisco Pereira Coutinho, o beneficiado pela Coroa, foi mal sucedido na empreitada desde a sua chegada em 1536. Revelando-se administrador inábil, desprovido de senso humanitário e de moderação nas atitudes, atributos pessoais indispensáveis naquelas plagas, deu margem à reações diversas, tanto dos nativos quanto dos colonos. Pelas terras baianas, antes mesmo de se tornar capitania, já lá vivia R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 235 Fernando Tasso Fragoso Pires Diogo Álvares Correa, o Caramurú, cuja ajuda extremamente eficaz permitiu que, a despeito da administração deficiente, os colonos se espalhassem por todo o Recôncavo. Como Caramuru, muitos de seus companheiros portugueses se casaram com índias; e muitas dessas uniões, inclusive de Caramurú, ele próprio pai de muitos filhos, são troncos de tradicionais famílias baianas. Era ele um europeu moço, corajoso e com espírito aventureiro, quando deu à costa da Bahia, como náufrago, presumidamente por volta de 1510. Segundo a lenda portava arma de fogo desconhecida dos nativos que, certamente pelo temor que lhes causou cognominaram o estranho de Caramurú, que significa “o homem de fogo”. Assim ele se teria tornado uma espécie de chefe respeitado das tribos, e como descreve o francês Ferdinand Dénis na obra rara “Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550”, “teria inspirado às jovens índias um desses amores que os poetas sabem tornar imortais. A mais bela filha dessa baía encantada, Paraguaçu, ter-se-ia se unido ao europeu”. À Paraguaçu foi dado o nome de Catherine du Brézil, quando levada pelo navegador Jacques Cartier em 1526, foi batizada em Saint Malo, acolhido o casal pelos reis de França, Catarina de Médicis e Henrique II. Regressão na atividade açúcar eira enquanto capitania, incursão de franceses, a formidável baía de Todos os Santos, a extraordinária posição geográfica do Recôncavo e o clima agradável e salubre foram fatores que levaram a Coroa a reverter a capitania para a Coroa, nela estabelecendo um governo central para o Brasil colonial. Nomeado primeiro governador em 1549, Tomé de Souza a seu juízo considerando inadequado e vulnerável o local da primitiva povoação chamada Vila Velha, escolhe ao norte desta um terreno de chapada onde fundaria São Salvador da Bahia de Todos os Santos, a capital do Brasil, que nessa condição político-administrativa permaneceria até 1763. A meta primordial e prioritária seria, como de se esperar, incrementar a produção do açúcar. Abrindo estradas e implementando a navegação, o resultado foi o acelerado povoamento de todo o litoral do Recôncavo baiano. Com o Governo Geral reforçou-se a defesa da costa e com o iní- 236 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano cio da produção nos engenhos a Bahia se reintegrava ao clima de esperança e euforia que a doce riqueza proporcionava. Sob Mem de Sá, de 1558 a 1572, deu-se seguimento à política de concessão de sesmarias, objetivando sempre a construção de novos e maiores engenhos. O próprio governador tinha o seu, às margens do rio Sergipe, que deu o nome ao engenho; depois se chamaria Sergipe do Conde, por pertencer ao conde de Linhares. Foi este o mais famoso engenho de açúcar do Brasil português. A Coroa também levantou seu engenho em 1561, chamado D’El Rei. No ano de 1580, estava em operação, mas arrendado a particulares, o que terá sido a primeira tentativa de privatização de estatal no Brasil... A Bahia, juntamente com os demais polos açúcar eiros forma cenário solidamente alicerçado em condições particularmente favoráveis na segunda metade dos anos quinhentos. O produto muito valorizado no mercado europeu teve na sua introdução o impulso definitivo para generalizar seu consumo e popularizá-lo. O Brasil português de então detinha o monopólio do comércio mundial. Nessa fase naturalmente jamais faltou à atividade o apoio, a proteção e o estímulo da coroa portuguesa. Governo e senhores de engenho eram como que parceiros na mesma empreitada, que conduziria a atividade ao apogeu efêmero do seu progresso. O “Regimento de Tomé de Souza”, considerado por historiadores como que a primeira constituição do Brasil, ocupa-se longamente de “açúcares e engenhos”, regulamentando seu funcionamento. Do primeiro para o segundo século da descoberta, fase marcada tanto pelo aumento do número de engenhos quanto por constantes elevações do preço, o Recôncavo foi palco de uma abastada civilização, extraordinária não somente pelo progresso econômico mas também pelo modo de viver, luxuoso e perdulário, do que exaustivamente dá notícia, entre outros, Fernão Cardim: “A Bahia é cidade d’El-Rei, e a côrte do Brasil; (...) É terra farta, (...) tem 36 engenhos, nelles se faz o melhor açúcar de toda a costa.” E sobre a baía, anota entusiasmado: R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 237 Fernando Tasso Fragoso Pires “Folgara de saber descrever a formosura de toda esta Bahia e reconcavo, as enseadas (...), todos cheios de muita fartura de pescados (...).” Comenta os engenhos; se antes impressiona-se com a riqueza da fauna, aqui anota a fartura na mesa dos senhores: Os engenhos deste recôncavo (...) De uma cousa me maravilhei (...), e foi a grande facilidade que têm em agasalhar os hospedes, porque a qualquer hora da noite ou dia que chegavamos em brevissimo espaço nos davam de comer (...) todas as variedades de carnes, gallinhas, perús, patos, leitões, cabritos, e outras castas e tudo têm de sua criação, com todo o genero de pescado e mariscos de toda a sorte, dos quaes sempre têm a casa cheia, que na fartura parecem uns condes, e gastam muito. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, obra do primeiro século, de autor não identificado, estudada por Varnhagen e Capistrano de Abreu, registra a exuberância do meio ambiente, exaltando as (...) grandezas da Bahia de Todos os Santos (...). O seu reconcavo é assás largo, no qual há muitas ilhas e rios, que nella desembocam entre enseadas..., pela borda dos quais, ao redor deste grande reconcavo, estão muitos engenhos de fazer assucares (...). É difícil mas possível imaginar a pujança da natureza do Recôncavo da baía de Todos os Santos há quinhentos anos. Historiadores que a testemunharam, todos eles, não deixaram de assinalar o esplendor das belezas naturais, com a exuberância das florestas, com a riqueza da fauna e da flora. É de se visualizar na mente toda a orla e o interior até onde a vista alcançava coberta de matas, a vegetação tropical luxuriante ornada com pássaros de toda a espécie e as diversas ilhas, virgens e intocadas pelo homem predador. A história dos fenômenos econômicos brasileiros reporta-se invariavelmente a fases de ascenção, de apogeu e de declínio. O açúcar não se exclui desta inexorável determinante, muito embora tenha coexistido de modo singular com outros ciclos econômicos que sob diversos aspectos 238 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano lhe fizeram dura concorrência. Diferenciando-se deles, no particular, o açúcar como que sobreviveu em meio às inúmeras crises por que passou, do início da história conhecida do Brasil recém-descoberto até a abolição e a República. Os clãs familiares das casas-grandes dos engenhos formavam uma aristocracia no Recôncavo baiano. E a aristocracia não dispensava a ostentação, o fausto, os gastos desmedidos, como fielmente relatado pelos que testemunharam o modo de viver na época, revelando comportamento caracterizador do apogeu de uma civilização calcada em economia próspera, apogeu que o açúcar só conheceria em curtos períodos de sua história, encontrando sua fase de altos e baixos mas com tendência sempre declinante. As causas são identificáveis: um século de plantio da cana-de-açúcar ensejou a devastação das florestas nativas próximas das fábricas; tanto o cultivo quanto a fornalha da manufatura exigiam o corte de madeira, quanto necessário fosse. Esta realidade obrigava os produtores a se abastecer de lenha em locais cada vez mais distantes da fábrica. Pela mesma razão, a localização dos engenhos à beira-mar, como de preferência, passou por uma mudança forçada, obrigando os produtores a interiorizá-los. Havia assim os engenhos chamados de “borda d ‘ágoa” e os engenhos de “matto dentro”. Duzentos anos depois, Luiz Vilhena nas suas Cartas Soteropolitanas comentaria o problema da lenha, justificando o adentramento dos engenhos em busca do alimento dos fornos, assinalando que: “engenho que há 90 anos dava assucar ao avô, hoje está dando ao neto”. A excelência do solo brasileiro para o cultivo da cana-de-açúcar é notória, realidade registrada mesmo hoje, quando em moda a produção de etanol, o combustível de fonte renovável. A ruptura da política de cooperação entre Portugal e Holanda foi outro obstáculo que contribuiu para agravar as dificuldades que originaram as invasões holandesas. Da ocupação holandesa em Pernambuco durante 30 anos destaca- R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 239 Fernando Tasso Fragoso Pires se a presença do conde Maurício de Nassau-Siegen, entre 1637 e 1644, contratado pela Companhia da Índias para administrar a possessão holandesa nos trópicos. A Nassau, não obstante servir um invasor, não se lhe nega atributos de homem de cultura, tirocínio, trato elevado, idealista, cuja influência foi benéfica e produtiva em todos os segmentos da vida em Pernambuco ocupada. A turbulência provocada pelas invasões holandesas na primeira metade dos anos seiscentos ensejou inevitável e imediata escassez de açúcar na Europa, e em contrapartida, a elevação nos preços. Mas antes de beneficiar, o Brasil é duramente atingido no monopólio por décadas ostentado, quando tem início a concorrência na produção de açúcar pelas colônias antilhanas de Inglaterra, França e Holanda. Estimulada pelos preços atraentes, a produção caribenha se instala para ficar e a partir de 1643 vai aumentando progressivamente sua presença nos mercados europeus. Por ironia do destino, as dificuldades pelas quais passava o Brasil com as invasões holandesas facilitaram aos novos produtores da América Central a importação de técnica e de técnicos, que do Brasil imigraram para trabalhar em outras terras. Às dificuldades somou-se uma terrível epidemia de varíola em 1660 que levou à morte grande contingente de escravos. E, de se lembrar como assinalado enfaticamente por Antonil: “os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho”. Políticas protecionistas para o fabrico do açúcar adotadas pelas metrópoles europeias em favor de suas colônias nas Antilhas, a proximidade geográfica dos centros produtores até a Europa, a qualidade conseguida no produto, tudo favoreceu o bem-sucedido desenvolvimento antilhano, que passou definitivamente a constituir um entrave a mais para o Brasil português. A dura realidade do setor durante o transcurso do século XVII expressa-se reveladoramente no decréscimo da participação do Brasil no mercado europeu: de 80% para 10%. Pode-se dizer que a partir de 1700 e até o final do ciclo o açúcar brasileiro viveu sempre em sucessivas crises, com curtos períodos de alívio e otimismo na performance de sua economia no setor. 240 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano Um desses períodos alvissareiros aconteceu na primeira década dos anos setecentos, quando a atividade viveu certa prosperidade, basicamente provocada por fatores transitórios, como guerras na Europa, nas quais se envolveram justamente os países detentores de possessões nas Antilhas. A Inglaterra, além das dissenções internas dos conflitos entre a coroa e o parlamento, ainda impôs à Holanda regulamentação sobre comércio e navegação marítima, motivo de uma ferrenha luta entre os dois países. E a França, financeiramente arrasada pelo regime perdulário de Luiz XIV. O otimismo entretanto não se justificava. Na verdade, Portugal por suas ações e políticas externava um sentimento de desânimo com relação à economia açúcar eira, em razão da permanente instabilidade do mercado. Para agravar ainda mais o desprestígio da principal atividade brasileira, por volta do ano de 1690, um novo fenômeno econômico começa a tomar corpo no Brasil colonial, que abalaria diretamente o açúcar: a descoberta de ouro e diamante nas Minas Gerais. A matriz, Portugal, deslumbrada com a nova riqueza, tem o interesse para com o açúcar sensivelmente diminuído e passa a dirigir especial atenção e estímulo para tudo quanto se relacionasse com a mineração. Desde logo inflacionaram-se os preços dos escravos e dos animais de serviço, bois e cavalos, elementos vitais para o açúcar , dos quais o engenho não podia prescindir, mas despojado de condições que permitissem acompanhar a elevação dos custos. Além disso, os escravos de melhor compleição física e saúde eram absorvidos pela mineração, ficando os de condição inferior para os engenhos. Os suprimentos básicos também foram atingidos, tornando-se escassos e mais difíceis para o açúcar, atraídos que eram os fornecedores pelos protagonistas da nova e rendosa atividade das minas. Apanhados de surpresa, os senhores de engenho se viram às voltas com dívidas que não podiam saldar, contraídas nos anos de otimismo, sem que jamais abrissem mão dos gastos imprudentes de uma vida faustosa. Contam com a Coroa, interessada em minimizar os efeitos da nova realidade. Fator surpreendente, em parte antes realçado, depois de tantos R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 241 Fernando Tasso Fragoso Pires anos de incessante atividade agrícola de exploração do solo, em favor deles havia a natureza que, preservando a fertilidade da terra, fazia com que o cultivo da cana-de-açúcar continuasse sem cessar, já que os produtores não precisavam deixar seus engenhos a procura de terras virgens, como invariavelmente ocorre com as demais culturas diante da natural e necessária rotatividade. Contudo, apesar de elevada a quantidade produzida pelo grande número de engenhos existentes, a produtividade é baixa, originando um produto mais caro e menos competitivo. O estado de dificuldades permaneceu inalterado para o açúcar até 1750, quando sucessivas guerras na Europa, em especial entre França e Inglaterra, provocam a interrupção da navegação para a América, interferindo no fornecimento do açúcar antilhano, com reflexos positivos para o Brasil. Concomitantemente, também em favor do panorama açúcareiro, a extração aurífera nas Minas Gerais entra em franco declínio, pelo esgotamento das reservas de aluvião, fazendo com que mineradores desiludidos com a atividade deixem-na para investir na agricultura. A revolta haitiana de escravos liderada por Toussaint Loverture, com reflexos favoráveis para o Brasil, provoca aumento da demanda de açúcar, elevação do preço e a consequente expansão da atividade, que viveria em fins dos anos setecentos e começo dos oitocentos um novo surto de progresso. O Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas e Sergipe; o Recôncavo baiano, a Baixada fluminense, em particular a planície próxima ao Rio de Janeiro e o entorno da baía da Guanabara; Campos dos Goitacazes, todas essas regiões seriam importantes núcleos açúcareiros coloniais. Em Pernambuco, as zonas propícias ao cultivo da cana achavam-se cobertas de engenhos e chaminés fumegantes. A Bahia então possuía cerca de 400 engenhos. O Recôncavo fervilhava em atividade febril, sempre associando a atividade produtiva a uma vida social brilhante e intensa em torno dos engenhos. As campanhas napoleônicas também redundaram numa contribuição positiva para o açúcar brasileiro, tanto pelos seus reflexos na América Central quanto pela vinda para o Brasil de D.João VI, evento motivador 242 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano do decreto de abertura dos portos às nações amigas. Com os novos tempos do alvorecer do século XIX e as experiências amargas, vividas e sofridas nas muitas crises, o esforço empreendido pelos produtores no sentido de aperfeiçoar as técnicas de plantio de canade-açúcar e a fabricação dentro de padrões mais econômicos e produtivos começou a mostrar uma reversão no estado de coisas. Entre as novidades introduzidas no setor, a utilização de mudas exóticas de cana trazidas de outras terras para substituir a espécie comum, a racionalização dos instrumentos de trabalho, com a substituição da enxada pelo arado e o tradicional engenho movido à roda água vai paulatinamente sendo substituído pela máquina a vapor; esta, um grande marco no desenvolvimento da civilização em todos os segmentos de atividade. Aquele que viria a ser o marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant Pontes, em 1819 inaugura uma linha regular de barcos a vapor, ligando a importante cidade açúcar eira de Cachoeira e a capital, Salvador, com a vantagem de economizar tempo e transportar maior volume de mercadorias. Atrasada, porque já há muito empregada na Antilhas, a máquina a vapor chega à Bahia em 1815. Sensíveis modificações nos sistemas e métodos de produção até então conhecidos e empregados logo se fazem sentir, eis que a utilização do vapor dispensava quedas d’água e declividade do terreno, ampliando assim, ilimitadamente, as áreas apropriadas para o cultivo. Todavia, nem tudo eram facilidades, eis que o investimento necessário para o emprego da nova força tinha custo elevado. A circunstância fez com que vários engenhos se agrupassem em associação, numa positiva concentração de esforços de naturezas diversas, como de capitais e disciplinamento da energia dispersa, com sensível influência na melhoria da produtividade e na racionalização do fabrico. No Recôncavo baiano, vários engenhos podiam pertencer a uma só família, fosse através de uma anexação por casamento, fato comum no Brasil rural de antigamente, fosse por força de sucessões hereditárias, fosse simplesmente por compra. A concentração de recursos fez com que produtores de menor potencial ou em dificuldades financeiras se tornas- R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 243 Fernando Tasso Fragoso Pires sem apenas fornecedores de cana-de-açúcar dos grandes e mais importantes engenhos, contingência que perduraria para sempre. Os donos desses engenhos de maior porte eram senhores de prestígio e poder reconhecidos, aquém e além dos limites do engenho, dentro e fora da capitania, com influência e voz no governo, antes e depois da independência. A manufatura do açúcar vai aos poucos se transformando na indústria que doravante passaria a ser, ao lado do crescente brilho social das famílias que habitavam os engenhos. O Brasil açúcareiro, especialmente a Bahia, era então uma sociedade agrária, patriarcal e escravocrata, além de poderosa e influente; seus protagonistas, uma inquestionável elite a partir dos casarões, construídos ou ampliados com inusitado requinte, sedes de engenho onde centralizavam e de onde irradiavam sua força. Ser senhor de engenho nesta última quadra do ciclo era estar posicionado no mais alto patamar da hierarquia econômica e como tal ser reconhecido e reverenciado no meio social; era ser protagonista de um cenário que refletia nobreza e fortuna, aureolado pelos títulos nobiliárquicos, símbolos exibidos com orgulho nos frontispícios ou portais das propriedades, nas portinholas das carruagens de gala, nos tetos dos salões da casa-grande, no refinado mobiliário de cadeiras de espaldar alto, na porcelana dos pratos, nos copos de cristal brasonados, nos lençóis e nas toalhas de mesa, no papel de correspondência e em tudo mais que impusesse respeito e notoriedade de fama e prestígio. O senhor de engenho exercia domínio sobre seus dependentes de uma maneira absoluta, sobre a família, parentes, serviçais, escravos, característica própria e costume condizente com o regime patriarcal. Mudanças de comportamento e nos hábitos familiares são introduzidas, como o abrandamento do sistema de reclusão das mulheres, que passam a frequentar teatros e visitam a capital e a corte. Os filhos homens do senhor estudam na Europa, de onde ao retornarem trazem para seu meio novas ideias, noção de progresso e valorização das coisas do espírito, contribuindo para a aristocratização do engenho. Valho-me de retrato extraordinário traçado pelo historiador flumi- 244 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano nense que, Alberto Ribeiro Lamego embora falando da opulência dos engenhos fluminenses, descreve o panorama com palavras que se ajustam com perfeição ao que se passava na Bahia: Foi a diminuição do grande número de engenhos na entrada da era da máquina que operou repentinamente essa metamorfose (...). O novo senhor de engenho, ambicioso de prestígio, já tenta agaloarse de algum título. A mulher e as filhas já nada têm que ver com a fábrica de açúcar , e muito menos com a lavoura. Quando muito os filhos, em pequenos, chafurdam ainda na bagaceira, porque, depois de grandes, seguem para o Rio, São Paulo e Pernambuco. É o tempo das Sinhás, das Nhanhãs (...), das Sinhazinhas, das Mocinhas, dos Nhonhôs, dos Sinhôs, dos Sinhozinhos (...) Para a educação das moças, há os professores de piano, de canto e de dança. O senhor de engenho tem capela na fazenda e sobrado na cidade. E comentando as festas, em descrições que ouviu de seus avós, senhores do engenho de Airizes, na margem do rio Paraíba do Sul em Campos dos Goitacazes: Famosas são as festas dessa nobreza rural. As de casamento duram oito dias. As danças rolam a noite inteira (...) só o que vem da corte ou do estrangeiro serve (...). O que impera (...) são as pavanas, lanceiros, mazurcas, quadrilhas, shottishes e valsas do fim do século, quando as saias balão ainda encobriam a indecência do vestígio mais leve de um pedaço de pé, não obstante a imensidão dos decotes escancarados. O sistema patriarcal implantado e vivido em toda a sua extensão e características peculiares durante os dois últimos séculos do ciclo influencia a disposição e o estilo de vida nas casas-grandes. Nelas, surgem novos valores, não materiais, como o refinamento do espírito no convívio social, tendo como palco imponentes salões de festas, mobiliados com o que havia de melhor em estofados e madeira dourada, decorados com espelhos,bronzes, tapetes europeus e cortinas adamascadas. Para refeições, salas especiais com enormes mesas para fartos banquetes, onde não faltam a toalha de linho francês esmeradamente bordada, o serviço de R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 245 Fernando Tasso Fragoso Pires mesa de fina porcelana, os copos e taças de cristal, bandejas, salvas, baixelas e talheres de prata. Conforme o caso, o brasão de armas do senhor se achava presente na decoração do engenho, emoldurando os retratos a óleo da família, dos reis ou dos imperadores. O cultivo da arte de receber socialmente, de dançar, de declamar versos com ênfase de representação teatral, de apreciar e estimular o gosto pela música erudita e o aprender conversação no idioma francês são hábitos adquiridos que fazem com que as manifestações culturais caminhem lado a lado com o fastígio econômico, como se um tornasse o outro obrigatório e indispensável. À volta dos solares espraiavam-se jardins primorosos, com pavilhão de recreio, cercados por árvores frondosas. Os engenhos localizados nas proximidades da baía de Todos os Santos, do tipo “beira-mar”, tinham o costume de manter na água áreas reservadas com sistema de comportas para a criação de peixes para o consumo, de modo que a qualquer tempo, o melhor pescado estaria disponível na mesa para o visitante ilustre. Julius Naeher, engenheiro e desenhista alemão, casando-se com uma irmã do visconde de Ferreira Bandeira, Pedro Ferreira de Viana Bandeira, visitou demoradamente engenhos baianos, deixando suas impressões: O estrangeiro deleita-se com a beleza da região tropical, magnífica pela exuberância da vegetação e o frescor de seu verde. São (...) as plantações de cana-de-açúcar, cobrindo grandes extensões das encostas, que, pelo claro e brilhante verde de seus tufos de folhas, prendem a atenção do recém-chegado ao Recôncavo da Bahia. A família Ferreira Bandeira tinha como principal sede de sua atividade açúcar eira o famoso engenho Subaé, em Santo Amaro, possivelmente a mais bela construção residencial apalacetada de engenho que a Bahia conheceu, mais parecendo um pequeno mas requintado castelo europeu. Infelizmente não foi conservado, remanescendo apenas seus vestígios arquitetônicos. Não obstante, sua lembrança foi imortalizada pela arte de Naeher, em belíssima aquarela, registrando além da casa solarenga, os jardins delimitados por muro para assegurar a privacidade familiar, construções adjacentes, os arcos condutores d’água, a família em passeio 246 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Engenhos de açúcar no Recôncavo baiano a cavalo, cortejada por respeitosos serviçais. A mesma família possuía na capital o não menos famoso Solar da Soledade, também aquarelado por Naeher, habitação de cujos jardins descortina-se soberba vista para a baía de Todos os Santos. Comentando ainda os não mais existentes, além de Subaé é digno de menção o lendário engenho Santo Antonio de Mataripe, em São Francisco do Conde, pertencente ao barão de Moniz Aragão, Egas Moniz Barreto de Aragão e Meneses, cuja imagem está também imortalizada pelo pincel de Naeher. Mas, a história no seu curso geralmente tem verso e reverso. Como aconteceu no ciclo do ouro, no do café e no da borracha, para citar os mais importantes, a conjuntura se altera por fatores diversos e com ela o rumo dos acontecimentos. Toda a opulenta e faustosa civilização proporcionada pela economia açúcar eira, ainda que defrontando-se com frequentes crises, vê acelerar-se a curva de tendência declinante a que estão sujeitas todas as sociedades extraordinárias, que se apoiam em economias instáveis. O retorno da concorrência estrangeira nos demais centros de produção; a obtenção na Europa, com grande sucesso, do açúcar extraído da beterraba, que em parte substitui a cana-de-açúcar, até então única fonte; a explosão da cultura do café na Província Fluminense; a proibição do tráfico de escravos pela lei conhecida por Eusébio de Queirós; a promulgação das leis abolicionistas de 1871, 1885 e 1888; violenta queda dos preços do açúcar no mercado internacional, na segunda metade dos anos oitocentos; enfim, todos esses fatores mais importantes e ainda outros de menor impacto contribuíram para aproximar o ciclo de seu inexorável epílogo. Para salvá-la, tentou-se sem sucesso o sistema de Engenhos Centrais. A ideia dos grandes engenhos-fábricas era centralizar a industrialização, em esforço visando à obtenção de produto mais barato e competitivo. Como acontece na história repetitiva dos ciclos econômicos no Brasil, aquelas famílias abastadas do Recôncavo baiano se diluem empobrecidas na sociedade, liquidadas social e economicamente por dívidas contraídas e impagáveis por força das circunstâncias. Os engenhos em “fogo R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 247 Fernando Tasso Fragoso Pires morto”, isto é, com a produção paralisada, se arruinam pelo abandono a que a realidade os relega. É o ocaso do ciclo. Alguns engenhos no Recôncavo baiano venceram o tempo como que desafiando-o, e remanescem bem conservados, impondo como um dever da sociedade civilizada, atualmente reforçado por imperativo da Constituição vigente, a obrigação de conservá-los para ao conhecimento das gerações futuras, a fim de que não se lhes negue o conhecimento de tão marcante capítulo do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Entre outros, alinham-se com destaque: Unhão, hoje no centro de Salvador; Freguesia, transformado em museu; Cajaíba, ocupando toda a ilha de mesmo nome; Lagoa, com sua bela casa-grande. Esses solares açúcareiros, que chegaram até a geração presente com suas graciosas capelas, integram o acervo cultural-arquitetônico da “Memória Brasileira” e são testemunhos vivos do ciclo do açúcar no Brasil, como Colônia e como nação soberana. Diz-se que desenterrar o passado é reencontrá-lo. Não é possível ter futuro sem uma sólida noção do passado. Um povo que perde seu passado perde também as balizas de seu futuro. 248 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):233-248, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais1 Rogéria Moreira de Ipanema2 1. Título de Imperial, uma identidade sem documento? O Arquivo Nacional reúne em 4 volumes3 os requerimentos de Títulos de Imperial, com datas-limite de 18 de março de 1854 a 2 de outubro de 1889, com entrada pelo prenome, somando 191 processos dirigidos ao imperador, com abertura no Ministério do Império. Nas competências e atribuições administrativas de cada seção ou diretoria do Ministério e Secretaria de Estado dos Negócios do Império, não aparece nenhuma citação, menção ou sequer a função de algum chefe/ diretor que tivesse que encaminhar os pedidos de concessão da graça do título de Imperial à sua majestade o imperador d. Pedro II. Em Organização e administração do Ministério do Império,4 a competência do despacho destes títulos não aparece em nenhum parágrafo das alterações reorganizadoras regulamentares internas da Secretaria para os anos de 1842, 1844, 1859, 1868, 1874 e 1881.5 Nesta obra, como em Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do Império,6 1 – Texto apresentado na Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas – CEPHAS/ IHGB, em 12 de novembro de 2008. 2 – Professora doutora em história ICHF-UFF, 1ª secretária do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. 3 – Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, 4 v. 4 – LACOMBE, Luís L. História administrativa do Brasil, 10. TAPAJÓS, Vicente (coord.). Organização e administração do ministério do Império. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público, 1984. 5 – LACOMBE, Luís L. O segundo reinado: reinado pessoal de d. Pedro II. In: Op. Cit., p. 43-76. 6 – MJNI - Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do Império. 2 ed. Guanabara: /Arquivo Nacional, 1962. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 249 Rogéria Moreira de Ipanema estão selecionados vários decretos durante o Império e nenhum sequer remete aos possíveis regulamentos dos termos do Título de Imperial. Na História administrativa do Brasil,7 o autor comenta sobre uma grande massa de decretos executivos do regime monárquico dos governos de 1808 a 1889,8 tratando da administração que vigeu no grande período, mas que não identifica nem revela um ponto do específico conteúdo da legislação sobre a questão Título de Imperial. Nos Relatórios do Ministro do Império9 nada se reporta ou menciona sobre o assunto para as datas pesquisadas. Tampouco na Coleção das leis do Império do Brasil para os mesmos anos das reorganizações da Secretaria10 incluindo as Atas do Conselho de Estado. Outra fonte estudada, no sentido de encontrar atribuições à Mordomia Mor da Casa Imperial foi o “repertório de algumas matérias mais importantes(...)”11 Os catálogos da documentação da Casa Real e Imperial existentes no 7 – FLEIUSS, Max. História administrativa do Brasil. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1925. p. 62-402. 8 – Governos de: d. João, Regência (1808-1815) e Reino (1815-1821); d. Pedro I , Regência (1821) e Império (1822-1831); Regências, Trina Provisória (1831), Trina Definitiva (1831-1835) e Una Definitiva (1835-1840); d. Pedro II, (1840-1889). Idem, ibidem. 9 – Biblioteca Nacional, Relatórios do ministério do Império, rolo PR SPR (126/1, ano/ volume, 1821-1846. 10– Além dos anos citados, foram pesquisados na Coleção das leis do Império do Brasil os anos de 1808, pela primeira administração real joanina no Brasil, e os anos de 1836 a 1854, por se tratar de período anterior aos títulos. A investigação incorreu nestas dataslimite no sentido de encontrar também alguma informação a respeito das competências exercidas pela Mordomia-Mor da Casa Imperial, e que pudessem ter sido transferidas para o Ministério do Império, quando se iniciam os requerimentos dos títulos neste órgão, segundo a documentação pesquisada no Arquivo Nacional. Mas nada consta no período que por decreto ou lei disponha sobre a concessão da coroa de títulos de Imperial, para os setores de produção secundário e terciário. Exemplo: “Os títulos dos oficiais maiores e menores da Casa Imperial eram expedidos pelo Ministério do Império (...) tratando-se de uma concessão de empregos ainda que honorários, passavam a ser de competência do poder executivo”. LACOMBE, Américo Jacobina. Nobreza brasileira. Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: Ministério de Educação e Saúde, /v. 1/, p. 51-150, 1940, p. 67. 11– Repertório de algumas matérias mais importantes sobre que é ouvido e deve oficiar e responder o procurador da Coroa, Soberania, e Fazenda Nacional. In: LACOMBE, Américo Jacobina. Op. cit. p. 73-150. 250 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais Arquivo Nacional12 dispõem sobre as várias categorias de funcionários, inclusive os mecânicos, mas na questão do título de Imperial, não se encontrou nada que elucidasse suas razões, procedimentos, consequências e vantagens. O mesmo se apresenta nos assuntos tratados nas fichas do Fundo IJJ.13 O Código Comercial de 1850,14 o primeiro do Brasil, o Código Comercial de 1869 e o Código Comercial de 1884 também nada declaram ou determinam à classe. O Auxiliador da Indústria Nacional15 para os anos de 1853 e 1854 nada diz ou descreve sobre o universo e dimensão do Título de Imperial. Em exame dos textos dos processos, da redação do suplicante ao despacho inscrito no próprio requerimento, não se encontrou nenhuma palavra que remeta a lei, decreto ou regulamentação identificados por instituição, número ou data que elucide a conceituação do título e classificação dos setores produtivos que dele pudessem se utilizar. Do mesmo modo, o conteúdo da súplica e os pontos meritórios do apoio institucional do Estado aos estabelecimentos. E muito menos o valor dos emolumentos e o total dos custos. Dos únicos três títulos de Imperial que estão anexados aos papéis de 12– Arquivo Nacional, datas-limite 1807-1837, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 027; datas-limite 1838-1889, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 027 A; datas-limite 1831-1889, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 028; datas-limite 1809-1889 (decretos), fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 030. 13– Arquivo Nacional, seção de guarda SDE, instrumento IJJ Série Interior (Reino, Império, Interior e Justiça); IJJ3 Casa Imperial e Presidencial (Mordomia); IJJ3 A8 Índice de registro do livro de ofícios. 14– “Dom Pedro Segundo, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nossos súditos, que a Assembléia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte: Código comercial do Império do Brasil”. Assinado pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coitinho Câmara. Coleção das leis do Império do Brasil de 1850. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1851, tomo XI, parte I, p. 57-239. 15– O Auxiliador da Indústria Nacional, periódico da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, saiu de 1833 a 1896. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 251 Rogéria Moreira de Ipanema documentação dos requerimentos, neles também não se inscrevem o instrumento legal de sua própria instituição como os trâmites burocráticos para obter a mercê de seu uso. Apresentam-se os três títulos e os motivos de estarem anexados aos processos. No primeiro, a justificativa se dá pelo fato do novo proprietário da mesma razão social suplicar o uso do título, uma vez que seu pai, antigo dono do estabelecimento, havia recebido a graça e por estar falecido necessitava de uma nova súplica. ANTÔNIO ALFREDO HABBERT16 Fábrica de Vinagre Sua majestade o imperador, atendendo ao que representou João Henrique Habbert, há por bem conceder o título de Imperial à fábrica de vinagre que o mesmo possue na rua do (?) número vinte e quatro. E para sua salvaguarda se passou a presente. Palácio do Rio de Janeiro em 25 de abril de 1856. Luís Pedreira do Couto Ferraz [embaixo, à direita, selo seco recortado com relevo das Armas do Império] [verso ao alto, à direita] ---------------------------------- Regto. no Lº. 18 de Portarias a f 199 da Secretaria de Estado dos Negócios do Império, em 29 de abril de 1856. João [?] Midosi N. 15 10$000 Pg dez mil reis RJ 29 de abril de 1856 Rocha 16–1“Senhor, diz Antônio Habbert que tendo falecido seu pai o Sr. João Henrique Habbert, que foi estabelecido a Rua da Prainha n. 134, hoje a mesma rua n. 126, com fábrica de vinagre ficou pertencendo à dita fábrica que por Portaria de 25 de abril de 1856 lhe foi concedido o título de Imperial Fábrica de vinagre. Nestes termos vem o suplicante requerer a v. m. i. se digne de lhe conceder usar do mesmo título. P. a v. m. se digne assim lhe deferir no que E. R. Mcê. Rio de Janeiro, 9 de julho de 1885. Antônio Alfredo Habbert”. “P. Porta. em 3 de setembro de 1885.” Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, 4 v. V. I, doc. 8. 252 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais JOSÉ PEREIRA DIAS & CIA17 Sua Majestade O Imperador, atendendo ao que representaram José Pereira Dias & Companhia, estabelecidos com farmácia à rua Bela de S. João, canto do Pau Ferro, dita farmácia use do título de Imperial. Palácio do Rio de Janeiro, em 23 de outubro de 1874. João Alfredo Correia de Oliveira (no verso) ---------------------------Registrada a folha 101 do livro competente N. 392 20$000 Pg. vinte mil reis de emolum.to Rio 16 nov.bro 1874 [rubrica] [rubrica] No. 5 Rs 2$000 Pg. dois mil réis de selo Recebedoria 10 de novembro de 1874 Rio de Janeiro Corte Imp.al A justificativa da presença de um título de Imperial original no processo da fábrica de preparar fumo de José Francisco Correia é a formação da nova sociedade comercial. Em virtude da mudança dos proprietários da fábrica, isso também era o caso de pedir uma nova mercê. 17– “Senhor, Manuel Gomes Ribeiro e Domingos da Silva Pinto, farmacêuticos formados pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tendo comprado aos srs. José Pereira Dias & Companhia a farmácia sita a Rua Bela de S. João, canto do Pau Ferro, em S. Cristóvão, e desejando que a dita farmácia continue com o título de Imperial, que até então tinha, como prova o documento junto, vem os sup.tes respeitosamente requerer a Vossa Majestade que conceda-lhes esta graça. P. a Vossa Majestade deferimento. E. R. M. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1876. Manuel Gomes Ribeiro. Domingos da Silva Pinto Sem despacho. O processo está com entrada pelo nome do antigo proprietário. Idem, V. IV, doc. 4. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 253 Rogéria Moreira de Ipanema JOSÉ FRANCISCO CORREIA18 Fábrica a vapor de preparar fumo Sua Alteza A Princesa Imperial Regente, em nome do Imperador, atendendo ao que requereram José Francisco Correia & Cia, vem por bem conceder a fábrica a vapor para o preparo de fumo, estabelecida à rua da Gamboa, n. 70 e ao depósito da mesma fábrica da rua Sete de Setembro n. 76 a 76C, de que são proprietários, o uso de título de Imperial. Palácio do Rio de Janeiro [sem dia] de novembro de 1887. Uma outra formalidade dada ao requerimento, esta da fábrica de coletes para senhoras em seu pedido de deferimento para o estabelecimento apoia-se em uma concessão recebida em data anterior. Quem roga a mercê na data presente é a nora da antiga proprietária.19 Enfim, toda a investigação realizada para encontrar a legislação própria do título de Imperial, não revelou ainda a sua matéria e conteúdo. 2. Distribuição de competências: Secretaria de Estado dos Negócios do Império, título de Imperial e Mordomia-Mor da Casa Imperial, Armas ao alto! O Ministério do Império, transformado na Independência, em sequência direta do Ministério do Reino e Estrangeiros, iniciou suas funções sediado no endereço residencial daquele que ocupou um lugar-chave na representação da organização material e administrativa da vida política 18– P. P. em 25 de novembro de 1887. Idem, V. III, doc. 11. 19– “Senhor, Rosa Saraiva Cabral, mulher de Luís Ferreira da Silva Cabral, pela Portaria junta datada de 11 de outubro de 1866, prova que V. M. Imperial se dignou conceder à fábrica de coletes para senhoras, pertencente a d. Belmira Rosa Saraiva Cabral, o título de “Imperial”. Aconteceu portanto que esta faleceu em 7 de janeiro de 1872 e a suplicante querendo perpetuar a memória de sua mestra e parente, tomou a direção dos mesmos trabalhos, para que não [?] o estabelecimento puramente nacional, e como brasileiro o único da Corte. A suplicante, Imperial Senhor, continua com a mesma fábrica à rua 7 de Setembro, n. 157, e como sucessora daquela falecida suplica a graça de ser confirmado o título de “Imperial” de que já gozava mesmo este estabelecimento. Portam subida graça. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1874. Ana Rosa Saraiva Cabral. Idem, V. I, doc. 5. 254 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais no Brasil, Antônio de Araújo e Azevedo. O estadista trouxe consigo, no traslado de Lisboa-Rio de Janeiro, os papéis da Secretaria de Estado do Estrangeiro e da Guerra Portugal, de que era titular, e o equipamento tipográfico para impressão dos papéis das decisões e leis do Estado. Instalava-se então na cidade, na não tão antiga, naquela época, Rua do Passeio, 42 ou 44,20 no solar do conde da Barca.21 Em local privilegiado, foi a sede dos ministérios, do Reino, e da Justiça da Corte joanina.22 O Ministério do Reino, como a mais antiga secretaria de Estado da Coroa portuguesa, acumulou inicialmente, justificando sua primazia sobre as demais, as competências dos Estrangeiros, Fazenda, Justiça e Agricultura, que mais tarde se transformariam em secretarias independentes. O primeiro ministro a assumir o órgão na regência de d. Pedro foi José Bonifácio de Andrada e Silva, nomeado para a pasta do Reino e Estrangeiros em 16 de janeiro de 1822, estendendo-se a 27 de outubro, e já no Império e Estrangeiros de 30 de outubro de 1822 a 16 de julho de 1823.23 Do Ministério do Império saíram sete presidentes do Conselho de Mi- 20– O Passeio Público com traçado de Mestre Valentim, iniciado em 1779, tornou-se a primeira área pública de lazer em 1783. Surge a partir do desmonte do morro das Mangueiras, terras do capitão-general Gomes Freire de Andrada, conde de Bobadela, que aterraram a Lagoa do Boqueirão em frente ao Aqueduto da Carioca. O caminho da Carioca passou-se a chamar Rua do Passeio. A então denominada popularmente Rua das Mangueiras, que ligava o Largo da Lapa à Rua dos Arcos, tornou-se a Rua Visconde de Maranguape. IPANEMA, Rogéria Moreira de. Em nome da Pax, dos Santos, da Glória, dos céus, há cem.... Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, a. 164, n. 420, p. 191-205, jul./set. 2003; GERSON, Brasil. História das ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Geral de Educação e Cultura, s.d. (Cidade do Rio de Janeiro, 9). p. 228-236. 21– Adquirido o imóvel, igualmente como a Biblioteca Arajuense, após a morte do conde. Fora instalada aí também a primeira oficina da Impressão Régia. 22– O Ministério do Império esteve nos anos de 1840 no número 3 da rua da Guarda Velha, atual Treze de Maio, e de 1877 a 1889 na praça da Constituição, 63. LACOMBE, Luís. L. Introdução. Op. Cit.. 23– Totaliza a pasta 106 ministros, sendo o último Franklin Américo de Meneses Dória, barão de Loreto, no cargo de 7 de junho a 15 de novembro de 1889, data da deflagração da República. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 255 Rogéria Moreira de Ipanema nistros, criado em 1847, inclusive o primeiro. 24 Com esta formação: seis titulares, cinco senadores e um deputado sem titulação. PRESIDENTES DO CONSELHO DE MINISTROS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DO IMPÉRIO Nome Data Gabinete Senador Manuel Alves Branco 22 maio 1847 7º. 8 mar 1848 8º. 4 maio 1857 13º. 10 ago 1859 15º. Deputado Zacarias de Góis e Vasconcelos 24 maio 1862 17º. Senador Pedro de Araújo Lima 30 maio 1862 18º. 12 maio 1865 21º (visconde de Caravelas) Senador José Carlos de Almeida Torres (visconde de Macaé) Senador Pedro de Araújo Lima (marquês de Olinda) Senador interino Ângelo Muniz da Silva Ferraz (barão de Uruguaiana) (marquês de Olinda) Senador Pedro de Araújo Lima (marquês de Olinda) Saídas do reinado de Afonso Henriques as bases do novo estado por24– Decreto n. 523, de 20 de julho de 1847, baixado no 7º. Gabinete: “Tomando em consideração a conveniência de dar ao Ministério uma organização mais adaptada às condições do sistema representativo: hei por bem criar um Presidente do Conselho de Ministros; cumprindo ao dito Conselho organizar o seu regulamento, que será submetido à minha imperial aprovação(...)”. Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do Império. op. cit. p. 99. 256 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais tuguês, aparece sob a direção de magister Albertus, o primeiro funcionário público português. Era ele o chanceler que tinha a “guarda da chancela ou selo real que autenticava os atos oficias do reino”, para depois assumir também o encargo de “escrivão da puridade”. Transformou-se em secretário de d. Sebastião, pelo caráter “secreto” que suas funções lhe atribuíam. No alvará de d. João V de 28 de julho de 1736 o rei reorganiza o estado novamente em secretarias,25 aparecendo pela primeira vez a Secretaria dos Negócios Interiores do Reino.26 Em 1807, nesta figura também a indicação do titular acrescido de ministro e secretário, segundo Lourenço Lacombe “sem nenhum ato específico que o determinasse”.27 Diz o autor que “ministro” era um delegado do rei, “aquele a quem incumbia o soberano de uma missão”; legado, delegado – passou a adotar a designação de ministro, e de ministério a pasta exercida por ele. Uma secretaria complexa de setores e competências28 também tratava dos assuntos da casa real, como a criação e provimento de títulos dos oficiais maiores da casa, as mercês por graça ou remuneração de serviços, juntamente com os livros destas mercês e os benefícios das ordens militares – de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santiago da Espada e São Bento de Avis –, e tudo o mais que a elas se relacionasse. Estas atribuições foram transferidas para a Mordomia-Mor, que na ausência de registro de datação de sua criação, pode-se saber que é anterior ao ano de 1572, a partir do novo regulamento, superando um anterior já obsoleto. Anteriormente já se tratava das funções que deviam ser despachadas 25– Secretaria dos Negócios Interiores do Reino, Marinha e Domínios Ultramarinos. 26– Ministério do Reino, Ministério do Império, Ministério do Interior, na República. 27– (LACOMBE, 1984, p. 7). 28– Doações dos senhorios de terras; alcaidarias mores, jurisdição, privilégios e rendas; pleitos e homenagem de qualquer governo, fortaleza ou capitania dos domínios ultramarinos; nomeações de todos os prelados do reino, como dos domínios ultramarinos; provimentos de presidentes e ministros dos Tribunais, relações e lugares de letras do mesmo reino e domínios; eleições do reformador, reitor ou governador da Universidade de Coimbra e de seus lentes; apresentações dos canonicatos da mesma universidade; provimentos de quaisquer ofícios e cargos do reino, administração da justiça, da polícia, do bem comum dos povos ou do interesse particular dos vassalos do rei. LACOMBE, Luís Lourenço. op. cit. p. 8. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 257 Rogéria Moreira de Ipanema pelo Mordomo-Mor da Casa Real e posteriormente Imperial, como no ofício: “Ofício de Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho ao marquês da Palma participando em nome do imperador que a expedição das ordens e convites para as diversas funções da Corte deverá ser feita pela repartição da Mordomia-Mor. Rio de Janeiro, 8 de junho de 1833.”29 No decreto n. 499, de 31 de janeiro de 1847, apresentam-se novos termos de admissão dos oficiais-mecânicos da Casa Imperial.30 Do mesmo ano é o decreto n. 545, de 23 de dezembro. Ementa: “Dá o Regulamento para execução dos artigos 3º. e 7º. da lei de 23 agosto de 1821, mandada observar neste Império pelo decreto de 20 de outubro de 1823”.31 A função do calígafro e também litógrafo Luís Aleixo Boulanger dá conta de seus serviços para suas altezas, à Casa: “Relatório do mestre de caligrafia da família imperial, Luís Aleixo Boulanger32 ao marquês de 29– Arquivo Nacional, datas-limite (1807-1837), instrumento SDE 027, caixa 8, pacote 2 (anexo), documento 162. 30– Informações do decreto, número e data identificados nos processos. Como o de Lourenço de Oliveira Bahia que desejava o título de “Funileiro da Casa Imperial”, com entrada em Belém do Pará em 20 de dezembro de 1867: “Na conformidade do art. 2º. do decreto n. 499, de 31 de janeiro de 1847, compete à Mordomia-Mor da Casa Imperial a nomeação dos oficiais mecânicos de mesma casa. Em 22 de janeiro de 1868.” Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, V. IV, doc. 24. 31– Idem. t. 10, parte 2ª, seção 46ª, decreto n. 545, p. 124-125, 23 dez. 1847. 32– Louis Aléxis Boulanger (França, 1798 ou 1800 - Rio de Janeiro, 24 de julho de 1873 ou 1874). Chegou no Rio de Janeiro em 1828 e no ano seguinte funda a oficina litográfica L. A. Boulanger & Risso, na rua da Ajuda, 173. Tornou-se calígrafo do imperador d. Pedro II e de suas irmãs em 11 de setembro de 1831, por indicação de José Bonifácio de Andrada e Silva. Foi desenhista heráldico da nobreza e fidalguia do Império e autor de centenas de retratos realizados entre 1840 e 1856. O litógrafo Alfred Martinet trabalhou em sua oficina. Louis Alexis Boulanger faleceu cego. Teve um irmão Luís Boulanger (1806-1867), aluno do caricaturista Achille Deveria, colaborador do Le Charivari. Litografou alguns temas para o escritor Victor Hugo. SANTOS, Francisco Marques dos. Dois artistas franceses no Rio de Janeiro: Armand Julien Pallière e Louis Aleixo Boulanger. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, n. 3, 1939, p. 123-148. 258 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais Itanhaém sobre os progressos apresentados por S. M. I. e Suas. A. A. I. I. Rio de Janeiro, 21 de abril de 1836”.33 Exercício caligráfico de sua majestade e suas altezas imperiais: “Exercício caligráfico de d. Pedro II, sob orientação do mestre Luís Aleixo Boulanger. Texto sobre a importância de um bom governante para a felicidade do povo. São Cristóvão, 22 de setembro de 1836”.34 Outros funcionários da Casa Imperial são também contratados formalmente nos papéis da instituição, como o reposteiro:35 “Nomeação pelo marquês de Itanhaém, Miguel José Tavares, reposteiro do número, devendo fazer o serviço no Paço da Cidade e ordem feitos os necessários assentamentos pelo Escrivão. Paço da Boa Vista, 14 de março de 1837.36 No verso do despacho encontra-se: “Cumpra-se e registre-se. Paço, 14 de março de 1837. P. Barbosa.”37 No pé da página, “Registrado a fs. 16 do Livro de Registro de Títulos. Rio de Janeiro, 17 de março de 1837. Augusto Cândido Hermes de Brito. Escrivão da Casa Imperial.” Promoções sob a forma de decreto: “Decreto em nome de d. Pedro II promovendo Manuel Joaquim de Melo Corte Real a lente proprietário da Cadeira de desenho da Academia Imperial das Belas Artes. Palácio do 33– Arquivo Nacional, datas-limite (1807-1837), instrumento SDE 027, caixa 9, pacote 1, documento 111. 34– Arquivo Nacional, datas-limite (1807-1837), instrumento SDE 027, cx. 9, p. 1, doc.127. 35– Cortina ou peça de estofo que adorna e resguarda as portas interiores de um edifício; criado da casa real, encarregado de correr os reposteiros. 36– Arquivo Nacional, datas-limite (1808-1837), seção de guarda, SDE, instrumento SDE 027, caixa 16, pacote 13, documento 24. Documento selado com selo seco. 37– Paulo Barbosa da Silva (1790-1868), mordomo-Mor da Casa Imperial. Constam no ano de 1855, nas notas pertencentes ao mordomo, as assinaturas de vários periódicos franceses: Le Moniteur, Journal des Débats, Le Constitutionel, Le Charivari, Le Journal pour Rire, Revue des Deux Mondes, Revue Britannique, L’Illustration, Compte-rendus des Sciences, Le Petit Courrier des Dames e Les Modes Parisiennes demonstrando a disseminação e referência do universo da cultura francesa como prioridade na Corte brasileira, a informação da imprensa, estendendo-se inclusive ao gênero humorístico-político ilustrado. LACOMBE, Américo Jacobina. Prefácio. In: ARAGÃO, M. Dom Pedro II e a cultura. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, 1977. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 259 Rogéria Moreira de Ipanema Rio de Janeiro, 25 de maio de 1839”.38 A nomeação de ourives da Casa Imperial, Leitão & Irmãos, de 24 de dezembro de 1872: “Ofício do barão Nogueira da Gama ao comendador Manuel José Rebelo comunicando-lhe que o imperador, atendendo ao seu pedido, nomeou ourives da Casa Imperial o Sr [?] Leitão & Irmão. Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1872”.39 Lapidário da Casa Imperial, assim datado: Museu Nacional do Rio de Janeiro de 21 de abril de 1874.40 Representações no campo da arte também eram de trato da Mordomia-Mor. Nos anos de 1870, “representação ao imperador do sr. José Rodrigues Villares em favor de seu filho Décio Rodrigues Villares, para o qual pede o custeio de seus estudos de desenho na Europa. Rio de Janeiro, 21 de julho de 1873”.41 Nos anos de 1880, “representação de Antônio Parreiras ao imperador solicitando auxílio financeiro para os seus trabalhos de pintura paisagística. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1886”.42 E “representação de Benevenuto Berna ao imperador solicitando mesada para prosseguir seus estudos de mortuária na Academia Imperial das Belas Artes do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1889.43 Como nos requerimentos de títulos de Imperial, encontram-se vários pedidos também de alçar Armas, tem-se os pedidos de títulos requeridos à Casa Imperial, demonstrando um entendimento de que ambos tratavam das mesmas concessões. O que a partir de 1854 mudaria. Neste ano os 38– Arquivo Nacional, decretos (1809-1889), instrumento SDE 030, caixa, 19, pacote 1 A, documento 4. 39– Arquivo Nacional, datas-limite (1838-1889), seção de guarda SDE, instrumento SDE 027-A, caixa 16, pacote 10, documento 210. 40– Idem, pacote 13, documento 245. 41– Arquivo Nacional, datas-limite (1838-1889), instrumento SDE 027-A, caixa 16, pacote 12, documento 229. 42– Idem, caixa 18, pacote 2, documento 85. 43– Idem, caixa 18, pacote 5, documento 163. 260 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais títulos são impetrados à Sua Majestade, com entrada no Ministério e Secretaria de Estado dos Negócios do Império, com seção administrativa específica no órgão para fazê-lo determinada por trâmite burocrático qualificado. Com isso se teem em dois períodos as solicitações que se enganam sobre a instituição solicitada: “J. C. Muller e H. E. Heinem, estabelecidos na Corte com uma Biblioteca Musical, que para acreditá-la com imperial proteção de S. A. I., solicitam o uso das Imperiais Armas e o Título ........ Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1837”.44 E a “representação da Congregação do Liceu de Artes e Ofícios da Cidade do Desterro, ao Imperador, solicitando a proteção e autorização para que o mesmo possa usar título de “Imperial”. Santa Catarina, 5 de março de 1884.45 Mordomia-Mor da Casa Imperial e Ministério e Secretaria dos Negócios do Império foram categorizando suas competências que eram estreitadas e surgidas a partir de uma mesma raiz de funções, passando os assuntos da primeira para as decisões do segundo. Assim faziam com que muitas vezes os requerimentos de súplica das mercês, tanto de alçar Armas quanto de concessão de título de Imperial, fossem encaminhados aos órgãos errados. O nexo estabelecido era que, ao Ministério do Império, os títulos, à Mordomia, as Armas. Portanto de prática anterior ao ano de 1854 da emissão de títulos, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, a concessão da distinção de alçar Armas na fachada do prédio comercial, tê-las impressas em um rótulo,46 em papéis fiduciários e frontispícios de livros, era de competência da Mordomia-Mor da Casa Imperial. 44– Arquivo Nacional, datas-limite (1807-1837), instrumento SDE 027, caixa 9, pacote 4, documento 173. 45– Arquivo Nacional, datas-limite (1838-1889), instrumento SDE 027-A, caixa 11, pacote 8, documento 140. 46– Vejam-se alguns exemplos de rótulos com as Armas Imperiais e o título de Imperial em: REZENDE, Lívia. A circulação de imagens no Brasil Oitocentista: uma história com marca registrada. In: CARDOSO, Rafael. (org.) O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. p. 20-59. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 261 Rogéria Moreira de Ipanema Os documentos confirmam: “Alvará de licença para alçar Armas Imperiais na frente de casa em atendimento à solicitação de Bernard Walberstein e Cia. Referenda José Clemente Pereira. Palácio do Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1828”.47 Como também o “Ofício do sr. Ernard Perrer ao barão Nogueira da Gama sobre pedido de autorização para gravar as Armas Imperiais nas ações da Societé Anonyme du Gaz do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1886”.48 A fábrica de M. Franklin & Cia constitui um exemplo completo dos usos das Armas Imperiais, aqui impetrada a Sua Alteza Imperial princesa regente d. Isabel,49 3ª. D. n. 1-77 Requeiram a Mordomia da Casa Imp. Em 10-1-77. Carvalho de Moraes DM - 2 Senhora M. Franklin & Cia tendo comprado a Antônio Joaquim de Brito a sua fábrica a Rua dos Andradas n. 21, o qual tinha licença por decretos de 27 de abril de 1875, não só licença para alçar Armas Imperiais na frente do estabelecimento como para usá-las em rótulos e mais papéis em que é costume estampá-las nos produtos da fábrica: e desejando os atuais proprietários as mesmas regalias. P. S. A Imperial a graça de consentir que continue a usar o mesmo emblema E. R. M. Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1877 M. Franklin & Cia 47– Arquivo Nacional, datas-limite (1807-1837), instrumento SDE 027, caixa 4, pacote 7, documento 73. 48– Arquivo Nacional, datas-limite (1838-1889), instrumento SDE 027-A, caixa 18, pacote, 2, documento 84. Trata-se do mordomo-mor da Casa Imperial, Nicolau Antônio Nogueira Vale da Gama. 49– Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, V. IV, doc. 11. 262 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais Geralmente, os rótulos que alçavam Armas eram acompanhados também da medalha premiativa ganha nas Exposições Nacionais de 1861 e 1863,50 que antecipavam as Exposições Universais. A última participação do Império do Brasil nas Exposições Universais foi exatamente em seu último ano, na conjuntura do regime monárquico. Em 1889, a Europa recebeu uma representação brasileira em Paris que dignificou o projeto do Brasil-Nação, numa mostra significativa e participativa de demonstração ao caminho do desenvolvimento. Montado um comitê de organização, Comité Franco-Brésilien, e o Comitê Central do Rio de Janeiro e suas comissárias, a proposta obteve seu curso e lá na ville lumière realizou seu papel. Por conta disso, o barão de Sant’Anna Nery dirigiu uma historiografia a partir de escritores brasileiros, para “fazer conhecer o Brasil atual, por ocasião da Exposição Universal de 1889 em Paris”.51 A fábrica de formas de calçados instalada na corte suplica a concessão na base da distinção obtida nas exposições nacionais e de “Viena, de Áustria, Filadélfia, Chile e Buenos Aires de cujos prêmios tem diplomas e medalhas”.52 O proprietário José Bittencourt não só se faz representar com seu produto na Europa e Estados Unidos como se afirma em qualidade nas nações sul-americanas demonstrando sua participação internacional abrangente na capacidade de distintos mercados. Este processo está 50– A Exposição Nacional de 1861 foi realizada para a apresentação da grande mostra internacional em 1862, em Londres, do produto industrial e manufatureiro e o artesanato, artes e ofícios das regiões culturais do Brasil para o brasileiro acompanhar de perto o dito “progresso” de sua nação. Em termos comerciais, lucrava-se com a aquisição de menção honrosa, medalhas de bronze, prata e ouro que ganham distinção em seus rótulos de identificação, em termos sociais; eleva-se a estima de uma nação que pode ser representada com a dignidade esperada dos cidadãos mais incluídos daquela sociedade de radical estratificação do sistema de economia escravocrata. Na data de 1862 em Londres, em 1876, na Filadélfia, em comemoração à Independência dos Estados Unidos da América, e em 1889 na França pelo centenário da Revolução, por exemplo. SANTOS, Francisco Marques dos. O progresso material no segundo reinado. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: Departamento de Imprensa Nacional, v. 276, p. 130-139, jul.-set. 1967. 51 – NERY, Francisco José de Santa’Anna. (dir.). Le Brésil en 1889. Paris: Syndicat du Comitê Franco-Brésilien/Librairie Charles Delagrave, 1889. 52– Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, V. III, doc. 2, R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 263 Rogéria Moreira de Ipanema acompanhado da mercê de alçar Armas: Casa Imperial Sua majestade o imperador, atendendo o que lhe representou Maria Leterre, fabricante de formas para calçados, estabelecida nesta corte à Rua da Assembléia número noventa e nove: há por bem conceder a seu criado José Bittencourt a continuar a ter alçadas as Armas Imperiais na frente de sua oficina. E para a sua salvaguarda se passou a presente. Palácio do Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1870. Nicolau Antônio Nogueira da Gama Manuel dos Santos Carramona Principal Rei [?] d’Armas -----------------------------------------(no verso) Passada por despacho do Exmo. conselheiro mordomo-mor da Casa Imperial, datada de 27 de janeiro de 1870. Francisco Pinto de Mello Na Secretaria da Mordomia-Mor e Expediente dos Filhamentos da Casa Imperial, fica registrada a presente Portaria. Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1870. Pamplona Francisco José Mis’ Pamplona Corte-Real: a fez (marca d’água da Mordomia-Mor da Casa Imperial) A questão do título de Imperial para o comércio e indústria não pode ser entendida unilateralmente, no nexo do apoio estatal de reconhecimento e incentivo à competitividade e qualidade de produção, a quem de fato pela lógica de avaliação de moral e ética merecia. Deve-se compreender também que o Estado se autovalorizava ao “possuir” seu comércio Imperial, ele se validava numa corrente de dois fluxos: ao Estado o seu comércio, ao comércio o seu Estado. Trata-se de uma representação lucrativa para ambos os lados. Cada qual investia em lugares opostos e, ultrapassando fronteiras, ocupava o território do outro. Um comércio coroado e uma coroa de produção comercial. A porção do governo imperial 264 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 Distinção do Poder: título de imperial, as razões pelas quais no universo das relações comerciais – poder e distinção –, e a porção da produtividade secundária e terciária no universo do governo significava rendimento de ação político-econômica, distinção do poder. Na lógica do reconhecimento mútuo, e não isolados. Ambos como agentes da economia mercadológica e cultural nos níveis nacional e internacional. Fontes primárias Arquivo Nacional, fundo NP, seção de guarda SDE, notação SDE 809, 4 v. Arquivo Nacional, datas-limite 1807-1837, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 027 Arquivo Nacional, datas-limite 1838-1889, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 027 A. Arquivo Nacional, datas-limite 1831-1889, fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 028. Arquivo Nacional 1809-1889 (decretos), fundo 00, seção de guarda SDE, instrumento SDE 030. Biblioteca Nacional, Relatórios do Ministério do Império, rolo PR SPR (126/1, ano/volume, 1821-1846. Coleção de leis do Império do Brasil de 1850. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1851. O Auxiliador da Indústria Nacional. Referências bibliográficas FLEIUSS, Max. História administrativa do Brasil. 2 ed. São Paulo: Melhoramentos, 1925. GERSON, Brasil. História das ruas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Geral de Educação e Cultura, s.d. (Cidade do Rio de Janeiro, 9). IPANEMA, Rogéria Moreira de. Em nome da Pax, dos Santos, da Glória, dos céus, há cem... In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, a. 164, n. 420, jul./set. 2003, p. 191-205. LACOMBE, Américo Jacobina. Prefácio. In: ARAGÃO, M. Dom Pedro II e a cultura. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, 1977, p. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 265 Rogéria Moreira de Ipanema VII-XIII, p. XI-XII. __________ . Nobreza brasileira. Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: Ministério de Educação e Saúde, /v. 1/, p. 51-150, 1940. LACOMBE, Luís L. História administrativa do Brasil, 10. In: TAPAJÓS, Vicente (coord.). Organização e administração do Ministério do Império. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público, 1984. NERY, Francisco José de Sant’Anna. (dir.). Le Brésil en 1889. Paris: Syndicat du Comitê Franco-Brésilien/Librairie Charles Delagrave, 1889. MJNI – Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Organizações e programas ministeriais: regime parlamentar do Império. 2 ed. Guanabara: Arquivo Nacional, 1962. REZENDE, Lívia. A circulação de imagens no Brasil Oitocentista: uma história com marca registrada. In: CARDOSO, Rafael. (org.). O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-1960. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. SANTOS, Francisco Marques dos. Dos artistas franceses no Rio de Janeiro: Armand Julien Pallière e Louis Aleixo Boulanger. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, n. 3, p. 123-148, 1939. ________ . O progresso material no segundo reinado. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: Departamento de Imprensa Nacional, v. 276, jul./set. 1967, p. 130-139. 266 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):249-266, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil Melquíades Pinto Paiva1 Com a morte de Alípio de Miranda-Ribeiro, no dia 8 de janeiro de 1939, na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil perdeu o mais destacado dos seus ictiologistas. Ele nasceu em 21 de fevereiro de 1874, na cidade de Rio Preto (Minas Gerais – Brasil). Desde muito cedo mostrou decidida vocação para o estudo da zoologia (PAIVA, 2008). Ainda como estudante secundarista começou a frequentar o Museu Nacional (Rio de Janeiro – Brasil), tornando-se seu funcionário em 27 de outubro de 1894; a morte o abateu quando já ocupava o cargo de naturalista, sendo o curador da coleção de peixes. Para agravar a situação, Alípio de Miranda-Ribeiro não deixou discípulos; o filho, Paulo de Miranda-Ribeiro (1903 – 1965), além de jovem, tinha pouco tempo de dedicação aos estudos de sistemática dos peixes, portanto, estava no início da carreira científica. A vasta bibliografia de Alípio de Miranda-Ribeiro cobre o período de 1899 – 1944, compreendendo 146 trabalhos, sem a inclusão de artigos publicados em jornais e duas necrologias. Na área da ictiologia, seu mais importante título foi o seguinte: Miranda-Ribeiro, A. – 1907/1918 – Fauna Brasiliense : Peixes. Arq. Mus. Nac., Rio de Janeiro – publicado em diversos volumes dos Arquivos do Museu Nacional. 1 –1Doutor em Biologia pela Universidade de São Paulo; professor titular (aposentado) da Universidade Federal do Ceará; diretor-fundador do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará; sócio efetivo do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico); sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; sócio honorário brasileiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 267 Melquíades Pinto Paiva Estes antecedentes se justificam no sentido de evidenciar a falta do extinto naturalista e a dificuldade de se encontrar um substituto, pela carência de ictiologista bem qualificado, nas instituições científicas do Brasil. Com o objetivo de resolver o grave problema, a diretora do Museu Nacional, Heloísa Alberto Torres (1895 – 1977), procurou no exterior um renomado ictiologista para formar novos especialistas em sistemática e biologia dos peixes, além de cuidar e aumentar da/a coleção do Museu Nacional. Sua escolha se dirigiu para George Sprague Myers (1905 – 1985), da Stanford University (California – United States of America), curador da coleção de peixes do seu Museu de História Natural. Feita a seleção, a diretora tratou de viabilizar a vinda do escolhido ao Brasil, procurando o necessário apoio financeiro junto à John Simon Guggenheim Foundation, cujo secretário geral era Henry Allen Moe (1894 – 1975). Transcrevo abaixo, na língua original, carta de Carl L. Hubbs (1894 – 1979), curador da coleção de peixes do Museu de Zoologia da University of Michigan (Ann Arbor – Michigan – United States of America), dirigida a George Sprague Myers. “October 16, 1941 Dr. George S. Myers Natural History Museum Stanford University California Dear George: Henry Allen Moe has just paid us a visit, and I think I have completed the preliminary arrangements for granting you a Guggenheim Fellowship for a year in Brazil. Moe had a request from the Rio museum for a Guggenheim ichthyologist and wanted suggestions. I gave your name – well known to him – as first choice, and Gosline as No. 2. [Refere-se a William A. Gosline]. He beamed clear across his broad face when I read him the paragraph of your letter re a Guggenheim fellowship. He said he would write you immediately on his return to New York 268 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil tomorrow. He wanted the man to have some command of Portuguese, if possible, and thought this might be obtained by June. You know how I feel about keeping South American ichthyology alive. You ought to profit enormously from a year in Brazil – or most of a year. Of course, if you can arrange to spend some time in Ann Arbor, we would be delighted . We don’t have many specimens from South America, but do have most of the literature. Sincerely yours, Carl L. Hubbs Curator of Fishes” Convém assinalar que George Sprague Myers escreveu um necrológio de Alípio de Miranda-Ribeiro [ver Copeia, Washington, 1939 (3) : 184]. Esboço biográfico Existe um bom conhecimento sobre a vida e a produção científica de George Sprague Myers, sobressaindo-se os trabalhos de WALFORD (1970), COHEN & WEITZMAN (1986), LEVITON, REGNERY & THOMAS (1986) e ADLER (1989). Who’s Who in America (1974 – 1975) descreveu seus interesses de pesquisa da seguinte maneira: “Writer of papers and monographs on ichthyology, herpetology. Contributions on evolution and classification of fishes, leading to better understanding of historical distribution patterns of fish groups through geological time, establishing fact that dispersal patterns of modern groups of fresh-water fishes are older and more conservative than those of mammals; also contributions on fish habits and behavior, amphibian taxonomy and zoogeography.” Myers was fortunate enough to count two the century’s leading ichthyologists as his mentors (Eigenmann and Jordan) – referência a Carl H. Eigenmann (1863– 1927) e David Starr Jordan (1851 – 1931) –; under their influence he developed interests in collecting, describing, curating, teaching, writing, and theorizing. He was especially known for his zoogeographic treatments of fish distribution, and related ideas (for example, his classification of fish families into fresh-waters groups). He R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 269 Melquíades Pinto Paiva spent sizable periods in the field, especially in South America. The quality of Myers analytical skills is well exhibited in his classic 1938 paper “Fresh-water Fishes and West Indian Zoogeography”. (Copyright 2005 by Charles H. Smith). George Sprague Myers (FIGURE 1) nasceu em 2 de fevereiro de 1905 em Jersey City (New Jersey – United States of America) e morreu em 4 de novembro de 1985 no Scotts Valley – Santa Cruz County (California – United States of America). Bacharel (1930), mestre (1931) e doutor (1933) pela Stanford University. Cronologia de suas atividades docentes, de pesquisa e editoriais: assistente voluntário no American Museum of Natural History (1922 – 1924); assistente da curadoria na Indiana University (1924 – 1926); editor associado do The Aquarium Journal (1932 – 1960); curador assistente da Divisão de Peixes (U. S. National Museum ( 1933 – 1936); professor associado de Biologia na Stanford University (1936 – 1938); professor de Biologia na Stanford University (1938 – 1970); editor do Stanford Ichthyological Bulletin (1938 – 1967); professor visitante de Ictiologia no Museu Nacional (Rio de Janeiro – Brasil) (1942 – 1944); professor visitante de Ictiologia e Zoologia na Harvard University (1970 – 1972). Presidiu a American Society of Ichthyologists and Herpetologists (1949 – 1951). Aposentou-se por limite de idade na Stanford University em 1970. Entre 1920 – 1969 publicou 603 trabalhos, muitos deles sobre peixes do Brasil, o primeiro destes em 1924 (MYERS, 1970). Filho de Harvey Derwood Myers e Lily Vale Sprague Myers. Casouse com Marth Ruth Frisinger (1926), com a qual teve seus dois filhos – Thomas Sprague Myers (1935) e John William Myers (1937). Após o divórcio, entre o final dos anos 1950’ e o início da década seguinte, casouse com Irma Zimmerman. Entre 1966 – 1985 esteve casado com Frances E. Felin – ela morreu em 1º de agosto de 1985. Obtenção da bolsa 270 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil Em 31 de outubro de 1941, George Sprague Myers escreveu a Henry Allen Moe, secretário geral da John Simon Guggenheim Memorial Foundation, candidatando-se a uma de suas bolsas para o ano de 1942. Tendo em vista dificuldades para continuar seu trabalho, em colaboração com J. R. Norman, Curador de Peixes do British Museum at South Kensington, para “reviewing and revising the classification of the genera of living fishes of the world .” (...) “As an alternative, I proposed going to Rio and completing the year in the fish department of the Museu Nacional. It now looks as if this alternative would have to be adopted, if indeed conditions are such this summer or fall that anybody can go anywhere out of the country.” FIGURA 1 – George Sprague Myers (1905 – 1985). Fotografia tirada em 1970. Cortesia de Kraig Adler Explicitada a alternativa , George Sprague Myers detalhou suas razões pela escolha do Rio de Janeiro. “My reasons for selecting Rio are these. Ever since I began work on fishes I have been interested particularly in South America fishes, especially the fresh-water ones. My association with the late Dean Carl H. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 271 Melquíades Pinto Paiva Eigenmann, the world’s foremost worker on South America fishes, led me into the field still deeper and since his death I believe I have done more with the fishes of that continent than any other person. It has been my dream during these years some day to go to South America and actually see and study these fishes, which I know only as mummies, alive and the their true colors. Those sections of the Norman – Myers monograph on which I must first work concern groups especially abundant in South America, and the Museu in Rio (as well as the Museu Paulista) has large collections of many species not available in North America or Europe. Beyond this, the revisional work which I would be going on these groups would be easily transmutable into a partial or complete manual of Brazilian fishes – a work which I have planned and which I know would be welcomed there. My rudimentary knowledge of Portuguese should, after a few months in Brazil, be good enough to produce such a manual, especially if I could secure a little assistance from some Brazilian zoologist.” …………………………………...……………………………………… “P. S. Persons who know my work well enough to give an opinion of me are: Dr. Carl L. Hubbs, University of Michigan; Dr. Thomas Barbour, Harvard University; Dr. L. P. Schultz, U. S. National Museum, Washington; Dr. Rolf L. Bolin, Hopkins Marine Station, Pacific Grove, Calif.; Prof. A. E. Parr, Yale University; Dr. Luis Howell Rivero, Universidad of Habana; and Dr. E. R. Dunn, Haverford College. In Brazil, the foremost ichthyologist (Dr. Alipio de Miranda-Ribeiro) is now dead, but his son, Dr. Paulo de Miranda-Ribeiro, who is carrying on his father’s work at the Museu Nacional, knows something of me, as does Dr. Bertha Lutz of the same institution.” Nota: Henry Allen Moe foi simultaneamente secretário geral da John Simon Guggenheim Memorial Foundation e do Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations. Ambas instituições tinham o mesmo endereço: 551 Fifth Avenue – New York – N. Y. – U. S. A. Os recursos financeiros do Committee eram provenientes do governo dos Estados Unidos da América, tornados disponíveis pelo Coordinator 272 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil of Inter-American Affairs, Nelson Aldrich Rockefeller (1908 – 1979). Houve troca de cartas a respeito da bolsa solicitada, com os destaques abaixo: – em 17 de novembro de 1941 Henry Allen Moe escreveu a Heloísa Alberto Torres informando ter aprovado a indicação de George Sprague Myers e que estava com este mantendo entendimentos a respeito do seu afastamento da Stanford University; – em 1º de dezembro de 1941 George Sprague Myers escreveu ao presidente (reitor) da Stanford University, Ray Lyman Wilbur (1875 – 1949) a respeito do ano sabático, com a metade do pagamento do seu salário; – em 19 de dezembro de 1941 Ray Lyman Wilbur informou que a Stanford University havia aprovado seu afastamento (ano sabático), pagando a metade do salário. Com a entrada dos Estados Unidos da América na II Guerra Mundial, George Sprague Myers enfrentou o problema de saber onde melhor serviria ao seu país, levando tal preocupação ao reitor Ray Lyman Wilbur. Em resposta (15 de dezembro de 1941), lhe foi dito a respeito da ida ao Brasil: “It seems to me that you might serve even more effectively there then anywhere else , so that if your program should work out, I would be pleased.” Declaração firmada por Henry Allen Moe, em nome do Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations, em 24 de abril de 1942 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 273 Melquíades Pinto Paiva “TO WHOM IT MAY CONCERN I HEREBY CERTIFY, that Dr. George Sprague Myers, Director of the Natural History Museum in Stanford University, California, is being assisted by this Committee out of funds available through the Coordinator of Inter-American Affairs to go to Brazil for a period of approximately one year from late in June, 1942. The circumstances of Dr. Myers’ going are these: This Committee was requested by Dr. Heloisa Alberto Torres, Director of the National Museum of Brazil located in Rio de Janeiro, to assist the development of the science of ichthyology in Brazil by sending to Brazil a North American ichthyologist to assist in the training of Brazilian scholars in this field – his work to be done in collaboration with National Museum of Brazil and the Brazilian Ministry of Agriculture. Dr. Torres indicated that her first choice for this assignment was Dr. Myers and in view of Dr. Myers’ high standing as a scholar and his qualities as a person we were glad to respond affirmatively to her request. Dr. Myers is respectfully recommended by the Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations, as a distinguished scholar, to the esteem, confidence and friendly consideration of all persons to whom he may present this letter. Henry Allen Moe Chairman” George Sprague Myers enfrentou problemas sérios para sua vinda ao Brasil, por causa da II Guerra Mundial, tais como dificuldades de transporte para ele e a família. A viagem teria que ser feita por via aérea, mas havia carência de vagas nos aviões e prioridades para as poucas existentes. Aceitava viajar sem a esposa, ficando a esperá-la no Rio de Janeiro durante seis meses, deixando os filhos aos cuidados de parentes em Indiana; a obtenção do visto no passaporte por apenas seis meses, pois mais do que isto implicaria que ele seria considerado como residente; problemas de saúde e de vacinas contra doenças tropicais. Viajou sem a esposa, chegando ao Rio de Janeiro no final de julho de 1942. 274 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil Impressões iniciais Tão logo começou a desenvolver atividades no Museu Nacional, George Sprague Myers identificou as dificuldades para cumprir o plano estabelecido, já pensando no aumento do tempo para a permanência no Rio de Janeiro. Em carta de 4 de setembro de 1942, endereçada para William Berrian, da Rockeffeller Foundation, indicou e comentou as dificuldades encontradas. “1. The present incumbent in the fish department [refere-se a Paulo de Miranda-Ribeiro] cannot to be expected to carry on any improvements I may be able to institute in work of the department, the handling of the collections, or research in ichthyology. Whatever knowledge I may impart to him personally will likely to be used by him to the extent he is able to grasp it, but it will be held as a purely personal possession, not to be divulged to others who might be expected to compete with him in the field of ichthyology. He finds it impossible to acknowledge either error (on his own part or that of his father, the former incumbent) or lack of information, is interested chiefly in displaying his own knowledge to others, and knows very little of how to collect fishes or how to conduct work in systematic ichthyology. Personally he is impossible, and is disliked by nearly all the rest of the museum staff. 2. The fact that this man is the only one in the fish department, or the only one in Brazil for that matter, who knows anything about systematic ichthyology, effectively precludes an attempt to revivify the fish department of the Museu Nacional until another man of promise can be found, trained and appointed to the staff of the Museum. This will take at least two years, perhaps three. It cuts out part of what I had hoped to accomplish this year, but leaves me free to undertake certain ground-work that would in any event be necessary before Brazil can become productive in ichthyology. 3. Wartime restrictions, in particular the gasoline shortage, has slowed up field work tremendously, especially in the suburban area of Rio and on the northeast cost, which need investigation more than a great many R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 275 Melquíades Pinto Paiva of the interior river basins. It will be evident that the most important areas, to Brazilians, are those of the greatest density of population, and the fishes of these areas are among the least known in Brazil. My own feeling is that another year or six months, beyond my first year, would be necessary to complete the most important things Donna Heloisa wants done, but that another trip down here, in two or three years, would be far more effective than a long extension of my present stay. At that time the situation in the fish department would presumably be cleared up and wartime restrictions would no longer be in force. Em carta de 4 de outubro de 1942, firmada por George Sprague Myers e dirigida a Henry Allen Moe, ele reafirmou as dificuldades acima expostas, mas reconhece a excelente cooperação que estava recebendo do Governo Federal, do Estado de São Paulo e dos serviços de pesca existentes na região nordestina, “all engaged in fish work connected directly with economic use and conservation of fisheries resources.” Formação de pessoal Houve cuidadoso preparo para a efetivação do curso sobre “Sistemática Geral de Peixes e Biologia da Pesca” (FIGURA 2), a ser ministrado por George Sprague Myers, no Museu Nacional. Foram expedidos comunicados/convites a dezenas de instituições públicas brasileiras, interessadas nos assuntos a serem ensinados. O curso teria a duração máxima de dois meses, seguindo-se trabalhos de campo e de laboratório, para consolidação dos ensinamentos teóricos. As aulas se iniciaram em 15 de março e se prolongaram até 15 de maio de 1943, com alunos procedentes das seguintes instituições: Ministério da Agricultura – Divisão de Caça e Pesca, Divisão de Geologia e Mineralogia, Escola Nacional de Veterinária; Ministério da Educação e Saúde – Instituto Oswaldo Cruz, Museu Nacional; Ministério da Guerra – Diretoria de Remonta e Veterinária; Ministério da Viação e Obras Públicas – Comissão Técnica de Piscicultura; Prefeitura do Distrito Federal – Departamento de Educação Técnico-Profissional; Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro – Divisão de Caça e Pesca; Secretaria de 276 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil Agricultura do Estado de São Paulo – Departamento de Zoologia, Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres; Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; Secretaria de Educação do Estado do Pará – Museu Paraense Emílio Goeldi; Faculdad de Medicina de Assunción (Paraguai). Como era esperado, alguns alunos do curso permaneceram realizando atividades de campo e de laboratório, inclusive com a elaboração de trabalhos científicos, sob a orientação de George Sprague Myers. – Miranda-Ribeiro, P. – 1943 – Dois novos pigidídeos brasileiros. (Pisces – Pygididae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (9) : 1 – 3, [2] figs. – Miranda-Ribeiro, P. – 1944 – Uma nova espécie para o gênero Bunocephalus Kner, 1855 (Pisces – Aspredinidae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (13) : 1 – 3, [3] figs. FIGURA 2 – Capa da apostila do curso “Sistemática Geral de Peixes e Biologia da Pesca”, ministrado por George Sprague Myers, com 84 páginas e ilustrada com 127 figuras. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 277 Melquíades Pinto Paiva – Miranda-Ribeiro, P. – 1944 – Um pigidídeo do alto Amazonas (Pisces – Pygididae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (19) : 1 – 3, [1] fig. – Miranda-Ribeiro, P. – 1944 – Nova espécie para o gênero Stegophilus Reinhard, 1858 (Pisces – Pygididae – Stegophilinae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (20) : 1 – 3, [3] figs. – Miranda-Ribeiro, P. – 1944 – Peixes das subfamília Gasteropelecinae e Stethaprioninae nas coleções do Museu Nacional (Pisces – Characinidae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (23) : 1 – 4. – Miranda-Ribeiro, P. – 1944 – Nova espécie para o gênero Astyanax Eigenmann, 1907 (Pisces – Characinidae). Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (29) : 1 – 3, [1] fig. – Travassos, H. – 1944 – Contribuições ao estudo da família Characidae Gill, 1899 : I – Characidium grajauensis n. sp. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (30) : 1 – 10, VI ests. – Teague, G. W. & Myers, G. S. – 1945 – A new gurnard (Prionotus alipionis) from de coast of Brazil. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (31) : 1 – 19, 2 figs. – Myers, G. S. & Miranda-Ribeiro, P. – 1945 – A remarkable new genus of sexually dimorphic characid fishes from the Rio Paraguay basin in Mato Grosso. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (32) : 1 – 8, 1 fig. – Gosline, W. A. – 1945 – Catálogo dos nematognatos de água doce da América do Sul e Central. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (33) : 1 – 138. No campo da herpetologia, participou e/ou orientou os trabalhos abaixo mencionados. – Myers, G. S. & Carvalho, A. L. – 1945 – Notes on the new or little 278 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil known Brazilians amphibians with an examination of the Plata salamander, Ensatina platensis. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (35) : 1 – 39, 18 figs. – Travassos, H. – 1945 – Nota sôbre o genótipo de Mabuya Fitzinger, 1826. À Comissão Internacional de Nomenclatura Zoológica. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (37) : 1 – 7. – Myers, G. S. & Carvalho, A. L. – 1945 – A strange new leaf-nosed lizard of the genus Anolis from Amazonia. Boletim do Museu Nacional, nova série, Zoologia, Rio de Janeiro, (43) : 1 – 22, 9 figs. Viagens científicas Esta foi a parte fraca do trabalho desenvolvido por George Sprague Myers no Brasil, decorrente das limitações impostas pela II Guerra Mundial. Estas viagens se destinavam à observação dos ambientes onde vivem os peixes e aumentar as coleções ictiológicas do Museu Nacional e da Stanford University. Foram realizadas pequenas viagens nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, na costa e no interior. A mais longa e distante viagem de George Sprague Myers foi efetivada ao Estado de Minas Gerais, em companhia de Antenor Leitão de Carvalho e Paulo de Miranda-Ribeiro, na bacia do rio São Francisco. Os três estiveram em Pirapora (Minas Gerais) entre 5 e 28 de outubro de 1942 (FIGURA 3). Anteriormente, em companhia de Haroldo Pereira Travassos e Paulo de Miranda-Ribeiro, esteve em Angra dos Reis (Rio de Janeiro – Brasil), no período de 8 a 18 de agosto de 1942. Viajou ainda a Santa Tereza (Espírito Santo – Brasil). Recursos Pesqueiros Em carta dirigida a Henry Alllen Moe, com data de 11 de maio de 1943, George Sprague Myers informa que Heloísa Alberto Torres o “emprestou” ao “U. S. Coordinator’s Office here to advise in some fishery R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 279 Melquíades Pinto Paiva matter. They ������������������������������������������������������������ seem to need a fish man and a few weeks ago Kenneth Kadow, chief of the U. S. section of the Brazilian–American Food Supply Commission, offered to take me on following the termination of my year with your committee, provided he could get my appointment approved in Washington, and obtain the requisite leave of absence from the University.” A intenção de tal colaboração era a de se fazer um levantamento dos recursos pesqueiros do Brasil, nos seus aspectos biológicos e econômicos. Tendo em vista o novo projeto, a diretora do Museu Nacional esperava contar com pessoal especializado e estava contratando diretamente o Dr. William A. Gosline, “a studente of mine who is the only young fellow available in North or South America who is a fishery biologist and at the same time has specialized in Amazonian fishes.” Na carta de 13 de junho de 1943, George Sprague Myers comunicou a Henry Allen Moe: “Brazil is now very much at war and all of the Brazilian fisheries agencies have asked that I remain in Brazil as long as I possibly can to help in the wartime fisheries problems that are confronting them and to aid in training Brazilian fish men.” (…) “The need for help and training of people in fisheries work here is great – not only Museu people, but also people in other official agencies.” Após preparar um esboço de planejamento para o levantamento dos recursos pesqueiros do Brasil, entregue à consideração de Heloísa Alberto Torres, informou que necessitava contar com o trabalho de dois técnicos norte-americanos, jovens e competentes, Dr. Joseph Bayley e Dr. William A. Gosline, para a sua implementação, naturalmente com a participação de cientistas e técnicos brasileiros. 280 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil FIGURA 3 – George Sprague Myers (esquerda) e Paulo de Miranda-Ribeiro (direita), no leito do Rio São Francisco (Pirapora – Minas Gerais – Brasil), em outubro/1942. Foto de Antenor Leitão de Carvalho. Acrescentou: ... “if the things works out, I will have to stay here for at least one year more, may be two, to see it through.” (…) “The Brazilian fisheries are capable of supporting a much bigger demand than they do now, but the biological bases for expansion are unknown and the necessary regulations designed to keep the industry at top production without ruining the resource cannot be drawn up until we have a background of biological information to go on.” Relações humanas Um dos objetivos da vinda de George Sprague Myers ao Brasil foi o de estreitar amizade com cientistas brasileiros. Isto ele cumpriu de forma exemplar. No Museu Nacional, o melhor dos seus amigos foi José Lacerda de R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 281 Melquíades Pinto Paiva Araújo Feio (1912 – 1973) – (FIGURAS 4 – 5). Manteve bom relacionamento de trabalho com Antenor Leitão de Carvalho (1910 – 1985), Haroldo Pereira Travassos (1922 – 1977) e Paulo de Miranda-Ribeiro (1903 – 1965) – apesar dos desairosos comentários feitos sobre este cientista, publicou trabalho em co-autoria com ele, supervisionou alguns outros e realizou viagens em sua companhia. FIGURA 4 – Cartão de Natal (1945) desenhado por George Sprague Myers e enviado para José Lacerda de Araújo Feio. Na sua caderneta de endereços estão registrados nomes e endereços dos seguintes cientistas ou técnicos brasileiros ou residentes no Brasil: Antônia Amaral Campos, Affonso d’Escragnolle Taunay, Afrânio do Amaral, Agenor Couto de Magalhães, Bertha Lutz, Carlos de Paula Couto, Carlos Estevão de Oliveira, Carlos Estevão de Oliveira Filho, Gerard W. Teague, Heloísa Alberto Torres, João de Paiva Carvalho, Paulo de Miranda-Ribeiro, Paulo Sawaya, Pedro de Azevedo e Rudolph Gleisch. Eu o conheci pessoalmente em Caracas (Venezuela) – (FIGURA 6), quando lá estivemos, na condição de convidados, para proferir palestras 282 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil no “Primer Foro Internacional sobre Planificación y Desarrolo Pesquero” (1967). Sua palestra foi a seguinte: “The Primary Necessity in Planning a Fishery Program in Venezuela.” FIGURA 5 – Bilhete de George Sprague Myers, de 13 de setembro de 1946, enviado para José Lacerda de Araújo Feio. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 283 Melquíades Pinto Paiva Final da Missão George Sprague Myers deixou o Rio de Janeiro no final de julho de 1944, dirigindo-se a Belém (Pará – Brasil), onde ficou até meados de setembro, de lá voltando para os Estados Unidos da América. Não consegui encontrar o relatório final da missão no Brasil, encaminhado à apreciação de Henry Allen Moe. FIGURA 6 – Fotografia tirada em 19 de agosto de 1967 no Clube Militar de Caracas (Venezuela), durante giro turístico patrocinado pelo Primer Foro Internacional sobre Planificación e Desarrollo Pesquero: na primeira fila, da esquerda para a direita – Maria Arair Pinto Paiva (minha esposa), guia de turismo e pessoa não identificada; na segunda fila e na mesma ordem – Frances E. Felin (esposa de George Sprague Myers), Fernando Yepez e George Sprague Myers. (Foto de Melquíades Pinto Paiva). Através do ofício nº 693, de 16 de agosto de 1943, a diretora do Museu Nacional, Heloísa Alberto Torres, dirigindo-se ao Dr. Oswaldo 284 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil Aranha, Ministro de Estado das Relações Exteriores, fez a seguinte apreciação sobre o trabalho de George Sprague Myers no Museu Nacional: Nesse ensejo, permita-me referir a Vossa Excelência que, apreciando o trabalho que vem sendo executado pelo doutor Myers, não tenho dúvida em afirmar, que a proficiência com que tem desempenhado sua missão, só encontra paralelo na dedicação com que realiza sua tarefa; não sei mesmo de outro cientista americano que tenha sabido conquistar, ao mesmo tempo, tanta estima e admiração de quantos têm tido a oportunidade de trabalhar com ele. Em anexo a este ofício, estava o “������������������������������� Report presented to the Committee for International Artistic and Intellectual Relations by Director of the Museu Nacional – Rio de Janeiro”, abaixo transcrito. In November 1941 I consulted the Committee on the possibilities of Stanford University Head Curator of Zoological Collections of the Stanford Natural History Museum sent to Brazil for the purpose of working with the Museu Nacional. In this case, as in many others before, the request was given a favourable decision, thus confirming once more the kind and encouraging support the Committee and the Rockefeller Foundation have been giving the Museu Nacional these last years. Professor Miranda Ribeiro who was in charge of the Ichthyological studies in this Museum and who, according to Doctor Myers was the first scientist to undertake the clearing up of the problem of classification of Brazilian fishes, died some years ago; no students had been formed under his guidance. The Museu Nacional was offered some time ago the possibility of employing some young naturalists whose specialized knowledge and technical capacity we are trying to develop, and it seemed to me the right moment to resume studies in ichthyology not only in order to keep up a tradition of this institution but also accounting for the importance of the works in fish classification for the solution of important economic problem such as the improvement of fishing industries. Doctor Myers arrived in Brazil at the end of July 1942. The working plans for his stay in this country, set up by the Director of the Museu R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 285 Melquíades Pinto Paiva Nacional and his own coincided precisely: 1. a theoretical course on general classification of fishes; laboratory work; 2. training of practical methods in field work (biological observations and collecting); 3. systematic collection of fishes in the various river basins, and in the ocean. The field work was greatly handicapped by present rationing conditions of gas and oil and by the consequent surcharge of other means of transportation. Nevertheless, Doctor Myers made three excursions: one of them to Angra dos Reis (State of Rio de Janeiro) where he collected and made observations on the fisheries conditions; another to Pirapora (High São Francisco River – State of Minas Gerais) where he collected a great many of fishes in the springs of various streams and in lakes; he continued his observations on fisheries of the S. Francisco River; and a third one to Santa Tereza (State of Espírito Santo). Doctor Myers was accompanied in these excursions by young naturalists of the Museu Nacional to whom he gave instruction on the methods of field work, some of which developed through his own vast and steady experience. The Material collected in these excursions amount to more than five thousand specimens, besides some herpetological specimens. As I have already written to Doctor David H. Stevens in December of this year, Doctor Myers is an experienced bibliophile and also the editor of the Stanford Ichthyological Bulletin. Upon my request of his to instruct a young man in charge of the publications of the Museu Nacional, Doctor Myers drew up instructions for the organization of scientific publications. These instructions developed to such an extend that they resulted in a guide for the organization of scientific publications which Doctor Myers kindly put at my disposal for publication. I am enclosing the summary and the preface of this Guide (No. 1). Through this summary you will be able to estimate how well informed Doctor Myers is on 286 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil editorial conditions, in general, in our country. I believe that this guide will prove to be very useful in all centers dealing with the publication of technical papers. The fish collections of this Museum received special attention from Doctor Myers who drew up a general plan for the organization of the deposits and of the exhibition halls. As I have already told you, the Museu Nacional is going through a period of intensive remodeling: of the building which it occupies, and which is one of the old imperial palaces; of the organization of the collection of study and the display of the exhibit halls; of the personnel, most of which are still very young and require great technical training. The study and revision of all technical procedures as yet in use is therefore most desirable at this particular time due to these circumstances and to the progress of modern museography. From March 15th to May 15th, Doctor Myers gave a course on General Classification of Fishes and Fisheries Biology as well as laboratory work on Classification of Brazilian Fishes. Upon the closing of these courses some of the students from other institutions who could remain in Rio de Janeiro, continued their work in our laboratory under Doctor Myers’ guidance. Six papers on fish classification, written by students in collaboration with Doctor Myers are ready for publication; he thus expressed his willingness in encouraging the young men who distinguished themselves during the course. These papers will soon appear in the Boletim do Museu Nacional, with a special mention that Doctor Myers came to Brazil on a grant given by the Committee. Some copies will be forwarded to you. The theoretical course and the first period of laboratory work was attended by forty students coming from the following public departments: Ministério da Agricultura Divisão de Caça e Pesca Divisão de Geologia e Mineralogia Escola Nacional de Veterinária Ministério de Educação e Saúde Instituto Oswaldo Cruz R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 287 Melquíades Pinto Paiva Museu Nacional Ministério da Guerra Diretoria de Remonta e Veterinária Ministério da Viação e Obras Públicas Comissão Técnica de Piscicultura Prefeitura do Distrito Federal Departamento de Educação Técnico-Profissional Secretaria de Agricultura do Est. do Rio de Janeiro Divisão de Caça e Pesca Secretaria de Agricultura do Est. de São Paulo Departamento de Zoologia Divisão de Proteção e Produção de Peixes e Animais Silvestres Secretaria de Educação do Est. de São Paulo Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Secretaria de Educação do Est. do Pará Museu Paraense Emílio Goeldi Faculdade de Medicina de Assunción (Paraguai) The notes and sketches taken in class are being mimeographed for distribution. They form an eighty page booklet covering topics which are scattered in most cases in publications difficult to obtain. Besides the matter given in the course it contains the basic bibliography on general classification of fishes and in separate on Brazilian fishes. Some copies will be sent to you as soon as they are available. Upon the closing of Doctor Myers’ course, the Director of the Museu Nacional addressed himself to the Director of the official departments most intimately connected with ichthyological matters to inquire about the profits derived from the course and also about their interest in having Doctor Myers’ permanence assured for a longer period in Brazil. Translations of some of the answers are enclosed (Nos. 2 to 10). I would like you to grant special attention to the letter of Ministro João Alberto Lins de Barros (No. 9), Coordenador da Mobilização Econômica, to whose Sector de Pesca Doctor Myers has given assistance. The coordenação has entrusted to the Museu Nacional the preliminary work of biological and 288 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil economical survey which will be done by biologists and anthropologists and which is necessary for the setting up of foundations for the study of the development of fisheries in Brazil. Doctor Myers and I have attended some of the meetings of the representatives of the Departments dealing with fisheries work, and Ministro João Alberto’s letter will give you an idea of how much his cooperation was appreciated. Since his arrival in Brazil Doctor Myers has given special attention to the problems of fresh water and sea fisheries; he has collected every bit of information on this subject; he was given all available information by governmental fisheries officials and with such data and his technical knowledge (biology and economy of fisheries and oceanography), he is writing an article in which he analyses and discusses the history of fisheries in Brazil and the economic conditions of the fishermen. Doctor Myers has informed me, however, that the available information in very scarce and a systematic gathering of new data is indispensable for the complete understanding of the problem. The Brazilian Government has, however, recently restricted the publication of certain data of economic nature which might be useful to the enemy, and therefore, Doctor Myers’ article will be submitted to Brazilian authorities before it can be printed. In the meantime Doctor Myers has summarized his conclusions in a confidential memorandum which I sent to the authority who has acted as chairman of our meetings. It is our hope that it will be possible to have Doctor Myers as our technical advisor in the planned biological survey. We are counting as well with cooperation of two other American scientists: Dr. William Gosline, who has already been engaged by the Museu Nacional, and Doctor Joseph R. Bailey. Doctor Gosline has already received his passport and official visa in the Brazilian Embassy in Washington. Our Ambassador has also requested priority for his plane trip from the United States to Brazil. Concerning Doctor Bailey’s stay in Brazil, our Minister of Foreign Affairs has already consulted the American Embassy in Rio and we are awaiting a decision, which, we hope, will be favourable. Due to certain temporary conditions which prevent any immediate research work in the sea, our survey will begin in Amazonia. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 289 Melquíades Pinto Paiva Doctor Myers has, besides, devoted a great part of his time to the reading and criticizing of several manuscripts on zoological subjects that have been submitted to him by authors. As Curator of the Zoological Collection of the Stanford Natural History Museum, Doctor Myers has a widespread knowledge of modern methods of museography, therefore I frequently resort to him for advice in the study of different problems and I find his judgments and suggestions are invariably helpful and wise. Furthermore, his cooperative qualities prompt him into offering his spontaneous criticism and suggestions on several problems he happened to meet with. Such is the assistance that has been given by Doctor Myers to this Museum and to the person who accepted the responsibility of reorganizing a one hundred and twenty four year old institute, which notwithstanding the various hardships it has gone through during its existence, is still carrying high its honourable tradition. Rio de Janeiro July 28, 1943 Heloisa Alberto Torres Director Comparando-se as datas acima, vê-se que George Sprague Myers permaneceu no Brasil durante dois anos, em vez de apenas um, como inicialmente foi planejado. O ofício e seu anexo devem ter servido para apoiar desejada prorrogação da bolsa de estudos no Brasil. Ictiologia brasileira Desde 1924 George Sprague Myers vinha publicando trabalhos sobre os peixes do Brasil (MYERS, 1970), comprovando o seu permanente interesse pelo desenvolvimento da ictiologia brasileira. Não pretendo relacionar as dezenas de títulos da sua bibliografia, referentes ao Brasil, mas quero aqui destacar a série sobre os peixes da Amazônia, pela originalidade da abordagem e importância científica. 290 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil – Myers, G. S. – 1947 – The Amazon and Its Fishes – Part I. The River. The Aquarium Journal, San Francisco, 18 (3) : 4 – 9, 3 figs, – Myers, G. S. – 1947 – The Amazon and Its Fishes – Part 2. The Fishes. The Aquarium Journal, San Francisco, 18 (4) : 13 – 20, [2] figs. – Myers, G. S. – 1947 – The Amazon and Its Fishes – Part 3. Amazonian Aquarium Fishes. The Aquarium Journal, San Francisco, 18 (5) : 6 – 13 + 32, [3] figs. – Myers, G. S. – 1947 – The Amazon and Its Fishes – Part 4. The Fish in its Environment. The Aquarium Journal, San Francisco, 18 (7) : 8 – 19 + 34, 6 figs. – Myers, G. S. – 1949 – The Amazon and Its Fishes – Part V. A Monograph on the Piranha. The Aquarium Journal, San Francisco, 20 (2) : 52 – 61, 1 – 4 figs,; 20 (3) : 76 – 85, 5 – 7 figs. – Myers, G . S. (ed..) – 1972 – The Piranha Book. T. F. H. Publications, Inc. Ltda., 128 pp., ilus., Nepture City. Considerações finais Na elaboração deste trabalho contei com documentos sobre George Sprague Myers arquivados no Museu Nacional e com os papéis brasileiros do seu acervo pessoal, depositados na Smithsonian Institution (Washington – D. C. – United States of America). Apesar de tão boas fontes, as únicas agora disponíveis, muitos documentos importantes foram perdidos ou não chegaram às minhas mãos. A vinda de George Sprague Myers ao Brasil confirmou o prognóstico de Carl L. Hubbs, pois ele efetivamente fez reviver a ictiologia no Brasil, após a morte de Alípio de Miranda-Ribeiro. Não sei os nomes dos seus alunos no curso ministrado no Museu Nacional, mas posso afirmar que três dos seus jovens naturalistas dele participaram – Antenor Leitão de Carvalho, Haroldo Pereira Travassos e Paulo de Miranda-Ribeiro. De São Paulo veio Horácio Rosa Junior, que depois tornou-se técnico das Nações Unidas, trabalhando na sua Organização de Agricultura e Alimentação, produzindo bons trabalhos sobre os peixes. Haroldo Pereira Travassos, R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 291 Melquíades Pinto Paiva meu mestre, foi naturalista no Museu Nacional, chegando a ser considerado um dos mais destacados ictiologistas brasileiros. Além dos objetivos específicos da sua missão, George Sprague Myers envolveu-se com assuntos de pesca, e chegou a preparar um esboço da primeira tentativa de levantamento dos recursos pesqueiros do Brasil, nos aspectos biológicos, econômicos e sociais. Não tenho notícia da sua implementação em escala nacional, mas sei da permanência de Antenor Leitão de Carvalho no Ceará, mais precisamente na praia do Mucuripe, porto das jangadas da cidade de Fortaleza. Lá ele coletou peixes e informações, trazidos(as) pelos jangadeiros. Agradecimentos Além dos agradecimentos devidos às instituições onde estão depositados papéis e documentos relativos à missão de George Sprague Myers no Brasil, acima mencionadas, devo profundo reconhecimento e maior gratidão às pessoas que me ajudaram na preparação deste trabalho: Arnaldo Campos dos Santos Coelho, Anderson de Sousa Lima, Célia Maria Gomes Maia, Hitoshi Nomura, Kraig Adler, Nelson Papavero e Paloma Paiva Lamas Lambranho. Referências bibliográficas ADLER, K. (ed.) – 1989 – Contributions to the History of Herpetology. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 202 pp., illus., Oxford (Ohio). Nota sobre George Sprague Myers : 113 – 114, [1] fig. COHEN, D. M. & WEITZMAN, S. H. – 1986 – George Sprague Myers (1905 – 1985). Copeia, Washington, 1986 (3) : 851 – 853, [1] fig. LEVITON, A. E., REGNERY, D. C. & THOMAS, J. H. – 1986 – Memorial Resolution: George Sprague Myers (1905 – 1985). The Stanford University Campus Report, Stanford, (6 April) : [1 – 4]. MYERS, G. S. – 1970 – Annotated chronological bibliography of the publications of George Sprague Myers (to the end of 1969). (Festschrift for George Sprague Myers). Proceedings of the California Academy od Sciences, San Francisco, 38 (2) : 19 – 52. 292 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 George Sprague Myers (1905 – 1985) e a ictiologia no Brasil PAIVA, M. P. – 2008 – Memória: Alípio de Miranda-Ribeiro (1874 – 1939). Bol. Assoc. Brasil. Biol. Mar., Niterói, 1 (1) : 7 – 8, [1] fig. WALFORD, L. A. – 1970 – On the natural history of George Sprague Myers (Festschrift for Geroge Sprague Myers). Proceedings of the California Academy of Sciences, San Francisco, 38 (1) : 1 – 18. La Valleta (Malta), 5 de novembro de 2008 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):267-293, jan./mar. 2009 293 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado Ana Maria Carvalho de Miranda Sá1 Resumo: Este artigo é parte de um conjunto de estudos que foram feitos com o objetivo de identificar e compreender os rituais e valores simbólicos presentes na festa do congado no Brasil, ressaltando principalmente a festa no estado de Minas Gerais, onde ela se encontra no estado mais original, ligada ao calendário cristão e isenta de influências diretas de rituais religiosos africanos. Esta primeira parte procura estabelecer a ligação entre Nossa Senhora do Rosário com os negros africanos trazidos para o Brasil como mão de obra escrava. Embora haja diferenças regionais bem evidentes nas festas de congado realizadas em quase todo o território nacional, a homenagem e a devoção à Nossa Senhora do Rosário é ponto comum a todas elas, o que ressalta sua importância. É, portanto, necessário entender o motivo desta devoção, que não só faz parte do congado, mas faz parte de vários outros rituais africanos no país, como o candomblé, por exemplo, onde ela recebe o nome de Iemanjá, divindade ligada às águas do mar, Oxumarê e Oxum. Palavras-chave: Nossa Senhora do Rosário, devoção, cristianização, jesuítas, congado. Introdução: O interesse em mergulhar no universo simbólico dos rituais do congado faz parte do esforço para compreender, pelo menos em parte, a maneira com que esta festa foi constituída no contexto da expansão portuguesa além-mar, principalmente levando em conta o ambiente da colonização e exploração da colônia americana depois da adoção da mão de obra escrava africana. Ao procurar entender os diversos rituais e simbolismos do congado, toma-se consciência de ser ela uma festa que se prima por múltiplos valores culturais; se tornando, por isso um exemplo consideravelmente importante para demonstrar que o ambiente colonial proporcionou não só o contato entre várias culturas, mas antes de tudo uma releitura das mesmas, que por sua vez possibilitou o aparecimento de representações culturais novas. 1 –1Mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 295 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá No Brasil, desde os tempos de colônia até a atualidade, o congado é uma festa celebrada em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, considerada padroeira dos negros. No entanto, na Europa, ela já era conhecida mesmo antes da escravidão africana, e louvada por sua “força” nos campos de batalha desde a Idade Média. Quais foram os caminhos que a levaram a um altar de devoção dos negros? Estudar esta festa negra, uma das únicas festas permitidas pelo branco no mundo da escravidão no Brasil, possibilita uma maior compreensão dos hibridismos culturais presentes na sociedade brasileira que caracteriza tão bem a fluidez e a dinâmica deste universo cultural pluriétnico. Mostra também que o ambiente colonial proporcionou a fusão de tradições bastante arraigadas entre os europeus, mesmo que estas tenham sido contrárias aos interesses da própria Igreja Católica. Tradições de origem pagã se amalgamaram aos costumes africanos e indígenas através do elo mais forte e universalizante da Igreja, contribuindo de forma incisiva para imprimir na cristandade colonial uma religiosidade típica do barroco; uma fé manifestada através de festas, teatralizações, onde se mesclaram elementos culturais diversos, que aos poucos foram se fundindo. Se não está tão presente nas grandes cidades, esta religiosidade barroca, profano religiosa, pode ser facilmente encontrada na maioria das pequenas cidades brasileiras, o que justifica a importância dos estudos voltados atualmente para esta festa. Parece que são poucas as comunidades de congadeiros atualmente que têm conhecimento do significado simbólico dos rituais presentes na festa do congado. Mesmo porque uma boa parte destas representações possui interpretações variadas, como é o caso do culto à Nossa Senhora do Rosário. Depois de séculos de prática numa sociedade de turbulentas e radicais transformações, não podemos esperar que a festa não tenha sofrido alterações, se adaptando a novos ambientes e sendo praticada por novos agentes sociais. Na maioria das vezes, o que resta são os rituais esvaziados de seus valores simbólicos. Devido ao seu caráter de oralidade, estes valores são frágeis e podem se perder com o tempo. Os rituais, por 296 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado sua vez, ligados aos mecanismos motores, subsistem porque são compreendidos no organismo vivo, e reproduzidos constantemente na prática, mesmo sem os mitos que os explicam.2 Ao fazer este estudo, pretende-se primeiramente estabelecer a ligação entre o louvor a Nossa Senhora do Rosário com os negros africanos no Brasil; considerando a devoção dedicada a ela na Europa, África e América. Procura-se compreender de que maneira uma Nossa Senhora branca, que teve seu culto iniciado no leste da Europa, rompeu territórios e culturas para se tornar padroeira de um povo apartado de sua terra, procurando ajuda e proteção para, ainda hoje, procurar um espaço digno na sociedade em que foi introduzido. O culto à Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário não é a única entre as virgens e santos de devoção dos negros, mas certamente é a mais importante, por ser considerada a protetora dos negros escravizados; tanto no Brasil quanto em Portugal e África. No entanto, os motivos que fizeram os negros considerarem-na como sua protetora, ainda continuam sendo alvo de diversas interpretações. Muitos estudiosos já dedicaram e dedicam seus estudos ao assunto. São teólogos, linguistas, historiadores, estudiosos da arte, sociólogos, antropólogos; enfim, especialistas de diversas áreas do conhecimento que traçaram estratégias diversas de pesquisa objetivando apreender a devoção à Nossa Senhora e seu Rosário em diversas épocas da história. As conclusões destes estudos não são poucas. O que se pretende aqui não é esgotar o assunto, mas explorá-lo o suficiente para que se possa compreender o motivo ou motivos que levaram os negros que se converteram ao catolicismo a adotarem Nossa Senhora do Rosário como sua santa protetora, consagrando a ela festas, novenas, sacrifícios, como se 2 – Bastide, Roger. As religiões africanas no Brasil. Contribuição a uma sociologia das Interpretações de civilizações. São Paulo: Livraria Pioneira Editora e Editora da Universidade de São Paulo, 1971.Vol. 2, Pág. 336. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 297 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá verifica no congado. Na Europa: Não se sabe ao certo a data precisa da introdução do Rosário na cristandade ocidental. Segundo a própria igreja Católica, a devoção do Rosário da Virgem Maria teve início com Domingos de Gusmão, em inícios do século XIII. Ele estava na região de Albi, no sul da França, combatendo seitas heréticas, como os cátaros (ou albigenses) e passando por sérias privações. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu a ele e ensinoulhe um método de oração através de contas a ele apresentadas.3 Para a estudiosa Marina Warner, o uso do rosário entre os cristãos pode ter começado durante as cruzadas, através do contato com os muçulmanos. Segundo ela, o colar de contas é originário da Índia e do hinduísmo; se estendendo ao budismo e posteriormente ao Islã. Enquanto que nesses lugares o hábito de mover o colar de contas entre os dedos tem caráter laico, no Ocidente se converteu em um hábito ligado exclusivamente à esfera religiosa.4 Temporariamente adormecido, o louvor ao Rosário de Nossa Senhora foi revitalizado por volta de 1470, através da obra do dominicano Alano de Rupe, onde ressaltou os poderes do rosário como meio de obter graças e a proteção da Virgem. A revitalização do rosário nessa época esteve associada à crise do mundo medieval e a consequente instabilidade da Igreja Católica frente ao movimento reformista. Em 1475, inspirado na 3 – A associação do Rosário da Virgem a Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, é encontrada, além da própria tradição católica, em: Souza, Juliana Beatriz Almeida de. Viajens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2: 2001. Pág. 4. Também em Reginaldo, Luciene. O Rosário dos Angolas; irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista. Tese de doutorado defendida na Unicamp em 2005 - www.libdigi.unicamp. br e Devoções Marianas - www.catedral.org.br. 4 – Warner, Marina. Tu Sola entre las Mujeres. El mito y el culto de la Virgem Maria. Madri, Taurus Humanidades: 1991. Apud: Souza, Juliana Beatriz Almeida de. Viajens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Revista de Estudos Afro-Asiáticos. Ano 23, nº 2: 2001. Pág. 4. 298 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado obra de Alano, Jacob Sprenger, outro dominicano, fundou a primeira confraria devotada ao rosário, em Colônia, na Alemanha. Preocupados com o distanciamento em que se achava a Igreja em relação aos fiéis, a devoção ao rosário passou a ser uma forma de congregar cristãos de qualquer cor, condição e estado. Ela estende o seu benefício a tudo e a todos, e vence o mal no mundo. No início do século XVI a Virgem Maria e seu rosário passaram a serem invocados como representantes da Igreja Universal. Essa ideia claramente ideológica pretendia reforçar a união do Imperador do Sacro Império com o Papa, numa cruzada universalizante destes dois poderes na Europa.5 Em 1571, a vitória dos exércitos cristãos contra os muçulmanos na Batalha de Lepanto foi atribuída à aparição e proteção de Nossa Senhora do Rosário aos fiéis. A partir daí institucionalizou-se a festa em homenagem à ela no primeiro sábado do mês de outubro, dia em que ocorreu a batalha. A Virgem do Rosário teve sua devoção associada às vitórias contra o mal, à defesa armada dos estados católicos contra àqueles considerados hereges e infiéis à sua doutrina. Não foi por acaso que o Reino da Hungria elegeu Nossa Senhora do Rosário como sua protetora. Desde 1526, Budapeste se encontrava nas mãos dos infiéis muçulmanos. Num esforço da cristandade oriental, liderada pelo Imperador alemão e seu exército conjuntamente com as forças armadas do Papa, os mouros foram expulsos das proximidades de Viena em 1683, e em 1686 a capital da Hungria foi 5 – Trindade, Jaelson Bitran. Vieira, o Império e a Arte: emblemática e orna- mentação barroca - www.Jbtrindade-upo.es. Segundo o autor, a ideologia universalizante da Igreja Católica e do Imperador do Sacro Império, Maximiliano de Habsburgo (1493-1519), foi expressa em 1506, na obra do pintor Albrecht Durer. Esta pintura, intitulada “A Festa do Rosário”, mostra bem as expectativas políticas do mundo germânico e do papado. O Papa Julio II e o Imperador estão ajoelhados aos pés da Virgem, sendo ungidos com as coroas de rosas (símbolo de submissão e lealdade); o Papa, pelo menino Jesus, e o Imperador pela própria Virgem. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 299 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá reconquistada. Em todas as batalhas contra os infiéis, Nossa Senhora do Rosário foi invocada e considerada a protetora dos exércitos católicos. Nessa altura, a devoção ao Rosário da Virgem estava disseminada por toda a Europa. Se o Papa Pio V estimulou seu culto e devoção depois da Batalha de Lepanto, chamando-a primeiramente de Nossa Senhora das Vitórias, em 1573 o então Papa Gregório XIII passou seu nome para Nossa Senhora do Rosário, reforçando o rosário como arma da vitória do cristianismo no ocidente. O Papa Leão XIII, no ano de 1883, através da Carta Encíclica Supremi Apostolatus Officio, reconhece a troca do nome de Nossa Senhora das Vitórias por Nossa Senhora do Rosário: Por este motivo o santo Pontífice, para perpetuar a lembrança da graça obtida, decretou que o dia do aniversário daquela batalha fosse considerado festivo com honra da Virgem das Vitórias; festa que depois Gregório XIII consagrou sob o título de Rosário.6 Em Portugal: A data da chegada dos Dominicanos em Portugal não é precisa, mas segundo os próprios integrantes da Ordem7, Frei Soeiro Gomes, no ano de 1217, foi o primeiro dominicano a chegar em Portugal. Em 1218 teria construído o primeiro convento na região de Montejunto. Ainda segundo dados da própria instituição, foi construído em 1242 o Convento de São Domingos de Lisboa, pelo rei português D. Sancho II. Na igreja do convento coexistiam várias irmandades que dispunham de capelas laterais. Uma delas era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Provavelmente a devoção ao Rosário de Nossa Senhora teve início com o fundador da Ordem dos Dominicanos, podendo-se concluir daí que esta ordem é que foi a responsável pela divulgação da devoção na Europa e na Península Ibérica em particular. Segundo Julita Scarano, desde 6 – A Carta Encíclica do Papa Leão XIII pode ser encontrada no site oficial do vaticano: www.vatican.net/holy_father/leo_xiii/enciclicals/documents/nf_l-xiii_enc_12091897_ augustissimae-virginis-mareae_po.html. 7 – Os dominicanos de Portugal - www.dominicanos.com.pt/. 300 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado o século XIV eram numerosos os conventos Dominicanos em Portugal, o que contribuiu decisivamente para que vários grupos profissionais e sociais adotassem Nossa Senhora do Rosário como padroeira, como os marinheiros do Porto.8 Em 1490 uma grande manifestação buscando a intercessão da Virgem do Rosário foi deflagrada pela população de Lisboa, por ocasião da peste que assolou a cidade. Desde então o culto ao Rosário foi se popularizando cada vez mais.9 Apesar da devoção ter se iniciado entre os membros da nobreza e população branca em geral, rapidamente se alastrou entre a população africana em Portugal que se fez presente na Península tão logo o contato com o Reino do Congo foi feito por Diogo Cão em 1485. A partir dessa época, inúmeros africanos foram levados a Portugal para serem instruídos na fé e na cultura ocidental. Vistos no início como gentios, ou seja, povos pagãos, seguidores da “lei natural” que viviam, portanto, no erro e na superstição, eram povos almejados pela catequese missionária. Os africanos livres, mandados a Portugal pelo próprio Rei do Congo, D. Afonso I, eram educados no Mosteiro de Santo Elói com o objetivo de se formar um clero africano capaz de garantir a expansão do catolicismo no continente.10 Parece que a devoção, pelos negros, à Nossa Senhora do Rosário foi paralelo ao processo de conversão dos africanos tanto no continente africano quanto na Península Ibérica. A preocupação do Estado português em afirmar o poder real alicerçado na expansão do cristianismo, desde o começo, foi calcado principalmente pelas obras, missionárias. Apesar da documentação conhecida e dos estudos já realizados sobre a atuação da Igreja na cristianização dos negros em Portugal seja bastante reduzida, o 8 – Scarano, Julita. Devoção e Escravidão. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: Editora Nacional, 1978. Pág. 39-40. 9 – Tinhorão, José Ramos. Os negros em Portugal. Uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial Caminho, 1997. 10– Boxer, Charles. A Igreja e a expansão ibérica. Lisboa: Edições 70; 1989. Pág. 16. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. Cit., Pág. 42. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 301 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá pouco que se sabe permite algumas análises importantes. Através de informações do Convento de São Domingos de Lisboa, em 1479 foi aprovada a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esta teria sido a primeira irmandade de negros de Lisboa, fundada na própria igreja do convento. Segundo documentação apresentada por Lucilene Reginaldo, em 1551, a Confraria do Rosário do convento de São Domingos estava “repartida em duas, uma de pessoas honradas, e outra de pretos forros e escravos de Lisboa”.11 Uma série de conflitos entre “os irmãos pretos” e as “pessoas honradas” levou à cisão do grupo. “Em 1565, os irmãos negros tiveram seu primeiro compromisso aprovado pela autoridade régia. Apesar disso, o acirramento das disputas, (...) levou à expulsão a irmandade dos negros do templo dominicano no fim do século XVI”.12 A expulsão levou-os a formar uma irmandade independente anos mais tarde. Saunders, que estudou os escravos e libertos em Portugal nos séculos XV e XVI, nos fala que naquela época os negros já realizavam a coroação de um rei negro cuja celebração era acompanhada por uma festa de negros nos arredores de Lisboa. No entanto estas festas sofriam perseguições pela administração real, preocupados com a possibilidade de serem momentos para desordens, fugas ou rebeliões. Mas se não eram permitidas quando praticadas por grupos isolados, isto não acontecia ao nível das instituições religiosas; “que aceitavam que celebrassem a Virgem Maria vestidos à sua moda, com danças e ritmos africanos executados até dentro das igrejas”. Neste caso está a celebração à Nossa Senhora do Rosário, invocação sob a qual, segundo Saunders, “os negros já se reuniam em irmandades desde 1494”.13 11– Oliveira, Cristovam Rodrigues. Sumário que brevemente se contém algumas coisas assim Eclesiásticas, como Seculares, que há na cidade de Lisboa (1551). Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1760. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 47. 12– Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 47. 13– Saunders, A. C. de C. M. A social history slaves and freedmen in Portugal – 14411555. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. Apud. Souza, Marina de Melo e. Reis negros no Brasil escravista: história da coroação de Rei Congo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. Pág. 160. 302 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado Se inicialmente foram os dominicanos os principais propagadores da devoção ao rosário, estes não se mantiveram como os missionários exclusivos empenhados na difusão da devoção. Outras ordens também criaram irmandades do Rosário, como os agostinianos e franciscanos. Tanto em Portugal, África e América portuguesa, o culto ao Rosário da Virgem cresceu sistematicamente, atingindo seu momento de glória durante o século XVII. Embora Nossa Senhora do Rosário não fosse a única Senhora de devoção dos negros, era a mais importante. Parece mesmo que a população negra foi se apropriando do culto ao Rosário como prerrogativa particular. Muitos estudiosos têm buscado compreender as razões da associação entre cristianização dos negros e o louvor a Nossa Senhora do Rosário, não se chegando, no entanto, a nenhuma conclusão. Existem várias interpretações, que são importantes de serem registradas. Para Saunders, “a natureza semimágica, quase talismânica do rosário pode ter constituído um apelo aos africanos acostumados a feitiços”.14 Segundo Frei Agostinho de Santa Maria, a devoção ao Santo Rosário da Virgem simbolizaria a oração direta a Deus, sem recurso de intermediários.15 José Ramos Tinhorão sustenta a hipótese de que os negros se fixaram em Nossa Senhora do Rosário pela ligação estabelecida com seu orixá Ifá, através do qual era possível consultar o destino atirando soltas ou unidas em rosário as nozes de uma palmeira chamada okpê-lifa.16 Analisando esta hipótese, Lucilene Reginaldo a compreende como anacrônica e equivocada no tocante ao tráfico atlântico de escravos. Se14– Saunders. Op. Cit. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. cit. Pág. 56. 15– Santa Maria, Frei Agostinho de. Santuário Mariano e Histórias das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, e das milagrosamente aparecidas, em graça dos Pregadores e devotos da mesma Senhora. Lisboa: Na Oficina de Antonio Pedroso Galrão, 1707. Apud. Souza, Marina de Melo e. Op. Cit. 16– Tinhorão, José Ramos. Op. Cit. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 56. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 303 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá gundo ela, o culto ao rosário é anterior à presença de cativos jejes e iorubas nas Américas, e em relação à Península Ibérica, não é conhecido nenhum dado que confirme a presença destas populações nas irmandades negras durante os séculos XVI a XVIII.17 Didier Lahon defende uma hipótese mais objetiva, quando observa que a associação em irmandades de devoção ao rosário não foi, nos primeiros tempos, uma escolha dos negros. Era a única irmandade que, desde sua formação, não estabelecia critérios para a admissão de qualquer pessoa, nem mesmo qualquer obrigação de pagamento.18 Dessa forma, esta irmandade era a única opção para os negros.19 Como se vê, a associação entre a devoção à Nossa Senhora do Rosário e a cristianização dos negros escravos e libertos está longe de ser desvendada. O que importa, no entanto, é saber que a cristianização do negro africano está inteiramente ligada com esta devoção tanto em Portugal quanto na África e na América Portuguesa. Através da ação missionária, o empreendimento do Estado português e da Igreja Católica em difundir o catolicismo entre os gentios, esteve, desde o início, aliado à divulgação desta devoção entre os negros. Com o tempo, a Virgem do Rosário tornou-se a protetora dos negros escravos. Foi no ambiente da escravidão que esta associação foi, aos poucos, se consolidando. Na África: Desde que Portugal alcançou a primeira vitória no continente africano em 1415, com a conquista de Ceuta, os esforços da Coroa Portuguesa em consolidar o projeto de estabelecer as bases para um comércio rentá17– Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 56. 18– Desde a primeira confraria do Rosário fundada na Alemanha por Jacob Sprenger em 1475, o estatuto já esclarecia sobre este aspecto, dentro da proposta do Rosário e a Virgem serem entendidos como símbolo da Igreja Universal, congregando todas as raças e não fazendo distinção social. 19– Lahon, Didier. O negro no coração do Império. Uma memória a resgatar – séculos XV-XIX. Lisboa, Secretariado Coordenador dos Programas Multiculturais – Ministério da Educação, 1999. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 57. 304 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado vel no continente estiveram aliados à expansão da fé católica através da ação missionária. Porém, até 1485, as conquistas portuguesas se limitaram ao norte da África e ao sul do Senegal e das terras da Guiné. Nessas duas regiões, a ação do missionarismo português foi neutralizada pela influência da cultura muçulmana, já ali sedimentada nestas regiões. Para João Francisco Marques, os missionários, nessa fase da conquista, foram os próprios navegadores e mercadores, que levavam nativos para Portugal com o objetivo de serem catequizados e, retornando para suas terras, poderem prestar serviços a eles e expandir a fé cristã. Mas diante da influência muçulmana, tal intento não foi bem-sucedido.20 Só a partir das duas últimas décadas do século XV a cristianização da África negra conheceu medidas e resultados consistentes, principalmente após 1485, com a expedição de Diogo Cão, que alcançou a foz do Rio Congo e, a partir daí, conseguiu contato com o Mani Congo, que administrava uma confederação na parte da África centro-oriental, envolvendo uma grande área territorial composta de várias províncias.21 A partir do momento em que ocorreu a conversão da corte do Congo ao cristianismo, o envio de jovens da elite congolesa para Portugal, a fim de obterem educação formal e religiosa, foi uma constante durante os primeiros séculos de contato. Portugal, por sua vez, não cessou de enviar missionários para o litoral e interior do reino do Congo, objetivando sedimentar a cristianização da África centro-oriental. Dentre esses missionários, destacaram-se os jesuítas e capuchinhos, e em menor grau 20– Marques, João Francisco. A religião na Expansão Portuguesa. Vectores e Itinerários da Evangelização Ultramarina: o Paradigma do Congo. Revista de História das Idéias. Vol. 14. Pág. 117 a 141, Coimbra, Portugal, 1992. Apud. Souza, Juliana Beatriz Almeida de. Op. Cit. Pág. 7. 21– Sobre o Reino do Congo e a autoridade do Mani Congo junto às províncias ver: Souza, Marina de Melo e. Op. Cit. O assunto sobre a conversão da corte congolesa ao cristianismo bem como a visão desta conversão sob a ótica dos congoleses pode ser encontrado no mesmo livro citado acima e em Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Este artigo pretende mostrar somente a expansão da devoção à Nossa Senhora do Rosário na África. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 305 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá os franciscanos e carmelitas descalços. Em 1649 os capuchinhos passaram a atuar em Angola, obedecendo à mesma estratégia missionária desenvolvida no Congo; penetrando para o interior com o objetivo de estabelecer áreas de controle e interesse dos portugueses. Foi o capuchinho Antonio de Gaeta que fundou, em 1649, a primeira confraria dedicada à Nossa Senhora do Rosário, localizada nos sertões de Matamba, interior de Angola. A ação dos portugueses em Angola cresceu de forma vertiginosa após a restauração portuguesa em 1648. O Reino do Congo se encontrava fragmentado, o que dificultava o tráfico de escravos, o comércio e a penetração para o interior. A partir desse ano, o raio de ação da Coroa Portuguesa na África se concentrou em Angola. Luanda foi a cidade onde se localizou a sede administrativa, comercial, religiosa e militar da empreitada portuguesa na região. Dividida entre centro (onde residia a alta administração) e periferia (zona comercial), foi nesta zona portuária, onde morava a grande maioria de negros e mestiços da cidade, que estavam localizadas as duas confrarias do Rosário, ambas de homens pretos. Uma possuía capela particular e a outra, localizada no bairro do Rosário, que surgiu como uma espécie de acampamento de escravos, era a mais antiga, instituída por D. Frei Francisco do Soveral em 1628, ligada aos jesuítas.22 As irmandades africanas seguiam a mesma organização das portuguesas, assim como as da colônia americana. Seguiam um padrão de divisão social por ordem hierárquica. Assim, as irmandades do Rosário, que a princípio congregavam parte da população branca em Portugal, gradativamente foram sendo reservadas aos negros cativos e forros. Tratava-se de uma devoção reservada aos africanos inseridos na experiência da escravidão, seja na condição de cativos ou de libertos. Neste sentido, a devoção ao Rosário entre os negros nasceu 22– Venâncio, José Carlos. A economia de Luanda e hinterland no século XVIII. Um estudo de sociologia histórica. Lisboa, Editorial Estampa, 1996. Pág. 39. Apud. Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 35. 306 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado vinculada às marcas da “conversão-cativeiro.23 A propagação da devoção ao Rosário entre escravos negros parece ter sido incentivada pelos jesuítas, tanto na África quanto na América portuguesa. A relação dos jesuítas com os negros africanos parece também ter sido bastante próxima. Coube ao jesuíta Pedro Dias escrever a primeira gramática em kimbundo, dedicada à Nossa Senhora do Rosário, mãe e senhora dos pretos. Embora tenha sido escrita na Bahia, foi publicada em Lisboa no ano de 1697. Esta dedicatória sugere a ligação da devoção dos africanos também no Brasil, onde se destacou, principalmente, a catequese jesuítica. Já os capuchinhos, que foram os responsáveis pela ação missionária no interior de Angola, divulgaram a devoção ao Rosário da Virgem mesmo entre a população branca. Precisamos lembrar aqui que esta devoção, em Portugal, esteve inicialmente ligada ao espírito de luta contra os protestantes e infiéis, dentro do espírito da contrarreforma. O mesmo aconteceu com os dominicanos, na Ilha de Moçambique, no final do século XVIII. Fundaram uma irmandade do Rosário da qual faziam parte portugueses e “cristãos da terra”. A conclusão mais importante que se pode tirar desses exemplos que confirmam a expansão da devoção à Nossa Senhora do Rosário em Portugal e África, é que, apesar de no início ser uma devoção de brancos, com o tempo, através dos missionários empenhados em expandir a fé cristã, essa devoção acabou se ligando preferencialmente aos negros, escravos e libertos. E tornou-se uma ponte entre as tradições africanas e o catolicismo português. No entanto, além da ação missionária, alguns estudiosos inferem outros motivos para estabelecer a ligação entre Nossa Senhora do Rosário e os negros escravos. W. Randles, estudioso da cosmologia bakongo, nos diz que o mar, para os congoleses, pertence ao mundo do além, uma via de acesso ao 23– Reginaldo, Lucilene. Op. Cit. Pág. 36. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 307 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá outro mundo, espaço no qual estavam os mortos.24 Se o significado do mar para os congoleses pertence ao mundo do sagrado, este pode perfeitamente ter ajudado os africanos a aceitaremNossa Senhora do Rosário como sua protetora, devido à relação que existe entre a Virgem às águas do mar, dentro da tradição medieval.25 É bem possível que, conhecedores destas tradições e do valor sagrado do mar para os negros africanos, os missionários tenham feito a ligação entre um e outro elemento para facilitar a conversão dos gentios ao catolicismo. Esta hipótese torna-se possível principalmente porque os missionários utilizaram destas artimanhas de forma constante no processo de cristianização dos negros africanos.26 Talvez seja por isso também, aliada ainda às diversas querelas entre negros e brancos pela devoção à Nossa Senhora do Rosário em Portugal e na África, que muitos dos integrantes dos grupos de congado no Brasil conheçam a tradição do aparecimento da Virgem do Rosário para os negros como sendo uma disputa pela atenção da Virgem a dois grupos 24– Randles, W. G. L. L’ancien royaume du Congo des origines à la fin du XIX siècle. Paria: Ècole dês Hantes Ètudes, Mouton & Co, 1968. Pág. 88 e 89 apud. Souza, Marina de Melo e. Op. Cit. Pág. 64. 25– Kiddy, Elisabeth. Congado, Calunga, Candomblé: Our Lady os the Rosary in Minas Gerais, Brazil. Luso-Brasilien Review, 37/1 (2000): Pág. 47-61. Apud. Reginaldo, Lucilene, Op. Cit. Pág. 38. Segundo Lucilene Reginaldo em nota de rodapé, Elisabeth Kiddy fala que, no século XV, Nossa Senhora sustentava os títulos de Mirian Hebréia e Stella Maria. Pesquisando estes nomes, encontrei algumas referências específicas da tradição. Como Mirian Hebréia, o artigo de Good, Deirdre. Sons e visões de Jesus depois da Ressurreição - www.margens.org.br/sis/revista2/artigos/goorport.pdf. Neste artigo ela atribui o Cântico do Mar, que celebra a libertação dos judeus do jugo egípcio, através da travessia do Mar Vermelho, a Mirian, profetiza e irmã de Moisés, descrevendo-a como Maria Madalena e a Virgem Maria. Como Stella Maris, a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, sobre o Apostolado do Mar; diz que “Stella Maris” é desde há muito tempo o apelativo preferido, com que a gente do mar se dirige àquela em que cuja proteção sempre confiou: a Virgem Maria - www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/nf_jp-ii_mot. Pág 1. 26– Para compreender melhor o assunto, ver em MacGaffey, Wyatt. Dialogues of the Deaf: Europeans on the Atlantic coast of África. Pág. 260. Apud. Souza, Marina de Melo e. Op. cit. Pág 66. 308 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado diferentes. Marina de Melo e Souza nos fala sobre a tradição: Segundo essas versões, houve um momento no qual Nossa Senhora do Rosário apareceu sobre as águas, geralmente do mar, mas às vezes do rio, ou mesmo no mato ou numa rocha, sendo vista à distância, naquela estranha situação, quase sempre por um membro da comunidade negra, um pescador, um moleque que passava e ia dar o alerta aos outros. Várias tentativas foram feitas para o seu resgate das águas, algumas pelos senhores brancos, que se a princípio pareceram alcançar o intento, logo constataram que a imagem não permanecia no rico altar para ela montado e voltava para as águas, de onde os cânticos e a procissão dos senhores tinham-na tirado; outras por caboclos, que também não eram bem sucedidos.Os únicos que conseguiram manter Nossa Senhora no modesto altar para ela preparado foram os negros, que ao som de tambores sagrados, cantos e danças fizeram com que saísse das águas, os acompanhasse e com eles ficasse, sendo a partir de então reverenciada com a festa de reis e a congada.27 Se analisarmos todas essas tradições no conjunto, e o ambiente sociocultural da Península Ibérica, é bem possível que esta hipótese se torne mais coerente. A Península Ibérica, desde a expansão do Império Romano, recebeu populações judaicas e depois, no século VIII, muçulmanos, além de ciganos. No longo processo de convivência entre essas diversas culturas, ocorreram amálgamas culturais que foram responsáveis por conferir ao catolicismo ibérico uma característica única, plenamente exteriorizada no barroco do século XVI e XVII, e que ficava muito longe do espírito da Contrarreforma, preocupada em promover uma Igreja mais pura, livre de costumes pagãos. Essa religiosidade barroca, impregnada de misticismos 27– Souza, Marina de Mello e.Op. cit. pág. 309. Outros autores também já coletaram, em suas pesquisas, a mesma tradição contada pelos congadeiros. Marina de Melo e Souza cita, em nota de rodapé, alguns destes pesquisadores. Ver pág. 362. Acrescento ainda nesta lista um vídeo feito pela Rede Minas, exibido no dia 8 de janeiro de 2006 pela televisão, sobre os grupos de congado de Belo Horizonte e cidades vizinhas, no qual os congadeiros contam a mesma tradição. Alguns depoimentos ainda apontam que os negros que conseguiram tirar a Senhora e seu Rosário do mar foram os Moçambiques, com seus repiques mais tranquilos e cadenciados. Por isso é que este grupo é o mais importante do Reinado do Rosário. Os Congos são os grupos destinados a proteger a Virgem, e não coroá-la. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 309 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá populares, foi uma forte influência a atuar na África e na colônia americana, na medida em que o espírito de êxtase, do dramático, a exploração das emoções, a utilização do trágico para impregnar os espíritos foram amplamente utilizados pela Igreja para atrair o público-alvo. Os missionários portugueses, principalmente os jesuítas, podem ter se utilizado de tradições europeias já conhecidas, que ligavam Nossa Senhora às águas do mar; o significado místico do mar para os negros centro-africanos; o conhecimento do culto a Nossa Senhora do Rosário estar relacionado à vitória contra os infiéis; o fato de que Nossa Senhora está relacionada a todos os fiéis de um modo geral, sem considerar cor, raça ou posição social, e criada uma Nossa Senhora própria para os negros. Inclusive pode se supor que a tradição conhecida pelos congadeiros no Brasil seja obra dos jesuítas, a exemplo da tradição ligada a Santa Efigênia e Santo Elesbão.28 Infelizmente, todas estas relações ainda não foram comprovadas cientificamente, podendo-se somente levantar hipóteses possíveis objetivando a melhor compreensão da ligação dos negros à Nossa Senhora do Rosário. Mas mesmo que sejam somente hipóteses, pode-se ainda estabelecer uma ligação bastante concreta da ação dos jesuítas com a difusão da devoção também no Brasil. No Brasil: O jesuíta Antônio Pires dá notícia de que em 1552 os negros africanos de Pernambuco estavam reunidos numa confraria do Rosário.29 Sem sombra de dúvida, a ação missionária dos jesuítas na América portuguesa teve um papel decisivo na promoção da devoção ao Rosário da Virgem pelos 28– Oliveira, Anderson José Machado de. Santos pretos e catequese no Brasil colonial. Pág. 215 a 233 In.: Estudos de História. Escravidão africana. Franca. UNESP. Vol. 9, nº 2; 2002. 29– Andrade, Mário de. Danças Dramáticas do Brasil. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1959. 2º Tomo Pág. 20. Nota de rodapé. 310 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado negros. Não podemos menosprezar, no entanto, o papel das Irmandades30 como parte da estratégia adotada pela Coroa Portuguesa para sedimentar a cristianização da colônia, seguindo o modelo português e africano. Como vimos anteriormente, foram os jesuítas os principais responsáveis em divulgar a devoção do Rosário entre os negros na África, e na colônia portuguesa na América não será diferente. Para mostrar esta atuação e a estratégia utilizada pelos jesuítas na divulgação do culto, Juliana Beatriz Almeida de Souza31 se utilizou de uma série de 30 sermões que Padre Antônio Vieira escreveu sobre o Rosário, publicados originalmente em dois volumes, em 1686 e 1688, com o título de Maria Rosa Mística.32 Em alguns desses sermões Vieira prega sobre o valor do Rosário na luta contra as heresias na Europa, dizendo que a devoção ao Rosário da Virgem levou muitos cristãos a vencerem os movimentos heréticos, como os que aconteceram em Colônia, na Alemanha. Mas em outros, Vieira relaciona a devoção ao rosário, ao cativeiro dos negros. É interessante conhecermos de que forma ele faz este relacionamento, pois mostra as estratégias utilizadas pelos jesuítas para a conversão dos negros africanos e a intenção, já préestabelecida, de relacionar esta estratégia com o Rosário da Virgem, sedimentando a ideia de que foi a partir deles que esta devoção se expandiu na colônia. No sermão XIV, pregado na Bahia à irmandade de negros em um engenho, no ano de 1633, Vieira começa a explicar a relação do Rosário de Nossa Senhora com os negros. Ele fala que Jesus teve dois nascimentos. O primeiro como Filho da Virgem e o segundo como Salvador; a partir de seu calvário se tornou o Salvador de toda a humanidade. E compara os 30– Para entender melhor o papel das Irmandades, principalmente na sociedade de Minas Gerais, ver: Sá, Ana Maria Carvalho de Miranda. Entre santos, coroas e fitas: a tradição por um fio. O congado em Ipatinga – século XIX até a atualidade. Dissertação de Mestrado. Vassouras, USS. Novembro de 2006. sob orientação de Miridan Knox Falci. Pág. 44. 31– Souza, Juliana Beatriz Almeida de. Op. Cit. Pág. 12. 32– Boa parte dos sermões que pertencem a Maria Rosa Mística pode ser encontrada em www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/mistica.html. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 311 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá negros à mesma condição de Cristo. A conversão dos negros ao cristianismo pelo batismo significa o segundo nascimento, pois passam a fazer parte do corpo de Deus em Cristo, e filhos da mesma mãe. (...) não são todos os pretos universalmente, porque muitos deles são gentios nas suas terras; mas fala somente daqueles de que eu também falo, que são os que por mercê de Deus e de sua Santíssima Mãe, por meio da fé e conhecimento de Cristo, e por virtude do batismo são cristãos. E depois de falar dos negros como filhos da Mãe de Cristo, fala da obrigação que eles têm de invocar a Mãe através do Rosário, como sua salvadora, mãe e protetora. “O novo nascimento dos mesmos pretos, como filhos da Mãe de Deus, lhes mostra a obrigação que têm que servir, venerar e invocar a mesma Senhora com seu Rosário”. Os negros do Brasil têm que agradecer à Coroa Portuguesa por tê-los tirado da África, onde viviam como gentios, e tê-los dado a oportunidade de salvar suas almas. E atribui esta salvação a um grande milagre da Virgem do Rosário. (...) vos escolheu de entre tantos outros de tantas e tão diferentes nações, e vos trouxe ao grêmio da Igreja, para que lá, como vossos pais, vos não os perdêsseis; e cá, como filhos seus, vos salvásseis. Este é o maior e mais universal milagre de quantos faz cada dia, e tem feito por seus devotos a Nossa Senhora do Rosário. Continuando seu sermão, no parágrafo VII, ele fala aos negros escravos que o trabalho árduo e o sofrimento não são desculpas para esquecer sua devoção. Eles deveriam se espelhar em Cristo, que mesmo diante do sofrimento do calvário não deixou de rezar ao Pai. Compara também o trabalho e o sofrimento dos escravos nos engenhos à Paixão de Cristo, chamando os escravos, por isso, de bem-aventurados. Esta comparação foi o argumento utilizado por Vieira para justificar que os Mistérios do Rosário mais importantes para o negro eram os Mistérios Dolorosos, mais parecidos com sua condição de escravos sofredores. 312 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado Já no sermão XVIII, Vieira fala que Nossa Senhora do Rosário entregou aos negros a carta de alforria. Fazendo a distinção entre corpo e alma, e dentro do pensamento aristotélico-tomista, alegando que todos têm o direito do livre arbítrio, fala que a maior escravidão é a da alma e não a do corpo. Desse modo, os negros, por mais que padecessem no cativeiro, deviam se lembrar que aquele não era um cativeiro total, senão que meio cativeiro. Assim sendo, Nossa Senhora do Rosário viera aos negros para libertá-los do cativeiro da alma. Deveriam, pois, se entregar como escravos à Nossa Senhora, porque assim todos seriam libertados. No sermão XXVII, dando prosseguimento ao assunto anterior, Vieira fala que se os seus senhores os impedissem de algum modo ou exigissem algum ato que os levassem a ofender gravemente a alma e a consciência, deveriam os escravos desobedecê-los, mesmo sabendo que seriam castigados. Porque o castigo, segundo ele, seria considerado martírio, como o foi para Cristo na cruz. Vieira utilizou o sermão XX para tratar da questão das irmandades do Rosário. E provido de analogias poderosas como método de persuasão, comparou os negros escravos à Maria, quando esta recebeu o Anjo que anunciou ser Ela a escolhida como a Mãe de um Filho que se chamaria Filho de Deus. Ela prontamente disse: “Eis aqui a escrava do Senhor”. A intenção de Vieira foi a de mostrar que frente à existência de duas Irmandades do Rosário, uma de brancos e outra de pretos, que aos olhos de Deus não deveriam estar separadas; a dos pretos era a mais favorecida pela Mãe do Senhor, pois ela mesma tinha se colocado como escrava de seu próprio Filho, como Filho de Deus. E seguindo a linhagem materna do povo de Israel, quando Maria se coloca como escrava, antecipadamente coloca seu Filho como escravo dos homens. “Enquanto Filho de seu Pai é Senhor dos homens; mas, enquanto Filho de sua Mãe, quis a mesma mãe que fosse também escravo dos mesmos homens”. E para confirmar o favoritismo da Virgem Maria, mostrou, no parágrafo IV, que Deus não escolheu uma Mãe de linhagem nobre, mas de origem humilde. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 313 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá Logo, se Deus não pôs os olhos na majestade e grandeza das senhoras, senão na humildade e baixeza da escrava, seguro têm os escravos, ainda em comparação de seus senhores, o maior favor e o maior agrado dos olhos da Mãe de Deus. Pode-se perceber que estes sermões de Vieira encorajam propositalmente a adesão dos negros à devoção à Nossa Senhora do Rosário. No entanto, não podemos esquecer que este encorajamento, ainda mais dentro das Irmandades, fazia parte das preocupações da Coroa Portuguesa aliada à Igreja de expandir a fé cristã entre os gentios, garantindo ao mesmo tempo o fortalecimento e expansão do Império português. Olhando sob este prisma, a devoção ao Rosário da Virgem entre os negros foi uma das várias estratégias de dominação utilizada pela ação missionária dos jesuítas. Direcionando o negro para dentro das Irmandades do Rosário, a Coroa portuguesa e senhores de terras tinham como, através dos olhares atentos dos padres, controlar a ação dos negros. A devoção à Nossa Senhora do Rosário entre os negros foi, assim, uma propaganda de fé, que soube aliviar as tensões de uma sociedade baseada na exploração da mão de obra escrava. Por outro lado, os negros souberam se utilizar das permissões que lhe foram oferecidas para recriar, pelo menos em parte, o universo cultural da terra de origem. Imprimiu nas festas dedicadas a padroeira dos escravos suas danças, cantos, rituais e simbolismos, como meio de garantir sua identidade no cativeiro, mesmo que esta fosse parcial. Conclusão: Nossa Senhora do Rosário não é só homenageada nas festas de congado. Ela é cultuada e reverenciada como protetora de boa parte da população negra no Brasil. Esta devoção se deve ao processo de exploração e colonização em conjunção com os métodos utilizados pela Igreja Católica na conversão dos escravos africanos à fé cristã. Sempre em consonância com a Coroa Portuguesa, a Igreja utilizava a conversão para facilitar o 314 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado domínio e amenizar os rigores da escravidão. Desde que foi introduzida e estimulada no Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Rosário esteve associada à ideia de conversão dos negros gentios, à batalha empreendida pelos portugueses na conquista de novos territórios paralela à vitória do cristianismo contra o paganismo. A escravidão seria o caminho pelo qual a “salvação” destas almas poderia ser efetivada; como bem demonstrou Padre Antônio Vieira. Desde os tempos da colônia, portanto, o culto ao Rosário e à Virgem Maria estiveram associados à escravidão. Ela foi a proteção e a esperança de alívio ao sofrimento de muitos. Depois de passado tanto tempo, esta invocação e deste louvor continuam a representar os mesmos sentimentos. Os devotos sentem-se protegidos e impelidos a seguirem seu caminho na busca de um lugar na sociedade brasileira, onde possam ser vistos como parte do todo. Enquanto isso, assim como antes, assumem uma posição resistente, através da qual criam um universo próprio onde podem viver sob a proteção da Virgem, que lhes dá força para enfrentar o preconceito persistente em nossa sociedade contra aqueles que não se adaptaram a ela. Um preconceito social e racial, fruto também do processo histórico formador desta sociedade e que ainda não foi possível ser vencido. Referências Bibliograficas: ANDRADE, Mário de. Danças dramáticas do Brasil. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1959. BASTIDE, Roger. As religiões Africanas no Brasil. Contribuição a Uma Sociologia das Interpretações de Civilizações. São Paulo: Editora da USP, 1971. BOXER, Charles. A Igreja e a expansão ibérica. Lisboa: Edições 70, 1989. GOOD, Deirdre. Sons e visões de Jesus depois da Ressureição. www. margens.org.br/sis/revista2/artigos/goodport.pdf . KIDDY, Elisabeth. Congado, Calunga, Candomblé: Our Lady of the Rosary in Minas Gerais, Brazil. Luso-Brasilien Review, 37/1 (2000). LAHON, Didier. O negro no coração do Império. Uma memória a resgatar R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 315 Ana Maria Carvalho de Miranda Sá – séculos XV-XIX. Lisboa, Secretariado Coordenador dos Programas Multiculturais – Ministério da Educação, 1999. MACGAFFEY, Wyatt. Dialogues of the Deaf: Europeans on the Atlantic coast of África. In: SCHWARTZ, Stuart B.. Edited by Implicit Understandings. Observing, reporting, and reflecting on the encounters between Europeans and other peoples in the Early Modern Era. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. MARQUES, João Francisco. A religião na Expansão Portuguesa. Vectores e Itinerários da Evangelização Ultramarina: O Paradigma do Congo. Revista de História das Idéias. Vol. 14. Coimbra, Portugal, 1992. OLIVEIRA Anderson José Machado de. Santos pretos e catequese no Brasil colonial. In: Estudos de História. Escravidão africana. Franca, UNESP, Vol 9, nº 2, 2002. OLIVEIRA, Cristovam Rodrigues. Sumário que brevemente se contém algumas coisas assim Eclesiásticas, como Seculares, que há na cidade de Lisboa (1551). Lisboa: Oficina de Miguel Rodrigues, 1760. ORDEM DOS DOMINICANOS DE PORTUGAL - www.dominicanos.com. pt/. PAPA JOÃO PAULO II. Carta Apostólica sobre o Apostolado do Mar - www. vatican.va/holy_father/John_paul_ii/motu_proprio/documents/nf_jp-ii_mot. RANDLES, W. G. L. L’ancien royaume du Congo dês origines à la fin du XIX siècle. Paria: École dês Hantes Études, Mouton & Co, 1968. REGINALDO, Luciene. O Rosário dos Angolas: irmandades negras, experiências escravas e identidades africanas na Bahia setecentista. Tese de doutorado defendida na UNICAM em 2005. SÁ, Ana Maria Carvalho de Miranda. Entre santos, coroas e fitas: a tradição por um fio. O congado em Ipatinga. Século XIX até a atualidade. Dissertação de Mestrado. Vassouras: Universidade Severino Sombra, 2006. SANTA MARIA, Frei Agostinho de. Santuário Mariano e Histórias das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, e das milagrosamente aparecidas, em graça dos Pregadores e devotos da mesma Senhora. Lisboa: Na Oficina de Antonio Pedroso Galrão, 1707. SAUNDERS, A. C. de C. M. A social history os black slaves and freedmen in 316 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 A proteção do Rosário de Nossa Senhora Rituais e valores simbólicos do Congado Portugal. 1441-1555. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. SCARANO, Julita. Devoção e escravidão. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. SERMÕES DE PADRE ANTÔNIO VIEIRA. Maria Rosa Mística. - www. cce.ufsc.br/~nupill/literatura/mistica.html. SOUZA, Juliana Beatriz Almeida de. Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001. SOUZA, Marina de Mello e. Reis negros no Brasil escravista: história da coroação de Rei Congo. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002. TINHORÃO, José Ramos. Os negros em Portugal. Uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial Caminho, 1997. TRINDADE, Jaelson Britan. Vieira, O Império e a Arte: emblemática e ornamentação barroca - www.jbtrindade-upo.es. VENÂNCIO, José Carlos. A economia de Luanda e hinterland no século XVIII. Um estudo de sociologia histórica. Lisboa: Editorial Estampa, 1996. WARNER, Marina. Tu Sola entre las Mujeres. El mito y el culto de la Virgem Maria. Madri: Taurus Humanidades, 1991. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):295-317, jan./mar. 2009 317 Astronomia na regência de dom João III – COMUNICAÇÕES (ainda d. João) Astronomia na regência de dom João1 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão2 Antecedentes Em 1780, chegavam ao porto do Rio de Janeiro os astrônomos portugueses nomeados por Sua Majestade, D Maria I, Rainha de Portugal. Impossibilitados de continuarem suas viagens de reconhecimento das fronteiras entre as Capitanias de São Paulo e a Coroa Espanhola na América do Sul, acabaram fundando um Observatório Astronômico no Morro do Castelo, onde realizaram a primeira e mais longa série de observações sistemáticas de caráter meteorológico, astronômico e geofísico efetuadas, no século XVIII, no continente sul-americano de que se tem notícia. Na realidade, os astrônomos Bento Sanches Dorta, capitão, e Francisco de Oliveira Barbosa, bacharel formado em Matemática, chegaram ao Rio de Janeiro em 6 de abril e aí ficaram esperando o navio que conduzia o equipamento científico que iriam usar. Tais instrumentos aqui chegaram no dia 11 de junho, na Fragata São João Baptista, sob o comando de Guilherme Roberto. Acompanhava a coleção dos instrumentos matemáticos o astrônomo espanhol Luiz de Cobos, representante da Corte Espanhola que deixou o Rio em 19 de junho com destino às colônias espanholas na Província do Rio da Prata, passando pela cidade de “Boínosaires”, como se diz no ato de recibo do instrumento firmado por Sanches Dorta, Oliveira Barbosa e Cobos. Na relação encontravam-se os instrumentos: um quadrante astronômico de um pé de raio com seu pedestal (identificado como de fabricação 1 – Palestra proferida durante a CEPHAS de 7 de maio de 2008. 2 – Sócio titular. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 319 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão de Sisson nos relatórios de observação de Dorta), uma pêndula astronômica, dois óculos grandes acromáticos (de fabricação inglesa Dollond), um teodolito, um barômetro, quatro livros intitulados Collection de Differens Traités sur des Instruments d’Astronomie et Physique de autoria do inventor português João Jacinto de Magalhães (1722-1790). Além disso havia dois livros em branco, uma máquina de fumo, duas bússolas de algibeira, duas caixas e folhas de Flandres, uma bolsa para instrumento circular, vários rolos de esfera, duas resmas de papel ordinário, penas e instrumentos para desenho. O eclipse no dia da partida A partida da Corte portuguesa que se iniciou no dia 27 de novembro de 1807 provocou no porto de Lisboa um enorme clima de histeria coletiva. Temia-se a chegada das tropas de Napoleão. A fama de saqueadores atribuída aos soldados franceses fez com que as joias e moedas do Tesouro Real fossem embaladas em grandes caixas de madeira. Documentos antigos e arquivos do Estado se amontoavam em carroças junto aos baús de roupas e os de prataria. À margem do rio Tejo se instalou um cenário caótico. A chuva fina e persistente enlameou toda região. A lista de passageiros era muito confusa, pois todos queriam estar incluídos nela. Os que não encontravam seus nomes procuravam as autoridades para serem autorizados ao embarque numa das naus. Alguns embarcaram somente com a roupa do corpo, assim como muitos pertences embarcaram sem os seus donos. A biblioteca do Convento da Ajuda – com cerca de 50 mil volumes que dariam origem à formação da atual Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro – ficou abandonada no porto. Apesar de todo sigilo envolvendo a transferência do governo português, uma verdadeira multidão de curiosos se amontoava para assistir à passagem dos nobres. O cenário era tragicômico, enquanto a rainha Dona Maria I assustava toda plateia com seus gritos, Dona Carlota Joaquina ordenava aos condutores de sua carruagem: “Vamos mais devagar, senão vão pensar que 320 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João estou fugindo”. Apesar da maioria dos historiadores terem afirmado que se tratava de uma fuga, a ideia da vinda da coroa portuguesa para o Brasil já havia sido considerada anteriormente pelo governo português. Na realidade, não se tratava de uma fuga, mas de uma retirada estratégica para o território português na América meridional. Era como se D. João dissesse a Napoleão: “Se você quiser me pegar que venha me apanhar no Brasil”. Embora essa frase não tenha sido registrada, ela está subentendida nesse ato de partida da Corte. Talvez essa seja a razão pela qual mais tarde Napoleão teria dito que “D. João foi o único Rei que me enganou”. No dia seguinte, 28 de novembro, o vento impediu que a esquadra real deixasse a foz do rio Tejo. Estima-se que sete a oito mil súditos portugueses tenham sido embarcados naquele dia. No dia 29 de novembro, o céu amanheceu claro, quando então a esquadra lusa saiu do Tejo alcançando o mar. Ao largo no oceano, os navios ingleses encontravam-se de prontidão. Nesse dia, no hemisfério norte, um eclipse solar híbrido, ou seja, eclipse do Sol visível como anular e total na faixa de centralidade, foi observado como parcial em Portugal, onde cerca de 50% do Sol foi eclipsado pelo disco lunar. O escurecimento causado por ele no dia da partida de Lisboa, deve ter provocado um enorme impacto entre os leigos. Imaginem a reação, nas mentes supersticiosas da época, a associação daquele fenômeno celeste à invasão já anunciada das tropas francesas de Napoleão, e/ou à retirada da Corte Portuguesa em direção à sua colônia na América do Sul. O cometa da travessia Em o tempo que Sua Alteza Real saiu de Portugal e fazia a sua derrota [viagem] para esta Região [Brasil] apareceu da parte Oeste um pequeno cometa que se deixou ver por alguns dias logo ao princípio da noite. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 321 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Assim descreveu em um dos cadernos do seu diário o Visconde de Araruama, José Carneiro da Silva (1788-1864), o cometa que apareceu durante a viagem da esquadra que trouxe a Corte Portuguesa de Lisboa a Salvador, na Bahia. Este cometa da travessia, visível a olho nu, foi observado por Carneiro da Silva – uma mente privilegiada que se preocupava com o registro dos fenômenos astronômicos – no céu de Macaé. Realmente, durante a travessia, quando o tempo estava favorável, foi possível observar esse cometa descoberto pelo astrônomo italiano Giovanni, do Observatório de Palermo, na Sicília, dominar o céu ao pôr do Sol, na constelação da Virgem. O céu no dia da chegada à cidade do Rio de Janeiro No dia da chegada, em 7 de março de 1808, às 15 horas, ocorreu a oportunidade de assistir o pôr do sol tropical. Dois planetas, Marte e Mercúrio, eram visíveis no céu vespertino, logo após o pôr do sol. Durante quase toda a noite, Sírius – a estrela mais brilhante do céu – irradiava a sua luz próximo ao zênite. Não muito longe, as Três Marias, da constelação de Órion, dominavam o firmamento. Apesar do luar refletindo nas águas da baía da Guanabara, deu-se um aspecto especial para que aquela noite tropical não dificultasse a observação das constelações, principalmente os aglomerados das Plêiades e das Híades. Saturno era visível na constelação da Libra no meio da noite. A posição da Lua não impedia que se pudesse acompanhar a observação do Cruzeiro do Sul, durante toda a noite, depois de nascer a Sudeste. Após a passagem do Cruzeiro do Sul pelo zênite à meia noite, via-se do lado do nascente Vênus na constelação do Capricórnio. Observatório Real da Academia de Guardas-marinha, primeiro do Brasil. Em 1807, o Príncipe Regente D. João, que governava em nome da sua mãe D. Maria I, ao transferir a Corte para o Brasil, determinou que 322 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João a Real Academia de Guardas-Marinha, criada em Lisboa em 1779, fosse instalada no Rio de Janeiro. Imediatamente, o capitão de mar e guerra José Maria Dantas Pereira [de Andrade], que exercia o cargo de diretor da Real Academia dos Guardas-Marinha desde 1800, tomou as medidas necessárias para que a Academia fosse transferida em sua totalidade. Os alunos, lentes e parte do material escolar, incluindo a biblioteca, foram embarcados na nau Conde D. Henrique – que deixou o Tejo a 29 de novembro de 1807. Além de ter providenciado o embarque de material de ensino e o instrumental da Academia, Dantas Pereira conseguiu ainda que fosse recolhida a bordo parte do acervo pertencente ao Observatório da Marinha e ao da Sociedade Real Marítima. Em 17 de janeiro de 1808, a nau Conde D. Henrique entrou na baía do Rio de Janeiro com o comandante e os professores e os alunos da Real Academia dos Guardas-Marinhas. Antes da chegada de D. João, Dantas Pereira já tinha iniciado a procura de um sítio que dispusesse na cidade de infraestruturas convenientes à instalação da Academia. Ao chegar ao Rio de Janeiro, em 22 de março de 1808, o Príncipe Regente e o Ministro e Secretário de Estado da Marinha, João Rodrigues de Sá e Mendes, Visconde de Anadia, além de promover o comandante Dantas Pereira a chefe de divisão, encarregou-o de “procurar casa onde pudesse estabelecer as aulas e Academia”. Uma vez escolhido o Convento de São Bento, ao lado do Arsenal de Marinha, em 5 de maio de 1808, o Visconde de Anadia comunicou ao comandante José Maria a seguinte decisão real: O Príncipe Regente Nosso Senhor houve por bem destinar as hospedarias dos Religiosos Beneditinos para nelas se estabelecer a Real Academia dos Guardas-Marinhas; pelo que ordena o mesmo Senhor de Vosmecé proceda logo a encomendar os armários, bancos e cadeiras que forem necessários para esse fim, mandando fazer tudo por ajuste, de que dará parte a esta Secretaria de Estado para que se mande entregar a Vosmecé o valor da importância. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 323 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Ao dito Abade do Convento de S. Bento escrevo agora participando-lhe esta real determinação de Sua Alteza Real, a fim de que desocupe e entregue as referidas hospedarias, para que Vosmecé as possa ocupar e fazer os convenientes melhoramentos. As aulas da Real Academia dos Guardas-Marinhas As primeiras Aulas da Real Academia dos Guardas-Marinhas tiveram início em 1º de março de 1809. Foi anunciado na Gazeta do Rio de Janeiro que todos que tivessem interesse em aprender as matérias lecionadas no curso deveriam se inscrever até o dia 8 de fevereiro, quando se encerrariam as matrícula. Mesmo após a sua instalação no Rio de Janeiro, a Academia continuou ainda regida pelo Decreto de 1796; estabeleceu-se que o seu curso de formação dos Guardas- Marinhas compreendia um período de três anos, durante o qual eram estudadas as seguintes matérias: no primeiro ano: Aritmética, Geometria, Trigonometria e Aparelhos; no segundo ano: princípios de Álgebra até as equações de 3º grau inclusive, assim como as suas primeiras aplicações à Aritmética, Geometria, Secções das cônicas, Mecânica e a sua aplicação imediata ao aparelho e manobra, desenhos de marinha e rudimento sobre a construção de navios; no terceiro ano: Trigonometria esférica, Navegação teórica e prática, rudimento de Tática naval, continuação dos desenhos, rudimentos de Artilharia e exercício de fogo, Tática Militar e Artilharia prática. Para complementar as atividades de ensino foram convidados para elaborarem e traduzirem os textos básicos da cultura científica, em geral de origem francesa, os mais eminentes militares-cientistas, membros da administração pública imperial – a maioria simpatizante do absolutismo ilustrado e outros fundadores do liberalismo político do universo luso-brasileiro. Entre estes estadistas e homens de ciência, devemos citar: Manoel Ferreira de Araújo Guimarães (1777-1838), homem de letras e formação militar sempre ligado ao grupo de Dom Luiz Rodrigo de Souza Coutinho (Conde de Linhares); Jacinto Nogueira da Gama (1765-1847), 324 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João futuro Marquês de Baependi, militar, homem de ciência e deputado da constituinte de 1823; José Saturnino da Costa Pereira (1773-1852), irmão de Hipólito da Costa, professor da Academia Militar do Rio de Janeiro que lecionou e escreveu sobre História Natural, Geometria, Geografia e Cartografia; Antonio Saldanha da Gama (1778-1839), chefe da esquadra da Armada Real; Francisco de Borja Garção Stockler (1759-1829), Barão de Vila da Praia, formado em matemática em Coimbra. Em apenas um ano, a Real Academia dos Guardas-Marinhas já funcionava do outro lado do Atlântico: as aulas foram retomadas, a biblioteca organizada permitindo o acesso aos leitores e o observatório retomou sua atividade, publicando com regularidade o seu anuário calculado para o meridiano do Rio de Janeiro. Durante os doze anos que permaneceu no Brasil, a contribuição de Dantas Pereira foi notável. Ainda em 1808, apresentou Apontamentos concernentes à regulação de uma nova Academia destinada ao ensino das Matemáticas em geral e das Artes e Ciências Náuticas em particular. Este estudo redigido no Quartel da Rua do Ourives no Rio de Janeiro, em 9 de junho de 1808, pode ser considerado o primeiro projeto de ensino universitário no Brasil. A sua proposta visava de certo modo à criação de uma instituição equivalente às Reais Academias de Marinha e dos Guardas-Marinhas, ambas estabelecidas na cidade de Lisboa e à Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. Servidores da Real Academia dos Guardas-Marinhas que vieram com a família real em 1808. Nome Antônio Joaquim Coelho Carlos Santos Laranja Fernando Libório Rodrigues Frederico Meriat Fonte ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique Dados complementares Aluno Aluno Aluno Aluno R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 325 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Henrique Evaristo Lobo João Henrique Paiva João Martiniano Oliveira Joaquim Ângelo Coelho José Maria Dantas Pereira (Capitão de mar e guerra) José Maria Pereira José Santa Rita[1] José Vaz de Carvalho Ladislau Benevencto Manoel Maria Ferreira Marcos Joaquim Rodrigues Nuno José Souza Pio Antônio Santos[2] Rodrigo Vaz de Carvalho Sebastião Francisco Mello ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Fragata Minerva AHU: ARJ, cx. 244, doc. 5 - Nau Conde D. Henrique AHU: ARJ, cx. 244, doc. 5 - Nau Conde D. Henrique AHU: ARJ, cx. 244, doc. 5 - Nau Conde D.Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique ANRJ: SH, cód. 730, v. 1 Nau Conde D. Henrique Aluno Secretário da Real Academia dos Guardas-Marinhas Lente da Real Academia dos GuardasMarinhas Lente da Real Academia dos GuardasMarinhas e professor de matemática Diretor da Real Academia dos GuardasMarinhas Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno Aluno [1] Filho do capitão de mar e guerra José Santa Rita Santos (Capitão de mar e guerra) [2] Filho de Pio Antonio Primeira biblioteca técnica-científica no Brasil A Biblioteca da Real Academia dos Guardas-Marinhas e do acervo da Sociedade Real Marítima, mais conhecida como Depósitos de Escritos, criada em Lisboa em 1802, após terem sido reunidos todos os escritos marítimos que existiam de autores portugueses, quer impressos quer manuscritos, uma vez recolhida a bordo da nau Conde D. Henrique e trazida 326 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João para o Rio de Janeiro deu origem a Biblioteca para uso dos GuardasMarinhas no Brasil. A Real Academia dos Guardas-Marinhas, possuía uma biblioteca destinada à instrução de seus alunos. Em 13 de maio de 1808, foi nomeado para secretário da Real Academia João Henrique Paiva, que tinha também a seu encargo a direção da biblioteca. Nesse mesmo decreto foi criado na Marinha o posto de Almirante General, com uma das atribuições de inspetor da Academia, para o qual foi designado o infante D. Pedro Carlos, sobrinho do Príncipe Regente D. João. O chefe de Divisão José Maria continuou à frente do estabelecimento até 1817, quando foi substituído pelo Capitão de Mar e Guerra Francisco Maria Teles, posto em que permaneceu até a independência. No que se refere à Sociedade Real Marítima, Dantas Pereira recolheu mais de mil cartas e planos e conjuntamente com outros espólios que reunidos, em abril de 1808, no Rio de Janeiro, para constituir o Arquivo Militar, anexo à Repartição de Guerra, no entanto, associada à Armada e a Fazenda. Mais tarde, em 1810, preocupado com o aperfeiçoamento profissional da oficialidade criou a Sociedade Naval e formou uma biblioteca profissional que cobrisse toda a gama de conhecimentos indispensáveis ao oficial da Marinha desde os oficiais subalternos até aos oficiais generais. Essa biblioteca técnico científica constituiu a Biblioteca do Rio de Janeiro – a primeira biblioteca pública do país. Assim, Dantas Pereira desempenhou um papel fundamental e decisivo na criação e desenvolvimento dos principais acervos bibliográficos e arquivísticos brasileiros. Em novembro de 1817, promovido a Chefe de Esquadra, Dantas Pereira solicitou a demissão do cargo de Diretor da Academia dos GuardasMarinhas. Haviam decorrido 17 anos de dedicação à Marinha, durante os quais, de forma notável, coordenou a formação dos seus oficiais, os primeiros sete anos em Portugal e o restante no Brasil. Permaneceu na R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 327 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Comissão Encarregada da Redação das Ordenanças da Marinha até que, em 1819, foi promovido a Chefe de Esquadra efetivo e membro do Real Conselho de Marinha. Um ano mais tarde, regressou a Portugal a bordo da charrua São João Magnânimo e desembarcou em Lisboa, em agosto de 1820. Primeiro cronômetro de marinha no Brasil O Real Observatório da Marinha de Lisboa, criado em 1798, teve como uma das suas principais atividades a conservação da hora e da manutenção dos cronômetros usados pela marinha portuguesa. Os seus dois primeiros cronômetros foram os Arnold 66 e Arnold 82 fabricados pelo relojoeiro inglês John Arnold (c.1736-1799), respectivamente em 1799 e 1800. O Arnold 82 foi perdido em 1807 por ocasião de um incêndio no Real Observatório. No entanto, o Arnold 66 foi entregue ao Capitão de Mar e Guerra José Maria Dantas Pereira, da Academia de Ciências de Lisboa, em 16 de novembro de 1807, que o trouxe na nau D. Henrique que veio para o Brasil com a esquadra que acompanhou o Príncipe Regente D. João, mais tarde D. João VI. Este segundo cronômetro foi seguramente, de acordo com o historiador português Estácio dos Reis, o primeiro cronômetro de bordo que existiu no Brasil. Instrumentos astronômicos trazidos para o Brasil pela corte portuguesa em 1808 Mais tarde, para melhor incrementar os estudos de astronomia, em 2 de março de 1809, o Príncipe Regente D. João determinou que os instrumentos e livros do Real Observatório da Marinha viessem para o Rio de Janeiro. Uma vez encaixotados foram colocados na charrua Princesa Real. A descrição do material enviado se encontra registrada nas páginas 82 e 82B do Livro de Registros de Ordem de Avisos, relativos ao Real Observatório da Marinha, nº 2406, no período de 1798 a 1827. Com data de 15 de julho de 1809 ha relação de quatorze (14) caixotes assim como a 328 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João descrição dos instrumentos e livros que contém cada um deles. Damos a seguir a transcrição do Aviso relativo ao material enviado para o Brasil: Havia mais no Observatório os instrumentos e livros que se encaixotaram em quatorze caixotes que se meteram a bordo da Charrua Princesa Real por Ordem superior a dois de março do ano corrente. Os ditos quatorze caixotes que foram numerados contém o que aqui declaramos: Números Conteúdo Nº. 1 O tubo do telescópio de Herschel; o seu espelho em uma caixinha, e o pé do teodolito. Nº. 2 Nº. 3 O pé do telescópio; três bússolas; os pés do circular de Borda; dois teodolitos (um deles velho e despedaçado); um declinatorium; uma caixa de barras magnéticas; uma caixa de instrumentos para operações gráficas; um sextante; várias peças de um óculo de passagens. Um quadrante; o pé de outro quadrante; um astrolábio. Nº. 4 Dois quadrantes Nº. 5 A pêndula Magalhães Nº. 6 Outra pêndula Nº. 7 A pêndula Bullok. Nº. 8 Quatro óculos acromáticos; e os papéis e livros pertencentes à Secretaria do Observatório. Nº. 9 Um globo celeste Nº. 10 Um circular de Ramsden. Nº. 11 Um circular de Througton Nº. 12 e 13 O Regimento de Sinais, Tática Naval, a Manobra de Navio, quatro volumes da Astronomia de Lalande, a Astronomia de Vincer, alguns Almanaques ingleses antigos; alguns volumes de Efemérides antigas portuguesas, três Atlas Celestes de Flanstedius, um Atlas Celeste de Bode, e sua explicação, um maço de chapas, pertencentes ao Regimento de Sinais, e a manobra de navio, um circular de borda, o pé de um quadrante, um volume de conhecimento dos tempos, um quadrante pequeno, um horizonte artificial, uma Rosa dos Ventos, três horizontes artificiais de líquidos, duas bússolas pequenas de engenheiros, três estojos para operações gráficas, um higrômetro. Nº. 14 Um quadrante Nota. O caixote Nº. 8 tornou para o Observatório e nele se acha, atualmente, um dos quatro óculos deste caixote, e o que acima referimos neste Inventário. Observatório Real da Marinha, 15 de julho de 1809. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 329 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Pedro Mendonça Manoel do Espírito Santos Limpo Paulo José Maria Ciera Raymundo José da Silveira Há indícios, nas comunicações à Academia das Ciências de Lisboa redigidas por Silva Leite, de que alguns desses instrumentos tenham sido utilizados em suas observações no morro do Castelo no Rio de Janeiro, em 1825. Os outros instrumentos descritos – a segunda leva de instrumentos astronômicos enviados ao Brasil pelo governo português – parece ter se perdido no Brasil. Escola Naval Em 2 de janeiro, a Real Academia dos Guardas-Marinhas recebeu ordem de regressar a Lisboa, “com sua biblioteca e arquivo, não se obrigando contudo no mesmo [o] regresso [de] indivíduo algum dos que compõem a referida companhia.” No entanto, o Príncipe Regente sustou essa ordem e a Academia continuou a funcionar nas dependências do Mosteiro de São Bento, onde “provisoriamente” havia se instalado, em 1808, por ocasião da sua transferência de Lisboa para o Rio de Janeiro. Após a independência, a Real Academia dos Guardas-Marinhas, passou a ser denominada Academia Nacional e Imperial dos GuardasMarinhas que foi mais tarde, em 1832 e 1833, incorporada à Academia Militar; e Academia de Marinha a partir de 1834 e mais tarde Escola Naval. Efemérides astronômicas publicadas no Brasil Em 1809, a Imprensa Régia[1] iniciou uma série anual de efemérides astronômicas calculadas para o meridiano do Rio de Janeiro elaboradas no Observatório da Real Academia dos Guardas-marinha e calculadas pelo Joaquim Ignácio Moreira Dias, na época, capitão de Fragata 330 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João da Armada Real e, mais tarde, em 1812, coronel da infantaria e adido do Estado-Maior do Exército. • [1] Vendem-se: Diário Náutico, e Cálculo Longitudinário na Loja da Gazeta; e de Manoel Jorge da Silva, na rua do Rozário a 80 reis cada folha. [GRJ, 1809, nº. 117, p. 4, quarta-feira, 25 de outubro de 1809]. • Vendem-se: Diário Náutico, e Cálculo Longitudinario na Loja da Gazeta, e na de Manoel Jorge da Silva na rua do Rozário; a 80 reis cada folha. [GRJ, 1809, nº. 124, p. 4, sábado, 18 de novembro de 1809]. • Também sahirão a luz: Ephemérides Náuticas ou Diário Astronômico para o anno de 1811; calculado para o Meridiano do Rio de Janeiro de Ordem de S.A.R. o Príncipe Regente nosso Senhor, por Joaquim Ignácio Moreira Dias, Capitão de Fragata da Armada Real. Vendemse na Biblioteca da Real Academia dos Guardas-Marinhas, a 640 réis cada Exemplar. [GRJ, 1810, nº. 103, p. 4, quarta-feira, 26 de dezembro de 1810]. • As Efemérides Náuticas, ou Diário Astronômico para o ano 1813, calculado para o Meridiano do Rio de Janeiro, por Ordem de S.A.R. por Joaquim Ignácio Moreira Dias, Coronel de Infantaria, adido ao Estado-Maior do Exército com Exercício às Ordens do Paço, vendese na Impressão Régia, na loja da Gazeta, e na de José Antônio da Silva na rua Direita a 1600 réis. [GRJ, 1812, nº. 103, p. 4, sábado, 5 de dezembro de 1812]. Se por um lado o Observatório da Real Academia Militar que desde a sua instalação no Rio de Janeiro, em 1809, passou a editar anualmente as suas efemérides com o título Ephemérides Náuticas ou Diário Astronômico; por outro lado, o Observatório Astronômico, criado em 1827 por D. Pedro I, só editou as suas efemérides a partir de 1853, pelo Imperial Observatório, com o título Efemérides do Imperial Observatório Astronômico, que foi interrompida em 1870 para ser reiniciada, em 1885, com o nome alterado para Anuário do Imperial Observatório, que depois da R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 331 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão proclamação da República passou a Anuário do Observatório e, mais tarde, a Anuário do Observatório Nacional. Por ocasião do sesquicentenário da criação oficial do Observatório, a série passou à denominação Efemérides Astronômicas, retornando a partir da edição de 2000 a Anuário do Observatório Nacional. Criação de a Real Academia Militar A Carta Régia de 4 de dezembro de 1810 criou a Real Academia Militar, instituição de ensino, de início exclusivamente militar, fundada por iniciativa de Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares (17451812). Segundo o texto do decreto de criação seu objetivo era ministrar um curso completo de Ciências Matemáticas, de Ciências de Observação, [entre as] quais a Física, Química, Mineralogia, Metalurgia e História Natural, que compreendera o Reino Vegetal e Animal e das Ciências Militares em toda a sua extensão, tanto de Táctica como de Fortificação e Artilharia. Na verdade, a Academia Real Militar destinava-se ao ensino das ciências exatas e da engenharia em geral, no sentido mais amplo da sua época, formando não só oficiais para as armas como também engenheiros geógrafos e topógrafos com a finalidade de conduzir estudos e elaborar trabalhos em minas, caminhos, portos, canais, pontes e calçadas, conforme estipulava a lei de sua criação. A Real Academia Militar mudou de nome quatro vezes: Imperial Academia Militar, em 1822; Academia Militar da Corte, em 1832; Escola Militar, em 1840; e Escola Central, a partir de 1859, com tendência civil, e em 1874 em Escola Politécnica. Inicialmente seu curso tinha duração prevista para sete anos. Na Academia Real Militar estudaram personalidades ilustres de nossa história: o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva - o Duque de Caxias, patrono do nosso Exército; os ex-presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, respectivamente o proclamador e o consolidador da República; o Visconde do Rio Branco também estudou 332 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João na Escola Central, onde foi aluno, mestre e diretor. Em 1850, segundo Henrique Morize, o ofício da marinha transferiu para o Imperial Observatório do Rio de Janeiro o quarto de círculo Sisson, trazido pela missão de astrônomos portugueses e enviado pela D. Maria com objetivo de determinar as fronteiras do Brasil com a Espanha. Esse é o único instrumento da série de instrumentos trazidos pela missão de demarcação que foi localizado. Encontra-se no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Primeira notícia astronômica na imprensa brasileira O primeiro registro jornalístico de um fenômeno astronômico visível no Rio de Janeiro foi o eclipse total da Lua de 9 de junho de 1816, assim descrito na edição de quarta-feira de 19 de junho de 1816 da Gazeta do Rio de Janeiro: Na noite de 9 observou-se nesta cidade um eclipse total da Lua, muito notável; começou a imersão na sombra às 8 horas e meia [20h 30 min]; às 10 [22h 00 min] estava perfeitamente eclipsada, e persistiu perto 48 minutos neste estado; começou a emersão às 10 horas e 48 minutos [22h 48 min]; e completou-se às 12 horas e 13minutos [00h 13 min]. [GRJ, 1816, 49, p. 3] Esta curta nota foi, sem dúvida, redigida pelo astrônomo, matemático, político e militar Manuel Ferreira Araújo Guimarães, professor de astronomia da Real Academia dos Guardas-Marinhas e Academia Real Militar respectivamente a partir de 1809 e 1812. Com relação à data exata em que Araújo Guimarães substituiu o padre Tibúrcio José da Rocha na redação da Gazeta do Rio de Janeiro nada se sabe; acredita-se que foi no início de 1813 e o seu afastamento deve ter ocorrido em meados de 1820. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 333 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão Bibliografia Albuquerque, Antônio Luiz Porto e. Da companhia de Guardas-Marinhas e sua Real Academia à Escola Naval 1782-1982. Biblioteca Reprográfica Xérox, Rio de Janeiro, 1982. Ayres, Christovam. Para a história da Academia das Sciências de Lisboa. Imprensa da Universidade, Coimbra, 1927. História Naval Brasileira. Terceiro Volume, Tomo I, Serviço de Documentação da Marinha, Rio de Janeiro, 2002. Ipanema, Cybelle de; e Ipanema, Marcelo de. Silva Porto: livreiro na Corte de D. João, editor na Independência. Capivara, Rio de Janeiro, 2007. Light, Kenneth. A viagem marítima da família real: a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2008. Kury, Lorelai. Iluminismo e o Império no Brasil – O Patriota (1813-1814). Coleção História e Saúde, Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, 2007. Martins, Vice-Almirante Helio Leôncio. Abrindo estradas no mar – Hidrografia da costa brasileira no século XIX. Serviço de Documentação da Marinha, Rio de Janeiro, 2006. Meirelles, Juliana Gesuelli. Imprensa e poder na corte joanina: a Gazeta do Rio de Janeiro. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 2008. Mendonça, Marcos Carneiro de. D. João VI e o Império no Brasil: a Independência e a Missão Rio Maior. Biblioteca Reprográfica Xérox, Rio de Janeiro, 1984. Morize, Henrique. Observatório Astronômico: um século de história (18271927). Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rio de Janeiro, 1987. Mourão, Ronaldo Rogério de Freitas. O cenário da ciência após a chegada da corte. RIHGB, Rio de Janeiro, 168 (436): 263-303, jul./set. 2007. ---. Astronomia no início do século: Primeiro observatório astronômico a fornecer a hora no Brasil, Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no prelo. Oliveira, José Carlos. D. João VI: adorador do Deus das Ciências, Engenho & Arte. Rio de Janeiro, 2005. Pedreira, Jorge, e Costa, Fernando Dores. D. João VI – um príncipe entre 334 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 Astronomia na regência de dom João dois continentes. Companhia das Letras, São Paulo, 2008. Pereira, Paulo Roberto (Organizador). Brasiliana da Biblioteca Nacional. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2001. Pirassinunga, Adailton. O ensino militar no Brasil. Biblioteca do Exército Editora, Rio de Janeiro, 1958. Schwarcz, Lilia Mortiz. A longa viagem da biblioteca dos reis – Do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. Companhia das Letras, São Paulo, 2002. Schwartzman, Simon. Um espaço para a ciência – a formação da comunidade científica no Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia, Brasília, 2001. Senna, Ernesto. O velho comércio do Rio de Janeiro. G. Ermakoff Casa Editorial, Rio de Janeiro, 2006. Serrão, Joaquim Veríssimo. O Rio de Janeiro no século XVI. Andréa Jakobsson Estúdio, Rio de Janeiro, 2008. Silva, Maria Beatriz Nizza da. A primeira Gazeta da Bahia: Idade d’Ouro do Brasil. Cultrix/MEC, São Paulo, 1978. Sobel, Dava. Longitude. Walker Publishing Company, Nova York, 1995. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):319-335, jan./mar. 2009 335 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias Cybelle de Ipanema 1 1 – De como tudo começou: observações Porto de Lisboa, 29 de novembro de 1807. A família real portuguesa embarca para o Brasil. No volumoso carregamento depositado no cais, contava-se, não para a destinação específica, material tipográfico, constante de dois prelos e 28 fontes de tipos, importado da Inglaterra e ainda encaixotado, para uso da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. O titular da pasta, Antônio de Araújo e Azevedo, futuro conde da Barca, fê-lo embarcar na nau Medusa e providenciou, no Rio de Janeiro, consequente acomodação em sua residência.2 É o que vai embasar o decreto de 13 de maio de 1808, aniversário de d. João, príncipe-regente, criador da Impressão Régia, de tão vastas implicações no alargamento dos horizontes educacionais e culturais da nova sede da monarquia portuguesa, o Rio de Janeiro, e do Brasil. Impõe-se, de imediato, lembrar o ato do regente, da reformulação do corpo ministerial, ao chegar ao Brasil. Em 11 de março, a Secretaria dos Estrangeiros e da Guerra sai das mãos de Antônio de Azevedo, francófilo, para as de d. Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro conde de Linhares, de maior ligação com os ingleses. 3 1 – Sócia emérita e 1a secretária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 2 – IPANEMA, Rogéria Moreira de. Arte da imagem impressa: a construção da ordem autoral e a gravura no Brasil no século XIX (Tese de doutorado). Niterói: ICSF/UFF, 2007, p. 67. 3 – IPANEMA, Rogéria Moreira de. Op. cit., p. 66. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 337 Cybelle de Ipanema Daí, a primeira de três observações que nos parecem pertinentes na implantação da primeira tipografia autorizada no país, conforme o diploma legal: DECRETO Tendo-me constado que os prelos que se acham nesta capital eram os destinados à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; e atendendo à necessidade que há de Oficina de Impressão nestes meus estados: sou servido que a casa, onde eles se estabeleceram, sirva interinamente de Impressão Régia, onde se imprimam exclusivamente toda a legislação e papéis diplomáticos, que emanarem de qualquer repartição do meu real serviço, e se possam imprimir todas e quaisquer outras obras; ficando interinamente pertencendo o seu governo e administração à mesma Secretaria, dom Rodrigo de Sousa Coutinho, do meu Conselho de Estado o tenha assim entendido e procurará dar ao emprego da Oficina a maior extensão e lhe dará todas as instruções e ordens necessárias e participará a este respeito a todas as estações o que mais convier ao meu real serviço. Palácio do Rio de Janeiro em treze de maio de mil oitocentos e oito. Com a rubrica do príncipe-regente N. S. 4 Couberam a d. Rodrigo, de direito, as glórias da associação de seu nome – era o ministro, óbvio – à lavratura do relevante ato da ação administrativa de d. João, em seu novo Império. Embora o curto espaço decorrido de dois meses da assunção da pasta, colhia os frutos da iniciativa de seu antecessor, e permanecendo a oficina em próprio da residência deste. Segunda observação: O decreto tem duas premissas, nessa ordem: o constar ao governante que o material se destinava à Secretaria dos Estran4 – CABRAL, Alfredo do Vale. Anais da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro – 18081822. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1881, p. XIII. Curiosamente, esse decreto não vem aí relacionado, nas produções da Impressão Régia para o respectivo ano. Reproduzido em fac-símile, da coleção de José Mindlin, em SEMERARO, Claudia Martins et al. História da tipografia no Brasil. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1979, p. 26. 338 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias geiros e da Guerra, e atender-se à “necessidade que há da oficina de impressão nestes meus estados”. Não parece uma inversão de prioridades? A absoluta urgência de se criar um estabelecimento para a impressão da legislação de toda ordem não superaria a circunstância – fortuita – de que os prelos deveriam servir à Secretaria, em Portugal, e aqui cumpririam seu desiderato? Lavrado o ato, foi, segundo a rotina administrativa, em letra caprichada, registrado no Livro de registro das leis e alvarás da chancelariaMor do Estado do Brasil. 5 Nova observação pode chegar à cogitação. Observou-se pela transcrição do decreto que, por duas vezes, se emprega um advérbio de modo: que a casa onde se estabelecera o material tipográfico servisse interinamente de Impressão Régia e que, interinamente, ficasse o seu governo e administração à guarda da dita Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Ora, o copista, em ambas as situações, no Livro de registro, trocou as palavras por inteiramente, o que, naturalmente, desvirtuou seu sentido. Procuramos restabelecer o texto original, percorrendo coleções de leis (5), autores modernos (3) e uma outra fonte – na imposição necessária da metodologia histórica. 6 Somente Hipólito da Costa, no Correio Braziliense, 7 grafa interiamente (um interinamente, com abstração do n ou inteiramente, com inversão do r e do i) e interinamente, no segundo caso. Em Carlos Rizzini, sobre o Correio, 8 porém, ver-se-á que este autor não registrou rigorosamente isto. Na realidade, em conclusão, a intenção de d. João foi, sim, determi5 – Arquivo Nacional. Livro de registro das leis e alvarás da chancelaria-Mor do Estado do Brasil. Cod. 48, vol 1, p. 19. 6 – IPANEMA, Marcello de; IPANEMA, Cybelle de. Inteiramente ou interinamente? In: Mensário do Arquivo Nacional, a. VIII, n. 9, setembro de 1977, p. 3-10. 7 – Correio Braziliense, no 6, novembro de 1808, p. 157. 8 – RIZZINI, Carlos. O livro, o jornal e a tipografia no Brasil. Rio de Janeiro/São Paulo/ Porto Alegre: Livraria Kosmos Editora, 1945, p. 315. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 339 Cybelle de Ipanema nar que interinamente a Impressão Régia funcionasse onde se encontrava, ficando, também de maneira transitória, sob a Secretaria dos Estrangeiros e da Guerra. É como realmente o transcrevem oito das nove fontes consultadas. Passos anteriores podem – devem – ser seguidos. 2 – A imprensa interdita A imprensa – entenda-se tipografia, atividade de imprimir, uso de prelos, ato de grafar ideias – esteve proibida no Brasil nos trezentos anos de vida colonial. Não é novidade que, ao ser o país incorporado pela coroa portuguesa, com o descobrimento, a arte tipográfica já se irradiara da Alemanha, desde meados do século XV, atingindo Portugal, sem contudo ser absorvida na colônia americana. Entre 1500 e o início do século XIX, as ações de impressão no Brasil contam-se pelos dedos e ficam como marcos de uma caminhada truncada. Ao conde Maurício de Nassau não teria faltado visão para instalar uma tipografia no Recife, ao tempo da ocupação holandesa. O argumento foi – em pedido à Assembléia dos XIX Diretores da Companhia das Índias Ocidentais –, para liberar o estafante ofício dos copistas em face do volume do expediente administrativo. Solicitação de 1642, última promessa de Amsterdam, de 1645, sem solução satisfatória, contudo. Baseado em Alfredo de Carvalho, 9 a despeito de a publicação A Bolsa do Brasil, 10 de 1647, rezar: “Impresso no Brasil, no Recife, no Machadão”, estudada e refutada por José Higino Duarte Pereira. 11 Sem possibilidade de confirmação a tipografia de Recife, em 1706, 9 – CARVALHO, Alfredo de. Anais da imprensa periódica pernambucana. Recife: Tipografia do Jornal do Recife, 1908, p. 17-27. 10– A Bolsa do Brasil na qual claramente se mostra onde ficou o dinheiro dos acionistas da Companhia das Índias Ocidentais. Fac-simile In: SEMERARO, Claudia Martins et al. Op. cit. p. 23. 11– PEREIRA, José Higino Duarte. A Bolsa do Brasil. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: Tipografia Industrial, tomo quarto, janeiro e março de 1883, no 28, p. 121-201. 340 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias conhecida pela ordem de sua proibição (8 de julho de 1706). 12 Era uma tipografia de pequenos recursos que imprimia “letras de câmbio e breves orações devotas”, constando não ter chegado até nós um de seus modestos produtos. O padre Serafim Leite, historiador da Companhia de Jesus no Brasil, no entanto, diz ter oferecido, ao então diretor do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um dos registros de santo, impresso em 1706, de sua propriedade. 13 Uma tipografia no colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro ficou registrada pelo mesmo padre Serafim Leite, ao descrever sua biblioteca onde se enfileiravam nas estantes “livros recentes, alguns impressos na própria casa por volta de 1724, para uso privado do colégio e dos padres...”. 14 Ainda o século XVIII verá, de fato, uma imprensa funcionando no Rio de Janeiro, ao tempo do governador Gomes Freire de Andrada, futuro conde de Bobadela. Antônio Isidoro da Fonseca imprimiu pequenas obras, de que a primeira, Relação da entrada que fez o Excelentíssimo e Reverendíssimo senhor d. fr. Antônio do Desterro Malheiro, bispo do Rio de Janeiro, em o primeiro dia desse presente ano de 1747..., 15 configurase como uma reportagem. É o primeiro livro impresso no Brasil, do qual restam poucos exemplares. Composta pelo Juiz de Fora, Luís Antônio Rosado da Cunha. Foi proibida, em 6 de julho de 1747, mandando sequestrarem-se os tipos e o retorno do tipógrafo, em decisivo expediente ao governador, para que se não realizasse a atividade no Brasil, 12– COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Estabelecimento e desenvolvimento da imprensa em Pernambuco. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: Tipografia de F. P. Boulitreau, 1891, no 39, p. 26. 13– LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760). Lisboa/Rio de Janeiro: Edições Brotéria/Livros de Portugal, 1953, p. 102. 14– LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: INL, 1945. vol. 6, p. 26. 15– Reproduzido fac-similarmente in RIZZINI, Carlos. Op. cit, p. 311. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 341 Cybelle de Ipanema No qual não é conveniente se imprimam papéis no tempo presente, nem ser de utilidade aos impressores trabalharem no seu ofício onde as despesas são maiores que no reino, do qual podem ir impressos os livros e papéis, no mesmo tempo em que dele devem ir as licenças da Inquisição e do meu Conselho Ultramarino, sem as quais se não podem imprimir nem correrem as obras. 16 Em vão tentou o tipógrafo retornar ao Brasil. “Escusado” foi o despacho à sua petição. 17 Idêntica ordem à de Gomes Freire, enviava-se ao governador de Pernambuco, d. Marcos de Noronha. Tem a mesma data, 6 de julho de 1747.18 Informes seguros ou mera precaução? Procurava-se garantir a incolumidade dos governantes, da religião, da moral e dos bons costumes. O último ato do drama do Brasil sem tipos é a impressão calcográfica do padre José Joaquim Viegas de Meneses, em 1807, o Canto, poema laudatório ao governador Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo, da capitania de Minas Gerais, aparecido em Vila Rica.19 3 – A imprensa tolhida Foi prática de todos os países controlar a veiculação de ideias pela imprensa. Se a tipografia nasceu cercada de privilégios a seus artífices, não é menos verdade que, a seguir, a autoridade se tenha posto em campo 16– Proibição do uso da imprensa no Brasil nos tempos coloniais. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB,1884, t. XLVII, parte primeira, p. 167-168. 17– Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1936, vol. L, p. 121. 18– COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Op. cit, p. 27. 19– IPANEMA, Rogéria Moreira de. A Idade da pedra illustrada: litografia, um monólito na gráfica e no humor do jornalismo do século XIX no Rio de Janeiro (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 1995, 2 vol. 1o vol., p. 154-160. 342 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias para vigiar o que circulava. Em 1487, é introduzida a imprensa em Portugal e, de fevereiro de 1537, a suposta primeira ordem para exame de uma obra, por Pedro Margalho, no caso, primeiro censor do Desembargo do Paço. 20 Nesse ano, em julho, por bula papal, cria-se a Inquisição em Portugal, sendo os livros, editados e vendidos, isto é, a atividade de leitura, examinados pelo Ordinário, Santo Ofício e Desembargo do Paço. Elaboram-se róis de livros proibidos, os Index Librorum Prohibitorum. No século XVIII continua o controle do pensamento, vigiando-se, sobretudo, os terrenos filosófico e científico. Sob d. José I (reinado de 1750 a 1777) e seu ministro, o conde de Oeiras, depois marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, um organismo específico é criado: em 5 de abril de 1768, a Real Mesa Censória,21 com a centralização da censura. Na mira da autoridade, entrada e saída de livros, impressão dos novos como dos antigos, instalação de tipografias, venda e leitura de livros proibidos. Até a bagagem dos representantes diplomáticos era examinada. Como acontecia com a Espanha, para sair com livros, de Portugal para as colônias, carecia possuir despacho da Mesa. 20– Boa parte desse item apoia-se em IPANEMA, Marcello de. Legislação de imprensa. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1949, 2. vol. 1o vol. Leis de Portugal e de d. João, que se baseou em documentação primária portuguesa, como Constituições sinodais do bispado de Coimbra (1591); na Coleção da Legislação Portuguesa, do desembargador Antônio Delgado da Silva (Lisboa, entre 1750 e 1810) e nos clássicos autores portugueses que se debruçaram sobre a história da imprensa em Portugal, como na análise da censura, tais, por exemplo, SANTOS, Antônio Ribeiro dos. Memória sobre as origens da tipografia em Portugal no século XV. T. VIII, 2 ed. In: Memórias da literatura portuguesa. Lisboa: Academia Real das Ciências de Lisboa; PINTO, Américo Cortez. Da famosa arte da imprimissão. Lisboa: Editora Ulisséia Ltda., 1948; DESLANDES, Venâncio. Documentos para a história da tipografia portuguesa nos séculos XVI e XVII. Lisboa, 1888: BAIÃO, Antônio. A Inquisição em Portugal e no Brasil; BASTOS, José Timóteo da Silva. História da censura intelectual em Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926. 21– Inteiro teor do organismo e seu Regimento, em IPANEMA, Marcello de. Op. cit, p. 57-90. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 343 Cybelle de Ipanema Atendendo a reclamos, já no governo de d. Maria I (1777-1816), um novo órgão: a Real Mesa da Comissão sobre o Exame e Censura dos Livros (21 de junho de 1787).22 Há uma maior preocupação com a saída e circulação de livros contra a fé. Era difícil, porém, conter as luzes do século. Nova regulamentação, por d. Maria I, pela Carta de Lei de 17 de dezembro de 1794,23 ampliada, com regras para a censura, no ano seguinte.24 A Intendência-Geral de Polícia trazia a sua colaboração, com o titular, Diogo Inácio de Pina Manique. No final do século XVIII, contudo, chama a atenção o envio de livros pela metrópole, que se poderia entender como preocupação com o aperfeiçoamento da população da colônia – livros mandados imprimir pela rainha d. Maria I. Caso da capitania de Goiás, por exemplo, em 1799, pinçado na correspondência oficial de d. Rodrigo de Sousa Coutinho, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, com o respectivo governador, João Manuel de Meneses.25 Eram obras “destinadas a espalhar entre os povos dessa capitania conhecimentos úteis sobre objetos de agricultura”, para distribuição, a critério do governador, pelas pessoas que estivessem mais aptas “para se aproveitarem das instruções que neles se contêm”. Parte das remessas deveria ser vendida. São duas levas, a primeira em total de 519 exemplares. Outra capitania, em circunstâncias, contudo, um pouco dissemelhantes, é o Maranhão, no mesmo ano de 1799, objeto de troca de correspondência dos governadores d. Fernando Antônio de Noronha e d. Diogo de Sousa com o mesmo ministro d. Rodrigo. 22– Idem, ibidem, p. 91-101. 23– Idem, ibidem, p. 103-109. 24– Idem, ibidem, p. 111-131. 25– Seção de Manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional. 344 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias Com a transferência da corte, continuou a missão, em Portugal, às três autoridades. D. João, a 13 de maio de 1808, libera a torrente represada por três séculos, autorizando no Brasil o funcionamento da tipografia. A Impressão Régia – Régia Oficina Tipográfica, Tipografia Real, Real Impressão, Real Tipografia, Régia Tipografia, Imprensa Nacional, Impressão Nacional e Tipografia Nacional – teve suas publicações levantadas, entre 1808 e 1822, por Alfredo do Vale Cabral, no século XIX,26 como contribuição da Tipografia Nacional à “Exposição de História do Brasil”, evento de proporções monumentais, em país falho de comunicações e de transportes. Com os recursos de que pode dispor – e foram muitos, superiores até, em certos aspectos, aos dos dias atuais –, trabalhou a documentação da Imprensa Nacional, desde suas origens, cujo incêndio, no entanto, em 1911, eliminou para sempre fontes insubstituíveis dessa história. São os seus Anais, por mais de um século, a Bíblia de estudiosos dos primórdios da imprensa no Brasil.27 Atentar também para a destruição de documentos, em 1969, do Ministério da Fazenda, ao qual, nessa ocasião, estava vinculada à Imprensa Nacional. Em finais do século XX, contornando aquelas falhas, mas com cabedal muito mais vasto de recursos humanos e tecnológicos, Rubens Borba de Moraes, em parceria, preparou novo levantamento, a Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro que relaciona 1.428 títulos gerais e 720 atos oficiais, em total de 2.148 peças editadas ou 140/ano, quase 26– CABRAL, Alfredo do Vale. op. cit. 27– No ínterim, outros estudos específicos podem ser citados: BELO, Oliveira. Imprensa Nacional (Oficina Oficial) 1808-1908. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908, e MIRANDA, Francisco Gonçalves. Memória histórica da Imprensa Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1922, por exemplo. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 345 Cybelle de Ipanema 12/mês.28 Avultada em verbetes, comparativamente ao trabalho de Vale Cabral, assina Rubens Borba de Moraes o capítulo “A Impressão Régia do Rio de Janeiro: origens e produção”.29 No Brasil, à falta do Santo Ofício, a censura ficou afeta, primeiramente, aos diretores da Impressão Régia (José Bernardes de Castro, Mariano José Pereira da Fonseca e José da Silva Lisboa, os dois últimos, respectivamente futuros marquês de Maricá e visconde de Cairu). A progressiva estrutura da oficina do governo e sua atuação bem se acompanham nos Anais. A 10 de setembro, quatro meses depois de instalada a Impressão Régia, circula o primeiro jornal impresso no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822), nos moldes da Gazeta de Lisboa. Pertencente, por privilégio, aos Oficiais da Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra, como esclarece em seu primeiro número, não era, contudo, oficial, respondendo o governo pelos papéis que nela mandasse imprimir. Em igual período, 1808 a 1822, iniciando-se três meses antes da Gazeta, veio à luz, por compatriota em Londres, o Correio Braziliense ou Armazém Literário, de Hipólito da Costa (Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça), o patriarca da imprensa brasileira, com uma publicação mensal, de características totalmente diversas do jornal carioca/ fluminense. São nomeados censores régios, por lembrança do Desembargo do Paço, para o que imprimisse a tipografia oficial, fr. Antônio de Arrábida, padre João Manzoni, Luís José de Carvalho e Melo e José da Silva Lisboa, seguindo-se outras disposições. Havia uma burocracia a cumprir, a partir de suas apreciações. Exem28– CAMARGO, Ana Maria de Almeida; MORAES, Rubens Borba de. Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro. São Paulo: EDUSP/ Livraria Kosmos Editora, 1993, 2 vol. 29– Idem, ibidem, p. XVII-XXXI. 346 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias plificamos com obras do mercador de livros, literato e editor, Manuel Joaquim da Silva Porto, transcrevendo, em estudo de sua atuação no Rio de Janeiro, extratos de pareceres do Desembargo.30 No contexto da censura, uma instrução proibitiva é, para exemplificar, a ordem de d. João ao Juiz da Alfândega da Cidade, invocando a citada lei de dezembro de 1794 “e as mais leis e ordens que ela manda guardar”, para que não fossem admitidos a despacho “livros nem papéis alguns impressos (...) sem que se vos apresente licença da Mesa do Desembargo do Paço do Brasil”. Datada de 14 de outubro de 1808.31 Também no Brasil ajudava a Intendência-Geral de Polícia a ação dos olhos vigilantes. Prova-o esse Edital, colocado nos lugares públicos. Por importar “muito à vigilância da polícia” chegarem ao seu conhecimento “todos os avisos e notícias impressas que se afixam ao público acerca de livros e obras estrangeiras” que as pessoas “deverão primeiramente trazer estes avisos ou anúncios” à dita repartição “para serem vistos e examinados e se lhes permitir esta liberdade”. Admitiam-se “denúncias em segredo”. Da lavra do intendente Paulo Fernandes Viana, tem a data de 30 de maio de 1809.32 Outros exemplos de censura podem ser acostados, como a proibição a periódicos do exterior: o Correio Braziliense (2 de março de 1812,33 13 de junho de 1811 e 25 de junho de 1817), O Portuguez (25 de junho, 6 e 9 de julho de 1818) e o Campião ou o amigo do rei e do povo (14 de outubro e 15 de novembro de 1819).34 30– IPANEMA, Cybelle de; IPANEMA, Marcello de (in memoriam). Silva Porto: livreiro na corte de d. João, editor na Independência. Rio de Janeiro: Capivara Editora, 2007. 31– Correio Braziliense, vol. 3o, p. 339-340. 32– Correio Braziliense, vol 3o, p. 340-341, e CAMARGO, Ana Maria de Almeida; MORAES, Rubens Borba de. Op. cit., 2o vol, p. 26. 33– IPANEMA, Marcello de. Op. cit., p. 164. 34– Idem, ibidem. P. 168-174. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 347 Cybelle de Ipanema 4 – A ilustração, na Corte e fora dela Tipografia e livraria era o binômio para a ilustração. Se, até 1821, ano da liberação da imprensa, a Tipografia Real não tinha concorrentes no Rio de Janeiro, por outro lado é certo que as livrarias, de produtos vigiados, anunciando as safras da terra e importados – lembrar a abertura dos portos, logo à chegada da Corte –, vinham de antes e floresceram ao tempo de d. João, pelo aumento da população, pela preocupação de melhor refinamento, pela abertura de aulas de escrever e contar e de línguas. Dos primeiros livreiros da época, Manuel Jorge da Silva que se anuncia no primeiro impresso saído da Impressão Régia, no próprio dia do decreto criador, a Relação dos despachos... 35 No mesmo ano de 1808, anunciaram-se, na Gazeta do Rio de Janeiro, além de Manuel Jorge, com loja à rua do Rosário, Paulo Martin, filho, à rua da Quitanda, e Francisco Luís Saturnino da Veiga, à rua do Ouvidor. O negócio prosperava. Ademais de estabelecimentos que se indicavam como livreiros, comerciavam a mercadoria casas de outros artigos e leiloeiros. Com base nos anúncios da Gazeta, detectamos, até a saída de d. João, em 26 de abril de 1821, o total de 16 comprovadamente livreiros.36 Nesse rol, inclua-se o referido Manuel Joaquim da Silva Porto, ativo homem ligado a livros e às letras, presente nas cortes de d. João VI e do imperador d. Pedro I. O Brasil não era, porém, apenas a Corte. Os benefícios dos prelos se espalhavam, se bem que modestamente. Sob d. João, a Bahia e Per35– Relação dos despachos publicados na Corte pelo expediente da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no faustíssimo dia dos anos de S. A. R. o prínciperegente N. S. CABRAL, Alfredo do Vale. Op. cit., p. XIV. Fac-símile In: SEMERARO, Claudia Martins et al. Op. cit., p. 27. 36– IPANEMA, Marcello de; IPANEMA, Cybelle de. Subsídios para a história das livrarias. In: Revista do Livro. Rio de Janeiro: INL, a. XI, no 32, 1o trim. 1968, p. 23-31. 348 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias nambuco gozaram do beneplácito de possuir tipografia autorizada, sob a Bahia, apenas, com consequências alargadoras da cultura. Manuel Antônio da Silva Serva, que já se encontrava em Salvador desde cerca de 1788 ou seguinte, pede ao regente, através do governador da capitania, conde dos Arcos, licença para fazer funcionar uma tipografia – estudado em nosso A tipografia na Bahia: documentos sobre suas origens e o empresário Silva Serva.37 Pedido de 18 de dezembro de 1810, Carta Régia autorizativa, de 5 de fevereiro de 1811. É a Tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva, primeira da Bahia, segunda do Brasil, de enorme papel, ao lado da Impressão Régia, na circulação das ideias nos anos da presença do regente e rei d. João VI. O empreendedor homem de negócios, de atividades sobretudo culturais, vai impulsionar prelos, editar o primeiro jornal da capitania e emparelhar-se, em parte, com o Rio de Janeiro, onde abriu loja de venda de suas produções e de terceiros. A seu crédito, a Idade d´Ouro do Brazil (1811-1823), segundo jornal brasileiro, primeiro baiano, em tudo semelhante à Gazeta do Rio de Janeiro, sendo até identificada como Gazeta da Bahia. Silva Serva apoiava-se em Silva Porto, na Corte. Conterrâneos e amigos, no falecimento do empresário baiano, em 1819, no Rio de Janeiro, foi o colega, mercador de livros, feito seu testamenteiro, assumindo diversas responsabilidades, documentadas no Desembargo do Paço.38 A atividade editorial de Silva Serva mereceu um Vale Cabral, na pessoa de Renato Berbert de Castro. Levantamento exaustivo, reproduzindo, 37– IPANEMA, Marcello de; IPANEMA, Cybelle de. A tipografia na Bahia: documentos sobre suas origens e o empresário Silva Serva. Rio de Janeiro: Instituto de Comunicação Ipanema, 1977. 38– Arquivo Nacional. Cf. IPANEMA, Cybelle de. IPANEMA, Marcello de (in memoriam). Silva Porto: livreiro na Corte de d. João, editor na Independência. Op. cit., p. 105109. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 349 Cybelle de Ipanema quando possível, fac-similarmente, as 127 peças de sua pesquisa.39 Recentemente, em homenagem a Renato Berbert de Castro, trabalhamos seu Catálogo, desdobrando cada peça em: título, autor, natureza, número de páginas e preço, classificando as obras por assunto e dando um tratamento estatístico.40 À Bahia seguiram instruções de como proceder o redator da Gazeta da Bahia – Idade d´Ouro e regras para a censura.41 A Pernambuco não coube o mesmo sucesso. Autorizada a tipografia, em 9 de novembro de 1816, a pedido de Ricardo Fernandes Catanho,42 foi proibida e desmantelada por se terem dela utilizado os revolucionários de 1817. Recomposta em 1821, publicará o primeiro jornal da Província, a Aurora Pernambucana, em março, ainda nos tempos de d. João. 5 – A imprensa liberada O motor, a Revolução do Porto, de 20 de agosto de 1820. Lavram-se atas, acordes aos princípios liberais por que se batiam, consoante a “Proclamação” de 17 de setembro. É criada uma Comissão de Censura para conceder as licenças necessárias “não só à impressão dos escritos nacionais mas também a mais pronta expedição dos estrangeiros”. são, O Governo Interino, estabelecido em Lisboa, manda que a Comistendo em vista os princípios adotados unanimemente por toda a 39– CASTRO, Renato Berbert de. A primeira tipografia da Bahia e suas publicações. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1969. Nosso A tipografia na Bahia..., citado, inclui mais cinco publicações do período. 40– IPANEMA, Cybelle de. Revisitando Manuel Antônio da Silva Serva. In: Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador: IGHB, no 99/2004, p. 115-129. 41– Portaria do conde dos Arcos, de 5 de maio de 1811 (Portaria no 28, fl. 113v, ext. do Liv. Ordens do Governo. Arquivo Público da Bahia. Cf. TORRES, João Nepomuceno; CARVALHO, Alfredo de. Anais da imprensa da Bahia. Salvador: Tipografia Bahiana, de Cincinato Melquíades, 1911, p. entre 26-27. 42– COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Op. cit., p. 28-37. 350 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias Nação Porttuguesa, de sermos fiéis à Religião Católica Romana, a El-rei Nosso Senhor e sua Augusta Dinastia e à Constituição que hão de fazer os Representantes da Nação em Cortes, leve em consideração que a impressão “não seja veículo de paixões particulares e de princípios subversivos da ordem e tranqüilidade pública...”.43 Reunidas as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, elaboraram as Bases para a Constituição (9 de março de 1821) que postulavam, na Seção “Dos direitos individuais do cidadão”: “8o - A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode conseguintemente, sem dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria...”. 44 Prescreviam também a responsabilidade correlata. A 31 de março de 1821, extinguiu-se a Inquisição em Portugal. Elevado o Brasil, desde 16 de dezembro de 1815, à condição de Reino Unido aos de Portugal e Algarves, decisão no Congresso de Viena, após a queda de Napoleão, e com a morte de d. Maria I, em 1816, ascende o regente a rei (27o da sequência), d. João VI, aclamado em 6 de fevereiro de 1818. Medida que tomou com relação à imprensa, “enquanto pela Constituição cometida às cortes de Portugal se não acharem reguladas as formalidades que devam preencher”, foi suspender, por ato de 2 de março de 1821, a censura prévia dos originais, mantendo-a, porém, sobre as provas tipográficas.45 Em tempos de d. João, circularam – todos em regime de censura – os dois primeiros jornais do país: a Gazeta do Rio de Janeiro e a Idade d´Ouro do Brazil; as duas primeiras revistas: As variedades ou ensaios de 43– IPANEMA, Marcello de. Op. cit., p. 44. 44– Idem, ibidem. P. 47. 45– ARAÚJO, José Paulo Figueiroa Nabuco de. Coleção das leis brasileiras. Rio de Janeiro: Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve, tomo III, 1837, p. 150-151. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 351 Cybelle de Ipanema literatura (1812), da Bahia, de Diogo Soares da Silva de Bivar, e O patriota (1813-1814), segunda do Brasil e primeira do Rio, importante publicação do engenheiro e coronel Manuel Ferreira de Araújo Guimarães, e os almanaques: Almanack da Corte do Rio de Janeiro (1811), Almanack para a cidade da Bahia (1812) e os Almanachs do Rio de Janeiro (1816 e 1817), além de uma produção de 1821. Neste ano, inicia-se o jornalismo político, com O conciliador do Reino Unido, de 1o de março, de José da Silva Lisboa, seguindo-se o Semanário cívico, da Bahia, redigido por José Joaquim da Silva Maia, do mesmo dia. Ainda de março de 1821, O bem da ordem, de fr. Francisco Vieira Goulart, e O amigo do rei e da nação, com o redator por nome Saraiva, ambos do Rio de Janeiro. Some-se a Aurora Pernambucana, que durou de março a setembro de 1821. Da Tipografia de Silva Serva, agora com a viúva e sócio, saiu a Minerva Bahiense, de 7 de abril. Libera plenamente a imprensa a Lei das Cortes, sancionada a 12 de julho de 1821, a partir das Bases, de 9 de março, já na ausência do rei no Brasil e sob a regência do príncipe d. Pedro. Este, em 8 de maio, dá ordem à Alfândega para liberar os livros aos interessados, menos os obscenos,46 e, em decorrência do determinado pelas Cortes, dá liberdade total à imprensa, em 28 de agosto de 1821, em Aviso à Junta da Régia Oficina Tipográfica: Tomando sua alteza real em consideração quanto é injusto que depois do que se acha regulado pelas cortes (...) sobre a liberdade da imprensa, encontrem os autores ou editores inesperados estorvos à publicação dos escritos (...) é o mesmo senhor servido mandar que se não embarace por pretexto algum a impressão que se quiser fazer de qualquer escrito... 47 46– Coleção das leis do Brasil. Coleção das Decisões do Governo do Brasil de 1821. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889, p. 15. 47– CABRAL, Alfredo do Vale. Op. cit., p. XXXIV-XXXV. 352 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias 6 – O intercâmbio A prioridade absoluta era a administração. Implantada a Impressão Régia, constatados seus progressos, com aumento de prelos, equipamentos, artífices inclusive artistas, como gravadores, tornada ela mesma uma escola de artes gráficas, pois aceitava aprendizes, a preocupação era o andamento da máquina burocrática, com a edição de leis, avisos, editais, decretos, alvarás, cartas régias, tratados internacionais. Material de outra natureza, sobretudo de particulares – ambos os casos previstos no decreto criador –, era admitido, porém em fila de espera que a tipografia tinha dificuldade em atender, resultando demoras e truncamento de originais, pela dificuldade de revisão. Exemplificado com a impressão das Memórias históricas do Rio de Janeiro, de mons. Pizarro, iniciada em 1820, cujos volumes publicados passo a passo vinham acompanhados de numerosas páginas de erratas, conforme registra Rubens Borba de Moraes. 48 Ainda assim, louve-se nossa primeira tipografia, pelo enorme espectro de livros publicados, em terrenos cada vez mais dilatados, como o apuro em certas obras, verdadeiramente de luxo. É, em linha direta, a Imprensa Nacional, transferida do Rio de Janeiro a Brasília. O universo do conhecimento vai-se fazendo alargado com a produção da Impressão Régia – até 1811, única no Brasil –, onde igualmente se reimprimiam peças de Lisboa e Porto. Em 1811 o cenário é tomado, também, por Silva Serva, Manuel Antônio da Silva Serva, da Bahia, com negócios de gráfica e livraria, com agência no Rio. Este empresário reimprimia obras da Impressão Régia que reclamava, sem sucesso, de seu privilégio. 49 De nossa suposição, é Silva Serva que estimula a vinda para o Brasil, do citado Manuel Joaquim da Silva Porto, natural da cidade “de seu apelido” que se vem instalar como mercador de livros na Corte de d. João, 48– MORAES, Rubens Borba de. Op. cit., p. XXI. 49– CABRAL, Alfredo do Vale. Op. cit., p. XXV. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 353 Cybelle de Ipanema em 1810, provavelmente, e depois, monta tipografia, atuante, entre 1822 e 1825. Ligado ao grupo liberal, terá papel ainda na Independência e na Corte de d. Pedro. Da Impressão Régia, desde 1808, começam a aparecer as obras que vão fundamentar a cultura da sociedade fluminense. Logo, as Observações sobre o comércio franco, de José da Silva Lisboa, baiano, membro da Junta Diretora da Impressão e censor régio. São obras originais e traduzidas, muitas pelo coronel Manuel Ferreira de Araujo Guimarães, o redator de maior tempo da Gazeta do Rio de Janeiro, responsável também pela revista O patriota. Muitos dos livros que conhecemos como da bibliografia clássica da história do Brasil apareceram aí, tais a Corografia brasílica, do pe. Aires do Casal (1817), ou os Anais da capitania de São Pedro (1819), de José Feliciano Fernandes Pinheiro. Trabalhos sobre o clima, higiene pública, matemática, geometria e trigonometria (obras de Legendre), ciências exatas, medicina, arte militar, física, química, obras de direito, economia, de naturalistas brasileiros, como Manuel Arruda da Câmara, de preocupação com culturas da terra – caneleira, cravo da Índia –, filosofia (conferências de Silvestre Pinheiro Ferreira), cartas geográficas, literatura infantil (com o primeiro livro em 1818, Leitura para os meninos, contendo uma coleção de histórias morais...), poesia (Tomás Antônio Gonzaga), novelas, romances populares, literatura, teatro, óperas, manuais para uso dos alunos... E o que era comercializado pelas livrarias e lojas de outros artigos. Destaque, nos primeiros anos da Impressão Régia, para o Ensaio sobre a crítica, de Alexandre Pope, traduzida pelo conde de Aguiar, com retrato do autor, gravado a buril, por Romão Elói de Almeida (1810).50 Ou para a Phedra, de Racine, “traduzida em português verso a verso, por Manuel Joaquim da Silva Porto” (1816) – que poeta e tradutor também o 50– Bibliografia da Impressão Régia. Op. cit., verbete 127. 354 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias era, com conceito lisonjeiro de Inocêncio. 51 Com d. João, como sabido, criadas a Academia Militar e as Escolas de Medicina, da Bahia e do Rio de Janeiro, a par das outras iniciativas que vão despertar a necessidade de produção bibliográfica: Real Horto Botânico, Fábrica de Pólvora, Real Escola de Ciências Artes e Ofícios, Real Arquivo Militar. A primeira leva da Biblioteca Real viera em 1810 e, em 1814, ela foi tornada pública. Não arredar por outro lado, que, entre 1808 e 1822, circulou a Gazeta do Rio de Janeiro – no último ano reduziu o título para Gazeta do Rio –, todo o período do regente e rei, e mais, e a partir de 1811, também a Gazeta da Bahia, a Idade d´Ouro do Brazil, que vai a 1823. O editor da Bahia, o que mais publicou foram obras de medicina e religião (o mesmo número), seguindo-se poesia. 52 A Gazeta do Rio de Janeiro foi o elo entre os habitantes da Corte que orçavam por 60.000 em 1808, com grande porcentagem de escravos: sua voz e ouvidos. Subiu muito, nos anos seguintes. Inestimáveis as seções de anúncios, onde as obras publicadas e os livros à venda eram canais de circulação das ideias, ligando leitores e pontos de venda. Igualmente, a de “notícias particulares”, de alta valia, como as inserções análogas, no Diário do Rio de Janeiro (1821-1878), bases usadas em nossas pesquisas dos livreiros da cidade. De aceitação entre a população foram os “livros de sortes”, desde o século XVI incluídos nos index. A superstição era tida como perniciosa à religião. À categoria deviam pertencer os livrinhos intitulados “do milagre” com que a tipografia de Silva Serva inundava o comércio desta cidade. Em 1820 foram sugeridas buscas na tipografia da Bahia, sua origem, e em livrarias do Rio de Janeiro. Recolheram-se, aqui, 1.455 exemplares, 51– SILVA, Inocêncio Francisco da. Dicionário bibliográfico português. Lisboa: Imprensa Nacional, 1862, t. VI, p. 23. 52– IPANEMA, Cybelle de. Revisitando Manuel Antonio da Silva Serva. Op. cit., p. 129. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 355 Cybelle de Ipanema cabendo à livraria de Silva Porto, à rua de São Pedro, 231 ou 20%. 53 Além da Impressão Régia, as tipografias começam a florescer em 1821: a Nova Tipografia, de José de Cristo Moreira, depois associado a Antônio Joaquim da Silva Garcez (Tipografia de Moreira e Garcez). Seguem-se, em 1822, a Tipografia dos Anais (Annaes fluminenses de sciencias, arte e literatura, de José Vitorino dos Santos e Sousa), a do (Diário do Rio de Janeiro), a de Torres e Costa (Inocêncio Francisco Torres e André Mendes da Costa), depois, só, Tipografia de Torres e a de Silva Porto e Cia. Todas, desde a Nova Tipografia, após a partida do rei. Extrapolando o período de d. João, em 1821 surgem várias folhas, com destaque para o Reverbero constitucional fluminense (1821-1822), motor da Independência, O espelho (1821-1823) e A malagueta (18211832), a par do citado Diario do Rio de Janeiro, primeiro diário do país que se estenderá a 1878. Houve, naturalmente, uma intensa troca de informações, conhecimentos, técnicas, para aperfeiçoamento pessoal e profissional, para lazer, para deleite do espírito. D. João, o “impulsionador”, não pode, certamente, ser esquecido pelos súditos de 1808 a 1821 e os cidadãos, aos 200 anos, dessa São Sebastião do Rio de Janeiro, bafejada com o status de capital da monarquia portuguesa e, logo, capital do Império do Brasil. Ilustrações Foram exibidas as imagens abaixo: Decreto de 13 de maio de 1808, de criação da Impressão Régia, sua versão, no Livro de registro das leis e alvarás de chancelaria-Mor do Reino do Brasil, com a alteração das palavras interinamente por inteiramente, e o 1º no da Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 de setembro de 1808. 53– IPANEMA, Cybelle de; IPANEMA, Marcello de (in memoriam). Silva Porto: livreiro na Corte de d. João, editor na Independência. Op. cit., p. 107. 356 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias Referências Bibliográficas Periódicos O amigo do rei e da nação (1821) O bem da ordem (1821) O conciliador do Reino Unido (1821) Correio Braziliense (1808-1822) Diario do Rio de Janeiro (1821-1878) O espelho (1821-1823) Gazeta do Rio de Janeiro (1808-1822) Idade d´Ouro do Brazil (1811-1823) A malagueta (1821-1832) O patriota (1813-1814) Reverbero constitucional fluminense (1821-1822) Obras gerais BELO, Oliveira. Imprensa Nacional (Oficina Oficial) 1808-1908. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908. CABRAL, Alfredo do Vale. Anais da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro – 1808-1822. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1881. CAMARGO, Ana Maria de Almeida; MORAES, Rubens Borba de. Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro. São Paulo: EDUSP/ Livraria Kosmos Editora, 1993, 2 vol. CARVALHO, Alfredo de. Anais da imprensa periódica pernambucana. Recife: Tipografia do Jornal do Recife, 1908. CASTRO, Renato Berbert de. A primeira tipografia da Bahia e suas publicações. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1969. COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Estabelecimento e desenvolvimento da imprensa em Pernambuco. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife: Tipografia de F. P. Boulitreau, 1891, no 39. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 357 Cybelle de Ipanema IPANEMA, Cybelle de. Revisitando Manuel Antônio da Silva Serva. In: Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador: IGHB, no 99/2004. IPANEMA, Marcello de. Legislação de imprensa. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1949, 2 vol., 1o vol. Leis de Portugal e de d. João. IPANEMA, Cybelle de; IPANEMA, Marcello de (in memoriam). Silva Porto: livreiro na Corte de d. João, editor na Independência. Rio de Janeiro: Capivara Editora, 2007. IPANEMA, Marcello de; IPANEMA, Cybelle de. Inteiramente ou interinamente? In: Mensário do Arquivo Nacional, a. VIII, n. 9, setembro de 1977. _____. Subsídios para a história das livrarias. Revista do Livro. Rio de Janeiro: INL, a. XI, no 32, 1o trim. 1968, p. 22-31. _____. A tipografia na Bahia: documentos sobre suas origens e o empresário Silva Serva. Rio de Janeiro: Instituto de Comunicação Ipanema, 1977. IPANEMA; Rogéria Moreira de. Arte da imagem impressa: a construção da ordem autoral e a gravura no Brasil no século XIX (Tese de doutorado). Niterói: ICSF/UFF, 2007. _____. A Idade da pedra illustrada: litografia, um monólito na gráfica e no humor do jornalismo do século XIX no Rio de Janeiro (Dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 1995, 2 vol, 1o vol. LEITE, Serafim. Artes e ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760). Lisboa/ Rio de Janeiro: Edições Brotéria/Livros de Portugal, 1953. _____. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: INL, 1945, vol. 6. MIRANDA, Francisco Gonçalves. Memória histórica da Imprensa Nacional. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1922. PEREIRA, José Higino Duarte. A Bolsa do Brasil. In: Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife: Tipografia Industrial, tomo quarto, janeiro e março de 1883, no 28, p. 121-201. Proibição do uso da imprensa no Brasil nos tempos coloniais. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: IHGB, t. XLVII, parte primeira, 1864, p. 167-168. 358 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias RIZZINI, Carlos. O livro, o jornal e a tipografia no Brasil. Rio de Janeiro/ São Paulo/Porto Alegre: Livraria Kosmos Editora, 1945. SEMERARO, Claudia Martins et al. História da tipografia no Brasil. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1979. SILVA, Inocêncio Francisco da. Dicionário bibliográfico português. Lisboa: Imprensa Nacional, 1862, t. VI, p. 23. TORRES, João Nepomuceno; CARVALHO, Alfredo de. Anais da imprensa da Bahia. Salvador: Tipografia Bahiana de Cincinato Melquíades, 1911. Publicações seriadas Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1936, vol. L. ARAÚJO, José Paulo Figueiroa Nabuco de. Coleção das leis brasileiras. Rio de Janeiro: Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve, tomo III, 1837. Coleção das leis do Brasil. Coleção das decisões do Governo do Brasil de 1821. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 359 Cybelle de Ipanema 360 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 A imprensa – tolhida e liberada – e o intercâmbio das ideias R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):337-361, jan./mar. 2009 361 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro Carlos Alberto Figueiredo1 Em 7 de março de 1808 chega ao Rio de Janeiro a Corte portuguesa, por motivo da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, fato de grande importância histórica que provocou mudanças, transformações, resistências à mudança, conflitos e tensão em todos os setores da sociedade da então capital do Brasil. A chegada da Corte portuguesa coloca em contato direto dois personagens que nos interessam particularmente. De um lado, d. João (17671826), o poderoso príncipe-regente, vindo de uma tradição dos Bragança de grande interesse pela música sacra, mantendo em sua Corte em Portugal uma das mais ricas e famosas capelas reais da Europa. Do outro lado, José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), um padre mulato carioca, que jamais saiu do Rio de Janeiro, compositor predominantemente sacro e maduro, mestre de capela da Sé do Rio de Janeiro desde 1798. É o encontro de dois homens com exatamente a mesma idade, 41 anos, e trajetórias tão diferentes. O príncipe-regente aparentemente reconheceu de imediato as qualidades de José Maurício e o nomeou como Mestre da recém-criada Real Capela, em 26 de novembro de 1808, apesar da grande resistência das autoridades eclesiásticas portuguesas que vieram com a Corte2. Seria possível conjeturar que d. João teria nomeado José Maurício para cargo tão importante por falta de opção. Entretanto, o episódio da concessão da 1 – Unirio 2 – MATTOS, Cleofe Person de. José Maurício Nunes Garcia: Biografia. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1997, p. 66-68. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 363 Carlos Alberto Figueiredo Ordem de Cristo ao compositor pelo mesmo d. João, em 1809, conforme episódio narrado por Mattos (1997:76), contradiz tal hipótese. No documento da nomeação explícita de José Maurício como mestre da Real Capela, estão apontadas como suas obrigações atuar como organista e dar lições de música3, entre outras. Compor obras para a Capela, entretanto, não está explicitado, mas está implícito na função de “Mestre de Muzica”. José Maurício desempenhou essa tarefa intensamente, tendo composto cerca de 70 obras para a Real Capela apenas no período de 1808 a 18114. O relacionamento entre os dois personagens passou a ser, assim, através de obras musicais, ocupando José Maurício o pólo criador e d. João o pólo receptor, de forma privilegiada, por ser o empregador de José Maurício. As Missas de São Pedro de Alcântara, compostas em 1808 e 1809 (CPM 104 e CPM 105), são duas dessas obras compostas por José Maurício para a Real Capela. Pretendemos demonstrar como as circunstâncias de sua composição servem como reflexo do ambiente de mudanças no âmbito social geral e musical, em particular, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Outros autores empreenderam estudos temas semelhantes, tais como Lucas Robatto (2001), que aborda a Missa Pastoril de 1811, do mesmo José Maurício, e Antônio Jorge Marques (2005), que tratou das obras de Marcos Portugal (1762-1830), compositor português preferido de d. João, escritas no Rio de Janeiro e sua relação com o poder simbolizado pelo príncipe-regente. Com isso queremos enfatizar a idéia de que temos a “obrigação de investigar a conexão entre a experiência e o destino do artista criador em sua sociedade, ou seja, entre esta sociedade e as obras produzidas pelo artista”,5 negando com isso a ideia de que “a criação de grandes obras de arte é independente da existência social de seu criador, de seu desenvolvimento e experiência como ser 3 – Idem, p. 69 4 – Idem, p. 70 5 – ELIAS, Nobert. Mozart: Sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, p. 57. 364 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro humano no meio de outros seres humanos”.6 Ser nomeado mestre da Real Capela é, por um lado, um privilégio, mas demonstra a real posição ocupada pelos compositores de forma geral até o século XIX, tanto na Europa quanto no Brasil. São músicos empregados por cortes e igrejas, assalariados e sem autonomia. Um exemplo desse tipo de relação é a subserviência dos autores, simbolizada pela prática da dedicatória e pela constante atribuição da origem de uma determinada obra a seu patrão ou patrocinador, fazendo com que “o príncipe receba aquilo de que, no fundo, é virtualmente o autor”.7 A dedicatória da Oferenda Musical, escrita por J.S.Bach sobre tema oferecido por Frederico o Grande da Prússia, em 1747, é um notável documento que serve como exemplo dessa subserviência: “À sua majestade eu dedico, em mais profunda submissão, uma oferenda Musical, cuja parte mais nobre provém de vossa própria exaltada mão”.8 Tal aspecto profissional vai sofrer uma grande modificação no início do século XIX, com a mudança das relações entre audiência e compositores, permitindo o surgimento de um artista independente como Beethoven, que encontrou as condições maduras para tal na Viena da passagem dos séculos XVIII para XIX, conforme discutido por Tia De Nora (1995). O mesmo não ocorreu com Mozart ao tentar dar o mesmo passo no momento ainda inadequado, conforme amplamente abordado por Elias (1994). O status servil de José Maurício fica claro, por exemplo, na concessão a ele, em 17 de julho de 1808, de “ração de creado particular”.9 Trata-se de um mecanismo comum. O já mencionado Marcos Portugal, compositor português e mestre de música de d. João, que veio para o Brasil em 1811, teve a mesma concessão de ração diária, em 23 de junho de 6 – Idem, p. 53 7 – CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Unesp, 1998, p. 41. 8 – BACH (1747) apud Schweitzer. J. S. Bach. New York: Macmillon, 1955, p. I-418. 9 – MATTOS. Op. Cit., p. 72. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 365 Carlos Alberto Figueiredo 1811.10 Não esqueçamos que Haydn, compositor do conde de Esterhazy, era obrigado a usar uniforme de criado11 e não podia escrever música para ninguém, a não ser seu patrão (Raynor, apud Cardoso, 2005:23). Por situação semelhante passava o mesmo Marcos Portugal, cujas obras escritas para d. João não podiam ser executadas por mais ninguém.12 Não há documentação que comprove que José Maurício tenha passado por tal situação de exclusividade de suas obras escritas para a Real Capela, mas sabemos que, diferentemente de Haydn, podia receber encomendas de outras instituições religiosas, conforme se pode ver nos títulos de várias de suas obras escritas a partir de 1808.13 Que fatores condicionam a criação de uma obra musical de forma geral e das duas Missas de São Pedro de Alcântara em particular? São inúmeros esses fatores, mas selecionaremos apenas alguns, que nos interessam mais diretamente neste estudo. a) O status social do compositor Para um compositor que é um empregado. a criação de um produto artístico exige que a fantasia pessoal se subordine a um padrão social de produção artística, consagrado pela tradição e garantido pelo poder de quem consome arte. Em tal caso, portanto, a forma da obra de arte é modelada menos por sua função para o produtor e mais por sua função para o cliente que a utiliza, de acordo com a estrutura da relação de poder.14 O mesmo Elias estabelece uma diferença entre tais autores, a que 10– ANDRADE, Ayres de. Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de Janeiro: Sala Cecília Meirelles, 1967, p. II-215. 11– CARDOSO, André A. A música na Capela Real e Academia Brasileira de Música, 2008, p. 23. Imperial do Rio de Janeiro: 12– MARQUES, Antônio Jorge. D. João VI and Marcos Portugal: The Brazilian period. In: lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring05/missa/marques.pdf. 2005. Acessado em 31/5/2008. 13– MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo temático das obras do padre José Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro: MEC, 1970. 14– ELLIAS. Op. Cit., p. 49. 366 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro chama de artesãos, e os artistas que, no decorrer do século XIX, vão se tornando autônomos, escrevendo música para um mercado anônimo (1994:45), “com muito mais espaço para a experimentação e a improvisação autorregulada, individual” (50). Para Hansen, o artista designa uma atividade profissional diferenciada do artífice pelo seu desinteresse (1992:19). Numerosos títulos em manuscritos autógrafos mauricianos ou catálogos de suas obras comprovam os vínculos do compositor com seus empregadores, antes e depois da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro: “Por ordem de S.A. R. (...) para a Real Quinta de Santa Cruz” (Bendito e louvado seja, CPM 13) (Mattos, 1970:69);15 “Pa. a Sé do Rio de Janeiro / no Ano de 1798” (Miserere, CPM 194);16 “Foi cantado o 1o. motivo por S.A.R. e depois arranjado e composto em 1809 Pelo pe. Joze Mauricio Nunes Garcia” (Stabat Mater, CPM 166);17 “Composta por Joze Mauricio N.G. em 1809 pa. a Real Capella” (Missa de Requiem, CPM 184);18 “Por Ordem de S. Mage. pa. a Capela de Sta. Crus” (Media nocte, CPM 58);19 “‘Tu devicto mortis’ original de Marcos Portugal arranjado e transportado para contralto por José Maurício por ordem de SAR para o casamento de d. Maria Teresa”;20 15– MATTOS (1970). Op. Cit., p. 69. 16– Idem, p. 292. 17– Idem, p. 232 18– Idem, p. 267 19– Idem, p. 98. 20– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 294. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 367 Carlos Alberto Figueiredo “composto por ordem de S.A.R. para as 2as. Vésperas.21 b) A funcionalidade e circunstâncias de surgimento de uma obra Uma obra musical terá características certamente diversas se designada para uma situação camerística, para uma função religiosa, para o teatro ou para a ópera. Compor uma Missa significa tradicionalmente colocar em música os textos do Ordinário da Missa, ou seja, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/ Benedictus e Agnus Dei. José Maurício Nunes Garcia compôs suas duas Missas de São Pedro de Alcântara, uma em 1808 e a outra em 1809, para 19 de outubro, dia dedicado a este santo, festividade classificada como de quarta ordem no calendário da Capela Real portuguesa. São Pedro de Alcântara foi um santo espanhol nascido em 1499 e falecido em 18 de outubro de 1562. Foi amigo de São Francisco de Borja e de Santa Teresa de Ávila, tendo sido o confessor do poderoso imperador Carlos V da Espanha. O dia 19 de outubro passou a ser dedicado a ele a partir de 1622, inicialmente na Espanha. d. Pedro I, em 31 de maio de 1826, proclama São Pedro de Alcântara como principal patrono de todo o Império do Brasil. Talvez por essa razão, a festividade de São Pedro de Alcântara é apresentada como de segunda ordem num documento brasileiro de 1849 (apud Cardoso, 2005:31). A Missa de 1808 chegou aos nossos dias através de quatro fontes: Fonte A: Missa para o dia 19 de outubro / comp.ão do Padre José Maurício / no anno de 1808 Cópia de Miguel (1892) constando de uma partitura encadernada com as partes de soprano, contralto, tenor, baixo, contrabaixo e órgão, a qual se encontra no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19, C01). Fonte B: Missa para o dia 19 de outubro / comp.ão do Padre José 21– Idem, p. 218. 368 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro Maurício / no anno de 1808 Cópia de Miguel (1892) constando das partes avulsas de soprano, contralto, tenor (2), baixo (2), contrabaixo e órgão, as quais se encontram no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19, C02). Fonte C: Quoniam De copista desconhecido, em data desconhecida, constando das partes avulsas de contralto e tenor. Contém apenas o Quoniam. O material se encontra no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19, C03). Fonte D: Laudamus Duetto De copista desconhecido, em data desconhecida, constando da parte avulsa de soprano 2o. Contém apenas o Laudamus. O material se encontra no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM 19, C04). O Catálogo organizado em 1887, por Joaquim José Maciel, arquivista da Capela Imperial, apresenta a seguinte informação complementar: “Composta e oferecida a S.A. sereníssima o príncipe senhor d. Pedro de Alcântara em 1808”.22 É possível, assim, crer que esta primeira Missa está vinculada à comemoração do décimo aniversário de d. Pedro de Alcântara, futuro imperador do Brasil, nascido em 12 de outubro de 1798. A Missa de são Pedro de Alcântara de 1809 chegou aos nossos dias através de quatro fontes: Fonte A: Organo missa a 4 Vozes / de capella / composta pelo pe. Joze Maurício Nunes Garcia / para 19 de ottubro dia de s. Pedro d’Alcantara / para a Real Capella Manuscrito autógrafo constando de cinco partes avulsas, soprano principal, contralto principal, tenor principal, baixo principal e órgão, o qual se encontra na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ (006-05-000067-0). 22– MATTOS (1970). Op. Cit., p. 150. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 369 Carlos Alberto Figueiredo Fonte B: Missa a 4 Vozes Cópia de Leopoldo Miguez, sem data, certamente a partir da fonte A. Consta de uma partitura com 66 páginas, a qual se encontra também na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ (00605-000068-2). Fonte C: Credo para o dia 1o de janeiro / na Cathedral do Bispado / composição do padre J.Maurício / 1809 Cópia do Credo, apenas, feita por Miguel em 1892. Consta de uma partitura com 24 páginas, a qual se encontra no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM38, C01). Fonte D: Credo para o dia 1o de janeiro / composição do padre J.Maurício para a Cathedral do Bispado / 1809 Cópia do Credo, apenas, feita por Miguel em 1892. Consta das partes de soprano, contralto, tenor, baixo, contrabaixo e órgão, as quais se encontram no Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM38, C02). Embora não esteja explicitado no título que ela tenha sido dedicada ao mesmo Pedro de Alcântara, filho do rei, podemos supor que assim seja. No mesmo catálogo feito pelo arquivista Joaquim José Maciel, consta a seguinte informação: “Missa da Imaculada Conceição para 4 vozes e órgão, partitura original acrescentada para a festa de São Pedro de Alcântara no ano de 1809”.23 Essa Missa da Imaculada Conceição pode ter sido composta para 8 de dezembro de 1808, dia da festa em questão, ou para 12 de março do mesmo ano, dia em que foi realizada uma missa solene em louvor de Nossa Senhora da Conceição, por ordem de d. João.24 Há ainda a forte possibilidade de que seja uma obra composta antes de 1808. Se levarmos em conta tal informação, devemos aceitar o fato de que 23– Idem, p. 342 24– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 64. 370 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro a Missa de são Pedro de Alcântara de 1809 é um reaproveitamento de material anterior, procedimento comum em vários compositores europeus e brasileiros e também em José Maurício. A já mencionada Missa Pastoril de 1811 pode ter passado pelo processo de reaproveitamento de material de uma outra missa com mesmo título, de 1808, conforme é discutido por Mattos.25 Por que motivo José Maurício teria reaproveitado material de uma missa sua anterior? Podemos supor que uma das razões, de ordem prática, seria o grande volume de trabalho a que foi submetido após a criação da Real Capela, “perdendo muitas vezes noites inteiras em longas composições, que o sr. d. João VI queria ver concluídas com a maior presteza”.26 Uma análise da tabela das funções que envolviam música na Real Capela, no ano de 1809, nos mostra quase cem cerimônias,27 afora as inevitáveis comemorações de aniversários, batizados e outras circunstâncias sociais envolvendo a família real. Uma outra razão seria de ordem estética, envolvendo sua relação com d. João. Talvez a Missa da Imaculada Conceição, já submetida de alguma forma ao julgamento do príncipe-regente, não tivesse agradado a este, levando às modificações que mais se aproximassem de seu gosto. Esta hipótese só é viável se ficasse comprovado que a composição dessa missa teria ocorrido após a chegada de d. João ao Rio de Janeiro. O estilo, ou o sistema composicional no qual opera o compositor Todo compositor exerce sua atividade criadora dentro de um determinado estilo musical, que oferece possibilidades composicionais, mas também limitações. Além disso, dentro do estilo geral vigente podemos considerar também o estilo pessoal de cada compositor, que individualiza 25– MATTOS, Cleofe Person de. Introdução. In: Missa pastoril noite de natal 1811; José Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro: Funarte, 1982, p. 7-8. 26– BARBOSA, Januário da Cunha. Necrológico. In: Estudos Mauricianos. Rio de Janeiro: Funarte, 1983. 27– CARDOSO (2005). Op. Cit., p. 27-29. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 371 Carlos Alberto Figueiredo suas obras. Por outro lado, o estilo de um compositor pode também ir se modificando no decorrer do tempo. O gênero Missa foi recentemente estudado por Júlio Moretzsohn, focalizando seus aspectos estilísticos na música européia e na do compositor mineiro Lobo de Mesquita (1746-1805).28 Infelizmente, verificar as características estilísticas das missas mauricianas antes da chegada da família real é tarefa difícil, já que quase todas as missas datadas antes de 1808 desapareceram, só estando registradas em catálogos da Capela Imperial e outras listagens. A única missa disponível datada desse período, a chamada Missa em Si bemol, de 1801 (CPM 102), é uma obra dúbia, por várias razões, e difícil, portanto, de ser tomada como ponto de partida num estudo comparativo. É costumeira a divisão composicional do ordinário de uma missa em duas grandes partes, considerando-se as missas brasileiras de forma geral e as de José Maurício, em particular: Missa, englobando Kyrie e Gloria, e Credo, englobando o Credo propriamente dito, o Sanctus/Benedictus e o Agnus Dei. Tal costume é uma herança de modelos italianos, herdados pelo Brasil por intermédio dos compositores portugueses.29 A Missa de São Pedro de Alcântara de 1808, escrita para soprano, contralto, tenor, baixo e órgão (baixo-cifrado), apresenta apenas a Missa, pelo menos nas fontes que transmitem a obra. Já a de 1809, também escrita para a mesma formação, apresenta Missa e Credo, de acordo com a bipartição típica apresentada acima, explicitada pela indicação finis ao final do Gloria, em todas as partes. Além disso, a tradição oriunda também das missas napolitanas faz com que os itens do ordinário sejam divididos em subseções, ou movimentos, principalmente os itens mais longos, como o Gloria e o Credo. É a chamada missa-cantata.30 28– MORETZSOHN, Júlio. As missas de J. J. Emerico Lobo de Mesquita: Um estudo estilístico. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Unirio, 2008. 29– Idem, p. 30-31. 30– Idem, p. 25-26. 372 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro José Maurício, seguindo tal traço estilístico, divide a missa de 1808 em nove movimentos e a de 1809 em quatorze movimentos, listados a seguir com a formação vocal de cada um: Tabela 1 – Movimentos das missas de 1808 e 1809 Missa de 1808 Kyrie – coro Gloria – coro e solo Laudamus – duo soprano e tenor Gratias – coro Domine Deus – terceto soprano, alto, baixo Qui tollis – baixo solista Qui sedes – coro Quoniam – baixo solista Cum Sancto Spiritu – coro Missa de 1809 Kyrie - coro e soli Glória – coro e soli Domine Deus – tenor solo Qui tollis – quarteto Quoniam – baixo solista Cum Sancto Spiritu – coro e soli Credo Patrem – coro e soli Et incarnatus – tenor solo Crucifixus – trio Et resurrexit – coro e soli Sanctus – coro e soli Hosanna – coro Benedictus – baixo solo Agnus Dei – coro e soli Na Missa de 1808, o Kyrie é simples, em movimento único, mas muito ornamentado na parte de soprano. O Gloria é dividido em oito movimentos, dentro das características da missa-cantata, como vimos acima. As partes corais são simples, com o Gloria inicial fazendo uso de uníssono nas vozes e um Gratias muito austero. As árias, por outro lado, já apresentam alguns elementos de virtuosidade. Destaque-se um movimento concertante, o terceto para soprano, alto e baixo. A obra termina com uma fuga dupla de grandes proporções (Cum Sancto Spiritu), novidade importante em relação às obras mauricianas datadas até então. Com relação à Missa de 1809, encontramos na Missa (Kyrie e Gloria) também um Kyrie austero e simples, em movimento único. O Gloria, dividido em cinco movimentos, menos do que os da Missa de 1808, é muito exuberante, apresentando dois movimentos para solistas, o Domine Deus, para tenor (incluindo um recitativo), e o Quoniam, para baixo. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 373 Carlos Alberto Figueiredo Essas duas árias são de grande virtuosidade, apresentando uma sensível transformação em relação às árias da Missa de 1808. Aqui encontramos também um movimento concertante, o Qui Tollis, para quarteto. O Cum Sancto Spiritu é também uma fuga, como na Missa de 1808, um pouco mais rígida. O que chama a atenção na divisão em movimentos no Gloria é o fato de o Laudamus e o Qui sedes não serem individualizados, como acontece na maioria esmagadora das missas conhecidas de José Maurício. Tal fato pode apontar, mais uma vez, para o fato da Missa de 1809 ter sido uma reelaboração da já mencionada Missa da imaculada Conceição, possivelmente uma missa breve, categoria descrita por Moretzsohn,31 mais antiga. O Credo (Patrem, Sanctus/Benedictus e Agnus Dei), sem paralelo na Missa de 1808, é muito austero, oferecendo texturas semelhantes a obras anteriores de José Maurício. Comparemos, por exemplo, as duas árias contidas nesta segunda grande seção da obra, o Et incarnatus e o Benedictus, extremamente singelas, com as duas árias do Gloria já mencionadas acima, e constatamos a enorme diferença. d) Por quem será executada a obra Quando um compositor escreve uma obra ele pode ter em mente as potencialidades técnicas de determinados executantes. Esse conhecimento a priori vai certamente deixar marcas na composição. Por outro lado, pode o compositor escrever para executantes anônimos, deixando que a sua fantasia criativa atue sem quaisquer tipos de contingências técnicas dos possíveis intérpretes. Para que conjunto vocal escreveu José Maurício as Missas de São Pedro de Alcântara de 1808 e 1809? Há dois tipos de coro que atuavam na Catedral ou outras igrejas importantes do Rio de Janeiro: o coro de baixo e coro de cima. O coro de baixo ficava colocado junto ao altar e era constituído pelos capelãescantores, padres que eram responsáveis pelo cantochão. O coro de cima 31– Idem, p. 27. 374 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro estava localizado acima da entrada principal da igreja, sendo constituído por músicos de forma geral e que eram responsáveis pelo repertório a várias vozes, com instrumentos ou não. O Almanaque do Rio de Janeiro de 1799 registra os doze cantores que atuavam no coro de baixo naquele ano, incluindo “quatro meninos por turno do Seminário de São Joaquim”.32 O Seminário de São Joaquim tem sua origem no Abrigo dos Órfãos de São Pedro, fundado pelo bispo d. Antônio de Guadalupe em 1733, por provisão da Câmara Eclesiástica, e depois transformado em Seminário de São Joaquim, também por provisão eclesiástica, em 1739, sendo localizado em antigo casarão da rua Larga, atual av. Marechal Floriano. Os meninos órfãos que lá eram abrigados tinham aulas de música e cantochão.33 Sabemos que, até a chegada da família real ao Rio de Janeiro, as funções musicais no coro de cima da Capela da Sé estavam a cargo das vozes infantis do Seminário São Joaquim, para as partes de soprano e contralto, e cantores adultos, padres ou leigos, para as partes de tenor e baixo.34 Cantores falsetistas eram também empregados para as partes de soprano e contralto, possivelmente para os solos. Lembremos sempre que mulheres não podiam cantar em igrejas. Francisco Manuel da Silva (1795-1865), por exemplo, aluno de José Maurício, atuou com falsetista no naipe de sopranos deste conjunto até os 28 anos, conforme documentação apresentada por Ayres de Andrade.35 d. João trouxe inicialmente apenas dois músicos com ele em sua comitiva, um organista e um padre cantor.36 Os demais cantores, os instrumentistas de sua esplêndida capela em Lisboa ficaram em Portugal. Assim sendo, as funções musicais, nesse primeiro ano, ficaram a cargo do mesmo conjunto vocal usado até então, com os 32– NUNES, Antonio Duarte. Almanaque Histórico da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vol. 267. Rio de Janeiro. Departamento da Imprensa Nacional, 1965, p. 169. 33– Idem, p. 182. 34– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 63. 35– ANDRADE, Op. Cit., p. 56-57. 36– MARQUES, Op. Cit., p. 7. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 375 Carlos Alberto Figueiredo meninos ou os falsetistas. A partir de 1809, começam a chegar outros músicos portugueses, aos poucos. Cleofe Person de Mattos37 afirma, entretanto, que os meninos do Seminário São Joaquim só foram utilizados até a Semana Santa de 1809, coincidindo com “o imediato aproveitamento dos cantores vindos da Capela Real de Lisboa”. Entretanto, os primeiros castrati só chegaram em 1810.38 A partir desse momento podemos imaginar que o coro passou a ser constituído pelos castrati e pelos falsetistas para as vozes de soprano e contralto. A listagem de músicos apresentada por Andrade39 oferece outros exemplos de cantores falsetistas atuantes na Real Capela no período joanino. Como ficou então a situação do coro nesse interregno? A situação não está esclarecida. No entanto, o aparente afastamento de crianças do coro da Real Capela não parece ter sido definitivo. Um episódio ocorrido em 1813 nos demonstra isso. D. João teria proposto a criação de um seminário destinado aos meninos cantores da capela, ao que respondeu o bispo d. José Caetano:40 Não vejo a grande necessidade de fundar um colégio de música para 12 rapazes só com o fim de obter algumas vozes de sopranos, porque para esse mesmo fim tem já V.A.R. estabelecido um suficiente ordenado a hum professor de Música [José Maurício], que é igualmente mestre da sua Capela Real, e que pode muito bem descobrir e aproveitar algumas dessas tais e quais vozes de soprano que houver no Rio de Janeiro. Fica assim demonstrado que meninos atuavam como sopranos na Capela Real, ainda em 1813, de alguma forma. O manuscrito autógrafo da Missa de são Pedro de Alcântara de 1809 contém informações sobre alguns dos cantores que atuaram como solistas: 37– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 76. 38– Idem, p. 234. 39– ANDRADE. Op. Cit., passim. 40– CAETANO, José. Apud MATTOS (1970). Op. Cit., p. 25. 376 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro “o sr. Joze Maria”, (Tenor principal, f.2v), (Domine Deus); “o sr pe Mendes”, (Tenor principal, f.4 e f.7) (Qui Tollis e Et Incarnatus); “o sr pe Paula”, (Basso principal, f.3v) (Quoniam). Cleofe Person de Mattos41 identifica o padre Paula como sendo Francisco de Paula Ferreira, vindo de Lisboa na primeira leva, ainda em 1808. O padre Mendes, tenor, deve ser João Mendes Sabino, que só teria sido admitido formalmente na Real Capela em 22 de dezembro de 1809 (Andrade, 1967:II-224), portanto após a realização da Missa de 1809. A identificação do sr. José Maria oferece duas possibilidades. A primeira seria José Maria Dias, vindo de Portugal e admitido na Real Capela em 31 de dezembro de 1808.42 A outra seria José Maria da Silva Rodrigues, admitido na Real Capela em 1810. Cardoso43 coloca como período de atuação desses dois cantores, ambos tenores, os períodos de 1810-1852. Quanto àqueles que atuaram como soprano ou contralto solistas, meninos ou falsetistas, nada há registrado nas partes autógrafas da Missa de 1809. Infelizmente, as fontes que transmitem a Missa de 1808 não apresentam a mesma riqueza de detalhes quanto aos executantes, obviamente por serem cópias tardias. Entre as funções de José Maurício na Real Capela está a de organista. É verdade que com a vinda da família real para o Brasil o organista português José do Rosário Nunes foi um dos primeiros músicos a chegar, já na primeira leva, como vimos acima. Podemos ter como certo, entretanto, que José Maurício tenha sido o organista na execução das Missas de São Pedro de Alcântara, já que não podemos supor que não as tenha dirigido nas respectivas cerimônias. Fica claro, a partir de várias fontes 44 41– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 230. 42– ANDRADE, Op. Cit., p. II-261. 43– CARDOSO, Op. Cit., 233 e 242, respectivamente. 44– ANDRADE, Op. Cit., p. I-24. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 377 Carlos Alberto Figueiredo manuscritas de época, que a parte de órgão é a mesma para regência, já que não há partituras completas com todas as partes, numa acepção moderna. A parte de órgão de ambas as Missas consta de um baixo-cifrado, com eventuais desenhos obrigados, estes certamente apontando para possíveis futuras instrumentações das obras, o que não chegou a ocorrer, pelo menos que tenhamos conhecimento. Quanto ao instrumento utilizado, sabemos muito pouco sobre o órgão da Sé do Rio de Janeiro, a não ser que era “complicado” e que foi montado pelo organeiro português Antônio José de Araújo, em data não esclarecida, mas posterior à chegada da Corte portuguesa.45 Não sabemos nem sobre as possibilidades de registração do instrumento, nem sobre diapasão ou sistema de afinação empregados. O gosto de d. João No extremo oposto do pólo criador, representado por José Maurício, encontramos o pólo receptor, representado por d. João, que ocupa este pólo de forma privilegiada como patrão de José Maurício, que deve atender aos gostos e necessidades do príncipe-regente. Qual o gosto de d. João? Vimos acima como d. João cultiva a música sacra com especial interesse, tradição que vem de sua família, os Bragança, desde o século XVII. Vamos encontrar o gosto de d. João na música de Marcos Portugal, seu compositor preferido, e que em Portugal, desde 1782, já ocupava posição de destaque na hierarquia musical da Real Capela portuguesa. Marcos Portugal é considerado o mais importante compositor português de seu tempo. A influência da música italiana sobre os compositores portugueses atinge seu ápice na obra desse compositor, que produziu óperas em grande quantidade, tanto durante seu período de estadia na Itália quanto em Portugal ou no Brasil. 45– Idem, p. II-135. 378 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro Foi inevitável que, dentro da estética vigente, sua música sacra fosse profundamente influenciada pela sua vertente operística italiana. Observemos, como exemplo, sua Missa Concertada a 4, composta no início da década de 1790. Apenas o Domine Deus dessa Missa, um concertado para seis vozes solistas, dá uma dimensão do nível de virtuosismo e de ostentação a que pode chegar uma obra sacra. Trata-se de uma cena de ópera sobre um texto sacro. Outras árias dessa mesma Missa, como o Laudamus e o Qui Sedes não ficam atrás em exuberância. Assim sendo, podemos concluir que o gosto de d. João na música sacra passa pelo exuberante, o virtuosístico e o espalhafatoso da ópera buffa italiana. Outro aspecto correlacionado, que reflete o gosto de d. João, é a sua sistemática preferência pelos castrati, cantores que dominaram os palcos e igrejas do século XVIII na Europa e, em particular, na Real Capela portuguesa de Lisboa. Embora a voga dos cantores castrados já estivesse em declínio na Europa na segunda década do século XIX, encontramos d. João envidando grandes esforços e despendendo enormes somas para trazer para a sua Real Capela no Brasil esses cantores virtuoses, com suas vozes peculiares.46 Até 1816, esses cantores chegam ao Rio de Janeiro, evidenciando o gosto do príncipe-regente português. No entanto, não apenas a questão puramente estética está na linha de interesse de d. João. A necessidade de representação do poder real de forma pomposa faz da música de Marcos Portugal e dos castrati elementos essenciais para tais objetivos políticos, conforme demonstram Marques47 e Robatto.48 46– MARQUES. Op. Cit., p. 16. 47– Idem, p. 11 e 13. 48– ROBATO, Lucas. Missa pastoril para noite de natal (1811) de José Maurício Nunes Garcia: O confronto da Corte e da Colônia no idílio pastoral. In: 4º encontro de musicologia histórica – anais. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 379 Carlos Alberto Figueiredo José Maurício e Marcos Portugal A historiografia tradicional de José Maurício insiste numa influência de compositores alemães nas obras do compositor, principalmente no seu período anterior a 1808. Menciona-se correntemente a coleção de partituras que José Maurício teria, com obras de Haendel, Beethoven, Haydn e outros49. Entretanto, não há prova documental de tal coleção. Temos, sim, uma outra importante prova documental, o inventário post-mortem de Salvador José (c.1732-1799), músico mineiro que foi professor de José Maurício50. Nesse inventário, entre as obras identificadas, estão compositores italianos do século XVIII, tais como Galuppi (1706-1785), Pergolesi (1710-1736) e Jommelli (1714-1774), além de compositores portugueses do século XVIII, tais como Antônio Teixeira (1707-1755), João de Souza Carvalho (1745-1793) e André da Silva Gomes (1752-1844). Este último foi mestre de capela da Sé de São Paulo a partir de 1774. Não há menção de autores alemães. Surpreende, ainda, a ausência de obras de compositores mineiros do século XVIII, o que enfraquece a ênfase dada por Cleofe Person de Mattos nas “raízes mineiras” da música do compositor.51 É inevitável deduzirmos que José Maurício teve contato com todas essas obras, que certamente influenciaram sua composição. Entre as obras de autores portugueses, encontramos cinco missas de Marcos Portugal, identificadas por Antônio Marques como sendo do período que antecede a ida do compositor português para a Itália, onde permaneceu entre 1792 e 1800.52 Mas, como vimos acima, pelo menos a Missa Concertada a 4 já mostra o auge da influência da ópera italiana. Uma nova oportunidade para contato de José Maurício com as obras de Marcos Portugal foi a realização de uma cerimônia em 16 de julho de 1810, quando foi executada a Missa Festiva do compositor português, 49– TAUNAY, Visconde de. Uma grande glória brasileira: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830). São Paulo: Melhoramentos, 1930. 50– CARDOSO. Op. Cit., p. 71-72. 51– MATTOS (1997). Op. Cit., p. 94. 52– MARQUES. Op. Cit., p. 7. 380 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro obra de vastas proporções (Marques, 2005:7)53, inevitavelmente dirigida pelo compositor carioca. Esse novo encontro com Marcos Portugal teve efeitos profundos na composição de José Maurício, gerando uma mudança estilística que se materializa na Missa de Nossa Senhora da Conceição (CPM 106), composta por ele ainda em 1810. Trata-se de uma obra de grandes proporções, utilizando um considerável efetivo instrumental e os novos cantores castrati recém-chegados de Lisboa, permitindo uma nova concepção virtuosística dos solos na obra do compositor carioca. Segundo Antônio José Marques, o Domine Deus desta missa de José Maurício foi influenciado diretamente pela mesma seção da Missa Concertada a 4, de Marcos Portugal, já descrita acima. Esta informação vem de seu Catálogo de obras sacras de Marcos Portugal, ainda por ser publicado. Considerações finais Com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, todos os setores da sociedade sofreram profundas modificações. A composição sacra, exemplificada pela obra de José Maurício Nunes Garcia, não ficou fora desse processo. O compositor carioca teve que se adaptar ao gosto de seu poderoso patrão, d. João, e aos novos meios colocados à disposição para execução de suas obras na Capela Real. A historiografia mauriciana tem insistido no sofrimento de José Maurício, tendo que submeter sua pureza composicional original aos ditames e modismos trazidos pelas novas influências. As palavras de Andrade são típicas neste aspecto: Como deve ter sofrido no seu íntimo o nosso José Maurício naquela encruzilhada do seu destino de músico, ele que era um humilde e, no entanto, tão pouco amigo de fazer concessões capazes de lhe diminuir o mérito das obras.54 53– Idem, p. 7. 54– ANDRADE, Op. Cit., p. I-29. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 381 Carlos Alberto Figueiredo Seria necessário a existência de documentação que comprovasse a maneira como José Maurício teria experimentado psicologicamente as modificações no seu fazer artístico, mas tal documentação não existe. O que existe são os fatos: a obra de José Maurício sofreu modificações, lentas mas inexoráveis. Procuramos demonstrar neste estudo como as Missas de São Pedro de Alcântara, compostas por José Maurício em 1808 e 1809 podem servir de exemplo para o momento de transição em sua trajetória composicional, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Novos elementos, tais como árias virtuosísticas de influência operística, emprego de recitativo e fugas vão entrando em seu vocabulário criador. Esse processo de contínua modificação estilística continua mesmo depois da partida de d. João VI para Portugal, em 1821, culminando em sua mais esplêndida obra, a Missa de Santa Cecília (CPM 113), de 1826, “canto de cisne” do compositor, onde todos estes elementos atingem a mais profunda maturidade numa obra já de características totalmente românticas. Podemos deduzir também que o contínuo processo de modificação estilística não foi suficiente para satisfazer o gosto de d. João e sua necessidade de fazer da música um veículo para exibição de seu poder. O príncipe-regente acabou ordenando a vinda de Marcos Portugal para o Brasil, que aqui chegou em 1811. A partir daí, José Maurício caiu em ostracismo, praticamente não mais escrevendo obras para a Real Capela, embora encontremos encomendas de d. João tanto para a Real Quinta quanto para a Fazenda de Santa Cruz. A Missa de São Pedro de Alcântara de 1808 teve uma edição feita por Ricardo Bernardes, publicada como volume II dentro da série Música no Brasil, lançada pela Funarte em 2002. Não há gravação dessa obra. A Missa de São Pedro de Alcântara de 1809 teve uma edição crítica feita por nós, a partir das fontes autógrafas, com eventuais consultas às outras três fontes posteriores. Essa edição ainda não foi publicada. Esta Missa foi gravada por nós, na direção do Coro de Câmera Pro-Arte, em 1998, com a participação dos solistas Carol McDavit (soprano), Katya 382 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro Kazza (mezzo-soprano), José Paulo Bernardes (tenor) e Inácio de Nonno (barítono), tendo ao órgão Rosana Lanzelotte (PRO-002). Referências bibliográficas ANDRADE, Ayres de, Francisco Manuel da Silva e seu tempo. Rio de Janeiro: Sala Cecília Meirelles (2v.), 1967. BARBOSA, Januário da Cunha. Necrológio. In: Estudos mauricianos. Rio de Janeiro: Funarte (31-33), 1983. CARDOSO, André. A Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro (18081889). Tese de doutorado. Rio de Janeiro, UFRJ, 2001. ____. A Música na Capela Real e Imperial do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 2005. ____. A Música na Corte de d. João VI. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2008. CHARTIER, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Unesp, 1998. DE NORA, Tia. Beethoven and the Construcion of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803). Berkeley: University of California Press, 1995. ELIAS, Norbert. Mozart - Sociologia de um Gênio. Trad. Sergio Goes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. MARQUES, Antônio Jorge. D. João VI and Marcos Portugal: the brazilian period. In: lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring05/missa/marques. pdf. 2005. Acessado em 31/5/2008. MATTOS, Cleofe Person de. Catálogo temático das obras do padre José Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro: MEC, 1970. ____. Introdução. In: Missa pastoril para noite de natal 1811: José Maurício Nunes Garcia. Rio de Janeiro: Funarte, 1982. ____. José Maurício Nunes Garcia - Biografia. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1997. MORETZSOHN, Júlio. As Missas de J.J. Emerico Lobo de Mesquita: um estudo estilístico. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Unirio, 2008. NUNES, Antonio Duarte. Almanaque histórico da cidade de S. Sebastião do R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 383 Carlos Alberto Figueiredo Rio de Janeiro. In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vol. 267 (junho-julho). Rio de Janeiro: Departamento da Imprensa Nacional (93-214), 1965. ROBATTO, Lucas. Missa pastoril para a noite de natal (1811) de José Mauricio Nunes Garcia: o confronto da corte e da colônia no idílio pastoral. In: 4º. Encontro de musicologia histórica – Anais. Juiz de Fora: Pró-Música (204-220), 2001. SCHWEITZER, Albert. J.S.Bach. New York: Macmillan (2v.), 1955. TAUNAY, Visconde de. Uma grande glória brasileira: José Maurício Nunes Garcia (1767-1830). São Paulo: Melhoramentos, 1930. Fontes manuscritas GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara - 1808. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19 C01). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara - 1808. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19 C02). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara - 1808. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19 C03). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara - 1808. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM19 C04). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara – 1809. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM38, C01). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara – 1809. Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro (CRI-SM38, C02). Disponível em http://www.acmerj.com.br/. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara – 1809. Biblioteca Alberto Nepomuceno (006-05-000067-0). GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara – 1809. 384 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 As Missas de São Pedro de Alcântara (1808 e 1809) de José Maurício Nunes Garcia como reflexo das mudanças causadas com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro Biblioteca Alberto Nepomuceno (006-05-000068-2). Portugal, Marcos. Missa Concertada a 4. Biblioteca Nacional de Portugal (1159762). Disponível em http://purl.pt/794. Partituras GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara 1808. In: Bernardes, Ricardo (org.) Música no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, v.II (157-180), 2002. GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de Nossa Senhora da Conceição 1810. In: Bernardes, Ricardo (org.) Música no Brasil. Rio de Janeiro: Funarte, v.I, 2002. Gravações GARCIA, José Maurício Nunes. Missa de São Pedro de Alcântara – 1809. Coro de Câmera Pro-Arte, regência de Carlos Alberto Figueiredo. Rio de Janeiro: Pro-Arte (PRO-002), 1998. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):363-385, jan./mar. 2009 385 A inteligência e o desenvolvimento econômico A inteligência e o desenvolvimento econômico Elysio de Oliveira Belchior 1 Nas comemorações da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, não deve ser esquecido o bicentenário do decreto de criação, em 23 de fevereiro de 1808, da primeira aula de Economia Política no Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Não tanto pelos resultados colhidos, mas como um dos marcos do espírito de renovação que assinalou a presença de d. João no Brasil. Sucedendo à liberação do comércio exterior, o segundo ato legislativo do Príncipe Regente como que indicava que o intuito de modernização da vida colonial não se limitava aos aspectos materiais, mas abrangia, também, o mundo do pensamento. E a esta recordação é inelutável associar o nome de José da Silva Lisboa, futuro visconde de Cairu, mentor da ideia da criação da aula e nomeado para lecioná-la, porquanto dera a d. João todas as provas deser muito hábil para o ensino daquela ciência, sem a qual se caminha às cegas, e com passos muito lentos, e às vezes contrários em matéria de governo2, conforme consta da justificativa do próprio decreto. Silva Lisboa, pouco tempo depois, elaborou duas obras sobre a nova economia brasileira, obedecendo a uma orientação teórica, sendo, aliás, dos primeiros livros que saíram dos prelos da Impressão Régia, depois de estabelecida no Rio de Janeiro. Uma ressaltava a importância da abertura dos portos às nações amigas, outra as consequências da derrogação do Alvará de dezembro de 1785, que proibiu a existência de fábricas, manufaturas ou teares na América Portuguesa. Em ambas, recomendava políticas julgadas convenientes para superar velhos problemas herdados 1 – Sócio títular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 2 – BELCHOR (2000), p. 55. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 387 Elysio de Oliveira Belchior do passado colonial e enfrentar novos desafios, resultantes da provisória implantação da administração portuguesa em longínqua colônia tropical, fato sem paralelo na história da colonização europeia nos tempos modernos. Entre os problemas mais importantes, em razão das expectativas e esperanças de progresso criadas com a chegada da real corte ao Brasil, evidenciava-se o estado precário da instrução. Exemplos o caracterizam. Luís dos Santos Vilhena, professor régio de grego na cidade de Salvador, em uma de suas cartas escrita em 1802, ao suposto amigo Filipono, reconhece e elogia o talento, luzes e ciências dos moradores da capital da capitania. Mas ao mesmo tempo registra inconformado o desprezo que a sociedade local dedicava aos que ministravam as aulas régias: Indizível é, meu caro Amigo, a aversão que nesta cidade há à corporação dos professores, gente de nenhuma entidade na Bahia, membros da sociedade para quem se olha com a maior displicência e indiferença suma.3 Descendo para o sudeste do Brasil, depara-se com severa generalização de Saint-Hilaire, feita no ano seguinte à volta de d. João VI para a Europa. Durante viagem ao interior das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, anotou em seu diário, no dia 25 de abril de 1822, que por menos culto que seja o europeu, por mais baixa que lhe seja a procedência, tem mais idéias de que um brasileiro, a quem não vale a mínima instrução. Este é o caso geral mesmo quando se refere às pessoas mais cultas.4 Situação que sem dúvida refletia nos longes do território do País a insuficiência de ações e instituições que permitissem disseminar o acesso à instrução. Além do mais, o português da Europa, explicava o naturalista francês, “conhecia o próprio país, o que lhe fornece assuntos para compa3 – VILHENA (1921), v 1, p. 287. 4 – SAINT-HILAIRE (1932), p. 213/214. 388 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico rações a que os americanos são alheios5”. Em sentido oposto, vicejavam, já nos século XVIII, em Salvador e Rio de Janeiro, academias e sociedades ilustradas, das quais, disse o visconde de São Leopoldo, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a que presidia, era delas descendente. Latino Coelho referindo-se à mesma época em que o naturalista francês viajou pelo Brasil, frisou no elogio histórico a José Bonifácio de Andrada e Silva, pronunciado na Academia Real das Ciências de Lisboa, em sessão de 1877, que em fins do século XVIII e nos primeiros decênios do século XIX a maioria dos nossos talentos mais formosos havia tido o seu berço no Brasil [...] Em Portugal, refletiam o seu luzimento, a sua glória. Cultivavam as letras pátrias. Ensinavam nas escolas, honravam as academias, resplandeciam no Exército, nas dignidades eclesiásticas, nos ofícios da magistratura.6 Este cenário contrastante justifica a síntese que os professores Arno e Maria José Wehling fizeram da educação na época da instalação do Reino de Portugal no Brasil: No final do século XVIII, o ensino colonial era um mosaico caótico de aulas régias, poucas escolas e ensino doméstico, com a elite continuando os estudos superiores em Portugal, e a grande maioria da população sem escolas e analfabeta.7 François Quesnay, Adam Smith e José da Silva Lisboa José da Silva Lisboa, considerado por Santiago Dantas o espírito mais consciente dos problemas de seu tempo, antes da chegada de d. João ao Brasil já compreendera a interdependência entre a educação (ou instrução) e o desenvolvimento econômico, e para tanto seguiu seu Caminho de Damasco, iniciado quando, depois de diplomar-se em Direito, na Uni5 – SAINT-HILAIRE (1932), p. 214. 6 – COELHO (1877), p. 10. 7 – WEHLING & WEHLING, (1999), p. 298/299. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 389 Elysio de Oliveira Belchior versidade de Coimbra, em 1779, e nela obter, no ano anterior, Carta Régia de Substituto Ordinário de Grego e Hebraico, voltou ao Brasil disposto a dedicar-se à agricultura. Percebe-se na raiz deste estranho propósito, tão afastado da formação acadêmica, sua adesão aos princípios econômicos da Escola Fisiocrática, concebidos pelo médico François Quesnay, muito em voga na Europa, no século XVIII. A Fisiocracia alicerçava-se na concepção de um sistema econômico dividido em três classes (rural, proprietária e estéril), das quais a única produtiva era a rural, e por isso só ela contribuía para a formação do produto nacional8. É plausível que para aderir ao pensamento fisiocrata Silva Lisboa muito devesse ao mestre, amigo e futuro correspondente Domenico Vandelli, professor de Botânica, em Coimbra, e seguidor de Quesnay. A vinda para Salvador de um Silva Lisboa fisiocrata ajusta-se à sua declaração, quando parlamentar no Império, de que Adam Smith, um dos fundadores da Economia Política, o fizera abandonar as ideias dos miseráveis economistas de França, posto que não divergisse do princípio defendido pelos fisiocratas de respeito à ordem natural do processo econômico, consubstanciado no lema: laissez faire, laissez aller, laissez passer, ao qual acrescentava: deixai comprar, deixai vender. A mudança de rumo no pensamento econômico de José da Silva Lisboa resultou de um fato singular. Quando frequentava a Universidade de Coimbra, foi colega de Antônio de Morais Silva, a quem se deve o primeiro dicionário da língua portuguesa preparado por um brasileiro, com edições em 1798 e 1813. Certa vez, seu comportamento desagradou ao Santo Ofício, forçando-o a retirar-se às pressas de Portugal, em busca de refúgio e segurança na Inglaterra. Neste país, conheceu a obra de Adam Smith, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations e mais tarde, já no Brasil, por volta de 1796, mostrou ao antigo colega de bancos universitários a tradução que do livro fizera. Lendo-a, Silva Lisboa abandonou a ideia dos economistas franceses, que até então professara. 8 – QUESNAY (1969), p. 241. 390 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico No conjunto da obra de Adam Smith impressionou-lhe, por isso a aceitou, a noção de que o funcionamento eficaz do sistema econômico inclusive o crescimento da riqueza das nações - resultava da ação de cada indivíduo em busca de seu próprio interesse, pelo que se tornava prejudicial ao interesse social a existência de monopólios, privilégios descabidos, ausência da liberdade de trabalho, e o monopólio colonial com seu cortejo de restrições ao comércio entre as nações e a certas atividades coloniais para não prejudicar a economia da Metrópole. A principal razão da discordância e rejeição das doutrinas econômicas de Quesnay e seguidores residiu na ideia fundamental de que, exceto o setor rural, todas demais atividades não eram produtivas. Ao contrário, argumentou José da Silva Lisboa, em 1804: a grande maioria dos bens da sociedade se devem ao manejo e combinação que o homem faz das produções brutas da natureza. As artes e as ciências as configuram em tais fases que parecem coisas novas. Poucas produções naturais se acham e conhecem logo em estado de as desfrutar.9 Além do mais, os bens produzidos obtêm sua plena utilidade quando, graças ao comércio, chegam ao alcance dos consumidores, ou dos que os utilizam como investimento ou matéria-prima. As artes e as ciências começavam a ocupar seu lugar de destaque no pensamento de José da Silva Lisboa. Convém lembrar que no começo do século XIX o vocábulo “indústria” tinha significado mais lato do que o atual, ao designar qualquer atividade econômica, exigindo por isto um qualificativo para distingui-las como agrícola ou rural, manufatureira, comercial e outras. Ao admitir nas manufaturas e no comércio produtividade resultante do emprego das artes e ciências, Cairu não pretendeu negar a contribuição de ambas prestada às atividades rurais, tampouco a importância social e econômica da agricultura, mas reconhecer que as classes consideradas 9 – LISBOA (1956), p. 67. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 391 Elysio de Oliveira Belchior estéreis também contribuíam para a obtenção de novos produtos destinados a atender necessidades e gostos dos consumidores, e para a distribuição de bens no tempo e no espaço, com isto dilatando as dimensões dos mercados, uma das condições essenciais para o desenvolvimento da economia. Desenvolvimento econômico e tecnologia Adam Smith considera que o desenvolvimento econômico, além de depender da liberdade individual de iniciativa e da expansão da procura de bens pelos utilizadores finais, requer disponibilidade suficiente de recursos e do fruto das ciências, que hoje se conhece como tecnologia. O papel do avanço das ciências no processo e no progresso econômico ganhou em nossos dias geral reconhecimento. Walt Whitman Rostow, por exemplo, distingue como o primeiro estágio em que uma economia se encontra, o das sociedades tradicionais, a que denomina “pré-newtonianas”, para acentuar que nelas o nível de produção “percapita” situa-se abaixo das possibilidades pelo fato de as potencialidades inerentes à ciência e à tecnologia modernas não estarem ainda disponíveis ou não serem regular e sistematicamente aplicadas.10 Quando se aborda o impacto das mudanças tecnológicas no desenvolvimento econômico, não se deve omitir a contribuição do economista austríaco Joseph Schumpeter, que destaca o papel da inovação, responsável pelo desenvolvimento. Seu conceito de inovação é bastante amplo, compreendendo não só a introdução na economia de invenções, que podem ser novas técnicas para produção de bens já existentes, ou para a obtenção de novos produtos. Mas compreende, também, renovados métodos de organização empresarial, transformação dos canais de distribuição de bens, como o aparecimento dos supermercados e dos centros comerciais, substituindo as tradicionais lojas de rua e abertura de mercados para 10– ROSTOW (1961), p. 16. 392 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico compra e venda de mercadorias elaboradas e de matérias-primas, o que nos faz relembrar o bicentenário da emblemática data de 28 de janeiro de 1808. Em nossos dias tornaram-se usuais os termos técnica e tecnologia, por vezes acompanhados de qualificativos para distingui-los em seus efeitos sobre a economia. Todavia não frequentavam o linguajar comum da época joanina, tanto assim que não constam do dicionário Morais Silva. Para substituí-los, José da Silva Lisboa valeu-se da expressão aplicação da inteligência nas artes e nas ciências, explicitando que sua difusão na sociedade multiplica as facilidades para a introdução e prosperidade de todos os estabelecimentos úteis em geral, em especialidade das fábricas.11 Cairu, ao considerar a inteligência indispensável no processo econômico, exemplifica, mas não a limita, com sua aplicação nas artes mecânicas e hidráulicas, com os serviços prestados às Artes e Ciências pela Física e a Química, e a importância da Economia Política para gestão da coisa pública. É preciso atentar que para Silva Lisboa as fábricas exigem operários inteligentes, como também os trabalhadores do campo manifestam muita indústria e inteligência rural, e os fabricantes de queijos e presuntos, vinhos e manteiga “são na verdade grandes artistas, ou para melhor dizer, tesouros da nação12”. A contradição aparente entre a necessidade de difusão das ciências e artes em país dominado pela falta de educação básica resolve-se na medida em que entre as artes deve incluir-se a gramática, assim considerada e verbetada por Antônio de Morais Silva, no já mencionado dicionário. O conceito de inteligência considera que esta faculdade humana compreende, em diferentes graus, além da capacidade de interrogar e de aprender, pelo estudo ou experiência, as de executar trabalhos especializados, realizar operações mentais para a recolha e seleção de dados, guardá-los na memória, ou dando-lhes a perenidade dos depósitos como 11– LISBOA (1999), p. 67. 12– LISBOA (1999), p. 44/45. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 393 Elysio de Oliveira Belchior o papel impresso, que a própria inteligência do homem criou, para relacioná-los quando preciso for encontrar soluções criativas de problemas teóricos ou práticos. Implica na busca de conhecimentos, para transformá-los em ações inovadoras, incorporá-los a instrumentos, equipamentos ou procedimentos. Sendo a inteligência fundamental para o avanço tecnológico, portanto para o desenvolvimento econômico, não é admissível a crítica de Sérgio Buarque de Holanda, ao dizer que José da Silva Lisboa, como expressão de uma cultura urbana, não podia deixar de atribuir lugar de primazia à inteligência na produção, isto é, àquele tipo de talento ornamental e declamatório que Cairu parecia admirar entre os brasileiros caracterizado pelo “amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e fácil, à erudição ostentatória, à expressão rara[...] ornato e prenda, e não instrumento de conhecimento e ação.13” Nada mais diferente do que o papel atribuído por Silva Lisboa no processo de produção. Dentro da linha de pensamento seguida, José da Silva Lisboa sublinhou, também, o papel da inteligência na diminuição do trabalho corporal, mediante o estudo da Natureza, para, aproveitando suas leis e forças, colocá-la a serviço dos homens, visando ao aumento de seu bem-estar. Segundo dizia, o trabalho corpóreo será usado o menos possível como de pouco efeito e valor e para obras de pouca fadiga, empregando-se para as grandes coisas sempre com preferência o trabalho da natureza, isto é, os agentes físicos, animais e materiais.14 Pretendia afirmar que o incremento do uso da inteligência nas atividades econômicas conduziria à substituição do trabalho do homem pelo da natureza, outra forma de dizer que o conhecimento científico promoveria a invenção e o emprego de máquinas, obtendo-se tecnologias mais 13– HOLANDA, (1946). 14– LISBOA (1851), p. 41/51. 394 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico intensivas de capital, com melhoria da produtividade, do que resultaria “a maior riqueza possível com o menor esforço possível”. Enunciava, com a linguagem da época, o que depois foi denominado de princípio hedonístico15, base do que hoje se exprime como otimização dos resultados do emprego de recursos escassos entre fins alternativos. Contudo, a aplicação da inteligência nas artes e ciências não se limitava à invenção de máquinas, que poderiam ser importadas. Nos dois casos as novas máquinas exigiriam capacitação, qualificação da mão de obra, formação de capital humano, tarefa difícil na época em que somente cerca de 3% da população era alfabetizada. Seria, por isso, necessário fomentar a imigração de colonos europeus para atender eventual aumento da procura de mão de obra qualificada depois de cessado o tráfico de africanos, combatido veementemente por José da Silva Lisboa como abominável negociação que há trezentos anos continuou a aumentar em grandeza e enormidade, e tem sido conduzido em circunstâncias da mais brutal barbaridade (que jamais se viu) nos anais da miséria humana.16 Transferência de tecnologia José da Silva Lisboa compreendia que o Brasil carecia não só de maior difusão da inteligência nas ciências e artes, ou mesmo do saber de experiência feito, do máximo Poeta lusitano, tanto como de outros requisitos que permitissem a instalação de fábricas “em grande”, e suplantar a letargia do período em que o Alvará de dezembro de 1785 abafou o início da indústria fabril na colônia. A revogação deste alvará, em abril de 1808, ao instaurar política liberal para a criação de fábricas, concedeu aos vassalos de Portugal ampla liberdade de implantá-las com qualquer dimensão, ramo escolhido e localização no País. Entretanto não esclarecera se os estrangeiros estariam habilitados a exercer as liberdades 15– “Todo ato econômico realiza-se sempre tendo em vista a máxima satisfação e o menor dispêndio de energia ou de matéria” PAULA (1942), p. 161. 16– LISBOA (1827), p. 246. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 395 Elysio de Oliveira Belchior outorgadas aos nacionais. Para Silva Lisboa, no Alvará “se declara ser tal indulto a benefício de todos os vassalos portugueses, mas não exclui os estrangeiros.17” O governo britânico admitia a prevalência da exclusão contra os estrangeiros. Tanto assim que nas instruções dadas a Lorde Strangford, negociador do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, consta a orientação de que se a parte portuguesa concordasse em garantir no Brasil todos os direitos que os súditos ingleses gozavam no território metropolitano, inclusive o privilégio de possuírem juízes conservadores, não seria preciso insistir sobre a questão da instalação de fábricas inglesas no Brasil, privilégio que o Ministério de Príncipe Regente relutava em conceder18. Instruções que tanto refletiam a capacidade de as fábricas da Inglaterra atenderem à demanda do mercado brasileiro quanto e/ou a constatação de que o Brasil ainda não reunia todos os requisitos indispensáveis para o início de um processo sustentado de crescimento, capaz de induzir a instalação de fábricas “em grande”. Diante da dúvida, Silva Lisboa sugeriu a divulgação de uma régia declaração esclarecendo que todos os estrangeiros provenientes de qualquer nação amiga seriam bem recebidos no Brasil, quando trouxessem indústrias, ciências e riquezas, sendo-lhes concedidas as imunidades e franquezas que o Governo considerasse justas, como estimulo à transferência de tecnologias e capitais19. Fundamentando-se no exemplo dos Estados Unidos, cujo processo de desenvolvimento após a Independência (1776) baseou-se na liberdade de comércio e indústria fabril, e na expansão do setor agrícola, pensava Cairu que a principal atividade econômica do Brasil deveria ser a agricultura e as fábricas a ela ligadas. Opção que não implicava em deliberada política ou planejamento econômico, nos termos da doutrina fisiocrática, mas como contingência decorrente de uma política que se baseara no “fecho” do comércio exterior e na supressão da atividade manufatureira, e ser notória a falta de instrução da população. Tampouco precisava ser a 17– LISBOA (1999), p. 135. 18– FREITAS (1958), v.2, p. 177. 19– LISBOA (1999), p. 135. 396 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico única atividade, porquanto o Brasil dispunha de condições para implantar muitas espécies de indústria rural, fabril, comercial, náutica, assaz produtivas, e mais convenientes às respectivas circunstâncias, e que todavia não tolhem o seu progresso e ascenso para estabelecimentos superiores, em devidos tempos, dando útil e pleno emprego ao povo.20 A ênfase na aplicação da inteligência em artes e ciências, como um dos requisitos essenciais do desenvolvimento econômico, acompanhou a vida intelectual de José da Silva Lisboa. Revelou-se no primeiro de seus livros dedicado à Economia Política, em 1804, e finalizou com o póstumo artigo Ensaio econômico sobre o influxo da inteligência humana na riqueza e prosperidade das nações, publicado, em 1851, na revista Guanabara, dezesseis anos após seu falecimento. Neste artigo, o visconde de Cairu, reafirmando em termos enfáticos o que já dissera em seus Estudos do Bem Comum e de Economia Política (1819), advertia que se os governos se convencessem de que da superioridade da inteligência é que vem a progressiva riqueza e prosperidade das nações, e ainda a maior e mais durável potência dos impérios [...] reconheceriam que era de seu interesse promover, pelos mais eficazes meios, a instrução de toda as classes em artes e ciências21 Não bastaria aos Governos, contudo, promoverem a instrução pública sem a complementar com estímulos aos que contribuíssem com o seu gênio para o Bem Comum, porquanto é “Ignomínia nacional, quando o governo deixe sem a competente indenidade e honra aos grandes inventores em artes e ciências, que são como os Prometeus e Atlantes dos Impérios22” José da Silva Lisboa, liberal à maneira de Smith, desde o alvissareiro 20– LISBOA (1899), p. 46. 21– LISBOA (1851), p. 41/51. 22– LISBOA (1999), p. 69. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 397 Elysio de Oliveira Belchior dia 28 de janeiro de 1808, percebera que abrir os portos do Brasil às Nações Amigas era uma ação, abri-los com a Corte portuguesa instalada no Brasil, outra bem diferente, pela impossibilidade dela “viver em colônia”. Não significava apenas abrir os portos à navegação e ao comércio amigos. Mas também abrir as portas às ideias amigas, à inteligência e com ela às ciências e às artes, que a visão de um novo império tanto reclamava. E elas realmente chegaram com estrangeiros sábios e experientes, que não mais precisavam percorrer a cidade e seus arredores, se permitido lhes fosse, acompanhados por sentinelas armadas. Vieram com cientistas, como Pohl, Martius e Spix, Saint-Hilaire; artistas, a exemplo de Debret, Le Breton, Taunay, Chamberlain, Landseer; desembarcaram com técnicos, artífices, engenheiros e arquitetos, como Varnhagen (pai), Zeferino Ferrez, Montigny, Pradier. As ciências, artes e experiência trazidas frutificavam nos estabelecimentos que d. João VI aqui deixou: a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, as Academias Militar e de Guardas-Marinha, de Medicina, de Belas Ares, e outros, como o pioneiro, malogrado e quase esquecido Colégio Real de Fábricas do Rio de Janeiro, de efêmera vida útil de um mês, por incapaz de resistir às “águas do monte”, vertidas pelo tremendo temporal de março de 1811, ameaçado de ser soterrado ao sopé do Morro do Castelo e sem que houvesse nem prédio adequado para recebê-lo nem contasse o Tribunal da Junta do Comércio, responsável pelo Colégio, com verba suficiente para construir nova sede e mantê-lo sem prejuízo da Fazenda Real23. Em discurso como constituinte de 1823, advogando a instalação do ensino universitário no Rio de Janeiro, tendo em mente sua formação em Coimbra e vivência no Brasil, ressaltou no plenário da Assembléia Constituinte ser experimentado que os que não fizeram estudos regulares nas Universidades, ainda que sejam muito estudiosos e provectos em qualquer ramo literário, sempre em toda vida sentem um vazio que nada supre, salvas as honoríficas e raras exceções de pessoas de extraordi- 23– BELCHIOR (1993), p. 7. 398 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 A inteligência e o desenvolvimento econômico nário talento, que são como estrelas de primeira grandeza.24 Se desta discussão não resultou a Universidade, pelo menos dela nasceram os cursos jurídicos instalados em São Paulo e Olinda. No fim de sua vida, o visconde de Cairu deveria sentir-se recompensado pela pregação ressaltando a importância da tecnologia no desenvolvimento econômico, aliás, para usar suas palavras, da difusão da inteligência nas ciências e nas artes. Pregação tão atual quanto há duzentos anos. Pregação característica de um ideal de vida que levou o professor José Luís Cardoso, Catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, a traçar o perfil do economista José da Silva Lisboa não só por acompanhar as linhas doutrinárias de Adam Smith mas sobretudo, por defender a idéia de progresso e de busca incessante da prosperidade e da felicidade social, da qual faz parte integrante a educação, a instrução pública, a produção e a divulgação do conhecimento científico e dos resultados da inteligência humana.25 Referências bibliográficas ANAIS DO PARLAMENTO BRASILEIRO. Anais da Assembléia Constituinte. Rio de Janeiro, H. J. Pinto, 1876/1896, 6 v. BELCHIOR, Elysio de Oliveira. Visconde de Cairu, vida e obra. Rio de Janeiro, CNC, 2ª ed., 2000. _________. O Colégio Real de Fábricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Revista do IHGB, v. 380, jul/set. 1993. CARDOSO, José Luiz. Portugal como problema – Economia como solução 1625-1820. Lisboa, PUBLICOFLAD, 2006, v. 5. COELHO, José Maria Latino. Elogio histórico de José Bonifácio de Andrada e Silva. Lisboa, Academia de Ciências, 1877. FREITAS, Caio de. George Canning e o Brasil. São Paulo, Cia. Editora 24– ANAIS (1876/1896), v. 4, p.172. 25– CARDOSO (2006), v. 5, p. 326. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 399 Elysio de Oliveira Belchior Nacional, 1958, 2 v. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Inatualidade de Cairu. Rio de Janeiro, Correio da Manhã, 17.03.1946. HOSELITZ, Bert F. Theories of economic growth. New York, Free Press, 1960. LISBOA, José da Silva. Estudos do Bem Comum e Economia Política. Rio de Janeiro, Impressão Régia, 1819. _______.Leituras de Economia Política ou Direito Econômico. Rio de Janeiro, Plancher Seignot, 1827. ________. Ensaio Econômico sobre o influxo da inteligência humana na riqueza e prosperidade das nações. Rio de Janeiro, Rev. Guanabara, 1851. ________. Princípios de Economia Política. Rio de Janeiro, Pongetti, 2a. ed., 1956. ________. Observações sobre a franqueza da indústria e o estabelecimento de fábricas no Brasil. Brasília, Senado Federal, 2ª ed., 1999. PAULA, Luís Nogueira de. Metodologia da Economia Política. Rio de Janeiro, Pongetti, 3ª ed., 1942. QUESNAY, François. Quadro Econômico, Lisboa, Gulbenkian, 1969. ROSTOW, Walt Whitmann. Etapas do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro, Zahar, 1961. SAINT-HILAIRE, Auguste. Segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1932. SCHUMPETER, Joseph A.. Teoria do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro, Victor Civia, 1980. SILVA, Antônio de Morais, Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 3ª ed. fac-símile, 1922, 2 v. SMITH, Adam. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. New York, Modern Library, 1939. VILHENA, Luis dos Santos. Cartas de Vilhena. Notícias soteropolitanas e brasílicas. Salvador, Tip. Oficial, 1922, 3 v. WEHLING, Arno, & WEHLING, Maria José. Formação do Brasil Colonial. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2ª ed., 1999. 400 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):387-400, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar O Brasil faz as pazes com o mar Helio Leoncio Martins1 O mar, em sua vastidão oceânica, conforme o uso que dele se faça, pode representar dois papéis contrários em relação às comunidades que o cercam. Ou se torna uma muralha difícil de transpor, separando-as, isolando-as, não permitindo contatos – ou é um caminho livre que as une, aproxima, elemento de globalização, para se usar termo moderno. O monopólio colonial português, evitando que o comércio da colônia mais rica dominasse a modesta capacidade da metrópole, proibiu sua ligação com o mar através dos portos. O que era mais um freio, além de outros, impedindo que a pujante colônia adquirisse posição de soberania. O ciclone napoleônico que agitou a Europa, ameaçando e derrubando dinastias, redesenhando novos países e substituindo antigos regimes, mudou essa situação. Por habilidade política, ou em fuga desabalada, ou ambos, o mar foi o caminho aberto pela potência naval inglesa, pelo qual se transferiu a sede de um Império e isolou-o da Europa conflagrada. E veio com a rainha louca, o regente tímido, a esposa furiosa, os príncipes meninos divertindo-se com o “passeio marítimo”, os nobres enjoando e sofrendo com a travessia. E com eles trouxeram o tesouro, a administração, os bens, a documentação nacional. A despeito dos inconvenientes e dificuldades provocados pela adaptação do primitivo Rio de Janeiro à invasão para a qual não estava preparado, a existência da Corte no Brasil e as medidas tomadas pela regência fizeram nascer uma nação. A primeira das decisões do regente, não tendo ele ainda chegado ao seu destino, o Rio de Janeiro, pois os ventos fizeram-no aportar em Salvador, foi talvez a que teve maiores consequências – a ligação do Brasil com o mar e seus caminhos, com a abertura dos portos aos navios de “qualquer 1 – Sócio Titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 401 Helio Leoncio Martins potência que se conservasse em paz e harmonia com a Corte Imperial”. A ideia foi iniciativa de um homem providencial: José Maria Lisboa, o futuro visconde de Cairu. Forte comerciante, estava bem ciente das limitações que o monopólio português impunha ao desenvolvimento brasileiro. Além disso, possuía adiantados conhecimentos de economia, seguindo os ditames liberais de Adam Smith. Sua argumentação, apoiada por Thomaz Antonio Vilanova Portugal, homem de confiança de D. João, e a ausência em Salvador dos políticos de maior influência permitiram a aceitação rápida das ideias de José Maria Lisboa. A 28 de janeiro de 1808, Carta Régia franqueando os portos do Brasil foi assinada. Incluía artigos vinculados à tributação. Os direitos aduaneiros para os navios estrangeiros seriam de 24% ad valoren, dobrando em relação ao vinho, à aguardente e aos azeites doces. As exportações eram livres, exceto a do pau-brasil. Na época, ainda não havia preocupações com os produtos do mar, a não ser, naturalmente, a pesca, de tipo artesanal, para consumo imediato. Mas aparece mais tarde legislação sobre dois itens que podiam ser semi-industrializados: o sal e a pesca da baleia. A Carta Régia não passou sem críticas contraditórias. Houve resistência dos comerciantes satisfeitos com o status quo e as delícias do monopólio. O órgão da imprensa, publicado em Londres, o Correio Brasiliense, de Hipólyto José da Costa, elogiou francamente a medida, mas lembrou que a liberalidade de Adam Smith não evitaria a intervenção estatal em alguns casos e que a influência inglesa no processo seria inevitável (como foi...). A José Maria Lisboa não agradou ter sido incluída a expressão “transitoriedade” na Carta Régia. Retroagir seria difícil, mas alguns acréscimos e cortes poderiam prejudicar o todo. Escreveu um livro esperando que as palavras impressas tornassem mais forte a decisão. Intitulou-o Observações sobre o comércio franco no Brasil, firmando seus princípios. Esse livro, simbolicamente, inaugurou a recém-criada Imprensa Régia. A primeira beneficiada com a abertura dos portos foi a Inglaterra. Entretanto não julgou estar o benefício à altura de seus serviços. Lord 402 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar Strongford, ministro inglês no Brasil, e outros mexeram-se e, em fevereiro de 1810, foi assinado o que deveria antes ser chamado “ditado” do que “Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e a Inglaterra”, que dava a esta última amplas vantagens de toda ordem, a começar com o pagamento de direito aduaneiro de 15% (menor do que o português, que passara a 16%), muitas “reciprocidades” não cumpridas, e imposições relativas à escravatura, à liberdade de religião, à jurisdição dos cidadãos ingleses no Brasil, à importação de manufaturados e, mesmo, à criação de um porto franco em Santa Catarina, que seria o entreposto comercial da Inglaterra, inclusive para negociar com as colônias espanholas do Prata. De imediato, a importação de manufaturados prejudicou, em parte, as intenções da Carta Régia que permitia a industrialização no Brasil. E o exíguo valor dos direitos pagos pelas mercadorias inglesas anulou uma possível concorrência dos Estados Unidos, que seria, na ocasião, o melhor parceiro comercial do Brasil. O auxílio estrangeiro em momentos críticos indiscutivelmente custa caro. Sempre me pareceu que a abertura dos portos não tenha sido tratada pelos historiadores com a devida profundidade. Este meu duvidoso julgamento foi confirmado com a autoridade de Rubens Recupero em artigo no livro Abertura dos portos, no qual escreve ... em relação à Abertura dos Portos, ninguém põe em dúvida sua importância capital, mas raros lhe dedicam mais do que algumas linhas perfunctórias. É data comemorada com exposições e festejos, mas relativamente pouco estudada. A versão conhecida, popularizada, é simples: com os portos abertos para a frequência de navios de todas as bandeiras, e não somente ao monopólio português, de muito auferiu o comércio da nova nação, com os consequentes resultados econômicos. Basicamente, essa versão é real. Entretanto há algo que não é muito enfatizado. A abertura dos portos foi acertada medida jurídica e política, que iria ter grande efeito no futuro. Mas, a seguir ao ano de 1808, houve um decréscimo do movimento coR IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 403 Helio Leoncio Martins mercial dos portos brasileiros, apesar de abertos, pela lógica razão de que não tinha quem os frequentasse. Portugal havia sido incluído no bloqueio napoleônico, que atingia toda a Europa desde 1806, e da mesma forma a França, a maior potência econômica da época, concorrendo com a Inglaterra. Esta última inicialmente aumentou suas exportações para o Brasil, aliás, de tudo que os comerciantes encontravam, até patins de gelo, trenós e fogões de aquecimento, mas restringindo as importações, pois muitos produtos brasileiros ela recebia de suas colônias. Mesmo o aumento do comércio inglês não compensou a diminuição do de Portugal, com decréscimo global do movimento alfandegário. Os números quantificando o que ocorreu de imediato à abertura dos portos são encontrados em farta documentação no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional. Todas essas fontes foram utilizadas (e outras, de Portugal e Inglaterra) por historiadores brasileiros, como J. J. Arruda e Roberto Simonsen, fidedignos no que informam em seus livros − O Brasil no comércio colonial e A colônia entre dois Impérios (do primeiro), e História econômica do Brasil (do segundo). E eles traduzem os dados colhidos em tabelas e gráficos, mais claros para apresentação visual. 404 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 405 Helio Leoncio Martins O aumento do movimento comercial dos portos tomou impulso em 1815, isto é, quando, Napoleão derrotado, no Congresso de Viena foi redesenhado o mapa político e geográfico da Europa, o bloqueio desapareceu e a potência europeia comercialmente mais poderosa, a França, canalizou sua provada capacidade produtora para a economia, em vez de alimentar as guerras. Nem tudo foi positivo para nós. Em razão do aumento da demanda criada com a Corte no Brasil, do próprio desenvolvimento do país e da concorrência dos produtos coloniais europeus, semelhantes aos que exportávamos, o déficit comercial com a França (e, possivelmente, com outros países) passou a ser enorme, com repercussões futuras na economia brasileira. Em 1834, a diferença era, só com a França, de 25 milhões de francos de importação para 11 milhões de exportação. Em sua luta pela recuperação dos mercados, agentes franceses espalharam-se pelo mundo, mas foram atraídos especialmente pelo novo império sul-americano, com um potencial pouco conhecido e explorado, merecendo ser descoberto. Os portos que poderiam utilizar estavam juridicamente abertos, mas, fisicamente, para atingi-los, faltavam estradas marítimas seguras para os navios que os frequentassem, e mesmo seus acessos eram duvidosos. Essa falta não é apontada pelos historiadores. Só uma referência a ela encontrei. Na Biblioteca Nacional há um amplo estudo feito por José de Araújo Ribeiro, visconde do Rio Grande, sobre o comércio França-Brasil na primeira metade do século XIX, e uma das dificuldades por ele apontada é o fato de os portos não terem sido bem preparados para receberem os navios franceses. Essa não existência de seguras estradas no mar ou de bom acesso aos portos define-se, em linguagem náutica, como não havendo cartas hidrográficas que os retratassem. Uma carta hidrográfica é um mapa do litoral, e do mar que com ele se limita até uma distância que atinja as profundidades oceânicas. A parte terrestre inclui todos os detalhes que podem interessar a um navegante, como pontos conspícuos e detalhes do contorno da costa. A parte marítima mostra as profundidades do mar, ou seja, as sondagens, o regime de marés, as qualidades do fundo, a influência da meteorologia, a situação magnética (muito importante na época em que só existiam as bússolas 406 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar magnéticas para orientação do navegante) e mais os perigos representados por bancos de areia, lajes e altos-fundos de qualquer espécie. Nessas cartas são traçados os caminhos, ou derrotas, seguros para os navios. E elas não existiam para a costa brasileira. Ou não são encontradas. Em Portugal foi criada, em 1797, uma instituição com o nome não muito sucinto de “Sociedade Real Marítima Militar e Geográfica para o Desenho, Gravação e Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares” desfeita com a mudança da Corte, mas 1200 documentos por ela produzidos vieram para o Brasil e foram entregues ao novel Arquivo Militar. Muitos deles devem ter voltado para Portugal, outros talvez perdidos, mas hoje lá ainda existem algumas cartas e esboços hidrográficos muito bem conservados, embora nenhuma carta de navegação. Utilizavase na época os chamados “roteiros” − uma descrição minuciosa dos caminhos marítimos anteriormente explorados −, em parte satisfatórios, mas não servindo para um navegante usar com a amplidão e facilidade de uma carta. E os portugueses, com seu monopólio, possivelmente não desejavam que os estrangeiros gozassem dessa vantagem. A navegação costeira empregava o que se chamava “sumacas”, embarcações de pequeno porte, transportando de 100 a 200 toneladas de carga, que não precisavam de cartas náuticas para seguir rotas repetidas. Esta falta de conhecimento dos mares costeiros do Brasil foi sentida pelos franceses quando quiseram ampliar suas áreas de comércio com a América do Sul, mesmo com as desvantagens fiscais, que só foram igualadas às inglesas em 1826. O governo francês, em 1818, enviou uma comissão hidrográfica para que carteasse toda a costa brasileira. Eram inicialmente dois navios, utilizando os equipamentos e as metodologias mais modernas da época, e hidrógrafos experimentados. Chefiava a comissão o almirante altamente prestigiado na Marinha francesa, conde Albin Reine Roussin, com passado notável na guerra com a Inglaterra. Em 1816, perdera-se no litoral africano uma fragata francesa tendo a bordo altas autoridades. E o choque que causou no país foi acrescido pela dúvida se teria sido o acidente consequência de falha R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 407 Helio Leoncio Martins hidrográfica ou por ineficiência do comandante. Para solucionar o problema, que assumiu importância nacional, tornou-se necessário detalhado trabalho hidrográfico, dele resultando a descoberta de perigoso banco de areia e o mapeamento de 400 quilômetros da costa africana, executado por Roussin, o que foi sua credencial para a tarefa que recebeu a seguir: o levantamento marítimo dos oito mil quilômetros do desconhecido litoral brasileiro. Os trabalhos de Roussin estenderam-se do Rio da Prata ao Cabo Norte, vencendo as dificuldades de se tratar de costa em grande parte inóspita, com penosos contatos, utilizando-se navios e barcos de propulsão vélica. As instruções recebidas chamavam especial atenção para acidentes causadores de naufrágios: os rochedos Manoel Luiz, no Maranhão, o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, e o arquipélago de Abrolhos, na costa da Bahia, o que mostra a preponderante preocupação com a segurança. Os segmentos da costa entre Santa Catarina e o Rio da Prata e entre o Maranhão e o Cabo Norte não foram considerados bem levantados e, por isso, mais tarde, outras duas comissões francesas, sob as chefias de Marius Barral e Tardy de Montravel, respectivamente, encarregaram-se de refazê-los. Resultaram dos trabalhos dos três 28 cartas marítimas, parte delas em escala apropriada para a navegação costeira, e outras dos portos ou passagens de navegação perigosa. 408 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 409 Helio Leoncio Martins 410 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 O Brasil faz as pazes com o mar No correr do século, a preocupação com a segurança da navegação aumentou com a mecanização dos navios. Essa mecanização trouxe a vantagem de, não havendo o contrapeso do velame, poderem os navios transportar mais mercadorias e as viagens serem mais frequentes e rápidas, pois não dependiam do vento. Mas o preço da sua construção era bem maior e, portando mais carga, tornavam-se mais valiosos; assim, a perda de um deles representava prejuízo considerável, aumentando, portanto, o valor do seguro. Há notícia de um armador norte-americano que se recusou a fazer seus navios aportarem no Maranhão por não considerálo bem carteado. Não foram encontrados nem nos arquivos brasileiros nem nos franceses qualquer tratado, convênio ou o que fosse que desse autorização para serem feitos esses levantamentos. Os chefes das comissões contatavam diretamente os presidentes das províncias e operavam com independência. Por fim, os Catálogos das Cartas eram oferecidos ao reinante da época, D. João e D. Pedro I. Nas recomendações feitas aos chefes das comissões, os levantamentos hidrográficos complementariam o interesse comercial de sobrepujar os concorrentes (leia-se Inglaterra). Tardy de Montravel, além de cartear a foz do rio Amazonas, penetrou tanto no Amazonas quanto no rio Madeira. Em carta ao cônsul francês no Pará, informou que teria conseguido instalar entrepostos na margem esquerda do Amazonas, tendo a margem direita sido ocupada pelos ingleses. Também havia referências à proteção dos franceses nos movimentos políticos internos do país, como a Revolta dos Balaios, no Pará, e a abdicação de Pedro I, no Rio de Janeiro. Tais cuidados levaram à criação, em 1821, da Estação dos Mares do Brasil, com diversos navios de guerra, cujo primeiro comandante foi exatamente Roussin. Nessa função, Roussin teve nova aproximação com as autoridades brasileiras, desta vez não muito pacífica. No bloqueio do Rio da Prata, mantido na Guerra Cisplatina, travada entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata (futura Argentina), haviam sido capturados sete mercantes R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 411 Helio Leoncio Martins franceses que procuravam rompê-lo. A França julgou que os apresamentos não estavam conforme as regras do bloqueio e enviou uma esquadra, sob o comando de Roussin, à Guanabara, para levar as presas de volta, conforme prática habitual na época da “política das canhoneiras”. Mas Roussin e D. Pedro I, antes de qualquer ação hostil, com base em suas anteriores relações hidrográficas, chegaram à conclusão de que três dos mercantes podiam ser liberados, pagando o Brasil indenização, e quatro continuariam apreendidos. Em um minucioso e extenso trabalho de Thomaz Vilanova Portugal, também existente na Biblioteca Nacional, o qual inclui os números do comércio brasileiro de 1808 a 1820, verifica-se que, em 1810, frequentavam os nossos portos navios de poucos países − da Europa, apenas a Rússia, a Itália e a Suécia, possivelmente furadores do bloqueio napoleônico. De 1816 em diante, o número de diferentes bandeiras estrangeiras panejando nos portos de Belém, São Luiz, Recife, Salvador e Rio de Janeiro multiplicou-se. Iniciada pela abertura dos portos, consolidara-se a ligação do Brasil com o mar, do qual iria sempre depender devido à sua extensa e importante vizinhança. Seu conhecimento, retratado pelas cartas hidrográficas, fixando as linhas de navegação com segurança, facilitou o comércio internacional e mesmo a integração nacional, em época de raras comunicações terrestres. Embora a abertura de estradas no mar brasileiro tenha sido iniciativa francesa, foi fator importante − apesar de não haver menção histórica desse fato −, no mesmo nível das outras medidas do governo da regência, transformando o Brasil de colônia em nação soberana. 412 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):401-412, jan./mar. 2009 Ensaios históricos e saborosas inconfidências diplomáticas VI – RESENHA Ensaios históricos e saborosas inconfidências diplomáticas Vasco Mariz analisa fatos relevantes da política internacional e da política externa brasileira Temas da Política Internacional: ensaios, palestras e recordações diplomáticas, de Vasco Mariz, Topbooks, 431 páginas. Antônio Celso Alves Pereira1 Experiência diplomática, arguta observação, análise política precisa e, sobretudo, cultura humanista e senso de humor estão presentes nas páginas desse novo livro de Vasco Mariz, diplomata, escritor, musicólogo, lexicógrafo e historiador, que, durante 42 anos, ocupou importantes postos na diplomacia brasileira. Serviu em Portugal, sob Salazar, na Iugoslávia de Tito, na Argentina de Perón, no consulado em Nápoles e, por duas vezes, nos Estados Unidos. Além disso, foi representante do Brasil na OEA e embaixador no Equador, em Israel, em Chipre, no Peru e na extinta Alemanha Oriental. Embora reunindo recordações e depoimentos pessoais, não se trata de um livro exclusivamente de memórias. O autor oferece ao interessado em política internacional um quadro analítico de temas que estiveram, e muitos ainda estão, na ordem do dia da grande política mundial. Suas reminiscências do tempo em que servira na ONU são interessantíssimas. A análise do drama do Oriente Médio, que ele viveu de perto como embaixador em Israel durante 5 anos, conforma um texto atual e imprescindível para a compreensão do problema. Da mesma forma, o leitor encontrará 1 –1Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e ex-reitor da Uerj. R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):413-416, jan./mar. 2009 413 Antônio Celso Alves Pereira informações e detalhes pouco discutidos, ou mesmo ignorados, sobre a unificação alemã, especialmente sobre a antiga República Democrática Alemã. Na cerimônia de entrega de suas credenciais ao presidente da RDA, o comunista Erich Honecker, Vasco Mariz mencionou a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Honecker mostrou-se visivelmente surpreendido, pois não sabia que o Brasil lutara contra as tropas nazistas na Itália. Ainda sobre sua atuação na Alemanha, não se pode deixar de ler, nos Apêndices, às páginas 380/382, o texto intitulado: “O sindicalista Lula na RDA, ou saudades de uma bonita gravata francesa”. É interessante salientar que vários episódios completamente desconhecidos da história diplomática brasileira, fatos que, segundo o autor, “ainda podem ser considerados confidenciais”, são por ele expostos e esclarecidos. Os acontecimentos descritos às páginas 111/114, sob o título “O dia em que o Brasil salvou o Marechal Tito”, eu nunca os vi registrados em qualquer texto sobre a nossa política externa. No Itamaraty, melhor dizendo, em qualquer chancelaria, por envolverem os negócios diplomáticos interesses e razões de Estado, vigora uma espécie de silêncio obsequioso, que obriga o diplomata a manter a maior discrição em sua vida pessoal e em sua atuação profissional. Vasco conta como fora espinafrado pelo embaixador brasileiro na Itália, Alencastro Guimarães, porque, cônsul em Nápoles, aceitara o convite do diretor da Ópera local para fazer parte do elenco de La Gioconda, no papel de Alvise Badoero. Vasco cantou e agradou. Aposentado desde os anos 90, declara-se agora à vontade para manifestar-se, como historiador, sobre sua vivência diplomática. Nessa linha, evoca, entre outros episódios, dois delirantes projetos imperialistas do então presidente Jânio Quadros: “abrir um janela para o Caribe”, isto é, provocar uma revolta no Suriname, anexar ao Brasil parte do seu território e comprar a Guiana francesa (págs. 293/296); e, em sua política para a África, “incorporar Angola ao Brasil”. (págs. 171/173). Essas maluquices não prosperaram porque tínhamos à frente do Itamaraty a figura ilustre do notável estadista e grande brasileiro, Afonso Arinos de 414 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):413-416, jan./mar. 2009 Ensaios históricos e saborosas inconfidências diplomáticas Melo Franco, que, naquela altura, em plena Guerra Fria, implantara no Itamaraty uma renovada, vigorosa e independente política externa. Vasco Mariz trabalhou com Roberto Campos ao tempo que este fora embaixador em Washington. Acumulava as funções de direção dos setores cultural e de imprensa da embaixada. Nessa situação, foi testemunha e participou ativamente dos esforços da diplomacia brasileira para tentar anular a antipatia que o governo norte-americano, pelas conhecidas razões ideológicas, nutria pelo governo João Goulart. No capitulo intitulado “Na Corte do Presidente Kennedy”, Mariz descreve, com detalhes, episódios interessantes sobre a visita oficial do presidente João Goulart, em abril de 1962, aos EUA. Além de uma minuciosa análise das questões que, naquela altura, compunham nosso contencioso político e comercial com os Estados Unidos, o autor comenta os momentos mais importantes dos encontros de Jango com Kennedy, ao mesmo tempo em que traz à luz situações cômicas, que ocorreram nos bastidores dessa polêmica visita presidencial. Na sequência da narrativa de alguns fatos da política externa brasileira que não chegaram, em toda a sua extensão, ao conhecimento do grande público, Vasco Mariz revela detalhes das iniciativas ordenadas pelo governo militar para impedir a concessão do Prêmio Nobel da Paz de 1969 a Dom Helder Câmara. Este é um dos episódios mais tristes, mais lamentáveis, dentre os absurdos e violências perpetrados pela paranóia ideológica da ditadura militar. O autor, à época, era chefe do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Confessa que, por dever de ofício, cumprindo ordens diretas do secretário geral do Itamaraty, embaixador Jorge de Carvalho e Silva, convocara os embaixadores da Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, para pedir-lhes “que solicitassem a seus governos, a título excepcional, que interviessem junto à Fundação Nobel para evitar a escolha”. Dias depois, o Itamaraty fora informado pelos citados embaixadores que seus governos não interfeririam no assunto. O caso saiu da esfera diplomática e passou diretamente para a presidência da República. As pressões, fortíssimas, passaram a ser econômicas, sobre as multinacionais nórdicas no Brasil (Volvo, Scania R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):413-416, jan./mar. 2009 415 Antônio Celso Alves Pereira Vabis, Ericsson, Facit e Nokia). “A mensagem – escreve Mariz – foi bem entendida nos países escandinavos” e o prêmio foi concedido à Organização Internacional do Trabalho. Vasco Mariz é uma pessoa de trato ameno, extremamente gentil, que encanta seus interlocutores. Estas qualidades muito o ajudaram em sua vida profissional e o aproximaram de importantes líderes mundiais e de destacados políticos brasileiros. Vale a pena ler os perfis que ele traça, na presente obra, das personalidades com as quais convivera em quase meio século de vida diplomática, reunidos, sob o título Variações, ao término de cada capítulo. Escrito em linguagem clara, em estilo elegante, Temas da Política Internacional – ensaios, palestras e recordações diplomáticas, de Vasco Mariz, livro cuja leitura recomendo com prazer, constitui, ao mesmo tempo, valiosa contribuição à bibliografia brasileira sobre política internacional e sobre a história da política externa do nosso país. 416 R IHGB, Rio de Janeiro, a. 170 (442):413-416, jan./mar. 2009 NORMAS A Revista do IHGB aceitará trabalhos, sob a forma de artigos, resenhas, transcrições de fontes comentadas, conferências e comunicações com perspectiva histórica ou historiográfica, que serão encaminhados à apreciação de pelo menos dois pareceristas do Conselho Editorial. Os trabalhos deverão ser originais mas em casos especiais será aceita a publicação simultânea em outras revistas estrangeiras ou nacionais. As traduções serão acompanhadas da autorização do autor. Os artigos deverão conter título, autor(es), crédito(s) do(s) autor(es), endereço para correspondência incluindo telefone, fax, e/ou e-mail, etc, acompanhados de um resumo e abstract de no máximo 10 linhas e 3 palavras-chave em português e em inglês. Devem ser apresentados em 2 (duas) vias impressas e acompanhadas de disquete ou CD sendo que em 1 (uma) os dados deverão estar ocultos. Programa Word for windows ou compatível. Quaisquer figuras devem ser enviadas em arquivos separados do texto para serem devidamente editadas embora também constantes das vias impressas para a localização correta conforme designação do autor. Todos os trabalhos serão submetidos a dois pareceristas. Havendo pareceres contrários haverá um terceiro para desempate. A digitação deverá seguir as seguintes especificações: Fonte: Times New Roman 12, folha A4 e espaço simples. O parágrafo deverá ter um recuo de 1 cm. As notas deverão ser colocadas em pé de página. Se contiverem todas as referências bibliográficas de que o autor se serviu fica dispensada a repetição da bibliografia ao final. Normatização das notas de rodapé: - Livro: SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico. Edição (se não for a primeira). Cidade: Editora, ano, p ou pp. Ex. : CASTELLO BRANCO, Carlos. Retratos e fatos da história recente. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1996, 206 p. - Artigos de revistas ou capítulo de livro, ou parte de obra coletiva: SOBRENOME, Nome. “Título do artigo (entre aspas)” In Título do periódico em itálico, volume e/ou número do periódico, local de publicação, data de publicação, número(s) da(s) página(s). Ex.: SOIHET, Rachel. “O drama da conquista na festa: reflexões sobre resistência indígena e circularidade cultural” In Estudos Históricos, vol. 5, n 9, Rio de Janeiro, 1992, pp. 44-59. - Outros documentos: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil – 1995. Rio de Janeiro: IBGE, 1996. A publicação e comentários sobre documentos inéditos seguirão as normas especificadas para artigos. Cabe à Comissão da Revista a decisão referente à oportunidade da publicação das contribuições recebidas. ESTA OBRA FOI IMPRESSA PELA FÁTIMA FRANKLIN ED., RIO DE JANEIRO/RJ, EM 2009, COM UMA TIRAGEM DE 700 EXEMPLARES A Fátima Franklin Editora limitou-se a executar os serviços de impressão e acabamento desta obra.
Download