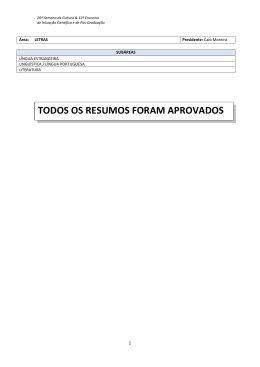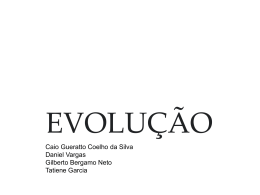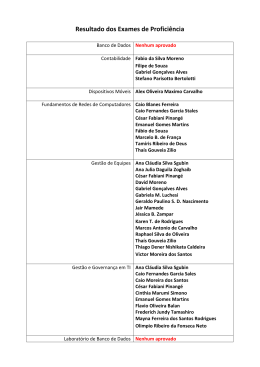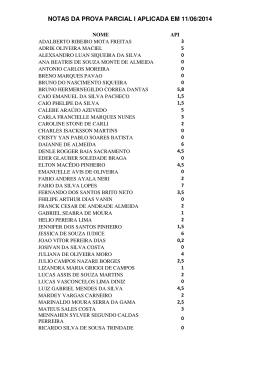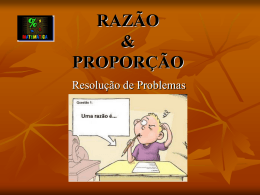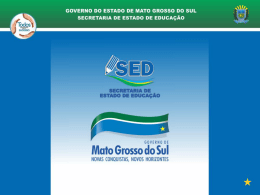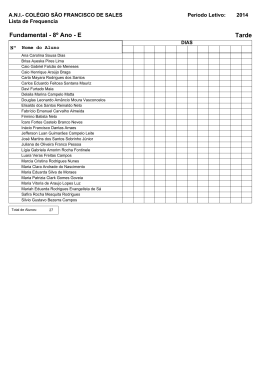1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO JOSÉ HUMBERTO TORRES FILHO Eles têm asas e querem voar: a experiência urbana dos dragões de Caio Fernando Abreu Rio de Janeiro 2011 2 ELES TÊM ASAS E QUEREM VOAR A experiência urbana dos dragões de Caio Fernando Abreu José Humberto Torres Filho Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Mestre em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira). Orientador: Profa. Doutora Rosa Maria de Carvalho Gens Rio de Janeiro Março de 2011 3 Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira). Examinada por: _________________________________________________ Presidente, Profa. Doutora Rosa Maria de Carvalho Gens _________________________________________________ Prof. Doutor Godofredo de Oliveira Neto – UFRJ _________________________________________________ Prof. Doutor André Bueno – UFRJ _________________________________________________ Prof. Doutor Adauri Bastos – UFRJ, Suplente _________________________________________________ Profa. Doutora Marta Alckmin – UFRJ, Suplente Rio de Janeiro Março de 2011 4 5 Sobre o focinho de escamas, o olho se abre e se fecha, e é esse olho “evoluído”, dotado de olhar, atenção, tristeza, que dá a idéia de que um outro ser se esconde sob aquela aparência de dragão: um animal mais semelhante àqueles nos quais depositamos confiança, uma presença viva menos distante de nós do que parece... Italo Calvino, Palomar Quero outra vez um quarto todo branco e um par de asas. Mesmo de papelão. Caio Fernando Abreu, Ovelhas negras 6 RESUMO Eles têm asas e querem voar: a experiência urbana dos dragões de Caio Fernando Abreu José Humberto Torres Filho Orientadora: Prof. Dra. Rosa Gens O presente estudo tem por objetivo oferecer uma leitura da obra Os dragões não conhecem o paraíso, de Caio Fernando Abreu, assumindo como fio condutor a experiência do homem habitante da metrópole. A visão crítica do autor concentra-se numa modernização que desvaloriza as relações humanas, subjuga a sensibilidade e a memória e sentencia à apatia os jovens dos anos 80. A percepção do espaço urbano revela-se comprometida pela construção arquitetural aparentemente sem limites e pelo acúmulo de imagens. A cidade de São Paulo, no fim do século XX, serve de cenário para as narrativas, embora o ambiente externo seja minimamente referido. Cinza e solitária, ela surge repetidamente contraposta a uma luminosidade que se ensaia enquanto desejo de transformação dessa realidade. A herança contracultural do autor o posiciona em direta oposição a essa sociedade uniformizadora e racionalizante. O campo, associado à natureza e à infância, funciona como espaço da memória, remetendo a valores de uma sociedade pré-capitalista. Palavras-chave: cidade; campo; contracultura; anos 80; ficção brasileira; Caio Fernando Abreu 7 ABSTRACT They have wings and want to fly: the urban experience of Caio Fernando Abreu’s dragons. José Humberto Torres Filho Supervisor: Prof. Dra. Rosa Gens This study aims to offer a reading of Os dragões não conhecem o paraíso, by Caio Fernando Abreu, assuming as a guide the human inhabitant’s experience of the metropolis. The author’s critical view is concentrated on the modernization process which devalues the human relations, subjugates sensitivity and memory and sentences the apathy of the 1980s youth. The perception of urban space seems to be compromised by the apparently limitless architectural construction and the accumulation of images. The city of São Paulo in the late twentieth century serves as a scenario to the narratives, although the external environment is minimally described. Lonely and gray, the city is repeatedly contrasted to luminosity that means a desire to change that reality. The author's countercultural heritage stands in direct opposition to that standardizing and rationalizing society. The countryside, associated to nature and childhood, works as memory space, referring to values of a pre-capitalist society. Key words: city; country; counterculture; 1980s; Brazilian fiction; Caio Fernando Abreu 8 AGRADECIMENTOS À Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tão carinhosamente me recebeu durante esses dois anos. À Rosa Gens, que de imediato aceitou orientar esta pesquisa com um sorriso acolhedor diante da proposta de trabalhar com Caio Fernando Abreu. Aos professores, que com seus cursos me proporcionaram, além do conhecimento, o contato com colegas brilhantes. Aos funcionários Laelson e Ângela, pela paciência que demonstraram em guiar-me pelas burocracias que a academia por vezes nos reserva. A meus pais que continuam apostando suas fichas nessas letras. A meus amigos de sempre, pelo apoio, carinho e palavras de estímulo, especialmente Viviane Souza, Germana Rodrigues e Fagner Silveira, pela revisão que realizaram deste trabalho. A Eliane Alves e Érico Muniz, amigos que esta cidade me proporcionou e que em vários momentos foram também um pouco minha família. A Vinício Brígido por ter sido um ouvinte tão atencioso e novamente a voz mais grave que poderia me aconselhar. À CAPES, pela bolsa de estudos. 9 SUMÁRIO Introdução ...................................................................................................... 10 Capítulo 1: O magnésio explodiu em claridade ......................................... 16 1.1. Cego na cidade cega ............................................................................ 23 1.2. A linguagem cinematográfica ................................................................ 29 Capítulo 2: Moloch incompreensível prisão ............................................... 40 2.1. Saia da frente da minha luz! ..................................................................... 52 Capítulo 3: Em rua em vão ........................................................................... 67 3.1. Campo e cidade ....................................................................................... 77 Considerações finais .................................................................................... 88 Bibliografia ..................................................................................................... 92 Apêndice: Nada a falar, só a mostrar ..........................................................102 10 INTRODUÇÃO Este trabalho analisa a produção do autor gaúcho Caio Fernando Abreu a partir da representação da vida do homem urbano do final dos anos 80. A cidade contemporânea de que trata o autor é uma São Paulo escura, incrivelmente vazia, cuja lógica conduz o sujeito a uma solidão aparentemente irremediável. Publicado em 1988, Os dragões não conhecem o paraíso, livro de Caio que funciona como fio condutor para a discussão aqui proposta, apresenta a imagem de um Brasil atordoado, poluído, vivendo uma modernização violentamente desumana. Logo no primeiro conto, uma folha de jornal estampa a manchete: “País mergulha no caos, na doença e na miséria” (2005, p. 22). O olhar pessimista sobre o país, redemocratizado havia pouco, volta-se para o homem, focalizando as misérias pessoais dessa gente quase sempre anônima. A escolha pelo estudo da vida nas cidades nasceu justamente do desejo de compreender a produção de Caio Fernando a partir dessa, que é uma de suas facetas mais fortes, a política. Sua ficção é responsável por alguns dos mais importantes momentos de lucidez crítica com relação à experiência da opressão pelo regime militar na prosa brasileira e, conforme observa o professor Jaime Ginzburg (apud DIP, 2009, p. 137), ainda está para ser melhor compreendida nesse sentido. Longe de apresentar-se apenas como testemunho ou puro relato de um período histórico, a escrita de Caio Fernando revela uma linguagem rigorosamente trabalhada, apostando na sutileza de metáforas bem construídas, definindo um caminho crítico que se concentra no sentimento do homem, sempre em busca de uma transformação. Principalmente a partir da publicação de Os dragões não conhecem o paraíso, o autor transcende a questão da ditadura e assume um posicionamento crítico em relação ao capitalismo, ressaltando sua natureza excludente. Surge aqui o protesto relativo à mecanização da vida, à reificação das relações sociais, à dissolução de um passado ligado a tradições pré- 11 capitalistas. Nesse sentido, o tema da cidade revela-se inescapável. O principal símbolo da crítica ao progresso técnico assumida por Caio Fernando reside justamente nesse “testemunho vivo do legado da história” (FABRIS, 2000) chamado cidade. É no ambiente urbano por excelência que se sente mais agudamente as conseqüências do desenvolvimento do sistema capitalista e da Revolução Industrial. O signo do progresso transforma o espaço citadino, dando origem a uma cidade que se dispersa, ultrapassando suas próprias fronteiras, sentenciada a um gigantismo crescente. O caos da metrópole leva seu habitante a viver num permanente auto-aniquilamento. Na obra de Caio Fernando, a representação da cidade labiríntica é assumida reiteradamente, invocando sempre a imagem do homem perdido, abandonado. Curiosamente, em nota ao leitor, ele define Os dragões como um livro sobre o amor – “amor e sexo, amor e morte, amor e abandono, amor e alegria, amor e memória, amor e medo, amor e loucura” (2005, p. 19). A cidade que ele nos apresenta, no entanto, evoca a todo instante a dispersão que não oferece espaço para o sensível, a impossibilidade de comunicação, compreensão. Márcia Denser não deixa de observar que se trata, na verdade, de um livro “sobre o que o amor não é” (2005, p. 9), revelando uma concepção de amor por parte de Caio distante da solaridade do sentimento, apoiando-se numa visão sombria catalisada pelas relações com a morte, o abandono, a memória, o medo e a loucura. Ela lembra que esse amor “sinistro e noturno, representado sempre como maldição, nunca benção” (idem), é o amor tal como era vivido por ele próprio. Caio Fernando, de fato, é um autor cuja produção revela-se indissociável da biografia, um pouco como Oswald de Andrade ou ainda o cubano Reinaldo Arenas, por quem possuía profunda admiração. Nesta análise, optei por não dedicar um tópico específico voltado para os aspectos biográficos no intuito, é claro, de conferir certa fluidez para o texto, mas, sobretudo, de abordar as incontáveis relações entre ficção e realidade em diálogo direto com outros elementos interpretativos, compondo uma teia capaz, assim espero, de dar conta da complexidade das narrativas. 12 A morte de Caio, em fevereiro de 1996, aos 47 anos, interrompeu uma carreira de ficcionista exemplar. Ele se descobriu doente em 1994, em pleno processo de internacionalização da sua obra que teve início em 1991 com as traduções francesa e inglesa de Os dragões, chegando a disputar o Prêmio Laura Batttaglion com nomes como Philip Roth e Paul Auster na categoria melhor romance estrangeiro traduzido com Onde andará Dulce Veiga?. Já internado com AIDS em um hospital de São Paulo, Caio partilha a experiência com seus leitores nas “Cartas para além do muro” – conjunto de crônicas publicadas em O Estado de S. Paulo. Ele passou os últimos dias de sua vida no tradicional bairro do Menino Deus em Porto Alegre cuidando do jardim da casa dos pais. A imagem de Caio já fragilizado ao lado de imensos girassóis, planta que acabou tornando-se um símbolo de sua escrita sombria em busca de luminosidade, conforme Italo Moriconi, não poderia ser mais significativa. Reunidas na antologia Pequenas epifanias, as crônicas de Caio Fernando mostraram-se fundamentais para a construção deste trabalho. Resgato Raúl Antelo, que, analisando os escritos de João do Rio, observa que a crônica é a própria alegoria da modernidade, por concentrar-se numa observação atenta do ritmo urbano. No caso de Caio, que sempre protagonizou uma relação autobiográficas, conflituosa possuem com o uma jornalismo, natureza as crônicas, “explicitamente além de literária” (GONÇALVES FILHO, p. 6). Em uma de suas mais belas crônicas, intitulada “Pálpebras ardentes”, ele situa o leitor numa tarde fria em plena Rua Augusta diante de uma mulher, encostada na porta de um bar, de cabelos e rosto exageradamente pintados, de minissaia. Trata-se de uma prostituta, “explícita, nada sutil, puro lugar-comum patético” (2006, p. 61), chorando, silenciosa, com a maquiagem escorrendo pela face, “meio palhaça”. Sozinha, ela não é notada por ninguém e parece não notar os demais, tão voltada para sua própria dor. O sofrimento dessa mulher se funde à realidade do Brasil, tantas vezes explorado, maltratado, abandonado. Assim, ele pergunta: “Quem consola aquela prostituta? Que me consola? Quem consola você, que me lê agora e talvez sinta coisas semelhantes? Quem consola este país tristíssimo?” (idem). Lembrando a cena final de “Noites de Cabíria”, de Fellini, o autor sugere que a 13 arte e a beleza talvez sejam as únicas expressões positivas que essa experiência poderia gerar. Essa crônica possui movimento que se apresentará em toda produção do autor, de uma valorização da sensibilidade como resistência à desumanização da metrópole. A primeira parte do título deste trabalho surge justamente a partir de uma crônica1 publicada à ocasião do lançamento de Os dragões não conhecem o paraíso, em 1988, em que Caio Fernando reitera a importância da loucura, do inconformismo como signos da liberdade de uma sociedade de classe média. Os dragões são figuras que simbolizam a renúncia desse paraíso oferecido pelo capital. As asas que eles possuem assumem a metáfora mais forte que comumente lhe é conferida, a da liberdade, que também pode representar a imaginação, a criatividade, o amor. “Eles têm asas e querem voar”, afirma o autor. Certa nuance melancólica se ensaia na dose de impossibilidade que o verbo “querer” carrega. De alguma forma, eles parecem presos – como os habitantes de uma cidade babélica –, desejando transcender a realidade urbana. Para realizar a leitura desses contos, apoiei-me basicamente nos escritos de Walter Benjamin, considerando sua intenção de recontar a história do ponto de vista dos vencidos2, a utilização da nostalgia do passado como crítica do presente. O método de resistência benjaminiano diante do empobrecimento das relações, da mecanização da vida baseia-se na delicadeza de uma linguagem essencialmente metafórica, apresentando uma visão crítica que procura restituir a sensibilidade que a vida na cidade pôs fim. Na primeira parte deste trabalho remeto-me ao trabalho de Benjamin sobre a modernização de Paris no século XIX, concentrando-me no papel que o olhar assume ainda na cidade moderna, da percepção das mudanças urbanísticas, do embate com a multidão. 1 2 O titulo da crônica é “Venham ver os dragões”. Ela está publicada na antologia Caio 3D: 80. Michael Löwy considera o caráter universal da proposição de Benjamin em privilegiar a versão dos vencidos: “não só a história das classes oprimidas, mas também a das mulheres – metade da humanidade –, dos judeus, dos ciganos, dos índios das Américas, dos curdos, dos negros, das minorias sexuais, isto é, dos párias – no sentido que Hannah Arendt dava a este termo – de todas as épocas e de todos os continentes”. (2005, p. 39) 14 Nesse momento inicial, procuro compreender a relação dialética que os elementos visível e invisível assumem na obra de Caio Fernando, considerando o consumo de imagens que o estilo de vida moderno impõe, as construções arquiteturais que limitam a sensibilidade do homem, representados por uma linguagem essencialmente visual. Os dois capítulos seguintes apresentam movimentos complementares e que, de alguma forma, sintetizam uma espécie de ritmo dos treze contos que compõem Os dragões não conhecem o paraíso. A estratégia narrativa de não priorizar a descrição de espaços externos oferece uma cidade representada a partir de espaços internos, tendo o apartamento e o bar como ambientes predominantes. Assim sendo, o capítulo seguinte trata daqueles personagens que estão isolados em casa. A janela, elemento que funciona como limiar entre o público e o privado, o externo e o interno, surge recorrente nesses contos. A paisagem que se ensaia de seus domínios desvela uma São Paulo sufocante, dominada pelo cinza do concreto. O envolvimento da produção de Caio com São Paulo é tão intenso que leva Moriconi a perguntar: “Caio é escritor gaúcho ou paulista?” (2002, p. 17). Em Caio, a representação dos símbolos da modernização vem sempre acompanhada da ausência humana. Trata-se de uma opção estilística. São nas sombras desse confinamento que ele parece indicar uma saída, mesmo que discreta. Identifico essa saída como a luz utópica que move sua literatura. Essa utopia tem raiz no movimento contracultural, que desponta no Brasil já sob a insígnia da desilusão. No terceiro e último capítulo, identifico o espaço do bar como um ambiente que mantém a atmosfera de transição típica da rua, concentrando suas contradições. À cidade como promessa de encontro com o outro, é contraposta mais uma vez a cidade dispersiva. A AIDS é representada como um elemento que trabalha a favor do isolamento. Essa cidade conduz o homem a uma valorização da relação com a natureza. O contraponto campo e cidade é aqui analisado, assumindo as metáforas que envolvem a fictícia Passo da Guanxuma como um refúgio da memória. 15 Algumas observações pessoais para concluir esta introdução. Descobri os escritos de Caio Fernando Abreu em fevereiro de 2006, após ler um especial de domingo do caderno “Vida & Arte” do jornal cearense O Povo dedicado exclusivamente ao autor. Desde o ano anterior à publicação do periódico, a obra de Caio passava a ser relançada pela editora Agir, marcando os dez anos de seu falecimento. Os fac-símiles das cartas, os títulos dos livros, as análises dos especialistas, difícil localizar no tempo o que exatamente me levou a ir além da leitura daquele jornal direto para as páginas de Morangos Mofados. De todo modo, realizei a leitura de boa parte dos livros de Caio Fernando no conforto e segurança da casa paterna, no coração do cartesiano bairro da Aldeota, a pequena aldeia fortalezense, tantas vezes modificada, vítima da incontrolável especulação imobiliária. Já a produção deste trabalho deu-se quase completamente no Rio de Janeiro, na confusa Copacabana de tantos estrangeiros. Estar em trânsito entre cidades ao longo de uma pesquisa que trata do homem deslocado, da memória, da solidão, conduziu-me a percepções inéditas de narrativas tão íntimas, só possíveis graças um olhar de estranhamento que, espero, também tenha influenciado meu texto de uma verdade muito pessoal. 16 CAPÍTULO I – O MAGNÉSIO EXPLODIU EM CLARIDADE Falta-lhe a disposição mais elementar para poder seguir os passos de seu primo digno e paralítico, ou seja, um olho! Um olho que realmente enxergue! E. T. A. Hoffmann, A janela de esquina do meu primo Considerada uma das mais remotas manifestações da tematização literária da metrópole moderna, a novela A janela de esquina do meu primo3, de Hoffmann, relaciona-se de maneira direta com a observação e a contemplação da vida urbana. A narrativa tem como fio condutor a visita do eunarrador à casa de seu primo, um escritor paralítico, que, do alto de sua janela situada diante de uma praça berlinense, observa a movimentação dos frequentadores de uma feira a céu aberto. Revelando uma multidão convulsiva, representada por diferentes cores e movimentos, como um campo de tulipas sacudido pelo vento, a vista panorâmica serve, sobretudo, para o exercício do olhar empreendido por aquele que visita o primo doente. Este personagem ensina ao visitante que é necessário certa sensibilidade para comungar a visão exterior com a interior, inaugurando “um olho que realmente enxergue” (2010, p. 16). A partir dessa concepção de um olho íntimo, o autor apresenta não por acaso o cenário de um amplo comércio, contemplando os passantes que compram, vendem, regateiam ou apenas flanam na feira. A escolha por um mercado como pano de fundo remete a uma representação crítica da cidade grande. O olhar, mais que adaptar-se a esse quadro tão confuso de pessoas, 3 Escrita em 1822, essa narrativa é considerada a produção mais fortemente autobiográfica do autor. Hoffmann a concebeu poucas semanas antes de morrer, no último estágio de uma doença que lhe privou o uso dos membros, obrigando-o a ditá-la ao enfermeiro que o acompanhou. Além da doença, outro importante dado utilizado a partir de circunstâncias pessoais é exatamente a vista panorâmica de seu apartamento de esquina diante do Gendarmenmarkt (Cf. MAZZARI). 17 precisa interpretar as ações, os gestos dos indivíduos. Dessa forma, as mulheres descritas logo no início da narrativa tornam-se elementos da ganância econômica, da inveja que rivaliza os comerciantes. A sociedade burguesa é representada pela figura de uma mulher, que, “embora haja lugar suficiente para passar, vai abrindo caminho às cotoveladas” (p. 18), desvendando também uma ácida perspectiva sobre o casamento, confundido com a administração de um negócio (Cf. Mazzari). Em outro caso, a jovem escarnecida pelas vendedoras por não ter o dinheiro suficiente para a compra de um lenço é contraposta a outra, “filha de um alto secretário de Fazenda” (p. 25), que, acompanhada por uma empregada, transparece a falta de intimidade com o ritmo da multidão. Walter Benjamin, no sétimo capítulo de “Sobre alguns temas em Baudelaire”, observa que o personagem de Hoffmann representa o homem privado que não interage com a multidão, isolado no ambiente doméstico, aproximando-o de valores conservadores que enaltecem a solidez da vida burguesa. Marcus Mazzari, em ensaio intitulado “Hoffmann e as primícias da arte de enxergar”, não deixa, entretanto, de ponderar que as observações do escritor paralítico sobre os indivíduos que frequentam a feira e a opção por retratar o mundo das mercadorias e de sua circulação definem uma decidida posição crítica sobre o mundo burguês. Benjamin, no entanto, a toma no intuito de lê-la em comparação ao conto O homem da multidão, de Poe, buscando estabelecer uma marca definidora para a figura do flâneur: a mobilidade na multidão. Figura multifacetada e essencialmente dialética, o flâneur é, antes de tudo, um caráter social típico da Paris do século XIX (Cf. Bolle), em seu deleite pelo espetáculo da metrópole, percorrendo suas vias sem objetivo específico, contracenando com uma multidão encantada pelo consumo, que disputa espaço com a paisagem que constantemente se modifica. O primo da novela de Hoffmann não poderia ser um flâneur exatamente por estar afastado da multidão, escondido no interior de seu apartamento. Sua condição de paralítico o impede de seguir o fluxo dos passos na feira. Além disso, Benjamin considera que Berlim não seria o cenário ideal para uma multidão moderna. 18 Sobre isso ele diz: “Se algum dia Hoffmann houvesse conhecido Paris ou Londres, se houvesse visado à representação da massa como tal, não se teria fixado, então, em uma feira” (p. 123). O flâneur, assim como o escritor de Hoffmann, é um solitário, mas vive sua solidão entre as pessoas. Ele precisa misturar-se a elas e ao mesmo tempo preservar sua privacidade. Essa ambivalência sobrevive no cenário das galerias parisienses, espaço privilegiado para o exercício de observação do ritmo urbano. Funcionando como uma cidade, ou ainda, como um mundo em miniatura, segundo Benjamin, as galerias eram um meio-termo entre a rua e o interior da casa, despontando como o lugar propício para o desenvolvimento da flânerie. Já o homem da multidão do conto de Poe também não poderia ser o tipo do flâneur justamente porque a ele falta o espaço livre encontrado nas galerias e o comportamento tranquilo – Benjamin o aproxima a um maníaco –, fundamental para o exercício de uma percepção aguda, que o faz se interessar vivamente pelas coisas, inclusive as mais triviais. Para Benjamin, Baudelaire é a verdadeira figura do flâneur. Seus poemas condensam a imagem do homem morador das grandes cidades que, além de observar, vive em seu cotidiano as intensas transformações consequentes do processo de modernização. O próprio Baudelaire não experimentou as mudanças a que Paris era submetida à distância. Enquanto a capital francesa seguia seu curso modernizador, sob o comando de Napoleão III e das construções e desconstruções de Haussmann, Baudelaire trabalhava na cidade, lado a lado com as multidões, nos bulevares. É no cenário das transformações urbanas que caracterizam a Paris do século XIX que a flânerie ganha espaço. No flâneur, conforme Benjamin, “o desejo de ver festeja o seu triunfo” (1989, p.69). Aqui o autor alemão ressalta que o olhar que esse homem lança sobre a cidade concentra-se na observação da vida urbana. Um olhar que resvala para a estupefação transforma o flâneur no basbaque, naquele que transita inerte pela metrópole, perdido em suas preocupações e pensamentos. O exercício gratuito do olhar é “o único capaz de satisfazer um espírito curioso, 19 de trazer alimento a um sistema nervoso eternamente crispado e alerta” (FABRIS, p. 70). A rua na flânerie passa a funcionar, portanto, como um dispositivo do olhar; e a cidade, por sua vez, revela-se imagem. Sobre isso Benjamin nos diz: “Aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante de nós torna-se imagem” (1989, p. 85). A paisagem dessa metrópole moderna se erige exatamente a partir da destruição de um presente que rapidamente transforma-se em passado remoto. A Paris do final do século XIX ganha configuração em um mundo ainda dividido entre as mudanças próprias da vida moderna e a forte presença de um espírito tradicional. O homem que flana era habitante de uma cidade cujas vias eram ainda estreitas e, no entanto, já tomadas por veículos. Na cidade contemporânea, o passado passa a fazer parte da malha urbana, sendo recuperado e preservado. Essa valorização do antigo divide cena com a destruição de instituições tradicionais, assim como, das mais belas realizações da própria cultura moderna (Cf. Berman). Não existe apenas uma multidão, trata-se agora de diversas multidões que fragmentariamente se cruzam frenéticas no espaço da cidade. Se, na Paris do século XIX, os pedestres já disputavam espaço com os veículos, no cenário atual, com as construções das avenidas expressas e autovias, o homem cede completamente território aos automóveis. A proliferação de signos na cidade contemporânea parece irreprimível. Berman compara Nova York a uma “floresta de símbolos baudelairiana”, lembrando que a cidade se transformou numa “produção”, num “espetáculo multimedia”, tendo o mundo como audiência. A maior e mais importante metrópole atual, continua Berman, é um lugar em que seus símbolos estão em incansável conflito uns com os outros, eliminando-se mutuamente. A concentração de símbolos monumentais é própria da estrutura de megalópoles, constituindo uma desordem visual que conduz seu habitante a uma “aventura da percepção cotidiana da cidade” (2005, p. 81). O olhar do flâneur, como o concebia Benjamin, já não encontra lugar no cenário da metrópole contemporânea. Os modernistas de hoje, observa Berman, orientam-se para espaços mais pessoais e privados que a rua. Observar a 20 cidade a partir de suas vias, como era o propósito do olhar desatento do homem que flana, torna-se tarefa impossível de ser realizada na cidade atual. A nova imagem urbana que se forma resulta em confuso palimpsesto. Nelson Brissac Peixoto considera a ação do olhar do homem citadino “um embate com uma superfície que não se deixa perpassar” (PEIXOTO, 2004, p. 85). A paisagem das cidades tem horizonte espesso e concreto. Da janela, o habitante descobre o muro do edifício em frente como única paisagem. No universo literário de Caio Fernando Abreu, o olhar humano ganha espaço privilegiado, revelando que viver em uma cidade que não se deixa contemplar nem ousa contemplar quem a habita resulta em aterradora solidão. Os olhos são elementos recorrentes em crônicas, cartas e contos do autor gaúcho, conduzindo o leitor a uma inevitável aproximação da realidade concebida por seus personagens. São Paulo, invariavelmente noturna e confusa, surge como a metrópole contemporânea que serve de cenário para suas narrativas, impondo-se inacessível ao olhar de seu habitante. Como estratégia narrativa, o autor distancia-se da descrição do espaço urbano, voltando-se para a dificuldade de perceber o outro, concentrando-se em personagens abandonados que assumem o movimento de encarar com certo ineditismo a cidade e, ao mesmo tempo, parecem despercebidos pelos demais. Em um de seus mais famosos contos, intitulado “Dama da noite”, a mulher que assume integralmente a narração parece propor ao boy, seu interlocutor, um exercício do olhar. “Agora quero falar na roda. Essa roda, você não vê garotão? Está por aí, rodando aqui mesmo. Olha em volta, cara. Bem do teu lado” (p. 84). Essa mulher anônima, de meia idade, sentada num bar qualquer, recorre à imagem de uma roda gigante para atestar seu isolamento. Os olhos do boy, integrante dessa roda que exclui sem piedade os que ousam diferenciar-se, estão viciados e não percebem o que para a dama da noite é tão evidente. Olhar em volta e reparar no outro parece tarefa difícil na metrópole. Para a dama da noite, deslocada que está no espaço urbano, lhe é impossível assumir outra visão da cidade senão a do lugar estranho. Em seu discurso pautado por certa desilusão e profunda revolta, essa mulher parece querer conduzir o olhar do boy ao estranhamento da sociedade. Marcados pela 21 posição de estrangeiros na cidade, os personagens de Caio Fernando têm a ação do olhar como preponderante, funcionando como recurso capaz de guiar o leitor a essa visão “esquerda”. Mais que um olhar de viés que se volta para a cidade, os personagens de Caio Fernando procuram um olhar que os olhe de volta. A dama da noite parece reiterar em seu discurso que estar fora da roda significa assumir-se opaca ao olhar dos demais. Nonato Gurgel, em ensaio publicado na revista Terceira Margem, ressalta a existência de um “olhar invisível” nos personagens que povoam a produção de Caio Fernando. Segundo ele, ao realizar a ação de observar um indivíduo, essas personagens não são percebidas por esse outro a ser observado, potencializando assim o sentimento de abandono que aflige o homem urbano. No conto “À beira do mar aberto”, o narrador-personagem revela: “teu olho bate em mim e se desvia, como se em minhas pupilas houvesse uma faca, uma pedra, um gume” (p. 39). A estética do olhar invisível assumiria exatamente o desvio inerente aos homens e mulheres que dominam as narrativas. Conferindo vitalidade a esse olhar solitário, a contemplação por parte dos personagens da própria imagem no espelho surge com recorrência. O filho que visita a mãe no conto “Linda, uma história horrível” busca os olhos dela ao longo da narrativa para que, desse encontro de olhares, uma troca possa realmente ocorrer. Trata-se de uma tentativa de captar um olhar que o olhe de volta. Ser visto, além de ver, é um desejo que domina essa personagem. O jogo de encontros e desencontros entre os olhos dessa mãe e seu filho marca o ritmo que conduz o conto e define a posição de incompreensão e abandono em que ele se encontra. No final da narrativa, descobrindo que seu intento em dividir a verdade sobre sua condição de soropositivo com a mãe seja talvez impossível, esse homem percebe que o único encontro que lhe resta é com seu próprio reflexo: “No fundo do espelho na parede da sala de uma casa antiga, localizou a sombra de um homem magro demais, cabelos quase raspados, olhos assustados feito os de uma criança” (p. 28). 22 A imagem que se revela no espelho parece não se mostrar inteiramente. O personagem do filho consegue avistar apenas sua sombra, vulto estranho que evidencia o desgaste de um ser desprotegido e sem chance de redenção. Em outro conto, intitulado “Saudade de Audrey Hepburn (nova história embaçada)”, o narrador em certo momento diz: “ele agora se interrompe para ir até o banheiro, onde olha a cara no espelho sem ver precisamente nada, fora os dois vincos cada vez mais fundos ao lado da boca” (p. 50). As pessoas parecem difusas, ou mesmo embaçadas, como sugere o subtítulo deste conto, diante da reprodução da própria imagem. O espelho surge nas narrativas de Caio Fernando como elemento capaz de dar vigor ao sentimento de isolamento que domina suas personagens. Eles estão perdidos, lutando para resistir ao embrutecimento que a metrópole impõe. Porém a vida na cidade parece não oferecer saída. Esse homem, incapaz de perceber seu próprio rosto no espelho, em certo momento se descobre “sobre o viaduto, onde perdido, caminhava sem poder escolher o lugar para onde ia. Porque os viadutos, você sabe, conduzem a um só lugar, independente de você querer ir ou não pra lá” (p. 50). Figura metonímica da cidade, o viaduto condensa a imagem do indivíduo atordoado, sem possibilidade de transcender essa realidade e a paisagem aprisionadora que lhe indica apenas um caminho a seguir. Nesse cenário, surgem os rostos que perderam a nitidez diante do sofrimento imposto pela vida urbana. A fisionomia desses homens acaba assim por revelar a fusão que aí existe com a paisagem da cidade que eles habitam. A arquitetura localiza suas casas, cidades, monumentos e fábricas, que funcionam como rostos numa paisagem que ela transforma. A pintura retoma o mesmo movimento, mas invertido, colocando uma paisagem em função do rosto, tratando um como o outro: tratado do rosto e da paisagem. (Deleuze; Guatari apud PEIXOTO, 2003, p. 73) 23 Difusa, imprecisa, a paisagem que essa metrópole contemporânea oferece aos personagens de Caio Fernando indica que talvez essa fixação pelo olhar esconda o medo da cegueira. Se os rostos desses homens evocam a paisagem da cidade, que imagem um espelho poderia revelar de suas fisionomias? Sombras e embaçamentos, parece nos responder o autor gaúcho. Como a Nova York de Berman, imersa na luta que envolve seus símbolos monumentais, a cidade que serve de cenário para as narrativas de Caio Fernando também parece aproximar-se cada vez mais dessa cegueira que envolve a todos. Como único resultado possível tem-se uma paisagem dominada pelo cinza do concreto, catalisador da desordem visual própria do espaço citadino. 1.1. Cego na cidade cega Como um papel fotográfico mergulhado em seus químicos, a metrópole moderna evidencia-se ao olhar, sugerindo contornos, ameaçando paisagens. Na revelação de uma fotografia, o surgimento quase mágico da imagem sobre o papel tem a luz como único instrumento capaz de transformar os microscópicos sais de prata em forma e textura, desvendando ângulos, enquadramentos. A cidade, por sua vez, deixa-se notar por seus outdoors luminosos, seus anavalhados arranha-céus, seus automóveis de faróis incandescentes, desafiando o olhar humano com o que lhe parece infinitamente maior. No processo fotográfico, no entanto, é preciso encontrar o ponto certo, um limite, para que a imagem que então desponta não se perca na escuridão de uma super-revelação. Para tal, utiliza-se novo produto químico, capaz de neutralizar aquela solução primeira, responsável pela mágica de transformar o nada em imagem. A metrópole que se oferece a seu habitante desconhece fórmula semelhante, encontrando-se fadada a uma revelação descontrolada que intervenção alguma poderia interromper. O encantamento urbano turva o olhar do habitante, lembrando que tanta sedução visual pode 24 encontrar seu ponto máximo na cegueira do homem, como uma fotografia abandonada em eterna revelação. O olhar que se volta para a cidade assume um embate com a superfície de uma paisagem que não se deixa perpassar. Trata-se de uma paisagem construída a partir de uma arquitetura que divide espaço com um emaranhado de imagens e seus diversos suportes. Susan Sontag diz que vivemos em um mundo-imagem, lembrando-nos que “uma sociedade torna-se ‘moderna’ quando uma de suas principais atividades passa a ser a produção e o consumo de imagens”(SONTAG, 1981, p. 147). Uma sociedade capitalista requer uma cultura com base em imagens. “A liberdade de consumir uma pluralidade de imagens e de bens é equiparada à liberdade em si” (p. 195). Sendo assim, Sontag considera as câmeras, além de um meio de se apropriar da realidade, um meio de torná-la obsoleta. O ponto extremo do pensamento de Sontag é uma sociedade sufocada pelo excesso de informação visual, encontrando o reflexo de sua claustrofóbica modernidade na paisagem urbana. Walter Benjamin, ao pensar sobre o fenômeno da fotografia, o encara como um atributo da vida moderna capaz de aproximar as massas da arte, mas, ao mesmo tempo, não esquece a contribuição que seu advento trouxe para o empobrecimento das relações humanas. Assim ele nos diz: “Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’” (1994, p. 119). Benjamin apontará ainda uma relação entre o avanço técnico da fotografia e a pobreza da experiência, lembrando-nos que, nos primórdios da invenção da câmera fotográfica, o modelo era obrigado a permanecer imóvel durante longo período, o que o levava “a viver não ao sabor do instante, mas dentro dele” (p. 96). Com o aprimoramento do aparato técnico, em uma fração de segundo a fotografia passa a ser produzida, e a experiência se esfacela. Esse avanço técnico mudará, sobretudo, a forma como as pessoas percebem a obra de arte e se relacionam com ela. Para Benjamin, o olhar descompromissado que as massas passaram a dirigir à arte permitiu que elas 25 absorvessem a obra de arte e não se diluíssem nela. Esse olhar distraído o autor chama de tátil e encontra na arquitetura seu exemplo mais evidente, por ser a arte que, há mais tempo, mantém relação com as massas. Otília Arantes, em ensaio intitulado “Arquitetura simulada”, ressalta, numa leitura de Benjamin, uma predominância absoluta do tátil em que culmina no cerceamento da experiência do homem. Assim, ela aponta que o contato das massas com a arquitetura é, desde sempre, eminentemente tátil, promovendo a construção de uma atenção descontínua e superficial. Dessa forma, afirma Arantes: “A ‘tatilidade’ beira aqui a cegueira”(1988, p. 269). A confiança que Benjamin depositava na tatilidade da cultura moderna converteu-se em vazio, no que Arantes chama de obscenidade: “o reino chapado da superfície” (idem). A cegueira que ela alude reside exatamente numa hipervisão de uma realidade já transmutada, exagerada, tratando-se de uma exposição tão absurda que cega, antes de seduzir. Nisso, como em outros pontos, a arquitetura se aproxima muito da fotografia. Nesse cenário, a vida do homem citadino se apequena diante da impossibilidade de uma troca verdadeira com o outro. Isolando-se em espaços fechados e observando a rua de longe, o indivíduo urbano se vê abandonado a uma solidão aparentemente irremediável. Caio Fernando explora esse sentimento ao inserir personagens atordoados no espaço da metrópole urbana. Cegos eles estão, abandonados em uma cidade que também não os percebe. O olhar desses homens e mulheres esbarra em monótonos tons de cinza, lembrando que, na vida daquele que habita a cidade grande, parece não haver espaço para a transcendência. “As cidades, mais do que qualquer outra paisagem, tornaram-se opacas ao olhar. Resistem a quem pretenda explorálas. (...) Tornaram-se uma paisagem invisível” (p. 25), diz Nelson Brissac. Diante de uma cidade que escapa à representação, Caio Fernando recusa uma descrição detalhada dessa paisagem voltando-se para seus habitantes e suas apropriações imaginárias do espaço (Cf. Jeudy). O olhar, além de não encontrar qualquer cumplicidade nos olhos de outro, também se perde ao encarar a metrópole. Nelson Brissac Peixoto, a partir de uma análise sobre o estado de cegueira que aflige o habitante da cidade, sinaliza nova 26 percepção sobre os rumos da tatilidade do olhar. Resgatando o trabalho do fotógrafo esloveno Evgen Bavcar, ele sugere que, talvez, a impossibilidade de ver possa sensibilizar o homem urbano. De repente, ver com as pontas dos dedos, com sons e aromas difíceis de classificar pode ser o caminho capaz de conduzir o habitante citadino à transcendência tão procurada pelos personagens de Caio. Evgen Bavcar é cego. Ele fotografa contra o vento. A imagem da coisa fotografada se forma a partir da força do vento que molda seu perfil, transporta seu cheiro e ruído, armando a visão do fotógrafo4. Trata-se de uma visão múltipla, que ultrapassa a confortável posição central ocupada pela retina. É exatamente o apelo a outros sentidos que o permite encontrar o visível na invisibilidade do vento. Esse deslocamento da visão resulta em absoluta entrega à sensibilidade. Ser vidente na metrópole contemporânea saturada de imagens, sufocada pela arquitetura frenética que se amontoa e se confunde, é conseguir “enxergar no visível sinais invisíveis aos nossos olhos profanos” (PEIXOTO, 2003, p. 40). No conto que dá título ao livro Os dragões não conhecem o paraíso, Caio Fernando Abreu metaforiza a vivência nesse ambiente de profunda escuridão e incerteza, recorrendo à imagem de dragões. Esses seres mitológicos surgem como contraponto ao homem banal, imerso em suas automáticas atividades cotidianas, limitado a uma realidade circunscrita ao que apenas se deixa apreender pelo olhar. Em certo ponto, o narrador-personagem nos diz: “Quem só acredita no visível tem um mundo muito pequeno. Os dragões não cabem nesses pequenos mundos de paredes invioláveis para o que não é visível”. Criaturas invisíveis, os dragões deixam-se perceber apenas por um forte aroma de alecrim e hortelã, e representam o incompreensível, o excêntrico, tudo o que parece não encontrar lugar em meio à vida urbana. 4 Em texto, Bavcar considera: “Não sou fotógrafo, mas iconógrafo, porque a imagem captada pela máquina fotográfica é sempre antecipada na minha cabeça, e assim constitui um ato mental. Deficiente da imagem visual física, tento exprimir, por meio da máquina fotográfica, as aparições que se formam dentro de mim e que, como tais, se tornam um pouco as imagens da transcendência invisível” (BAVCAR, 2003, p. 187). 27 Os dragões são como o vento capaz de oferecer todo um universo de percepções a Bavcar. Eles condensam a imagem daquele que se rebela diante de uma sociedade repressora e aniquiladora do belo e do sensível. Esses dragões aproximam-se dos bebês, donos de mundos muito largos, conforme o narrador, e se posicionam sempre do lado esquerdo das pessoas, o lado do sentimento. O homem que nos conta essa história de dragões protagoniza uma espera dolorosa por esses seres, revelando-se no final da narrativa incapaz de transcender o aprisionador paraíso que a vida urbana impõe. Então olhava para cima, para os lados, à procura de Deus ou qualquer coisa assim – hamadríades, arcanjos, nuvens radioativas, demônios que fossem. Nunca os via. Nunca via nada além das paredes de repente tão vazias sem ele (p. 135). Os dragões, o paraíso e a roda gigante do conto “Dama da noite” são algumas das metáforas que povoam o universo literário de Caio Fernando Abreu. Olgária Matos analisa a relação que Benjamin mantinha com a linguagem imagética em nome da desconstrução de uma evidência racional. A própria cidade é também um corpo metafórico explorado abundantemente pelo pensador alemão, o que leva a ensaísta a classificá-lo como um “filósofo da cidade na cidade” (p. 128). O racionalismo, no entanto, subtraiu toda a imaginação que se aliava à cidade, proscrevendo a metáfora. Nesse diapasão, afirma Matos, “Benjamin restitui potência de conhecimento à imagem, à alegoria, à metáfora, pois condensam aparência, ilusão, luminosidade e cintilância” (p. 129). Dessa forma, Benjamin adota como método a utilização de imagens como caminho alternativo para expor uma crítica mais atuante e reflexiva. As imagens de pensamento surgem então como fragmentos que se agrupam numa montagem surrealista num registro da experiência de vida na metrópole, “a escrita da cidade” (BOLLE, 2000, p. 297). Nesse horizonte, Caio Fernando insufla valor poético ao discurso de personagens marcados pela insígnia do abandono por meio de metáforas. A 28 roda gigante sai do universo lúdico dos parques de diversão para representar um sistema opressor, pautado na razão. Sua engrenagem trabalha para que o mesmo movimento se repita indefinidamente, num ciclo de automatismo assustador. Encontrar-se fora dessa lógica está longe de significar o ideal de uma liberdade pacificadora. Como uma criança esquecida pelos demais, a dama da noite posiciona-se fora da roda, observando seu movimento com a amargurada solidão dos esquecidos, desejando tanto, entre ímpetos de lúcida revolta, fazer parte dessa roda. A liberdade, parece constatar essa mulher, pode também ser aprisionadora, como um terrível brinquedo que não te permite desistir da diversão que oferece. Os dragões, figuras centrais do conto-título, representam o que está oculto, o misterioso, o imprevisível. Ao contrário daquilo que se mostra à vista, originalmente esses animais não fazem parte do cenário urbano. Saídos dos contos de fadas e das histórias de cavaleiros, eles invadem a cidade para marcar essa resistência a um mundo unicamente centrado na razão. Os dragões surgem na narrativa como signo do olhar estrangeiro, dos que não se submetem à força do sistema capitalista. Em depoimento, o próprio autor descortina essa cena metafórica: Quando eu falo de dragões eu falo do mito chinês daqueles animais fantásticos, que não existem e que eu acho que são muito semelhantes às pessoas ditas loucas, muito criativas e pessoas que não se adaptam simplesmente a trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma vida normal. Eu acho que estas pessoas são dragões e não conhecem o paraíso, que é o paraíso da gratificação burguesa, da gratificação do sistema forno de microondas, da casa própria. Esse tipo de dragão não conhece mesmo esse tipo de paraíso (ABREU apud DIP, 2009, p. 302-303). A imagem de um ser mitológico que recusa o paraíso cinzento e previsível corrobora o movimento assumido por Benjamin de um desvio da racionalidade, a favor da paixão da linguagem. A ambiguidade dos elementos 29 dragões, paraíso e roda gigante sintetiza uma ambivalência própria da obra de Caio Fernando. Uma relação dialética também parece marcar pontos extremos que perpassam os contos de Os dragões não conhecem o paraíso, como adaptação e revolta, visão e cegueira, efêmero e permanente, definindo seu ritmo. Apostando em elementos que obedecem, sobretudo, à fantasia para penetrar no real, o autor confere a sua ficção um profundo sentimento de vida mesmo ao distanciar-se da referência ao mundo exterior. A capacidade do texto de convencer dá-se mais pela sua organização própria do que por fatores aliados à realidade, atendendo a esse que é um paradoxo inerente à literatura (Cf. Candido, 2004). Dessa forma, pode-se assumir os dragões também como signo para o próprio fazer literário, dando vigor a um estranhamento poético. Trata-se de um projeto literário que se volta para a constituição de uma lucidez que percebe o mundo a partir do questionamento e da errância. 1.2. A linguagem cinematográfica Caio Fernando Abreu define Os dragões não conhecem o paraíso como um romance-móbile, em que os contos funcionam como partes que podem “completar-se, esclarecer-se” (p. 19). Para ele, o amor destaca-se como elemento comum entre as narrativas, fazendo-as transitar pelo tema, cada uma a seu modo, compondo uma espécie de unidade a partir desses fragmentos aparentemente desconexos. Os livros de contos de Caio Fernando em geral apresentam uma organicidade própria. As narrativas não se repetem em outras publicações, evidenciando a preocupação do autor em conferir singularidade a cada produção. Em seu primeiro livro de contos, O inventário do ir-remediável, publicado originalmente em 1970, ele apresenta os vinte e cinco contos que o compõem em quatro partes: Da morte, Da solidão, Do amor, Do espanto. Apesar de ser um dos livros mais fragmentados, a divisão em inventários menores confere alguma sistematização à disposição desses contos que não ultrapassam as cinco páginas. Aqui, Caio Fernando já sinaliza a discussão envolvendo os temas que marcarão tudo o que veio a escrever posteriormente. 30 Maria Adelaide Amaral, numa breve resenha do livro, ressalta o espantoso tom antecipatório desses escritos, “como se as palavras brotassem de um subterrâneo conhecimento” (2005, p. 11). O livro seguinte, O ovo apunhalado, de 1975, também apresenta organização própria. O autor recorre a nomes de estrelas para marcar a divisão dos contos, são elas: alfa, beta e gama. Os astros definem a estrutura do livro, estando de acordo com a atmosfera onírica que parece dominar os contos, indicando uma afirmação de pelo menos duas grandes influências literárias do autor: a produção latino-americana, concentrando-se na figura de Julio Cortázar, e Clarice Lispector, que, assim como Caio Fernando, nutria profundo interesse pelo universo místico. Já Pedras de Calcutá, lançado em 1977, é aparentemente o livro menos circunscrito a um projeto estabelecido. Seus contos segmentam-se em dois momentos, intitulados simplesmente de “Parte I” e “Parte II”, cada uma delas iniciada pelos contos “Mergulho I” e “Mergulho II”, respectivamente. Delineia-se aqui um ciclo de narrativas que dão conta da experiência da morte, da loucura, do imobilismo, do amor, temas centrais para toda a produção de Caio Fernando. Na próxima publicação, Morangos Mofados, de 1982, o rigor estrutural alcança talvez o seu auge. “O mofo”, “Os morangos” e “Morangos mofados” são as subdivisões que marcam esse livro, que trata das desilusões daqueles que vivenciaram o período da contracultura, mostrando-os vinte anos depois, amargurados e solitários, anestesiados diante do fim de um sonho que parecia tão real. No Mofo, segmento que abre o livro, os sentimentos de repressão e desespero chegam ao seu extremo, apresentando ao leitor imagens escuras de uma realidade inescapável. Seu ponto máximo encontra-se no conto “Luz e sombra” que fecha esse momento inicial, sendo seguido da narrativa “Transformações”, a primeira do segmento Os morangos. Como indica o título deste conto, as narrativas nesse estágio da obra vão revelar, ainda que sutilmente, que há possibilidade de redenção, que, mesmo em meio a tanta dor e abandono, é possível colher frutos saudáveis. Essa imagem se condensará no último segmento que também intitula seu único conto. Em “Morangos Mofados”, o personagem descobre que “frescos morangos vivos vermelhos” (p. 31 149) podem realmente brotar em pleno cimento da cidade, potencializando seu significado com a repetição de afirmações que fecha a obra, fazendo-nos lembrar um poema concreto que tivesse a força de enraizar uma ideia nas páginas de um livro: “Achava que sim. Que sim. Sim.” (p. 149) Em todas essas obras, o conto derradeiro intitula o livro, reforçando a idéia de uma organização lógica, objetivando alcançar um dado fim. Em Os dragões não conhecem o paraíso, não há divisões, o que acaba por dar força à ideia de um romance desmontável. Tomando como base comparativa o romance Onde andará Dulce Veiga?, nota-se que sua unidade é também fragmentada, apresentando 71 cortes ao longo dos sete capítulos, aproximando-se de um mosaico, como as pistas que um detetive – no caso do livro, um jornalista investigativo – deve aprender a decifrar e organizar. Renato Cordeiro Gomes, em breve análise do romance, ressalta essa estrutura ‘espatifada’ do livro: Declara este autor [Caio] que “a realidade que Dulce Veiga mostra é aterrorizante e louca; é um espelho talvez nítido demais do Brasil”. Este romance espatifado (a expressão é do autor) dramatiza a sua ação, camuflada de narrativa detetivesca (...), em São Paulo, a cidadeespelho do Brasil, refletindo nos fragmentos que se agrupam como um puzzle cujas peças não se ajustam perfeitamente. A cidade por onde circulam personagens variados e heterogêneos que compõem esta espécie de Babel, é também espatifada, é uma cidade contaminada. (Texto on-line) Cada fragmento é um marco, um trecho de um mapa que não funciona como guia, incompleto que está. Como uma Babel, confusa e sem lógica, o cenário fugidio das cidades grandes, marcado pela carga ilusória da sedução, ganha reflexo na própria linguagem de Caio Fernando. Para dar vitalidade a 32 essa cidade de espelhos em cacos, o autor recorre a um discurso erigido a partir do constante cruzamento com outras linguagens, como a publicidade, a fotografia, a música e o cinema. Como uma colagem de sons e texturas, temse a construção de um mundo que leva sua ficcionalidade ao extremo. De repente, como personagens de um filme meio B, como o subtítulo de Onde andará...? acusa, os homens e mulheres que se descortinam nessas páginas se aproximam também de atores, simulando a própria realidade. Apresentando a cidade contemporânea como um lugar em acelerado processo de apagamento, palco de uma vivência decorada pela efemeridade de imagens precárias, Nelson Brissac Peixoto sinaliza que: “A produção de um espaço artificial e fantasioso é tipicamente cinematográfico. As metrópoles de papelão, espelhos, bill-boards e luminosos constituem uma arquitetura de desaparição” (p. 1987, p. 177). Os personagens que habitam essa cidade-cenário apegam-se a experiências efêmeras, assumindo identidades imaginadas. Em “Os sapatinhos vermelhos”, Adelina, a secretária abandonada pelo amante, à medida que se veste para ir a um bar, usando seus sanguíneos sapatos vermelhos, tem a imagem construída a partir de referências a nomes como Liz Taylor, Lauren Bacall, Billie Holiday, Mae West. Essas mulheres emprestam à Adelina o ar de Gilda, a atriz escorpiana que ganha vida na simulação. Em certo ponto, essa aproximação da personagem com o cinema torna-se evidente quando o narrador nos diz: (...) falava como a dublagem de um filme. Uma mulher movia o corpo e a boca: ela falava. Um filme preto e branco, bem contrastado, um filme que não tinha visto, embora conhecesse bem a história. Porque alguém contara, em hora de cafezinho, porque vira os cartazes ou lera qualquer coisa numa daquelas revistas femininas que tinha aos montes em casa. (p. 69) 33 Como se a vida fosse um filme, com atmosfera noir e de cartazes espalhados pelos cinemas da cidade, Adelina (ou seria Gilda?) sabe exatamente que papel desempenhar, respeitando as deixas e a marcação no palco. Calçando os sapatos vermelhos, ela aposenta, por preciosos instantes, a realidade de secretária enfiada em neutras roupas marrons e tanta solidão. Em seu lugar, surge a segurança da atriz perfeita em sua atuação, de cores violentas e apaixonantes. A simulação, mais que tudo, parece ser a única forma de sobreviver em uma cidade mergulhada no reino da efemeridade de imagens e construções arquitetônicas que não passam de estruturas provisórias. As ações de Adelina, quase ensaiadas, revelam a cumplicidade do narrador nessa simulação, por meio das tomadas cinematográficas que apresenta, como se uma câmera registrasse toda a ação, remetendo-se a gestos fartamente conhecidos. “Depois jogou a cabeça para trás – a marcação era perfeita -, tragou fundo e, entre a fumaça, soltou as palavras sobre os patéticos pratinhos de plástico com amendoim e pipocas” (p. 68). Susan Sontag observa que a realidade passou a ser cada vez mais parecida com aquilo que as câmeras mostram5. É comum, agora, que as pessoas, ao se referirem a sua experiência de um fato violento em que se viram envolvidas – um desastre de avião, um tiroteio, um atentado terrorista – insistam em dizer que “parecia um filme”. Isso é dito a fim de explicar como foi real, pois outras qualificações se mostram insuficientes. (p. 177) No bar, Gilda conhece três homens e os leva para seu apartamento. As cenas seguintes são quase pornográficas, conforme considera o próprio autor. Depois do sexo, o narrador sinaliza que ela “não era mais Gilda, nem Adelina nem nada. Era um corpo sem nome, varado de prazer, coberto de marcas de 5 No conto “Uma praiazinha...”, o narrador-personagem diz: “Fechei a porta, encostei a parte de cima da cabeça contra ela. Só nos filmes as pessoas fazem isso, nunca vi ninguém fazer de verdade. Comecei a fazer para ver se sentia o que as pessoas no filme sentem – pessoas sempre sentem coisas nos filmes, nos bares, nas esquinas, nas músicas, nas histórias. Nas vidas acho que também, só que não se dão conta”. (p. 78-79). 34 dentes e unhas, lanhado dos tocos das barbas amanhecidas, lambuzada do leite sem dono dos machos da rua” (p. 73). Parece que apenas nesse momento, ela se liberta de qualquer representação. Nesse sentido, surge a questão: não seria Adelina também um personagem? Esse, porém, o que todos esperam, da funcionária eficiente, vestida de marrom e de cabelos presos, cumpridora de seus serviços? Não estariam essas duas personalidades em pontos extremos entre a exposição e a intimidade, indicando que uma posição equilibrada nesse lugar de passagem seja talvez impossível na metrópole? Flora Sussekind ressalta que a prosa de ficção da década de 80 parece encontrar-se no limbo entre o segredo e a exposição, “deixando que as falas individuais sofram uma interferência tão forte da media que mal se diferenciem dela, que se enunciem de ‘dentro’ dela” (p. 246). Nesse sentido, a incorporação do cinema na produção de Caio Fernando é tão profunda que ultrapassa seus personagens e o cenário que os envolve, atingindo intensamente sua linguagem. O autor gaúcho, assim como tantos outros nomes das nossas letras, é herdeiro direto das conquistas modernistas, tendo incorporado técnicas e procedimentos inaugurados pelas vanguardas nas suas criações. A linguagem cinematográfica é sem dúvida uma das mais marcantes. Para compreendermos como se deu essa conexão com as vanguardas, é necessário, antes de tudo, resgatarmos a intenção desses movimentos históricos, qual seja, “a destruição da instituição arte, instituição esta dissociada da práxis vital” (BURGER, p. 165). Peter Burger ressalta que o significado dessa intenção não aponta para um real aniquilamento da arte enquanto instituição ou mesmo que a arte tenha sido de fato transportada para a vida das pessoas como queriam os vanguardistas. Essa intenção consiste antes na concepção de promover um impacto social por meio da arte produzida individualmente. Assim, ao atacarem a arte da sociedade burguesa, os movimentos de vanguarda não negavam um estilo de época ou uma manifestação artística anterior, mas toda a tradição de arte. Com a radical ruptura da concepção de 35 arte e de estética vigente até então, o receptor experimenta o choque diante do não compreensível. Para os vanguardistas, o choque funcionaria como indutor de uma mudança de atitude do receptor, alertando-o para sua práxis vital e a necessidade de transformá-la. Conforme Burger, a problemática em torno do choque enquanto previamente elaborado pelo artista de vanguarda objetivando uma reação do receptor se assentaria em dois pontos. O primeiro seria a “impossibilidade de se tornar duradouro esse tipo de efeito” (p. 159), tendo em vista que seu elemento fundamental reside exatamente em provocar surpresa no receptor, superando suas expectativas. O segundo daria conta do fato de que a atitude que o receptor tomaria a partir do choque quando do contato com a obra não pode ser calculada, podendo ele seguir, portanto, qualquer direção. O que permanecerá dessa quebra dos padrões de produção será o caráter enigmático da obra, desautomatizando a leitura, no caso das letras, e tornando o receptor parte fundamental na construção de seu significado. Ao propor ao receptor o desafio de extrair da obra um significado que se encontra oculto, a arte vanguardista inaugura uma nova forma de recepção, pautada agora também na análise da construção da obra, e não mais apenas no seu sentido. A superação da categoria de obra de arte também empreendida pelos movimentos de vanguarda encontrará no urinol de Marcel Duchamp talvez a sua mais vigorosa expressão. Ao assinar e enviar a exposições essa peça, Duchamp promove a ridicularização do princípio da arte segundo a lógica da sociedade burguesa. A sua assinatura, enquanto marca de individualidade e exclusividade, num objeto industrializado, produzido em larga escala, fere diretamente a concepção do produto de arte como único e irrepetível, concebida desde o Renascimento. O mesmo Duchamp vai, em certo ponto, buscar exatamente no período renascentista a Mona Lisa de Leonardo da Vinci para promover uma sátira à tradição artística ao desenhar bigodes na mais famosa figura das artes plásticas. Oswald de Andrade surge como o nome mais irreverente do nosso Modernismo, incorporando em suas prosa e poesia um elemento de extrema força combativa contra a sociedade burguesa: o humor. Em suas paródias de textos clássicos, como acontece, por exemplo, no poema “Meus oito anos”, 36 numa referência explícita ao poema homônimo do romântico Casimiro de Abreu, Oswald propõe a desauratização da arte, como havia realizado Duchamp em sua paródia de Mona Lisa. A relação entre textos e, sobretudo, entre as variadas artes também terá sua origem nas vanguardas. No famoso ensaio A escrava que não é Isaura (1924), Mário de Andrade, ao teorizar o diálogo entre as artes, utiliza a seguinte imagem: Cada arte no seu galho. Os galhos é verdade entrelaçamse às vezes. A árvore das artes como a das ciências não é fulcrada mas tem rama implexa. O tronco de que partem os galhos que depois se desenvolverão livremente é um só: a vida (ANDRADE apud TELES, p. 307). É explorando esse entrelaçar dos ramos que Oswald inaugura a narrativa cinematográfica no Brasil, por meio de seus cortes cênicos, da aposta na simultaneidade, abandonando a sequência linear do texto (CAMPOS, 2006a). Caio Fernando Abreu, enquanto artista pertencente a uma fase pósvanguarda, utiliza, para fins artísticos, os procedimentos inventados no período. A fonte brasileira oswaldiana da narrativa cinematográfica terá especial significado nas narrativas de Caio Fernando, encontrando no romance Onde andará Dulce Veiga?6 sua mais forte expressão. O diálogo entre as artes, principalmente no que concerne à linguagem cinematográfica, será intenso em todas as obras do autor gaúcho, explorando o procedimento da montagem que foi tão caro aos vanguardistas europeus, assim como, aos modernistas brasileiros. Caio Fernando era um escritor cinéfilo e construía as aproximações entre a prosa e o cinema no intuito de explorar seu instrumental expressivo. Em contos, crônicas e romances, ele recorre a um acervo de imagens e clichês cinematográficos por vezes para conferir valor poético ao seu texto, por outras 6 Em 2007, o romance de Caio chegou ao cinema pelas mãos de Guilherme de Almeida Prado. 37 pensando numa construção irônica. Com frequência, o narrador de Caio Fernando funciona como se estivesse nos bastidores de uma filmagem, descrevendo movimentos de câmeras, panorâmicas. “Eu estava irritado com aquela cena em câmera lenta & closes nos olhos reminiscentes” (p. 56), observa o narrador de Dulce Veiga. José Geraldo Couto sinaliza que a aproximação da prosa de Caio com o cinema não objetiva ser imperceptível. A intenção é exatamente explorar as engrenagens dessa linguagem. A prosa de Caio Fernando Abreu incorpora as conquistas do cinema moderno, expondo os andaimes da representação, inserindo o narrador no centro da cena, revelando ao espectador/leitor o modo de produção da escrita (COUTO, 2007, p. 6-7). Repleto de avanços e recuos no tempo, o conto “Saudade de Audrey Hepburn”, de Os dragões não conhecem o paraíso, apresenta inclusive marcações explícitas dessas passagens temporais. Em certo ponto, o narrador nos diz em meio a um parêntese que se abre no texto: “Flash-back: Nara Claudina dizia Puber” (p. 53). Em outro momento, o autor interrompe o fluxo da narrativa e, em negrito, surge novamente a expressão ‘Flash-back’, apresentando uma seção diferenciada do restante do conto, dessa vez com as palavras graficamente marcadas pelo itálico. Essa seção dá conta do que talvez seja a infância do personagem. Nela é descrita uma simpatia junina que consiste em debruçar-se sobre um poço com uma vela e nas águas ver o futuro. Mas para o personagem não foi possível ver nada, só o fundo escuro, em consonância com a apatia e a solidão de sua vida. Essas mudanças no tempo exigem do leitor a participação direta na construção do significado, como um quebra-cabeça a ser posto em ordem. Nesse caso, os espaços em branco funcionam também como recurso, como se se ausentassem propositalmente algumas peças do jogo, para que assim, fragmentado, uma imagem inesperada possa surgir. 38 Utilizando a técnica da montagem, o autor dá outra dimensão ao sentimento de abandono desse personagem, conforme podemos notar a partir da citação que segue: Eu parado na porta às quatro da manhã. Você indo embora. Eu me perdendo então desamparado entre cinzeiros cheios e garrafas vazias. Você indo embora. Eu indeciso entre beber um pouco mais ou procurar uma beata em plena devastação ou lavar copos bater sofás guardar discos mastigar algum verso adoçando o inevitável amargo despertar para depois deitar partir morrer dormir sonhar quem sabe. Você indo embora. Acordar na manhã seguinte com gosto de corrimão de escada na boca: mais frustração que ressaca, desgosto generalizado que aspirina alguma cura. Tocaria, o telefone? Você indo embora, fotograma repetido. Na montagem, intercalar. Você indo embora você indo embora. (p. 52) A imagem que se repete torna-se filme. Deixado sozinho, perdido em uma cidade que funciona como um viaduto que não lhe permite seguir outra direção, esse homem toca suas atividades cotidianas adiante, sem vírgulas, sem pausas. A experiência do abandono surge repetida, quase obsessivamente, revelando as saudades tão verdadeiras “daquela moça magra chamada Audrey Hepburn”, que surge aqui como um estranho flash-back que denuncia a desilusão, a amargura de um sonho abandonado em detrimento de uma realidade pautada pela cinzenta cidade uniformizada sem espaço para a loucura e a beleza. A montagem assume as características da técnica da colagem, aproximando imagens de diversas origens e suportes na confecção de um texto aparentemente desordenado. “A diversidade, a proliferação das formas e códigos, as múltiplas linguagens conotam a ótica babélica da metrópole monumentalizada e ajustam-se à técnica de composição que o artista adota” (GOMES, 2008, p. 26). A única linguagem possível capaz de dar conta dessa cidade obscura, feita para confundir, desorientar é aquela que se baseia num 39 caos de palavras. A imagem do labirinto de uma Babel moderna condensa-se na linguagem, permitindo que o autor decline da representação do emaranhado de monumentos que definem simbolicamente o caótico espetáculo metropolitano. Além disso, as inúmeras referências que se somam ao texto – a reprodução do quadro de Degas, os versos de Ricardo Redisch, Charlie Parker, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o filme “Gervaise”, Audrey Hepburn – também funcionam como metáfora da cidade fragmentada. É a partir da linguagem que Caio Fernando Abreu apresenta a confusão da metrópole, concentrando-se no coração selvagem desse homem aprisionado nesse labirinto urbano. 40 CAPÍTULO II – MOLOCH INCOMPREENSÍVEL PRISÃO Dado que há um mundo do lado de cá e um mundo do lado de lá da janela, talvez o eu não seja mais que a própria janela através da qual o mundo contempla o mundo. Para contemplarse a si mesmo o mundo tem necessidade dos olhos (e dos óculos) do senhor Palomar. Italo Calvino, Palomar Vou, venho e me atrapalho, a cidade me foge. O que estas ruas, esquinas, praças me dão, dão noutra cidade, não minha; esta nada tem a ver. João Antonio, Abraçado ao meu rancor Há uma janela que se debruça sobre o mundo, lembra-nos Calvino, revelando uma única paisagem, como uma fotografia Polaroid, uma dentre as infinitas possibilidades que as infinitas janelas de uma cidade apresentam aos olhos de alguém, como a esse senhor míope e introvertido, chamado Palomar. Seus olhos, considera esse personagem, talvez sejam apenas o instrumento que o mundo precisa para uma autocontemplação. Dessa forma, o mundo interno contempla o externo, revelando sua natureza duplicada, ou bipartida, através do balcão de uma janela, por meio das lentes dos óculos de um homem que possui o nome de um observatório astronômico. Do lado de cá da janela, ele também é parte desse mundo que observa e é observado. Enquanto aguarda que, da “superfície muda das coisas”, parta um sinal indicando que algo se destaca do todo igual e uniforme, expondo-se discretamente a seus olhos, brilhante e sedutor, confundindo céu e cidade, o narrador das histórias curtas de Calvino antecipa que “o senhor Palomar tampouco deve esperar, porque essas coisas acontecem apenas quando menos se espera” (p. 103) Da janela de seus apartamentos, os personagens de Caio Fernando Abreu vivem essa espera angustiada. A paisagem emoldurada pelos limites físicos da janela oferece uma cidade curiosamente estagnada, como um filme 41 preso ao mesmo fotograma, distante das transformações que caracterizam a metrópole moderna. Eles desejam o mesmo sinal brilhante e sedutor capaz de interromper tanto silêncio, de resgatá-los do costumeiramente banal já-dado que o concreto representa. Em crônica publicada, em 19877, o autor, observando por trás do vidro de sua janela, apresenta uma cena que registra a fugacidade desse instante luminoso. Uma mulher muito jovem parece chorar enquanto abraça um homem, jovem também, numa tarde fria de domingo. Ele se deixa abraçar, imóvel, de braços cruzados. Ela passa a beijá-lo e só pára quando precisa afastar “os cabelos do rosto e, de vez em quando, olhar o céu cinza”. Logo depois, começam a caminhar, subindo a ladeira mais próxima. “Até sumirem do quadrado da janela. Certamente, da minha vida também”. Assim ele conclui: “Não acontece mais cena alguma do lado de fora da minha janela. Talvez tome mais um café, fume outro cigarro, qualquer coisa assim. Foi exatamente há um ano, na lua cheia de maio. Depois, nunca mais”. Ítalo Calvino, em As Cidades Invisíveis, ao apresentar-nos Ândria, cujas ruas e edifícios possuem correspondentes nas órbitas dos planetas e na ordem das constelações, adverte: “a cidade e o céu nunca permanecem iguais” (p. 144). Os personagens de Caio Fernando parecem conservar esse pensamento com fé inabalável a despeito de todo sofrimento. O céu, nas narrativas desse autor gaúcho, é sempre uma promessa de luz a enfrentar a escuridão que o espaço urbano impõe. A natureza dessa transformação desejada, é certo, transcende os limites do espaço físico para atingir o âmago da vida do homem urbano, como um completo reajustamento dos astros capaz de embaralhar qualquer previsibilidade matemática do universo. Nesse sentido, Caio Fernando apresenta-nos São Paulo em suas narrativas como a cidade da solidão de cimento armado8, revelando-se corpo estranho e disforme. Em seus contos e crônicas, raras são as descrições da cidade, catalisadas pela cor cinza dos muros que bloqueiam a visão. As 7 Trata-se da crônica “As primeiras azaléias”. São muitas as crônicas de Caio Fernando que apresentam essa visão a partir da janela. Dentre elas, destaco “61: verdade interior” e “Por trás da vidraça”, todas publicadas no volume Pequenas epifanias. 8 A expressão é de João Antônio. 42 referências a ruas e bairros paulistanos situam o leitor geograficamente, indicando que não se trata de um espaço imaginário. O autor parece querer sinalizar que esse cenário de opacidade é real, atinge seus habitantes de maneira sub-reptícia, roubando-lhes vitalidade e beleza. Surge então o medo de que cidade e habitante possam fundir-se. Em crônica intitulada “Calamidade pública”, Caio Fernando simula um diálogo com a cidade de São Paulo, decidindo, como se tratasse de um casamento, lançar uma ameaça a pessoa amada: “Antes de ficar feio, violento e sujo feito você anda, peço o desquite. Litigioso, aos berros” (2006, p. 35). A calamidade pública a que o autor se refere ainda no título não poderia ser outra que a solidão. A feiúra que se abate sobre a cidade é ainda mais assustadora que a dos enormes prédios sem cor que compõem sua paisagem porque atinge fatal a humanidade dos que nela vivem. Assim o autor nos diz: Feio é a palavra mais exata. A feiúra desabou sobre São Paulo feito as pragas desabavam dos céus, biblicamente. Uma feiúra maior, mais poderosa e horrorosa que a das gentes, que a das ruas. Uma feiúra que é talvez a soma de todas as pequenas e grandes feiúras aprisionadas na cidade, e que pairam então sobre ela, sobre nós, feito uma aura. Aura escura, cinza, marrom, cheia de fuligem, de pressa, miséria, desamor e solidão. Principalmente solidão, calamidade pública. (idem). Publicada dois anos antes de Os dragões não conhecem o paraíso, a crônica sintetiza o espírito de revolta em relação ao processo de embrutecimento da vida humana pela lógica da metrópole presente em toda a obra de Caio Fernando. São Paulo surge em suas narrativas como corolário desse ambiente sufocante, lugar do homem estrangeiro que, assim como o próprio autor, vive em eterno conflito com a grande boca de mil dentes paulistana9. Em carta a Charles Kiefer, em 1983, Caio confessa: “Faz tempo tenho problemas com Sampa – barulhenta, pouco saudável, solitária, amarga” 9 Verso do poema “Os cortejos”, de Paulicéia Desvairada. 43 (In. MORICONI, 2002, p. 41). Já em carta a Jacqueline Cantore, ele parece conseguir encontrar certa beleza na cidade a despeito de todo cinza que domina as imagens da capital paulista nas narrativas desse autor. “Como São Paulo pode ser bonito às vezes, com uns crepúsculos cor de pêssego querendo amadurecer, demoradíssimos, tão lentos quanto um acorde de Erik Satie” (idem, p. 33). São Paulo, de fato, ganha a dimensão de uma cidadeespelho do Brasil, conforme Renato Cordeiro Gomes salientou. Porém ela é ainda a referência nacional de uma metrópole. O tema da solidão ganha, em São Paulo, proporção de uma cidade da errância. Desde sua fundação, a maior cidade brasileira tem como marca exatamente a abertura de suas fronteiras. Já no século XVII, a então Vila de São Paulo era centro de expedições de exploração de territórios, que visavam, além de terras, minérios e a escravização indígena. Como uma cidade que só conhece partidas e não retornos, a São Paulo dos bandeirantes era espaço de forasteiros que entravam e saíam de seus domínios, explorando a terra e assassinando o homem. No século XIX, com a expansão do cultivo do café, a província passa a ocupar o lugar de destaque no cenário econômico do país, que, desde o descobrimento, cabia ao Nordeste brasileiro. Nesse período, a crise da escravidão negra conduziu à importação, inicialmente subsidiada, de milhares de europeus, na sua maioria, italianos e espanhóis, para trabalhar na lavoura cafeeira. A chegada dos imigrantes impulsionou a irrupção modernizadora de São Paulo, sendo possível a geração do emblema do Brasil pautado no progresso, tão desejada pelos modernistas anos depois. Trata-se do nascimento do povo de mil origens de que falaria Oswald de Andrade. Com o desenvolvimento da região, deu-se também a configuração de uma segregação do espaço urbano, marcando a separação geográfica de cada grupo social, dependendo da atividade realizada no ciclo de produção do café. É no final desse século que nasce o bairro dos Campos Elíseos – o Champs-Elysées paulistano – logo depois, o bairro de Higienópolis, concentrando os palacetes mais elegantes da cidade, e, por fim, a Avenida Paulista, inaugurada em 1891. Essa região da cidade, juntamente com o que depois seriam os loteamentos da Companhia City nos Jardins, representa até 44 hoje uma centralidade da elite local, concentrando imóveis de alto valor, consumo cultural e investimento público. Na virada para o século XX, houve o primeiro surto industrial da cidade, acompanhado do que Raquel Rolink chama de surto de “urbanidade”, que consiste na implantação de serviços de água encanada, iluminação pública, pavimentação das ruas. Dá-se, então, uma verdadeira transformação urbanística em certa região da cidade proposta pela nova elite dirigente. Ao alargamento das vias, à construção de cafés e lojas elegantes no centro histórico de São Paulo, contrapõem-se os bairros populares, afastados dessa região, cuja paisagem resume-se a um emaranhado de vilas e de cortiços que dividiam espaço com as chaminés das fábricas. Annateresa Fabris fala sobre uma modernidade peculiar no Brasil, pautada na fantasia e no sonho, que investe boa parte de suas energias no consumo de mercadorias-fetiche. A transformação urbanística, antes de considerar questões como saneamento básico, qualidade de moradia para os mais pobres, voltava-se para um ideal de cidade. Essa regeneração do espaço urbano assumida por São Paulo acaba servindo de exemplo para a capital federal, que, no período, estava envolvida com a construção da Avenida Central, principal registro urbano de Pereira Passos. Olavo Bilac, em crônica publicada, em 1905, observa: Ah! Por que não há de a nossa Sebastianópolis pedir à Paulicéia o segredo desse culto do belo, deste amor do ar livre, da arquitetura elegante e do arruamento regular? As avenidas, bordadas de palacetes lindos, multiplicam-se e cruzam-se. Nem uma só rua nova ousa, como as nossas, desviar-se e torcer-se em coleios de cobra. E já nenhum mestre-de-obras se atreve a plantar na platibanda das casas essas abomináveis compoteiras de gesso, que são o privilégio da arquitetura carioca (BILAC, 1996, p. 50). O desejo do progresso nada leva em conta a não ser as construções e demolições. No final da década de 20, os rios Tietê, Anhangabaú, Tamanduateí e Pinheiros passam a sofrer as primeiras intervenções, como construções de canais e estações elevatórias, invertendo o curso dos rios, destinando suas 45 margens para a construção de avenidas e a ocupação de suas várzeas. Annateresa Fabris considera essa modernidade brasileira peculiar no que tange sua pauta na fantasia e no sonho, investindo suas energias no consumo de mercadorias-fetiche. A modernização das cidades funciona como uma “fachada brilhante de uma sociedade que se quer cosmopolita, parisiense. Por isso antepõe representações simbólicas ao desenvolvimento propriamente dito (FABRIS, 2000, p. 22). O cultivo do café cede lugar às indústrias, levando São Paulo a despontar como uma das metrópoles americanas de maior vigor econômico. É então chegada a vez dos próprios brasileiros, principalmente mineiros, nordestinos e paulistas provenientes do interior do estado, invadirem a cidade, conduzindo-a a um intenso crescimento demográfico que geraria uma crise de habitação. Como resultado, tem-se primeiramente o povoamento de morros e várzeas, conduzindo inevitavelmente à conurbação com municípios vizinhos. A conseqüência desse processo é uma expansão horizontal ilimitada que marcaria a cidade até hoje. Ao longo do século passado, a cidade viveu ainda sucessivas transformações inerentes ao seu desenvolvimento, resultando na São Paulo contemporânea que extrapola seus próprios limites físicos, totalizando 17 milhões de habitantes espalhados pelos 39 municípios que compõem sua região metropolitana. Segundo classificação de Rolnik, a capital paulistana é uma cidade-mundo, tendo em vista que sua “aglomeração urbana ocupa hoje uma área que vai muito além disso, atingindo pontos distantes do país, do continente, do mundo” (p. 9). A locomotiva do Brasil registra na letra de seu Hino Oficial, estabelecido em 197410, verbos imperativos, como “Galga!”, “Vai!”, “Segue!”, “Enfrenta!”, “Avança!”, “Investe!”, que conferem a real medida da voracidade dessa máquina nacional que certamente jamais intenciona parar. São Paulo é hoje um imenso mercado, centro de negócios e de cultura, aglomerando moradores e visitantes. A para sempre cidade do café, como não nos deixam esquecer seus símbolos, tem um fiel compromisso com o desenvolvimento. Assim, 10 Segundo o site da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). 46 Guilherme de Almeida, autor do canto de louvor à cidade de aço que avança rigorosa sobre seus trilhos, resume na última estrofe do hino a trajetória de São Paulo: “Do Cafezal, Senhor dos Horizontes, / Verás fluir por plainos, vales, montes, / usinas, gares, silos, cais, arranha-céus!” (Texto on-line). O paulista do século XX parece ter como única meta a expansão da cidade. É a presença da fábrica que conduz os modernistas a buscarem uma nova arte em consonância com a modernidade de São Paulo. A literatura brasileira, nesse contexto, adquire consciência urbana exatamente a partir do nascimento de São Paulo como uma metrópole moderna, no início do século passado, segundo Willi Bolle. O livro de poemas Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade, surge como o responsável pela estréia da metrópole brasileira como protagonista literária. Para Bolle, “trata-se de uma visão adivinhatória, em que o poeta detecta energias que iriam transformar a cidade naquilo que ela é hoje” (2000, p. 34). São Paulo, nos versos de Mário, é a comoção de uma vida, é uma paisagem de inverno londrino, é a monotonia da retina. Revelando sentimentos de ambigüidade diante da cidade arlequinal, o poeta anuncia a caducidade da metrópole na imagem de homens que se confundem em massa uniforme, impossibilitados de viverem sua subjetividade, “Serpentinas de entes frementes a se desenrolar...” (p. 38). O olhar antecipatório dos poemas de Mário de Andrade vai muito além do cor-de-cinza sem odor da alma e da paisagem paulistanas, alcançando em cheio o sentimento de abandono do homem que habita uma cidade gélida, palco da ambição e das invejas, apoteose da ilusão. Envolta em neblinas, São Paulo escapa à apreensão do eu-lírico, turvando-lhe a visão. A cidade é percebida pela perspectiva de um amante negligenciado, movimento similar a da crônica de Caio Fernando. Condensada na imagem do arlequim, São Paulo é simultaneamente representada por seus armazéns abarrotados de café e as primeiras chaminés que despontam no horizonte. As influências estrangeiras marcam o cosmopolitismo da cidade, ironizado pelo poeta. Os automóveis, símbolos da velocidade, dividem espaço com a imobilidade de estátuas que 47 encaram o passado, definindo bem a posição de incerteza da metrópole nacional. A ambigüidade própria de uma cidade moderna perpassa os poemas andradinos, resultando em um exercício melancólico de transformar em material poético as fantasmagorias dessa São Paulo dos anos 20. Dessa forma, na mesma medida em que o poeta lança olhares para elementos que posteriormente viriam a compor a metrópole contemporânea, ele também contempla o que, em breve, já não pertencerá a esse cenário. Esse movimento de Mário o singulariza em meio à euforia da modernidade que caracterizou os textos dos modernistas, em especial o de Oswald de Andrade. Como observa Annateresa Fabris, “toda a cidade girava em volta da questão do progresso e, em função dele, havia desprezo pelo atraso do resto do país” (p. 73). Existia uma urgência moderna na criação de uma correspondência entre uma cidade impulsionada pelo maquinário das fábricas e um sistema cultural, sintonizado com as conquistas técnicas do momento, capaz de expressar os anseios e os desafios do século XX (idem). A literatura brasileira urbana produzida décadas após a publicação de Paulicéia Desvairada, já no final do século, apresenta como temas principais a violência, a degradação humana, a miséria, a falta de esperança, já, de certa forma, sinalizadas na produção de Mário. Bolle destaca que, nos autores dos anos 70 e 80, um elemento comum se sobressai: a consciência pessimista da história. Nomes como o de João Antonio surgem para ressaltar que o desenvolvimento irreprimível da metrópole deixou cicatrizes profundas, como a exclusão daqueles que nem nomes possuem. Dedicando seu projeto literário ao protagonismo de malandros, jogadores de sinuca, prostitutas, crianças que perambulam pelas ruas, João Antonio não nos deixa esquecer que a cidade volta-se implacável sobre os que não convêm, reduzindo suas existências, desumanizando-os. O movimento de resistência empreendido pelo autor paulistano a esse processo racionalizante da dor humana consiste em lançar um olhar a essas pessoas capaz de transcender a miséria que as envolve alcançando sua subjetividade. 48 Os personagens de João Antonio percorrem o espaço da cidade, revelando uma cartografia construída a partir da singularidade do olhar. O mapa real de São Paulo fica em segundo plano diante do foco nos gestos e nas sensações dos que caminham por suas ruas. Tendo buscado uma linguagem capaz de apreender a essência desses homens, fazendo-os, conforme apontou Antonio Candido, existirem acima de sua triste realidade, o autor joga luz sobre o sentimento dos andarilhos urbanos. A solidão de homens, mulheres e crianças soma-se ao inevitável estranhamento da cidade. Marcado pelas constantes transformações, o espaço citadino resulta em algo totalmente diverso, potencializando a falta de vínculos dos personagens com o mundo. Assim eles observam o conhecido boteco da esquina se transformar em um pasteurizado restaurante, os bairros mudarem de nome e a malandragem abandonar seus códigos de ética. “Deu em outra cidade, como certos dias dão em cinzentos, de repente, num lance” (p. 80), conclui em certo ponto o narrador de “Abraçado ao meu rancor”, conto que dá título a obra que marca a volta do escritor a São Paulo após sua estadia carioca. Imprescindível apontar que mais de vinte anos separam a publicação de Abraçado ao meu rancor, de 1986, do livro de estréia de João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço, de 1963. O autor buscou, nesse primeiro livro, alcançar uma linguagem paulistana de um grupo determinado, a exemplo do que Guimarães Rosa fez com o sertão brasileiro (Cf. CANDIDO, 2009), capaz de apreender o espírito desse homem urbano e de gerar um processo de transformação social. Abraçado ao meu rancor sinaliza a consciência do fracasso desse projeto diante da brutalidade da sociedade, representada pelo sentimento de rancor que pontua não apenas os títulos do conto e do livro, mas, sobretudo o discurso de um narrador, que, nesse estágio, funde-se à identidade do escritor, implacável consigo e com a lógica da cidade. Em carta, João Antônio assim descreve esse morador de São Paulo que ganha representação em sua obra: Homem difícil, fragmentado, prisioneiro de uma cidade de que em geral não gosta. Homem limitadíssimo, mal 49 formado, piorado terrivelmente nesses últimos dez anos. Homem que não é covarde, mas a quem quase sempre falta coragem. Homem de transição e de solidão (repare nos bares cheios), cujo destino é desaparecer, dar lugar a um tipo mais concreto e de algum caráter. (ANTONIO apud MAGRI, 2010, p. 20) Imersos em uma sociedade que os marginaliza, sem família e profissão, esses homens dominam as ruas da cidade, expondo a todo instante vestígios de seu abandono e miséria. A metáfora da grande boca de mil dentes do poema de Mario de Andrade mostra-se aqui ainda mais pertinente. O medo de ser devorado por essa cidade que nunca cansa do ritmo alucinante das transformações é uma constante nos contos de João Antônio, como se ruas e avenidas pudessem tragar os que nelas vivem, confundindo pessoas e concreto. Caio Fernando Abreu – assim como João Antônio, Rubem Fonseca, Ignácio de Loyola Brandão e outros – desenvolve uma produção marcada pelo olhar pessimista da vida urbana. Na obra do autor gaúcho, o ambiente externo da cidade é minimamente referido. Seus personagens vivem na metrópole, mas, com freqüência, encontram-se isolados em seus apartamentos. Enquanto na obra de João Antonio a cidade, além de cenário, funciona também como personagem, nos contos de Caio Fernando, ela surge como uma triste sombra sem contornos ou detalhes que encobre a todos. Essa presença pouco física da cidade revela uma estratégia narrativa que intenciona entranhar a paisagem de São Paulo às pessoas e aos espaços internos. Os personagens, com freqüência, surgem debilitados, sob o efeito de álcool e muito magros, evidenciando uma fragilidade física que comunga diretamente também com a confusão interna que os marca. A pele muito branca, os músculos flácidos e a barba por fazer do personagem anônimo do conto “Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga” definem bem essa relação metonímica com a metrópole. Em seu corpo, surgem as marcas de uma cidade impessoal, em que a pobreza das ruas, há tempos, invadiu a alma de seus habitantes. Esse homem, ao longo da narrativa, escreve uma carta a um amigo, confessando-se, em um discurso melancólico, doente de um mal aparentemente desconhecido: 50 Esse é só um dos sintomas, ficar muito tempo deitado. Tem outros, físicos. Uma fraqueza dentro de mim, assim feito dor nos ossos, principalmente nas pernas, na altura dos joelhos. Outro sintoma é uma coisa que chamo de pálpebras ardentes: fecho os olhos e é como se houvesse duas brasas no lugar das pálpebras. Há também essa dor que sobe do olho esquerdo pela fronte, pega um pedaço da testa, em cima da sobrancelha, depois se estende pela cabeça toda e vai se desfazendo aos poucos enquanto caminha em direção ao pescoço. E um nojo constante na boca do estômago, isso eu também tenho. Não tomo nada, nenhum remédio. Não adianta, sei que essa doença não é do corpo. (p. 77) Os sintomas denunciam a decadência da humanidade vinculada, sobretudo, a uma São Paulo dominada pelo lixo, pela poluição do ar, pelos prédios que se agigantam ao redor. A leitura que o autor promove da cidade é rigorosamente soturna, invocando constantemente lugares fechados, com pouca luz. Nesse diapasão, Caio Fernando recorre ao espaço do apartamento para apresentar personagens, como o do conto em questão, realizando um movimento de interiorização que desvela um ser atordoado pela dor de “uma memória, uma vergonha, uma culpa, um arrependimento em que não se pode dar jeito” (p. 79). Ao invés de captar o espetáculo de mudanças da rua, a exemplo de Baudelaire ou mesmo de João Antonio, há uma tendência em privilegiar o lugar fixo, estável. Essa escolha pelo permanente não funciona como oposição à cidade moderna, espaço típico do provisório. O apartamento ou o quarto são, na verdade, extensões do ambiente urbano, remetendo à opressão e à apatia de uma vida sem escolhas. “Sozinho em casa, sozinho na cidade, sozinho no mundo” (p. 84), conclui certo personagem, evidenciando essa similaridade entre o espaço interno e o externo. A janela, único elemento que permite alguma interação do homem com a cidade, possui natureza paradoxal, já que, ao mesmo tempo em que viabiliza o contato com o exterior, acaba, em contrapartida, intensificando a reclusão por evidenciar uma paisagem terrivelmente sombria do espaço urbano. Marca da individualidade e uniformização, o apartamento é um inegável símbolo da classe média, representando o sonho da estabilidade, do 51 investimento financeiro, da segurança familiar. Nas narrativas de Caio, esse elemento aparece desconstruído, apresentado como um ambiente sem vida, cenário do confinamento a que se submete o personagem. Aqui reside a grande crítica que o autor elabora da lógica enganosa da gratificação do trabalho convertida em felicidade plena de uma vida de classe média, catalisada no livro pelas metáforas do dragão e do paraíso que buscamos discutir no primeiro capítulo. O sonho converte-se em pesadelo porque a liberdade que está em jogo é limitada e ilusória, gerando insatisfação. No conto “A outra voz”, esse espaço interno é trabalhado a partir de uma atmosfera onírica, que situa o personagem em um ambiente ainda mais assustador que o claustrofóbico apartamento daquele homem de pálpebras ardentes. Nessa realidade, o personagem conta apenas com uma voz do outro lado do telefone para conectá-lo ao mundo exterior. Cristalina, como as águas saudáveis de um rio, a outra voz surge em contraste com o tronco áspero que arranha a garganta dele. Aqui o isolamento chega a seu extremo. A janela agora possui grades e a paisagem que oferece consiste apenas no “muro de cimento, alto como uma parede, a aridez do pátio coberto de lajes, sem plantas” (p. 105). Em claras referências ao suicídio da poeta Ana Cristina César, o tema da loucura delineia-se, confundindo autor e personagem, revelando fantasmas interiores que surgem por meio de vozes que não permitem que se escape daquela prisão. Em meio a tantos elementos sombrios que pontuam a narrativa como mofo, cinzeiros, cavernas, poeiras, teias de aranha, as imagens do sol, da luz surgem, a todo instante, como contraponto, como desejos que possivelmente jamais serão satisfeitos. O tom marcadamente pessimista do conto cede espaço somente no último momento. Vislumbrando uma mão estendida, entre súplicas para que não seja abandonado, esse homem sinaliza acreditar que, mesmo em meio à escuridão absoluta, alguma espécie de luz possa inaugurar-se. Assim conclui o narrador: “Porque queria – e queria porque queria – a luz da outra voz, não a escuridão deles: escolheu” (p. 110). A fuga da dimensão racional que o autor ensaia nesse conto, longe de pôr em total suspensão a dor do personagem, revela-a em níveis extremos. Como um negativo desse mundo dominado por 52 sombras, tem-se o signo da claridade constituído a partir do tom nostálgico do cheiro dos cinamomos que, aos poucos, perdem a precisão na lembrança do personagem. O autor parece evitar permanentemente a desorientação do sentido imposta pela vida na cidade e que caracteriza o homem moderno, escolhendo, em seu lugar, os feixes de luz ligados à natureza e à infância. 2.1. Saia da frente da minha luz! “Se oriente, rapaz Pela rotação da Terra em torno do Sol” Gilberto Gil, Oriente Vista no conjunto, a obra de Caio Fernando Abreu parece evocar quase obsessivamente o mesmo homem abandonado, desajustado e morador das grandes cidades11. Desde o Inventário do ir-remediável, de 1970, até o romance Onde andará Dulce Veiga?, de 1990, o autor tende a distanciar-se de uma acepção solar do espaço urbano, apresentando seus personagens em ambientes sombrios e fechados, que se aproximam, por vezes, de uma prisão ou manicômio. Nessa ambientação em que a solidão ganha destaque, o desejo por algo que os tire do estado de letargia em que se encontram surge nas narrativas como presença estranhamente incômoda. As imagens do telefone ou da campainha que nunca tocam, a espera daquele que jamais virá, mais do que representarem apenas o isolamento, indicam na verdade uma promessa de mudança, a crença de que o mal pode ser passageiro. É na sutileza dessa luminosidade que sobrevive na sombra que reside o inconformismo do autor e a força de seu texto. Sobre isso, o estudioso das cartas de Caio Fernando, Ítalo 11 A imagem de contos que se completam transcende Os dragões não conhecem o paraíso, representando o movimento de toda produção do autor. Assim ele diz: “Ultimamente tenho pensado se Cortázar tinha razão quando dizia que o escritor passa a vida tentando escrever um livro só. Proust conseguiu dar essa ordem. Mas Proust era Proust”. 53 Moriconi afirma: “A escrita de Caio, ficcional ou não, lembra o girassol a buscar o facho de luz renovadora, nutritiva, de dentro da noite mais escura do ser puramente material, corporal.” (2002, p. 14-15). Herdeiro do imaginário contracultural que tardiamente chegou no Brasil, na década de 70, a produção de Caio inevitavelmente foi contaminada pelo espírito de resistência ao autoritarismo que marcou o período. Sua vida e sua obra estão intimamente ligadas à fé fundamental que iluminou o projeto libertário de então. Quando Caio deixou Porto Alegre aos 20 anos de idade e partiu para São Paulo, integrando como repórter a primeira equipe de Veja, o ano era 1968 e a ditadura no país havia chegado a seu momento mais crítico com a institucionalização do AI-5. No mesmo ano, passou a ser perseguido pelo DOPS12, após sair da revista, refugiando-se no sítio da amiga Hilda Hilst em Campinas, a chamada Chácara do Sol. Depois de voltar a Porto Alegre, já no início da outra década, Caio mudou-se novamente, dessa vez para o Rio de Janeiro vivendo como hippie nas ruas de Ipanema. A capital fluminense despontava como epicentro da nova tendência contracultural. Poucos anos depois, em 1973, realizou “a clássica viagem riponga pela Europa, cabelos longos feito John Lennon, magreza e viagens lisérgicas” (MORICONI, 2002, p. 17). Caio Fernando considerava-se mesmo um estereótipo de sua geração, o que em grande medida proporcionou a seus textos a capacidade de também criarem as imagens que compõem o painel daquela década. Marcia Denser não deixa de apontar Caio como “um inventor de novas linguagens na prosa de ficção e na mídia, um criador de expressões e vocábulos” (2005, p. 9). Marcelo Secron Bessa avalia como essa característica do autor inevitavelmente inundou seus textos: Embora não sejam textos documentais, os contos apresentam um quê de retrato de época, uma espécie de registro ficcional, por um viés bem peculiar, das ultimas quatro décadas. Não é à toa que, ao falar de si mesmo, 12 Nos anos 70, Caio Fernando foi preso duas vezes e torturado. Ele conta a história de sua tortura no conto “Garopaba, mon amour”, do livro Pedras de Calcutá. 54 Caio gostava de repetir um epíteto que lhe deram: biógrafo das emoções contemporâneas (BESSA, 1997). O cineasta Guilherme de Almeida Prado, com quem Caio escreveu o roteiro do que mais tarde se transformaria no romance Onde andará Dulce Veiga?, ressalta o papel decisivo da produção literária do autor para a construção da década seguinte: A literatura dele não é só tradução da época. Existe um lado dos anos 80 que ele praticamente ajudou a inventar. Palavras, maneiras de dizer algumas coisas. Não é que a gente falasse daquele jeito, ele melhorava, antecipava. Ele era contemporâneo, mas ao mesmo tempo somava, não apenas refletia (PRADO, 2006). Em Londres, morou em casas abandonadas e invadidas por imigrantes latino-americanos, denominadas squats, enfrentou o inverno europeu sem contar com qualquer sistema de aquecimento, dormindo em sleeping-bags, sendo expulso pela polícia diversas vezes. Trabalhou como faxineiro, modelo vivo em uma escola de belas-artes e lavador de pratos em bares13 da capital inglesa. O nomadismo era uma espécie de prerrogativa do período, o que casava com a própria personalidade de Caio Fernando. Sobre isso, ele diz: “(...) eu não gosto de São Paulo. Mas eu não gosto de Porto Alegre, não gosto do Rio também. Não gosto de nenhum lugar. Não suporto lugares geográficos” (ABREU apud DIP, p.174). O resultado dessa insatisfação é uma eterna procura, marca também de seus personagens. Enquanto viveu em Estocolmo, passou a assinar suas cartas como Caio F., numa referência a Christiane F., drogada e prostituída nas estações de metrô berlinenses (Cf. Gonçalves Filho, 2006). De fato, figuras como a jovem alemã que ganhou fama na década de 70 com sua autobiografia sobre a luta contra o vício em heroína, povoam a produção do autor, reforçando seu 13 Sobre essa experiência escreveu os contos “London, London, ou Ajax, brush and rubbish” e “Lixo e Purpurina”. O primeiro foi publicado no livro Estranhos Estrangeiros, o segundo está no livro O essencial da década de 70 e na antologia Ovelhas Negras. 55 interesse por outsiders. Ele mesmo era considerado um esquisito ou freak – seja qual for o termo que melhor sintetize o deslocamento de Caio Fernando. Natural de Santiago do Boqueirão, cidade gaúcha quase fronteira com a Argentina, ele possuía uma personalidade tímida e claramente confusa, alternando momentos de euforia com fortes depressões. Era homossexual em um período de forte repressão política e sobretudo comportamental14. Nunca teve endereço estável, sendo ajudado por amigos e familiares não apenas financeiramente, mas também com burocracias envolvendo os imóveis por que passou, questões para as quais se revelava incrivelmente inábil. Homem solitário, jamais viveu uma relação amorosa duradoura, o que constituía uma enorme frustração pessoal, conforme depoimentos de amigos. Sua produção é pontuada exatamente por imagens da busca incessante pelo outro, da incompreensão, da loucura e sempre, repetidamente, do peso da dominação. Dan Joy, no prefácio do livro Contracultura através dos tempos, oferece ao leitor uma cena protagonizada por Alexandre, o Grande que, certa vez, caminhando por um campo próximo a Atenas, no auge de sua conquista do mundo mediterrâneo, contemplava o território que fazia parte de seus domínios. Em dado momento, ele se aproxima de um homem que descansava na beira de um córrego e, identificando-se, disponibilizou-se em ajudá-lo com o que fosse preciso. Esse homem chamava-se Diógenes e era “um renomado autor teatral e ao mesmo tempo um completo miserável e excêntrico criador de casos ateniense sem residência fixa” (2007, p. 11). Olhando para Alexandre de onde estava, sua resposta ao imperador do mundo foi simplesmente: “Saia da frente da minha luz”. Simbolizando a atitude de uma contracultura frente à autoridade imposta, a frase de Diógenes ajuda a alcançarmos o peso que as sombras e todos os elementos noturnos possuem na obra de um autor marcadamente de resistência ao sistema como é Caio Fernando Abreu. Joy, por fim, procura pôr em palavras o que a luz bloqueada por Alexandre na rápida cena de seu prefácio significa. 14 A questão tornou-se tema para diversos contos de Caio, entre eles, ressalto “Terça-feira gorda” e o excelente “Aqueles dois”, ambos do livro Morangos Mofados. 56 A luz – a força brilhante de uma expressão individual sem amarras, o brilho radiante da criatividade humana liberta de roteiros e controles externos. A luz – o brilho liberado quando, individualmente, e em especial coletivamente, os seres humanos livremente compartilham recursos internos e externos para criar seu mundo de acordo com os ditames do verdadeiro eu. E o brilho numinoso do próprio mundo nos olhos daqueles que exercitam esse tipo de liberdade. (2007, p. 11-12) O protesto nas narrativas de Caio Fernando concentra-se justamente em desvelar uma cidade marcada pela miséria das relações humanas, encontrando no seu espaço físico cicatrizes profundas. A formação contracultural do autor está presente em todos os seus livros, apresentando a cidade como o mais poderoso bloqueio de qualquer luminosidade que se ensaie exatamente porque representa o progresso desenfreado da tecnocracia. Theodore Roszak define a lógica tecnocrática a partir de um domínio absoluto da técnica e da especialização, reduzindo a organização humana a um grau de previsibilidade e automatismo assustador. É a tentativa de colocar a vida sob o controle da autoridade. A natureza desse sistema político o prepara para devorar a cultura em que se inscreve, reduzindo o humano ao absolutamente mecânico. Avaliando o poder da tecnocracia, Hebert Marcuse, cujas idéias revolucionárias contagiaram os jovens dos anos 1960, lembra que a sociedade civilizada é incompatível com a livre gratificação das necessidades instintivas. O progresso apóia-se na renúncia e no adiamento constante da satisfação. Dessa forma, ele conclui que essa lógica é constituinte da cultura tecnocrática: A felicidade deve estar subordinada à disciplina do trabalho como ocupação integral, à disciplina da reprodução monogâmica, ao sistema estabelecido de lei e ordem. O sacrifício metódico da libido, a sua sujeição regidamente imposta às atividades e expressões socialmente uteis, é cultura (MARCUSE, 1978, p. 27). Marcuse destaca ainda que o desenvolvimento da produtividade está diretamente vinculado a ausência da liberdade, intensificando a dominação do homem pelo homem na civilização industrial. O caminho da humanidade em 57 direção a essa tendência violentamente repressora não se apresenta como algo passageiro. Lembrando os campos de concentração, as guerras mundiais, as bombas atômicas, o autor deixa claro que todos esses massacres não são meras “recaídas no barbarismo” (1978, p. 27), mas a solidificação dos ganhos da tecnologia que dominam a sociedade. Melancolicamente, ele pondera que a mais eficaz destruição do homem pelo homem surge no apogeu da civilização, enquanto se imaginava que após tanto avanço técnico a humanidade poderia construir um mundo verdadeiramente livre, dizimando doenças, combatendo a fome, a desigualdade. Nesse diapasão, a contracultura, conforme Theodore Roszak, surge como uma cultura tão radicalmente dissociada do estabelecido pela sociedade que muitos não a consideram propriamente uma cultura, mas antes “uma invasão bárbara de aspecto alarmante” (1972, p. 54). Tendo escrito nos Estados Unidos, no fim dos anos 1960, o autor preserva em seu livro o espírito de novidade e certo entusiasmo com a revolução jovem que então marcava a sociedade norte-americana e logo depois alcançaria todo Ocidente. Para ele, mesmo carente de um melhor background radical, foi a juventude americana que compreendeu com mais lucidez que o verdadeiro inimigo era a tecnocracia, o que exigia uma nova postura de combate capaz de alterar o contexto cultural. Enquanto os jovens da Europa Ocidental protestavam contra a guerra no Vietnã, a injustiça racial e a pobreza imposta, sendo sempre silenciados por uma sociedade insensível a esse tipo de revolta, os norteamericanos, mais íntimos da tecnocracia como forma social, foram capazes de percebê-la como alvo verdadeiro. Os jovens arrancaram as teorias “de livros e revistas escritos por uma geração mais velha de rebeldes, e as transformaram num estilo de vida” (ROSZAK, p. 28). Os hippies surgem como a personificação dessa rebeldia radical, satisfazendo a necessidade da juventude dos anos 60 de incorporar em seu comportamento a demonstração de desacordo com os rumos da sociedade. A cultura hippie tem origem na força das sementes plantadas pela chamada 58 geração Beat ou Beatnik15 que marcara a década anterior nos Estados Unidos. On the Road, de Jack Kerouac e Howl, de Allen Ginsberg despontam como as mais importantes produções da prosa e poesia beat, respectivamente. Concentrando-se na busca por uma arte que se caracterizava pela recusa do intelecto como mediador, os artistas beats privilegiavam a imaginação, desprezando qualquer tipo de revisão do texto. Conforme aponta Roszak, revisar significaria repensar e, portanto, duvidar. O romance de Kerouac foi escrito em apenas três semanas (Cf. BUENO; GÓES, 1984). Já a parte inicial do poema Howl foi datilografa em uma tarde (Cf. Roszac). A idéia por trás de um fluxo textual espontâneo e de linguagem incontida era romper as barreiras de uma racionalização redutora, para que se fosse possível inaugurar, não apenas uma expressão literária mais livre e verdadeira, mas de caráter transformador, atingindo a vida dos leitores. Ginsberg aspirava funcionar como um “instrumento de poderes acima de seu domínio consciente” (1972, p. 135), remontando aos profetas visionários de Israel. Sobre Howl, Rozsac diz: É como se, inicialmente, Ginsberg dispusesse a escrever uma poesia de aflição encolerizada: bradar contra a angustia do mundo que ele e seus amigos mais chegados experimentaram nas sarjetas, guetos e instituições mentais de nossa sociedade. O que resultou desse sofrimento foi um uivo de dor. No fundo desse uivo, porém, Ginsberg descobriu o que o Moloch burguês mais desejava sepultar em vida: os poderes curativos da imaginação visionária (idem). A experiência psicodélica e a adoção de religiões e filosofias orientais unem-se a esse combate ao conservadorismo. O sábio silêncio da cultura Zen revela-se em contraste com a palavrosa doutrinação do cristianismo, ajudando a difundir um ideal de liberdade, sobretudo sexual. Roszak não deixa de 15 Criado por Jack Kerouac, o termo surge a partir da fusão das palavras “beat” e “sputinik” – a nave soviética que foi ao espaço na segunda metade da década de 50. A idéia era unir o ritmo, o movimento das batidas do jazz – e, pensando no texto dos poetas beats, o improviso, a ausência de normas fixas, a união entre vida e obra – com a liberdade que uma nave espacial simboliza (Cf. BUENO; GÓES, 1984). 59 ressaltar que esse novo orientalismo soube buscar na tradição tântrica e no Kama Sutra a riqueza erótica que o caracterizou. Por outro lado, o autor pondera que isso se aproxima de uma “permissividade burguesa de apósguerra” (1972, p. 142) que encontrou uma sanção religiosa para uma licenciosidade indiscriminada. As toscas simplificações em torno do Zen não devem, segundo Roszak, confundir-se com a importância da atitude jovem de crítica radical frente à convencional concepção científica do homem e da natureza. Para ele, essa rejeição do materialismo e do absolutamente cerebral aproxima-se de um “instinto saudável” (idem) que acabou conduzindo a juventude à procura de uma compreensão mais profunda do Zen. No caso do Brasil, a ditadura impunha o protesto contra a violência militar e o controle social. O movimento tropicalista, que surge no fim da década de 60, juntamente com diversas expressões internacionais, foi o ponto de referência para a contracultura brasileira dos anos 70. O termo tropicália é uma referência à composição “Tropicália” de Caetano Veloso, que, por sua vez, foi inspirada em uma instalação visual de Hélio Oiticica. Rica em conotações, a expressão remonta diretamente a imagens do Brasil associado a um “paraíso tropical”, como o descrito na carta de Pero Vaz de Caminha. A apropriação dessas representações promovia a sátira de emblemas da brasilidade. No entanto, como aponta Christopher Dunn, longe de caracterizar-se enquanto movimento antinacional, a tropicália promovia, na verdade, um nacionalismo agressivo. Profundamente inspirado na antropofagia de Oswald de Andrade, o movimento aproximava-se de uma renovação estética com articulações com a cultura nacional. Era preciso ser originalmente brasileiro e ao mesmo tempo moderno. Os tropicalistas16 criticavam certas formas de nacionalismo cultural vinculadas ao ufanismo do regime, por um lado, e à esquerda política, de outro. 16 As principais referências internacionais dos tropicalistas eram exatamente aquelas que impulsionaram os movimentos culturais e políticos da juventude americana e européia, como Bob Dylan, os hippies, os Beatles. Heloísa Buarque de Hollanda observa: “Cabelos longos, roupas coloridas, atitudes inesperadas, a crítica política dos jovens baianos passa a ter uma dimensão de recusa de padrões de bom comportamento, seja ele cênico ou existencial” (1992, p. 55). 60 Como observa Heloísa Buarque de Hollanda, esse movimento começa a pensar a necessidade de revolucionar o corpo e o comportamento, “rompendo com o tom grave e a falta de flexibilidade da prática política vigente” (1992, p. 61). A partir de 1968, passa a chegar ao país a informação da contracultura internacional, dos poetas beats, como Allen Ginsberg, e de autores, como Marcuse. A tropicália concentrava suas produções musicais nos desejos e frustrações cotidianos dos moradores das grandes cidades, revelando a proposta de uma crítica à modernidade brasileira. Não apenas no conteúdo, mas sobretudo na forma era preciso se opor ao sistema. Os parangolés de Hélio Oiticica propunham a abolição entre arte e vida a partir de um exercício experimental de liberdade, de transformação por meio da experiência sensorial. A música “Tropicália”, de Caetano Veloso, oferecia um sem-fim de referências, compondo uma montagem fragmentada de ditados populares, citações musicais e literárias. O resultado é uma alusão à trajetória de Brasília como símbolo do progresso nacional e do fracasso de uma modernidade democrática. Distanciando-se do pensamento de esquerda da época, os tropicalistas trabalhavam com a idéia de que a música deveria ser compreendida como um produto comercial para venda. Nesse sentido, os artistas baianos17 mostravam consciência de que a música era um produto pop, mesmo quando se expressava em oposição a instituições políticas e culturais dominantes. Apesar de não serem recebidos como artistas abertamente de oposição, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos em dezembro de 1968 e em seguida exilados em Londres por dois anos e meio. Dunn e Hollanda atribuem à prisão primeiramente a forte contestação comportamental que os tropicalistas encabeçaram. Seguido a isso, é considerado o fato dos artistas realizarem esse ataque em apresentações na televisão, e não somente nos teatros e 17 O chamado “grupo baiano” que trabalhou em colaboração com Gil e Caetano: Gal Costa, Tom Zé, José Carlos Capinam, Torquato Neto – que era piauiense, mas havia se mudado aos 16 anos para Salvador. Eles migraram para São Paulo, trabalhando com vários compositores do cenário musical de vanguarda, como Rogério Duprat e a banda Os Mutantes. Dunn observa que o movimento tropicalista, “até certo ponto, era produto da tensão criativa entre os baianos e o meio cultural cosmopolita que encontraram em São Paulo” (2009). 61 clubes. Para Dunn, essa invasão dos músicos na mídia “parecia particularmente perigoso a um regime que usava os veículos de comunicação de massa para projetar sua própria visão harmoniosa do Brasil” (2009, p. 172). No final de 1968, é promulgado o AI-5, marcando um período de forte desilusão política, “concretizando o que se chamou de ‘segundo golpe’” (1992, p. 69). No início dos anos 70, quando a repressão alcançava seu auge, a contracultura brasileira surge tardiamente no país. Heloísa Buarque de Hollanda considera que a impossibilidade de mobilização e debate político no período transferiu naturalmente para as manifestações artísticas “o lugar privilegiado da resistência” (p. 92). Gil e Caetano, que voltaram do exílio em 1972, recusaram papel de liderança do movimento contracultural, revelando certa descrença em uma mudança social a partir da arte. Em entrevista, Gil confessa: Teve um momento em minha vida em que eu achei que tinha obrigações políticas com a sociedade, no sentido de contribuir o mais intensamente possível para as transformações desejadas. E, de certa forma, eu ainda penso assim e ainda faço assim, só que eu tive desilusões muito grandes, eu aprendi que a gente não pode tanto, não pode. A gente pode outras coisas, mas não necessariamente transformar o mundo da noite pro dia (GIL apud DUNN, p. 201). A desilusão que marca a fala de Gilberto Gil faz-se presente também em seu primeiro álbum pós-exílio, Expresso 2222. Ao mesmo momento em que adota o estilo de vida contracultural, o cantor também sintetiza o sentimento de fim do sonho que chegou ao país já sem a mesma força que atingira os Estados Unidos e Europa. Em 1975, Caio Fernando já sinaliza a ruptura com o sonho hippie, indicando a sintonia com os acontecimentos da época. O conto “Loucura, chiclete & som”, publicado na antologia Ovelhas Negras, apresenta um jovem que avalia a conseqüência do consumo de drogas, antes libertário, agora marcado pela paranóia, pela morte por overdose. O dentista “careta” aproxima-se do estilo hippie, utilizando suas gírias, indicando o vazio da 62 experiência. “The dream is really over”, afirma em certo ponto o personagem numa referência ao pronunciamento de John Lennon no início da década, em entrevista a Rolling Stone18, sentenciando o fim do sonho contracultural. No final do conto, é formulada a pergunta de toda uma geração: “a culpa é deles que deixaram tudo torto assim ou é a gente mesmo que está envelhecendo sem achar outra coisa, hein, cara?” (2009, p. 81). Na virada entre as décadas de 60 e 70, tanto na tropicália quanto no movimento contracultural (ou pós-tropicalista, como quer Holanda), existia um desinteresse crescente pela política, marcando uma recusa pelo projeto anterior da esquerda, vinculado a uma “arte revolucionária”, engajada. O tema da liberdade, da desrepressão, simbolizados pelos tóxicos e pela psicanálise, substituía os temas políticos. Em uma espécie de balanço do que significou os anos 70, Caio Fernando Abreu, em crônica intitulada “Pequenas e grandes esperanças”, avalia a influência das drogas no cenário de combate à repressão política no país: Foram anos em que não se podia viver muito para fora: a repressão política nos empurrava pra dentro. Nesse movimento, havia duas opções principais e radicais: ou você caía de cabeça nas drogas ou mergulhava na clandestinidade política. O que ligava os dois comportamentos era uma vontade poderosa de mudar o País e o planeta, fosse através do ácido lisérgico nas caixas-d’água das cidades, fosse pela revolução do proletariado. (2005, p. 141) Nesse sentido que Caio atribui ao uso de drogas para contestação política, resgato novamente Hollanda, destacando a relativização que ela busca traçar no que diz respeito a um movimento de resistência. Considerando que tanto a participação política, como o uso de tóxicos desempenham papeis desviantes e por isso sujeitos a repressão, ela percebe uma “remapeamento da 18 Em janeiro de 1971, John Lennon concede uma entrevista em que anuncia o fim dos Beatles e da contracultura. “O sonho acabou. Não estou falando só dos Beatles, estou falando de toda a geração. Acabou, e nós temos – eu pessoalmente – que descer à Terra e voltar à realidade” (LENNON, 2008, p. 45). 63 realidade”, a partir de uma alteração na direção dos interesses. Sendo valorizada a realidade dos grandes centros urbanos, a identificação do artista não é mais imediatamente com o proletariado revolucionário, mas com as minorias sociais. A produção de Caio Fernando é marcada por esse olhar voltado para os desajustados, pelo fantasma de um sonho interrompido, pela loucura e pela repressão. Morangos Mofados surge como o ápice desse momento que já pontuava a obra do autor pelo menos desde Pedras de Calcutá, mostrando ativistas políticos de esquerda e protagonistas do chamado desbunde completamente atordoados. Heloísa Buarque de Hollanda, numa análise da obra, afirma: “Morangos não deixa de revelar uma enorme perplexidade diante da falência de um sonho e da certeza de que é fundamental encontrar uma saída capaz de absorver, agora sem a antiga fé, a riqueza de toda essa experiência” (HOLANDA, 2005, p. 9). O livro, não por acaso, é dedicado a Caetano Veloso e todos os amigos vivos do autor, e à memória de John Lennon e a de todos os amigos mortos. Além disso, o próprio título Morangos Mofados pode ser lido como uma referência a uma das músicas mais conhecidas dos Beatles: “Strawberry fields forever”19. Nessa música, o sonho contracultural é representado pelos morangos que se espalham por vastos campos. Caio, porém, nos apresenta frutos mofados, indicando o aparente tom pessimista da obra. Essa leitura do título enquanto referência à música de Lennon e McCartney é autorizada pelo próprio autor ao fazer uso do refrão de “Strawberry fields forever” como epígrafe em sua obra. Recorrendo ao trecho da música dos Beatles, Caio Fernando introduz o leitor à última parte de Morangos Mofados, constituída de um único conto, homônima ao livro. Aqui se revela uma nova chave de leitura, apontando que talvez haja uma saída positiva para o doloroso despertar das personagens desse mundo de desilusão. Nesse conto, Caio dá vida a um 19 O sucesso dos Beatles também serviu de referencia para as musicas “Sugarcane Fields Forever” e “Chuck Berry Fields Forever”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente. A primeira alude às plantações na Bahia, evocando uma historia de miscigenação e hibridismo cultural, reforçando a idéia do palimpsesto tão explorada pelos tropicalistas. Já a composição de Gil vincula o surgimento do rock à cultura negra. 64 publicitário, ex-hippie que acredita ter um câncer na alma. O único sintoma é um forte gosto de morangos mofados em sua boca. Em visita ao médico, o publicitário tem como diagnóstico uma saúde perfeita. No entanto, lhe são receitados alguns tranqüilizantes. Ao tomar uma dose três vezes maior que a receitada pelo médico, a personagem relembra a música de Lennon e um passado de esperanças perdidas, constatando em certo ponto: “Tudo já passou e minha vida não passa de um ontem não resolvido, bom isso. E idiota. E inútil” (p. 145). No vômito, induzido pelos comprimidos, a personagem consegue ainda “distinguir aqui e ali alguns pedaços de morangos boiando, esverdeados pelo mofo” (p. 146). A mão estendida, pronta para agarrar a mão perdida de John Lennon, mostra-se vencida por uma forte ventania daquele “terrível cheiro de morangos guardados há muito tempo” (p. 146). Porém, é do terraço de seu apartamento que ele consegue perceber que brota uma espécie de luz no horizonte e que no lugar das perdas irreparáveis encontram-se positivas transformações. O gosto de morangos mofados desaparece e agora ele, “exatamente como era, sem aditivos” (p. 148), questiona-se ao observar o concreto da cidade: “será possível plantar morangos aqui? Ou se não aqui, procurar algum lugar em outro lugar?” (p. 149). A resposta positiva a essa pergunta associa-se à leitura que Hollanda faz da obra de Caio, ao identificar um desejo de absorção da experiência da juventude dos anos 70 capaz de gerar novas saídas, reiterando a crítica à modernização desumanizadora representada pela solidão imposta pela metrópole. Avaliando Morangos Mofados, Pedro Paulo de Sena Madureira oberva: Os mais jovens, as pessoas que tinham 20 anos em 80, e que não viveram nada do que nós vivemos, receberam aquela experiência como uma herança boa, positiva, profícua. Essa herança está no livro de Caio e serviu, ainda que de forma inconsciente, como uma espécie de escudo contra o começo da padronização dos costumes e comportamentos que se inicia logo depois dos anos 80 com a globalização (apud DIP, p. 178). 65 Trata-se de uma produção que carrega não apenas as experiências, mas todo o universo que as circunda, composto pelas gírias, pelos hábitos cotidianos, pelas roupas. Nonato Gurgel ressalta: Muitos dos seus personagens herdaram os hábitos alimentares do universo hippie e suas técnicas de meditação; herdaram também seus produtos naturais, suas fumaças; um jeito de ver o mundo que nem sempre privilegia os chamados vencedores. (2008, p. 63) Os dragões não conhecem o paraíso, publicado no fim dos anos 80, ainda preserva a herança histórica da linguagem da década anterior, o estilo de vida, as referências artísticas. A imagem dos dragões que compõe o título da obra surge exatamente a partir do I ching, o livro das mutações, um clássico texto chinês que pode ser compreendido tanto como oráculo quanto como um livro de sabedorias. Na epígrafe que abre o conto-título, os dragões representam o instrumento que conduzem o homem aos céus, como resultado de uma contemplação do mundo, que lhe permite perceber efeitos e causas com clareza. O I Ching é constituído por 64 hexagramas que representam um momento universal. O escolhido por Caio na epígrafe é Ch’ien, o criativo, que simboliza a força inicial, luminosa, sugerindo um momento de desenvolvimento e realização. O hexagrama de Ch’ien surge reproduzido no final do livro. O texto chinês não é a única referência ao universo místico na obra. O candomblé, a astrologia20, a filosofia zen surgem abundantemente nessa obra remetendo-nos justamente ao desejo contracultural de uma fuga à racionalização do mundo. Em uma reportagem sobre o zen-budismo, produzida por Caio, em 1985, ele diz: “Zen não tenta compreender nada que seja esteja fora de ser” (apud DIP, p. 262). E deixa claro como os ensinamentos orientais 20 Caio era um estudioso de astrologia e inclusive produziu um livro de novelas intitulado Triângulo das águas, todo delineado a partir de uma simbologia astrológica. As três novelas que compõem o livro se estruturam sobre o elemento água, arquétipo da emoção. A narrativa final, intitulada “Pela noite”, faz ainda referências claras ao personagem Pérsio do romance Os prêmios, de Julio Cortázar, que sempre estava tentando compreender os astros. A narrativa de Cortázar se passa em alto-mar. 66 devem pontuar o cotidiano do homem metropolitano, ao introduzir a matéria com a clássica cena de alguém despertando atrasado para o trabalho, preso no trânsito, irritado com as pessoas em volta e consigo mesmo, pontuando: “Zen, seria, em vez do terrível esforço do grand-jeté da dança, um daqueles movimentos quase imperceptíveis do leque num passo do teatro Nô” (idem). Resgatar as conquistas e influências da década de 70, a década, como diversos personagens de Caio afirmam repetidamente, que ainda acreditava em alguma coisa, é manter-se resistente diante de um capitalismo ainda mais feroz porque foi capaz de silenciar a geração que sucede a do autor. A revolta diante da passividade e descrença dessa juventude dos anos 80 marca singularmente essa obra de Caio. O conto “Dama da noite” é todo estruturado a partir do choque geracional, revelando a crítica do autor não apenas a nova geração, mas sobretudo aos rumos da geração da qual ele faz parte que parece abandonada e perdida como a personagem do conto, incapaz de avaliar os ganhos e as perdas da experiência contracultural. 67 CAPITULO III – EM RUA EM VÃO Distantes dos elementos ligados à velocidade e à transformação que caracteriza a rua, os personagens de Caio Fernando são percebidos na sutileza de entrevisões. O apartamento ganha importância singular por catalisar sentimentos de apatia e solidão apresentando a realidade urbana como fatalidade, como algo diante do qual não há nada que se possa fazer. No intuito de priorizar a paralisia, o medo e a sensação de impotência, o autor volta-se para uma narrativa de cunho psicológico, marcando a tomada da subjetividade por lógicas que levam à destruição. Nesse sentido, à rua – lugar da mobilidade, dos acontecimentos – são atribuídas apenas breves referências e dificilmente o ambiente externo funciona como espaço para as ações dos personagens. Em um desses raros momentos em que a rua ambienta a narrativa, o autor trabalha reiteradamente a dificuldade do indivíduo em preservar sua condição humana em meio ao caos da metrópole. O conto “Creme de alface”, de 1975, publicado na antologia Ovelhas negras, é desenvolvido a partir de uma linguagem fragmentada, que evoca o ruído do trânsito, a poluição visual das lojas que se amontoam e principalmente a multidão que avança como “boiada, manada” (p. 129). A violência e a amargura da mulher que protagoniza essa narrativa são levadas ao extremo, expondo-a “biônica atômica supersônica eletrônica” (p. 132). O movimento frenético da rua parece trabalhar no sentido de uma desumanização dessa “mulher-monstro fabricada pelas grandes cidades” (p. 127), conforme comentário do próprio autor. Diante da brutalidade do espancamento de uma garota que a pede dinheiro na rua, as vozes do narrador e da personagem se fundem sinalizando: “Mas tantos carros passando e tanto barulho mas tanto tanto, justificaria depois, à noite, na mesa do jantar” (p. 131). A velocidade das ruas pautando também novas relações sociais associa-se à categoria que Simmel denominou de “intensificação dos estímulos nervosos” (1973, p. 12). É exatamente essa intensificação que marca a vida metropolitana, submetendo seu habitante ao descontínuo, a uma “rápida 68 convergência de imagens em mudança” (p. 12), ao invés de uma apreensão regular e pausada. Respondendo a esse fluxo com acréscimo de consciência, com o predomínio da inteligência, esse homem “reage com a cabeça, ao invés de com o coração” (p. 13), caracterizando a vida citadina. O foco narrativo de Caio Fernando parece concentrar-se num deslocamento do sujeito urbano do ambiente caótico da rua, poupando-lhe dessa multidão desordenada, desse apelo visual e sonoro. A intenção do autor, de explorar a experiência do homem que busca resistir a esse turbilhão, recusando o atordoamento imposto pela vida na cidade, ganha força exatamente na exploração de ambientes que estimulam a introspecção. Nesse sentido, os personagens da obra em análise raramente se encontram em trânsito pelas ruas. Quando existe uma movimentação espacial dos personagens faz-se a opção de não descrevê-la. Em “Linda, uma história horrível”, a narrativa tem início exatamente com a chegada do filho a casa de sua mãe. A distância entre a cidade grande que o filho habita e a interiorana Passo da Guanxuma ganha referência apenas na recordação da mãe, quando ela relembra a visita que fez ao filho anos atrás, chegando de avião naquela cidade que parecia “coisa de louco, aquela barulheira” (p. 26). O conto “Os sapatinhos vermelhos” é dividido em três partes, cada uma delas marcando a localização de Adelina em um ponto diferente da cidade. A narrativa é interrompida a cada mudança de cenário. Essa mesma lógica se repete ainda nos contos “Dama da noite” e “O rapaz mais triste do mundo”. Na produção de Caio, rua e cidade não são sinônimos. O único momento em que a cidade labiríntica21 é representada em Os dragões surge a partir da fusão entre a rua e o bar, reiterando a tendência do autor em privilegiar os espaços fechados. No conto “Uma praiazinha...”, o personagem 21 O labirinto é uma imagem-chave na análise benjaminiana sobre a modernidade, refletindo a atrofia da experiência sendo substituída pela vivência do choque. A cidade moderna assemelha-se a um presídio complexo de ruas cruzadas, marca da dispersão (Cf. GOMES, 2008). 69 deixa seu apartamento para realizar uma busca confusa por Dudu, o amigo de infância assassinado. Assim ele nos diz: Eu fui atrás, eu nem sabia que aquilo era um bar. Me perdi numas salas cheias de fumaça e gente estranha, gente falando muito e muito alto, atravessei umas portas, uns arcos, desci escadas, tornei a subir, fui parar numa janela grande aberta para a rua. Então olhei para o outro lado e lá estava você, na calçada oposta, embaixo de um outdoor de carro, calcinha ou dentes, não me lembro ao certo (p. 80). Espaço público, a rua, como lembra Fabris, “é o próprio mundo com seus imprevistos e suas paixões. Território da novidade, da ação, do movimento” (p. 71). Ela apenas ganha representação a partir da janela do bar, que acaba assumindo o papel dispersivo da rua, mostrando-se complexo, tomado pelas pessoas. O personagem contribui para essa aproximação quando em dado momento diz: “Amor aos montes, por todos os cantos, banheiros e esquinas” (p. 80). A equivalência entre os elementos banheiro e esquina indicam a estreita relação que rua e bar assumem. O afeto que um ambiente de transitoriedade e errância oferece, no entanto, não poderia ser outro que o “amor picadinho, claro, amor bêbado, amor de fim de noite, amor de esquina, amor com grana, amor com fissura, chato nos pentelhos e doença” (p. 80). Esse homem sinaliza que existe algo a lhe roer por dentro que não é esse amor “que não mata a sede da gente”, nem a falta dele. O personagem está à procura de outra coisa que apenas Dudu poderia oferecer. Todas as noites ele vai ao bar à procura do amigo: “Penso às vezes que, quando eu estiver pronto (...) um dia, um dia comum, um dia qualquer, um dia igual hoje, vou encontrar você claro e calmo sentado no Bar, à minha espera” (p. 81). Dudu, assassinado – pelo narrador-personagem, como é revelado ao fim do conto –, é agora memória de uma relação associada à sensibilidade, à pureza da infância. É justamente por ele que o personagem procura obsessivamente no bar, em contraposição à fugacidade dos encontros que 70 esse ambiente sugere. O bar, nesse sentido, carrega ao mesmo tempo a marca da dispersão do homem citadino e a possibilidade de encontro. No conto “O rapaz mais triste do mundo”, o bar e os personagens que nele transitam são apresentados a partir de metáforas marítimas. Esse “aquário de águas sujas” (p. 55), a que se refere o narrador, ambienta o encontro entre um homem de quase quarenta anos e um rapaz de quase vinte anos, ambos em trânsito. O primeiro volta à cidade de sua infância em visita ao pai, o segundo planeja dela sair. Nessa narrativa, o bar não surge apenas como cenário de mais um encontro fugaz. Ele representa um exercício de recordação de uma vida passada, simboliza a angústia de um futuro que nada oferece. Assumindo a leitura da água enquanto símbolo da emoção e do inconsciente, o bar (o mar) é visto também como lugar de reflexão22, exercício que o ritmo acelerado das ruas labirínticas da cidade não permite. Assim sendo, o autor explora a natureza desse ambiente noturno para desenvolver uma narrativa que sempre trabalha no sentido de uma interiorização. Em “Dama da noite”, a narrativa é construída a partir do olhar de profunda amargura da mulher que mantém a fé no encontro com “O Verdadeiro Amor”23. Nesse conto, é desvendada a crítica das relações humanas pautadas na lógica do consumo, em que a rua – sempre representada pelo bar – desponta como a própria essência da mercadoria. A postura de resistência que a dama da noite assume é definida na recusa em construir relações a partir da troca monetária. “Se quiser, posso ter. Afinal trata-se apenas de um cheque a menos no talão (...). Mas eu quero mais é aquilo que não posso comprar” (p. 88). 22 Aqui lembro as palavras de Buñel em Meu último suspiro: “O bar é para mim um lugar de meditação e recolhimento, sem o qual a vida é inconcebível. Hábito antigo que se arraigou ao longo dos anos (...), passei nos bares longos momentos de devaneio” (BUÑUEL, 2009). 23 Em geral, o autor utiliza a marcação gráfica das letras maiúsculas ao referir-se a personalidades clichês, como veremos mais adiante. Nesse caso, trata-se de uma expressão clichê. A marcação pode sugerir certa descrença diante desse encontro, aproximando-o ainda mais de uma ilusão. Apresentá-la bêbada, com discurso por vezes cômico, revela o pessimismo que parece considerar a potência da dispersão que a metrópole impõe. 71 Os freqüentadores dessa passarela da novidade e da moda simbolizada pelo bar “vestem preto e têm o cabelo arrepiadinho” (p. 84), incluindo a dama da noite e seu interlocutor. O figurino, nesta narrativa, parece apagar as diferenças entre as pessoas. Não por acaso, ela imagina O Verdadeiro Amor diferente de toda a gente do bar, conferindo-lhe singularidade em meio à uniformização. Além disso, se a moda associa-se ao artifício, instantâneo, fútil e passageiro, ela tenta apegar-se justamente a elementos que se contrapõem a esses valores. O tom fortemente pessimista do conto ganha força justamente no jogo de opostos entre o que o bar representa e a expectativa dessa mulher. Ambiente da fugacidade e de ilusões, esse espaço é trabalhado pelo autor como arquétipo da solidão e, no caso desse conto, de desejos não satisfeitos. É nesse cenário que a solidão ganha nova perspectiva e a dispersão da cidade labiríntica parece novamente sobrepor-se à irrupção de paixões. A AIDS é apresentada na obra como fator de isolamento desse homem que manifesta repetidamente a necessidade do outro. A única narrativa de Os dragões não conhecem o paraíso que tematiza a questão é a que introduz o livro, intitulada “Linda, uma história horrível”. A AIDS, no entanto, mesmo que apenas pontualmente, surge também nos contos “Mel e Girassóis” e “Dama da noite”, sempre se estabelecendo como um mal urbano que age no sentido da desconfiança do outro, da solidão inescapável. Em todos eles, a AIDS é subentendida em maior ou menor grau, podendo ser encontrada a sigla escrita unicamente nos dois contos em que ela não ocupa a discussão central. A escolha de não utilizar a sigla explicitamente considera a carga de significado embutida na síndrome, forçando o autor a procurar transcendê-la no intuito de uma problematização das conseqüências da AIDS – mais especificamente do que a AIDS representa – no convívio humano. Quem desvenda a intenção dessa elipse é Marcelo Secron Bessa: “Reconhecendo que o ato de nomear imprime valores já dados, alguns escritores retiram-lhe o nome, e podem, assim, discutir a doença e suas imagens pré-fabricadas” (p. 73). Susan Sontag, no ensaio “Doença como metáfora”, de 1978, empenhase exatamente em esvaziar os significados do câncer, objetivando exorcizá-lo da acepção da doença como uma maldição, um castigo, uma vergonha. A idéia 72 de concentrar-se no “câncer apenas como uma doença, uma doença muito grave, mas apenas uma doença” (p. 88), objetiva livrar o paciente de roupagens metafóricas deformantes capazes de impedir até mesmo a busca por um tratamento eficaz. Estimulados pela crença de que o câncer vinculavase a um estilo de vida reprimido ou a personalidades sensíveis, muitos pacientes procuravam tratamentos inúteis como terapias e dietas, em detrimento de métodos eficientes como a quimioterapia. “Eu estava convencida de que as metáforas e os mitos podiam matar”, analisa a autora dez anos mais tarde no ensaio “AIDS e suas metáforas”. Consciente de que doenças como o câncer e a AIDS são também construções discursivas e ideológicas, Caio Fernando busca esse esvaziamento de significado utilizando a elipse. No conto “Linda, uma história horrível”, o narrador em terceira pessoa conduz o leitor paulatinamente a descobrir, por pistas, a condição de soropositivo do filho em visita a mãe em sua cidade de infância. A estratégia de não explorar a onisciência do narrador possibilita que essa descoberta se dê principalmente a partir do olhar da mãe que o percebe magro demais, com o cabelo rareado e uma forte tosse. A velhice da mãe também ganha existência a partir do olhar do filho, que observa a pele enrugada, as machas da ceratose. A cadela Linda completa o triângulo de solidão e proximidade da morte composto por esses personagens. A elipse da AIDS nesse conto permite exatamente a exploração do sentido da vida diante da finitude, do abandono, dos amores perdidos. Os olhos que não se encontram simbolizam o medo de se saber outro, de tomar consciência de uma natureza condenável. Apenas no final da narrativa, diante do espelho, sozinho na sala, o filho passa os dedos sobre as manchas roxas no peito e parece se reconhecer na sombra daquele homem que lhe é tão estranho. É no encontro com o mais assustador de si que uma verdade transcendente ganha força, um pouco como GH, de Clarice Lispector24. Dessa forma, na evolução descritiva do reflexo no espelho, os 24 Na “Última carta para além do muro”, em que Caio Fernando anuncia sua condição de soropositivo, ele sugere imagem semelhante: “ o que importa é a Senhora Dona Vida, coberta de ouro e prata e sangue e musgo do tempo e creme Chantilly e confetes de algum carnaval, 73 olhos assustados de uma criança completam essa imagem, desvendando movimento muito similar ao que ele empreendeu nessa volta ao local de infância. Em geral, os personagens de Caio Fernando fantasiam regressar ao Passo, mas nunca o fazem. O conto em questão proporciona essa volta a um personagem vinculado à vida na cidade grande, distante de tudo o que é passado, “porque não têm passado os homens de quase quarenta anos que caminham sozinhos pelas madrugadas” (p. 55). Quando se arrepende da viagem que o levou a casa de sua mãe, ele se imagina retrocedendo no tempo, como se volta uma fita de videocassete, “para outra cidade, longe do Passo da Guanxuma, até a outra vida de onde vinha. Anônima, sem laços, nem passado” (p. 23). O encontro com a mãe tão debilitada pela passagem do tempo, da casa que já não possui as mesmas cores – imagens catalisadas sempre pela figura de Linda, cega e de pêlo manchado – apresenta aquele que talvez seja o sentimento mais forte da obra: a melancolia de um passado associado à pureza, ao amor. No entanto, ao conferir novas metáforas a AIDS, o autor não esquece o discurso excludente que a ronda. Em certo ponto, o personagem da mãe usa o termo “peste”, explorando, mesmo que apenas nessa breve passagem, talvez a mais grave metáfora atribuída a AIDS. Ela pergunta: “Saúde? Dizque tem umas doenças novas aí, vi na tevê. Umas pestes” (p. 25). A peste está invariavelmente associada ao perigo do contágio desenfreado inter-humano, conduzindo ao isolamento como mais urgente medida de proteção. “O tempo de peste é o da solidão forçada”, completa Jean Delumeau em sua análise sobre o medo, este, considerado por Lutero, “a peste mais temível” (apud DELUMAEU, p. 194). O outro surge então como ameaça. A peste vincula-se a uma espécie de invasão, representando o desconhecido, o estrangeiro, indicando, conforme Sontag sinaliza, raízes do conceito de errado. O personagem do conto de Caio ao mirar-se no espelho descobre esse outro que a sociedade aponta e condena. A AIDS, como lembra Bessa, “é percebida e vivenciada como uma doença do outro, daquele que é visto como descobrindo pouco a pouco seu rosto horrendo e deslumbrante. Precisamos suportar. E beijála na boca” (p. 90). 74 (...) marginal à sua própria sociedade” (p. 91). A pessoa poluente é sempre errada, assim como o inverso da sentença é válida, a pessoa errada é a fonte de poluição (Cf. Sontag). Sobre a tendência histórica de culpar o outro diante da peste, Delumeau aponta: Os culpados potenciais, sobre os quais pode voltar-se a agressividade coletiva, são em primeiro lugar os estrangeiros, os viajantes, os marginais e todos aqueles que não estão bem integrados a uma comunidade, seja porque não querem aceitar suas crenças – é o caso dos judeus –, seja porque foi preciso, por evidentes razões, isolá-los para a periferia do grupo – como os leprosos –, seja simplesmente porque vêm de outros lugares e por esse motivo são em alguma medida suspeitos (p. 204). Partindo dessa idéia, Sontag lembra que a visão clássica do surgimento da AIDS remete-nos exatamente a África, ao “continente negro”. A culpabilidade do estrangeiro extrapola a questão geográfica, atingindo aqueles, conforme salientou Delumeau, que são de alguma forma considerados diferentes dos demais. Os homossexuais masculinos surgem como os principais culpados, liderando o grupo do “eles”, juntamente com os pobres, os negros e os consumidores de drogas ilegais, contrapondo-se, por sua vez, ao grupo do “nós”, composto pelos heterossexuais, brancos, de classe média e usuários de drogas legais. Em carta a Luciano Alabarse, em 1985, Caio Fernando diz: “Nunca me senti tão maldito. Homossexualidade agora é sinônimo de peste – ninguém se toca mais” (p. 123). A metáfora da peste evidencia uma exploração moralista dessa epidemia, que apenas se torna tão bem-sucedida devido ao meio de transmissão mais comum do vírus: o ato sexual. O sentimento de culpa também está intimamente relacionado a essa idéia, associando o doente a um comportamento delinqüente e irresponsável. Delumeau observa que “se a epidemia era [interpretada como] uma punição, era preciso procurar bodes expiatórios que seriam acusados inconscientemente dos pecados da coletividade” (p. 204). No caso da AIDS, a ciência e a imprensa ajudaram a 75 difundir a crença de que antes de se tratar de uma doença causada apenas por excessos sexuais, tratava-se sobretudo de uma doença causada pela perversão sexual (Cf. Sontag). Reinaldo Arenas, na introdução de sua autobiografia Antes que anoiteça, concluída em 1990, registra com pessimismo o sentimento de quem se sabe vítima de uma doença acompanhada de forte julgamento moral: “grande parte da população marginal que deseja apenas viver e, por isso mesmo, passa a ser inimiga de todo dogma e da hipocrisia política, irá desaparecer com essa calamidade” (p. 15). Contrair AIDS é descobrir-se parte de um “grupo de risco”, expondo uma identidade que “poderia ter permanecido oculta dos vizinhos, colegas de trabalho, familiares e amigos” (SONTAG, p. 97), tendo como conseqüência a discriminação e a perseguição. Bessa ressalta que, no caso do Brasil, “a AIDS chegou antes da AIDS” (p. 44-45), apontando que as informações sobre a doença chegavam rapidamente ao país, “quase sempre de intolerância travestida de ciência” (idem), quando nem mesmo havia sido registrada alguma morte em decorrência da AIDS em território nacional25. Nesse sentido, a mídia surge como principal meio difusor dessa concepção negativa da AIDS nos contos de Caio Fernando. A personagem da mãe em “Linda, uma história horrível” acompanha pela televisão as notícias sobre a “peste”. Em “Dama da noite”, a confusão de informações sobre a síndrome também ganha destaque: “Transmite pela saliva, você leu em algum lugar. (...) Transmite pelo suor, você leu em algum lugar. (...) Pega até de ficar do lado, beber no mesmo copo” (p. 86). Essa atmosfera de desconfiança revela aquilo que Caio Fernando, em crônica26 de 1987, chamou de AIDS psicológica, “a mais grave manifestação do vírus”. “Dama da noite” é talvez o conto em que mais claramente se evidencia o medo do outro, apresentando um discurso doloroso que representa uma geração marcada pela liberação sexual de repente surpreendida “por uma 25 A primeira morte em decorrência da AIDS reconhecida publicamente no Brasil foi do estilista Markito, em 1983. 26 “A mais justa das saias”. 76 espécie de vírus de direita”. A voz da dama da noite sobrepõe-se absoluta anulando qualquer intervenção do boy, representante de uma nova geração ignorante, educada pela mídia, dominada pelo pavor da contaminação. “Conta pra tia: você lê, meu bem? Nada, você não lê nada. Você vê pela tevê, eu sei. Mas na tevê também dá, o tempo todo: amor mata amor mata amor mata” (p. 86). A fala dessa mulher é marcada pela revolta diante de uma sociedade que trabalha a favor do isolamento, lembrando sempre que tocar o corpo do outro se trata agora de ameaça. A despeito de todos esses elementos, ela apresenta uma postura de resistência frente à solidão que se coloca irremediável. Confundindo-se com o vírus, ela evoca a metáfora da peste, reiterando o medo da contaminação: Eu sou a dama da noite que vai te contaminar com seu perfume venenoso e mortal. Eu sou a flor carnívora e noturna que vai te entontecer e te arrastar para o fundo de seu jardim pestilento. Eu sou a dama maldita que, sem nenhuma piedade, vai te poluir com todos os líquidos, contaminar teu sangue com todos os vírus. Cuidado comigo: eu sou a dama que mata, boy (p. 86). Nesse momento, ela parece assumir a relação que o estranho e o inadequado mantêm com a síndrome. Neste conto, narrado em primeira pessoa por esta mulher que representa a solidão, a cidade aparentemente quer se preservar saudável e forte, excluindo os que, de alguma forma, representam certo desvio ameaçador. É dessa forma que a dama da noite se percebe, como um perigo capaz de desestabilizar, ou talvez pôr fim, a uma lógica conservadora, limpa, perfeita, segura em sua felicidade burguesa. No entanto, na produção de Caio, comumente a cidade é que surge contaminada “por uma peste desconhecida, mortal e sem nome que atinge habitantes, prédios e bairros” (texto on-line), como observa Renato Cordeiro Gomes, em análise sobre Onde andará Dulce Veiga?, em que considera o discurso aí embutido sobre a AIDS. Doente, deteriorado, detentor desse poder infeccioso, o espaço 77 citadino trabalha sempre no sentido da dispersão, desvelando uma acepção de uma AIDS psicológica, da qual falava Caio. Isso se revelará mais claramente no conto intitulado “Anotações de um amor urbano”, publicado em Ovelhas negras. Aqui o narrador questiona como os amores, as paixões podem resistir a esse ambiente poluente, de desconfiança. “Como chamar agora essa meia dúzia de toques aterrorizados pela possibilidade da peste? (Amor, amor certamente não)” (p. 188). O mal que acomete o espaço urbano é justamente o medo do outro, a solidão, a valorização do intelecto sobre as emoções. “A cidade está podre, você sabe. Mas a cidade está louca, você sabe. Sim, a cidade está doente, você sabe. E o vírus caminha em nossas veias, companheiro” (p. 189). A progressão desse argumento que considera uma cidade doente, envenenada por sua própria loucura, culmina na busca por elementos associados ao sentimento, à memória, numa tentativa de preservar o humano constantemente ameaçado pelo concreto. 3.1. Campo e cidade “Para todos eles, a verdadeira pátria encontrava-se para além dos muros desta cidade sufocada. Ela estava nas matas perfumadas das colinas, no mar, nos países livres e no peso do amor”. Albert Camus, A peste Passo da Guanxuma surge nas narrativas de Caio Fernando como uma cidade do passado, lugar da infância, símbolo da natureza. Tratando-se de uma cidade imaginária, um pouco como a Santa María, de Juan Carlos Onetti, como queria o autor, ela funciona como contraposição à realidade cinza de São Paulo. Em “Introdução ao Passo da Guanxuma”, de 1990, publicado em Ovelhas Negras, Caio nos apresenta o que seria o primeiro capítulo de um 78 romance dedicado à cidade, projeto nunca concluído27. Aqui, à semelhança de as Cidades Invisíveis de Calvino, o autor apresenta uma cidade quase mágica, como uma pequena aranha “inofensiva, embora louca” (p. 65), cujas quatro patas indicassem quatro corredores definindo sua estrutura. No texto, lendas envolvendo guerreiros tapuias, mulheres que dominam a ciência das ervas, narrativas orais remetem a uma sociedade pré-capitalista que, conforme descobrimos por fim, encontra-se ameaçada. Nenê Tabajara, personagem que simboliza a ambição do progresso, habita o lado oeste da cidade, em vias de desaparecimento diante de um deserto28 que avança, “transformando tudo em lenda e passado” (p.73). O deserto é signo do esquecimento e do avanço técnico, referido no texto pelas antenas de tevê e as parabólicas, o veneno nas plantações, as monoculturas. No sentido contrário, a escolha pela planta guanxuma como representação dessa cidade desvela uma metáfora da resistência diante da destruição da natureza e da sensibilidade engendrada pelos elementos associados ao capitalismo. Tendo a função de chá digestivo e utilizada para produzir vassouras, guanxuma batiza essa cidade-refúgio da memória, lembrando que apenas os ramos dessas vassouras podem assentar a poeira que aquele deserto “sopra e sopra noite e dia sem parar e, dizem, dizem tanto, ai como dizem nesse Passo, nunca pára de crescer” (p. 73). Em crônica intitulada “São Paulo”, Olavo Bilac mostra-se encantado com as transformações urbanísticas da capital paulista, não sem revelar certo espanto em face de tantas mudanças. “Porque o que envelhece a gente é a 27 O autor previu, conforme depoimento, que, por se tratar de um romance tão ambicioso e caudaloso, jamais viria a realizá-lo. 28 O deserto é uma imagem recorrente na produção do autor. Destaco o conto “Pela passagem de uma grande dor”, de Morangos Mofados. A personagem em certo ponto diz: “Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior. Fica cada vez maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia?” (p. 39). Nessa narrativa, Caio imprime uma preocupação ecológica que seria lembrada posteriormente por uma espécie de pioneirismo para a época e também por associá-la ao isolamento dos personagens que compõem esse conto marcado por silêncios, entre duas pessoas que falam ao telefone. Em outro conto do mesmo livro, “Aqueles dois”, o narrador compara a burocrática repartição que funciona como elemento repressor a um “deserto de almas”. 79 perpétua transformação das coisas” (1996, p. 45). Apesar do tom romântico dessa “crônica de saudades” que pontua seu exercício de rememoração da cidade calada dos tempos de estudante, dos amigos já mortos, ele não deixa de ressaltar a excitação diante da evolução daquela aldeia em que viveu enquanto jovem na cidade de então, treze anos depois, “essa lenta passagem do estado de lagarta ao estado de borboleta” (p. 49). Em meio a sentimentos ambíguos diante do ritmo de mudanças da metrópole, o cronista não deixa de ressaltar a felicidade do aldeão que nunca saiu de sua aldeia, distante do sentimento de morte que acompanha os habitantes das grandes cidades, protegido pela segurança da imutabilidade da natureza. A natureza não muda: quem viu hoje o seio de uma rude selva vem achá-la com a mesma fisionomia daqui a dez anos, com os mesmos troncos que os cipós enlaçam, com as mesmas sombras que os ninhos das aves e as tocas das feras povoam de gorjeios e uivos. Nas aldeias humildes, cerradas à ambição, também as transformações são tão lentas, tão morosas que ninguém sente: o homem nasce e morre, vendo as mesmas gentes e as mesmas coisas, paradas e calmas, na beatitude de uma paz inalterável... Mas, as cidades! As cidades mudam de ano em ano, de dia em dia, de hora em hora. (p. 46) O ritmo da vida metropolitana apresenta contraste profundo com a vida de cidade pequena. A vida no campo é marcada não apenas por um ritmo menos acelerado, mas sobretudo por um fluxo menos intenso do conjunto sensorial de imagens mentais. Simmel considera que é neste ponto que o caráter da vida metropolitana se torna mais compreensível, “em oposição à vida de pequena cidade, que descansa mais sobre relacionamentos profundamente sentidos e emocionais” (1973, p. 12). Os laços mais fortes do relacionamento interpessoal se enraízam em camadas mais inconscientes do psiquismo, crescendo ao ritmo constante da aquisição ininterrupta de hábitos em contraposição ao intelecto que se situa nas camadas conscientes, mais altas do psiquismo. O intelecto não exige choques ou transtornos para acomodar-se a mudanças. Tendo em vista que apenas através desses 80 transtornos seria possível acomodar-se a vida na metrópole, o homem que a habita acaba por desenvolver uma consciência elevada, numa predominância do intelecto sobre o coração. A intelectualidade acaba por funcionar como um mecanismo de preservação da vida subjetiva contra o poder avassalador da vida das grandes cidades. Enquanto sede da economia monetária, a metrópole vincula-se diretamente ao intelecto. A fragilidade do comércio rural, aponta Simmel, não teria condições de permitir a multiplicidade e a concentração da troca econômica própria da cidade grande. Mesmo assim, o comércio de cidades pequenas trabalha no sentido de que a produção sirva ao cliente que solicita a mercadoria, de modo que o produtor e o consumidor se conheçam. A metrópole é provida quase completamente da produção para o mercado, para compradores desconhecidos. Esse ritmo da cidade grande sustenta um comportamento que encara como prosaico o lidar com homens e coisas, unindo-se, por fim, a uma dureza desprovida de consideração. A mente moderna se torna mais e mais calculista. O dinheiro, com toda sua ausência de cor e indiferença, torna-se o denominador comum de todos os valores. A cultura moderna se desenvolve exatamente no sentido de uma preponderância do espírito objetivo sobre o subjetivo. Nesse sentido, Passo da Guanxuma e todos os elementos associados à vida no campo surgem na produção de Caio Fernando como elementos ligados à sensibilidade. O conto talvez mais positivo do livro Os dragões não conhecem o paraíso, intitulado “Mel e girassóis”, dá conta do encontro de um homem, definido pelo narrador como um “Alto Executivo Bancário A Fim de Largar Tudo Para Morar Num Barco Como O Amir Klink”, e uma mulher, uma “Psicóloga Que Sonhava Escrever Um Livro”. Ambos estão de férias em uma praia, distantes do espaço urbano, porém o espírito objetivo metropolitano de que fala Simmel domina esses personagens. A lógica do mercado, que envolve as ofertas, os produtos, os consumidores, não é excluída desta narrativa. Antes disso, ela é ressaltada, expondo a ilusão que envolve as férias desses dois. Eles são mostrados como caricaturas pelo narrador, como revela a marcação gráfica que funciona no sentido de um rótulo social. 81 O movimento do narrador é exatamente de desconstrução da falsa idéia de um afastamento da lógica da metrópole quando da aproximação com a natureza. O sistema também controla esse universo e devolve às pessoas como mercadoria. Não por acaso, marcas de produtos são mencionadas com freqüência nessa narrativa. O óleo de bronzeamento é Copertone. Os cigarros são Marlboro. Os óculos de sol são raibans. O tranqüilizante é Dienpax. Em certo ponto ela arrisca que o cheiro dele possa ser Paco Rabanne ou Eau Sauvage ou ainda Phebo. E quando se imagina, com desgosto, em seu carro avançando pelo Minhocão, ela está em um Fiat verde. Aquela praia, com aquele sol e aquela brisa, é mais uma aquisição do consumidor, como todos os outros produtos referenciados ao longo do texto. A ironia reside no fato de que as personagens não percebem que ainda estão vivendo sob a lógica da cidade grande, mesmo sem as buzinas, a pobreza, os altos edifícios e o ar poluído. Apesar dessa praia fundir-se à lógica metropolitana, ela aproxima-se ao Passo da Guanxuma na medida em que a estadia desse casal tão urbano em contato com a natureza parece ter engendrado uma transformação, tendo se reconhecido amorosamente. A primeira vez que a cidade fictícia aparece em um conto de Caio Fernando é em “Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga”, escrito em 1984 e publicado no livro Os dragões não conhecem o paraíso, quatro anos depois. Essa narrativa dá conta de arrependimentos, amarguras e da profunda solidão do personagem após sua saída do Passo da Guanxuma. É exatamente nesse conto que a cidade interiorana ganha maior espaço no livro de Caio. Mais que oposição à cidade grande, o Passo surge nessa narrativa como um fantasma, personificado na figura de Dudu, do qual o protagonista tenta fugir e ao mesmo tempo reencontrar. Esse movimento dialético marca a relação dele com sua cidade de origem. Recorrendo à imagem de um equilibrista circense que ao andar sobre um arame “gelado e cortante tipo fio de faca” (p. 78) sente o arame arrebentar, restando sozinho suspenso no ar, com o enorme vazio embaixo dos pés, esse personagem procura significar o sentimento do errante em que se transformou ao deixar o Passo. 82 Você não sabe, mas acontece assim quando você sai de uma cidadezinha que já deixou de ser sua e vai morar noutra cidade, que ainda não começou a ser sua. Você sempre fica meio tonto quando pensa que não quer ficar, e que também não quer – ou não pode – voltar. (p. 76) Passo da Guanxuma é, sobretudo, a representação de Santiago do Boqueirão, cidade natal de Caio Fernando Abreu, onde este viveu até os 15 anos, quando se mudou para Porto Alegre para concluir os estudos em um colégio interno. Logo após sua partida, em cartas aos pais, que só mudariam para a capital gaúcha anos depois, ele dizia estar doente, precisando voltar a Santiago. Por vezes, ameaçava o suicídio, revelando uma incrível incapacidade em adaptar-se à nova cidade. Na biografia Para sempre teu, Caio F., Paula Dip revela: “Foi um dos períodos mais difíceis de sua vida, em que aconteceu o que se chama em literatura a ‘perda da inocência’, seu primeiro embate com a dura realidade” (DIP, p. 108). O autor assim analisa a experiência: Lá o mundo começou a doer – dor conscientizada pela solidão insuportável e o mergulho um pouco desesperado em Dostoievski, Joyce, Proust, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Salinger, Satre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Katherine Mansfield, Hermann Hesse – dessa mistura toda nasceram os contos que comecei a publicar no suplemento do Correio do Povo. (ABREU apud DIP, p. 108) Algo semelhante se repetiria na mudança de Caio para São Paulo, em 1968, reverberando em seus textos que se tornariam mais densos e urbanos a partir de então. O ponto de vista adotado nas narrativas em geral passa a ser o de um homem da cidade, desiludido com a cultura urbana de seu tempo. Existe também a consciência de que na passagem do campo para a cidade algo se perdeu, intensificando a sensação de desajuste. Essa passagem associa-se a outra, a da infância para a fase adulta, como sinaliza Dip. No conto “Pequeno monstro”, dedicado a Grace Giannoukas e Marcos Breda, amigos gaúchos do autor que também enfrentaram a mudança para São Paulo, esse sentimento de transição ganha força no adolescente que a narrativa nos apresenta. Como um 83 pequeno monstro em formação, ele se sabe diferente e inadequado, escolhendo caminho muito semelhante aos demais personagens de Caio Fernando, o isolamento. Em certo ponto, ele diz: “E não queria que ninguém ouvisse minha voz de pato grasnando, visse meus braços compridos demais, minhas pernas de avestruz, meus pêlos todos errados” (p. 111). A narrativa evolui no sentido de uma transformação do narradorpersonagem, engendrada pela visita do primo Alex à casa de praia alugada pela família no verão. Trata-se da descoberta da sexualidade desse adolescente, morador do Passo da Guanxuma, de natureza sombria e introspectiva29. Como contraponto, já adulto, morador de Porto Alegre, o primo surge solar, de pele morena, dentes brancos demais, a voz grave e firme. Esse personagem conduz o adolescente a um processo de ampliação da visão de mundo, fazendo-o enxergar para além de uma família que não o compreende, de uma cidade que o limita, oferecendo, em troca, a liberdade do adulto. Nesse caso, ao contrário de grande parte dos contos de Caio Fernando, os elementos ligados à cidade grande e à fase adulta surgem carregados de positividade. Ser adulto e sair do Passo é, sobretudo, desligar-se das convenções que apequenam, da tradição que aprisiona e poda antes de conferir vitalidade. Esse é o único momento de Os dragões em que o espaço do campo surge claramente associado ao conformismo da tradição, indicando a inevitabilidade da mudança do personagem. Para esse garoto fã de Elvis, o desconhecido bairro do Partenon, em Porto Alegre, confunde-se com os mistérios dos lugares exóticos que servem de cenário para as histórias de aventura que pontuam a narrativa. “Partenon era quase tão bonito e longe quanto Sumatra, Zanzibar, Uganda” (p. 124), desvendando uma imagem dialética que aproxima o distante desconhecido à descoberta mais íntima. O mundo imaginário criado pelas 29 A aproximação desse personagem com Caio Fernando Abreu é inevitável. A pintora Maria Lídia Magliani, amiga do autor e sua colega no Instituto de Letras da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967, diz em entrevista a Paula Dip: “Ele morava numa pensão e era muito só, calado, acho que foi a pessoa mais tímida que já conheci. Tinha uma voz horrível: era um sussurro agudo e desafinado. Não tinha coragem nem de responder à chamada; João Gilberto Noll é que respondia por ele” (apud DIP, p. 115). Lembrando o personagem de “Pequeno Monstro” e do protagonista Maurício, do romance Limite Branco, Jeanne Callegari, em sua biografia sobre o autor, observa: “A voz de Caio, junto com outras preocupações típicas da adolescência, como a magreza excessiva, pode ter inspirado alguns contos em que os personagens se sentem feios, inadequados, até monstruosos” (p. 40). 84 estórias desemboca na percepção do cotidiano, marcando oposição à vida em família, fechada, pautada em regras que lhe são invasivas, humilhantes. Ao vislumbrar a mudança para Porto Alegre, depois de sentir tanto medo, ele confessa que foi “vindo uma coragem boa e uma alegria no coração, ia ser que nem filme” (p. 124). A previsão do personagem de sua vida na cidade grande é construída a partir de um discurso eufórico, que o autor sinaliza na verborragia de uma passagem que dispensa pontos finais, poupa vírgulas. Quase como um delírio ou mesmo um filme, ele se imagina como Elvis, ao lado de Alex que estuda para ser médico, “desses modernos que curam a cabeça dos outros para deixar todo mundo feliz o tempo todo pra sempre sem nenhuma culpa” (p. 124), como aparentemente curou ele mesmo de sua monstruosidade. Até que certo ponto, segurando-o pelo braço, o primo o traz à realidade, lembrando a família que os espera em casa, estabelecendo assim um corte nesse crescendo de expectativa ilusória. O autor sabe a dor que essa viagem sem volta reserva ao garoto. Ele, o narrador, não a imagina, nem seria possível imaginá-la, tão encantado com as possibilidades que a nova vida oferece. No desfecho do conto, ele abandona os discos de Elvis para ouvir uma dolorosa Maísa no rádio, ensaiando talvez a nostalgia e, em certa medida, o pessimismo que envolve essa viagem. O elemento musical apresenta-se de alguma forma profético em relação ao futuro, lembrando as palavras de Susan Sontag sobre a produção de Benjamin: “o trabalho da memória (ler-se ao contrário, ele o definia) faz o tempo desmoronar” (p. 90). O detalhe denuncia a consciência do autor diante do início da recordação que se dará no instante em que esse adolescente deixar a cidade de sua infância. Fundindo sua ficção com lembranças da adolescência, Caio Fernando trabalha no sentido de um encontro com a imagem da cidade interiorizada como imagem mnemônica. A alegoria da viagem para Benjamin marca esse passado irremediavelmente perdido, sempre resgatado através de um texto que prioriza a espacialização do mundo. “Compreender alguma coisa é compreender sua topografia, saber como mapeá-la. E saber como se perder” (SONTAG, p. 90). 85 Compreender o passado, ao invés de recuperá-lo, é exatamente o objetivo desse movimento para trás que o autor investe. A valorização das metáforas espaciais nesse processo tem origem no elemento saturnino, signo da lentidão e da falta de senso prático. Localizar-se numa cidade, interpretar seus mapas trata-se de tarefa complexa para o melancólico. Daí, as imagens sempre frequentes do labirinto, da densa floresta, associadas ao ambiente urbano, sugerindo não apenas a dificuldade de orientação, mas também os obstáculos que o próprio temperamento impõe (Cf. Sontag). O tempo para o melancólico significa repetição, inadequação, um maquinário incansável que conduz o passado a empurrar o homem, expulsando-o do presente em direção ao futuro. O espaço, ao contrário, é múltiplo, promove a novidade do entrelaçar de ruas, avenidas, viadutos, autoestradas. Por isso mesmo a memória está tão associada à alegoria da viagem, revelando, conforme Benjamin, “motivações de quem, em vez de viajar para longe, viaja para o passado” (apud BOLLE, p. 316). É nesse sentido que Sontag concebe um tempo que desmorona, liberto da seqüência linear, agora multifacetado na imagem complexa do mapa de uma cidade. Ela considera que o pensamento topográfico de Benjamin tem raízes principalmente no barroco alemão e no surrealismo, sensibilidades com as quais o autor possuía especial afinidade. A concepção dos dramaturgos alemães sobre a história do mundo enquanto crônica da desolação os fazia buscar escapar da história, recuperando a ausência da percepção temporal do paraíso. “A sensibilidade barroca do século XVII tinha uma concepção ‘panorâmica da história’: ‘a história se funde com o cenário’” (SONTAG, p. 90). A cidade surrealista, por sua vez, concebe a realidade como um conjunto de elementos, passíveis de reordenação e de ressignificação, revelando um empenho de tornar os signos urbanos decifráveis, como mensagens secretas. Benjamin recorre à alegoria da viagem para desenvolver o tema do eu que recorda e do eu recordado. São movimentos em direções opostas, que no texto tornam-se complementares. O adulto que recorda caminha para trás, 86 rememorando30, no exercício da escrita. A criança recordada caminha para frente, descobrindo o mundo. “A vida e a poesia da memória se encontram no meio do caminho” (BOLLE, p. 322). Caio Fernando explora a viagem como memória no conto “O rapaz mais triste do mundo”, representando esse duplo movimento já assumido por Benjamin. Em trânsito, os personagens se encontram em um bar, apresentados por um narrador onisciente que se confunde com o autor. Em certo ponto ele revela: “eu invento, sou Senhor de meu invento absurdo e estupidamente real, porque o vou vivendo nas veias agora, enquanto invento” (p. 58). O narrador evidencia a todo instante seu poder de construção do texto, substituindo palavras, desistindo de ações – “depois olha com olhos molhados pro rapaz e diz assim. Não, ele não diz nada. Ele olha com olhos molhados pro rapaz” (p. 60) –, expondo as engrenagens da ficção com o intuito também de tornar o autor elemento participante dessa narrativa. Desconstruindo a linearidade do tempo, ele reforça que apenas através do fazer literário seria possível promover esse encontro entre passado, presente e futuro. A volta do homem de quase quarenta anos a sua cidade de origem aproxima-se à volta daquele filho que ao visitar sua mãe a descobre tão fragilizada em sua velhice. Esse movimento revela dois caminhos interpretativos indissociáveis na obra de Caio Fernando. O primeiro marca que um regresso em busca de um paraíso perdido não faz sentido. Em “Linda, uma história horrível”, o narrador salienta repetidamente a transformação da casa, dos objetos, agora sem cor, danificados pela ação do tempo, além dos próprios personagens – Linda, a mãe e inclusive ele, que, ao voltar, já não é o mesmo de antes. Diante da imagem daquela mulher que é sua mãe, ele parece tentar recompô-la em sua mente, identificando gestos conhecidos num corpo agora tão estranho para ele31. 30 Importante ressaltar que para Benjamin há diferença entre a recordação e a rememoração. Conforme Bolle: “O trabalho de ‘recordação’, sustentado pela escrita, é reforçado pela ‘rememoração’, que inclui elementos ritualísticos, culturais e mitológicos. A rememoração implica a capacidade de ‘reconhecimento’ e de volta ao momento inicial” (p. 322). 31 Inevitável lembrar de A câmara clara, em que Barthes vasculha fotografias de sua mãe, morta havia pouco, no intuito de apreendê-la em uma imagem. O reencontro se realiza numa 87 Porém, é somente a partir dessa volta, desse reconhecimento de seu passado, do encontro com sua mãe, que ele consegue realizar o encontro consigo diante do espelho – e aqui está o segundo caminho interpretativo. É nesse retorno que o filho encontra a possibilidade de um autoconhecimento pleno, uma verdade transcendente. Os contos que sucedem esse que introduz Os dragões, invocando lembranças de uma vida tão luminosa associada ao passado, revelam na verdade o sentimento crítico de Caio Fernando diante do progresso vinculado à imagem da metrópole que representa a desumanização, a burocratização das relações, a ausência de amor, o medo entre as pessoas. Da mesma forma, o rapaz de menos de vinte anos chega a confundir-se àquele adolescente preso a sua monstruosidade. Ambos descobrem essa viagem em direção ao futuro e consequentemente à rememoração como inevitável. foto dela enquanto menina, que ele não reproduz no livro porque não poderíamos compreender o valor que assumira pra ele. Morte e memória são os grandes temas desse livro, principalmente da segunda parte, como observa Italo Calvino no belíssimo ensaio escrito à ocasião do falecimento do amigo, intitulado “Em memória de Roland Barthes”. 88 CONSIDERAÇÕES FINAIS Caio Fernando morou em diversas cidades, no Brasil e na Europa, e jamais conseguiu estabelecer-se definitivamente em uma delas. Nos anos que passou no Rio de Janeiro, escolheu para si o bairro de Santa Teresa. Em cartas, sempre ressaltava o contato com a natureza que a vida distante do centro proporcionava, conferindo ao bairro carioca uma realidade quase fantástica, descrevendo-o “meio tropical, meio colonial, meio bávaro. Meio muito” (p. 52). A distância que assume da cidade por vezes revela-se incrivelmente revitalizante: “É assim que me sinto: amanhecendo” (idem). Em carta a Maria Adelaide Amaral, explica sua relação com o Rio: “Aqui em cima do morro fico em retiro quase absoluto. Quando vou à cidade, volto irritado. Silêncio, ando obcecado por silêncio” (p. 66). Porém, com as chuvas de setembro, isolado no alto de Santa Teresa, sem conseguir se comunicar com ninguém, lembrando que é preciso cantar ou falar sozinho para ouvir a própria voz, ele confessa ao amigo João Trevisan: “Várias vezes tive impulsos fortes de voltar imediatamente para Porto Alegre” (p. 70). A inconstância do autor diz mais sobre a tensão que se estabelece em sua relação com os elementos de urbanidade, do que exatamente sobre uma cidade em especial, no caso o Rio de Janeiro. Durante sua existência, Caio Fernando pareceu procurar nas cidades pelas quais passou lugares que, de alguma forma, lhe inspirassem afeto, segurança, tentando resistir ou escapar da rapidez urbana, da sujeira das ruas, da violência da multidão. Porto Alegre, cidade para qual sempre voltou e que, por fim, elegeu habitar nos últimos meses de vida, nunca foi objeto de amor de Caio. Sobre ela dizia: “somos apenas bons amigos” (apud DIP, p. 429). Porém confessava amar o bairro do Menino Deus, o mais antigo da capital, repleto de casinhas antigas, resistindo à avalanche da modernização. Era ali que cuidava do jardim de sua casa, dos girassóis, ao lado do pai, pouco antes de morrer. Sobre sua volta ao bairro gaúcho após o agravamento de sua doença, Caio analisava: 89 Volto ao Menino Deus como um beduíno que desistisse de enfrentar o deserto para voltar ao oásis de onde saiu. Morto de sede, e com a faca da nostalgia do longe cravada, fundo, no peito. Às vezes dói, mas logo passa. (apud DIP, p. 430) O deserto, imagem tantas vezes resgatada por ele em suas narrativas, nunca foi mais trabalhada em sua associação com outra cidade, do que com São Paulo. A maior cidade da América do Sul povoa o imaginário do autor, funcionando sempre como símbolo de sua crítica ao capitalismo. Logo que chegou a São Paulo, Caio enfrentou uma forte depressão, sempre acusando em suas cartas e crônicas a pobreza das ruas, a violência das pessoas. Diferente do que ocorreu em Porto Alegre e Rio de Janeiro, ele não encontrou um refúgio em São Paulo capaz de abrigá-lo do ritmo urbano. Talvez por isso sua convivência com esta cidade tenha sido particularmente conflitante. No entanto, São Paulo, como tentei mostrar ao longo do trabalho, funcionava para Caio como representação do próprio país, uma imagem fragmentada e naturalmente caótica da realidade brasileira. Talvez por isso tenha morado mais tempo em São Paulo do que em qualquer outra cidade. Sobre a convivência com a capital paulistana ele observa, resgatando novamente a imagem de um casamento tumultuado, dessa vez dialogando com o estilo epistolar que se faz presente em toda sua produção: Sampa é definitivamente um caso de amor mal resolvido, sabe como? Você já amaldiçoou mil vezes a vez em que a conheceu, você já deu na cara dela, ela já deu na tua cara (vezenquando ficam marcas feias, roxuras, inchaços, cicatrizes), você já bateu forte a porta de casa jurando vingança e nunca mais voltar. Perfídia, injúria: abolerados blues. Mas voltou sempre... diz que até o ano 2000 abre uma fenda embaixo de Sampa e engole tudo. Deus, eu preciso dar um jeito de acabar com este caso. Devolva minhas cartas e minhas fotografias, diaba. Apesar de tudo, para sempre teu, Caio Fernando Abreu. (apud DIP, p. 137) A cidade da infância de Caio, Santiago do Boqueirão, associada à natureza e a elementos libertadores, estando sempre em contraposição à 90 metrópole, surge em seus contos a partir da fictícia Passo da Guanxuma. Santiago, para Caio, é também símbolo do conservadorismo familiar, da repressão comportamental típica de uma cidade provinciana. Na novela “Pela noite”, publicada no volume Triângulo das águas, é narrado o encontro de dois amigos de infância em que os traumas envolvendo a vida no campo se revelam, principalmente através do discurso de Pérsio, considerado um personagem autobiográfico (Cf. DIP, p. 102). Ele lembra: “Era medonho, cara. Era duma solidão horrenda, era dum desespero pânico. Era duma. Duma agressão, de um desprezo, de uma crueldade. Você não lembra?” (2008, p. 156). Este personagem se refere a uma reação de desprezo com relação a sua homossexualidade. Porém a solidão a que ele se refere pode ser também considerada num sentido mais amplo, que abarca uma maneira de perceber o mundo que se diferencia dos demais. Voltar já não é possível, como esse personagem mesmo constata. No entanto, o sentimento de nostalgia em relação à infância apresenta-se recorrente, sendo utilizada em sua produção em geral como resistência ao embrutecimento humano na cidade. De certa forma, quando Caio utiliza a imagem do beduíno que retorna do deserto para representar sua volta ao Menino Deus, ele evoca a imagem de seus personagens e da sede que eles sentiram em seus dramas urbanos. Caio Fernando manteve-se distante não apenas do ritmo urbano durante sua vida, mas da lógica capitalista que a domina. Quando morreu, os únicos bens que deixou foram um computador que ganhou de amigos, seus livros, discos e CDs, um aparelho de som, uma máquina de escrever, que chamava de Virginia Woolf, e sua coleção de galinhas de porcelana, que ficou para os sobrinhos (Cf. Dip). A essas galinhas ele dedicou uma novela infantil, intitulada As frangas. O tema das cidades se apresenta mais uma vez. Associando campo e cidade, o narrador dessa história diz: Como quase todo mundo numa cidade grande, moro num apartamento. Sei, agora você vai me perguntar assim: mas como é que você consegue ter um galinheiro dentro 91 de um apartamento? Pois não é que tenho mesmo?” (2001, p. 23). A memória na produção de Caio surge justamente como possibilidade de reencontro, como se de repente fosse possível guardar a infância num cômodo de apartamento, a imagem da rua em que morou para sempre preservada no hall de entrada do edifício. O itinerário assumido por Caio ao longo de sua vida revela um mapa complexo, de rumos que parecem conduzir sempre ao encontro com a sensibilidade. Ao longo desta pesquisa, em que tentei construir meu próprio itinerário, revelou-se impossível não me remeter, de alguma forma, a diversas cidades, como a Turin, de Italo Calvino, a Buenos Aires, de Cortázar, a Roma, de Fellini, a Tóquio, de Yamamoto, pela ótica de Wim Wenders, além de São Paulo, logicamente do Rio de Janeiro, lugar de escrita desse trabalho, e inevitavelmente a cidade de onde vim. O exercício de compará-las foi inescapável, tentando compreendê-las em suas trajetórias, suas marcas, assumindo suas contradições, vivendo a experiência dos becos sem saída que elas me impunham. Nesse sentido, rotas de desenvolvimento desse trabalho também foram deixadas de lado, como não poderia deixar de ser, atestando que o caminho tortuoso das cidades também é feito de perdas. Chego aos momentos finais dessa pesquisa com a certeza da relevância que a produção de Caio Fernando possui na discussão sempre atual que envolve o espaço urbano como cerceador da vida. Reitero, contudo, a beleza que envolve a vigilância do olhar pessimista desse autor que não deixa de considerar possível entrever em meio a sombras, mesmo que ainda fracos e distantes, vitais focos luminosos. 92 BIBLIOGRAFIA ABREU, Caio Fernando. As frangas: novela. 2. Ed. Ver. São Paulo: Editora Globo, 2001. ______. Fragmentos: 8 histórias e um conto inédito. Porto Alegre: L&PM, 2002. ______. Limite Branco. São Paulo: Siciliano, 1994. ______. Caio 3D: O essencial da década de 1970. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. Caio 3D: O essencial da década de 1980. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. Caio 3D: O essencial da década de 1990. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. Morangos Mofados. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. Pedras de Calcutá. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. ______. Onde andará Dulce Veiga?. Rio de Janeiro: Agir, 2007. ______. Ovelhas Negras. Porto Alegre: L&PM, 2009. ______. O ovo apunhalado. 4. Ed. São Paulo: Siciliano, 1992. ______. Teatro Completo. Orgs. Luiz Artur Nunes e Marcos Breda. Rio de Janeiro: Agir, 2009. ______. Triangulo das águas. Rio de Janeiro: Agir, 2008. ______. Pequenas epifanias. Rio de Janeiro: Agir, 2006. ALBERNAZ, Bia. Claricidade: a cidade segundo Clarice. Rio de Janeiro: Beco do Azougue : FAPERJ, 2008. ANDRADE, Mario. A escrava que não é Isaura. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. 16. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 93 ______. Paulicéia desvairada. In: De Paulicéia desvairada a Café (poesias completas). São Paulo: Círculo do livro, 1980. ANTÔNIO, João. Abraçado ao meu rancor. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. ______. Leão-de-chácara. São Paulo: Cosac Naify, 2002. ______. Malagueta, Perus e Bacanaço. 4. Ed. Ver. São Paulo: Cosac Naify, 2009. ARANTES, Otília. Arquitetura simulada. In: NOVAES, Adauto (org.). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. ARENAS, Reinaldo. Antes que anoiteça. Trad. Irène Cubric – Rio de Janeiro: BestBolso, 2009. ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Trad. Pier Puigi Cabra. São Paulo: Martins Fontes, 1992. BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2007. BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre fotografia. Trad. Julio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. BAUDELAIRE, Charles. Pequenos poemas em prosa. Trad. Gilson Maurity Santos. Rio de Janeiro: Record, 2009. ______. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna. Org. Teixeira Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. – (Coleção Leitura) BAVCAR, Evgen. O corpo, espelho partido da história. Trad. Paulo Neves. In: NOVAES, A (org.). O homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Trad. José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989. – (Obras escolhidas ; v. 3) 94 ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Sergio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. – (Obras escolhidas ; v. 1) ______. Passagens. Tradução do francês Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2009. ______. Rua de mão única. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho, José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1997. – (Obras escolhidas ; v. 2) BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Trad. Carlos Felipe Moisés, Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. BESSA, Marcelo Secron. Histórias positivas: a literatura (des) construindo a AIDS. Rio de Janeiro: Record, 1997. _______. In: Melhores contos: Caio Fernando Abreu. São Paulo: Global, 2006. – (Coleção melhores contos). BILAC, Olavo. Vossa insolência. Org. Antônio Dimas. São Paulo: Companhia das Letras: 1996. BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter Benjamin. 2. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. _______. “Um painel com milhares de lâmpadas”: metrópole & megacidade. In: Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2009. BOSI, Alfredo. Um boêmio entre duas cidades. In: Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. BUENO, André; GÓES, Fred. O que é geração beat. São Paulo: Brasiliense, 1984 – Coleção Primeiros Passos. 95 BUÑEL, Luis. Meu último suspiro. Trad. André Telles. São Paulo: Cosac Naify, 2009. BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Trad. José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008. CALLEGARI, Jeanne. Caio Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável. São Paulo: Seoman, 2008. CALVINO, Italo. Marcovaldo ou As estações da cidade. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. ______. Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. ______. As cidades invisíveis. Trad. Diogo Mainardi. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003. ______. A especulação imobiliária. Trad. Ildete de Oliveira Castro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. ______. Os amores difíceis. Trad. Raquel Ramalhete. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. ______. Palomar. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. ______. Coleção de areia. Trad. Maurício Santana Dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. ______. Assunto encerrado: discursos sobre literatura e sociedade. Trad. Roberta Barni. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. CAMPOS, Haroldo. Miramar na mira. In: ANDRADE, Oswald. Memórias sentimentais de João Miramar. São Paulo: Globo, 2006a. – (Obras completas de Oswald de Andrade) CAMPOS, Augusto. Poesia de ponta-cabeça. In: ______. Primeiro caderno do aluno de poesias Oswald de Andrade. 4. Ed. São Paulo: Globo, 2006b. – (Obras completas de Oswald de Andrade) 96 CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 9. Ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. ______. Antonio et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972. ______. O discurso e a cidade. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2004. ______. Entre campo e cidade. In: Tese e antítese. São Paulo. Companhia Editoria Nacional, 1964. CESAR, Ana Cristina. A teus pés. São Paulo: Ática, 2002. CORTÁZAR, Julio. Alguns aspectos do conto. In: Obra crítica: volume 2. Trad. Paulina Wacht e Ari Roitman. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. ______. História de cronópios e de famas. Trad. Gloria Rodriguez. – 12 ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. ______. Os prêmios. Trad. Gloria Rodriguez. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. COUTO, José Geraldo. O cinema moderno de Caio F. In: ABREU, C. F. Onde andará Dulce Veiga?. Rio de Janeiro: Agir, 2007. DELUMEAU, Jean. História do medo no ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. Trad. Maria Lucia Machado. – São Paulo: Companhia das Letras, 2009. DENSER, Marcia. A crucificação encarnada dos anos 80. In: ABREU, Caio. Caio 3D: O essencial da década de 1980. Rio de Janeiro: Agir, 2005. DIP, Paula. Para sempre teu, Caio F.: cartas, memórias, conversas de Caio Fernando Abreu/Paula Dip. – 2. Ed. – Rio de Janeiro: Record, 2009. DUFILHO, Jérôme. O pintor e o poeta. In: BAUDELAIRE, C. O pintor da vida moderna. Org. Jérôme Dufilho e Tomaz Tadeu. Trad. Tomaz Tadeu – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. – (Coleção Mimo ; 7) DUNN, Christopher. Brutalidade Jardim: a Tropicália e o surgimento da contracultura brasileira. Trad. Cristina Yamagami. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 97 FABRIS, Annateresa. Fragmentos urbanos: representações culturais. São Paulo: Studio Nobel, 2000. – (Coleção cidade aberta) FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Traduzido do alemão e do inglês sob direção geral de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. GOFFMAN, Ken; JOY, Dan. Contracultura através dos tempos: do mito de Prometeu à cultura digital. Trad. Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. ______. Representação da cidade na narrativa brasileira pós-moderna: esgotamento da cena moderna?. (Texto on-line, disponível em: http://www.scribd.com/doc/31302192/Renato-Cordeiro-GomesRepresentacoes-da-cidade-na-narrativa-brasileira-posmoderna) Acesso em: 20 de junho de 2010. GONÇALVES FILHO, Antonio. As últimas palavras de Laika. In: ABREU, C.F. Pequenas epifanias. Rio de Janeiro: Agir, 2006. GURGEL, Nonato. Caio 68 e a narrativa do olhar invisível. In: Terceira Margem. 40 anos de 68: ficção, memória e história. Revista do Programa de PósGraduação em Ciência da Literatura – UFRJ, ano XII n 19. Rio de Janeiro, agosto /dezembro de 2008. HANNAH, Arendt. Homens em tempos sombrios. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. HILLMAN, James. Cidade e alma. Trad. Gustavo Barcelos e Lucia Rosenberg. São Paulo: Studio Nobel, 1993. HOFFMANN. E. T. A. A janela de esquina do meu primo. Trad. Maria Aparecida Barbosa. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 98 HOHLFELDT, Antonio (org.). Antologia da literatura rio-grandense contemporânea. Porto Alegre: L&PM, 1978. HOLANDA, Heloísa Buarque. Hoje não é dia de rock. In: ABREU, Caio Fernando. Morangos Mofados. Rio de Janeiro: Agir, 2005. ______. Impressões de viagem: CPC, Vanguarda e Desbunde: 1960-1970. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. INSTITUTO MOREIRA SALLES, Hilda Hilst. São Paulo: Instituto Moreira Salles (Cadernos de Literatura Brasileira, n. 8), 1999. JEUDY, Henri-Pierre. Espelho das cidades. Trad. Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005. LEAL, Bruno Souza. Caio Fernando Abreu, a metrópole e a paixão do estrangeiro: contos, identidade e sexualidade em trânsito. São Paulo: Annablume, 2002. LEMINSKI, Paulo. A nova ruína. In: Noz. Revista dos estudantes de arquitetura da PUC-RIO. ano III n 3. Rio de Janeiro, janeiro/julho de 2009. LENNON, John. John Lennon: entrevista. [21 de janeiro de 1971]. Rolling Stones. Entrevista concedida a Jahn S. Wenner. In: WENNER, J. S.;LEVY, J. As melhores entrevistas da revista Rolling Stones. Trad. Emanuel Mendes Rodrigues. São Paulo: Larousse do Brasil, 2008. LINS, Ronaldo Lima. A construção e a destruição do conhecimento. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. LISPECTOR, Clarice. A cidade sitiada. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. ______. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. ______. Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio : uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. Trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant, [tradução 99 das teses] Jeanne Marie Gagnebin, Marcos Lutz Müller. – São Paulo: Boitempo, 2005. MAGRI, Ieda Maria. “Nasci no país errado”: ficção e confissão na obra de João Antonio. Tese de Doutorado em Letras. Rio de Janeiro: Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010. MARCUSE, Herbert. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Trad. Álvaro Cabral. 7. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. MATOS, Olgária C. F. Amor e cidade, amor na cidade: Walter Benjamin. In: ______. História viajante: notações filosóficas. São Paulo: Studio Nobel, 1997. ______. Aufklärung na metrópole: Paris e a via láctea. In: Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2009. MAZZARI, Marcus. Hoffmann e as primícias da arte de enxergar. In: HOFFMANN. E. T. A. A janela de esquina do meu primo. Trad. Maria Aparecida Barbosa. São Paulo: Cosac Naify, 2010. MORICONI, Italo (org.). Caio Fernando Abreu: Cartas. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2002. ______. Tentando captar o homem-ilha. Matraga, Rio de Janeiro, vol. 1, n 2/3, p. 21-29, mai/dez. 1987. NOVAES, Adauto. De olhos vendados. In: ______. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. PEIXOTO, Nelson Brissac. Cenários em ruínas: a realidade imaginária contemporânea. Brasiliense: São Paulo, 1987. ______. O olhar do estrangeiro. In: NOVAES, Adauto (org.). O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. ______. Paisagens Urbanas. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004. 100 PEREIRA, Carlos Alberto M. O que é contracultura. 6. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. PERNISA Jr, C; FURTADO, F. F. F; ALVARENGA, N. A. (orgs.). Walter Benjamin: imagens. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. PRADO, G. A. Idas vindas e cinema: entrevista. [19 de fevereiro, 2006]. Fortaleza: Jornal O Povo. Entrevista concedida a Marina Toniatti. RIO, João do. A alma encantadora das ruas: crônicas / João do Rio ; organização Raúl Antelo. – São Paulo: Companhia das Letras: 2008. ROSZAK, Theodore. A contracultura: reflexões sobre a sociedade tecnocrática. Petrópolis: Vozes, 1972. ROLNIK, Raquel. São Paulo. 3 ed. São Paulo: Publifolha, 2009. – (Folha explica) ______. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 2004. RUBIÃO, Murilo. Contos Reunidos. São Paulo: Editora Ática, 1999. SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ______. Reparar outra vez. In: O caderno de Saramago. Mar, 2009. (texto online, disponível em: http://caderno.josesaramago.org/2009/03/06/reparar-outravez/) Acesso em: 16 de janeiro de 2009. SEBALD, W. G. Os emigrantes: quatro narrativas longas. Trad. José Marcos Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. SIMMEL, Georg. Metrópole e vida mental. Trad. Sérgio Marques dos Reis. In: VELHO, Otavio (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p. 1125. SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 101 ______. Doença como metáfora, AIDS e suas metáforas. Trad. Rubens Figueiredo/ Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. ______. Ensaios sobre fotografia. Trad. Joaquim Paiva. Rio de Janeiro: Arbor, 1981. ______. Sob o signo de saturno. Trad. Albino Poli Jr., Anna Maria Capovilla. Porto Alegre: L&PM, 1986. SUBIRATS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. 4. Ed. Trad. Luiz Carlos Daher, Adélia Bezerra de Menezes e Beatriz A. Canabrava. São Paulo: Nobel, 1991. SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. VAZ, Toninho. Paulo Leminski: O bandido que sabia latim. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. VELOSO, Caetano. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. VISCONTI, Luchino. Um drama do não-ser: sobre Vagas Estrelas da Ursa. (Texto on-line, disponível em: http://www.contracampo.com.br/82/festvagas estrelas.htm). Acesso em: 10 de agosto de 2009. 102 APÊNDICE – NADA A FALAR, SÓ A MOSTRAR À EXEMPLO DE SUSAN SONTAG, EM HOMENAGEM A W. B. Passei horas deliciosas nos bares. O bar é para mim um lugar de meditação e recolhimento, sem o qual a vida é inconcebível. Hábito antigo que se arraigou ao longo dos anos (…), passei nos bares longos momentos de devaneio, raramente conversando com o garçom, na maioria das vezes comigo mesmo, invadido por cortejos de imagens que não cessavam de me surpreender. Hoje, velho como o século, não saio mais de casa. Sozinho, nas horas sagradas do aperitivo, na saleta onde guardo minhas garrafas, gosto de lembrar dos bares que amei”. (BUÑEL, Luis. Meu último suspiro) E eis que começava a nascer a pergunta essencial; será que eu a reconhecia? Ao sabor dessas fotos, às vezes eu reconhecia uma região de sua face, tal relação do nariz e da testa, o movimento de seus braços, de suas mãos. Eu sempre a reconhecia apenas por pedaços, ou seja, não alcançava seu ser e, portanto, toda ela me escapava. Não era ela e, todavia, não era nenhuma outra pessoa. Eu a teria reconhecido entre milhares de outras mulheres, e no entanto não a “reencontrava”. Eu a reconhecia diferencialmente, não essencialmente. A fotografia me obrigava assim a um trabalho doloroso; voltado para a essência de sua identidade, eu me debatia em meio a imagens parcialmente verdadeiras e, portanto, totalmente falsas. Dizer diante de tal foto “é quase ela!” era-me mais dilacerante que dizer diante de tal outra: “não é de modo algum ela”. O quase: regime atroz do amor, mas também estatuto decepcionante do sonho – por isso odeio os sonhos. Pois com freqüência sonho com ela (só sonho com ela), mas jamais é inteiramente ela: ela às vezes tem, no sonho, alguma coisa de um pouco deslocado, de excessivo: por exemplo, jovial ou desenvolta – o que ela jamais era; ou ainda, sei que é ela, mas não vejo seus traços (mas será que no sonho se vê ou se sabe?): sonho com ela, não a sonho. E diante da foto, como no sonho, trata-se do mesmo esforço, do mesmo trabalho sisifino: 103 remontar, aplicado, para a essência, descer novamente sem tê-la contemplado, e recomeçar. (BARTHES, Roland. A câmara clara) Quando abrir a porta e assomar à escada, saberei que lá embaixo começa a rua; não a norma já aceita, não as casas já conhecidas, não o hotel em frente; a rua, a floresta viva onde cada instante pode jogar-se em cima de mim como uma magnólia, onde os rostos vão nascer quando eu os olhar, quando avançar mais um pouco, quando me arrebentar todo com os cotovelos e as pestanas e as unhas contra a pasta do tijolo de cristal, e arriscar minha vida enquanto avanço passo a passo para ir comprar o jornal na esquina. (CORTAZAR, Julio. História de cronópios e de famas) Durante anos, meu amor pelas ruínas me levou ao ódio pela arquitetura. Eu queria ser um anarquiteto de desengenharias. Ainda hoje, quando vejo um belo caixote de vidro e cimento na avenida Paulista, ainda me consola pensar: – Calma, calma, rapaz. Imagine que bela ruína isto vai dar um dia. (LEMINSKI, Paulo. A nova ruína.) Somente na fotografia, ao revelar-se o negativo, revela-se algo que inalcançado por mim, era alcançado pelo instantâneo: ao revelar-se o negativo também se revela a minha presença de ectoplasma. Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de uma ausência? (LISPECTOR, Clarice. Paixão segundo G. H.) O fluxo incessante de imagens (televisão, vídeo, cinema) constitui o nosso meio circundante, mas, quando se trata de recordar, a fotografia fere mais fundo. A memória congela o quadro; sua unidade básica é a imagem isolada. Numa era sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo rápido de apreender algo e uma forma compacta de memorizá-lo. A foto é como uma citação ou uma máxima ou um provérbio. Cada um de nós estoca, na mente, centenas de fotos, que podem ser recuperadas instantaneamente. 104 (SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros.) O prazer de cheirar e saborear é “de uma natureza muito mais corporal, mais física, logo também muito mais aparentado ao prazer sexual do que o prazer mais sublime suscitado por um som ou ao menos corporal de todos os prazeres, a visão de algo belo”. É como se o olfato e o paladar dessem um prazer não-sublimado per se (e uma repulsa irreprimida). Relacionam (e separam) os indivíduos imediatamente, sem as formas generalizadas e convencionalizadas de consciência, moralidade, estética. Tal imediatismo é incompatível com a efetividade da dominação organizada, com uma sociedade que “tende para isolar pessoas, para distanciá-las e impedir as relações espontâneas e as expressões ‘naturais’, à semelhança dos animais, dessas relações”. (MARCUSE, Herbert. Eros e civilização) A cidade de Paris ingressou neste século sob a forma que lhe foi dada por Haussmann. Ele realizou sua transformação da imagem da cidade com os meios mais modestos que se possa pensar: pás, enxadas, alavancas e coisas semelhantes. Que grau de destruição já não provocaram esses instrumentos limitados! E como cresceram, desde então, com as grandes cidades, os meios de arrasá-las! Que imagens do porvir já não provocam! (BENJAMIN, W. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo) Não existe volta para quem escolheu o esquerdo. (ABREU, Caio. F. Pela noite) Assim, hoje, passados dez anos, percebo que para um exilado não existe nenhum lugar onde possa viver; não existe nenhum lugar, porque aquele com o qual sonhamos, onde descobrimos uma paisagem, lemos nosso primeiro livro, tivemos a primeira aventura amorosa, continua sendo o lugar sonhado. No exílio, ele não passa de um fantasma, a sombra de alguém que nunca consegue alcançar sua complexa realidade. Deixei de existir desde que cheguei no exílio; a partir de então, comecei a fugir de mim mesmo. 105 (ARENAS, Reinaldo. Antes que anoiteça) Mudar de casa já era um aprendizado da morte. (...) As casas, as cidades, são apenas lugares por onde passando passamos (GULLAR, Ferreira. Poema sujo) O que me interessa neste momento é fugir à engrenagem, saber se o inevitável pode ter uma saída. Mudei de cela. Desta, quando estou deitado, vejo o céu, apenas o céu. (CAMUS. O estrangeiro) Sem cor jamais quis viver. Viver, cansar bem os músculos, andando pelas ruas cheias de gente, ausentes de homens. (RUBIÃO, Murilo. O pirotécnico Zacarias) Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não agüente bem ouvir um assovio no escuro, e passos. (LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela) Porque as cidades, como as pessoas ocasionais e os apartamentos alugados, foram feitas para serem abandonadas. (ABREU, Caio. F. O rapaz mais triste do mundo) Ela é exatamente como os seus livros: transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura impressionantes é lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos, quase diabólicos. E a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de ninguém, que está absolutamente sozinha e numa altura 106 tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, profunda, estranha, perigosa. (Trecho da carta de Caio Fernando a Hilda Hilst sobre seu primeiro encontro com Clarice Lispector) Escrevo por não ter nada a fazer no mundo: sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado, não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só queria ter o que eu tivesse sido e não fui. (LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela) Prefiro as máquinas que servem para não funcionar: quando cheias de formiga e musgo – ela podem um dia milagrar flores. (BARROS, Manoel de. Livro sobre nada) – Pensa então, como Paneloux, que a peste tem o seu lado bom, que abre os olhos, que obriga a pensar? O médico sacudiu a cabeça com impaciência. – Como todas as doenças deste mundo. Mas o que é verdade em relação aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode servir para engrandecer alguns. No entanto, quando se vê a miséria e a dor que ela traz, é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste. (CAMUS, Albert. A peste) Mas da classe média você não vai escapar, seu. A armadilha é inteiriça, arapuca blindada, depois que você caiu. Tem anos e anos de aperfeiçoamento, sofisticação, tecnologia, ah o cartão de crédito, o cheque especial, o financiamento do telefone, da casa própria e do resto da merdalhada que for moda e, meu, sem ela você não vive. Não respira, é ninguém. Ou melhor, é 107 nada: você já virou coisa no sistema. E não pessoa. Dane-se! Futrique-se, meu bom, meu paspalho, pague prestação pelo resto da vida. e o carro, é preciso carro. Os donos da arapuca querem você comprando. Compre. E de carro. Ande de carro, ouça musica e veja filmes no carro, coma no carro e trepe ali. Namore, noive e ame ali, enquanto vê os filmecos nos drives. (ANTONIO, João. Abraçado ao meu rancor) Num dado momento, trepado e de pé na cumieira, falando, cabelos revoltos, os braços levantados para o céu fumacento, esse pobre homem surgiu-me como a imagem da revolta... Contra quem? Contra os homens? Contra Deus? Não; contra todos, ou melhor, contra o Irremediável! (BARRETO, Lima. Diário do hospício) Você certamente não esqueceu a regra famosa no início de Anna Karenina quando Tolstoi envolve-se com um manto de divindade campesina tranqüila, pairando sobre o vazio de tolerância e bondade, e declara das suas alturas que todas as famílias felizes se parecem, enquanto as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Com todo respeito a Tolstoi, eu digo que o contrario é o correto: os infelizes na maioria estão imersos em sofrimentos convencionais, vivem numa única rotina estéril entre quatro ou cinco clichês de miséria gastos. Enquanto a felicidade é um objeto fino e raro, uma espécie de vaso chinês, e os poucos que chegaram a ele cinzelaram-no traço por traço durante anos, cada um à sua imagem, cada um segundo as suas medidas, portanto não há uma felicidade que se pareça com outra. E ao moldar sua felicidade, instilaram também seus próprios sofrimentos e humilhações. Como se refinassem ouro. Existe felicidade no mundo, Alec, mesmo que ela voe como um sonho. Mas no seu caso, ela passou longe. Como uma estrela, fora do alcance da toupeira. (Trecho da carta de Ilana para Alex. OZ, Amós. A caixa-preta) A rua é um espaço vazio que percorro no vácuo. Mas a neutralidade é desejo vão. Tudo deixa sua marca. As artérias permanecem cheias e pulsantes e o oco não existe. Se o sangue pára de correr, seca e entope, os vermes 108 alimentam-se, sempre haverá matéria viva a ocupar os corredores estreitos da cidade. (Beatriz Bracher. Ficção) Lançando continuamente novas necessidades, a publicidade contenta-se em explorar a aspiração comum ao bem-estar e ao novo. Nenhuma utopia, nenhum projeto de transformação dos espíritos: o homem é aí considerado no presente, sem visão do futuro. (Lipovetsky, Gilles. O império do efêmero) – Indique-me sua direção, onde você se encontra agora? – Estou exatamente na esquina da Rua Walk com a Rua Don’t Walk. (Waly Salomão, Poema Jet-lagged) Chora retrato, chora. vai crescer a tua barba neste medonho edifício de onde surge tua infância como um copo de veneno. (Carlos Drummond de Andrade, Edifício Esplendor) 109
Download