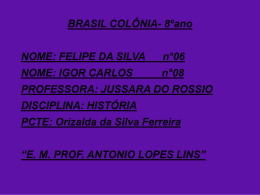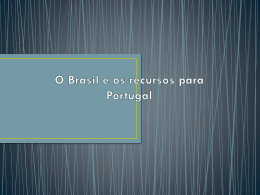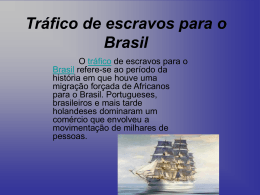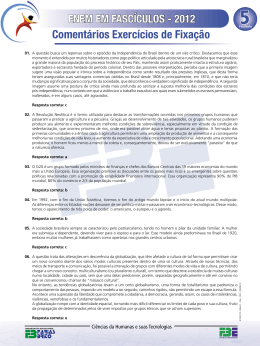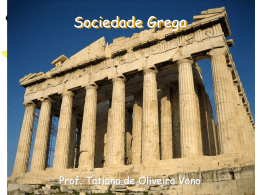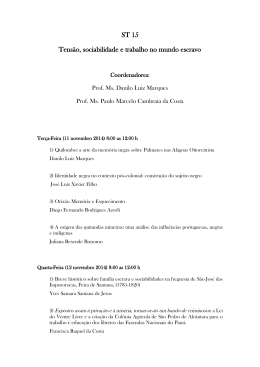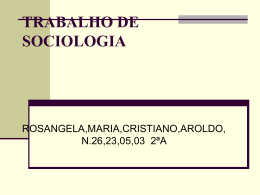Criando porcos e arando a terra: família e compadrio entre os escravos de uma economia de abastecimento (São Luís do Paraitinga, Capitania de São Paulo, 1773-1840)1 Carlos de Almeida Prado Bacellar (USP) Desde há um bocado de tempo que o tema da família e do compadrio vem sendo amplamente pesquisado no mundo da escravidão. A importância dos laços familiares e espirituais entre cativos é questão reiteradamente discutida, mas certamente o muito que já se avançou ainda pouco representa em termos de conhecimento. A dificuldade em se compreender os complexos mecanismos que regiam as relações entre escravos e destes para com a população livre, em uma realidade profundamente variada no tempo e no espaço, constitui-se, certamente, num formidável desafio: as fontes documentais continuam a ser bravamente revolvidas nos arquivos... No que diz respeito à família escrava, não resta mais dúvida sobre a presença de casais e mães solteiras na grande maioria das escravarias, não importando o tamanho. Embora o tamanho do plantel e a razão de sexo interferissem nas oportunidades de organização familiar, sabemos que mais de uma geração de cativos podia estar presente em uma senzala. A reprodução de cativos era uma realidade, embora a mortalidade sempre elevada não permitisse que todas as crianças nascidas no cativeiro alcançassem idade plenamente produtiva. O tráfico atlântico permaneceria fundamental não somente para a manutenção dos níveis de mão-de-obra, mas, especialmente no sudeste brasileiro, também para alimentar a contínua expansão geográfica do escravismo em função do açúcar e do café. 1 Este trabalho é uma versão modificada de uma comunicação realizada no I Congresso Internacional de História, Universidade do Minho, Portugal, 2005. 1 Quanto ao compadrio entre populações escravas, as investigações quase sempre têm por base as amplas e variadas séries de registros paroquiais de batismo. As opiniões, contudo, nem sempre coincidem. Como bem aponta Donald Ramos, a bibliografia tem ressaltado ora os aspectos espirituais, ora os sociais do compadrio (Ramos, 2004). O batismo seria fundamental, assim, por permitir a inserção do batizado – inclusive o africano que desembarcava na colônia – na comunidade dos fiéis, ao mesmo tempo em que permitia que o indivíduo passasse a fazer parte de redes mais ou menos amplas de solidariedade horizontal e vertical. Para além dos laços espirituais, os batismos poderiam “reforçar laços de parentesco já existentes, ou solidificar relações com pessoas de classe social semelhante, ou estabelecer laços verticais entre indivíduos socialmente desiguais” (Schwartz, 2001: 266). Não é nosso objetivo recuperar essa discussão, que já foi bastante desenvolvida. Mas acreditamos ser fundamental postular que, na ainda relativamente grande imprecisão atual do conhecimento, ambas vertentes explicativas – sacra e leiga – podem ser perfeitamente aceitas como motivadoras do compadrio, tal como ressalta Donald Ramos (Ramos, 2004). Muito pouco se conhece, todavia, sobre o compadrio de crianças livres, que possibilitasse uma análise comparativa. Seria interessante, por exemplo, cotejar as escolha de compadres dos filhos do senhor com a dos escravos, para perceber coincidências e distanciamentos. Ou mesmo buscar detectar os afilhados dos senhores, e os de seus escravos, enfocando o compadrio num âmbito ainda mais complexo. Esta teia em diversas direções e níveis é, indubitavelmente, o cerne da questão e, ao mesmo tempo, seu principal nó analítico. Reconstituir tais teias de um modo inteligível é, ainda hoje, um dos grandes desafios dos estudiosos do compadrio. Os trabalhos mais antigos sobre o tema buscaram discutir, em linhas gerais, quantos livres e quantos cativos haviam servido como padrinhos para uma dada série de registros de crianças escravas. A principal descoberta, então, foi a constatação de que não se encontrava um padrão de práticas entre escravos e/ou entre seus senhores. Uma realidade escravista tão vasta e diversificada como a brasileira não poderia comportar uniformidade de ação. Tais investigações, centradas no uso das informações constantes nos registros paroquiais de batismo, não podiam, contudo, avançar mais além da simples constatação da condição de escravo ou livre dos padrinhos. As dificuldades de identificação de indivíduos pelo nome, graças à tradição de instabilidade dos nomes em populações coloniais portuguesas, é um obstáculo para melhor precisar a identidade das pessoas consideradas. Qualquer tentativa de melhor qualificar tais personagens deveria pressupor um cruzamento de fontes bem mais exaustivo, levando, todavia, a um notável aumento no volume de informações. 2 Os laços de compadrio estendem-se para todos lados, com a escolha de escravos, forros e livres das mais variadas qualidades, esparramados por espaços territoriais mais ou menos amplos, para exercerem a função. Tome-se, a título de exemplo, a reconstituição, de resto bastante interessante, das redes de compadrio entre fazendas do agro fluminense, da paróquia de Inhaúma, promovida por José Roberto Pinto de Góes. O autor alcança, de modo bastante expressivo, reconstituir o desenho da malha de fazendas cujas escravarias entretiam algumas relações de compadrio entre si, abrangendo cento e setenta propriedades escravistas (Góes, 2001). Mas a discussão, ao menos nesse texto, se interrompe justamente na detecção do forte entrecruzamento do compadrio, sem conseguir chegar a maiores considerações. É evidente que precisamos, portanto, buscar novos rumos analíticos. Pensamos, para o caso da capitania de São Paulo, em fazer proveito de uma fonte serial que é praticamente exclusiva a seu território, isto é, as listas nominativas anuais de habitantes, que cobrem o intervalo de tempo entre 1765 e 1836. Tais listagens, oferecendo a descrição de cada domicílio, ano a ano, permitem, de modo bastante especial, o entrecruzar dos dados nominativos dos padrinhos e madrinhas, presentes nos registros de batismo. O maior obstáculo, nessa proposta, consiste justamente em como cruzar as informações, e a saída é única: contar com os nomes dos indivíduos – todos eles -, de ambas as séries documentais, lançados em bancos de dados, permitindo o máximo de economia no tempo de rastreamento e cruzamento de informações nominativas. Nossa opção, para ensaiar tal método, se deu pela escolha de um município de pequenas dimensões: a vila de São Luis do Paraitinga, no vale do Paraíba paulista. Uma pequena comunidade, cuja principal atividade econômica, desde sua fundação na década de 1770, até o período final de nossa observação, 1840, era fundamentalmente a criação de porcos, fosse para vendê-los vivos ou sob a forma de toucinho, e o plantio de tabaco e algodão. Uma vila profundamente voltada para o abastecimento regional, com quase toda a sua produção voltada para o mercado urbano em expansão do Rio de Janeiro. Não obstante, sua população escrava crescia mais rapidamente que a livre, prova do dinamismo econômico por que passava o vale do Paraíba naquele momento. Quadro 1 Evolução da população de São Luis do Paraitinga. Ano Livres % Cativos % Total 1799 1.790 79,1 472 20,9 2.262 1809 2.490 77,2 735 22,8 3.225 3 1818 2.745 73,5 992 26,5 3.737 1828 3.344 74,0 1.175 26,0 4.519 Fontes: Listas nominativas anuais de habitantes para 1799, 1809, 1818 e 1828. A escravidão em São Luis do Paraitinga estava restrita, em 1801, a somente 25% de seus 400 domicílios. Destes, apenas catorze possuíam mais do que dez escravos, dos quais apenas dois ultrapassavam o patamar dos quarenta. Como seria de se esperar, esses catorze maiores proprietários concentravam 58,1% dos cativos da vila, baixa o suficiente para caracterizar uma economia relativamente modesta. Portanto, o mundo da família e compadrio escravos enfocados em nosso projeto não é o da grande lavoura, mas sim o das posses mais modestas, mas mesmo assim bastante interessantes. Algumas questões foram centrais no direcionamento das primeiras sondagens. A principal delas, sem dúvida, diz respeito à abrangência do fenômeno do compadrio. Não importa qual o sentido que damos ao ato de apadrinhar, como já anteriormente visto; a incerteza sobre as motivações ainda é fato. Antes de tudo, deveríamos perguntar quem tomava a iniciativa na escolha de padrinhos para escravos: os próprios pais, seus senhores, ou ambas as partes, em conjunto? Nada mais difícil para se responder. No que toca aos batismos de escravos adultos, recém-chegados da África, seria plausível aventar a possibilidade de que aquele que adquiria a nova “mercadoria” decidia não somente qual nome cristão lhe seria atribuído, mas também quem seriam os seus padrinhos. O africano, desembarcado em meio estranho, não teria conhecimentos e espaço para tomar muitas ou mesmo quaisquer decisões nesse sentido, que lhes eram impostas, provavelmente sem seu perfeito entendimento. É bastante interessante a constatação de que o batismo dos africanos não necessariamente se fazia urgente. Embora não disponhamos da data exata da aquisição desses escravos, as listas nominativas – quase sempre preparadas na virada do ano – apontam para essas compras, feitas quase sempre junto a negociantes da vizinha vila de Cunha ou diretamente no mercado do Valongo, cidade do Rio de Janeiro. Curiosamente, o cotejar das listas com os registros paroquiais parece sugerir que alguns desses cativos já chegavam devidamente batizados pelo negociante, já que não localizamos seus registros na paróquia, enquanto outros passavam pela cerimônia apenas em seu novo destino Os batizados no Rio certamente o foram de forma burocrática, e seus padrinhos certamente se tornaram irrelevantes na vida desses cativos. 4 Surpreendente, contudo, é fato de que os batismos feitos na vila nem sempre foram imediatos. Eram, numa análise preliminar, minoritários, mas sugerem uma falta de preocupação tanto do senhor quanto do vigário local. É o caso de Gonçalo, escravo de Antonio Estevão Gomes de Gouvêa, batizado em junho de 1815, mas já presente na lista nominativa de 1813. Joaquim, escravo de Inácio da Silva Rego, batizado em agosto de 1814, já estava arrolado na lista de 1812. Antônio e João, comprados por João de Medeiros Barros em 1811, somente foram batizados em março de 1814! Dos 43 escravos africanos batizados em 1814 e 1815, há indícios de que 18 foram batizados passados pelo menos um ano após sua chegada. Em todos esses casos, a escolha dos nomes já se efetivara no convívio da senzala, mas a oficialização diante da Igreja e a seleção dos compadres teve que esperar. Além do descaso, outra hipótese poderia ser levantada para justificar tal prática: a espera da integração do estranho no cativeiro. Uma rápida investigação sobre as opções de nomes de escravos, separados por naturalidade – africanos e crioulos – demonstrou, de maneira instigante, que o repertório era distinto para cada condição. Segundo a lista nominativa de São Luis do Paraitinga para o ano de 1801, a variedade de nomes para escravos homens nascidos no Brasil – setenta e cinco atribuições dadas a cento e sessenta e quatro indivíduos – destoa da realidade dos africanos do sexo masculino, em que duzentos e quatro indivíduos foram nomeados dentro de um exíguo repertório de apenas vinte e oito nomes. Além disso, os africanos apresentam uma forte concentração em torno de sete nomes (José, João, Antonio, Joaquim, Domingos, Manuel e Francisco), somando 75,5% das opções, enquanto os crioulos tinham apenas 36,6% de casos concentrados nos sete nomes mais usuais (João, Antonio, Luis, José, Manuel, Francisco e Domingos). A mesma realidade pode ser verificada entre as escravas, embora ligeiramente mais atenuada. De um total de cento e setenta crioulas, ocorriam sessenta e sete nomes distintos, enquanto que sessenta e seis africanas recebiam vinte e dois nomes distintos. A concentração em torno dos sete nomes mais freqüentes aponta para 35,3% de casos para as crioulas, contra 65,2% para as africanas. De qualquer maneira, percebe-se que o repertório das escolhas era bem mais restrito para os africanos aqui desembarcados, indicando fortemente a não interferência dos mesmos ou de companheiros de cativeiro na nomeação, que deveria ficar a cargo dos senhores, de capatazes ou até mesmo, por que não, do próprio pároco, todos se restringindo a poucas opções de nomes portugueses óbvios (Oliveira, 1995/1996: 185). No ano de 1801, o capitão mor da vila, José Gomes de Gouvêa Silva, informa, na lista nominativa 5 de habitantes, que havia comprado os africanos “Domingos, José, José, João e João”, numa evidente falta de criatividade ou despreocupação no batizar. No cotidiano da senzala e do trabalho, o surgimento de apelidos, acrescentados aos nomes próprios, era uma saída quase inevitável para contornar o problema. Em um inventário da vila de Itu, capitania de São Paulo, a relação de cativos deixa bastante claro esta prática, geralmente não informada nas listas nominativas: João Capitão, Pedro Theobaldo, Dominguinho, Manuel Maxado, Francisco Beru, Antonio Comprido, Matheus Grande, Joaquim Grande, Francisco Angola, Antonio Cambaio, João Mandovi, Joaquim Cantagalo, Antonio Cavalo, Ana Pequena, Pedro Moleque, Domingos Grande, Antonio Xengue, João Martins, Joaquim Cambaio, Domingos Quileque, Francisco Cavalo, José Mandioca, Joaquim Berava, João Sargento, Bento de Barros, Bento Cruel, Lourenço Velho, Maria de Nazaré, Manuel Calhambota – uma lista interminável2. Os crioulos, por outro lado, apresentavam uma riqueza de nomeação bastante variada, parecendo sugerir a preocupação com a escolha cuidadosa, com o significado do nome – inclusive, no contexto de um sincretismo cultural que não pode ser ignorado. Para a maioria dos autores, parece não haver muitas dúvidas no tocante à liberdade do cativo crioulo quando do batismo de suas crianças. Assim, se podia haver alguma opção na seleção dos nomes de batismo, muito provavelmente haveria, por conseqüência, margem para a escolha, ou ao menos para sugerir, padrinhos e madrinhas, seus futuros compadres. Mesmo assim, ficamos, muitas vezes, temerosos em advogar que pais de escravos tinham reais e totais condições de selecionar padrinhos. Podemos tentar imaginar, por exemplo, como escravos logravam escolher, ou convidar, o capitão mor ou outro potentado local para apadrinhar seu rebento. Como teriam acesso pessoal a um indivíduo que, muitas vezes, não tinha contato direto nem mesmo com seu senhor, e também não entretia com estes laços de parentesco? E, mais do que isso, como conseguiam organizar a ida de todos até a igreja, na vila, muitas vezes em dia útil da semana, tirando esses padrinhos ilustres de sua rotina na lavoura, especialmente para comparecerem na vila e cumprir com a cerimônia? Desta forma, mesmo se considerarmos que havia uma certa autonomia dos pais escravos, não seria de todo irreal supor que seus senhores interferiam, até para facilitar as coisas, abrindo portas, fazendo de seu compadre um compadre de seu cativo, implementando redes de solidariedade mais complexas. 2 Inventário do capitão José Manuel de Mesquita, Itu, 1813. Museu Republicano “Convenção de Itu”, 1º Ofício, caixa 18C. 6 Quadro 2 Condição dos padrinhos e madrinhas de escravos na vila de São Luis do Paraitinga, 17741839. Escravos batizados Condição do Adultos Africanos padrinho ou madrinha Crianças Padrinho Madrinha Padrinho Madrinha (%) (%) (%) (%) Total % Cativo 222 (65,5) 175 (50,0) 688 (52,7) 640 (39,7) 1.725 47,9 Livre 117 (34,5) 175 (50,0) 617 (47,3) 971 (60,3) 1.880 52,1 Total 339 350 1.305 1.611 (100,0) (100,0) 3.605 100,0 Fonte: Registros paroquiais de batismos de escravos, 1774-1839. Para verificar as estruturas básicas dessas autênticas teias de relacionamento, podemos fazer a observação da freqüência de livres e cativos no papel de padrinhos de escravos. Os autores, de uma maneira geral, detectaram diferenças na qualidade dos padrinhos, diretamente relacionada à condição do batizado e de seus pais, ao tamanho da propriedade escrava e à sua atividade econômica (Rios, 2000). A partir dos registros de batismo, optamos por observar separadamente crianças e adultos na pia batismal, e seus respectivos padrinhos, como se pode observar no Quadro 2. A presença de escravos como padrinhos e madrinhas era mais efetiva entre os africanos recémintroduzidos do que entre as crianças crioulas, fato que pode ser interpretado de maneiras diversas. Se considerados os batismos de escravos em geral, temos uma situação quase próxima do equilíbrio, mas ligeiramente favorável aos padrinhos livres. Segundo Schwartz, quando de sua análise sobre o compadrio em Curitiba (capitania de São Paulo) e Santiago de Iguape (capitania da Bahia), sociedades com um perfil predominante de pequenas propriedades tinham um padrão de marcada preferência pelo padrinho livre, em cerca de dois terços do total, especialmente devido à pouca presença e densidade da população escrava (Schwartz, 2001: 281). Todavia, a população escrava de São Luis, embora também fortemente marcada pela relativamente baixa concentração da posse de escravos, não se caracterizava pela preferência acentuada pelos padrinhos livres para os escravos. A pequena população cativa não parece ter sido, em São Luis, um obstáculo para se escolher um escravo para padrinho, e 7 isso é bastante notável se considerarmos que a população livre sempre se manteve aproximadamente na faixa dos dois terços da população total. Em oposição a Schwartz, Ana Maria Lugão Rios sugere que é preciso considerar, para efeito de maior precisão, o tamanho das escravarias observadas. Segundo a autora, quanto maior o contingente humano em uma senzala, maior seria a preferência dos escravos em escolher outros escravos (Rios, 2000: 291). Mostraremos, mais abaixo, que alguns grandes proprietários têm, entre seus cativos, práticas de escolha de compadres diametralmente opostas, fortemente marcadas pela preferência por livres e, em especial, pela família do senhor. Talvez a única unanimidade a respeito do compadrio seja, até o presente estado das investigações, a recusa da participação dos proprietários enquanto padrinhos de seus próprios cativos. Já se tornou célebre o famoso comentário de Henry Koster, na segunda metade do século XIX, de que os senhores não poderiam aceitar o vínculo do compadrio para com seus cativos, sob o risco de não mais conseguir aplicar castigos em seus próprios afilhados (Koster, 1942). De fato, chama a atenção, em São Luis do Paraitinga, a baixíssima presença de senhores estabelecendo vínculos de compadrio com seus próprios cativos, sejam eles africanos ou crioulos. De um total de um mil e vinte e um atos de batismos de cativos que pudemos analisar mais detidamente, referentes a trinta e um proprietários, encontramos apenas treze destes que chegaram, alguma vez, a se tornar padrinhos de seus cativos, perfazendo somente quarenta e nove registros, ou insignificantes 4,8%, aí incluídos quatro batizados “em artigo de morte”, em que o senhor pode ter sido apenas a solução mais disponível no momento de emergência. Semelhante constatação vai de encontro a colocações de alguns autores, entre eles Kátia Mattoso, que admite, sem comprovação empírica, que seria usual o compadrio entre senhores e escravos, pois são vínculos que “se harmonizam perfeitamente com as regras dessa sociedade brasileira na família extensiva, ampliada, patriarcal” (Mattoso, 1982: 132). A aceitação cabal de uma possível prática corriqueira de o senhor ter afilhados em sua própria senzala parece ter sido influenciada pelos diversos relatos de viajantes coevos, que reafirmaram o pretenso interesse que o cativo manifestava em garantir compadres de nível preferencialmente melhor que o seu, como demonstrou Maria de Fátima Neves (Neves, 1990: 240). Pesquisas mais recentes não têm confirmado tais assertivas. De fato, os senhores parecem ter evitado, de uma maneira geral, esta vinculação espiritual com seus próprios cativos. Nas palavras de Stuart Schwartz, ao analisar o fenômeno 8 para a vila colonial de Curitiba, “os papéis de senhor e padrinho eram considerados contraditórios” (Schwartz, 2001: 280). Qual a razão, afinal de contas, para se criar uma nova qualidade de vínculo, se a de senhor-escravo, onipresente e opressora, já imperava? Mesmo assim, dentro do grande padrão de recusa em se tornar padrinho que se verifica para os trinta e um proprietários acima, é preciso ressaltar que havia exceções à regra, e que, embora pouco representativas no todo, merecem atenção pelo simbolismo de sua mera ocorrência. Pois, se eram papéis tidos como “contraditórios”, qual a razão para certos senhores, muito pontualmente, não enxergarem esta contradição dita pelos historiadores como tão óbvia? É o caso do alferes Pedro José dos Santos, lavrador de posses medianas, que contava com uma escravaria que variou de nove para quatorze cativos entre 1818 e 1828. Ao longo desses anos, batizou seis africanos e oito crianças, dos quais foi padrinho respectivamente de cinco e três, dois destes acompanhado da esposa como madrinha. Em 2 de julho de 1827, apadrinhou no mesmo dia dois africanos, e os gêmeos ilegítimos tidos por sua escrava Maria. Preocupação interessada com o estabelecimento do vínculo, ou falta de opção diante do batistério? Difícil responder, mas efetivamente o chamado vínculo “contraditório” se estabelecera, e gostaríamos de saber se esta realidade amainou ou não a mão punitiva do padrinho. Caso semelhante é o de Joaquim José de Faria. Negociante instalado em São Luis em 1802, contando apenas com dois escravos, enriqueceu progressivamente, tornando-se agricultor em 1813 e chegando a possuir vinte e três cativos em 1825, pouco antes de sua morte, em 1828. Batizou, nesses anos, quinze escravos, sendo dois africanos e treze crioulos. Merece destaque, aqui, a relação forte que iria estabelecer com seu casal de escravos de naturalidade africana, Pedro e Isabel. Unidos em matrimônio por volta de 1813, viriam a ter vários filhos que, um a um, iam se tornando afilhados de seu senhor e sua esposa, dona Teresa Joaquina: Felicia (1815), Josefa (1818), Rosa (1821), Pedro (1822), Jacinta (1823), Joana (1825) e Benedito (1827). A razão dessa insistência ao longo de anos resta enigmática, já que havia, na própria senzala de Joaquim José, mais de uma dezena de cativos aptos para apadrinhar, mas que jamais o fizeram. É impressionante, aliás, como essa escravaria permanece isolada da sociedade em termos de compadrio, pois conhecemos apenas duas ocasiões em que cativos de Joaquim José se tornam padrinhos: uma vez com o casal Diogo e Luzia, em 1809, e outra vez com a escrava Paulina, em 1813. Em contraposição, o casal de senhores foi pródigo em ter afilhados, muito provavelmente pelo papel de destaque de Joaquim José como negociante de grosso trato na vila: por dezoito vezes o casal, unido, apadrinha crianças, além de noves vezes em que um deles aparece sozinho. Formidável papel 9 na comunidade, ao passo que seus escravos não fundam laços de solidariedade – ao menos, via batizados. Para além dos senhores, podemos checar, nos registros de batismo de escravos, a presença de parentes do senhor atuando como padrinhos. Schwartz, em sua análise, frisa com muita ênfase que “os senhores e seus parentes raramente batizavam e se tornavam guardiões espirituais dos próprios escravos, e sua ausência desses papéis refuta o suposto paternalismo dos senhores de escravos brasileiros” (Schwartz, 2001: 265). Ora, tal assertiva, no que diz respeito aos parentes, não é absoluta para a realidade de São Luis do Paraitinga. Obviamente, identificar os laços de parentesco dos padrinhos para com o senhor do escravo não é exatamente uma tarefa fácil, haja vista a variabilidade na transmissão de sobrenomes entre as gerações de livres. Além de filhos e filhas com sobrenomes distintos, há, ainda, a necessidade de precisar quem foram os cunhados e genros, e mesmo sobrinhos, para ficarmos nos parentes mais próximos. Seria preciso, também, identificar os compadres da família, para verificar eles, também, constroem laços espirituais com os escravos do proprietário, seu compadre. Tomemos um exemplo em que a presença de parentes apadrinhando foi usual. Trata-se da propriedade do capitão Antônio Estevão Gomes de Gouvêa, rico proprietário para os padrões locais, possuidor de trinta e seis escravos em 1828. Até o ano final de época de observação, 1839, fez batizar quarenta e um escravos, dos quais doze eram africanos. No total, teriam sido necessários oitenta e dois padrinhos e madrinhas, se não contarmos as repetições. Encontramos, a princípio – já que vários nomes restaram duvidosos, e não foram contabilizados - dezoito padrinhos e quinze madrinhas de parentescos bastante próximos em relação ao proprietário: pai, mãe, irmãos e irmãs, cunhados e sobrinhos. Algo bastante distante, portanto, da descrição de Schwartz: seriam, aqui, pelo menos 40,3% de parentes. A atitude de um irmão de Antônio Estevão, o capitão José Alexandre Gomes de Gouvêa, segue na mesma direção. Dentre os trinta e oito cativos que fez batizar, o próprio senhor não se oferece para compadre uma vez sequer. Mas seus irmãos, cunhados e sobrinhos aparecem em profusão: quinze padrinhos, doze madrinhas. Nada menos que 35,5% de parentes. Por fim, podemos também examinar o que ocorria com os escravos batizados pelo pai dos dois proprietários acima, o capitão mor José Gomes de Gouvêa e Silva. Levou oitenta e seis cativos para batizar e, destes, tiveram trinta padrinhos e vinte e oito madrinhas com parentesco próximo a seu senhor, além dos oito efetivamente apadrinhados pelo próprio. Somam, assim, 33,7%. No geral, o pai e filhos, senhores dos mais ricos em São Luis do Paraitinga, promoviam vínculos espirituais de seus familiares com pelo menos um terço de 10 seus cativos. E, aparentemente, viam importância no estabelecimento desse vínculo: em diversas ocasiões, alguns desses parentes identificados tornaram-se padrinhos e madrinhas por procuração, sugerindo a importância que o ato tinha, não abrindo margens para substituições. Aqui temos, portanto, uma realidade oposta à descrita por Rios, e anteriormente citada, de que quanto maior a propriedade, maior a preferência por padrinhos cativos. Não é caso dos exemplos aqui apresentados, se bem que a autora estivesse se referindo a escravarias de dimensões consideravelmente maiores. Mesmo assim, o entendimento dos mecanismos a regerem o compadrio mostra-se complexo e variável, tornando praticamente impossível delimitar padrões e modelos diante dos elementos hoje disponíveis. Pois, diante dos casos acima, podemos citar, em oposição, o dos cativos de Antonio Rodrigues de Mendonça, em que 30 dos 39 batismos ocorridos contavam com escravos apadrinhando, apontando para uma prática diametralmente oposta. Mas a visão genérica da condição dos compadres pode ser deixada de lado, para que possamos dar maior atenção ao processo de escolha no interior das propriedades escravistas. E novamente observaremos o processo de assimilação dos africanos recém-adquiridos. Um primeiro caso interessante é o dos seis africanos comprados por José Pereira de Campos e batizados na mesma cerimônia, aos 20 de abril de 1829. Três deles – Domingos, Lourenço e Eva – foram batizados pelo forro José e pela escrava Cristina, esta pertencente a parentes. Os outros três africanos – Miguel, Luis e Catarina – foram, por sua vez, apadrinhados por Luis e Joaquina, dois escravos pertencentes a parente próximo. Nenhum ensaio de integração, portanto, com algum dos trezes cativos já vivendo na propriedade do senhor, doze dos quais eram, também, africanos. Outro proprietário analisado é primo do anterior, como o comprova o nome semelhante, José Pereira de Castro. Era já homem de 63 anos de idade e dono de vinte e seis escravos quando encontramos o seu mais antigos registros de batismo de africanos, referentes a Maria e Caetano, ambos de janeiro de 1814. Maria foi a grande exceção na história dos compadrios engendrados em torno dos africanos de seu senhor, pois foi apadrinhada por dois jovens parentes deste, talvez mesmo primos ou irmãos, se melhor identificados. O próprio Caetano, batizado na mesma cerimônia, já teve como padrinhos escravos pertencentes a familiares de seu senhor, num padrão que, desde então, seria a norma por anos naquela senzala: Pedro, em 1816 (escravo e forra), Manuel e João, em 1820 (apenas escravos), e Miguel, Domingos e Bernardo, em 1825 (apenas escravos). Novamente, a opção marcante por cativos como padrinhos de africanos, mas evitando os colegas de senzala, que já eram em vinte e seis no ano de 1825. 11 Os dois casos acima pareceriam constituir um padrão, mas a observação de outro primo, o alferes José Pereira dos Reis, aponta para realidade distinta. Os nove africanos que fez batizar entre 1815 e 1839 foram apadrinhados, em sua maioria, por livres, aparentados ou não. Apenas uma vez, com a africana Inácia, batizada em 1838, os padrinhos foram escravos e da mesma senzala. Nenhum escravo de parente, ao contrário dos dois casos precedentes. Quando, no entanto, observamos a prática adotada por um quarto proprietário, Manuel José Pereira, entre 1815 e 1838, encontramos algo bastante distinto do já descrito. Os dezenove africanos comprados e batizados por Manuel tiveram, em sua grande maioria, por padrinhos, seja colegas de senzala, seja o próprio senhor e seus familiares. São vinte e três cativos da senzala atuando como padrinhos, algumas vezes servindo enquanto tais em cerimônias coletivas. O casal José e Genebra, também africanos, apadrinham cinco recémchegados em 1830; Miguel, igualmente africano, batiza três companheiros juntamente com a forra Felicia, no ano de 1826. E somente dois escravos de fora apadrinhando, em oposição ao que ocorria nas propriedades acima descritas. Do panorama até aqui traçado, percebemos que havia práticas distintas de uma senzala para outra. Não são, acreditamos, práticas fortuitas, fruto do acaso. São preferências por padrinhos e madrinhas dentro de um certo perfil, que é seguido ao longo da história da unidade produtiva. Poderíamos ousar, e dizer que haveria, em senzalas distintas, culturas distintas em relação ao compadrio. Práticas estabelecidas talvez por iniciativa ou influência do senhor, ou talvez por iniciativa dos próprios escravos – como saber? Senhores pertencentes à mesma família, donos de escravarias de dimensões semelhantes, optam – se acreditarmos que têm papel ativo nesse processo – diferentemente, por razões que não são claras. Não sabemos, por exemplo, qual o grau de convivência entre os escravos dos três parentes José Pereira de Castro, José Pereira de Campos e José Pereira dos Reis. Seria interessante identificar se as propriedades eram vizinhas, facilitando o contato. Os dois primeiros tinham nítida preferência pela integração dos novos escravos com aqueles já pertencentes à família, mas este último não era do mesmo parecer. Não obstante tal constatação, precisamos alargar ainda mais nossa visão dos laços de compadrio. Os escravos dos três proprietários de sobrenome Pereira estabeleciam, ao longo de suas vidas, parentescos espirituais com outros cativos, seja dentro da propriedade, seja fora, não bastando, portanto, a observação dos casos dos africanos. Para tanto, vamos centrar nossas atenções para uma única propriedade escravista e seus cativos, pertencentes ao já citado alferes José Pereira de Castro. Podemos analisar especificamente dois casais de escravos, que tiveram numerosa prole e, portanto, diversificados laços de compadrio. A idéia 12 básica é examinar similitudes e diferenças nesses laços, pela comparação das teias de compadrio estabelecidas pelos dois casais que conviveram por muito tempo na mesma senzala. Quadro 3 Descendência de dois casais de escravos pertencentes ao alferes José Pereira de Castro, da vila de São Luis do Paraitinga. Filhos Joaquim x Cristina José x Jacinta 12/01/1806 18/01/1807 Batismo Padrinhos Filhos Batismo Padrinhos Teodora 1806 E/E Antonia 1807 E/E Marta 1811 L/? Rita 1810 E/E Manuela 1815 E/E Lourenço 1812 E/E Benedito 1817 L/E Joaquim 1814 E/E Vitória 1820 E/E Florência 1818 E/E Ana 1823 L/E Adão 1821 L/L Manuel 1825 L/L Florentina 1822 L/L Martinho 1825 L/L Isabel 1825 L/L Justina 1827 ?/? Legenda: E = escravo; L = livre Fonte: Registros paroquiais de batismo de São Luis do Paraitinga, 1774-1839. Em uma vista panorâmica dos batizados de ambos casais, parece haver uma tendência, mais nítida no casal José e Jacinta, no sentido de escolher cada vez mais padrinhos entre o segmento livre da população. Por outro lado, chama a atenção a presença de somente uma cativa como madrinha e residindo na mesma senzala: Teodora, que batiza a pequena Ana em 1823, filha de Joaquim e Cristina. Nenhum dos demais cativos a apadrinhar pertence à mesma senzala, embora esta contasse com dezoito indivíduos em 1806 e trinta e seis em 1828, não sendo possível apostar na indisponibilidade de candidatos a padrinhos em seu interior. De fato, somos levados a acreditar que o jogo de alianças era complexo, e que, muitas vezes, era mais interessante buscar apoio em cativos de outra propriedade do que no companheiro ao lado. Além do mais, os dois casais jamais teceram aliança entre si, através do batismo de seus filhos, apesar da convivência por cerca de vinte anos. 13 A análise das práticas do compadrio de escravos, de uma maneira geral, tem levado a resultados que estão longe de permitir conclusões definitivas. Muitas vezes, o que se obtêm é bastante diferenciado, tal como ocorre na participação de livres e cativos como padrinhos, ou na presença de parentes do senhor a apadrinhar. Talvez seja preciso, doravante, análises mais refinadas, especialmente com o recurso precioso ao cruzamento de fontes documentais outras que os batismos. Bastante sugestiva é a tentativa, empreendida por Maria Inês Côrtes de Oliveira, de cruzar registros de batismos com testamentos, acrescentando informações preciosas de caráter qualitativo (Oliveira, 1995/1996). Nesse sentido, nossa tentativa de alargar o leque analítico consiste justamente em trabalhar com as listas nominativas de habitantes, de maneira a melhor identificar as ramificações da teia do compadrio, em busca de sentidos que possam estar escondidos atrás de nomes e números frios. Pelas listas, torna-se possível melhor conhecer os personagens e a composição do domicílio, examinando a rede de laços sob uma ótica mais panorâmica. Um caso de pequeno proprietário escravista foi, assim, alvo de análise particularizada. José Vieira de Almeida era lavrador, instalado em São Luis desde 1774 até 1814, quando aparentemente veio a falecer. Os escravos que logra possuir, ao longo desses anos, são um casal e seus oito filhos aí nascidos, bem como outros dois adolescentes, comprados ou herdados. A reprodução do casal Cipriano e Lourença é essencial para a manutenção do domicílio, pois as crianças cativas foram sendo utilizadas para responder às demandas específicas da história de vida do casal. Duas das crianças cativas, Inácia e Benedito, foram cedidas em dote para as filhas Ana e Antonia, quando de seus casamentos. Outras três crianças escravas – Francisco, João e Joaquina – devem, também, ter composto os dotes de outros três filhos de José Vieira de Almeida, pois desaparecem do domicílio à época dos respectivos casamentos. Por fim, um dos escravinhos, o primogênito, Manuel, foi vendido aos 21 anos de idade “aos ciganos”, declaração bastante incomum, mas que comprova a reserva de capital que a reprodução natural estabelecia para um pequeno lavrador. O acompanhamento longitudinal desse domicílio nas listas permitiu identificar que grande número de padrinhos e madrinhas também eram filhos ou parentes, ou então, vizinhos de zona rural. Mas talvez o mais interessante seja aquilo que denominamos ser uma autêntica rede de compadrio, envolvendo os mesmos indivíduos em situações de apadrinhamento distintas. Francisco Pinto de Carvalho, genro de José Vieira de Almeida, tem quatro de seus filhos apadrinhados pelo próprio sogro e, ao mesmo tempo, torna-se padrinho de um cativo deste. O mesmo se repete com outro genro, José Correa Leme. Estes laços são de “mão- 14 dupla”, pois reforçam por duas vezes os vínculos entre dois domicílios, em instâncias diferenciadas. Identificar a complexa rede de compadrio a partir de um domicílio é tarefa tortuosa e árida. Principalmente porque julgamos importante não ficar restrito, nessa análise, aos compadres oriundos dos batismos de escravos. Devem também entrar na observação os padrinhos dos filhos do proprietário, bem como as relações estabelecidas por este e por seus escravos, ao serem convidados para apadrinhar os filhos de outros, livres ou cativos. Nessa imbricada rede, traçada com muitos fios, vamos encontrar realidades inesperadas. Como, por exemplo, no caso de Francisco Xavier de Araújo, em cuja propriedade os nove escravos são, em sua maioria, batizados quase exclusivamente por livres, em sua maioria morando em domicílios que atendiam a um ou a ambos dos seguintes perfis: ser escravista, voltado para a lavoura e vizinho; ser negociante, ou ser artesão na vila. O fato de o compadre pertencer a um domicílio escravista já denota um processo de seleção, já que eram amplamente minoritários na sociedade luizense. O mesmo podemos dizer dos domicílios de negociantes ou artesãos. Os afilhados de Francisco Xavier, da mesma maneira, são, em grande parte, da mesma origem, demonstrando que os laços de mão-dupla seguiam, eles também, o mesmo critério seletivo: os laços eram preferenciais com outros domicílios escravistas, em geral vizinhos, ou com moradores da vila, mais acessíveis no momento do batismo. Sejam quais forem as variáveis observadas, o compadrio permanece um desafio para o estudioso da família. Perceber as motivações que estão por trás exige penetrar no imaginário religioso das populações do passado, mas também no imaginário das relações de solidariedade, que estabeleciam obrigações e deveres entre as partes. Senhores e escravos se emaranhavam nessa teia, mas ainda não sabemos ao certo que vantagens levavam nessa vinculação, embora tenhamos muitas e sérias desconfianças nesse sentido. Muito nos resta, portanto, a desvendar nas fontes sobre a história da família e da população de nosso passado: este é o desafio. Bibliografia GÓES, José Roberto Pinto de (2001) “Tráfico, demografia e política no destino dos escravos no Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX”. Paper apresentado no III Congreso de Historiadores Latinoamericanistas y del Caribe / ADHILAC, Pontevedra, outubro de 2001. KOSTER, Henry (1942) Viagens ao Nordeste do Brasil (São Paulo: Cia. Editora Nacional). 15 Mattoso, Kátia M. de Queirós (1982) Ser escravo no Brasil (São Paulo: Brasiliense). NEVES, Maria de Fátima R. das (1990) “Ampliando a família escrava: compadrio de escravos em São Paulo do século XIX” en Nadalin, Sergio; Marcílio, Maria Luiza, e Balhana, Altiva P. (orgs.) História e população: estudos sobre a América Latina (São Paulo: SEADE). OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de (1995/1996) “Viver e morrer no meio dos seus. Nações e comunidades africanas na Bahia do século XIX” en Revista USP (São Paulo), nº 28. RAMOS, Donald (2004) “Teias sagradas e profanas – O lugar do batismo e compadrio na sociedade de Vila Rica durante o século do ouro” en Varia História (Belo Horizonte), nº 31. RIOS, Ana Maria Lugão (2000) “The politics of kinship. Compadrio among slaves in Nineteenth-Century Brazil” en The History of Family. An International Quartely, vol. 5, nº 3. SCHWARTZ, Stuart B. (2001) Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 16
Download