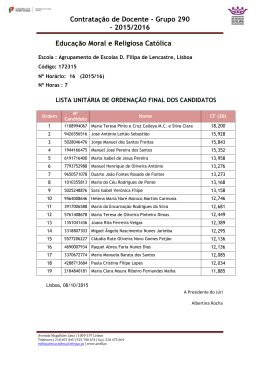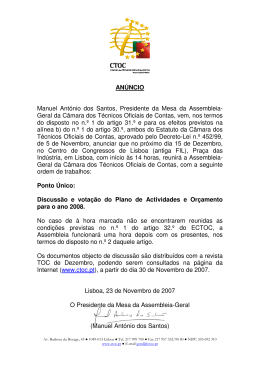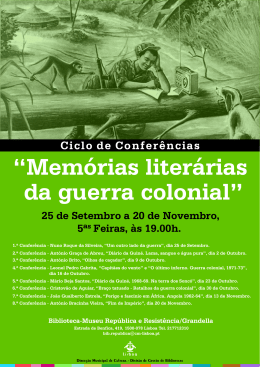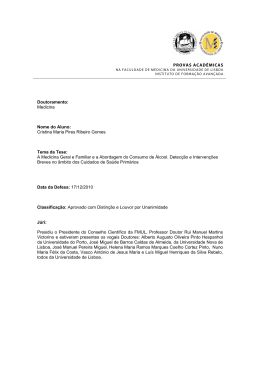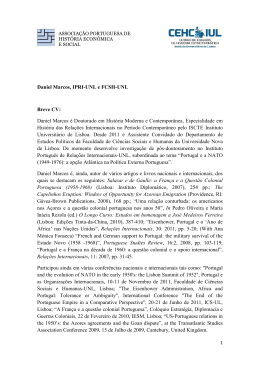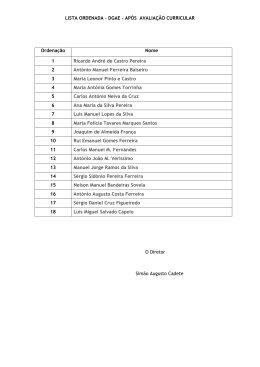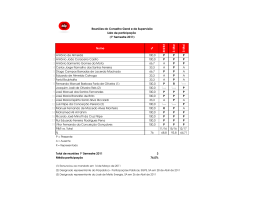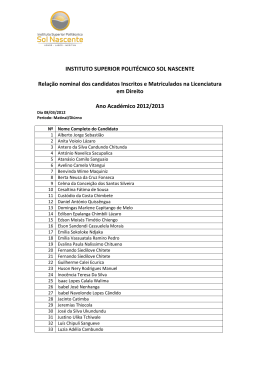1 Cantos da Alma e do Sangue* O sujeito: o eu e o(s) outro(s) Obedecendo a determinados imperativos estético-filosóficos, ensinou um dia Fernando Pessoa que a identidade de cada sujeito não se preenche com a mudez falaciosa da resignação desse sujeito face ao outro. E assim escreve: «Do nosso grau de consciência do exterior nasce o nosso grau de c(onsciênci)a do interior» (PESSOA, F., 1993: 408). Mais tarde, em 1974, sob o influxo de conhecidas configurações literárias e político-ideológicas, Vergílio Ferreira iria desenvolver o mesmo raciocínio. Mais: como que respondendo, dialogicamente, a Pessoa e ao projecto deste de unificação dos eus, reforça o pressuposto segundo o qual a identidade de cada sujeito é potenciada pela harmonia do eu consigo mesmo. Nesse sentido, avança com uma questão (que por si só nos esclarece quanto à resposta): «Que significado pode ter a unidade de tudo, nem que seja no seu sonho, se não temos a nossa?» (FERREIRA, V.: 1974: 15). Estas ideias, desenvolvidas tanto pelo criador dos heterónimos, como pelo autor do Espaço do Invisível, remetem-nos desde logo para as reflexões de um dos mais importantes pensadores soviéticos no domínio das ciências sociais; referimo-nos a Mikhaïl Bakhtine. Com a segurança metodológica e a convicção ideológica que sempre o caracterizaram, Bakhtine referiu-se por diversas vezes ao fenómeno da alteridade, encaminhando-o quase sempre para o terreno estético e filosófico. Talvez por isso terá recorrido à imagem do espelho para sintetizar precisamente esse fenómeno: «[…] quando me vejo ao espelho», escreve, «não estou sozinho […], encontro-me sob o domínio da outra alma». Pouco depois, completa este raciocínio, ao defender que, para se ver a ele mesmo, terá que viver, não na categoria do eu uno e indivisível, mas na «categoria do outro» (BAKHTINE, M. 1984: 53-55). Ou seja: para que o sujeito * Este texto resulta de uma comunicação proferida em Abril de 2000, no 1º Congresso Internacional sobre a “Guerra Colonial: Realidade e Ficção”, realizado em Lisboa, no Instituto de Defesa Nacional. Posteriormente, foi publicada nas Actas desse mesmo Congresso. 2 consiga aprofundar a consciência de si mesmo e dos outros, e assim enriquecer-se, terá que se desdobrar internamente num outro eu. Contudo, de um determinado ponto de vista, esse processo não escapa a alguma perversidade: é que, se, por um lado, no contexto pessoal e interpessoal, o sujeito, pelo desdobramento, aprende a conhecer (e a melhorar) os seus limites, por outro, esse desdobramento confere ao próprio sujeito (ainda que este não se aperceba) uma ainda maior autonomia. E é nesta maior autonomia que justamente se poderá encontrar o desvirtuamento do processo da alteridade, já que, pensará o sujeito, “se me vejo com capacidade para me criticar, terei tendência a ver-me com capacidade para criticar também o outro”. Recuperação de identidades Ora, o que tem toda esta problemática a ver com os objectivos deste estudo? A relação encontra-se em três níveis, todos eles articulados entre si: em primeiro lugar, se considerarmos essa problemática no terreno da produção estético-literária — a poesia africana de expressão portuguesa (angolana e moçambicana, sobretudo); em segundo lugar, ainda que mediatamente, se alvejarmos a mesma questão num palco históricocultural enquadrado fundamentalmente pelo paradigma do sistema cultural e colonial português; por último, se privilegiarmos a sintonia entre alguma produção literária portuguesa e africana de expressão portuguesa (desenvolvida num contexto histórico comprometido com a guerra colonial) e um conjunto de procedimentos de coloração ideológica que traduzem um pragmatismo marcante: a crítica dos absurdos da guerra e a tentativa de recuperação de identidades: de um lado, a identidade africana (abalada pela assimilação e pela exclusão); de outro, a identidade portuguesa (desconfiada de uma postura ainda recente). E porquê a reconstituição da identidade portuguesa? Não porque o exija a noblesse, nem tão-pouco o politicamente correcto, mas por três outros motivos: por um lado, porque o presente nos atinge de forma inflexível — e obriga-nos a rever o passado e os homens que o construíram; por outro lado, porque todos somos sujeitos (e o sujeito, explica Manuel Faria Carrilho, «define-se pela referência aos outros» 3 [CARRILHO, M. F., 1989: 9]); finalmente, the last but not the least, porque, sendo portugueses, devemos mostrá-lo, ou, parafraseando Alberto Caeiro, devemos sobretudo ser do tamanho que vemos e não do tamanho da nossa altura — afinal, a mesma razão pela qual «um país tem o tamanho dos seus homens», como lembrava Manuel Alegre em meados dos anos 60 (ALEGRE, M., s/d: 22). A falsificação da consciência do sujeito negro “Cantos da Alma e do Sangue”, assim se intitula este estudo. Reconhece-se facilmente neste título um verso de um conhecido poema de António Jacinto, intitulado «Poema da alienação» (publicado em 1961, em Poemas). Aí, este paladino do Movimento dos Novos Intelectuais de Angola (e, na década de 50, uma das personalidades mais proeminentes da geração da Mensagem), apontando tacitamente para uma consciencialização posterior (ratificada, aliás, pelo resto do poema), escreve: «Não é este ainda o meu poema / o poema da minha alma e do meu sangue» (FERREIRA, M., 1988: 136). Ainda que denotando António Jacinto uma influência evidente dos parâmetros ideológicos neo-realistas, o sujeito poético do «Poema da alienação» pretende, ao mesmo tempo, desligar-se dos modelos europeus, reflectir sobre os valores africanos (angolanos) com os quais se identifica, e, em última instância, lembrar que o povo angolano podia agir contra o esvaziamento da identidade promovido pelo sistema colonial. Esta situação encontra-se, aliás, bem ilustrada nos últimos seis versos: Mas o meu poema não é fatalista o meu poema é um poema que já quer e já sabe o meu poema sou eu-branco montado em mim-preto a cavalgar pela vida (id.: 138). Como se vê, estas palavras conjugam três ideias que importa reter: num primeiro nível, prevalece o desdobramento do sujeito poético em dois eus (um eu «branco» 4 [António Jacinto é branco] e um eu «preto» [com o qual se solidariza ao longo de todo o poema]); depois, ressoa a imagem do negro colonizado com o branco colonizador montado sobre ele; por último, o apelo ao leitor. E se este apelo se insinua ao longo do poema, ele torna-se explícito nestes últimos versos, apelo esse reforçado precisamente pelo recorte de vitalidade da imagem do «cavalo»; o sujeito poético deixa então de se encarar como uma vítima conivente com um fatalismo qualquer e o seu «poema» refulge com o desejo de uma mudança. Na década de 50, aliás, essa mudança foi também desejada, e variavelmente cantada, por Ermelinda Pereira Xavier, Alda Lara, Humberto da Sylvan, Henrique Guerra, Luandino Vieira, António Cardoso, Henrique Abranches, entre outros — uma mudança construída paulatinamente com a denúncia da falsificação da consciência do negro africano operada pelo colono durante o longo processo de assimilação, exclusão e/ou segregação1. Por essa falsificação entendeu-se: uma repetida despersonalização e coisificação do sujeito negro; uma contínua polarização entre valores positivos e valores negativos; um esvaziamento do poder político dos chefes das populações africanas; o estabelecimento de colonos em terras que pertenciam, pelo menos moralmente, ao indígena africano; o desmembramento das estruturas e dos valores das sociedades indígenas; a exploração do negro muitas vezes sob a aparência de uma pretensa «missão civilizadora». Mais: essa falsificação, denunciaram-na igualmente Maurício Gomes, Agostinho Neto e Viriato da Cruz: Maurício Gomes, no poema «Estrela pequenina» — quando o seu apelo e as suas palavras acerca dos «angolanos [escravos] / Que fizeram o Brasil!» repousam comovidamente sobre a dor de ser negro e sobre a fragmentação do sujeito angolano em «mil pedaços de pele / Arrancados a chicote» (FERREIRA, M., 1988: 81); Agostinho Neto, em Sagrada Esperança, ao criticar a alienação cultural, a exploração económica e a repressão policial sobre o negro africano; Viriato da Cruz, em «Mamã Negra (Canto de Esperança)», convocando agora o drama negro de todo o mundo, apelando para o fim da alienação e anunciando a confraternização universal num holístico «dia da humanidade». 1 - O processo de aculturação na África lusófona estendeu-se igualmente ao campo da produção literária; até a própria instalação do prelo nos anos 40 e 50 do XIX negou em parte, justamente, o desenvolvimento pleno de uma literatura autóctone. Já então uma recente burguesia negra e mestiça se encontrava afastada dos antigos valores (cf. FERREIRA, M., 1989: 30). 5 A poesia de guerrilha De certa forma, esta questão reenvia-nos de novo para a dinâmica identitária do funcionamento estratégico e ideológico do discurso colonial. Esse discurso — onde um implacável passado colonial não deixava esquecer as noções de identidade de referência, de periferização do sujeito, de suprematismo do colonizador, de poder representativo do centro — obriga-nos agora a pensar nos cerca de 75 milhões de africanos mortos ao longo do que Cornel West denominou de “assalto à humanidade Negra”. No caso português, obriga-nos a ter consciência da nossa própria fragilidade; a mesma consciência que, segundo Almada Negreiros, faz «gigantes e heróis»; a mesma consciência que nos permite equacionar e apreender estética e humanamente o outro; a mesma consciência, afinal, que nos obriga a aceitar o outro, a sua singularidade, a sua diferença. Podemos até nem concordar com a diferença dita pelo outro; mas impõe-se-nos o dever não só de defender o direito de o outro dizer essa diferença, como ainda de nomear esse outro, quando por essa nomeação se entende o simples facto de o reconhecer como sujeito. Ora, num contexto geral de reflexão sobre o passado (nomeadamente, sobre um período tão recente como foi a guerra colonial, e anti-colonial), e sendo a literatura uma prática inevitavelmente contextualizada, facilmente se compreende a razão de ser dos textos de guerrilha — produzidos entre os anos de 1961 e 1974, com uma afirmação ideológica evidente, escritos sobretudo por quem vivenciou directamente essa mesma guerrilha. Talvez por isso se compreenda também a razão de ser de obras como Mayombe (1970) e As aventuras de Ngunga (de Pepetela, este último escrito em 1972), As Lágrimas e o Vento (1975) (de Manuel dos Santos Lima) e Caderno de Um Guerrilheiro (1974) (de João-Maria Vilanova) (sobre esta questão, leia-se LARANJEIRA, P., 1994). Talvez por isso se justifique igualmente o aparecimento das antologias Poesia de Combate I (1971) e II (1977), publicadas pela Frente da Libertação Nacional, cujos contornos ideológicos convergiam na exortação à luta pela libertação e se confinavam fundamentalmente à denúncia do colonialismo (aquele a que, em 6 Jornada de África, de Manuel Alegre, o guerrilheiro angolano Domingos Da Luta se referia, quando falava com o companheiro Trinta e Nove2). Trata-se, é certo, de uma poesia de circunstância, mas alguns versos ganharam rapidamente estatuto de refrão: «Vamos marchando / e as vozes vão cantando», alerta Marcelino dos Santos (em «Nampiali») (FERREIRA, M., 1984: 199); «[…] o sangue / é terra onde cresce a liberdade», declara Sérgio Vieira (em «Canto de Guerrilheiros») (id.: 310); «Na nossa terra / as balas começam a florir», ou «Há uma mensagem de justiça em cada bala que disparo», proclama Jorge Rebelo (em «Vem contar-me o teu destino, irmão» e em «Carta de um combatente») (id.: 366 e 369, respectivamente). A literatura da e sobre a guerra colonial E que dizer dos que, do lado português, representaram literariamente a guerra colonial? Antes de tudo, e já o fez Pires Laranjeira (LARANJEIRA, P., 1991), importa sublinhar o seguinte: a literatura cuja temática é a guerra colonial trouxe algumas mudanças no contexto da produção literária portuguesa, sem que por tal se pressuponha que tenha nascido uma literatura diferente, marcada por conceitos e procedimentos técnico-narrativos novos. O que acontece é que essa literatura tem assumido uma importância particular para o leitor português que, sobretudo esse, vivenciou, directa ou indirectamente, aquela guerra. Como quer que seja, estudar a literatura da e sobre a guerra colonial implica ter necessariamente em conta a crítica movida por alguns escritores aos absurdos da guerra. E se, após o 25 de Abril de 74, essa crítica se assumiu por diversas vezes, com maior ou menor desenvoltura, sob a forma de registo autobiográfico, um outro sentido se insinuava tácita e progressivamente: o de resgate de uma identidade hipotecada com a cumplicidade de um regime — que obrigava a «conjugar na primeira pessoa o verbo matar e o verbo morrer», certifica Manuel Alegre (ALEGRE, M., 1989: 70); o de resgate de uma identidade desvirtuada pelo estigma da guerra, como também escreve o narrador em Jornada de África: «Para Angola e em força. As mães redobram de 2 - Às perguntas insistentes de Trinta e Nove, o guerrilheiro angolano Domingos Da Luta «[…] está farto de lhe explicar que o inimigo não é o branco, a cor da pele não interessa, o inimigo é o 7 actividade em suas lidas, preparam roupas, malas e compotas, à noite choram. Os pais sentam-se calados olhando para dentro. Se apanham os filhos distraídos demoram neles o olhar aflito, carne de sua carne, quem sabe se para canhão. E de repente ficam velhos» (id.: 179). Lembremo-nos ainda como, antes do 25 de Abril, Manuel Alegre se insurgia contra os absurdos da guerra colonial; que outro alcance senão este terão, por exemplo, alguns poemas que integram a antologia Praça da Canção (1965)? «[…] a palavra vida rima / com a palavra morte em Nambuangongo», regista em «Nambuangongo, meu Amor» (ALEGRE, M., s/d: 110); «[…] vento que vens do lado da guerra / sem trovas / sem trovas / carregado dos ecos da metralha […]», escreve em «Toada do Vento Africano»; e, pouco depois, continuando a dirigir-se a esse mensageiro, pede-lhe: Traz-me tudo o que quiseres. Mas por favor ó vento amigo vento viageiro Não tragas mais os mortos do meu povo (id.: 122). Mais flagrante e pujante se torna esta denúncia na antologia O Canto e as Armas (1967), do mesmo Manuel Alegre, em poemas como «Metralhadoras cantam», «É preciso um País» e «As mãos»: nesses poemas se firma o cotejo e a consonância desabrida entre o som da guerra e o silêncio da morte, quando o sujeito poético se refere às «Metralhadoras [que] cantam a canção da guerra» (ALEGRE, M., 1970: 40); nesses poemas se projecta a contínua demanda de um sujeito poético em busca da pátria onde a “vida foi traída” (id.: 51). Nesses poemas refulge a inscrição ambivalente das mãos que edificam e subvertem, das mãos que revitalizam e pervertem: «Com mãos se faz a paz se faz a guerra», escreve o poeta; e acrescenta: «Com mãos tudo se faz e se desfaz» (id.: 121). Correspondendo ainda às linhas de força acima descritas, a literatura portuguesa após o 25 de Abril que tem como pano de fundo a temática da guerra colonial acentua gradativamente a crítica de um passado então recente. Trata-se de uma literatura que procura rever a identidade nacional, uma literatura que regressa a África para redifinir espaços preenchidos pela História e destilados pelo crivo da cultura oficial. Neste colonialismo […].» (ALEGRE, M. 1989: 189). 8 âmbito, por exemplo, António Lobo Antunes, com Os Cus de Judas (1979), João de Melo, com Autópsia de um Mar de Ruínas (1984), Lídia Jorge, com A Costa dos Murmúrios (1988), e novamente Manuel Alegre, com Jornada de África (1989), constituem referências nucleares e paradigmáticas, cujas narrativas são envolvidas por uma considerável incidência pragmática, em função das directrizes ideológicoliterárias de que não se demitem. Essas directrizes são essencialmente três: antes de mais, um certo derrotismo e antitriunfalismo com que se analisa a História (desencanto esse confessado naqueles «lusíadas do avesso», presentes n’A Jornada de África, na carta que Sebastião escreve a Bárbara); por outro lado, a coloração negativa com que se pinta o desvanecimento de uma sociedade colonial (por demais visível n’A Costa dos Murmúrios, nas vaticinadoras palavras do General, quando prenuncia o futuro fragmentado do Hotel Stella Maris); finalmente, a representação do contexto social e histórico-político que envolveu a guerra colonial e os que nela directa ou indirectamente participaram… ou não…, como pungentemente se critica n’Os Cus de Judas: Éramos peixes […], treinados para morrer sem protestos, para nos estendermos sem protestos nos caixões da tropa, nos fecharem a maçarico lá dentro, nos cobrirem com a Bandeira Nacional e nos reenviarem para a Europa no porão dos navios, de medalha de identificação na boca no intuito de nos impedir a veleidade de um berro de revolta. […] Éramos peixes, somos peixes, fomos sempre peixes, […] espiados pelos mil olhos ferozes da PIDE, condenados ao consumo de jornais que a censura reduzia a louvores melancólicos ao relento de sacristia de província do Estado Novo, e jogados por fim na violência paranóica da guerra, ao som de marchas guerreiras e dos discursos heróicos dos que ficavam em Lisboa, combatendo corajosamente o comunismo nos grupos de casais do prior, enquanto nós, os peixes, morríamos nos cus de Judas uns após outros, tocava-se um fio de tropeçar, uma granada pulava e dividia-nos ao meio, trás! (ANTUNES, A. L., 1997: 123-125). Desta rede temática, onde vibram exigências éticas de um imaginário social suspenso sobre o escritor, não se pode dissociar entretanto uma dimensão pedagógica com que, em última instância, aqueles textos acabam tangivelmente por se comprometer; rever o passado, é certo, mas para com sabedoria aprender com ele; não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la, ensinou Cícero. Por isso, esses textos, escreve Margarida Ribeiro, revestem-se «de um valor duplo intrinsecamente cúmplice: são importantes elementos de reflexão sobre o modo europeu/português de 9 estar em África […] e simultaneamente peças indispensáveis para entender o modo de estar hoje em Portugal» (RIBEIRO, M., 1998: 149). Por isso também esses textos nos convidam a usufruir da liberdade, não abdicando dela; por isso igualmente esses textos procuram explicar o «sentimento esquisito de absurdo», aquele «gigantesco, inacreditável absurdo da guerra» que repetida e violentamente deflui das palavras do Capitão e do narrador d’Os Cus de Judas (ANTUNES, A. L., 1997: 28, 61 e 74, respectivamente); por isso ainda esses textos nos convocam para nos reencontrarmos à custa da nossa perda. De novo o eu e o outro No que diz respeito à relação com o outro, Mikhaïl Bakhtine esclareceu-nos que o que verdadeiramente interessa não é que esse outro seja igual ao eu, mas que ele traduza a diferença, tantas vezes julgada negativamente como resultado do desconhecimento do lugar ocupado por aquele na esfera de valores em que se insere: «Somente o outro», escreve, «pode […] fazer-me viver o finito humano, a sua materialidade empírica delimitada» (BAKHTINE, M., 1984: 56). Por esta perspectiva, torna-se, assim, necessário nomear o outro, sem que sobre essa nomeação pendam interesses político-económicos. No que diz respeito à guerra em si, aos que nela combateram, aos que dela regressaram: doutrinou Heraclito que a guerra é a mãe de todas as coisas; mas à guerra se referiu Lobo Antunes como uma «dolorosa aprendizagem da agonia» (ANTUNES, A. L., 1997: 43) de cujas recordações não se isenta nenhum sobrevivente; escreve o narrador n’Os Cus de Judas: «Trazemos o sangue limpo»; e acrescenta, com uma ironia mordaz: […] as análises não acusam […] o homem enforcado pelo inspector na Chiquita, nem a perna do Ferreira no balde dos pensos, nem os ossos do tipo de Mangando no telhado de zinco. […] tenho o mijo limpo, […] o mijo irrepreensivelmente limpo, posso regressar a Lisboa sem alarmar ninguém, sem pegar os meus mortos a ninguém, a lembrança dos meus camaradas mortos a ninguém, voltar para Lisboa, entrar nos restaurantes, nos bares, nos 10 cinemas, nos hotéis, nos supermercados, nos hospitais, e toda a gente verificar que trago a merda limpa no cu limpo […] (id.: 233-235). Alegou Fernando Pessoa que a literatura aponta continuamente a nossa imperfeição. Ora, quando se tem em conta o perfil ideológico-literário das narrativas e dos poemas referidos (tantos outros deveriam ser evocados!), assim como a latitude pedagógica em parte tributária desse perfil, torna-se necessário participar com eles — com esses “cantos da alma e do sangue” — na procura daquele ideal que nasce da consciência que temos da nossa imperfeição. Mas, acima de tudo, é imperativo que com eles procuremos a complacência da relação eu—outro, dignificada, apesar de tudo, com a relação resguardada de cada sujeito consigo mesmo. Terá sido para esta relação que, na narrativa de Manuel Alegre, Jornada de África, apontam as palavras que o Alferes Sebastião deixou com o Poeta. Antes de, numa emboscada, desaparecer no mato, Sebastião deixa ao amigo uma mensagem; e o alcance dessa mensagem investe-se de um significado nuclear cujos matizes marcaram implacavelmente o protagonista, é certo, mas também os que, em guerra, sob a sombra da morte, conviveram de perto com o verbo morrer e com o verbo matar. Diz essa mensagem, e termino: Talvez tenhamos de nos perder aqui para chegar finalmente ao porto por achar: dentro de nós. Talvez tenhamos de não ser para podermos voltar a ser. Há outro Portugal, não este. E sinto que tinha de passar por aqui para o encontrar. Não sei se passado, não sei se futuro. Não sei se fim ou se princípio. Sei que sou desse país: um país que já foi, um país que ainda não é. É por ele que me apetece dar de novo Santiago (ALEGRE, M., 1989: 231). BIBLIOGRAFIA ALEGRE, Manuel (s/d) - Praça da Canção, Lisboa, Editora Ulisseia. ALEGRE, Manuel (1970) - O Canto e as Armas, Poesia Nosso Tempo. ALEGRE, Manuel (1989) – Jornada de África, Lisboa, Publicações Dom Quixote. 11 ANTUNES, António Lobo (1997) – Os Cus de Judas, 19ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote. FERREIRA, Manuel [org.] (1988) - No reino de Caliban, 2ª ed., Lisboa, Plátano Editora, vol. II. FERREIRA, Manuel [org.] (1984) - No reino de Caliban, Lisboa, Plátano Editora, vol. III. JORGE, Lídia (1995) – A Costa dos Murmúrios, 10ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote. BAKHTINE, Mikhaïl (1984) - Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard. BHABHA, Homi K. (1986) - «The other question: difference, discrimination and the discourse of colonialism», in BARKER, Francis et alii, Literature, Politics and Theory. Papers from the Essex Conference 1976-84, London and New York, Methuen, pp.148-172. BHABHA, Homi K. (1990) - «Articulating the archaic: notes on colonial nonsense», in COLLIER, Peter, GEYER-RYAN, Helga [eds.], Literary Theory Today, Cambridge, Polity Press, pp.203-218. BRENOT, Anne-Marie (1995) - «Du centre et de la périphérie», in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Lisboa-Paris, Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Vol. XXXIV, pp.169-183. CARRILHO, Manuel Faria (1989) - Elogio da Modernidade, Lisboa, Editorial Presença. FERREIRA, Ana Paula (1996) - «‘Continentes Negros’ com nome de Portugal: o ‘feitiço’ nacionalista de Maria Archer», in Discursos, nº13, Coimbra, Universidade Aberta, Outubro, pp.85-98. FERREIRA, Manuel (1989) - O discurso no percurso africano I, Lisboa, Plátano Editora. FERREIRA, Vergílio (1974) - «Do “Eu”, etc.», in Colóquio/Letras, 19, Maio, Lisboa, pp.6-15. KLEIMAN, Olinda (1998) - «La guerra coloniale dans l’oeuvre de Manuel Alegre: entre exorcisme et idéologie», in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Lisboa-Paris, Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Vol. XXXVII, pp.633-651. LANDOWSKI, Eric (1997) - Présences de l’autre, Paris, PUF. LARANJEIRA, Pires (1991) - «A guerra colonial na literatura portuguesa», in Jornal de Letras, 19 de Fevereiro, p.12. LARANJEIRA, Pires (1994) - «Perspectivas da literatura africana de guerrilha», in Vértice, 58, II série, Janeiro / Fevereiro, pp.8-10. 12 LOPES JÚNIOR, Francisco Caetano (1994) - «Vozes em dissidência na literatura portuguesa contemporânea», in Actas do XIV Encontro de Professores Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa — 3 a 7 de Agosto de 1992, Porto Alegre, EDIPUCRS, pp.243-247. MORIN, Edgar (1995) - «La noción de sujeto», in SCHNITMAN, Dora Fried [org.], Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad, Buenos Aires / Barcelona / México, Paidós, pp.67-85. PESSOA, Fernando (1986) - Obras de Fernando Pessoa [organização de António Quadros], Porto, Lello & Irmão Editores, Vol. II. PESSOA, Fernando (1986) - Obras de Fernando Pessoa [organização de António Quadros], Porto, Lello & Irmão Editores, Vol. III. PESSOA, Fernando (1993) - Pessoa Inédito [coordenação de Teresa Rita Lopes], Lisboa, Livros Horizonte. POLANAH, Luís (1995) - «O efeito colonizador nos PALOP», in Nós - III Congresso Internacional de Literaturas Lusófonas, 41-50, pp.224-230. RÉMOND, René (1994) - Introdução à História do nosso tempo — do Antigo Regime aos nossos dias, Lisboa, Gradiva. RIBEIRO, Margarida (1998) - «Percursos africanos: a guerra colonial na literatura pós25 de Abril», in Portuguese Literary & Cultural Studies, 1, Fall, Centre for Portuguese Studies and Culture / University of Massachusetts Dartmouth, pp.125152. ROCHA, Clara (1997) - «Jornada de África: determinação e autodeterminação do herói», in Máthesis, 6, Viseu, Universidade Católica Portuguesa / Faculdade de Letras, pp.261-269. STONEHAM, Geraldine (1995) - «Dislocations: postcolonialism in a postmodernist space», in DOWSON, Jane, EARNSHAW, Steven [eds.], Postmodern Subjects / Postmodern Texts, Amsterdam / Atlanta, Rodopi, pp.237-251. TORRES, Alexandre Pinheiro (1989) - «O mundo das “metrópoles” e das “colónias” literárias (retrato talvez caricatural)», Ensaios escolhidos I, Lisboa, Editorial Caminho, pp.13-20. WEST, Cornel (1994) - «The new cultural politics of difference», in DURING, Simon [ed.], The Cultural Studies Reader, London/New York, Routledge, pp.203-217.
Download