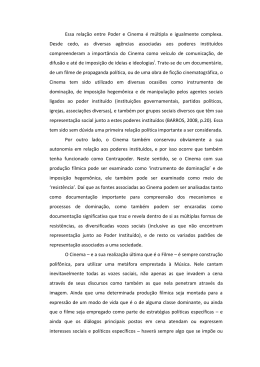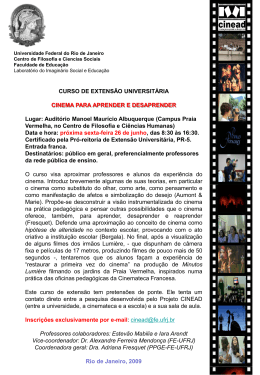A Vida Virtual do Filme SÉRGIO DIAS BRANCO Para Seminários em Volta de D. N. Rodowick: “A Vida Virtual do Filme”. Instituto de Filosofia da Linguagem - Universidade Nova de Lisboa, 27 Abr. 2010. [3110 palavras] The Virtual Life of Film1 é um livro de luto. D. N. Rodowick reflecte sobre a novidade do cinema digital e sobre o papel da teoria nesta reflexão. Reflectir sobre estes tópicos pode ser visto como uma resposta às muitas imagens do presente que nos obrigam a pensar na sua ontologia, naquilo que elas são. Rodowick aborda este problema sem considerar o aparecimento destas novas imagens como uma ruptura, mas como uma continuidade. O cinema digital é virtualmente fotográfico e mesmo quando não se baseia na casualidade fotográfica (de alguma coisa ter estado em frente da câmara, como causa, e haver uma imagem filmada dessa coisa posteriormente projectada, como efeito), a sua virtualidade pretende quase sempre tornar-se concreta, inserida num mundo. Por outro lado, as imagens digitais apoiam-se em diversos automatismos particulares (que as definem como simulações). É por isso que a grande referência filosófica deste volume é a obra de Stanley Cavell.2 O filme persistirá como referência teórica e de percepção, persistirá virtualmente. Saber sobreviver a uma morte é aprender a fazer melhor o luto, é entender o que o luto pode significar a partir do que fica depois da morte. O livro tenta perceber quais as consequências destas mudanças, não só para o cinema, mas também para o estudo do cinema. 1. A VIDA VIRTUAL DO FILME 1.1. MUNDOFUTURO Rodowick vê-se como um teórico social, alguém que está atento ao que emociona e faz pensar as pessoas, primeiro o cinema e depois a televisão e a cultura digital. A emergência dos novos media levanta a questão do que acontecerá aos estudos de cinema, um campo ainda em formação, mas que parece já ultrapassado, parece já ser sobre o passado. Ele continua a apresentar-se como teórico do cinema. Os seus principais 1. D. N. Rodowick, The Virtual Life of Film (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007). 2. Ver, em particular, Stanley Cavell, The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film, ed. aumentada (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979). 2 interesses são a filosofia e a cultura visual contemporânea, com o cinema como elemento central de estudo. Mas o trabalho académico nesta área tem mudado o foco do estudo do cinema para o estudo da imagem em movimento ou do ecrã. O que acontecerá aos estudos de cinema se os filmes desaparecerem? Eis uma questão para a teoria do cinema responder. 1.2. O INCRÍVEL MEIO ENCOLHIDO Filmes como The Matrix (Matrix, 1999) encenam um confronto entre o analógico e o digital, o velho e o novo. Neste confronto, o imaginário e o real propõem duas realidades, ainda que as imagens produzidas em computador sejam vistas como “contemporâneas” e “espectaculares”, e as imagens resultantes do processo fotográfico como “verdadeiras e “autênticas”. Esses filmes apontam também para uma oposição com raízes na história da teoria do cinema, entre tecnologia e arte. Parece claro, no entanto, que o digital já suplantou o analógico. Um dos mais óbvios exemplos disso é a substituição gradual do registo da presença física dos actores por imagens geradas por computador. Esta mudança nota-se não só na produção, mas também na distribuição e projecção, à medida que caminhamos para o quase desaparecimento do celulóide. 1.3. REGRESSO AO FUTURO Os períodos de mudanças tecnológicas intensas são sempre crucial para a teoria, porque são os filme que colocam a questão: o que é o cinema? Ao contrário das “representações analógicas”, que se baseiam na transformação de uma substância isomórfica, as “representações virtuais” baseiam-se na manipulação numérica. Os poderes da fotografia são os da analogia e indexicalidade. As imagens geradas por computador, por sua vez, são criadas a partir de funções algorítmicas. A analogia existe como reconhecimento, mas as imagens digitais não têm referente nem substância: as suas expressões são idênticas, redutíveis, no limite, à mesma notação computacional. Mas será que “filme” e “cinema” são sinónimos? As câmaras digitais baseiam-se na mesma geometria óptica das câmaras tradicionais, na mesma perspectiva linear — por isso, noções como as de “cinemático” ou “realista” são ainda operativas em relação ao digital. Há outras formas de pensar na “virtualidade” em relação aos estudos fílmicos e cinematográficos. Nunca houve um consenso em relação à questão “o que é o cinema?” e isso faz com que o cinema tenha vivido desde sempre uma crise de identidade. Esta nova discussão limita-se a relembrar uma situação persistente. O filme é um objecto estético difícil de definir porque desafia os conceitos sobre os quais o estético foi erguido. 3 Como o autor argumentou em Reading the Figural,3 as belas-artes eram fáceis de classificar segundo a divisão de Lessing entre artes do tempo (ou sucessão) e artes do espaço (ou simultaneidade). Mas teóricos como Panofsky, Eisenstein, Bazin, e ainda Deleuze, perceberam que o cinema era uma arte do tempo e do espaço. Nelson Goodman propõe, por seu lado, a divisão entre artes autográficas, assinadas, manufacturadas (como a pintura), e as artes alográficas, notacionais, em dois estádios, em que a composição está separada da performance (como a música). A fotografia parece encaixar-se nos dois tipos. É óbvio que as artes digitais não são autográficas, mas podem ser consideradas alográficas, dado que cada cópia é idêntica ao original. Cohen-Séat chamou ao cinema tudo o que envolve o filme, mantendo-se exterior a ele. Metz propõe outra ideia: a do cinema, ou do cinematográfico, como algo geral e do filme, ou do fílmico, como instância. A montagem paralela é uma figura cinematográfica; a sua utilização no final de The Matrix é uma instância fílmica. Para Metz, o cinematográfico é uma virtualidade, uma possibilidade, que não deixa de ser específica e homogénea — é um código. O cinema demonstra como é infrutífero tentar definir a especificidade de um meio a partir da sua auto-identificação ontológica ou autosimilaridade substancial. O conjunto de todos os filmes variam em expressão e códigos. Esta pluralidade, heterogeneidade, variedade, quer dizer que o cinema só pode ser definido como conceito aberto. Cherchi Usai propõe outra reflexão sobre a virtualidade do cinema. Os filmes têm uma morte anunciada que é o resultado da erosão da sua projecção e da passagem do tempo. Neste sentido, não há duas cópias iguais em celulóide: cada uma mostra as marcas da sua história de projecção e do seu tempo de existência. Cada experiência de um filme faz-se sob o signo da repetição, mas também da diferença. Raymond Bellour fala do filme como texto não-encontrável. Um filme é um texto que não é citável. A escrita pode capturar a sucessão de imagens, mas não o movimento automatizado e inexorável que o filme impõe. O cinema é resistente à escrita porque é um sistema de códigos que escapam à notação, como se fossem virtuais. Metz expõe uma dupla virtualidade inerente aos filmes: a projecção alucinatória de um referente ausente (incerteza espacial) e o modo como as imagens no escapam ao longo do tempo da projecção (instabilidade temporal). Para Rodowick, este significante imaginário persiste apesar do modo como o estilo e a tecnologia dos filmes vai mudando. O território dos estudos de cinema vai-se alterando, porque não há uma ontologia do meio que estabeleça o filme como meio estético e ancore estes estudos como disciplina humanística. A mutabilidade deste campo, que reflecte a do meio que estuda, é uma das 3. Ver Rodowick, Reading the Figural, or, Philosophy after the New Media (Durham, NC: Duke University Press, 2001). 4 suas forças e o que a torna tão atractiva para os filósofos e os pensadores, que vêem nele uma oportunidade para lidar com questões em aberto. 2. O QUE FOI O CINEMA? A fenomenologia do cinema já morreu porque foi transformada pela televisão e pelo vídeo. Isto aconteceu sem ruptura: o cinema levou ao vídeo. O cinema parece estar a morrer, mas o que está a desaparecer é uma certo conceito de cinema, uma determinada ideia do que é o cinema. Os estudos de cinema não precisam de uma ideia de filme que delimite, de modo rígido, o seu campo de investigação. Muitas definições de cinema partem do filme para descobrir uma essência, ligada à fotográfica, ou à montagem, ou a outro aspecto. Noël Carroll evita estas abordagens essencialistas e propõe uma definição geral das obras da imagem em movimento.4 Para Rodowick, a consistência técnica da definição não diminui o seu desinteresse estético. Há um meio em todas as coisas e também nos filmes e nas outras obras da imagem em movimento. A proposta de Carroll neutraliza estas diferenças individuais, mas para os artistas estas diferenças são fundamentais e o meio não pode ser esquecido.5 Stanley Cavell propõe uma outra noção de meio, que não é só um grupo de materiais, mas sobretudo um conjunto de práticas. Um género é, neste sentido, um meio. As possibilidades estéticas e artísticas de um meio não são dadas à partida como afirmam os essencialistas, mas só podem ser descobertas através da criação. Cavell evita assim as mesmas injunções que Carroll, aquelas que determinam o que pode ou deve ser feito num determinado meio artístico. A subjectividade de que depende a criatividade é circunscrita por uma série de automatismos, que criam as condições para a criação. O conceito de automatismo inclui os aspectos mecânicos do equipamento (por exemplo, os que estabelecem o processo causal da fotografia), mas também hábitos e códigos que o cinema foi desenvolvendo e instaurando. A sucessão dos fotogramas da tira de película é outro elemento fundamental do filme. A sucessão fotográfica contribui para a sensação de que os filmes projectam um mundo “autónomo”, um mundo passado. Os filmes não representam, transcrevem esse mundo, e essa acção envolve, necessariamente, uma posição ética, uma ética do tempo. Como pode esta consideração ser repensada em relação ao cinema digital? É uma pergunta para a terceira parte do volume. À medida que os filmes se tornam filmes digitais, um novo meio é criado, em continuidade. Os meios da imagem em movimento 4. Ver, e.g., Noël Carroll, The Philosophy of Motion Pictures (Oxford: Blackwell, 2008), p. 73. Rodowick cita um texto mais antigo. 5. Para um artigo anterior ao livro de Rodowick que desenvolve esta ideia em detalhe, ver Murray Smith, “My Dinner with Noël; or, Can We Forget the Medium?”, Film Studies: An International Review, n.º 8 (2006), pp. 140-48. 5 estão relacionados segundo a lógica de semelhanças familiares de Wittgenstein e não a partir de diferenças claras e essenciais. 3. UMA NOVA PAISAGEM (SEM IMAGEM) 3.1. UMA ELEGIA PELO CINEMA Os cinéfilos do novo milénio são como o Edgar de Éloge de l’amour (Elogio do Amor, 2003): nostálgicos em relação ao passado, expectantes em relação ao futuro. O vídeo talvez seja o futuro do filme, a sua vida virtual. Godard convida-nos a contemplar os dois, nas duas partes desta obra; primeiro o filme, depois o vídeo. O filme foi o meio histórico por excelência — e está a agora a tornar-se história. 3.2. OS NOVOS “MEDIA” As artes electrónicas e digitais produzem uma paisagem “sem imagem”. Primeiro, porque elas estão ainda na sua infância e não temos uma imagem histórica das suas formas. Segundo, porque não se ajustam à ideia que temos de imagem como una, estável, imutável. O termo “novos media” é enganador na sua generalidade. “Cinema digital” não o é menos, já que é difícil determinar a partir de ponto e de que condições se torna um filme digital, dado que os processos digitais são agora comuns, em maior ou menor grau, na produção dos filmes. O cinema está na genealogia dos novos media tanto quanto o computador, defende Lev Manovich. Rodowick concorda, mas afirma que esta história é menos linear do que parece. William Uricchio demonstrou como a pré-história da televisão e imagens electrónicas e digitalizadas precedeu a história do filme e se desenvolveu em paralelo a esta última. De certo modo, o cinema pode ser visto como uma digressão no movimento mais significativo que junta as história dos ecrãs electrónicos com a dos processos computacionais. Os novos media são muitas vezes pensados a partir do cinema, numa analogia. O cinema permanece como modelo cultural e estético. O que quer dizer que estes meios não são verdadeiramente novos (daí novos) e que se apoiam no cinema como ideia (daí “meios”). O nosso sentido da imagem em movimento tem progredido através de três vertentes: fotografia e filme, imagens e transmissão electrónicas, e processos computacionais. Precisamos de conceitos que os unam, que mostrem a sua interacção, reconhecendo também a sua diferença e singularidade. Não há novos media, apenas forma híbridas ligadas no modo como se baseiam em operações e automatismos computacionais. 6 3.3. PARADOXOS DO REALISMO PERCEPTUAL O realismo perceptual é uma função de analogismo e indexicalidade na captura digital e síntese. A transcrição analógica e a conversão digital são processos distintivos. Há muitas formas de produzir ou simular os efeitos perceptuais da “credibilidade fotográfica”, a ponto de os filmes baseados na captura de desempenhos ao vivo poderem passar a ser a excepção e deixarem de ser a norma. No entanto, é errado atribuir indexicalidade ou causalidade fotográfica à síntese digital. Esta causalidade não é necessária como nos processos analógicos. 3.4. O REAL É COMO O REAL FAZ O critério para julgar o realismo perceptual das imagens digitais é menos ético e ontológico do que pragmático. Isto porque tem havido uma transição do filme para o digital que tem sido quase imperceptível para os espectadores. Deve ser assinalado que a referência para a qualidade visual entre os profissionais de Hollywood é a película em 35mm, mas para muitos espectadores contemporâneos é o vídeo de alta definição. A projecção digital em sala não é mais do que vídeo em alta definição, uma experiência demasiado semelhante à que, neste momento, podemos ter em casa. 3.5. ANALOGIA E ÍNDICE REVISITADOS Será a fotografia digital uma extensão dos processos analógicos como afirma Tom Gunning? Rodowick pensa que não. No uso quotidiano, as imagens digitais capturadas por câmaras são aceites como fotografias. Essa é uma aceitação que a teoria não deve negar, mas que exclui a reflexão sobre os processos específicos de produção e recepção destas imagens. É verdade que estas imagens preenchem os critérios icónicos e espaciais a partir dos quais as imagens são julgadas com base na similitude. Mas é verdade também que a força da indexicalidade que acompanha a causalidade analógica automática é desafiada. Estas imagens são menos documentos históricos e mais simples registos. 3.6. SIMULAÇÃO Lendo o trabalho de Lev Manovich a partir de Stanley Cavell, Rodowick declara que o algoritmo é a base dos automatismos dos computadores. As operações automatizadas dos computadores são ainda mais independentes do que as operações mecânicas das câmaras analógicas. Melhor dizendo, o principal automatismo da computação é a simulação através do cálculo, uma operação sobre informação que pode ser copiada deixando a informação intacta. Um computador é, portanto, um meio — um meio diferente de uma câmara, mas um meio. As ideias de Manovich permitem-nos entender a continuidade de certos conceitos: imagem, ecrã, representação, enquadramento. Mas 7 Manovich é demasiado apressado na consideração de que a informação digital representa, enquanto tal, quando ela não significa coisas que podem ser vistas ou imaginadas como estando num mundo ou no mundo. O significado escapa à notação lógica. 3.7. UMA IMAGEM QUE NÃO É “UMA” Na idade dos computadores a imagem não é uma, mas múltipla, flutuante. Stanley Cavell caracteriza o cinema, ou seja, os filmes, como uma sucessão de projecções automáticas do mundo que leva à visão. Define também a televisão como uma corrente de recepção simultânea de eventos que conduz à monitorização. Rodowick propõe que os eventos digitais sejam descritos como um processo de simulação através de interacções algorítmicas de informação que suscita controle ou comando que advêm da interactividade. 3.8. DOIS FUTUROS PARA AS IMAGENS ELECTRÓNICAS O que se segue à fotografia? As imagens capturadas digitalmente não têm a força indexical da fotografia, mas isso não impede que elas sejam tomadas como perceptualmente reais. Em alta definição, elas podem até capturar mais informação do que algumas fotografias. Para além disso, as imagens digitais são imediatas de captar, guardar e distribuir. De modo que têm o potencial de servir, não como documentação do passado, mas com uma incessante mapeamento do presente, como aconteceu com as terríveis imagens de Abu Ghraib. Outro futuro das imagens electrónicas passa pelo carácter híbrido das obras, com o digital a transcrever o que foi registado em película. O trabalho de Sam Taylor-Wood, por exemplo, ganha poder criativo através dessa hibridez e da exploração daquilo a que Deleuze chamou o “dividual”. A película é valorizada pela sua capacidade de registar mudanças nos estados físicos e emocionais em sequências de infinitésimas diferenças indivisíveis. Estas diferenças emergem de um fluxo de mudança contínuo, sempre a tornar-se qualitativamente outro. 3.9. O EVENTO DIGITAL O evento digital é indissociável da montagem. Um filme como Russkiy kovcheg (A Arca Russa, 2002), que apresenta um plano contínuo capturado em vídeo, demonstra bem isso. Estamos a falar aqui de um entendimento diferente do conceito de montagem. Este entendimento não substitui o anterior, mas alarga-o. A montagem é agora a manipulação das camadas de uma imagem modulada numa variedade de transformações algorítmicas. O cinema digital é inseparável de uma estética da pós-produção. 8 3.10. ONTOLOGIAS TRANSCODIFICADAS Para um cinéfilo é difícil ultrapassar a nostalgia pelo mundo analógico. Porém, a cosmogonia digital não é melhor ou inferior, é simplesmente diferente no seus valores e modalidades de expressão. Atenua, ou bloqueia até, a relação fotográfica com um mundo passado, ao mudar esse mundo, transformá-lo noutras formas, ou criar outros mundos. Isto suscita uma questão: que relações epistemológicas e éticas estabelecem estes automatismos de simulação com o mundo e com a vida colectiva? A resposta a esta pergunta envolve perceber a peculiar relação da imagem digital com o tempo. É difícil a esta imagem comunicar ou dar a experimentar a duração porque o que ela nos convida é a controlarmos o tempo (em relação à informação e como informação). É sintomático que os meios digitais se estejam a desenvolver mais como forma de comunicação do que como prática artística. No campo do cinema, estes meios articulam-se com o legado vivo dos filmes, das experiências, das ideias. Daí que o cinema vá persistir, evoluir, ainda que sofra transformações. 3.11. VELHO E NOVO O livro termina com uma nota de optimismo, celebrando o renascimento (virtual) dos estudos de cinema. A novidade das práticas digitais tem menos a ver com a criação de um novo meio e mais com um processo histórico a grande escala de conversão de meios textuais e espaciais para a forma digital, de modo a serem manipulados por computador e transmitidos através de redes de informação. No entanto, filmes como The Matrix não optam apenas por uma montagem elíptica: a sua estrutura geral é claramente clássica, no sentido desenvolvido por David Bordwell. O cinema permanece, então, apesar da morte do filme, como forma narrativa e experiência psicológica. Os estudos de cinema podem portanto aliar-se aos estudos dos media — com os estudos visuais a emergirem. Rodowick propõe algo mais radical: o cinema e a fotografia seriam parte daquilo que chamamos “novos media”. A cultura contemporânea é audiovisual e as formas e ideias são concomitantes com as da história e teoria do cinema. Esta história e teoria permanecem fundamentais para pensarmos o presente e o futuro.
Download