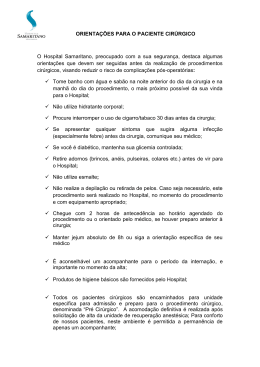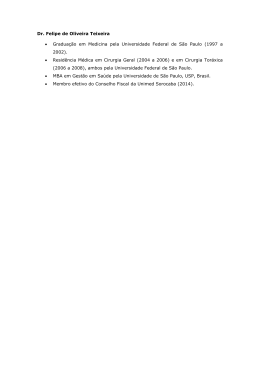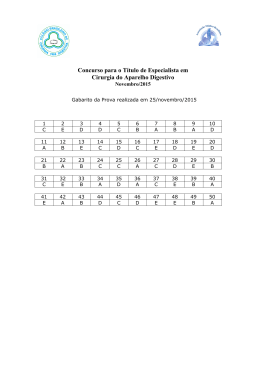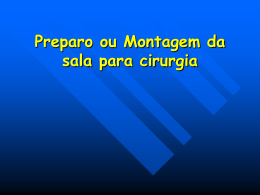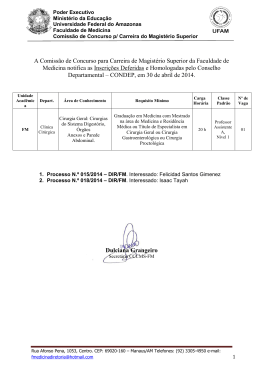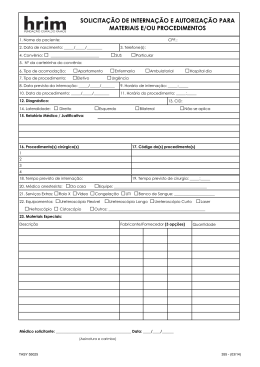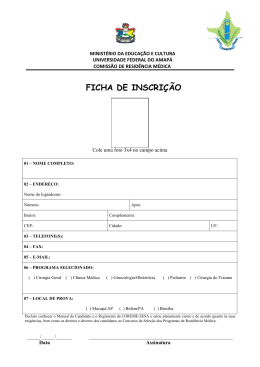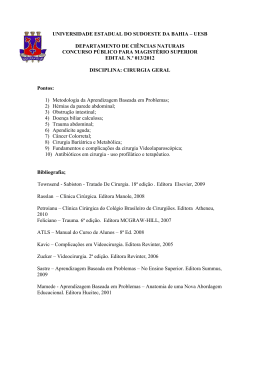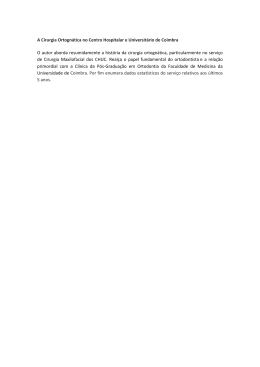UNIVERSIDADE VALE DO PARAÍBA INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SIMONE APARECIDA BIAZZI DE LAPENA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA ELETIVA São José dos Campos, SP 2009 Simone Aparecida Biazzi de Lapena ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA ELETIVA Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade do Vale do Paraíba, como complementação dos créditos necessários para obtenção do título de Mestre em Engenharia Biomédica. Orientador: Profº. Dr. Drauzio Eduardo Naretto Rangel São José dos Campos, SP 2009 1316p Lapena,SimoneAParecidaBiazzi Assistência farmacêutica na prevenção de infecção hospitalar em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva / simone Aparecida Biazzi Lapena; orientador: Profo, São José dos Dr. Drauzio Eduardo Naretto Rangel. Campos,2009. 68 f. 1 Disco laser:color. em Dissertaçãoapresentadaao Programade Pós-Graduação EngenhariaBiomédicado Institutode Pesquisae da Universidadedo Vale do Paraíba,2009' Desenvolvimento 3. Cirurgias farmacêutica 2. Assistência 1. Infecçãohospitalar L Rangel,Drauzio do sitiocirúrgico cardíacas4. Infecção EduardoNaretto,Orient.ll. Título CDU:614 totalou a reprodução e científicos, parafinsacadêmicos Autorizo,exclusivamente eletrônica, ou transmissão por processos fotocopiadores parcialdestadissertação, desdeque citadaa fonte. do aluno: Assinatura Data:0611112009 SIMONE APARECIDA B,TAZT'IDELAPENA DE INFECÇÃoHoSrITALAR "ASSISTÊNCIAFARiMACnurrca NA pR.EvnnqÇÃo EM PACIENTESSUBMETTDOS A CIRURGIACARDIACAELETIVA" Dissertação aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Engenharia Biomédica, do Programa de Pós-Graduaçãoem EngenhariaBiomédica, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba,São Josédos Campos, SP, pela seguinte banca examinadora: Prof. Dra. AÌ\A MARIA DO ESPIRITO SANTO (LINIVAP) Prof. DT.DRAUZIO EDUARDO NARETTO RANGEL GTN Prof. Dra.LEILA RIBEIRO DOS SANTOS(CTA-IEAV) Prof.Dr. DENYMUNARI TREVISANT@nn) W Prof. Dra. SandraMaria Fonsecada Costa Diretor do IP&D - UniVaP de2009' SãoJosédosCampos,06 denovenrbro Dedicatória... Dedico a realização deste trabalho a todos que acreditaram em mim, principalmente ao meu querido marido Edislei pelas palavras de motivação, por me substituir muitas vezes no meu papel de mãe cuidando dos nossos queridos filhos Edisleizinho e Eduardo enquanto me dedicava ao curso de mestrado e por permitir realizar meus sonhos. Amor, agradeço a Deus por você fazer parte da minha vida. Ao meu filho Eduardo pelas vezes que me pediu algo, mas, a me ver trabalhando completava a frase assim: ... Pode ser depois que a senhora terminar mãe! E a você, meu querido Edisleizinho, pelos seus olhinhos de admiração a me ver desenvolver meu projeto sempre dizendo com orgulho: ... Mãe quando eu crescer vou estudar um montão igual a senhora! Aos meus pais pelos princípios e valores que me ensinaram. A minha irmã Rita por me apoiar a cursar a minha primeira faculdade apesar de todas as dificuldades financeiras que nossa família apresentava, olha só aonde cheguei... E aos meus queridos pacientes o qual tenho imensa satisfação de prestar assistência profissional e humanizada, sem vocês este trabalho não seria possível. Agradecimentos Agradeço ao meu orientador Drauzio pela dedicação e confiança onde sempre pude observar em seu perfil competência, ética, profissionalismo, humildade e principalmente respeito ao aluno. A amiga e grande colaboradora deste estudo, Leila Ribeiro dos Santos que acreditou no meu projeto e fez com os meus resultados se destacassem. A Profª. Ana Maria do Espírito Santo pela motivação em um momento difícil da realização deste estudo oferecendo seu apoio e ajuda. As irmãs do Hospital Pio XII por acreditarem no meu projeto e permitirem o seu desenvolvimento. A Denise Miras amiga e grande colaboradora na obtenção dos dados de infecção hospitalar deste estudo. Aos meus funcionários do setor de farmácia hospitalar pelas atividades realizadas no setor incluindo registro dos dados referente a este projeto e, em especial, a Silvania pelas orações nos momentos de dificuldades. Aos colegas Rafaela, Carlos e Leda pelo carinho e apoio. A minha amiga Jane por cuidar da minha família com amor e carinho. A Mirian, a qual denominei como um anjo em minha vida, principalmente na realização deste estudo, jamais esquecerei que foi você a idealizadora de transformar a minha assistência no hospital neste trabalho. Aos amigos Rita e Jorge por estarem sempre ao meu lado, apoiando e esclarecendo as minhas decisões, sem medir esforços. Pelas vezes que lembraram que minha família esta em primeiro lugar e a enxergar o lado positivo das situações difíceis. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA ELETIVA RESUMO A prevenção de infecções no sítio cirúrgico de cirurgias cardíacas eletivas em conjunto com uma profilaxia antibiótica através do conhecimento da epidemiologia hospitalar e o estudo dos fatores de risco pertencentes ao paciente foram acompanhados pela assistência farmacêutica. Foi realizado um estudo incluindo pacientes submetidos a cirurgias cardíacas eletivas entre 2002 a 2008, avaliando 3447 pacientes com idade superior a 18 anos e com cirurgia cardíaca eletiva, sendo que 1611 pacientes realizaram cirurgias cardíacas eletivas no período de janeiro de 2002 a maio de 2005, período em que não havia sido estabelecida a assistência farmacêutica, os protocolos específicos com as indicações de uma profilaxia antibiótica e a avaliação com o tratamento de possíveis fatores de risco. A partir de junho de 2005 a dezembro de 2008 a metodologia utilizada foi a identificação dos 1836 pacientes desde a data de internação, pré- e pós-operatório para o acompanhamento da prescrição do antibiótico profilático padronizado no hospital e da avaliação dos fatores de risco como: diabetes mellitus, obesidade, hipertensão, tabagismo, etilismo, condições dentárias, tempo de permanência hospitalar prolongado, reoperações e demais patologias pré-existentes que predispõem possíveis infecções no sítio cirúrgico juntamente com a prescrição de medicamentos para o tratamento terapêutico dos fatores de risco e/ou indicações de avaliações de outros profissionais especialistas. Em média, houve uma redução da taxa de infecção de sítios cirúrgicos e do período de internação, em dias, de cirurgias cardíacas por causa da adoção de novos protocolos. Os micro-organismos mais prevalentes nas hemoculturas positivas dos pacientes que apresentaram infecção no sítio cirúrgico foram Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. O estudo mostrou que o controle de uma profilaxia antibiótica pela ação da assistência farmacêutica e a avaliação dos fatores de risco predispondo uma infecção, reduziram significativamente a taxa de infecções no sítio cirúrgico destes pacientes. Palavras-chave: Infecção hospitalar; Assistência farmacêutica; Cirurgias cardíacas; Infecção do sítio cirúrgico PHARMACIST ASSISTANCE IN PREVENTING HOSPITAL INFECTIONS IN CARDIAC SURGICAL PATIENTS ABSTRACT This study evaluated the monitoring by a pharmaceutical assistant to prevent surgical site infections in elective cardiac surgery with antibiotic therapy through their knowledge of hospital epidemiology and assessment of the patient’s risk factors. The study included 3447 patients over 18 years old who underwent elective heart surgery from 2002 to 2008. The methodology was to identify patients from their time of admission. Their pre- and post-operative care with prophylaxis antibiotic prescription in the hospital was monitored, as well as the standard assessment of risk factors which may predispose them to possible infection in the surgical site. On average, pharmaceutical care reduced surgical sites infections and the hospitalization period for elective heart surgery. The most prevalent microorganisms in patients positive blood cultures in surgical site infections were: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. The study showed that the controlled use of prophylactic antimicrobials by pharmaceutical assistants reduced the rate of surgical site infections in patients. KEYWORDS: Cross infection, Pharmacist assistance, Cardiac surgical, Surgical wound infection LISTA DE FIGURAS Figura 1. (a) Média do número de cirurgias cardíacas eletivas no período de 2002 a 2008. (b) Média de infecção de sítios cirúrgicos de cirurgias cardíacas eletivas no período de 2002 a 2008. (c) Média de internação em dias dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca eletiva no período de 2002 a 2008. .........................35 Figura 2. Gráfico da média de infecção do sítio cirúrgico por número de cirurgia de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca eletiva no período de 2002 a 2008. ....36 Figura 3. Gráfico da média do número de dias de internação hospitalar de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008. .........37 Figura 4. Gráfico comparativo de custos (valores em Reais) de pacientes internados com infecção hospitalar e sem infecção hospitalar de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008...........................42 Figura 5. Gráfico de micro-organismos isolados em hemoculturas de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca notificados com infecção hospitalar. ........................42 LISTA DE TABELAS Tabela 1. Teste de Análise de Variância (ANOVA) para a média de infecções nos sítios cirúrgicos...................................................................................................39 Tabela 2. Teste de Análise de Variância (ANOVA) para a média do período de internação..................................................................................................................39 Tabela 3. Relação da média de infecção por número de cirurgias com a média de internação em dias de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008. ...........................................................................................40 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................................12 2 OBJETIVOS..........................................................................................................................14 2.1 Objetivos específicos......................................................................................................14 3 REVISÃO DA LITERATURA .............................................................................................15 3.1 A origem dos micro-organismos ....................................................................................15 3.2 A origem do hospital ......................................................................................................16 3.3 A farmácia hospitalar .....................................................................................................17 3.4 A farmácia hospitalar e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) .........18 3.5 Microbiota humana e micro-organismos patógenos.......................................................19 3.6. Classificação dos micro-organismos colonizadores ......................................................20 3.7 Infecção por bactérias e mecanismos de defesa do hospedeiro......................................21 3.8 Conceitos e diagnósticos de infecção hospitalar ............................................................22 3.9 Agentes etiológicos de infecção hospitalar e mecanismos de transmissão ....................23 3.10 Tratamento com antimicrobianos .................................................................................25 3.11 Principais mecanismos de ação dos antibióticos ..........................................................27 3.12 Resistência bacteriana aos antibióticos ........................................................................28 3.13 Infecção no sítio cirúrgico em cirurgias cardíacas .......................................................29 4 METODOLOGIA..................................................................................................................32 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ..........................................................................................34 6 CONCLUSÕES .....................................................................................................................44 REFERÊNCIAS .......................................................................................................................45 APENDICE A – Coleta de dados .............................................................................................55 ANEXO A – Teste de normalidade..........................................................................................59 ANEXO B - Teste de paridade de Internação ..........................................................................61 ANEXO C – Teste de paridade de Cirurgia .............................................................................64 ANEXO D – Teste de paridade de Infecção.............................................................................67 ANEXO E – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ...............................................................70 12 1 INTRODUÇÃO No âmbito hospitalar os procedimentos cirúrgicos são os fatores que mais contribuem para um risco de infecção hospitalar (GELAPE, 2007). A incisão cirúrgica promove um rompimento da barreira epitelial de defesa contra os micro-organismos (GRINBAUM, 1997) o que facilita a ocorrência de um processo infeccioso (GUYTON: HALL, 2006). A presença de uma infecção numa incisão cirúrgica é denominada de infecção do sítio cirúrgico (ISC) (GELAPE, 2007). A infecção do sítio cirúrgico pós-operatório em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva é uma das complicações clínicas mais frequente que os pacientes podem ser acometidos, dificultando a continuidade do tratamento cardiológico (GRINBAUM, 1997; ABBOUD et al., 2004), representando uma alta taxa de morbidade e mortalidade e de um aumento de gastos extras médico-hospitalares (LISSOVOY et al., 2009). Alguns fatores de risco pré-operatórios podem aumentar a possibilidade da ocorrência de uma infecção do sítio cirúrgico de pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca (ABBOUD et al., 2004) como, por exemplo, obesidade, diabetes mellitus (ZERR et al., 1997), hipertensão arterial, hiperlipidemia, insuficiência cardíaca congestiva (DOHMEN et al., 2009), condições dentárias (DEPPE et al, 2007; OWENS; STOESSEL, 2008). Os fatores de risco devem ser avaliados e tratados antes do procedimento cirúrgico (RIDDERSTOLPE et al., 2001). Outros procedimentos que devem ser adotados são: a limpeza do local da cirurgia na pele do paciente com anti-séptico (MOLINA, 2004), a desinfecção de pisos e paredes da sala de cirurgia (ABBOUD, 2001; ANTONIALI et al., 2005), a esterilização do material cirúrgico, incluindo a avaliação da circulação laminar do ar ambiente (GELAPE, 2007), restrição do número de profissionais que transitam no ambiente cirúrgico (LEITE SOBRINHO, 1999; HAMBRAEUS, 2006) e a correta limpeza das mãos de toda a equipe envolvida nos procedimentos com o paciente (REITZEL et al., 2009). A padronização de protocolos com as indicações de uma profilaxia antibiótica em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva tornou-se um consenso na prevenção de infecção do sítio cirúrgico (APARECIDA et al., 2002; RICHTMANN, 2005; WEBER et al., 2008) com o objetivo da ferida cirúrgica pós-operatória 13 permanecer classificada como limpa (WILSON, 2008; DOHMEN, 2008) melhorando a qualidade de vida dos pacientes com um período menor de internação e com diminuição de custos para o hospital (LISSOVOY et al., 2009). 14 2 OBJETIVOS Desenvolver uma metodologia que contribua com a prevenção de infecção hospitalar nos pacientes submetidos à cirurgias cardíacas eletivas, promovendo o uso racional de antibióticos, diminuindo a taxa de infecções hospitalares, reduzindo o período de internação dos pacientes e os gastos hospitalares. 2.1 Objetivos específicos A. Avaliar os fatores de risco que predispõem a uma infecção hospitalar; B. Elaborar protocolos para uso de profilaxia antibiótica; C. Controlar a microbiota pertinente ao hospital; D. Aplicar assistência farmacêutica na prática clínica. 15 3 REVISÃO DA LITERATURA 3.1 A origem dos micro-organismos Os micro-organismos foram as primeiras formas vivas em nosso planeta (ASH; FALKOWSKI; PENNISI, 2008; UJVARI, 2008). Porém, o homem só notou sua presença há pouco mais de 300 anos, e somente nos últimos 150 anos conseguiu entender a importância destes seres vivos no nosso ecossistema (GARCIA, 1995). Para tanto, precisou compreender que os micro-organismos não eram originários de causas sobrenaturais e muito menos da putrefação ou fermentação, e sim a causa destes fenômenos químicos. A partir destas constatações comprovou-se que essas formas de vida influenciavam a saúde humana, sendo responsáveis pelas doenças transmissíveis (FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000). Assim, surgiram progressivamente as teorias microbianas da fermentação e da doença, concomitantemente com a elaboração de medidas eficientes para o controle desses processos, que repercutiram na qualidade e a expectativa de vida da espécie humana (PELCZAR; CHAN, KRIEG, 1997). Para a teoria microbiana, foram fundamentais o desenvolvimento da teoria celular, do conceito sobre a especificidade das enfermidades e, principalmente, o fim da teoria da geração espontânea (MIMS et al., 2005). O descrédito da teoria da geração espontânea teve início com Louis Pasteur (1822-1895), cientista e professor de química da Faculdade de Ciências de Lille (França), que começou a estudar a fermentação. Em seu trabalho científico utilizando atividade ótica dos cristais, notou que, após a fermentação, os produtos tinham a capacidade de desviar a luz polarizada, o que significava que eram produzidos por seres vivos (VERGARA, 2004). Com os estudos de Louis Pasteur, a bacteriologia tomou rumo científico (FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000). Na continuidade dos seus trabalhos, Pasteur descobriu que seres vivos podem viver sob anaerobiose, onde não necessitam de oxigênio para sobreviver, e por este caminho, estudando os microorganismos, descobriu a causa de muitas infecções. Assim foi possível desenvolver técnicas que eliminariam micro-organismos, sendo possível controlar as 16 contaminações (GEISON, 2002). O próprio Pasteur se engajou em uma campanha para que os médicos dos hospitais militares fervessem seus instrumentos e bandagens que seriam utilizados em procedimentos cirúrgicos. Dando prosseguimento aos trabalhos de fermentação, Pasteur confirmou que cada doença é causada por um micro-organismo específico e que estes micro-organismos eram agentes externos. Com esses conhecimentos, Pasteur foi capaz de estabelecer as noções básicas de esterilização e assepsia, com conseqüências na prevenção de contaminações e infecções na cirurgia e obstetrícia (LACERDA; EGRY, 1997). Cada vez mais envolvido em pesquisas de doenças infecciosas, entre 1877 e 1887, Pasteur descobriu três bactérias responsáveis por doenças nos homens: estafilococos, estreptococos e pneumococos (TAVARES, 2000). 3.2 A origem do hospital Na análise dos primórdios da história da humanidade, na Antiguidade, a denominação de um local específico, onde pessoas doentes fossem aceitas para permanência e tratamento por profissionais com conhecimentos específicos, quase não são apontados (RIBEIRO, 1993). A indicação da palavra hospital origina-se do latim hospitalis que significa “ser hospitaleiro” e do termo acolhedor, adjetivo derivado de hospes, que se refere a hóspede, estrangeiro, viajante, aquele que dá agasalho, que hospeda. Assim os termos “hospital” e “hospedale” surgiram do primitivo latim e se fundiram por diferentes países (MELO, 1989). Em meados do século XIX, o desenvolvimento da medicina, com o advento da bacteriologia, o uso de métodos assépticos e anti-sépticos, a introdução da anestesia, permitindo a realização de cirurgias sem dor e com mais possibilidade de êxito, contribuíram muito para alterar a imagem do hospital, que deixou de ser um lugar aonde os pobres iam para morrer, transformando-se em local onde os enfermos podiam se curar. Os hospitais mudaram de objetivos e passaram a ser o centro onde se prestavam cuidados médicos (LISBOA, 2002). Legalmente, as obrigações do hospital atualmente incluem maiores responsabilidades pela qualidade dos cuidados que presta (RIBEIRO, 1993). 17 Economicamente, o hospital responde pelos maiores custos da nação, relacionado à saúde pública (CIPRIANO, 2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o hospital é parte do sistema integrado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade, completa assistência à saúde preventiva e curativa, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de formação para os que atuam na área da saúde. Esta definição, adequada para os tempos atuais, data de 1957, quando o ambiente, o mercado, as necessidades e o perfil demográfico-epidemiológico eram diferentes do que se observa no século XXI (CAVALINI; BISSON, 2002). O hospital tem muitas áreas funcionais que são interdependentes e se interrelacionam (TEIXEIRA, 1989). 3.3 A farmácia hospitalar Em 1973, foi publicada a primeira obra científica na área de assistência farmacêutica hospitalar (CIMINO, 1973). O I Seminário sobre Farmácia Hospitalar, realizado pelo Ministério de Educação e Cultura, em Brasília, em 1982, foi um evento que marcou uma nova era para o desenvolvimento da farmácia hospitalar, considerando como estratégia importante para a promoção do uso racional dos medicamentos (CIPRIANO, 2004). A partir de então, a farmácia hospitalar deixa de ser vista apenas como um dispensário de medicamentos e correlatos e torna-se, efetivamente, um serviço de apoio integrado ao hospital, porém, com atenção dirigida ao medicamento (BORGES FILHO; FERRACINI, 2005). Tendo atingido este objetivo, passa-se a discutir a inserção da assistência farmacêutica como único profissional capacitado para desenvolver as atividades determinadas à farmácia hospitalar. Em 1995, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) foi criada com o objetivo de contribuir para a dinamização da profissão e para o desenvolvimento da produção técnico-científica nas áreas de assistência farmacêutica hospitalar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 1997). A partir da década de 90, tendo a farmácia hospitalar fixada sua importância no âmbito hospitalar, um novo componente da assistência farmacêutica também fora inserido, a assistência farmacêutica que acoplado à farmácia clínica (que teve seu 18 início a partir da década de 60), deflagra um movimento de mudanças na prática farmacêutica, sob o enfoque da multidisciplinaridade direcionando o farmacêutico a prática clínica (FUCHS; WANMACHER; FERREIRA, 2004). Este novo modelo busca uma expressão ampla e articulada das atividades farmacêuticas, excedendo a centralização do farmacêutico ao medicamento, direcionando a atenção à saúde do usuário (paciente), buscando e promovendo a integralidade das ações (PENAFORTE, 2006). Como definição de Farmácia Clínica, segundo Gomes e Reis (2003), esta é uma área da ciência da saúde que tem responsabilidade de assegurar a aplicação de conhecimentos relacionados ao cuidado dos pacientes, quanto ao uso seguro e apropriado dos medicamentos. 3.4 A farmácia hospitalar e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) A Farmácia Hospitalar através das competências estabelecidas pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) por meio da Resolução 308/97 deverá participar da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) subsidiando as decisões políticas e técnicas, relacionadas à seleção, à aquisição, ao uso e controle de antimicrobianos e de germicidas hospitalares (MENDES, 2008). O controle das infecções hospitalares é uma atividade essencialmente multiprofissional. Para conhecê-las, analisá-las e fazer o seu controle, é necessário que os diversos segmentos do hospital, como a farmácia, o serviço de enfermagem, o corpo clínico e o laboratório de microbiologia, exerçam as importantes funções que lhe cabem nesta atividade (FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000). A contribuição da farmácia no controle das infecções hospitalares é considerada relevante pela American Society of Health – System Pharmacists (ASHP), que estabelece os padrões que o farmacêutico deve seguir nas ações de controle de infecções hospitalares. Segundo a ASHP, a principal atividade que a farmácia deve desenvolver no controle de infecções é a promoção do uso racional 19 de antimicrobianos. No Brasil, a Portaria 2616/98, do Ministério da Saúde (MS) regulamenta as ações de controle de infecções hospitalares no país. A participação do farmacêutico nos comitês de controle de infecção é importante não somente no aspecto técnico, como está prevista legalmente no Brasil, mas também como membro consultor e executor da CCIH. O anexo III da Portaria 2616/98 que trata da vigilância epidemiológica e indicadores das infecções hospitalares, propõe os seguintes indicadores para uso de antimicrobianos que têm relação com a assistência farmacêutica: • Percentual de pacientes que usuram antimicrobianos (profilático e terapêutico) em um período considerado; • Frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1998) • A padronização de medicamentos em ambientes intra-hospitalares com seu uso racional (RIBEIRO; TAKAGI, 2008). • A seleção de produtos que tenham qualidade e custos adequados tem como objetivo melhorar a assistência prestada aos pacientes, com um mínimo de produtos que atenda ao máximo as necessidades do corpo clínico e com diminuição de custos (GOMES; REIS, 2003). 3.5 Microbiota humana e micro-organismos patógenos A formação da microbiota normal, com a qual o homem convive por toda a vida, tem início no momento do nascimento que se distribui pelas partes do corpo onde cada uma das regiões habitadas possui uma microbiota com características próprias (ASH, 2008; PENNISI, 2008;TRABULSI, 2008). Segundo Trabulsi (2008), os micro-organismos aumentam sua capacidade em causar uma infecção pelos fatores de virulência, onde alguns destes fatores estão mais envolvidos com a colonização do micro-organismo e outros com as lesões do organismo. A colonização está relacionada com a capacidade do micro-organismo de aderir e de invadir as células do organismo (hospedeiro) e as lesões ocasionadas, com as toxinas de origem microbiana. Existe ainda uma forma dos micro-organismos interferirem com os mecanismos de defesa do hospedeiro definido 20 como evasina, um fator de virulência utilizado pelo ser invasor impedindo sua destruição pelo organismo infectado. A virulência de um micro-organismo está relacionada com a capacidade que este apresenta de causar infecção em indivíduos normais ou em indivíduos suscetíveis (THOMAS ; ELKINTON, 2004; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). De acordo com Kaufmann, Sher e Ahmed (2002), os micro-organismos invasores que se multiplicam mais intensamente facilitam sua transmissão e aumentam as possibilidades genéticas contra as defesas do hospedeiro, favorecendo a seleção natural. Assim, existe uma relação direta entre virulência, transmissibilidade e pressão seletiva em favor dos mais aptos. 3.6. Classificação dos micro-organismos colonizadores Os micro-organismos colonizantes são classificados em permanentes e transitórios (TRABULSI, 2008). A microbiota permanente, também chamada de residente, é praticamente constante em determinado local do organismo e faixa etária. Está firmemente aderida aos receptores teciduais e quando o equilíbrio é mantido, não provoca doenças, atuando como barreira antiinfecciosa; quando em desequilíbrio com seu hospedeiro, sua supressão pode ser rapidamente preenchida por micro-organismos ambientais ou de outros locais (tecidos) do organismo do próprio hospedeiro e podem atuar como agentes oportunistas e serem patogênicos. A microbiota permanente não é invasiva, mas pode ser veiculada nos procedimentos hospitalares, atingindo novas regiões do corpo do hospedeiro onde sua convivência não está adaptada, podendo desencadear um processo infeccioso (FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000; MIMS et al., 2005; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER , 2006). A microbiota transitória pode colonizar tecidos temporariamente por algumas horas, dias ou semanas, não sendo restabelecida por si só. A sua interação com os receptores teciduais é reversível, podendo ser removida (MIMS et al., 2005; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER , 2006). 21 Origina-se, geralmente, do meio ambiente ou de outros tecidos do hospedeiro, e não representa problema se a microbiota residente permanecer inalterada, mas pode desencadear doenças na sua alteração (TRABULSI, 2008). A ruptura da integridade tegumentar induzida por trauma, doença ou terapia favorece a invasão microbiana, podendo ocasionar infecções a partir da colonização (MOLINA, 2004). Outros fatores locais do hospedeiro também selecionam espécies colonizantes, como: suprimento sanguíneo, nutrientes, umidade, temperatura, pH, potencial de oxirredução e a presença de enzimas e de anticorpos IgA (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER , 2006; TRABULSI, 2008). A constituição normal da microbiota pode ser influenciada por fatores ambientais. Para Trabulsi (2008), os fatores que influenciam a microbiota permanente normal e que podem expor o hospedeiro a possíveis infecções são: tipo de dieta (que poderá alterar a microbiota do sistema digestório); hábitos de higiene pessoal (podem determinar mudanças na composição da população microbiana), como por exemplo, a lavagem das mãos após a manipulação de fontes de contaminação, tais como secreções e excretas (MOLINA, 2004); poluição e o saneamento básico alteram, principalmente, as microbiotas cutâneas, respiratório e digestório; contato com disseminadores (propagadores de micro-organismos); utilização de drogas antimicrobianas ou anti-sépticas; hospitalização (principalmente, em unidades consideradas críticas como as unidades de terapia intensivas). Além dos fatores externos, citam-se os fatores variados que, em sua grande maioria dependem do estilo de vida do paciente ou do seu ciclo biológico de vida (WILSON, 2008) como, por exemplo: faixa etária superior a 65 anos; alteração hormonal; etilismo (RANTALA; LEHTONEN; NIINIKOSKI, 1997) e tabagismo crônicos, diabéticos (ZERR et al., 1997), obesos; pacientes em estado crítico; recém-nascidos; prematuros; portadores de HIV, entre outros (LOPES; TAVARES, 2005). 3.7 Infecção por bactérias e mecanismos de defesa do hospedeiro 22 Bactérias são os micro-organismos comensais ou simbióticos mais frequentes da espécie humana ((FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO, 2000; RICHTMANN, 2005). O organismo humano possui três linhas de defesa contra invasão de substâncias estranhas, de acordo com Fernandes, Fernandes e Ribeiro (2000) e Ibrahim, Gunderson e Rotschafer (2001). A primeira linha de defesa do hospedeiro é um mecanismo externo inespecífico dificultando o acesso, a livre proliferação e a invasão de micro-organismos, constituindo uma barreira anatômica que é auxiliada por mecanismos fisiológicos como a descamação epitelial e processos de limpeza decorrentes do fluxo de secreções e excretas e, ainda, os fatores bioquímicos que agem criando um ambiente desfavorável ao crescimento do micro-organismo, como o pH baixo, ou impedindo a aderência microbiana aos receptores celulares ou mesmo por uma ação antimicrobiana direta, como a lisozima. A segunda linha de defesa se manifesta após a invasão microbiana dos tecidos e atuam como componentes inespecíficos da imunidade (resposta de fase aguda) que inclui a reação inflamatória, ação do complemento e fagocitose. A última linha de defesa trata-se da imunidade específica, ou seja, uma resposta humoral (produção de anticorpos pelos plasmócitos, derivados dos linfócitos B) ou celular (reconhecimento de antígenos por receptores na superfície de linfócitos T) (GUYTON; HALL. 2006). 3.8 Conceitos e diagnósticos de infecção hospitalar As infecções hospitalares são as mais frequentes e importantes complicações ocorridas em pacientes hospitalizados (OLIVEIRA, 2005; DOHMEN et al., 2009). Qualquer pessoa que necessita de internação em ambiente hospitalar para tratamento médico está sujeita a contrair uma infecção hospitalar (CASTRO, 2005), que está diretamente relacionada ao tempo de internação e procedimento a ser realizado (HOTA, 2004). Em procedimentos cirúrgicos existem mais riscos de contrair infecção do que em uma internação sem procedimentos já que Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) ou Centros Cirúrgicos são locais onde há muito mais chances de contrair infecção (TVEDT; BUHOLM, 2005; LISSOVOY et al., 2009). 23 O Ministério da Saúde, pela Portaria nº. 2616/98, regulamenta as ações do controle de infecções hospitalares no território nacional, apresentando conceitos e critérios para o diagnóstico das infecções hospitalares, sendo definidas como aquelas adquiridas após a admissão do paciente e as que se manifestam durante a internação ou após alta hospitalar, quando puderem ser relacionadas com a internação ou procedimentos hospitalares. Quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da admissão, considera-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar 72 horas após a admissão. Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). É relevante a padronização dos critérios diagnósticos para infecção hospitalar para cada realidade hospitalar. De acordo com o projeto National Nosocomial Infections Surveillance System/EUA (NNISS) a padronização facilitará o intercambio de informações entre instituições em relação aos seus diagnósticos e como prevenção. 3.9 Agentes etiológicos de infecção hospitalar e mecanismos de transmissão Geralmente, os agentes que causam infecção hospitalar fazem parte da microbiota normal da espécie humana, sendo as bactérias aeróbias as que predominam nas notificações das infecções hospitalares (DOHMEN et al., 2009). O local onde o micro-organismo habita, cresce e se reproduz, é denominado reservatório (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). O paciente por causa das consequências de sua patologia e das técnicas aplicadas durante sua internação é o principal reservatório e, consequentemente, uma possível vítima das infecções hospitalares (HAMBRAEUS, 2006). O reservatório poderá conter micro-organismos oriundos da própria microbiota ou do ambiente hospitalar. Este último pode ter sido disseminado por: profissionais de saúde (SILVESTRI et al, 2005), luvas (OLIVEIRA, 2003; GIROU et al., 2004), objetos inanimado ou animado (ANDRADE; ANGERAMI;, PADOVANI, 2000), água, alimentos, dispositivos médicos (TVEDT; BUKHOLM, 24 2005), ar ambiental (AZEVEDO, 2005), soluções e/ou medicamentos injetáveis administrados ao paciente (OLIVEIRA, 2003), grau de sujidade de paredes, pisos, bancadas no local (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2004; HOTA, 2004). As fontes podem ser fixas ou móveis, ou seja, significa que uma fonte poderá disseminar micro-organismos para outros locais favorecendo surtos de infecção (RICHTMANN, 2005). O conhecimento das vias de eliminação de micro-organismos é importante como uma forma de controle de possíveis infecções hospitalares (RABOUD et al., 2004; PITTET, 2005). De acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2004), as vias de eliminação de grande significância são: sangue, excreções, exsudatos e as descargas purulentas. A forma pelo qual um agente potencialmente infectante poderá se disseminar para um novo hospedeiro é denominada via de transmissão (RICHTMANN, 2005). Martins (2001) aponta as principais vias de transmissão num ambiente hospitalar: (a) transmissão direta – que pode ocorrer através das gotículas eliminadas pelas vias áreas superiores, por artigos médico-hospitalares contaminados e pelas mãos dos profissionais de saúde que não foram higienizadas após o contato com material infectante; (b) transmissão aérea – decorrentes de micro-organismos que permaceram depositados em superfícies, ou seja, após sofrerem ressecamento podem voltar a ficar suspensos se atingidos por corrente de ar; (c) transmissão indireta – transmissão por vetores (moscas, baratas e formigas) (ANDRADE; ANGERAMI; PADOVANI, 2000), alimentos, medicamentos, neste tipo de transmissão necessita de uma exposição mais prolongada do agente infeccioso às condições do meio ambiente. O local de colonização de micro-organismos em um paciente é denominado sítio de infecção (ASH ;FOLEY; PENNISI, UJVARI, 2008). De acordo com o National Nosocomial Infections Surveillance System NNISS e Dohmen et al. (2009), os dez patógenos hospitalares mais isolados dos principais sítios de infecção são: Escherichia coli, Enterococcus sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativo, Enterobacter sp, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Proteus mirabilis, Streptococcus sp. 25 3.10 Tratamento com antimicrobianos A tarefa de escolha do antimicrobiano apropriado para uso clínico torna-se cada vez mais complexa (COOKE, 2007; WISE, 2007). De um lado, há um aumento progressivo e rápido do número de antimicrobianos novos e de novas formas farmacêuticas (genéricos e similares) destes produtos (FLEMING, 2007); por outro lado, a sensibilidade de alguns agentes infectantes e a etiologia de infecções em determinados órgãos, com o uso progressivo e continuado desses agentes, têm mudado (FINCH, 2007; ROSSI; ANDREAZZI, 2005). Para a seleção adequada de um antimicrobiano é necessário que se tenha conhecimento de uma série de fatores relativos aos agentes infectantes, à natureza da infecção detectada e às características do hospedeiro que receberá a antibioticoterapia (COOKE, 2007; ABRANTES et al., 2008). O mecanismo de ação de um antimicrobiano está fundamentada na farmacocinética e farmacodinâmica do fármaco (SANTOS FILHO;KUTI; NICOLAU 2007) e são frequentemente classificados, em primeiro lugar, de acordo com o tipo do patógeno a ser destruído: agentes antibacterianos, antifúngicos e antivirais e, em segundo, são subdivididos pelas famílias químicas em classes de drogas de acordo com seu mecanismo de ação (CRAIG; STITZEL, 2005). Uma droga antimicrobiana deve apresentar toxicidade seletiva contra os patógenos e, ao mesmo tempo, farmacocinética favorável (CASTRO, 2005). A farmacocinética refere-se aos processos de absorção, distribuição, metabolismo (biotransformação) e eliminação de uma droga, ou seja, analisa o comportamento do organismo em relação às drogas (PAGE et al., 2004). A partir do conhecimento dos parâmetros da farmacocinética é possível estabelecer um perfil de cada droga visando melhorar a farmacoterapêutica e, ao mesmo tempo, reduzir a probabilidade de desenvolver efeitos tóxicos potenciais (BRATZLER; HOUCK, 2004). Baseados nos parâmetros de farmacocinética: biodisponibilidade, meia-vida plasmática, concentração plasmática, depuração e com o conhecimento das características microbianas em relação à droga, é possível adequar a melhor posologia, a melhor via de administração e o intervalo entre as doses (MOISE et al., 2000; MCKINNON; DAVIS, 2004). 26 A biodisponibilidade indica a quantidade da droga que atinge a circulação geral, em forma inalterada, após sua administração, ou seja, é a quantidade da droga disponível para ser utilizada pelo organismo (SILVA, 2006). A meia-vida plasmática se refere ao tempo em que determinada concentração da droga leva para reduzir-se à sua metade, sendo um dos índices básicos da farmacocinética, originando dados importantes para a interpretação dos efeitos terapêuticos ou tóxicos das drogas, da duração do efeito farmacológico e do regime posológico adequado (TRIPATHI, 2006). O passo imediato de interesse clínico consiste em averiguar se a concentração plasmática da droga se encontra em nível terapêutico, subterapêutico ou excessivamente elevado ou tóxico (ABRANTES et al., 2008). O esquema posológico adequado manterá a concentração plasmática da droga em níveis terapêuticos desejados e constantes (CASTRO, 2005). Assim, em um tratamento com drogas antimicrobianas torna-se imprescindível o conhecimento da concentração plasmática indicada pela terapêutica (BENJAMIN, 2003) sendo o ajuste posológico estabelecido de dois modos: com uma dose inicial, de ataque, seguida por doses de manutenção ou com uma série de doses repetidas até que, após quatro a seis meias-vidas da droga, atinja-se a concentração sanguínea máxima constante média da droga (PAGE, 2004; MINNEMAN; WEVKER, 2006). Paralelamente à determinação da posologia, são avaliados os locais de ação da droga, o mecanismo de ação, a relação entre a concentração da droga e magnitude do efeito e a variação das respostas às drogas (TRIPATHI, 2006) através da farmacodinâmica que representa a resposta da ação da droga no organismo (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2007). Na farmacodinâmica, os efeitos farmacológicos para serem produzidos necessitam que haja ligação das moléculas das drogas a determinados componentes das células e tecidos. (PAGE et al., 2004). Esses locais de ligação das drogas são principalmente de natureza proteica e representados especialmente por receptores, enzimas, moléculas transportadoras e canais iônicos (SILVA, 2006). Geralmente, a droga pode afetar outros alvos celulares e teciduais, além do alvo principal, e provocar efeitos colaterais (NICOLINI et al., 2008). Na terapia antimicrobiana, o alvo farmacológico não é a célula humana normal, porém o patógeno (MINNEMAN; WECKER, 2006). Portanto, o antimicrobiano ideal possui toxicidade seletiva interferindo com uma função vital do 27 patógeno sem comprometer as células do hospedeiro (TAVARES, 2001; OLIVEIRA, 2005; CRAIG; STITZEL, 2005). A assistência farmacêutica na análise da farmacocinética e da farmacodinâmica das drogas antimicrobianas prescritas aos pacientes, estabelecerá um sistema seguro, efetivo e que beneficiará a farmacoterapia, com o objetivo de obter resultados terapêuticos efetivos, avaliando-se riscos-benefícios proporcionando uma melhor qualidade no esquema posológico do paciente (NICOLINI et al., 2008). 3.11 Principais mecanismos de ação dos antibióticos Os mecanismos de ação dos antibióticos com as células bacterianas podem ocorrer no nível da estrutura e biossíntese da parede celular, na estrutura e funções da membrana citoplasmática, na síntese de proteínas e na síntese de ácidos nucléicos (TRABULSI, 2008). Os antibióticos que possuem efeitos sobre a síntese da parede celular bacteriana são os beta-lactâmicos (por exemplo, penicilinas e cefalosporinas), os carbapenêmicos (por exemplo, imipenem, meropenem) e os glicopeptídeos (por exemplo, vancomicina) (GOLAN et al., 2009). A união dos precursores durante a síntese da parede celular é uma reação catalisada por enzimas específicas, chamadas de proteínas ligadoras da penicilina (penicillim binding proteins - PBP), que são o alvo dos antibióticos beta-lactâmicos (RICHTMANN, 2005). Os carbapenêmicos possuem o anel beta-lactâmico bastante estável capaz de inibir as beta-lactamases sintetizadas pelas bactérias (ROSSI; ANDREAZZI, 2005). Os glicopeptídeos impedem a ligação de subunidades na adição de novas moléculas na parede celular (GOLAN et al., 2009).. As polimixinas possuem efeitos sobre a estrutura e função da membrana celular por lise de lipoproteínas (PELCZAR et al., 1997; TRABULSI, 2008). Antibacterianos que atuam no nível dos ribossomos fixando-se nas subunidades 30S ou 50S inibem a síntese de proteínas. Estes antibióticos são 28 aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, eritromicina, lincomicina e clindamicina (MIMMS et al., 2005) As drogas que inibem a síntese do ácido nucléico por ligação ao RNA polimerase ou por inibição do DNA-girase são o metronidazol, as quinolonas e as rifampicinas. A interferência na síntese do DNA também pode ocorrer com a inibição da biossíntese do ácido fólico por causa do mecanismo de ação dos antibióticos sulfonamidas (ROSSI; ANDREAZZI, 2005). 3.12 Resistência bacteriana aos antibióticos A capacidade de adquirir resistência, bem como o grau de resistência adquirida, é uma propriedade variável entre as bactérias (MENDES et al., 2004; GOLAN, 2009). As bactérias seguem as regras da evolução das espécies. Ao longo do tempo, foram se modificando para se adaptar às mudanças do ambiente e resistir às investidas de seus agressores (PAPADOPOULOS, 1999; ROSENBERG, 2001; BJEDOV et al, 2003; ABRANTES et al., 2008). A ação de medicamentos cada vez mais potentes induz alterações na estrutura do DNA das bactérias, que resulta em mutações genéticas (PRIETO; CALVO.; GOMEZ-LUS , 2002). O uso indiscriminado de antibióticos, sem uma cuidadosa avaliação das suas indicações terapêuticas, pode levar ao surgimento de cepas resistentes (CASTRO et al., 2002; BRICKS, 2003). As bactérias resistentes são as que crescem in vitro, nas concentrações que os antibióticos atingem o sangue quando administrados nas recomendações de uso clínico (AZEVEDO, 2005). A resistência pode ser natural ou adquirida. Na primeira, ocorre constantemente em uma determinada espécie de bactéria com relação a um dado antibiótico, sendo transmitida geneticamente para células-filhas (COHEN; TARTASKY, 1997). A resistência natural pode ocorrer pela ausência do sítio de ação do antibiótico na bactéria ou pela presença de barreiras naturais que impedem que o antibiótico atinja o sítio de ação. Na resistência adquirida, uma espécie bacteriana primitivamente sensível torna-se resistente como decorrência de uma alteração genética (TRABULSI, 2008). 29 Os mecanismos de resistência bacteriana dependem de fatores que podem ou não ser inter-relacionados (FERNANDES; FERNADES; RIBEIRO, 2000). Os fatores mais descritos são: (a) inativação enzimática – espécies de bactérias que produzem enzimas que neutralizam o antibiótico ou seus efeitos (MURRAY et al., 2006); (b) alteração da permeabilidade da membrana celular modificando a penetração e, consequentemente, a ação dos antibióticos (FURUYA; LOWY, 2003); (c) alteração do sítio de ligação do antibiótico – para a atividade dos antibióticos estes ligam-se a sítios específicos na célula bacteriana, se esse sitio sofrer alteração, o antibiótico não poderá efetivar a ligação tornando-se ineficiente contra a bactéria (KANG et al., 2005); (d) expulsão do antibiótico para fora da célula – é uma propriedade adquirida das bactérias resultando numa concentração inadequada da droga denominada bomba de efluxo (ROSSI; ANDREAZZI, 2005). A prescrição de antibióticos nas unidades hospitalares obedece às normas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar baseadas em protocolos científicos (LACERDA; EGRY, 1997). O antibiótico deve possuir mínima toxicidade e menor custo, ser fraco indutor de resistência e apresentar farmacocinética adequada ao tratamento (SANTOS FILHO et al, 2007), além de possuir atividade contra a maior parte de bactérias causadoras de infecção na instituição hospitalar (COOKE, 2007). 3.13 Infecção no sítio cirúrgico em cirurgias cardíacas Dentre os procedimentos hospitalares, a cirurgia é o fator que mais contribui para o risco de uma infecção hospitalar (GELAPE, 2007), com a incisão cirúrgica, a barreira epitelial de defesa contra os micro-organismos é rompida (GRINBAUM, 1997), desencadeando uma série de reações sistêmicas, que facilitam a ocorrência de um processo infeccioso (GUYTON; HALL, 2006). Quando a incisão cirúrgica apresenta uma infecção, é denominada infecção do sítio cirúrgico (ISC). A infecção do sítio cirúrgico é o processo pelo qual o micro-organismo penetra, se estabelece e se multiplica na incisão operatória (GELAPE, 2007). A maioria das infecções do sítio cirúrgico ocorre em média, dentro de quatro a seis dias após o procedimento (MANGRAM et al., 1999; OLIVEIRA et al.,2002; 30 AZEVEDO, 2005). As infecções após 14º. dia de pós- operatório são raras, porém, há casos que ocorrem após meses e até um ano (MANGRAM et al., 1999: GELAPE, 2007). Clinicamente, o sítio cirúrgico é considerado infectado quando existe presença de drenagem purulenta pela cicatriz podendo estar associado com dor, eritema, calor, rubor, deiscência, abscesso e febre (OLIVEIRA, 2005; GELAPE, 2007; GAGLIARDI et al., 2009). Por outro lado, a febre, quando ocorre no pósoperatório, nem sempre decorre de quadro infeccioso, podendo ser atribuída aos próprios fenômenos relacionados aos procedimentos cirúrgicos, portanto, deverá ser avaliada em conjunto com os demais sinais (ABBOUD, 2001). O tratamento da infecção de ferida com presença de exsudação consiste na abertura da incisão cirúrgica e drenagem de secreções (GRINBAUM, 1997; GELAPE, 2007). São procedimentos importantes a retirada manual dos tecidos necrosados, fios cirúrgicos, hematomas e coágulos (RIDDERSTOLPE et al., 2001). O surgimento de infecção pós-operatória no sítio cirúrgico de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca é uma das complicações cirúrgicas mais freqüentes que os pacientes podem sofrer, dificultando a continuidade do tratamento cardiológico (GRINBAUM, 1997; ABBOUD et al., 2004), pois representa um desafio por apresentar uma alta taxa de morbidade e mortalidade, resultando em um aumento de gastos médico-hospitalares (LISSOVOY et al., 2009). A ferida mais comum é a esternal, que pode variar de infecção superficial, somente a pele e tecido subcutâneo são afetadas (GUARAGNA et al., 2004; DOHMEN et al., 2009), a uma infecção com maior profundidade, como osteomielite esternal (JONKERS et al., 2003) e, no pior dos casos, septicemia (FILGUEIRAS et al., 1997; FERNANDES; FERNANDES; RIBEIRO,2000; LEPELLETIER et al., 2009). Existem alguns fatores de risco pré-operatórios que podem aumentar a possibilidade do estabelecimento do processo infeccioso (ABBOUD et al., 2004). Tais fatores podem ser: idade, sexo, obesidade, diabetes mellitus (ZERR et al., 1997), etilismo (RANTALA; LEHTONEN; NIINIKOSKI, 1997), hipertensão arterial, hiperlipidemia, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica, desnutrição, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio e, quando houve, cirurgias cardíacas anteriores (DOHMEN et al., 2009). Os esforços para reduzir a taxa de infecção no sítio cirúrgico em cirurgias 31 cardíacas têm procurado tratar os fatores de risco antes do procedimento cirúrgico (RIDDERSTOLPE et al., 2001) e adotar procedimentos preventivos, centrados na redução da contaminação bacteriana do sítio cirúrgico, administrando antibióticos profiláticos adequados (COOKE, 2007). Outro procedimento preventivo é a limpeza do local da cirurgia na pele do paciente com uma solução anti-séptica antes da cirurgia (MOLINA, 2004) que é reconhecida como procedimento padrão, mas, enquanto esta reduz substancialmente a microbiota da pele, aproximadamente 20% permanecem enterradas nas profundezas dos folículos pilosos e glândulas sudoríparas, e persistem após a limpeza. Assim, a completa esterilização da pele não é possível (DOHMEN et al., 2009) Outras medidas adotadas são as realizações de desinfecção de pisos e paredes das salas de cirurgia (ABBOUD, 2001; ANTONIALI et al., 2005), a esterilização correta do material cirúrgico, avaliação da circulação laminar do ar ambiente (GELAPE, 2007), restrição do número de profissionais que transitam na sala de cirurgia (LEITE SOBRINHO, 1999; HAMBRAEUS, 2006) e a correta escovação das mãos de toda a equipe envolvida nos procedimentos com o paciente (REITZEL et al., 2009). O uso de antimicrobianos profiláticos em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva tornou-se um consenso (APARECIDA et al., 2002; RICHTMANN, 2005: WEBER et al., 2008), com o objetivo de diminuir os riscos de uma infecção no sítio cirúrgico destes pacientes (DOHMEN, 2008). Com a indicação de antibióticos profiláticos pretende-se que a ferida cirúrgica pós-operatória permaneça classificada como limpa (WILSON, 2008), ou seja, isenta de micro-organismo favorecendo a recuperação clínica do paciente num menor período de internação e com diminuição de custos para o hospital (LISSOVOY et al., 2009). A assistência farmacêutica no controle da dispensação dos antibióticos contribui na prevenção de infecções hospitalares (IBRAHIM; GUNDERSON.; ROTSCHAFER, 2001; APARECIDA et al., 2002; KATAYAMA, 2007) porque, embora as taxas de infecção do sítio cirúrgico terem diminuído com o uso profilático de antibióticos, a inadequação do antibioticoprofilaxia cirúrgica ainda é um problema (WEBER et al., 2008) havendo a necessidade da implantação de uma rotina e protocolo (GAGLIARDI et al., 2009) que enfatiza a contribuição do farmacêutico (RIBEIRO; TAKAGI, 2008). 32 4 METODOLOGIA Este estudo incluiu pacientes que realizaram cirurgia cardíaca eletiva no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2008 pela equipe de cirurgia cardíaca do Hospital Pio XII, referência em cirurgias de alta complexidade na cidade de São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Foram avaliados 3447 pacientes com idade superior a 18 anos e com cirurgia cardíaca eletiva, sendo que 1611 pacientes realizaram cirurgias cardíacas eletivas no período de janeiro de 2002 a maio de 2005, período em que não havia sido estabelecida a assistência farmacêutica, os protocolos específicos com as indicações de uma profilaxia antibiótica e a avaliação com o tratamento de possíveis fatores de risco. A partir de junho de 2005 a dezembro de 2008 a metodologia utilizada foi a identificação dos 1836 pacientes desde a data de internação, pré- e pós-operatório para o acompanhamento da prescrição da profilaxia antibiótica padronizada no hospital, por 48 h contados a partir da primeira dose administrada no centro cirúrgico. Vários fatores de risco foram avaliados e identificados como: obesidade, tempo de permanência hospitalar prolongado, diabetes mellitus, tabagismo, etilismo, reoperações, condições dentárias, limpeza e higienização do ambiente e qualidade de esterilização dos materiais cirúrgicos. Os pacientes que apresentavam algum fator de risco predispondo a infecção no sítio cirúrgico pós-operatório, foram avaliados quanto aos outros medicamentos prescritos, a fim de prevenir complicações clínicas. A rotina contemplou a avaliação e o uso racional de antibióticos nos casos de infecção hospitalar. Estes foram avaliados de acordo com o antibiograma (resultados de hemoculturas positivas) e nos casos de tratamentos empíricos (aguardando os resultados das culturas). Os casos diagnosticados como infecções hospitalares foram notificados pela comissão de controle de infecção hospitalar e acompanhados a evolução clínica. Os casos diagnosticados envolveram os pacientes que já haviam tido alta hospitalar após a cirurgia cardíaca eletiva, mas apresentaram a infecção e foram re-internados para tratamento e os pacientes que não chegaram a receber a alta hospitalar após a cirurgia eletiva, porém apresentaram os sinais de infecção mesmo após a profilaxia antibiótica. 33 Os pacientes que foram analisados neste estudo, tiveram sangue coletado para realização de culturas para identificação do possível patógeno infeccioso, tiveram seus resultados acompanhados pela farmacêutica que avaliou o tratamento antimicrobiano dispensado com o patógeno identificado. Em casos de contraindicação do medicamento em relação ao micro-organismo, foi solicitado avaliação pelo médico infectologista. Todos os dados obtidos foram registrados em fichas individuais por pacientes e, posteriormente, em livros atas para arquivo, caso houvesse necessidade de uma busca ativa de dados em internações posteriores, além disso, os dados foram disponibilizados em um software de logística do hospital. Os dados estatísticos foram obtidos a partir dos pacientes avaliados até o momento da alta hospitalar, e de pacientes que retornaram ao hospital apresentando sinais de possível infecção no sítio cirúrgico. O período em número de dias em que os pacientes permaneceram hospitalizados sob regime de internação também foi avaliado neste estudo. 34 5 RESULTADOS E DISCUSSÃO A cirurgia cardíaca está dentre as consideradas de alta complexidade, extremamente invasiva e envolve pacientes particularmente suscetíveis à infecção por causa dos próprios fatores predisponentes da doença cardíaca (BORGES, 2005). Com a finalidade de se reduzir a taxa de infecção hospitalar nos sítios cirúrgicos de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, foram desenvolvidos os seguintes protocolos no Hospital Pio XII: (1) avaliação dos fatores de risco e seu tratamento, (2) antibiótico profilaxia no ato da anestesia, e (3) cuidados com o sítio cirúrgico. Neste estudo foram coletados dados de cirurgias cardíacas eletivas no período de 2002 a 2008, totalizando 3447 cirurgias, somente em pacientes adultos, sendo 1611 pacientes analisados antes da implantação dos protocolos e, 1836 pacientes após a implantação dos protocolos. Nota-se que durante o período estudado não houve variação significativa do número de cirurgias por ano (Figura 1a). Os protocolos desenvolvidos pelo Hospital Pio XII permitiram uma redução da média de infecção nos sítios cirúrgicos dos pacientes submetidos às cirurgias cardíacas. No ano de 2007 a média de infecção obtida foi de 2,25 e em 2008 foi 0,92, o que representou uma diminuição de aproximadamente 60% (Figura 1b). Notou-se também que o número de dias que os pacientes permaneceram internados após a realização da cirurgia cardíaca foi reduzido por causa da diminuição da infecção hospitalar. Antes da implantação dos protocolos e da assistência farmacêutica, a média de dias de internação eram de 46 dias, reduzindo para uma média de 21 dias em 2008 representando cerca de 54% na diminuição da média de dias de internação (Figura 1c e Figura 3). A implantação dos protocolos em conjunto com a assistência farmacêutica foi iniciada em junho de 2005, quando se verificou uma expressiva redução da média de infecção e permanecendo em redução até os últimos dados obtidos em 2008 (Figura 2). Os únicos meses que apresentaram uma elevação na média de infecção hospitalar similar ao período anterior da implantação dos protocolos e da assistência farmacêutica foram em março de 2006 e fevereiro de 2007 que foram os meses que houve a ausência da farmacêutica (Figura 2). 35 Figura 1. (a) Média do número de cirurgias cardíacas eletivas no período de 2002 a 2008. (b) Média de infecção de sítios cirúrgicos de cirurgias cardíacas eletivas no período de 2002 a 2008. (c) Média de internação em dias dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva no período de 2002 a 2008. 36 Figura 2. Gráfico da média de infecção do sítio cirúrgico por número de cirurgia de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca eletiva no período de 2002 a 2008. 37 Figura 3. Gráfico da média do número de dias de internação hospitalar de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008. 38 Para uma adequada interpretação dos resultados os dados foram avaliados pelo software estatístico MINITAB e pelo Teste de Análise de Variância (ANOVA). Primeiramente, os dados passaram pelo teste de normalidade onde foram avaliados a média, desvio padrão, número da amostra e o erro padrão da média (desvio padrão da média amostral). O fato dos dados passarem pelo teste de normalidade é para que seja possível realizar a maioria das técnicas de inferência estatística conhecidas, como por exemplo, a análise de variância ANOVA. Para testar a normalidade os testes utilizados foram: Kolmogorov-Smirnov (KS) e valor-P. O nível de significância associado ao teste de KS foi superior a 0,05 não se rejeitando a hipótese de normalidade das distribuições de onde foram retiradas as amostras e o valor-P (nível crítico amostral) revelou valores menores que 0,10 (CALLEGARIJACQUES, 2003). Após o teste de normalidade os dados passaram pelo Teste de Comparações Múltiplas de Tukey-Kramer que visou identificar quais as médias que, tomadas duas a duas, diferem significativamente entre si (Tabelas 1 e 2). Para a média de infecções nos sítios cirúrgicos, os valores de P < 0,05 representam dados significativos ao nível de significância de 0,05, demonstrando que houve alterações das médias obtidas anteriormente, ou seja, houve diminuição do número de infecção do sítio cirúrgico dos pacientes deste estudo. Ressalta-se que o número de amostra relativo à média de infecção foi pequeno neste teste, onde o valor de n mais alto foi de 7,54, ou seja, nesta variável a maior média de infecção no sítio cirúrgico obtido foi de 7,54 em um determinado mês onde, provavelmente, apresentaram uma distribuição de normalidade apenas aproximada, caracterizando a maioria dos dados como não significativos (Tabela 1). Para os valores da média de internação, os valores de P demonstraram resultados altamente significativos na análise do período de internação dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, com a implantação dos novos protocolos de controle de infecção hospitalar. Notou-se que no teste de paridade dos anos de 2006 com 2008 e 2007 com 2008 os valores passaram a ser não significativos demonstrando que o problema da média elevada do número de internação estava resolvido (Tabela 2). A análise estatística ANOVA indicou que houve diferença significativa entre as médias anuais ao nível de significância de 0,05. 39 Tabela 1. Teste de Análise de Variância (ANOVA) para a média de infecções nos sítios cirúrgicos. Ano 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ns ns ns ns ns * ns ns ns ns ns ns ns ns ** ns ns * ns ns 2003 ns 2004 ns ns 2005 ns ns ns 2006 ns ns ns ns 2007 ns ns ns ns ns 2008 ns ns ns ns ns ns ns ns: valores não significativos – P > 0,05 *: valores significativos – P < 0,05 **: altamente significativos – P < 0,01 Nota: Resultados do método de Tukey-Kramer para significância estatística para amostras de média de infecções nos sítios cirúrgicos. As células em destaque representam os anos da implantação dos protocolos de controle de infecção hospitalar em cirurgias cardíacas eletivas. Tabela 2. Teste de Análise de Variância (ANOVA) para a média do período de internação. Ano 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ns ns ns ** *** *** ns ** *** *** *** ns ** *** *** ns ns ** ns ns 2003 ns 2004 ns ns 2005 ns ns ns 2006 ns ns ns ns 2007 ns ns ns ns ns 2008 ns ns ns ns ns ns ns ns: valores não significativos - P > 0,05 **: valores altamente significativos - P < 0,01 ***: extremamente significativos - P < 0,001 Nota: Resultados do método de Tukey-Kramer para significância estatística para amostras de média de internação (dias). As células em destaque representam os anos da implantação dos protocolos de controle de infecção hospitalar em cirurgias cardíacas eletivas. Possivelmente, as infecções foram reduzidas por causa do pré-diagnóstico e tratamento, anteriormente a cirurgia, de doenças como: a hipertensão arterial 40 sistêmica, a cardiopatia isquêmica, o diabetes mellitus (ZERR et al., 1997; LEPELLETIER et al., 2009), obesidade, neoplasias e diversas infecções de sítios distantes, como por exemplo, complicações dentárias (DEPPE et al., 2007; OWENS; STOESSEL, 2008). A duração do tempo da cirurgia que normalmente é maior que duas horas (LEITE SOBRINHO, 1987; GELAPE, 2007) e o tempo de internação pré-operatório – principalmente se o paciente estiver em Unidade de Terapia Intensiva, também são fatores que podem estar associadas à infecção hospitalar (ABBOUD; WEY;BALTAR, 2004). A internação pré-operatória prolongada favorece a substituição da flora endógena do paciente, aumentando o risco de aquisição de microrganismos multiresistentes (ABBOUD, 2001; FERNANDEZ-AYALA et al., 2008). Como observado por outros autores, (FERNANDEZ-AYALA et al., 2008; WEBER et al., 2008; LEPELLETIER et al., 2009), a morbidade, a mortalidade e os custos hospitalares aumentam por causa da infecção hospitalar. A redução da média de infecção do sítio cirúrgico por número de cirurgias realizadas promoveu uma redução da média do tempo de internação (Tabela 3). Até o ano de 2005 foi realizada uma média de 476 cirurgias por ano e posteriormente, esta média foi para 514 cirurgias por ano, ou seja, mesmo tento ocorrido um aumento de aproximadamente 11% na média de cirurgia por ano, os resultados demonstraram redução nas médias de infecção e no período de internação. Tabela 3. Relação da média de infecção por número de cirurgias com a média de internação em dias de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008. Ano Média de infecção/Nº. de cirurgias cardíacas Média de internação (dias) 2002 6,58 44,3 2003 6,30 57,0 2004 7,54 43,31 2005 7,33 34,8 2006 6,99 28,85 2007 4,55 26,98 2008 2,16 21,05 A infecção hospitalar está associada com um gasto econômico significativo nos termos de permanência prolongada de internação hospitalar 41 e de custos de tratamentos aumentados (LISSOVOY, et al 2009). Na instituição onde foi realizado este estudo, o custo por dia de internação de pacientes com infecção no sitio cirúrgico cardíaco equivale a 2,5 mil reais e pode custar até 20 mil reais em casos de septicemia (HOSPITAL PIO XII, 2008). Verificou-se que os custos hospitalares foram significativamente reduzidos a partir de 2005 (Figura 4). Avaliando-se os dados nota-se que a eficácia das ações de controle nas infecções reduziu os gastos em cerca de 50%, o que significa uma redução no consumo mensal de antimicrobianos, principalmente antibióticos de última geração, como também verificado por Gagliardi et al.(2009). De acordo com o estudo realizado por Borges, F.M. (2005), a média do tempo de hospitalização extra dos pacientes com infecção do sítio cirúrgico após cirurgia cardíaca foi de aproximadamente 29 dias, que comparados com os dados deste estudo, identifica uma redução a partir de 2006, mostrando a importância das mudanças instituídas desde junho de 2005 (Figura 3) com a adoção dos protocolos que permitiu identificar os principais fatores de risco de uma infecção, juntamente com a monitorização de procedimentos invasivos e o uso racional de antimicrobianos. 42 Figura 4. Gráfico comparativo de custos (valores em Reais) de pacientes internados com infecção hospitalar e sem infecção hospitalar de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca durante o período de 2002 a 2008 (Fonte: Hospital Pio XII). As bactérias mais prevalentes identificadas neste estudo foram Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli (Figura 5), que também são mencionados por outros autores como prevalentes nestes tipos de infecções (GELAPE, 2007; DOHMEN et al., 2009; REITZEL et al., 2009). Em consequência do fato da pele estar muitas vezes envolvida na origem deste tipo de infecção, os estafilococos são os micro-organismos mais freqüentes e esperados neste tipo de infecção (GUARAGNA et al., 2004; DOHMEN et al., 2009). Figura 5. Gráfico de micro-organismos isolados em hemoculturas de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca notificados com infecção hospitalar (Fonte: Hospital Pio XII). Baseado na frequência da microbiota dos quadros de infecção, foi 43 padronizado um tratamento empírico, desenvolvido pelo Hospital Pio XII, durante este estudo, Foi (principalmente, utilizado vancomicina Staphylococcus sp) contra associado bactérias aos Gram-positivas antibióticos da classe aminoglicosídeos (indicado para bacilos Gram-negativos aeróbios, por exemplo: Serratia sp, Proteus sp, Pseudomonas sp, Klebsiella sp, Enterobacter sp, Escherichia coli, Acinetobacter sp) ou cefalosporinas de terceira geração (expandem o espectro contra os Gram-positivos, exceto Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina e Enterococcus sp e com atividade contra Gram-negativos aeróbios). A administração de antimicrobianos está associado ao tratamento das infecções dos sítios cirúrgicos conforme descrito por Castro et al., (2002), Furuya e Lowy, (2003) e Dohmen (2008). O uso de antibiótico empírico será alterado imediatamente após os resultados positivos de culturas das amostras coletadas do paciente, seguindo-se o antibiograma, com o objetivo de não causar alterações no perfil de sensibilidade dos micro-organismos prevenindo possíveis resistências (APARECIDA et al., 2002; KATAYAMA, 2007). Atualmente, os micro-organismos isolados de pacientes hospitalizados que apresentaram cepas resistentes são: (a) Staphylococcus aureus resistentes às penicilinas (por extensão, à ampicilina e amoxicilina) e à meticilina, chamados Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) e, portanto, também à oxacilina e cefalosporinas, neste caso chamados de Staphylococcus aureus oxacilina resistente (ORSA) (TAVARES, 2000; LICHTENFELS et al., 2008); (b) Staphylococcus aureus resistentes às fluoroquinolonas e à oxacilina (KAATZ; SEO, 1997;); (c) Enterococcus spp resistentes à vancomicina (INCECIK et al., 2009), à gentamicina (SADER et al., 1999), à teicoplanina (MALABARBA; CIABATTI, 2001); (d) Staphylococcus epidermidis resistentes à penicilina G, ampicilina e amoxicilina (TAVARES, 2000); (e) Pseudomonas aeruginosa apresentando altas taxas de resistência. meropenem, Os antibióticos podendo mais responder indicados somente são: ao piperacilina-tazobactam tratamento com e polimixinas (TRABULSI, 2008). No Brasil, o último dado nacional sobre a questão das infecções hospitalares realizado pelo Ministério da Saúde é do ano de 1994, onde os resultados apontaram uma incidência média de infecção hospitalar de 13,1%, sendo que o máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde é de 5% (PRADE et al., 1995). 44 6 CONCLUSÕES De acordo com a implantação de uma rotina no ano de 2005 para controle do uso de antimicrobianos, avaliação dos procedimentos invasivos e das feridas cirúrgicas foi concluído que: • A média de cirurgias cardíacas eletivas não variou durante o período avaliado. • A média de infecção no sítio cirúrgico reduziu principalmente nos dois últimos anos do estudo (2007 e 2008). • Verificou-se redução na média de infecção no sítio cirúrgico imediatamente após o início da aplicação dos protocolos de uso racional de antimicrobianos e da avaliação dos fatores de risco em associação com a assistência farmacêutica. • A média do número de dias de internação dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca reduziu de uma média de 46 dias, obtidos antes da implantação dos protocolos e da assistência farmacêutica, para uma média de 21 dias (aproximadamente, 54% de redução) • Os micro-organismos mais prevalecentes nas hemoculturas positivas de pacientes com infecção do sitio cirúrgico cardíaco foram Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Este estudo não permitiu uma análise mais detalhada de alguns aspectos importantes, como a percentagem no número de óbitos de pacientes com infecção do sítio cirúrgico, não sendo possível identificar qual medida teve maior impacto sobre a redução nas taxas de infecção. No entanto, é possível concluir que para este grupo de pacientes, as mudanças nas medidas preventivas e na forma de tratamento resultaram em um número menor de infecções hospitalares e uma redução no número de dias de internação extras, refletindo diretamente na redução dos custos destes tratamentos e, principalmente, na melhora da qualidade de vida destes pacientes. A assistência farmacêutica compõe a prática da farmacologia clínica e para sua aplicação devem-se estabelecer rotinas e protocolos que permitam a busca ativa de dados e o acompanhamento destes tendo como foco o paciente. 45 REFERÊNCIAS ABBOUD, C. Infecção em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Rev. soc. cardiol., v. 11, n.5, p.915-921, 2001. ABBOUD, C. S.; WEY, S. B.; BALTAR, V. T. Risk factors for mediastinitis after cardiac surgery. Ann. thorac. surg., v. 77,n. 2, p.676-683, 2004. ABRANTES, P. M et al. A qualidade da prescrição de antimicrobianos em ambulatórios públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, MG. Ciênc. saúde coletiva., v.13, suppl., p. 711-720, 2008. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Intensificando o controle de infecção em serviços de saúde. Revista Saúde Pública., v.38, n.3, p.475-478, 2004. AMERICAN SOCIETY OF HEALTH-SYSTEMS PHARMACISTS (ASHP). Statement on the pharmacist’s role in infection control. Am. J. health-syst pharm., v. 55, n.16, p.1724-1726, 1998. ANDRADE, D.; ANGERAMI, E. L. S.; PADOVANI, C. R. Microbiological condition of hospital beds before and after terminal cleaning. Revista. Saúde Pública., v.34, n.2, p.163-169, 2000. ANTONIALI, F. et al . O impacto de mudanças nas medidas de prevenção e no tratamento de infecções incisionais em cirurgia de revascularização do miocárdio. Braz j. cardiovasc. surg. v.20, n.4, p.382-391, 2005. APARECIDA, M. et al. The implementation of a surgical antibiotic prophylaxis program: The pivotal contribution of the hospital pharmacy. AM. j. Infection Control., v.30, n.3, p.49-56,2002. ASH, C.; FOLEY, J.; PENNISI, E. Lost in microbial space. Microbial Ecology., v.320, n.5879, p.1027, 2008. AZEVEDO, F. M. Microrganismos multirresistentes. In: OLIVEIRA, A, C. Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. p. 341-347. BENJAMIN, D. M. Reducing medication errors and increasing patient safety: case studies in clinical pharmacology. J. clin. pharmacol., v.43, n.11, p.768-783, 2003. 46 BJEDOV, I. et al. Stress-Induced Mutagenesis in Bacteria. Science Magazine., v.300, n.5624, p.1404-1409, 2003. BORGES FILHO, W. M.; FERRACINI, F. T. Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 287 p. BORGES, F. M. Análise do custo da infecção do sítio cirúrgico após cirurgia cardíaca. 2005.106p. Tese (Doutorado) Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Curso de Cirurgia Cardíaca, São Paulo, 2005. BRATZLER, D.; HOUCK, P. The Surgical Infection Prevention Guidelines Writers Workgroup. Antimicrobial prophylaxis for surgery: An Advisory Statement from the National Surgical Infection Prevention Project. Clin. infect. dis., v.38, n.9, p. 17061715, 2004 BRICKS, L. F. Uso judicioso de medicamentos em crianças. J. pediatr., v.79, n.3, p.107-114, 2003. BRUNTON, L.; LAZO, J.; PARKER, K. Goodman & Gilman As Bases Farmacologicas da Terapêutica. 11 ed. Rio de Janeiro: MCGRAW-HILL, 2007. 1848 p. CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. São Paulo: Artmed, 2003. 264 p. CASTRO, M. S. Princípios farmacocinéticos e farmacodinâmicos em antibioticoterapia. In: OLIVEIRA, A.C. Infecções hospitalares epidemiologia prevenção e controle. Rio de Janeiro: Medsi, 2005. p.357-367. CASTRO, M. S. et al. Tendências na utilização de antimicrobianos em um hospital universitário. Revista Saúde Pública, v.36, n.3, p.553-558, 2002. CAVALINI, M. E.; BISSON, M. P. Farmácia Hospitalar: Um enfoque em sistemas de saúde. 1. ed. , São Paulo: Manole, 2002. 220 p. CIMINO, J. S. Iniciação a Farmácia Hospitalar. São Paulo: Artpress, 1973. 112p. CIPRIANO, S. L. Proposta de um conjunto de indicadores para utilização na Farmácia Hospitalar com foco na Acreditação Hospitalar, 2004. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 47 COHEN, F. L.; TARTASKY, D. Microbial resistance to drug therapy: a review. Am. j. infect. control., v.25, n.1, p. 51-64, 1997. COOKE, J. Report of the prescribing subgroup of the Specialist Advisory Committee on Antimicrobial Resistance. J. antimicrob. chemother., v. 60, n.1, p.9-13, 2007. CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 832 p. DEPPE, H. et al. Need for dental treatment following cardiac valve surgery: a clinical study. Journal Cranio-Maxillofacial Surgery., v.37, p.293-301, 2007. DOHMEN, P.M. Antibiotic resistance in common pathogens reinforces the need to minimize surgical site infections. J. hosp. infect., v.70, supp 2, p.15-20, Nov.2008 DOHMEN, P.M. et al. Reduction in surgical site infection in patients treated with microbial sealant prior to coronary artery bypass graft surgery: a case-control study. J. hosp. infect., v. 72, n.2, p.119-126, Jun. 2009. FALKOWSKI, P. G.; FENCHEL, T.; DELONG, E. F. The microbial engines that drive earth’s biogeochemical cycles. Science Magazine, v.320, n.5879, p.1034-1039, 2008. FERNANDES, A. T.; FERNANDES, M. O. V.; RIBEIRO, N. Infecção Hospitalar e Suas Interfaces na Área Hospitalar. 1. ed. São Paulo; Atheneu, 2000. v.1. 953 p. FERNANDEZ-AYALA, M et al. Surgical site infections in cardiac surgery after a hospital catastrophe. J. hosp. infect., v.70, n.1, p.48-52, 2008. FILGUEIRAS, C. L et al. Cirurgia na endocardite infecciosa. Rev. Brás. Cir. cardiovasc. v.12, n.1, p.10-16, 1997. FINCH, R. Innovation—drugs and diagnostics. J. antimicrob. chemother., v.60, n.1, p.79-82, 2007. FLEMING, D. M. The state of play in the battle against antimicrobial resistance: a general practitioner perspective. J. antimicrob. chemother., v.60, n.1, p.49-52, 2007. 48 FUCHS, F. D.; WANMACHER, L; FERREIRA, M. B. C. Farmacologia Clínica. Fundamentos da terapêutica racional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 1074p. FURUYA, E. Y.; LOWY, F. D. Antimicrobial strategies for the prevention and treatment of cardiovascular infections. Curr. opin. pharmacol., v.3, n.6, p. 464-469, 2003. GAGLIARDI, A. R. et al. Identifying opportunities for quality improvement in surgical site infection prevention. Am. j. Infection control., v.37, n.4, p. 398-402, 2009. GARCIA, E. S. Biodiversity, Biotechnology and Health. Cadernos de Saúde Pública., v.11, n.3, p.495-500, 1995. GEISON, G. A ciência particular de Louis Pasteur. 1. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 455 p. GELAPE, C. L. Infecção do sítio operatório em cirurgia cardíaca. Arq. bras. cardiol., v.89, n. 1, p. 3-9, 2007. GIROU, E et al. Misuse of gloves: the foundation for poor compliance with hand hygiene and potential for micro- bial transmission? J. hosp. infect., v.57, n.2, p.162169, 2004. GOLAN, D. E. et al. Princípios de Farmacologia: A Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 952 p. GOMES, M. J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas: Uma abordagem em Farmácia Hospitalar. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 358 p. GRINBAUM, R. S. Infecções do sítio cirúrgico e antibioticoprofilaxia em cirurgia. In: RODRIGUES, E. A.; MENDONÇA, J. S.; AMARANTE, J. M. B.; ALVES FILHO, M. B.; GRINBAUM, R. S.; RICHTMANN, R. Infecções Hospitalares: prevenção e controle. São Paulo: Sarvier; 1997. p. 149-161. GUARAGNA, J. C. et al.. Preditores de mediastinite em cirurgia cardíaca. Rev. bras. cardiol., v.19, n.2, p.165-170, 2004. GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1115p. 49 HAMBRAEUS, A. Lowbury lecture 2005: infection control from a global perspective. J. hosp. infect., v.64, n.3, p.217-223, 2006. HOTA, B. Contamination, disinfection, and cross-colonization: are hospital surfaces reservoirs for nosocomial infection? Clin. ifect. dis., v.39, n.8, p.1182-1189, 2004 IBRAHIM, K .H.; GUNDERSON, B.; ROTSCHAFER, J. C. Intensive care unit antimicrobial resistance and the role of the pharmacist. Crit. care med., v.29, n.8, p.108-113, 2001. INCECIK, S.; SALTOGLU, N.; YAMAN, A.; KARAYAYLALI, I.; OZALEVLI, M.; GUNDUZ, M.; BURGUT, R. The problem of antimicrobial resistance in nosocomial medical and surgical intensive care units infections in a university hospital: a twoyear prospective study. Turk. j. med. sci., v. 39, n.2, p.295-304, 2009. JONKERS, D.; ELENBAAS, T.; TERPORTEN, P.; NIEMAN, F.; STOBBERINGH, E. Prevalence of 90-days postoperative wound infections after cardiac surgery. Eur. j. cardiothorac. surg., v.23, n.3, p.97-102, 2003. KAATZ, G. W.; SEO, S. M. Mechanisms of fluoroquinolone resistance in genetically related strains of Staphylococcus aureus. Antimicrob. agents chemother., v. 41, n.12, p.2733-2737, 1997. KANG, C. I.; KIM, S. H.; PARK, W. B.; LEE, K. D.; KIM, H. B.; KIM, E. C.; OH, M. D.; CHOE, K. W. Bloodstream infections caused by antibiotic-resistant Gram-negative bacilli: risk factors for mortality and impact of inappropriate initial antimicrobial therapy on outcome. . Antimicrob. agents chemother., v.49, n.2, p.760-766, 2005. KATAYAMA, T. Necessity of pharmacist promotion to contribute for infection control and building patient safety. J. pharma. soc. Japan, v.127, n.11, p.1789-1795, 2007. KAUFMANN, S. H. E.; SHER, A.; AHMED, R. Immunology of Infectious Diseases. Washington, D.C.: ASM Press, 2002. 520p. LACERDA, R. A.; EGRY, E. Y.. As infecções hospitalares e sua relação com o desenvolvimento da assistência hospitalar: reflexões para análise de suas práticas atuais de controle. Rev. Latino-Am. enfermagem, v.5, n.4, p. 13-23, 1997. LEITE SOBRINHO, G. B. Pré-operatório, per-operatório, pós-operatório. In: FONSECA, F. P. Cirurgia Ambulatorial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. p. 5-37. 50 LEPELLETIER, D. et al. Risk factors for mortality in patients with mediastinitis after cardiac surgery. Arq. cardiol. dis., v.102, n.2, p.119-125, 2009. LICHTENFELS, E.; FRANKINI, A. D.; PALUDO, J.; D’AZEVEDO, P. A. Prevalência de resistência bacteriana nas infecções de ferida operatória em cirurgia arterial periférica. J. vasc. brás., v.7, n.3, p. 239-247, 2008. LISBOA, T. C. Breve História dos Hospitais. Notícias Hospitalares, São Paulo, n. 37, p. 5-29, 2002. LISSOVOY, G. et al. Surgical site infection: Incidence and impact on hospital utilization and treatment costs. Am. j. infect. control., v.37, n.5, p.387-397, 2009. LOPES, H. V.; TAVARES, W. Medicina Baseada em Evidencias. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 51, p. 301-312, 2005. MALABARBA, A.; CIABATTI, R. Glycopeptide derivatives. Current Medicinal Chemistry., v.8, n.14, p.1759-1773, 2001. MANGRAM, A. et al. Guideline for prevention of surgical site infection., Infection Control and Hospital Epidemiology., v.20, n.4, p.250-278, 1999. MARTINS, M. A. Manual de Infecção Hospitalar: Epidemiologia, Prevenção e Controle. 2. ed. Belo Horizonte: MEDSI, 2001. 1116 p. MCKINNON, P.; DAVIS, S. Pharmacokinetic and pharmacodynamic issues in the treatment of bacterial infectious diseases. Eur. j. clin. infect .dis., v.23, p. 271-288, 2004. MELO, J. M. S. A medicina e sua história. Rio de Janeiro: Editora de Publicações Científicas,1989. 189 p. MENDES, C. et al. Results of two worldwide surveys into physician awareness and perceptions of extended-spectrum beta-lactamases. Clin. microbial. infect., v.10, n.8, p.760-762, 2004. MENDES, G. B. Rational use of medicines: the pivotal role of the pharmacist. Ciências e saúde coletiva, v.13, suppl., 2008. MIMS, C . et al. Microbiologia Médica. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 728 p. 51 MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). Portaria Nº 2.616, de 12 de maio de 1998. Expede na forma de anexos diretrizes e normas para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Diário Oficial da União jul.1998. MINNEMAN, K. P.; WECKER, L. Brody Farmacologia Humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 744 p. MOISE, P. et al.. Area under the inhibitory curve and a pneumonia scoring system for predicting outcomes of vancomycin therapy for respiratory infections by Staphylococcus aureus. Am. j. health syst. pharm., v. 57, (Suppl 2), p. 4-9, 2000. MOLINA, E. Limpeza, Desinfecção de Artigos;e Áreas Hospitalares e Antisepsia. São Paulo: Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar – APECIH., 2004. MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Médica. 5ª ed Rio de Janeiro: Elsevier; 2006. 992 p. NATIONAL NOSOCOMIAL INFECTIONS SURVEILLANCE SYSTEM – NNISS. Disponível em: <http://www.cdc.gov/ncidod/hip/nnis/nosinfdefinitions.pdf>. Acesso em 20 abr. 2009. NICOLINI, P. et al. Fatores relacionados à prescrição médica de antibióticos em farmácia pública da região Oeste da cidade de São Paulo. Ciências e saúde coletiva., v.13, suppl.0, 2008. OLIVEIRA, A. C. Infecções Hospitalares – Epidemiologia, Prevenção e Controle. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 694 p. OLIVEIRA, A. C. Infecções hospitalares: repensando a importância da higienização das mãos no contexto da multirresistência. Rev. min. enf., v.7, n.2, p.140-44, 2003. OLIVEIRA, A. C.; MARTINS, M. A.; MARTINHO, W. T. C.; LACERDA, R. A. Estudo comparativo do diagnóstico da infecção do sítio cirúrgico durante e após a internação. Revista de Saúde Pública., v. 36, n.6, p.717-722, 2002. OWENS, C. D.; STOESSEL, k. Surgical site infections: epidemiology, microbiology and prevention. Journal of Hospital Infection., v. 70, n.2, p.3-10, 2008. PAGE, C. P. P. et al Farmacologia Integrada. 2. ed. São Paulo: Manole, 2004, 670 p. 52 PAPADOPOULOS, D. et al. Genomic evolution during a 10,000-generation experiment with bactéria. Proc. natl. acad. sci. USA., v.96, p.3807-3812, 1999. PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: Conceitos e Aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Makron Books, 1997. 1-20. 524 p. PENAFORTE, T. R. Avaliação da Atuação dos Farmacêuticos na Prestação da Assistência Farmacêutica em um Hospital Universitário. Dissertação(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. PENNISI, E. Bacteria are picky about their homes on human skin. Science Magazine., v.320, n.5879, p.1001, 2008. PITTET, D. Infection control and quality health care in the new millennium. Am. j. infect. control., v.33, n.5, p. 258-267, 2005. PRADE, S. S. et al. Estudo Brasileiro da Magnitude das Infecções Hospitalares em hospitais terciários. Revista Controle de Infecção Hospitalar. v.2, p.11-24, 1995. PRIETO, J.; CALVO, A.; GOMEZ-LUS, M.L. Antimicrobial resistance: a class effect? J. antimicrob. chemother., v.50, p.7-12, 2002. RABOUD, J. et al. Patterns of hanwashing behavior and visits to patients on a general medical ward of healthcare workers. Infect. control. hosp. epidemiol., v.25, n. 3, p.198-202, 2004. RANTALA A.; LEHTONEN O.P.; NIINIKOSKI J. Alcohol abuse: a risk factor for surgical wound infections? Am. j. infect. control., v.25, p.381-386, 1997. REITZEL, R.A . et al. Efficacy of novel antimicrobial gloves impregnated with antiseptic dyes in preventing the adherence of multidrug-resistant nosocomial pathogens. Am. j. infect. control., v. 37, p.294-300, 2009; RIBEIRO, E,; TAKAGI, C. A. Seleção de medicamentos. In: STORPIRTIS, S. et al. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. RIBEIRO, H. P. O hospital: história e crise. São Paulo: Cortez; 1993. 135 p. 53 RICHTMANN, R. Guia Prático de Controle de Infecção Hospitalar. 1ª ed. São Paulo: Soriak Comércio e Promoções S.A. 2005.182 p. RIDDERSTOLPE, L. et al. Superficial and deep sternal wound complications: incidence, risk factors and mortality. Eur. j. cardiothorac. surg., v.20, p.1168-75, 2001. ROSENBERG, S. M. Evolving Responsively: Adaptive Mutation. Nature Reviews Genetics., v.2, n.7, p.504-515, 2001. ROSSI, F.; ANDREAZZI, D. B. Resistência Bacteriana – Interpretando o Antibiograma. São Paulo: Atheneu, 2005. 118 p. SADER, H. S.; SAMPAIO, J. L. M.; ZOCCOLI, C.; JONES, R. N. Results of the 1997 SENTRY antimicrobial surveillance program in three brazilian meidcal centers. Brazilian Journal of Infections Diseases., v.3, n.2, p.63-79, 1999. SANTOS FILHO, L.; KUTI, J. L.; NICOLAU, D P. Utilização de princípios de farmacocinética e farmacodinâmica na otimização do tratamento antimicrobiano com relação à resistência emergente. Braz. j. microbiol., v.38, n.2, p.183-193, 2007. SILVA, P. Farmacologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.1398 p.. SILVESTRI, L et al. Handwashing in the intensive care unit: a big measure with modest effects. J. hosp. infect., v.59, p.172-179, 2005. SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR – SBRAFH. Padrões mínimos para farmácia hospitalar. Belo Horizonte, 1997. SOUZA, V. C.; FREIRE, A. N. M.; TAVARES NETO, J. Mediastinite pósesternotomia longitudinal para cirurgia cardíaca: 10 anos de análise. Rev . bras. cir. cardiovacs., v.17, n.3, p.266-270, 2002. TAVARES, W. Manual de Antibióticos e Quimioterápicos Antiinfecciosos. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 1216 p. TAVARES, W. Problem Gram-positive bacteria: resistance in staphylococci, enterococci, and pneumococci to antimicrobial drugs. Rev. soc. bras. med. trop., v. 33, n.3, p.281-301, 2000. 54 TEIXEIRA, J. M. C. O Hospital e a Visão Administrativa Contemporânea. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1989. 287 p. THOMAS, S. R.; ELKINTON, J. S. Pathogenicity and virulence. Journal Invertebrate Pathology., v.88, n.1, p.1-7, 2005. TRABULSI, L. R. Microbiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008. 760 p. TRIPATHI, K. Farmacologia Médica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 796 p. TVEDT, C.; BUKHOLM, G. Alcohol-based hand disinfection: a more robust handhygiene method in an intensive care unit. J. hosp. infect., v.59, n.3, p. 229-234, 2005. UJVARI, S. C. A história da disseminação dos microrganismos. Estudos Avançados., v.22, n.64, p.171-182, 2008. VERGARA, M. R. Notebooks from the Pasteur laboratory: some reflections on the public and private in the biographies of scientists. Hist. cienc. saúde-Manguinhos., v.11, n.2, p.445-448, 2004. WEBER, W. P. et al. The timing of surgical antimicrobial prophylaxis. Ann. Surg., v.247, n.6, p.918-926, 2008. WILSON, S. E. Microbial sealing: a new approach to reducing contamination. J. hosp. infect., v.70, p.11-14, 2008 WISE, R. An overview of the Specialist Advisory Committee on Antimicrobial Resistance (SACAR). J. Antimicrob. Chemother., v.60, n.1, p.5-17, 2007. ZERR, K. J. et al. Glucose control lowers the risk of wound infection in diabetics after open heart operations. Ann. Thorac. Surg., v.63, n.6, p.356-361, 1997. 55 APENDICE A – Coleta de dados cirurgias infecções internação (dias) 1/1/2002 45 2 43,2 2/1/2002 32 3 3/1/2002 39 4/1/2002 5/1/2002 infecções/cirurgia (%) internação/cir urgia infecções/i nternações 4,44 0,96 0,046 36,0 9,38 1,13 0,083 1 47,8 2,56 1,23 média infecções/cirurgia (%): 6,58 0,021 41 3 51,5 7,32 1,26 desvio padrão infecções /cir (%) 2,42 0,058 39 2 37,0 5,13 0,95 desv pad da média 0,70 0,054 6/1/2002 45 4 52,3 8,89 1,16 7/1/2002 40 3 44,2 7,50 1,11 média Internações 8/1/2002 53 3 34,8 9/1/2002 42 2 35,4 10/1/2002 46 5 24,8 11/1/2002 39 3 51,3 12/1/2002 21 1 60,0 40,17 2,67 43,2 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 0,076 43,2 0,068 5,66 0,66 dev pad 2,4 0,086 2,28 4,76 0,84 desv med 0,70 0,056 0,33 10,87 0,54 internação/cirurgia 1,17 0,202 2,86 7,69 1,32 desv pad 0,58 0,058 4,76 2,86 desv pad da média 0,17 0,017 1/1/2003 44 2 30,8 4,55 0,70 0,065 2/1/2003 31 2 45,1 6,45 1,45 0,044 3/1/2003 38 2 43,7 5,26 1,15 média infecções/cirurgia (%): 6,30 0,046 4/1/2003 46 3 57,0 6,52 1,24 desvio padrão infecções /cir (%) 2,33 0,053 5/1/2003 40 4 51,1 1,28 desv pad da média 0,67 0,078 6/1/2003 43 4 53,6 7/1/2003 40 4 43,8 1,10 média Internações 48,5 0,091 8/1/2003 38 2 44,9 5,26 1,18 dev pad 2,33 0,045 9/1/2003 37 2 62,3 5,41 1,68 desv med 0,67 0,032 10/1/2003 34 2 48,2 5,88 1,42 internação/cirurgia 1,24 0,041 1,29 desv pad 0,24 0,034 1,12 desv pad da média 0,07 0,024 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 1,33 10,00 0,29 9,30 3,42 10,00 11/1/2003 46 2 59,2 4,35 12/1/2003 38 1 42,4 2,63 1,25 0,075 56 39,58 2,50 51,4 1/1/2004 29 2 45,0 6,90 1,55 0,044 2/1/2004 26 2 30,8 7,69 1,18 0,065 3/1/2004 38 6 47,7 15,79 4/1/2004 40 2 46,8 5/1/2004 49 2 6/1/2004 46 5 7/1/2004 48 1 40,3 8/1/2004 43 4 46,6 9/1/2004 30 2 46,3 10/1/2004 39 3 11/1/2004 44 12/1/2004 38 1,26 média infecções/cirurgia (%): 7,54 0,126 5,00 1,17 desvio padrão infecções /cir (%) 3,56 0,043 36,5 4,08 0,74 desv pad da média 1,03 0,055 47,5 10,87 1,03 43,31 0,025 1,08 dev pad 3,56 0,086 6,67 1,54 desv med 1,03 0,043 37,3 7,69 0,96 internação/cirurgia 1,14 0,080 4 49,9 9,09 1,13 desv pad 0,24 0,080 2 45,0 5,26 1,18 desv pad da média 0,07 0,044 39,17 2,92 43,3 1/1/2005 29 5 30,5 17,24 1,05 2/1/2005 26 3 41,3 11,54 1,59 3/1/2005 43 4 37,5 9,30 0,87 média infecções/cirurgia (%): 7,33 0,107 4/1/2005 41 4 29,3 9,76 0,71 desvio padrão infecções /cir (%) 5,47 0,137 5/1/2005 45 7 34,6 0,77 desv pad da média 1,58 0,202 6/1/2005 44 2 49,9 7/1/2005 43 1 41,0 8/1/2005 51 0 9/1/2005 42 3 10/1/2005 37 11/1/2005 43 12/1/2005 1/1/2006 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 2,08 0,84 média Internações 0,43 9,30 1,67 0,164 0,073 2,03 15,56 0,58 4,55 1,13 2,73 2,33 0,95 média Internações 34,8 0,024 32,5 0,00 0,64 dev pad 9,47 0,000 30,5 7,14 0,73 desv med 2,73 0,098 2 21,5 5,41 0,58 internação/cirurgia 0,89 0,093 1 49,0 2,33 1,14 desv pad 0,30 0,020 2,86 0,57 desv pad da média 0,09 0,050 5,00 0,73 35 1 20,0 39,92 2,75 34,8 40 2 29,3 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 2,17 0,105 0,040 0,068 57 2/1/2006 30 2 30,8 6,67 3/1/2006 26 5 17,0 19,23 4/1/2006 30 2 19,0 6,67 5/1/2006 35 4 33,9 11,43 6/1/2006 38 2 55,8 7/1/2006 40 1 28,5 8/1/2006 46 3 29,3 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 1,03 0,065 0,65 média infecções/cirurgia (%): 6,99 0,294 0,63 desvio padrão infecções /cir (%) 4,44 0,105 0,97 desv pad da média 1,28 0,118 2,14 5,26 1,47 0,036 0,31 2,50 0,71 média Internações 28,85 0,035 3,54 6,52 0,64 dev pas 12,26 0,102 9/1/2006 38 2 21,3 5,26 0,56 desv med 3,54 0,094 10/1/2006 49 2 17,3 4,08 0,35 internação/cirurgia 0,76 0,116 11/1/2006 49 2 47,0 4,08 0,96 desv pad 0,31 0,043 12/1/2006 42 3 17,0 7,14 0,40 desv pad da média 0,09 0,176 38,58 2,50 28,9 1/1/2007 54 3 30,2 5,56 0,56 0,099 2/1/2007 44 5 25,8 11,36 0,59 0,194 3/1/2007 54 4 35,3 7,41 0,65 média infecções/cirurgia (%): 4,55 0,113 4/1/2007 46 3 22,8 5/1/2007 57 3 35,8 6/1/2007 51 2 18,3 7/1/2007 42 2 15,0 8/1/2007 56 3 9/1/2007 55 10/1/2007 11/1/2007 12/1/2007 6,52 0,50 desvio padrão infecções /cir (%) 3,21 0,132 1,89 5,26 0,63 desv pad da média 0,93 0,084 0,45 3,92 0,36 1,88 4,76 0,36 média Internações 27,0 5,36 0 25,7 49 1 41 1 38 48,92 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 0,109 26,98 0,133 0,48 dev pas 6,51 0,111 0,00 0,47 desv med 1,88 0,000 25,5 2,04 0,52 internação/cirurgia 0,56 0,039 27,2 2,44 0,66 desv pad 0,15 0,037 0 35,2 0,00 0,93 desv pad da média 0,04 0,000 2,25 27,0 1/1/2008 34 1 27,0 2,94 0,79 0,037 2/1/2008 40 0 23,0 0,00 0,58 0,000 3/1/2008 37 0 31,2 0,00 0,84 média infecções/cirurgia (%): 2,16 0,000 58 4/1/2008 40 2 20,0 5/1/2008 42 2 23,3 6/1/2008 36 1 28,0 desv padrao cirurgia desv padrao infecção desv padrao internação 5,00 0,50 desvio padrão infecções /cir (%) 1,89 0,100 2,18 4,76 0,55 desv pad da média 0,54 0,086 0,23 2,78 0,78 1,63 0,036 7/1/2008 42 1 18,0 2,38 0,43 média Internações 21,05 0,056 8/1/2008 47 2 14,0 4,26 0,30 dev pas 5,64 0,143 9/1/2008 50 1 21,2 2,00 0,42 desv med 1,63 0,047 10/1/2008 57 1 17,4 1,75 0,31 internação/cirurgia 0,53 0,057 11/1/2008 37 0 13,9 0,00 0,38 desv pad 0,19 0,000 12/1/2008 29 0 15,6 0,00 0,54 desv pad da média 0,05 0,000 40,92 0,92 21,1 59 ANEXO A – Teste de normalidade 28/9/2009 17:06 ANEXO A 58 Col. title 2002 Cirurgia Mean 40.1666666667 Standard deviation (SD)7.907 Sample size (N) 12 2002 Infecção 2.6666666667 1.155 12 2002 Internação2003 Cirurgia 43.1916666667 39.5833333333 9.918 4.602 12 12 Std. error of mean(SEM)2.282 Lower 95% conf. limit 35.143 Upper 95% conf. limit 45.190 0.3333 1.933 3.400 2.863 36.890 49.493 1.328 36.660 42.507 Minimum 21.000 Median (50th percentile40.500 Maximum 53.000 1.000 3.000 5.000 24.800 43.700 60.000 31.000 39.000 46.000 Normality test KS 0.2747 Normality test P value >0.10 Passed normality test? Yes 0.2198 >0.10 Yes 0.1504 >0.10 Yes 0.1346 >0.10 Yes Col. title 2003 Infecção Mean 2.5 Standard deviation (SD)1.000 Sample size (N) 12 2003 Internação2004 Cirurgia 48.5083333333 39.1666666667 8.687 7.530 12 12 2004 Infecção 2.9166666667 1.505 12 Std. error of mean(SEM)0.2887 Lower 95% conf. limit 1.865 Upper 95% conf. limit 3.135 2.508 42.989 54.028 2.174 34.382 43.951 0.4345 1.960 3.873 Minimum 1.000 Median (50th percentile2.000 Maximum 4.000 30.800 46.650 62.300 26.000 39.500 49.000 1.000 2.000 6.000 Normality test KS 0.3581 Normality test P value 0,0921 Passed normality test? Yes 0.1577 >0.10 Yes 0.1884 >0.10 Yes 0.3121 >0.10 Yes 2005 Infecção 2.75 2.006 12 2005 Internação 34.8 9.468 12 Col. title 2004 Internação2005 Cirurgia Mean 43.3083333333 39.9166666667 Standard deviation (SD)5.768 7.038 Sample size (N) 12 12 28/9/2009 17:06 59 5 Std. error of mean(SEM)1.665 Lower 95% conf. limit 39.643 Upper 95% conf. limit 46.973 2.032 35.445 44.389 0.5790 1.476 4.024 2.733 28.784 40.816 Minimum 30.800 Median (50th percentile45.650 Maximum 49.900 26.000 42.500 51.000 0.000 2.500 7.000 20.000 33.550 49.900 Normality test KS 0.2820 Normality test P value >0.10 Passed normality test? Yes 0.2278 >0.10 Yes 0.1458 >0.10 Yes 0.1140 >0.10 Yes Col. title 2006 Cirurgia Mean 38.5833333333 Standard deviation (SD)7.428 Sample size (N) 12 2006 Infecção 2.5 1.087 12 2006 Internação2007 Cirurgia 28.85 48.9166666667 12.262 6.543 12 12 Std. error of mean(SEM)2.144 Lower 95% conf. limit 33.864 Upper 95% conf. limit 43.303 0.3138 1.809 3.191 3.540 21.059 36.641 1.889 44.759 53.074 Minimum 26.000 Median (50th percentile39.000 Maximum 49.000 1.000 2.000 5.000 17.000 28.900 55.800 38.000 50.000 57.000 Normality test KS 0.1354 Normality test P value >0.10 Passed normality test? Yes 0.3439 >0.10 Yes 0.1868 >0.10 Yes 0.1980 >0.10 Yes Col. title 2007 Infecção Mean 2.25 Standard deviation (SD)1.545 Sample size (N) 12 2007 Internação2008 Cirurgia 26.9833333333 40.9166666667 6.513 7.549 12 12 2008 Infecção 0.9166666667 0.7930 12 Std. error of mean(SEM)0.4459 Lower 95% conf. limit 1.268 Upper 95% conf. limit 3.232 1.880 22.845 31.121 2.179 36.120 45.713 0.2289 0.4128 1.420 Minimum 15.000 29.000 0.000 0.000 28/9/2009 17:06 60 5 Median (50th percentile2.500 Maximum 5.000 26.400 35.800 40.000 57.000 1.000 2.000 Normality test KS 0.1863 Normality test P value >0.10 Passed normality test? Yes 0.1599 >0.10 Yes 0.1930 >0.10 Yes 0.2095 >0.10 Yes Col. title 2008 Internação Mean 21.05 Standard deviation (SD)5.640 Sample size (N) 12 Std. error of mean(SEM)1.628 Lower 95% conf. limit 17.467 Upper 95% conf. limit 24.633 Minimum 13.900 Median (50th percentile20.600 Maximum 31.200 Normality test KS 0.1223 Normality test P value >0.10 Passed normality test? Yes 61 ANEXO B - Teste de paridade de Internação 28/9/2009 17:13 Page 1 One-way Analysis of Variance (ANOVA) The P value is < 0.0001, considered extremely significant. Variation among column means is significantly greater than expected by chance. Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test If the value of q is greater than 4.293 then the P value is less than 0.05. Mean Comparison Difference q P value ================================== ========== ======= =========== 2002 Internação vs 2003 Internação -5.317 2.134 ns P>0.05 2002 Internação vs 2004 Internação -0.1167 0.04683 ns P>0.05 2002 Internação vs 2005 Internação 8.392 3.369 ns P>0.05 2002 Internação vs 2006 Internação 14.342 5.757 ** P<0.01 2002 Internação vs 2007 Internação 16.208 6.506 *** P<0.001 2002 Internação vs 2008 Internação 22.142 8.888 *** P<0.001 2003 Internação vs 2004 Internação 5.200 2.087 ns P>0.05 2003 Internação vs 2005 Internação 13.708 5.503 ** P<0.01 2003 Internação vs 2006 Internação 19.658 7.891 *** P<0.001 2003 Internação vs 2007 Internação 21.525 8.640 *** P<0.001 2003 Internação vs 2008 Internação 27.458 11.022 *** P<0.001 2004 Internação vs 2005 Internação 8.508 3.415 ns P>0.05 2004 Internação vs 2006 Internação 14.458 5.804 ** P<0.01 2004 Internação vs 2007 Internação 16.325 6.553 *** P<0.001 2004 Internação vs 2008 Internação 22.258 8.935 *** P<0.001 2005 Internação vs 2006 Internação 5.950 2.388 ns P>0.05 2005 Internação vs 2007 Internação 7.817 3.138 ns P>0.05 2005 Internação vs 2008 Internação 13.750 5.519 ** P<0.01 2006 Internação vs 2007 Internação 1.867 0.7493 ns P>0.05 2006 Internação vs 2008 Internação 7.800 3.131 ns P>0.05 2007 Internação vs 2008 Internação 5.933 2.382 ns P>0.05 Mean 95% Confidence Interval Difference Difference From To ================================== ========== ======= ======= 2002 Internação - 2003 Internação -5.317 -16.012 5.379 2002 Internação - 2004 Internação -0.1167 -10.812 10.579 2002 Internação - 2005 Internação 8.392 -2.304 19.087 2002 Internação - 2006 Internação 14.342 3.646 25.037 2002 Internação - 2007 Internação 16.208 5.513 26.904 2002 Internação - 2008 Internação 22.142 11.446 32.837 2003 Internação - 2004 Internação 5.200 -5.496 15.896 2003 Internação - 2005 Internação 13.708 3.013 24.404 2003 Internação - 2006 Internação 19.658 8.963 30.354 2003 Internação - 2007 Internação 21.525 10.829 32.221 2003 Internação - 2008 Internação 27.458 16.763 38.154 2004 Internação - 2005 Internação 8.508 -2.187 19.204 2004 Internação - 2006 Internação 14.458 3.763 25.154 2004 Internação - 2007 Internação 16.325 5.629 27.021 2004 Internação - 2008 Internação 22.258 11.563 32.954 2005 Internação - 2006 Internação 5.950 -4.746 16.646 2005 Internação - 2007 Internação 7.817 -2.879 18.512 2005 Internação - 2008 Internação 13.750 3.054 24.446 2006 Internação - 2007 Internação 1.867 -8.829 12.562 28/9/2009 17:13 Page 2 2006 Internação - 2008 Internação 2007 Internação - 2008 Internação 7.800 5.933 -2.896 -4.762 18.496 16.629 Assumption test: Are the standard deviations of the groups equal? ANOVA assumes that the data are sampled from populations with identical SDs. This assumption is tested using the method of Bartlett. Bartlett statistic (corrected) = 11.058 The P value is 0.0866. Bartlett's test suggests that the differences among the SDs is not quite significant. Assumption test: Are the data sampled from Gaussian distributions? ANOVA assumes that the data are sampled from populations that follow Gaussian distributions. This assumption is tested using the method Kolmogorov and Smirnov: Group KS =============== ====== 2002 Internação 0.1504 2003 Internação 0.1577 2004 Internação 0.2820 2005 Internação 0.1140 2006 Internação 0.1868 2007 Internação 0.1599 2008 Internação 0.1223 P Value Passed normality test? ======== ======================= >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes Intermediate calculations. ANOVA table Source of variation ============================ Treatments (between columns) Residuals (within columns) ---------------------------Total F = 16.514 Degrees of freedom ========== 6 77 ---------83 Sum of squares ======== 7379.2 5734.5 -------13114 Mean square ======== 1229.9 74.474 =(MStreatment/MSresidual) Summary of Data Group =============== 2002 Internação 2003 Internação 2004 Internação 2005 Internação 2006 Internação 2007 Internação 2008 Internação Number of Points ====== 12 12 12 12 12 12 12 Mean ======== 43.192 48.508 43.308 34.800 28.850 26.983 21.050 Standard Deviation ========= 9.918 8.687 5.768 9.468 12.262 6.513 5.640 Standard Error of Mean ======== 2.863 2.508 1.665 2.733 3.540 1.880 1.628 Median ======== 43.700 46.650 45.650 33.550 28.900 26.400 20.600 28/9/2009 17:13 Page 3 95% Confidence Interval Group Minimum Maximum From To =============== ======== ======== ========== ========== 2002 Internação 24.800 60.000 36.890 49.493 2003 Internação 30.800 62.300 42.989 54.028 2004 Internação 30.800 49.900 39.643 46.973 2005 Internação 20.000 49.900 28.784 40.816 2006 Internação 17.000 55.800 21.059 36.641 2007 Internação 15.000 35.800 22.845 31.121 2008 Internação 13.900 31.200 17.467 24.633 * * * 64 ANEXO C – Teste de paridade de Cirurgia 28/9/2009 17:08 Page 1 One-way Analysis of Variance (ANOVA) The P value is 0.0094, considered very significant. Variation among column means is significantly greater than expected by chance. Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test If the value of q is greater than 4.293 then the P value is less than 0.05. Mean Comparison Difference q P value ================================== ========== ======= =========== 2002 Cirurgia vs 2003 Cirurgia 0.5833 0.2879 ns P>0.05 2002 Cirurgia vs 2004 Cirurgia 1.000 0.4935 ns P>0.05 2002 Cirurgia vs 2005 Cirurgia 0.2500 0.1234 ns P>0.05 2002 Cirurgia vs 2006 Cirurgia 1.583 0.7814 ns P>0.05 2002 Cirurgia vs 2007 Cirurgia -8.750 4.318 * P<0.05 2002 Cirurgia vs 2008 Cirurgia -0.7500 0.3701 ns P>0.05 2003 Cirurgia vs 2004 Cirurgia 0.4167 0.2056 ns P>0.05 2003 Cirurgia vs 2005 Cirurgia -0.3333 0.1645 ns P>0.05 2003 Cirurgia vs 2006 Cirurgia 1.000 0.4935 ns P>0.05 2003 Cirurgia vs 2007 Cirurgia -9.333 4.606 * P<0.05 2003 Cirurgia vs 2008 Cirurgia -1.333 0.6580 ns P>0.05 2004 Cirurgia vs 2005 Cirurgia -0.7500 0.3701 ns P>0.05 2004 Cirurgia vs 2006 Cirurgia 0.5833 0.2879 ns P>0.05 2004 Cirurgia vs 2007 Cirurgia -9.750 4.812 * P<0.05 2004 Cirurgia vs 2008 Cirurgia -1.750 0.8636 ns P>0.05 2005 Cirurgia vs 2006 Cirurgia 1.333 0.6580 ns P>0.05 2005 Cirurgia vs 2007 Cirurgia -9.000 4.442 * P<0.05 2005 Cirurgia vs 2008 Cirurgia -1.000 0.4935 ns P>0.05 2006 Cirurgia vs 2007 Cirurgia -10.333 5.100 ** P<0.01 2006 Cirurgia vs 2008 Cirurgia -2.333 1.152 ns P>0.05 2007 Cirurgia vs 2008 Cirurgia 8.000 3.948 ns P>0.05 Mean 95% Confidence Interval Difference Difference From To ================================== ========== ======= ======= 2002 Cirurgia - 2003 Cirurgia 0.5833 -8.116 9.283 2002 Cirurgia - 2004 Cirurgia 1.000 -7.700 9.700 2002 Cirurgia - 2005 Cirurgia 0.2500 -8.450 8.950 2002 Cirurgia - 2006 Cirurgia 1.583 -7.116 10.283 2002 Cirurgia - 2007 Cirurgia -8.750 -17.450 -0.05037 2002 Cirurgia - 2008 Cirurgia -0.7500 -9.450 7.950 2003 Cirurgia - 2004 Cirurgia 0.4167 -8.283 9.116 2003 Cirurgia - 2005 Cirurgia -0.3333 -9.033 8.366 2003 Cirurgia - 2006 Cirurgia 1.000 -7.700 9.700 2003 Cirurgia - 2007 Cirurgia -9.333 -18.033 -0.6337 2003 Cirurgia - 2008 Cirurgia -1.333 -10.033 7.366 2004 Cirurgia - 2005 Cirurgia -0.7500 -9.450 7.950 2004 Cirurgia - 2006 Cirurgia 0.5833 -8.116 9.283 2004 Cirurgia - 2007 Cirurgia -9.750 -18.450 -1.050 2004 Cirurgia - 2008 Cirurgia -1.750 -10.450 6.950 2005 Cirurgia - 2006 Cirurgia 1.333 -7.366 10.033 2005 Cirurgia - 2007 Cirurgia -9.000 -17.700 -0.3004 2005 Cirurgia - 2008 Cirurgia -1.000 -9.700 7.700 2006 Cirurgia - 2007 Cirurgia -10.333 -19.033 -1.634 28/9/2009 17:08 Page 2 2006 Cirurgia - 2008 Cirurgia 2007 Cirurgia - 2008 Cirurgia -2.333 -11.033 8.000 -0.6996 6.366 16.700 Assumption test: Are the standard deviations of the groups equal? ANOVA assumes that the data are sampled from populations with identical SDs. This assumption is tested using the method of Bartlett. Bartlett statistic (corrected) = 3.642 The P value is 0.7249. Bartlett's test suggests that the differences among the SDs is not significant. Assumption test: Are the data sampled from Gaussian distributions? ANOVA assumes that the data are sampled from populations that follow Gaussian distributions. This assumption is tested using the method Kolmogorov and Smirnov: Group KS =============== ====== 2002 Cirurgia 0.2747 2003 Cirurgia 0.1346 2004 Cirurgia 0.1884 2005 Cirurgia 0.2278 2006 Cirurgia 0.1354 2007 Cirurgia 0.1980 2008 Cirurgia 0.1930 P Value Passed normality test? ======== ======================= >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes Intermediate calculations. ANOVA table Source of variation ============================ Treatments (between columns) Residuals (within columns) ---------------------------Total F = 3.075 Degrees of freedom ========== 6 77 ---------83 Sum of squares ======== 908.98 3793.9 -------4702.9 Mean square ======== 151.50 49.272 =(MStreatment/MSresidual) Summary of Data Group =============== 2002 Cirurgia 2003 Cirurgia 2004 Cirurgia 2005 Cirurgia 2006 Cirurgia 2007 Cirurgia 2008 Cirurgia Number of Points ====== 12 12 12 12 12 12 12 Mean ======== 40.167 39.583 39.167 39.917 38.583 48.917 40.917 Standard Deviation ========= 7.907 4.602 7.530 7.038 7.428 6.543 7.549 Standard Error of Mean ======== 2.282 1.328 2.174 2.032 2.144 1.889 2.179 Median ======== 40.500 39.000 39.500 42.500 39.000 50.000 40.000 28/9/2009 17:08 Page 3 95% Confidence Interval Group Minimum Maximum From To =============== ======== ======== ========== ========== 2002 Cirurgia 21.000 53.000 35.143 45.190 2003 Cirurgia 31.000 46.000 36.660 42.507 2004 Cirurgia 26.000 49.000 34.382 43.951 2005 Cirurgia 26.000 51.000 35.445 44.389 2006 Cirurgia 26.000 49.000 33.864 43.303 2007 Cirurgia 38.000 57.000 44.759 53.074 2008 Cirurgia 29.000 57.000 36.120 45.713 * * * 67 ANEXO D – Teste de paridade de Infecção 28/9/2009 17:12 Page 1 One-way Analysis of Variance (ANOVA) The P value is 0.0123, considered significant. Variation among column means is significantly greater than expected by chance. Tukey-Kramer Multiple Comparisons Test If the value of q is greater than 4.293 then the P value is less than 0.05. Mean Comparison Difference q P value ================================== ========== ======= =========== 2002 Infecção vs 2003 Infecção 0.1667 0.4267 ns P>0.05 2002 Infecção vs 2004 Infecção -0.2500 0.6400 ns P>0.05 2002 Infecção vs 2005 Infecção -0.08333 0.2133 ns P>0.05 2002 Infecção vs 2006 Infecção 0.1667 0.4267 ns P>0.05 2002 Infecção vs 2007 Infecção 0.4167 1.067 ns P>0.05 2002 Infecção vs 2008 Infecção 1.750 4.480 * P<0.05 2003 Infecção vs 2004 Infecção -0.4167 1.067 ns P>0.05 2003 Infecção vs 2005 Infecção -0.2500 0.6400 ns P>0.05 2003 Infecção vs 2006 Infecção 0.000 0.000 ns P>0.05 2003 Infecção vs 2007 Infecção 0.2500 0.6400 ns P>0.05 2003 Infecção vs 2008 Infecção 1.583 4.053 ns P>0.05 2004 Infecção vs 2005 Infecção 0.1667 0.4267 ns P>0.05 2004 Infecção vs 2006 Infecção 0.4167 1.067 ns P>0.05 2004 Infecção vs 2007 Infecção 0.6667 1.707 ns P>0.05 2004 Infecção vs 2008 Infecção 2.000 5.120 ** P<0.01 2005 Infecção vs 2006 Infecção 0.2500 0.6400 ns P>0.05 2005 Infecção vs 2007 Infecção 0.5000 1.280 ns P>0.05 2005 Infecção vs 2008 Infecção 1.833 4.693 * P<0.05 2006 Infecção vs 2007 Infecção 0.2500 0.6400 ns P>0.05 2006 Infecção vs 2008 Infecção 1.583 4.053 ns P>0.05 2007 Infecção vs 2008 Infecção 1.333 3.413 ns P>0.05 Mean 95% Confidence Interval Difference Difference From To ================================== ========== ======= ======= 2002 Infecção - 2003 Infecção 0.1667 -1.510 1.844 2002 Infecção - 2004 Infecção -0.2500 -1.927 1.427 2002 Infecção - 2005 Infecção -0.08333 -1.760 1.594 2002 Infecção - 2006 Infecção 0.1667 -1.510 1.844 2002 Infecção - 2007 Infecção 0.4167 -1.260 2.094 2002 Infecção - 2008 Infecção 1.750 0.07287 3.427 2003 Infecção - 2004 Infecção -0.4167 -2.094 1.260 2003 Infecção - 2005 Infecção -0.2500 -1.927 1.427 2003 Infecção - 2006 Infecção 0.000 -1.677 1.677 2003 Infecção - 2007 Infecção 0.2500 -1.427 1.927 2003 Infecção - 2008 Infecção 1.583 -0.09380 3.260 2004 Infecção - 2005 Infecção 0.1667 -1.510 1.844 2004 Infecção - 2006 Infecção 0.4167 -1.260 2.094 2004 Infecção - 2007 Infecção 0.6667 -1.010 2.344 2004 Infecção - 2008 Infecção 2.000 0.3229 3.677 2005 Infecção - 2006 Infecção 0.2500 -1.427 1.927 2005 Infecção - 2007 Infecção 0.5000 -1.177 2.177 2005 Infecção - 2008 Infecção 1.833 0.1562 3.510 2006 Infecção - 2007 Infecção 0.2500 -1.427 1.927 28/9/2009 17:12 Page 2 2006 Infecção - 2008 Infecção 2007 Infecção - 2008 Infecção 1.583 -0.09380 1.333 -0.3438 3.260 3.010 Assumption test: Are the standard deviations of the groups equal? ANOVA assumes that the data are sampled from populations with identical SDs. This assumption is tested using the method of Bartlett. Bartlett statistic (corrected) = 12.381 The P value is 0.0540. Bartlett's test suggests that the differences among the SDs is not quite significant. Assumption test: Are the data sampled from Gaussian distributions? ANOVA assumes that the data are sampled from populations that follow Gaussian distributions. This assumption is tested using the method Kolmogorov and Smirnov: Group KS =============== ====== 2002 Infecção 0.2198 2003 Infecção 0.3581 2004 Infecção 0.3121 2005 Infecção 0.1458 2006 Infecção 0.3439 2007 Infecção 0.1863 2008 Infecção 0.2095 P Value Passed normality test? ======== ======================= >0.10 Yes 0.0921 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes >0.10 Yes Intermediate calculations. ANOVA table Source of variation ============================ Treatments (between columns) Residuals (within columns) ---------------------------Total F = 2.939 Degrees of freedom ========== 6 77 ---------83 Sum of squares ======== 32.286 141.00 -------173.29 Mean square ======== 5.381 1.831 =(MStreatment/MSresidual) Summary of Data Group =============== 2002 Infecção 2003 Infecção 2004 Infecção 2005 Infecção 2006 Infecção 2007 Infecção 2008 Infecção Number of Points ====== 12 12 12 12 12 12 12 Mean ======== 2.667 2.500 2.917 2.750 2.500 2.250 0.9167 Standard Deviation ========= 1.155 1.000 1.505 2.006 1.087 1.545 0.7930 Standard Error of Mean ======== 0.3333 0.2887 0.4345 0.5790 0.3138 0.4459 0.2289 Median ======== 3.000 2.000 2.000 2.500 2.000 2.500 1.000 28/9/2009 17:12 Page 3 95% Confidence Interval Group Minimum Maximum From To =============== ======== ======== ========== ========== 2002 Infecção 1.000 5.000 1.933 3.400 2003 Infecção 1.000 4.000 1.865 3.135 2004 Infecção 1.000 6.000 1.960 3.873 2005 Infecção 0.000 7.000 1.476 4.024 2006 Infecção 1.000 5.000 1.809 3.191 2007 Infecção 0.000 5.000 1.268 3.232 2008 Infecção 0.000 2.000 0.4128 1.420 * * * 70 ANEXO E – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Download