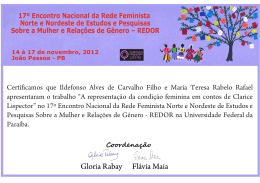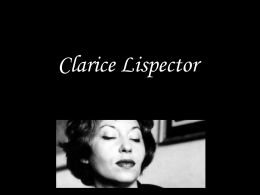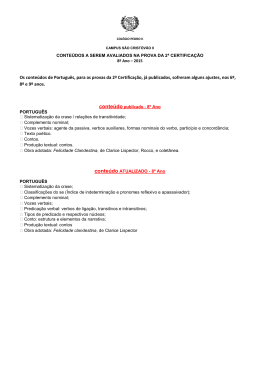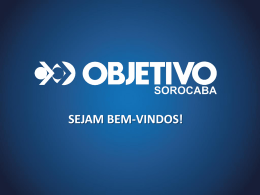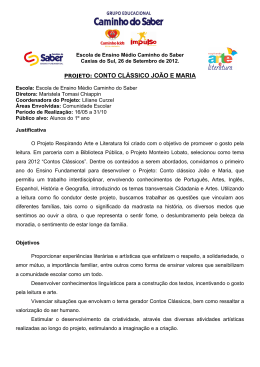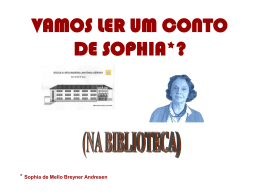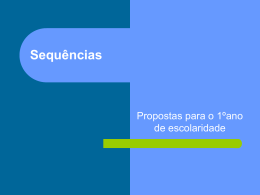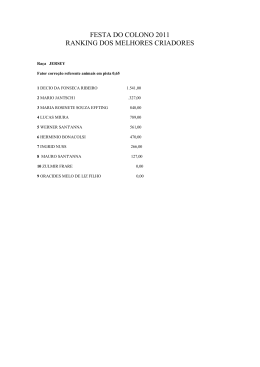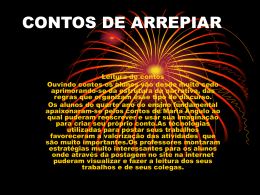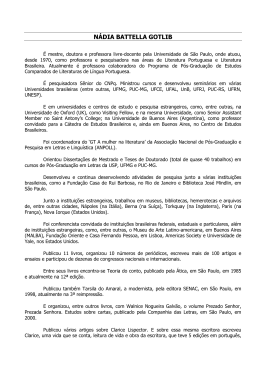“A construção da epifania nas narrativas de Clarice Lispector” “The ephipany’s construction in the narrative os Clarice Lispector” Fernanda Silva Ferreira Centro de Comunicação e Letras – Universidade Presbiteriana Mackenzie Rua Piauí, 143 – 01241-001 – São Paulo – SP [email protected] Resumo. Esse ensaio tem por objetivo analisar a epifania nos contos de Clarice Lispector. Foram selecionados três contos: “A imitação da rosa”, “Os laços de família” e “A legião estrangeira”. Num primeiro momento, apresenta-se uma visão geral da história do conto, o posicionamento de alguns críticos e teóricos e a história do conto na Literatura Brasileira, em específico. Em seguida, destaca-se a posição de Clarice Lispector no contexto brasileiro, bem como suas obras e principais características. E ao final, a partir da análise do corpus, é abordada a questão da epifania. Palavras-Chave: Clarice Lispector. Conto. Epifania. Abstract. This essay has for objective to analyze the ephipany in the Clarice Lispector’s short stories. It was selected three short stories: “A imitação da rosa”, “Os laços de família” e “A legião estrangeira”. In the first moment, it shows a general point of view on the short story’s history, some critics and theorist positions, and the short story’s history on the Brazilian Literature, in specific. Then, it shows Clarice Lispector’s position on the brazilian context, such as her works and characteristics mains. On the final, is analysed the ephipany question. Keywords: Clarice Lispector. Short story. Ephipania. 1. Das estórias ao conto A estória sempre reuniu pessoas que contam e que ouvem, elas variam de assunto e no modo de contar, tomando como exemplo os sacerdotes e seus discípulos, a transmissão de mitos de uma certa tribo, além de conversas e causos contados. Inicialmente, o “contar estórias” era uma prática oral, somente no século XIV o conto ganha registro escrito e começa a afirmar-se como categoria estética. “O contador procura elaboração artística sem perder, contudo, o tom da narrativa oral. E conserva o recurso das estórias de moldura: são todas unidas pelo fato de serem contadas de alguém para alguém.” (GOTLIB, 1990, p. 7). Temos como exemplo, os contos eróticos de Boccacio e o Canterbury Tales, de Chaucer. No século XVI, temos Héptameron, de Marguerite de Navarre e no século XVII surgem as Novelas ejemplares, de Cervantes. No fim do século XVII, surgem os registros de contos de Charles Perrault, conhecidos como Contos da mãe Gansa. No século XVIII, temos La Fontaine, um dos melhores contadores de fábulas; e é no século XIX que o conto se desenvolve estimulando o apego à cultura medieval, pela pesquisa do popular e do folclórico, pela acentuada expansão da imprensa, que permite a publicação dos contos nas inúmeras revistas e jornais. Este é o momento de criação do conto moderno quando, ao lado de um Grimm que registra contos e inicia o seu estudo comparativo, um Edgar Allan Poe se afirma enquanto contista e teórico do conto (GOTLIB, 1990, p. 7). Concomitantemente a força do “contar estórias”, que se estende através dos séculos, surge a tentativa de explicitar a história dessas estórias, problematizando a questão do modo de narrar. Há os que admitem uma teoria específica do conto e os que acham que a teoria do conto se filia a uma teoria geral da narrativa. Esse é um assunto muito discutido por diversos autores, mas ainda há muito questionamento nessa área. Os critérios para a definição do conto são muitos. Alguns conservam a condição de tempo de leitura como critério; outros recorrem à condição de maior impacto; outros ressaltam sua flagrância do presente, por ser o conto uma ficção livre, como uma pincelada; muitos autores também criam um “manual” de como se fazer um conto. Aqui, nos deteremos mais especificamente em Poe e Cortázar, dois grandes teóricos. Edgar Allan Poe estabeleceu, na primeira metade do século XIX, bases que ainda hoje são referências para contistas e para a crítica literária. A teoria de Poe salienta a importância da extensão do conto e a reação que ele provoca no leitor, ou seja, o efeito que a leitura lhe causa. Segundo Poe, a composição literária causa uma “excitação” intensa, e como tal, ela é transitória; por isso a importância da extensão do texto. Se o texto for longo ou breve demais esse efeito será diluído. Para Poe, o conto é produto de um trabalho consciente que se faz por etapas, em função da conquista do efeito único. Toda e qualquer escolha do autor tem que estar diretamente ligada ao efeito, o que não estiver relacionado a ele deve ser suprimido. O autor tem que conseguir com o mínimo de meios o máximo de efeitos. E, na construção do conto, o escritor deve, antes de tudo, pensar no desenlace da história. O importante é que haja algo especial na representação da vida, isto é, que haja um acidente que interesse e que seja ou pareça um “caso”, pela novidade, pelo instante, pelo cunho trágico ou cômico. O conto deve “flagrar” um rápido instantâneo da realidade, de crise ou conflito da personagem, captando-o na sua especificidade. Segundo Cortázar, o conto tem uma limitação na sua extensão. É sempre um texto curto, porque corresponde a um recorte na trajetória de uma personagem, de uma situação dotada de grande carga significativa. No texto “Alguns aspectos do conto”, Julio Cortázar compara o conto com o romance, associando-os, respectivamente, à fotografia e ao cinema. No cinema há uma sucessão de fatos, cuja estrutura acumulativa tem o tempo ao seu dispor. Já na fotografia, bem como no conto, há a necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que seja significativo. Cortázar segue dizendo que o que torna o “conto significativo” é o trabalho literário desenvolvido pelo autor, através da tensão e da intensidade. O conto deve ter intensidade, ou seja, não ter idéias ou ocasiões intermediárias, tudo tem que estar totalmente relacionado ao tema, que é o núcleo do texto; e a tensão, que é o modo como o autor vai, pouco a pouco, apresentando os fatos ao leitor, deve “seqüestrá-lo” lentamente. Tudo está previsto milimétricamente para tecer uma rede de associações e as escolhas são muito cuidadosas, para concretizar uma complexidade. Para Cortázar, o tema do qual sairá um bom conto é sempre excepcional, e é isso que torna alguns contos inesquecíveis. Assim, para que o conto envolva o leitor é preciso que ele tenha algo mais, a “alquimia secreta” de que fala Cortazar: O excepcional reside numa qualidade parecida à do imã; [...] um bom tema atrai todo um sistema de relações conexas, coagula no autor, e mais tarde no leitor, uma imensa quantidade de noções, entrevisões, sentimentos e até idéias que lhe flutuavam virtualmente na memória e na sensibilidade; um bom tema é como um sol, um astro em torno do qual gira um sistema planetário de que muitas vezes não se tinha consciência até que o contista, astrônomo de palavras, nos revela sua existência (CORTÁZAR, 1974, p.154). 2. O conto no contexto brasileiro A origem do conto brasileiro gera controvérsias. Barbosa Sobrinho e Herman Lima, por exemplo, apontam diferentes autores e veículos de divulgação do conto da primeira metade do século XIX. O marco da origem do conto, para Barbosa Sobrinho, é a fundação do semanário O Chronista, dirigido por Justiniano da Rocha, que tinha um espaço para a ficção onde eram publicados contos, e novelas, na maior parte estrangeiras, de escritores da época. Um ano depois de sua fundação surge o Jornal dos Debates e, um pouco depois, o Diário do Rio e o Jornal do Comércio, que também reservavam uma seção à literatura, agora com seus principais redatores nacionais. Herman Lima, por outro lado, considera Joaquim Norberto de Souza e Silva o precursor do conto brasileiro; mas aponta que a primeira manifestação literária do conto, bem como tínhamos na Europa, deve-se a Álvares de Azevedo, com Noite na taverna. Machado de Assis foi o escritor que se destacou como grande contista não só no século XIX, como também na posteridade. Ele se utilizou de diversos procedimentos narrativos. Não tinha um estilo único no modo de escrever, nem na temática dos contos. Escreveu contos de acontecimento, paródias da narrativa popular, contos humorísticos, de análise psicológica, de denúncia social, entre outros. Desde o início do Modernismo, em especial dos anos 70, o número de contistas no Brasil cresceu consideravelmente. Os tipos mais usados são o conto sóciodocumental, o conto simbólico-visionário, o conto fantástico e o conto de introspecção. No conto sócio-documental, o tema principal são as aglomerações urbanas, vistas como espaço da violência crescente no Brasil, que atinge tanto a classe dominada quanto a classe dominante. Entre os autores dessa corrente estão Rubem Fonseca, Dalton Trevisan e João Antonio. No conto simbólico-visionário, a história é símbolo da condição humana ou de uma situação humana e seu significado vai além da palavra. O maior representante desse tipo de conto é Guimarães Rosa, que deu uma dimensão universal e visionária ao nosso regionalismo. Seus contos exigem que o leitor perceba uma segunda história presente nas entrelinhas da trama narrativa, a qual tece o caráter simbólico do texto. Por outro lado, os dos contos fantásticos tendem para o caráter alegórico, contrapõe dois sentidos; um literal (sentido próprio) e um alegórico (sentido figurado). Alguns autores que escrevem contos nessa vertente são José J. Veiga, Murilo Rubião e Lygia Fagundes Telles. Já o conto de introspecção tem como característica focalizar o reflexo dos acontecimentos no interior das personagens e a busca da significação de suas experiências. A grande representante desse tipo de conto é Clarice Lispector; em seus contos são as próprias personagens que expõe seus conflitos, dúvidas, medos e situações-limite. 3. Clarice Lispector Clarice escreveu diversos livros, desde romances até contos, passando ainda pelas crônicas e livros infantis. Além da repercussão nacional, as obras de Clarice Lispector tiveram uma grande projeção internacional e foram publicadas em diversos países do mundo: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, França, Israel, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Polônia, Rússia, Suécia, República Tcheca e Turquia. Muitos críticos fizeram leituras da obra de Clarice Lispector – considerando leitura como sinônimo de crítica, abordagem e interpretação – alguns dos mais importantes foram: Antonio Candido, Álvaro de Lins, Roberto Schwars, Costa Lima e Benedito Nunes. Antonio Candido aproxima Clarice Lispector de Mário e Oswald de Andrade, pelo seu “compromisso com a linguagem e não com a realidade empírica” (Sant’Anna, 1973, p.182). Segundo Antonio Candido, os romances de Clarice são de aproximação: O seu ritmo é um ritmo de procura, de penetração que permite uma tensão psicológica poucas vezes alcançada em nossa literatura contemporânea. Os vocábulos são obrigados a perder o seu sentido corrente, para se amoldarem às necessidades de uma expressão sutil e tensa, de tal modo que a íngua adquire o mesmo caráter dramático que o entrecho (CANDIDO, 1977, p. 129). Álvaro de Lins, ao tentar explicar a estranheza do texto de Clarice, coloca-a ao lado de James Joyce e Virgínia Woolf. Ressalta as virtualidades estilísticas da autora, sua “exuberância verbal”, o uso singular de adjetivos, a combinação de vocábulos muitas vezes audaciosa, o jogo com as palavras; mas mesmo assim ainda considera que o romance Perto de um coração selvagem “parece inacabado e mutilado”. Álvaro de Lins diz que falta ao romance de Clarice um “ambiente mais definido e estruturado”, além de personagens com existência real. (SANT’ANNA, 1973, p. 183). Roberto Schwars, por sua vez, valoriza na escritora a presença do ‘momento’ em detrimento do ‘histórico’, mostrando que aí o tempo inexiste como possibilidade de evolução. [...] Percebe claramente nos textos de Clarice aquilo que hoje se poderia chamar de narrativa de estrutura complexa. (SANT’ANNA, 1973, p. 183). Costa Lima identifica Clarice como autora de “romances introspectivos”. Em relação a cada obra, ele aborda os critérios de verossimilhança que Clarice usa para estruturar a narração e os personagens; discute a pertinência ou não de sua composição; e, muitas vezes, discute juízos teóricos ou a visão ideológica da autora. Já Benedito Nunes assinala, [...] o desenvolvimento de certos temas importantes da ficção de Clarice Lispector [que] insere-se no contexto da filosofia da existência, formado por aquelas doutrinas que, muito embora diferindo nas suas conclusões, partem da mesma intuição kierkegaardiana do caráter pré-reflexivo, individual e dramático da ‘existência humana’, tratando de problemas como ‘a angústia, o nada, o fracasso, a linguagem, a comunicação, das consciências, alguns dos quais a filosofia tradicional ignorou ou deixou em segundo plano (SANT’ANNA, 1973, p. 184). Clarice Lispector utilizou muito o monólogo interior em seus romances. No monólogo interior, a narração se transfere à personagem, que fala para si mesmo; esse procedimento sintoniza a palavra com o pensamento fluente da personagem, reflexivamente encadeado, seja ele lógico e intelectual ou ilógico e afetivo. Além do monólogo interior, o discurso indireto livre é muito marcante em seu estilo. O que ocupa lugar de destaque na cosmovisão de Clarice são as preocupações com a linguagem, a natureza específica da ficção e da vida. Outro aspecto importante são os tempos verbais, que mostram a existência de uma temporalidade na escritura, uma perspectiva do narrador, além da vivência do escritor. Em seus romances, Clarice Lispector utiliza muito os recursos de tempos verbais e de focos narrativos. Nos romances de aproximação, a escritora cria uma tensão psicológica que reflete uma espécie de tensão lingüística. A imprevisibilidade irrompe entre clichês sociais e lingüísticos. Nos contos, destaca-se o mundo da opacidade, cujas personagens não querem escapar da sua rotina, mecanicizada e aparentemente confortável. Suas personagens refletem as angústias do homem do século XX; frustrações e anseios, decorrentes da mecanicização da vida e do trabalho. Há, na obra de Clarice, a presença recorrente do drama existencial. A romancista inaugura a ficção metafísica na moderna Literatura Brasileira, contribuindo de imediato de forma significativa e inovadora. Os críticos e historiadores são unânimes em marcar a singularidade do estilo de Clarice; sua performance é tão “diferente” como suas personagens. Por isso, estilisticamente, sua obra pode ser concebida como um “estranhamento” no quadro da nossa ficção. Clarice tem uma “naturalidade” em sua escrita. Sua obra não é uma metáfora existencialista, no máximo uma metáfora existencial. Olhar sua obra com um enfoque social ou filosófico é dar valor aos modelos conscientes em detrimento dos modelos inconscientes de composição vigentes em sua obra – como a epifania.A questão da epifania nas obras de Clarice Lispector é um tema recorrente na crítica brasileira. Álvaro Lins, Roberto Schawarz, Benedito Nunes, Luis Costa Lima, Massaud Moisés, Costa Lima, João Gaspar Simões e Affonso Romano de Sant’Anna foram alguns dos principais críticos a falar sobre a epifania em Clarice. Denominando-a como um ‘instante existencial’, ‘momento privilegiado’, ‘descortino silencioso’ ou simplesmente epifania, eles a traduzem ou a conceituam de forma diversa: uns como uma revelação interior de duração fugaz; outros como um momento excepcional, revelador e determinante; ou ainda como um fenômeno, onde no ponto maior da dualidade entre o ‘eu’ e o ‘outro’, que se dissimula sob diversos disfarces, ocorre a epifania, como momento necessário e insustentável de tensão na narrativa. Não se pode dizer que os desfechos de seus contos apontam para a resolução dos conflitos; os conflitos são interiores, revelados e enunciados na narrativa. E o retorno ao equilíbrio da situação inicial, antes de se deflagrar a revelação ou a epifania, é praticamente impossível. Em seus contos, Clarice respeita as características fundamentais do gênero; concentrados em um único episódio, focalizam um momento carregado de significação, um momento denso na vida do personagem. Suas três principais coletâneas de contos são Laços de família, A legião estrangeira e Felicidade clandestina. O núcleo da narrativa dos contos é o momento de ‘tensão conflitiva’; em alguns contos essa tensão se dá subitamente e estabelece uma ruptura da personagem com o mundo; em outros, a crise se mantém do início ao fim do conto. Essa crise pode advir de causas diversas: devaneio, mal-entendido, incompatibilidade entre pessoas, embate de sentimentos. Pode ser decorrente de sentimentos de culpa, cólera, ódio ou loucura que se manifestam diante de uma situação inesperada. Numa leitura sintagmática dos contos de Clarice, Affonso Sant’Anna, na sua obra Análise Estrutural de Romances Brasileiros, assinalas que o narrador é sempre em 1a e 3a pessoas do singular, o que nos levar a perceber que “o foco narrativo não traz inovações ou rupturas violentas em relação aos métodos tradicionais de narrar”. Além disso, destaca o “uso do discurso indireto livre e de ligeiros diálogos dentro de um clima de naturalidade” (SANT’ANNA, 1973, p.191). E a seguir, o crítico acrescenta que não há cortes espaço-temporais violentos. “Os contos transcorrem por lugares conhecidos, privilegiando os mais diversos bairros cariocas numa marcação cronológica de dias e noites [...], idas e vindas das personagens”. (SANT’ANNA, 1973, p.191) . Em sua leitura paradigmática, Sant’Anna apresenta-nos um levantamento, destacando os motivos mais recorrentes nos contos de Clarice, sendo os mais importantes a linguagem e a epifania. Os dez motivos arrolados são referentes às obras Legião Estrangeira e Laços de Família e são os seguintes: espelho, olhos, bichos, linguagem, família, objeto, jogo/rito, pai, o eu x outro e epifania. Para uma melhor compreensão dos motivos arrolados por Affonso Sant’Anna, procederemos a uma síntese dos aspectos que nos pareceram mais relevantes: O espelho não tem uma relação direta como o mito de Narciso e “é um objeto que ganha mais sentido quando correlacionado com outros tópicos através de um sistema de contigüidade: os olhos, os animais, o eu x outro”. Por sua vez, os olhos, motivo presente de forma significativa nos contos das duas coletâneas, “abre-se por um campo semântico definido”[...] “por termos como: a cegueira, óculos, estrabismo, miopia” (SANT’ANNA, 1973, p.197). No tópico referente aos bichos, o crítico afirma que “identidade entre o homem e o animal, como variante da dialética do Eu x Outro aparece implícita e explicitamente em praticamente todos os trabalhos de Clarice”, inclusive naqueles em que não há uma referência direta aos animais (SANT’ANNA, 1973, p.197). Quanto à linguagem, o crítico assinala que, implicitamente, esta “vai se vincular a problemática da epifania e surge como decorrência da ‘procura’ e do ‘encontro’ do Eu e do o Mundo”. E a seguir acrescenta que “o envolvimento do personagem com a linguagem expressa um ritual presente em seus romances”; e “alguns vocábulos servem de eixo e têm um sentido específico no léxico de Clarice” (SANT’ANNA, 1973, p.198). No tópico referente à família, é destacado o modo como a escritora aborda as relações familiares, ou seja, “surpreende o trivial, o corriqueiro da situação familiar e espreita atrás do cotidiano o advento de uma epifania qualquer”. (SANT’ANNA, 1973, p.198). Em seu estudo, Sant’Anna afirma que a dialética de sujeitos e objetos está presente em todas as narrativas de Clarice e que “essa identidade é parte da ocorrência epifânica quando o indivíduo se põe ao nível das coisas, animais e dos outros homens”. Além disso, destaca os objetos recorrentes em diversos contos, tais como: o chapéu (em Os laços de família), o saco de compras (em Amor) e os óculos (em diversos contos). (SANT’ANNA, 1973, p.197, 198). O jogo/rito, segundo o crítico, está relacionado a outros aspectos e “vai ter seu sentido completado quando vinculado a epifania”. Além disso, nos mostra que são tênues os limites entre o jogo e o rito, e a seguir acrescenta que: Toda ação se manifesta como um ritual que comporta jogos curtos. No ritual o resultado é sempre previsível, com poucas variações. O aleatório existe, mas não disturba as regras básicas da composição. Aí estão: a tensão, a sensação de liberdade, a evasão da vida real, a representação – e uma série de outras características que Huizinga aponta na natureza e significado do jogo. (SANT’ANNA, 1973, p.199) No caso do oitavo motivo, “O PAI”, as principais referências são: o nome Pai, propriamente dito, Deus, ‘o par mais velho’ ou a variante da imagem de pai, que surge na figura do professor. (SANT’ANNA, 1973, p.200). Em relação ao nono motivo, Eu x Outro, o conflito entre duas figuras ou dois elementos é tema de 24 dos 26 contos estudados, segundo Sant’Anna, e muitas vezes, o termo “eu” e “outro” vêm destacados em negrito ou entre aspas. (SANT’ANNA, 1973, p.200). Ao abordar o último motivo, o da epifania, Sant’Anna destaca novamente que o termo não aparece na obra de Clarice Lispector, mas a sua presença pode ser apreendida quer pela atmosfera criada, quer pela escolha lexical: “crise”, “náusea”, “inferno”, “mensagem”, “assassinato”, “cólera” e “crime” (SANT’ANNA, 1973, p.201). As reações nauseantes aparecem repetidamente nos seus romances e contos e são o ponto de ruptura do sujeito com o cotidiano, tendo sempre uma função reveladora. A náusea é o modo extremo do descortínio contemplativo e silencioso que a fascinação das coisas provoca nos personagens de Clarice. Por outro lado, as personagens são modelos psicológicos e psicanalísticos, elas se acham convertidas em elementos que interagem dentro de uma estrutura configurada pela narração de Clarice. O estudo de Sant’Anna buscou observar além dos nomes, as semelhanças dos elementos. A primeira observação sobre as personagens é a predominância quase que absoluta de tipos femininos. Segundo Sant’Anna, os “tipos” que mais se repetem nas estórias de Laços de Família e de Legião estrangeira são: o professor, essa figura oscila entre dois significados, ora é o individuo experimentado, hábil no jogo da vida e dos sentimentos, guiando o outro, ora é refúgio da racionalidade, um representante do raciocínio lógico; os meninos/adolescentes, sempre desafiadores, e em confronto com adultos; os velhos significam sempre os excluídos da sociedade e manipulados pelos jovens; os casais, que “construídos numa relação medial entre “eu” e o “outro”, se espelham em si mesmo na busca de identidade e identificação”; a dupla de amigos, cujo relacionamento repete o mesmo esquema do “eu” e do “outro” dos casais; e o homemanimal, um e outro se complementando, servindo como espelho e identificação (SANT’ANNA, 1973, p.203, 204). Resta-nos ainda assinalar, que no universo das personagens o ponto de maior tensão entre o Eu e o Outro ocorre no momento epifânico. Depois da revelação, a personagem fica definitivamente pertubarda ou “regressa ao repouso inicial. Mas continuará para sempre ‘ferido nos olhos’” (SANT’ANNA, 1973, p.206). A escritura clariceana e, por conseguinte, toda a sua obra são instintivas, intuitivas e sensoriais; as ressonâncias dos fatos são mais importantes do que os fatos em si. Nos contos “Laços de família” e “A imitação da rosa”, retirados da coletânea Laços de Família e “Legião estrangeira”, extraído da obra A Legião Estrangeira; há a oposição e confronto entre o “eu” e o “outro”, que é mantida ao longo de todo o conto como um eixo da narrativa. Os contos de Laços de família giram em torno da “prisão doméstica” dos ritos familiares e do convencionalismo social. Clarice Lispector nos apresenta uma galeria de personagens femininas que vivem o modelo da dona-de-casa tradicional. Um modelo que fixa a mulher em papéis estabelecidos, que como uma força opressiva que a desencoraja de articular de modo claro sua própria vida. Os contos mostram o aprisionamento a que está fadada à condição humana e o desejo de liberdade ilimitado que a persegue. Segundo Fábio Lucas, “Clarice Lispector explora a fragilidade do ser diante do compromisso inevitável com a vida.” (LUCAS, 1922-1982, p. 131). Laços de Família também está impregnado de intenção crítica já que suas personagens fazem parte da sociedade burguesa, e suas relações condicionam e limitam sua liberdade, em troca de valores ilusórios. Para fazer sua crítica, Clarice utiliza-se do valor mais estimado da classe burguesa, a estabilidade, e nos mostra que os laços que ela estabelece constituem uma prisão, na qual os mecanismos do cotidiano condenam a pessoa ao tédio e à rotina. A busca da felicidade no quadro familiar resulta normalmente em fracasso. De um modo geral, suas personagens são seres fracos, desajustados, frustrados, que se escondem por trás de uma “casca” que os envolve de angústia. Têm um momento de lucidez, ou seja, um momento epifânico, que lhes permite vislumbrar a rotina que as cega e as esmaga, revelando-lhes ainda sua fragilidade e insegura. A única solução, então, é refugiar-se na rotina, onde se escondem das próprias fraquezas, ambições e frustrações. São seres que se movem conforme as imposições e convenções familiares e sociais. Faltam-lhe vontade própria e autodeterminação; podese dizer que não têm completa consciência das coisas, nem liberdade de ação. “A imitação da rosa” nos mostra mais especificamente o tema da disparidade entre o cotidiano ordenado e a vida extraordinária de que correspondem, aqui, aos dois estados de Laura, de sanidade e de insanidade. Clarice Lispector nos leva a identificar as mazelas e a deterioração de nossas estruturas e valores. Enfoca o desmoronamento de todo um complexo de instituições, fórmulas e convenções sociais; a coisificação do homem. Aponta, acima de tudo, a situação dramática da mulher dentro da estrutura social vigente. Em determinados momentos, a mulher deseja se libertar da rotina que lhe é imposta pela vida cotidiana. Mas as suas atitudes oscilam entre dois pólos: ou ela se molda e se torna a mãe desvelada, a esposa perfeita conforme as expectativas familiares ou, de forma mais abrangente, de acordo com as expectativas de uma determinada sociedade; ou ela não se enquadra, e é rejeitada por ser diferente. Entretanto, se quebra da rotina traz a sensação de liberdade, ela provoca também sentimentos de angústia e de medo face a uma situação nova; se a rotina é mantida, o enfado tende a se agravar. É assim que o homem vai enfraquecendo, destruindo os laços que o unem à própria vida. A epifania se dá justamente quando essa “casca” do cotidiano, representado pela rotina, o mecanicismo e o vazio, é quebrada. A casca do cotidiano de Laura, por exemplo, é quebrada ante a perfeição das rosas sobre a mesa, quando ela transpõe sua obsessão. Segundo Olga de Sá, “[...] a epifania é um modo de desvendar a vida selvagem que existe sob a mansa aparência das coisas [...].” (SÁ, 1979, p. 106) Porém, após esse “momento excepcional”, Laura volta à realidade anterior; a personagem “vai vivendo” e não tem, nem quer ter a percepção do cotidiano vazio a sua volta. No conto “A imitação da rosa”, temos o instante de revelação como uma autodescoberta e a recusa da personagem a esse chamado, com conseqüente retorno aos hábitos do dia-a-dia, pois se ela não voltasse ao seu estágio inicial, anterior à epifania, ela estaria desagregada da família. Os seus contos cumprem, desse modo, “o destino mais alto da obra de arte: ensina-nos a ver e a compreender o mundo e os seres que nos cercam.” (SÁ, 1979, p. 41) Referências BOSI, Alfredo. Clarice Lispector. In: ______. História concisa da literatura brasileira. 41. ed. São Paulo: Cultrix, 2003. CÂNDIDO, Antônio. No raiar de Clarice Lispector. In: ______. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1977. CORTÁZAR, Júlio. Alguns aspectos do conto. In: ______. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1974. COUTINHO, Afrânio. A ficção modernista. In: ______. Introdução à Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do Conto. São Paulo: Ática, 1990. HOHLFELDT, Antônio. “O conto de atmosfera”. In:______. Conto brasileiro contemporâneo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983. LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. São Paulo: Ática, 1977. _________. Felicidade clandestina. 1. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. _________. Laços de família. 27. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. LUCAS, Fábio. O conto no Brasil moderno: 1922-1982. In: Do barroco ao moderno. São Paulo: Ática, 1989. MELLO, Ana Maria Lisboa de. Caminhos do conto brasileiro. In: ______. TETTAMANZY, Ana Lúcia L. Etalli. Momentos do conto brasileiro - Ciências e Letras – Revista da Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras (FAPA), nº34, 1979. NUNES, Benedito. O drama da linguagem – uma leitura de Clarice Lispector. 2. ed. São Paulo: Ática, 1995. _________. O tempo na narrativa. 2. ed. São Paulo: Ática, 1995. PORTIERI, Regina. Clarice Lispector, uma poética do olhar. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999. SÁ, Olga de. A escritura de Clarice Lispector. Petrópolis: Vozes, 1979. SANT’ANNA, Afonso Romano de. A análise estrutural de romances brasileiros. Petrópolis: Vozes, 1973. WALDMAN, Berta. Clarice Lispector – a paixão segundo C. L. 2. ed. São Paulo: Escuta, 1992.
Download