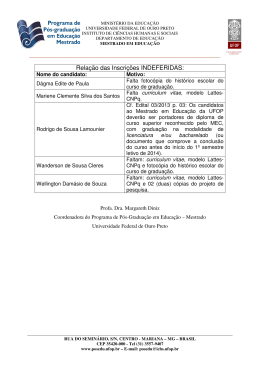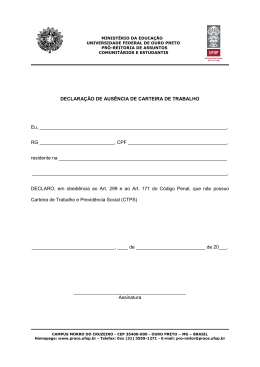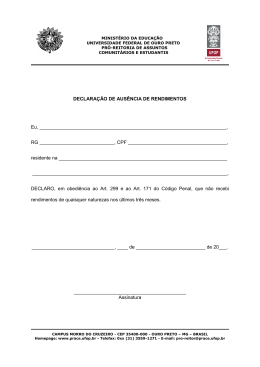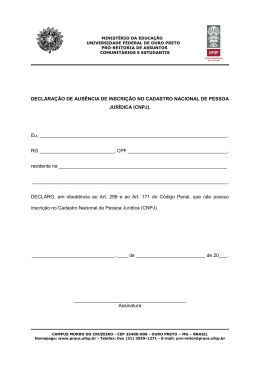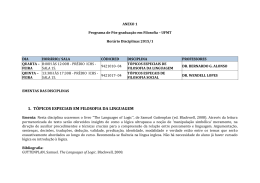MEMÓRIAS SENTIMENTAIS: lembranças de um ex-aluno (1984-1988) Joaci Pereira Furtado∗ No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, Eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, E a alegria de todos, e a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, De ser inteligente para entre a família, E de não ter as esperanças que os outros tinham de mim. [...] Fernando Pessoa Que é o nosso passado, se não uma série de sonhos? Que diferença pode haver entre recordar sonhos e recordar o passado? Jorge Luis Borges Alegra-te, jovem, com tua juventude. Eclesiastes 11, 9 Poderia principiar dizendo que “é bom estar aqui”, como se as virtudes do lugar se confundissem com a satisfação do momento. Ou que “é uma honra estar aqui”, como se desta mesa emanasse uma fulgurante dignidade contagiando todos que se sentam a ela. Ou que “é maravilhoso estar aqui”, como se a este encontro não lhe bastasse a singularidade e fosse preciso ressaltar-lhe o que tem de prodigioso. Ou ainda que “é fantástico estar aqui”, agora alçando o evento ao plano do imaginário, como se a realidade fosse incapaz de comportá-lo e todos gravitássemos numa outra atmosfera, para muito além de onde circulam os mortais. Mas nesta fala não me parece caber qualquer lugar-comum com que se capta a benevolência do ouvinte ou se adianta o vazio do discurso, fastidiosamente emplumado de adjetivos para se lhe ocultar a nudez de verbos. Não me parece caber nem mesmo a lição do velho Antônio Vieira que com Quintiliano nos ensina que certos sermões dispensam preâmbulos, uma vez “que as grandes ∗ . Graduado em história pela Universidade Federal de Ouro Preto, é mestre e doutor em história social pela Universidade de São Paulo. Sua dissertação de mestrado Uma república de leitores: história e memória na recepção das Cartas chilenas (1845-1989) (Hucitec) recebeu os prêmios Moinho Santista Juventude 1996 e Jabuti 1998. Autor de livros didáticos e paradidáticos de história, organizou edição das Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga (Companhia das Letras), e é coordenador editorial da Globo Livros, divisão da Editora Globo S/A. 2 ações não hão mister exórdio: elas per si mesmas ou supõem a atenção ou a conciliam”1. Como não tenho ações assombrosas ou edificantes a narrar, mas apenas lembranças fragmentadas e até incômodas, e como não me sinto bem, nem honrado, nem maravilhado e muito menos fantasiado numa situação que se me afigura como a do bêbado da festa, sempre muito sincero em seus afetos e indiscrições, adentro com franqueza e talvez com “duas mãos / e o sentimento do mundo”2 meu passado de estudante no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, certo de que em meu lugar poderiam estar outros tantos, trazendo seus estilhaços de recordações para restaurar as ruínas eternamente incompletas desta instituição que clama por sua “história com todas as letras”. Ao escrever este texto, com o pensamento solto, a primeira imagem do ICHS que me veio à lembrança foram os holofotes de alumínio em meio a densas teias de aranha, no beiral do prédio de aulas. Depois me dei conta que nenhuma outra imagem seria tão adequada para sintetizar as impressões que a vivência no instituto me legou. O misto de desleixo e ruína que aquele acúmulo de teias sugeria contrastava com os reluzentes artefatos de desenho algo arrojado, como a dizer que ali conviviam o velho e novo, o abandono e a inovação, a indiferença e a ousadia. É essa tensão que dá o tom à percepção que hoje tenho daqueles anos vividos aqui. Estávamos em 1984. Do que se ouvia nas rádios, lembro-me de Milton Nascimento, que já não era mais o mesmo de Clube da esquina, entoando o hit “Coração de estudante”. Lobão repetia o refrão: “Aonde está você?”. O Barão Vermelho estava em plena ascensão, com a lírica agressividade de Cazuza à frente. No pop internacional desfilava a figura andrógina de Boy George. Vi o documentário Jango “o filme das Diretas”, como se dizia , de Sílvio Tendler, no antigo Cine Pathé de Belo Horizonte, tomado pela emoção indescritível de presenciar a revelação da verdade sonegada. (Não me esqueço de parte da platéia aplaudindo Leonel Brizola, quando ele surgiu na tela pela primeira vez.) E o romance de George Orwell não se confirmou como uma profecia se é que alguém chegou a acreditar nisso. O mais próximo daquela sociedade ultra-vigiada e administrada, pensava, talvez fosse a União Soviética e seus satélites. Ou o totalitarismo atrás da Cortina de Ferro seria pura distorção da propaganda anticomunista dos Estados Unidos? Seja como for, não me lembro de ouvir falar em “ameaça comunista”, mas recordo-me bem de minha sensação de insegurança ante o movimento das Diretas Já, que tomou ao menos os principais centros urbanos do Brasil meses a fio. Não participei de nenhum comício, não só pelo receio provinciano de me ver em meio a multidões tão gigantescas mas sobretudo por estar alienado em minhas angústias de vestibulando, com os testes me aguardando em julho. 1 . VIEIRA, Antônio. “Sermão da primeira dominga do advento”. In: Sermões. Lisboa, Lello & Ir., 1951. v. 1, p. 37-8 (a ortografia foi atualizada). 2 . ANDRADE, Carlos Drummond de Andrade. “Sentimento do mundo”. In: Antologia poética. 15a. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1982. p. 105. 3 Espreitava tudo a uma distância segura. Não saberia avaliar, naquela altura, o que a campanha pela aprovação da emenda Dante de Oliveira significaria na história do país. Mas percebia com clareza que era difícil manter-se neutro ou indiferente, ainda que afastado. Não havia esse luscofusco pós-Muro de Berlim, em que todos os gatos são pardos. Ser de esquerda ou de direita fazia todo sentido e diferença, por mais que se tentasse travestir o conservadorismo com eufemismos como “centro” ou “liberal”. Vivíamos os anos mais politizados da história recente do Brasil. Penso ser difícil falar de meus quatro anos no ICHS sem levar em conta a politização e a ebulição cultural que agitavam a sociedade brasileira naqueles anos. A paisagem bucólica e a precária infra-estrutura do instituto, com a lenta restauração do prédio em andamento, podia induzir a uma falsa imagem da então mais jovem unidade da UFOP, paradoxalmente instalada onde funcionara, durante mais de dois séculos, vetusto seminário. Por seus corredores agora circulavam alguns proto-punks, trotskistas, drogaditos, tardo-hippies, comunistas, enrustidos ou pequenas somas confusas de um pouco desses tipos. E a massa silenciosamente bovina de apáticos, tendencialmente conservadora e mediana, majoritariamente ouro-pretana e marianense, acomodada à rotina das aulas enquanto espera o diploma ao cabo de quatro anos de curso, percorridos sem vida acadêmica além das horas passadas ouvindo o monólogo do professor. Mal sabia que era objeto de disputa em intermináveis reuniões de centros e diretórios acadêmicos, arena em que digladiavam as incontáveis tendências a pulverizar o movimento estudantil e ao mesmo tempo laboratório de futuras lideranças políticas. Com o tempo, ainda estudante, concluí que as palavras de ordem inflamavam muito mais os próprios militantes do que a turba que eles julgavam conduzir. Isso não significa que o movimento estudantil fosse inócuo. Não posso avaliá-lo em sua dimensão nacional, mas dentro da UFOP, e particularmente no ICHS, naqueles anos sua capacidade de mobilização era considerável. Uma paralisação de estudantes, em 1982, que contou até com greve de fome, resultou em cancelamento de semestre e ingerência do MEC, que nomeou um interventor Maurício Lanski para debelar a crise. Na greve geral de 1985, que atingiu creio que todas as federais brasileiras, os estudantes revezavam com professores e funcionários em discursos em acaloradas assembléias, participavam de piquetes e passeatas e foram decisivos nos desdobramentos dessa paralisação que durou pelo menos dois meses. No ICHS, creio que ainda antes de 1983, em caso talvez único no mundo, os estudantes escaldados pela federalização do campus avançado da PUC-MG que resultou na formação do corpo docente inicial do instituto conquistaram o direito de ter um observador nas bancas de seleção de professores. Em 1986, eleito para o DA do instituto numa chapa a UTI (Unidade & Trabalho Intensivo) encabeçada por Antônio Luiz Vieira, o legendário Tonhão, lembro-me 4 que um professor, em plena sala de aula, comentou a votação, precedida de acirrada disputa, e manifestou sua preferência pela chapa derrotada, que contava com a simpatia da ala mais à esquerda do corpo docente. Eu estava presente e não soube defender meus companheiros, confesso. Em parte pelo temperamento tímido e pouco afeito ao confronto verbal, em parte porque não estava convicto de integrar o movimento estudantil daquela forma e muito menos por meio de um grupo tido como vinculado ao PCB (era simpatizante do PT, que naquela altura era um partido de esquerda). Mas a atitude do professor dá bem a medida da relevância do movimento estudantil dentro da universidade. Se não eram temidos, com certeza os estudantes eram ouvidos. Não havia mesmo como nos ignorar, porque alguns de nós eram estridentes, seja nos embates com a diretoria do ICHS então chefiada pelo excêntrico e anacrônico cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho ou com a reitoria da UFOP conduzida por Fernando Antônio Borges Campos, o anódino Fernando ABC , seja no cotidiano da sala de aula, criticando e enfrentando professores sem a menor piedade, inclusive com manifestações públicas e formais contra eles (como O Paredão, jornal anônimo e efêmero, de exemplar único e um número só, afixado numa das colunas das arcadas, em que vários docentes eram satirizados; ou o igualmente impagável manifesto Apelo à razão, do estudante de história Hélio Rebelo, o Helinho, também afixado no corredor das arcadas). Alguns deles foram postos à prova até o limite da razão. Lembrança incômoda, com certeza, mas que não seria honesto de minha parte silenciar. Porque foi o modo pelo qual vivenciou-se aquela permanente tensão a que me referi. E que talvez tenha sido uma das principais forças a impedir que o ICHS naufragasse como edulcorada “faculdade” interiorana, repleta de professores bonachões e medíocres e de alunos patética e orgulhosamente alcoólatras. Graças a vários estudantes que fizeram do instituto a razão ordenadora de suas vidas algo que poderia acontecer somente numa instituição de ensino pública e gratuita , que passavam o dia todo na (lacunar e insalubre) biblioteca e em salas de aula, que faziam de seu prédio e entorno espaços para experimentar a leitura, a reflexão, as artes, o embate de idéias, a criatividade, o sexo, as drogas, outros comportamentos ou até mesmo novas personas; graças a esses jovens procedentes de outras cidades mineiras e estados do Brasil, movidos por uma busca ainda que difusa ou incerta de saber ou da simples aventura iniciática de “sair de casa”, freqüentemente infectados pela doce paixão juvenil de transformar o mundo (bem, naqueles tempos muitos jovens desejavam isso) sem esperar outros dividendos que não fossem as próprias mudanças (que, em geral, nunca se alcança); graças a eles, insisto, que tantas vezes erraram com total convicção, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto pôde constituir uma vida efetivamente acadêmica. Que sempre esteve longe das aulas, dos órgãos administrativos e dos conselhos de docentes. Anos depois, já doutorando, é que ouvi de 5 um colega de USP a formulação que equaciona essa distância: a vida acadêmica começa onde termina a rotina institucional. Talvez tenha sido a principal lição aprendida no ICHS. Trocas de textos, sugestões de leitura, especulações filosóficas entremeando conversas banais, demoradas entrevistas com professores no corredor ou ao fim da aula, puro exercício de oratória ou arrebatadas defesas de princípios em assembléias estudantis, grupos amadores de música e teatro, eleições e reuniões do Diretório Acadêmico talvez tenham me ensinado tanto ou mais que as aulas regulares que constam de meu histórico acadêmico. Não me esqueço da noite varada com os cinco colegas de diretoria do DA Tonhão, José Eduardo de Oliveira (o impagável Tôca, não confundir com o outro), Silvana Pessoa, José Donisete (sic) Silva e Julinha Mitraux para confeccionarmos um jornal a tempo de incluí-lo na pauta da reunião de um órgão colegiado do instituto. Experiência singularíssima, para mim, a de ver todos os alunos partirem, o prédio fechar, a ronda do vigia estranhando aquele conciliábulo, nós encerrados na sala da entidade estudantil até o sol raiar. Foi em 1986 ou 7. O jornal não emplacou, por algum motivo que até hoje desconheço, mas o trabalho foi inútil? Do conteúdo do periódico não me recordo. Não recordo com exatidão nem mesmo como e para quê o fizemos. Porém, lembro-me da sensação inefável de estar ali, mobilizado por uma causa, sem solenidade ou poses martirológicas, satirizando problemas e personagens do instituto, rindo de nós mesmos e destilando nosso sarcasmo contra até os que admirávamos, tendo um cartaz do centenário de Manuel Bandeira por testemunha e padroeiro. Trabalho inútil, com certeza. Mas sintomático de nossa disposição, de nossa teimosia, sobretudo de nossa capacidade de ter opinião, de nos posicionar, de defender idéias. Não é isso que se espera de uma universidade? Naqueles anos, sim. Estudantes assim havia outros tantos, vários deles nos fazendo oposição. Creio que a maioria. Somados, certamente não eram muitos, como talvez seja em qualquer época e universidade. Como a que eu vivi foi aquela, é apenas dela que posso falar. Tempos pioneiros, em que o glamour de estudar história e letras em Mariana (ou Ouro Preto? Para quem vinha de longe, era esta a cidade que saltava da sigla UFOP) obscureceu a precariedade dos cursos, atraindo notável contigente de talentos. Ou ao menos de pessoas decididas a apostar anos de sua juventude como estudantes do ICHS. Hoje, passados entre dezesseis e vinte anos, lembro-me de nomes e rostos, que em minha memória vão se apartando numa multidão de rostos sem nomes e nomes sem rostos. Dos pares que ainda restam unidos, diviso com nitidez a figura entre altiva e arrogante de José Eduardo, o atlético trotskista estudante de história e mestre de capoeira que tanta antipatia granjeava com seu desprezo pelas convenções e sua implacável dialética em defesa de posições tidas por radicais, invariavelmente provocativas, sempre militantes, nunca conformadas, algumas vezes perturbadoras. Sua radicalidade explica seu isolamento, ainda que contasse com simpatizantes e aliados (poucos, é certo) inclusive entre professores. Enquanto 6 fui aluno, não o vi candidato ao DA ou ao DCE, mas ele fazia da militância estudantil um misto de profissão e missão. Louvo Zé Eduardo. Recordo-me perfeitamente de vê-lo diante de uma banca de seleção de professor substituto do Departamento de História (ou de Educação, não sei precisar), vaga à qual se candidatou apenas com a licenciatura concluída. Risível prepotência, julguei à época e creio que muitos compartilhavam do mesmo juízo. Reconheço que havia uma desdenhosa displicência em seu comportamento perante os examinadores. Mas também invejável destemor, percebo hoje. Coerente com as vezes em que o vi enfrentando a esmagadora maioria em assembléias gerais promovidas pelo DCE, argumentando, acusando, desafiando. Numa delas, calou a insinuação de oponentes que ameaçavam agredi-lo fisicamente, lembrando seus dotes de capoeirista. Louvo, pois, Zé Eduardo e com as insuspeitas palavras do cônego diretor, que em certa ocasião me afirmou considerá-lo importante para o instituto justamente por seu inconformado espírito crítico, por mais equivocado ou apaixonado que fosse, porque ele nos fazia reagir. Louvo todos os (poucos) alunos da primeira turma de história e letras que, ingressando no início de 1981, graduaram-se no ICHS em 1984. Dos estudantes que passaram pelo instituto, com certeza foram os que mais padeceram com sua precariedade, pois sequer encontraram salas para as aulas iniciais, ministradas no antigo Colégio Providência. Briguentos, debochados, às vezes até insolentes, não tinham medo ou vergonha de escancarar as mazelas da instituição, sobretudo quando se aproximava o momento da formatura, com os cursos ainda não reconhecidos pelo MEC (o que ocorreria somente em 1987). Se não tivessem pressionado tanto pelo desfecho do processo, com o devido estardalhaço, certamente continuariam com os diplomas inválidos por um bom tempo. Ainda assim, ou por tudo isso, como epígrafe do convite de formatura estamparam aquele famoso verso de Fernando Pessoa: “Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. Que fique bem claro: a iconoclastia de muitos desses estudantes não era gratuita, por mais que se lhes possa acusar de impetuosidade juvenil. E suas críticas não eram infundadas, mesmo que suas atitudes fossem no mínimo discutíveis. Como disse acima, entre eles havia diversos que efetivamente experimentaram a vida acadêmica, no seu sentido mais pleno, e esperavam de professores e funcionários a mesma postura. Por isso eram, antes de tudo, alunos muito estudiosos. Tonhão, por exemplo, era leitor voraz. Conheci bem de perto sua fornida biblioteca. Não por acaso, foi monitor da disciplina “Iniciação filosófica”. Zé Eduardo freqüentou a mesma disciplina eletiva (ainda se usa esse termo?) que eu, na área de história da América, e me lembro da consistência de seus argumentos, demonstrando que dogmatismo marxista-leninista não significa indisciplina com os estudos. Era prosaica a fama de Helinho como um dos mais brilhantes alunos do curso de história, leitor refinado e arguto, de sofisticada erudição, dado à complexidade da reflexão teórica. Convivi bastante com Silvana Pessoa, de 7 letras, implacável quando se tratava de demolir seu curso e do mesmo modo inexorável quando o assunto era literatura. Louvo, enfim, todos os que, naqueles anos, sonharam com um ICHS “centro de excelência”, empenhando-se de maneira mais (ou menos) anônima para que a instituição se aproximasse disso. Em alguns momentos esse anseio me pareceu tangível, como na noite em que presenciei Haroldo de Campos lendo trechos de Galáxias no salão do LPH (hoje, parte da biblioteca). Ou com o seminário sobre marxismo capitaneado pelo professor Carlos Fico, que reuniu nomes expressivos de diversas universidades. Ou durante o II Ciclo de Estudos do ICHS, em 1985, com Ciro Flamarion Santana Cardoso na época, cultuado por minha turma como Deus encarnado. De fato, com sua tenra idade e em meio à efervescência política e cultural dos anos 1980, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP podia ser pensado como instrumento das transformações que então pareciam estar ao alcance das mãos. Nunca esquecerei a cena em que dois estudantes de história, estirados sobre a mesa de pingue-pongue do corredor, durante intervalo do mencionado II Ciclo, brincavam com a fantasia de um instituto de alta qualidade acadêmica. A certa altura, um deles imaginou: “E eu montaria um departamento onde os professores seriam de Ciro Flamarion pra cima”. Ciro se foi com o término do Ciclo, mas nem por isso entre nossos professores deixava de haver os dignos de nota. E talvez a melhor qualidade deles fosse a juventude, já que os que envelhecem com a instituição em geral acabam por se institucionalizar junto com ela, sucumbindo ao corporativismo, aos sucessivos dissabores e frustrações, à acomodação burocrática, à rotina anti-acadêmica da universidade, à fatal erosão da curiosidade e sobretudo à incapacidade de divisar as novas roupagens do velho conservadorismo que combateram quando eram estudantes. Não saberia precisar em números, mas algo como mais da metade do corpo docente do ICHS compunha-se então de mestrandos e doutorandos, todos pouco abaixo ou pouco acima dos trinta anos. Fui aluno de um que era apenas quatro anos mais velho que eu (ingressei aos dezenove). Isso os tornava inusitadamente acessíveis, próximos ao ponto de formarem repúblicas com alunos. É claro que só bem mais tarde me dei conta do quanto isso faz diferença. Já na sala de aula a informalidade era a regra. E além dela restava o infinito do pensar livremente com o mestre que se parecia muito conosco. (Como aluno de história, mantive escasso contato com os docentes de letras. Exceto a peculiaríssima professora Hebe Rôla, de quem fui aluno de redação, e a elétrica Lucinha Jacob Dias de Barros, com quem aprendi o pouco que sei de francês.) Não me esquecerei jamais, pois, de Luís Vítor Tavares de Azevedo, que nunca repito: nunca deixou de atender os alunos. Muitas vezes o procurei em seu gabinete, interrompendo suas leituras e afazeres, pelo simples prazer de conversar com ele. Jamais lhe notei a menor insatisfação por isso. Eloqüente, simpático, inteligente, dono de saborosa gargalhada 8 inclinava a cabeça para trás, escancarando os dentes cor de marfim em sonora risada , era capaz de ministrar outra aula aos que o procuravam fora da aula. A mesma disposição, apesar da aparente frieza, encontrei em Carlos Fico, que implementou o Laboratório de Pesquisa Histórica, arregimentando estudantes e alguns professores para o desenvolvimento de diversos trabalhos, conquistando para o ICHS credibilidade junto a outros centros universitários de pesquisa. Marco Antonio Villa, tal qual Zé Eduardo entre os estudantes, era um divisor de águas. Admirando-o ou abominando-o, era impossível manter-se indiferente a ele. Nenhum outro professor era mais polêmico e nem mais provocativo, inclusive no que isso possa ter de positivo. Contundente, de personalidade forte, apaixonado e ao mesmo tempo impessoal no trato , de uma ironia perene, verdadeira metralhadora giratória de palavras às vezes beirando a exasperação, eu o vi, arrebatado por um esquerdismo radical, no centro das cenas mais tensas da arena política da UFOP, naqueles anos marcados por greves e pela primeira eleição direta para reitor e diretores de unidades. Devo a ele o aprofundamento de minhas convicções de esquerda. Mais tarde acabamos por nos encontrar como colegas, na USP (ele no doutorado, eu no mestrado), e depois como parceiros em iniciativas editoriais. Porém, de todos os professores que mais me marcaram e aí não há como atenuar o caráter tão pessoal destas lembranças , Ronald Polito é uma presença forte e constante desde a primeira aula, em 1985. Trata-se de uma amizade que já dura vinte anos. Dizer isso talvez fosse suficiente e o melhor seria passar a diante, antes que passe à deselegância. Mas estaria cometendo uma injustiça com estes lampejos de memória se omitisse alguém que foi decisivo em minha formação acadêmica, mesmo depois de me graduar. Não posso me arvorar como porta-voz de minha turma ou geração, mas estou certo de que muitos reconheceriam a importância desse professor em sua formação. A generosidade intelectual, o rigor, a seriedade, a honestidade, a disciplina posso não ter aprendido com ele, porque nunca consegui reunir estas virtudes tal como Ronald as reúne. Mas ele foi e permanece sendo um modelo para mim, além de grande amigo. Como se não bastasse, Ronald possui um faro apurado, um excepcional olho clínico que até hoje tento mimetizar para encontrar talentos, descobrir habilidades, achar potencialidades e principalmente não se intimidar diante do novo. Tem uma paciência ímpar para orientar, ensinar, conduzir e estimular os neófitos na árdua iniciação como pesquisadores a despeito de seu “temperamento de poeta maldito”, como bem o definiu uma ex-professora do instituto. Ele e os demais que citei se enquadram bem naquela máxima (acho que) de MerleauPonty, segundo a qual o verdadeiro mestre não é o que diz “faça como eu”, mas “faça comigo”. Uma última palavra, agora sobre Ouro Preto. Durante toda a graduação, assim como outros tantos colegas, residi naquela cidade histórica, berço e sede da UFOP. O número de estudantes de história e letras que vivia lá era tão expressivo que, duas vezes por dia, pela manhã 9 e à noite, ônibus subsidiados pela universidade faziam a linha Morro do Cruzeiro/campus de Mariana, passando pelo centro histórico das duas cidades, levando e trazendo alunos. (Hoje, quando me recordo do estado daqueles veículos e das estradas, me espanta constatar nunca ter havido um acidente nessas viagens, pelo menos enquanto estudei no ICHS.) Para mim, era bem nítida a sensação de isolamento em relação ao restante da UFOP. Parecia que estávamos fora do centro onde as coisas aconteciam. Acentuado complexo de inferioridade nos traía ao criticarmos as duas velhas unidades as centenárias escolas de Minas e de Farmácia ou ao nos faltar argumentos ante o desprestígio social de nossos cursos, invariavelmente associados à carreira de professores dos então primeiro e segundo graus ou ao estereótipo do “bicho-grilo”. Somado aos poucos anos de existência da unidade, ainda em consolidação naqueles anos (não havia moradias estudantis, por exemplo), não é de se estranhar o desdém com que éramos percebidos pelo conjunto ouro-pretano da universidade e a desconfiança dos próprios alunos em relação ao futuro do instituto. Em parte, isso explica os rumores (ou a fantasia?) que afloravam entre nós, sobretudo em momentos de crise da unidade, falando da manobra derrotada para instalar o ICHS no Colégio Arquidiocesano, em Ouro Preto, nos idos de 1979. Independentemente de esse episódio ser verdadeiro ou não, o fato é que os que morávamos na antiga Vila Rica preferíamos ver nossa unidade funcionando lá e, sinceramente, nunca encontrei argumentos convincentes para justificar nossa presença em Mariana, além do belo e arruinado prédio cedido em comodato pela arquidiocese. Desejo não de todo infundado, pois numa instituição oriunda de escolas isoladas e provincianamente “rivais”, apesar de próximas, a dispersão era no mínimo contraditória afinal, o que se pretendia era constituir uma universidade. Para mim, pelo menos, restou a impressão de que era lá que o diáfano “espírito universitário” ufopiano ganhava força, pois o DCE, o CAEM mais sinônimo de clube de estudantes do que de entidade estudantil , as poucas repúblicas “mistas” (não-exclusivas de escolas), a aula-conferência de EPB3, os eventos multidisciplinares, o único cinema, o único teatro, diversas exposições, enfim, a agitação cultural e a massa estudantil que emprestavam algum significado ao prefixo institucional “universidade federal” estavam em Ouro Preto. Foi em sua bicentenária Casa da Ópera que pude 3. As aulas de EPB (“Estudos de problemas brasileiros”), disciplina criada pela ditadura militar e extinta no final dos anos 1980, merecem uma nota. Pensada pelos militares para doutrinar corações e mentes de universitários, na UFOP a disciplina ficou a cargo do Instituto de Artes e Cultura, que se apropriou dela de maneira muito inventiva. Como era obrigatória para os estudantes de todos os cursos, o instituto programou uma série de conferências mensais apresentadas no cinema ou no salão do CAEM ou no salão nobre da Escola de Farmácia ou na Casa dos Contos ou onde houvesse espaço para tanta gente para discutir os temas mais candentes daqueles tempos. Minha primeira aula na UFOP, no dia 13 de agosto de 1984, foi justamente uma conferência de EPB no salão do CAEM. Um alto funcionário da Secretaria de Educação de Minas Gerais falou sobre a política educacional do governo federal, com críticas que ainda eram novidade naquele ano de ocaso da ditadura. Lembro-me de conferências com os jornalistas Newton Rodrigues e Janio de Freitas, da Folha de S. Paulo, com Frei Betto foi um dos discursos mais à esquerda que eu havia ouvido até então e com o músico Harry Crowl Jr., que percorreu toda a história da música no Ocidente em três ou quatro aulas. 10 ouvir a íntegra dos prelúdios e noturnos de Chopin, em recitais quinzenais gratuitos. Ou a duas montagens de A flauta mágica uma delas durante o Festival Mozart, que espalhou a música desse compositor por algumas das igrejas da cidade, em concertos memoráveis. O Seminário Internacional de Música Instrumental, promovido pelo IAC creio que em 1987, levou um estudante a perguntar ao então diretor de Ensino da UFOP, Vítor Godoy: “Por que a universidade não é assim todos os dias?”. Naqueles, era possível encontrar músicos ensaiando na rua para uma infinidade de cursos, workshops e espetáculos. Um deles foi o show do Zimbo Trio, que aguardei com público em grande parte formado por músicos. A certa altura, com o cinema lotado e o trio atrasado, a platéia passou a aplaudir de maneira ritmada, num espetáculo à parte de percussão que nunca esquecerei. Não que todas as noites fossem assim. Pelo contrário, fora da alta temporada, Ouro Preto era a pacata cidade interiorana típica. Mas com certeza nenhuma outra desse porte ofereceria experiências como essas. Isso sem contar sua mais que decantada beleza arquitetônica e paisagística, que nunca deixei de apreciar e que muito me orgulhava, fazendo-me habitante de um patrimônio mundial da humanidade (belo título de nobreza na boca de autoridades e guias de turismo, mas tão inócuo quanto um título de nobreza numa república quando se tratava de preservação na prática). Hoje, olhando aquele passado tão próximo, causame espanto a inépcia da UFOP em sensibilizar seus alunos não importa o curso para a riqueza cultural e a singularidade de Ouro Preto e Mariana, oferecendo grande variedade de estímulos à sensibilidade artística melhor antídoto à visão de mundo estreitamente pragmática legada pelo tecnicismo da maioria de suas graduações (mesmo entre as humanas, para meu desespero). Constatação nascida de minha convivência com estudantes de engenharia e farmácia, muitos dos quais apegados a antigos costumes que, em respeito à autonomia dos estudantes, invocada quando lhe convinha, a reitoria nunca ousou tocar. Dois deles faço questão de registrar aqui, para a memória de sua eterna condenação: trotes violentos ou degradantes contra calouros e exclusividade de repúblicas instaladas em prédios da universidade (portanto, patrimônio público) para graduandos da Escola de Minas e de Farmácia. Essas “tradições” eram as piores manifestações do provincianismo e do espírito anti-universitário herdados das duas escolas, esquecidas com Ouro Preto em virtude do advento de Belo Horizonte, em 1897, e a modernização do país, que então se esforçava para apagar sua antiga feição colonial. Se seguisse a lição de Aristóteles, para quem a poesia é maior que a história, talvez fosse melhor ter escrito uns versos para sintetizar minhas recordações de estudante do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto. Mas como não sou bom historiador e quiçá nem seja um , com certeza seria pior poeta. De qualquer modo, o que vai escrito aqui, circulando no terreno escorregadio da memória, misto de ficção e “verdade” que 11 mais cala do que diz já que a lembrança é feita sobretudo de esquecimento , não representa sequer ínfima parte do que poderia ser escrito sobre aqueles anos. Não que eles sejam melhores, piores, mais ricos ou mais pobres que os anteriores ou os que se lhes sucederam, mesmo que se possa atribuir a eles e sempre se deve lugar específico na trajetória do instituto. É essa singularidade que procurei ressaltar, embora saiba pouco dos rumos que o ICHS tomou depois (certamente, porém, não foram os do “centro de excelência” que os dois colegas sonharam, deitados sobre a mesa de pingue-pongue) e, por conseqüência, não tenha como comparar. Hoje olho aqueles quatro anos sem a menor nostalgia e também sem o auto-engano senil de erigilos como modelo, no estilo “meninos, eu vi!”. E deles só falo bem o que não significa falar a favor, que é a pior maneira de bendizer. Teria sido melhor passá-los em outra instituição? Nunca saberei. Quando prestei o vestibular, as opções eram escassas. A UFOP foi um prêmio para alguém que não esperava ingressar numa universidade pública anseio de muitos pósadolescentes de classe média. Porém, se voltasse no tempo com a experiência acumulada até agora, não hesitaria em passar novamente aqueles mesmos quatro anos no mesmo ICHS. São Paulo, 16 de janeiro de 2005
Download