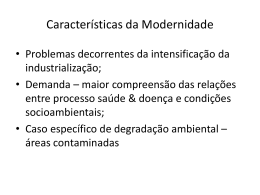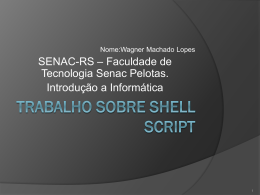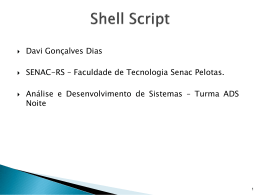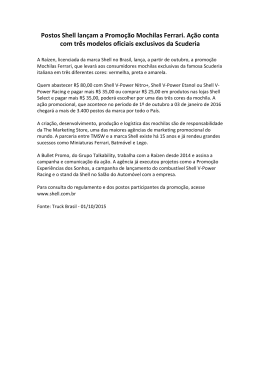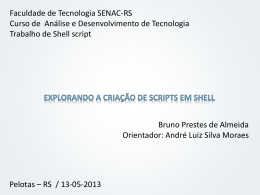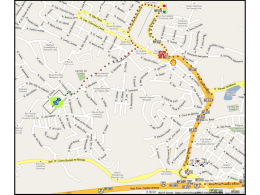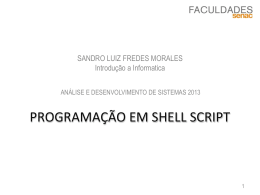V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ Mídia e Meio Ambiente: a Contaminação do Solo pela Shell, na Vila Carioca (SP), sob a Ótica da Folha de S.Paulo Maria Daniela de Araújo Vianna (PROCAM/USP) Jornalista, especialista em Saúde Ambiental (FSP/USP) e doutoranda em Ciência Ambiental (PROCAM/USP) [email protected] Flávia Silva Marcatto (FSP/USP) Arquiteta, mestre em Saúde Pública (FSP/USP), presidente da Oscip Participare – Instituto de Meio Ambiente e Cidadania [email protected] Wanda Maria Risso Günther (FSP/USP) Engenheira civil e socióloga, Prof. Dra. da Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP) e do Procam (PROCAM/USP) [email protected] Resumo A contaminação do solo e da água pela Shell do Brasil S.A., na Vila Carioca, zona sul da cidade de São Paulo, foi descoberta pelos moradores do entorno da unidade de estocagem de combustíveis da empresa por meio da reportagem intitulada “Contaminação ameaça 30 mil em São Paulo”, publicada na Folha de S.Paulo em 20 de abril de 2002. Qual o papel dos meios de comunicação social na construção dos problemas ambientais? A cobertura jornalística sobre o tema é adequada? A imprensa está preparada para enfrentar os desafios e a complexidade da temática ambiental? Essas são algumas das questões discutidas neste artigo, que analisou o conteúdo de 27 matérias publicadas no jornal Folha de S.Paulo sobre o tema, no período compreendido entre 2002 e 2006. O conteúdo foi analisado sobre a ótica da sociedade de risco, de Ulrich Beck, com uma abordagem da formulação social dos problemas ambientais na perspectiva do construcionismo ambiental, defendida pelo sociólogo John Hannigan. Questões decorrentes de ruídos da comunicação foram consideradas à luz da discussão proposta por Décio Pignatari. Palavras-chave Comunicação de risco; risco; comunicação social; sociedade de risco; sociologia ambiental; saúde pública 1 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ 1. Introdução 1.1. Resíduos e áreas contaminadas Gerar resíduos é uma prática inerente ao ser humano. Com o exponencial crescimento populacional e a concentração da população em cidades, no entanto, essa geração se transforma em problema e ao mesmo tempo em desafio a ser enfrentado por toda a sociedade. A Organização Panamericana de Saúde alerta que os estilos de vida, os altos níveis de consumo, os materiais usados na produção industrial e a introdução de materiais persistentes nas atividades cotidianas tendem a agravar a situação relativa ao gerenciamento desses resíduos, incluindo a disposição final (OPAS, 2005). Também ocorre o aumento da complexidade dos resíduos, ou seja, sua não biodegradabilidade e periculosidade, e consequentemente os reflexos ambientais e à saúde, principalmente quando da disposição inadequada dos resíduos no ambiente. “A existência de áreas contaminadas pode gerar problemas como danos à saúde humana, comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio público e privado, com desvalorização da propriedade, além de danos ao meio ambiente” (CETESB, 2006). No Estado de São Paulo, existe um monitoramento das áreas contaminadas, dentre as quais muitas ainda não estão identificadas. O aumento da fiscalização resulta em um crescimento, ano a ano, do número de áreas contaminadas identificadas desde 2002, quando a Cetesb passou a divulgar a Relação de Áreas Contaminadas (255, em 2002; 727, em 2003; 1.336, em 2004; 1.596, em novembro de 2005; 1.664, em maio de 2006; 1822, em novembro de 2006; 2.272, em novembro de 2007; e 2.514, em novembro de 2008) (CETESB, 2008). 1.2. A Vila Carioca e a Shell A Vila Carioca localiza-se na região sudeste da cidade de São Paulo, na subprefeitura do Ipiranga, ao lado da linha férrea da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Devido à proximidade com a 2 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ estrada de ferro, o que viabilizava o fluxo de matérias-primas e de produtos acabados, o bairro passou por um processo intenso de urbanização no século XX, com ocupação predominantemente industrial (MARCATTO, 2005). A multinacional de origem holandesa instalou-se no bairro em meados do século, com o nome Shell do Brasil S.A., “para elaborar pesticidas (base da Shell Química) e para atividades do setor de derivados de petróleo (base da Shell Petróleo e Lubrificantes)” (ARAÚJO, 2005). “A atividade industrial da Shell, iniciada em meados da década de 50, consistia no envase e armazenamento de produtos petroquímicos” (MARCATTO, 2005). “Nas décadas de 1950 e 1960, quando o parque industrial começou a se formar em São Paulo, nem existia a Cetesb. Nada do que se referia à poluição era proibido. Há muitos anos o solo tem sido utilizado como receptor de substâncias resultantes das atividades humanas. Atualmente, já se aceita que o solo é um recurso natural limitado e, se estiver contaminado, perde o valor econômico intrínseco e pode enfrentar restrições de uso. A poluição do solo é um problema de saúde ambiental, pois põe em risco as pessoas expostas aos contaminantes. Temos de fazer a remediação dessas áreas.”(GÜNTHER, 2006). A contaminação ocorreu naquele contexto, antes da instalação do bairro no entorno da unidade da fábrica, e em um período no qual os conhecimentos sobre os riscos ambientais decorrentes da contaminação do solo eram poucos. “Na área de tancagem, para armazenamento dos hidrocarbonetos (...), as borras oleosas foram dispostas diretamente no solo. A destinação desses resíduos resultou na contaminação do solo e das águas subterrâneas em áreas internas e externas à Base Shell Vila Carioca.” (MARCATTO, 2005). O bairro, como toda a cidade de São Paulo, passou por um crescimento vertiginoso na segunda metade do século e, no nos anos 1990, quando a Cetesb (órgão ambiental do Estado de São Paulo) deu início à avaliação de contaminação ambiental, já havia moradores cujos muros das casas faziam divisa com os muros da Shell. “No decorrer desse período (1993 a 1998), foram identificadas, no subsolo e nas águas subterrâneas da base de estocagem de 3 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ combustíveis da empresa, substâncias tóxicas presentes nos derivados de petróleo: benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno; em 1998, haviam sido constatadas, no subsolo da unidade de uma antiga área social da empresa, que fora desativada, concentrações elevadas de pesticidas altamente tóxicos: organoclorados do grupo dos “drins”, também conhecidos como poluentes orgânicos persistentes.” (ARAÚJO, 2005). 1.3. A contaminação da Shell sob a ótica da sociedade de risco As áreas contaminadas, em geral, e o caso da Shell na Vila Carioca, em particular, decorreram de um processo de industrialização que se deu em um período no qual as questões ambientais, como percebidas hoje, estavam fora da agenda política e institucional mundial. A contaminação do solo e das águas subterrâneas tornou-se uma realidade da sociedade contemporânea, chamada também de Sociedade de Risco. Foi a partir das reflexões do alemão Ulrick Beck, e posteriormente dos teóricos Anthony Giddens e Wynne, que o conceito de Sociedade de Risco teve maior projeção na teoria social, dentro do arcabouço das ciências sociais. Para Beck, a principal característica da sociedade de risco está na distribuição „democrática‟ dos riscos, e não na desigualdade das classes sociais. “Beck argumenta que, na sociedade contemporânea, em todo o planeta, os riscos estavam atingindo os grupos sociais de modo indiscriminado, e de forma tão intensa, que, na verdade, não se podia mais falar de uma sociedade que distribui bens, mas, sim, de uma sociedade que reparte seus males e danos.” (ARAÚJO, 2005) A sociedade de risco está intimamente ligada ao processo de modernização reflexiva, na qual os riscos são globalizados, assim como a sociedade e a economia. “A escola da modernização reflexiva (Beck, Giddens e Wynne) é considerada pelo „seu reconhecimento de que os riscos globais contemporâneos perderam os seus limites no tempo e no espaço, a sua ênfase nas mudanças das relações dos atores leigos e dos sistemas de peritos, e sua percepção de que os cientistas na era da última modernidade já não conseguem assegurar quaisquer certezas relativamente aos riscos ambientais e deverão antes partilhar as suas dúvidas com o público‟” (Spaargaren e Mol apud HANNIGAN, p: 236, 1995). 4 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ Ulrick Beck afirma que “a sociedade tornou-se um laboratório sem nenhum responsável pelos resultados dos experimentos” (BECK, 2006). Por isso, o autor defende a criação de novas instituições que dêem conta de assumir tal complexidade, talvez por meio de organismos transnacionais. O autor chama a atenção para os efeitos da mídia. “Na experiência de choque irradiado pela mídia massificada, torna-se reconhecível que a dormência da razão cria monstros”, dentro do que ele chama de “incertezas fabricadas”. 2. O Papel Social da Mídia O sociólogo ambiental John Hannigan (HANNIGAN, 1995), defende que, diante dos desafios da sociedade de risco, é necessária uma abordagem da formulação social dos problemas ambientais. Segundo o autor, estudioso do construcionismo ambiental, a preocupação com o meio ambiente não é constante, mas flutua ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo em proeminência. Além disso, os problemas ambientais não se materializam por eles próprios; em vez disso, eles devem ser “construídos” pelos indivíduos ou organizações que definem a poluição, ou outro estado objetivo, como preocupante, e que procuram fazer algo para resolver o problema (HANNIGAN, 1995, p: 11). Hannigan reforça a importância dos formuladores das exigências ambientais, dentro os quais se enquadra os meios de comunicação social. Estes têm o papel de participar da „construção‟ das exigências ambientais a partir da promoção da “familiaridade” do público quanto a um determinado problema ambiental. Nesse sentido, a mídia tem um papel importante na educação sobre o meio ambiente, mantendo elementos de vitalidade e de desenvolvimento, assegurando que as exigências ambientais não desapareceram em um mar de desinteresse ou irrelevância” (P: 74). Apesar da relevância do papel dos meios de comunicação social na construção dos problemas ambientais, o autor destaca uma série de desafios internos, nas redações, que comprometem uma boa cobertura sobre as questões ambientais. Entre elas, estão: a adequação do conteúdo ao formato de notícia; a pressa em noticiar; as fontes de informação (repórteres costumam manter-se fiéis a uma pequena lista de fontes confiáveis, gralmente pessoas com papéis oficiais, como 5 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ políticos e chefes de agência governamentais); o foco em catástrofes; e o risco do sensacionalimo. Partindo do pressuposto de que o jornalismo tem uma função social, ele deve ser usado como instrumento de pressão para que os demais atores sociais envolvidos na construção dos problemas ambientais, como empresas e poder público, atuem adequadamente na arena política, cumprindo a legislação e assumindo responsabilidade na resolução dos mesmos. A mídia pode contribuir para uma adequada comunicação de riscos, sem causar alarde nem gerar ruídos de comunicação. “A visão do jornalismo moderno, de acordo com os princípios que regem o jornalismo ambiental1, deve ser sistêmica, transdisciplinar e ética na cobertura ambiental e de saúde. “O jornalista que cobre meio ambiente deve ter um compromisso com a vida. Não se trata de escrever panfletos, mas sim de fundamentar as reportagens com um bom conhecimento dos temas. Diante da crise ambiental, não há como levantar a bandeira da neutralidade”, afirma Roberto Villar Belmonte (BELMONTE, 2006). A visão sistêmica defendida aqui é a mesma proposta pelo autor Edgar Morin (MORIN, 2005). Esse novo olhar é considerado fundamental para o exercício do jornalismo engajado. Por visão sistêmica entende-se: “uma rede de fenômenos interligados que interagem e se comunicam o tempo todo. Enxergar sistemicamente significa perceber essa teia infinita de relações que emprestam sentido aos temas ambientais” (TRIGUEIRO, 2007). Para Trigueiro, essa visão sistêmica aplicada ao jornalismo pode quebrar a perspectiva reducionista e fragmentada da realidade e passar a oxigenar a produção jornalística, tornando-a mais abrangente e menos imediatista. O conceito de transdisciplinaridade abordado ao longo de todo o estudo vai ao encontro das definições do sociólogo e pensador Edgar Morin (MORIN, 2005). Para ele, a nova “O jornalista que pretende compreender este planeta megadiverso não pode simplesmente ter um olhar superficial sobre a realidade. Deve compreender suas interfaces e sua cadeia de seqüências. No Brasil, isso é ainda mais estratégico, na medida em que a biodiversidade e os recursos naturais são as commodities do futuro e devem ser compreendidas como tal por toda a sociedade. A vanguarda dessa transformação conceitual é composta por jornalistas capazes de seguir atuando de forma objetiva na disseminação de informações” (MARCONDES, 2005). 6 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ transdisciplinaridade deve pensar e repensar o saber. Deve quebrar o paradigma reducionista, que ele considera insuficiente e mutilante, e substituí-lo por outro paradigma que permita a transdisciplinaridade. Um processo que dê conta de compreender o todo, fazendo sim distinções, separações, oposições, mas respeitando a complexidade. Para ele, só a comunicação entre as ciências dará conta do pensamento sobre a complexidade do mundo atual. O mesmo serve para a sociedade. Com base na premissa de que o jornalismo tem a função social de contribuir para a informação e formação sobre os temas ambientais, vamos analisar a cobertura atual da grande imprensa para verificar se isso já está ocorrendo na prática diária das redações. “Se todas as editorias entenderem a visão sistêmica como uma preciosa ferramenta de trabalho para qualificar a pauta e redimensionar o conceito de notícia, a tão propalada "transversalidade dos assuntos ambientais" será fato no universo jornalístico” (TRIGUEIRO, 2007). 3. Percurso Metodológico O presente artigo baseou-se no método Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) para analisar 27 matérias sobre a contaminação provocada pela Shell do Brasil S.A. na Vila Carioca, em São Paulo. Com base na busca pelos descritores “Shell” e “Vila Carioca”, no jornal Folha de S.Paulo, foram localizadas 32 matérias e notas, no período compreendido entre os dias 20 de abril de 2002, quando foi publicada a primeira reportagem sobre o caso, e o dia 21 de junho de 2006, quando foi localizada a última. Com base em uma leitura flutuante inicial, proposta por Bardin, cinco notas e matérias foram descartadas do escopo da pesquisa, por abordarem o tema superficialmente, dentro de outro contexto, restando as 27 matérias analisadas. O levantamento das matérias foi realizado no Banco de Dados on-line do referido jornal, que possui abrangência nacional. A escolha deste veículo de comunicação para a análise considerou o fato de a Folha de São Paulo ter sido responsável pela primeira matéria, publicada na mídia, sobre a questão envolvendo a contaminação da Shell na Vila Carioca. Em um segundo momento da pesquisa, também proposto por Bardin, para se chegar a uma análise quali-quantitativa das matérias, elas foram classificadas de acordo com categorias estabelecidas para analisar a qualidade das informações, analisada à luz das teorias de sociedade de risco, do construcionismo ambiental e dos problemas da comunicação. 7 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ 4. Resultados e Discussões – A Mídia e o Caso da Shell na Vila Carioca A contaminação do solo pela Shell, na Vila Carioca, zona sul de São Paulo, foi revelada aos moradores do entorno da unidade de estocagem de combustíveis da empresa por meio da reportagem intitulada “Contaminação ameaça 30 mil em São Paulo”, de autoria da jornalista Mariana Viveiros, publicada na Folha de S.Paulo, em 20 de abril de 2002. Outro texto, na mesma publicação, mostra que os réus do processo – a Shell e a Cetesb (órgão de controle ambiental do Estado de São Paulo) – tinham opiniões divergentes sobre os efeitos da contaminação à saúde da população: a Shell descartava o risco, mas a Cetesb não. Após a reportagem publicada na Folha, outros jornais, como O Estado de S.Paulo, o Jornal da Tarde, o Diário Popular (hoje Diário de S.Paulo), além de emissoras de rádio e televisão, também repercutiram o caso. Só na Folha de S.Paulo, em busca nos arquivos eletrônicos pelos descritores “Shell” e “Vila Carioca”, foram encontradas 32 matérias e notas sobre o tema. A penúltima, datada de 20 de junho de 2006 e assinada pelos repórteres Afra Balazina e José Ernesto Credencio, apresenta como título da matéria principal “Teste revela contaminação de moradores”. No subtítulo, informa que “Dos 198 habitantes da Vila Carioca submetidos a exames, 73 foram afetados por pesticidas da Shell, segundo relatório. Documento entregue à CPI da Poluição mostra que taxa de mortalidade no bairro é 78,2% maior que a do distrito onde ele (bairro) está”. 4.1. A mídia e o risco A comunicação é uma extraordinária ferramenta. No entanto, é preciso muito cuidado para evitar interferências na comunicação, ou seja, é necessário reconhecer os elementos que podem complicar ou impedir o perfeito entendimento das mensagens. Os índios e povos primitivos se comunicavam à distancia por meio de interrupções da fumaça do fogo, cujos espaços simbolizavam algo preestabelecido. A mão de obra para esse tipo de comunicação limitava as mensagens ao essencial e urgente. Da fumaça dos índios à mídia escrita, 8 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ podemos salientar que ainda encontramos várias dificuldades na comunicação de símbolos, da relação dos signos, da ideia de referência. Além dessas dificuldades, existem outras que interferem no processo de comunicação, entre elas, as barreiras do interpretante, barreiras psicológicas e de linguagem. Enfim, comunicar-se adequadamente é um desafio para que a mensagem chegue adequadamente ao destinatário. Alguns pressupostos são importantes de serem colocados. O primeiro deles é a importância da comunicação. Segundo Polistchuk e Trinta, 2003: “Comunicação compõe processo básico para a prática das relações humanas [...]. Pela comunicação, o indivíduo se faz pessoa, indo do singular ao plural. Em sua prática corrente, a comunicação envolve um ethos, que diz respeito à atitude de quem opina ou argumenta; um logos, que se refere à racionalidade inerente à opinião ou argumento apresentado; e um pathos, que tem a ver com a arte de tornar apaixonante o fato de opinar e argumentar.” (apud MARCATTO, 2006) (grifos das autoras) O segundo pressuposto é com relação aos conceitos adotados neste artigo sobre risco, perigo, comunicação de risco, ruído de comunicação e percepção de risco. Risco: é a probabilidade ou possibilidade de ocorrência de dano ou efeito adverso a um receptor e pode ser estimado por meio de estudos probabilísticos do risco. (MARCATTO, 2006:19) Perigo: Situação nas quais agentes físicos, químicos, biológicos ou de qualquer natureza constituem uma ameaça à saúde humana e/ou ao meio ambiente. (SILVA, 2004). Comunicação de risco: processo interativo de troca de informação e opiniões conjuntas de grupos ou instituições relativos a risco ou risco em potencial à saúde humana e meio ambiente [...] seu propósito é diferenciado, pois é uma situação que envolve vários canais, vários atores e é de duas vias (LUNDGREN e MCMACKIN, 1998, apud MARCATTO, 2006:20) Ruído de comunicação: “[...] nenhum sistema de comunicação está isento da possibilidade de erros. Todas as fontes de erros são 9 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ agrupadas sob a mesma denominação de ruído [...] [de comunicação].” (PIGNATARI, 2008) Percepção do risco: A percepção que os atores têm de algo que representa um risco para eles próprios, para os outros e seus bens, e contribui para construir o entendimento sobre determinado risco que não depende unicamente de fatos ou processos objetivos. Diante da análise das 27 matérias da Folha de São Paulo sobre a Shell Vila Carioca, evidencia-se o fluxo frágil de informações qualificadas sobre o caso. Observou-se que em 66% das matérias, havia algum tipo de ruído de comunicação. Dentre essas, quatro demonstram confusão entre risco e perigo. Abaixo, um dos exemplos de confusão entre risco e perigo: “A Shell sustenta que os estudos ambientais realizados não apontam perigo para a população vizinha, mas não descarta fazer exames de saúde na região.[...]” (VIVEIROS, 2002 A) (grifo das autoras) A responsabilidade dos agentes de informação na questão ambiental é ainda incipiente para a grande maioria dos profissionais de comunicação. Para Sarah Chucid Via (1993), “[...] o tema passará a integrar cada vez mais o cotidiano da humanidade e os formadores de opinião, que, atuando como 10 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ agentes de informação e até de educação, devem tomar consciência da grande responsabilidade sobre seus ombros” (CHUCID VIA apud CALDAS, 2005; MARCATTO, 2006, p. 17). Caldas (2005) coloca que “é inegável que o profissional da comunicação exerce um papel fundamental na interface entre ciência e sociedade [...].” Aponta ainda que para evitar o sensacionalismo e distorções das informações, “[...] é preciso que jornalistas e cientistas percebam que o laboratório da sociedade é muito maior e mais complexo que o de uma instituição de pesquisa ou de uma redação de jornal.” (CALDAS apud MARCATTO, p. 18). Uma das primeiras matérias sobre o assunto aponta já para o perigo existente (sic), de forma sensacionalista: “A contaminação ameaça até 30 mil pessoas que trabalham na unidade ou vivem num raio de 1 km da área, [...]” (VIVEIROS, 2002 B) Essa função emotiva da linguagem, que se caracteriza quando o emissor da mensagem expressa sua opinião sobre determinado assunto, ou ainda essa função apelativa, quando o objetivo deste emissor é influenciar de forma negativa, agrava o comportamento do receptor da mensagem, e tem como consequência a construção de uma percepção de risco inadequada. Por outro lado, a população, por desconhecer o assunto, tende a ser receptor passivo, percebendo riscos e mesmo perigo de forma não científica. Segundo Guivant (2204), “[...] os riscos percebidos pelos leigos não necessariamente correspondem aos riscos reais, analisados e calculados pela ciência [...].” (GUIVANT apud MARCATTO, 2006, p.142). Cerca de 20% das matérias apresentaram a possibilidade de algum ruído de comunicação, isto é, a falta de clareza da informação pode dificultar o entendimento do caso. “O subsolo e as águas subterrâneas da unidade da Shell e das ruas residenciais [...] estão contaminados por pesticidas (drins) e hidrocarbonetos tóxicos, conforme relatório da CSD Geoclock [...] estima em até 30 mil o número de pessoas potencialmente afetadas pela contaminação.” (VIVEIROS, 2002 D) 11 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ Verifica-se aqui, além da questão do número de pessoas contaminadas (ruído de comunicação), a possibilidade de ser fantasiada pelo o leitor desavisado a facilidade de ser apresentado o nexo causal entre o contaminante e as doenças da população residente no entorno e também nos trabalhadores da Shell Vila Carioca. O estabelecimento de mecanismos para realizar a necessária transferência de informação, possibilita o envolvimento daqueles que, de outra maneira, ficariam excluídos. Haveria a necessidade do envolvimento de um ethos, um logos e um pathos para a adequada comunicação. No trecho do artigo abaixo, verifica-se a importância da função metalinguística, aquela que utiliza o código para explicar o próprio código, isto é, a necessidade de ser explicado o impacto socioambiental da utilização de água contaminada. “Os poços da lista da Vigilância ficam no Condomínio do Conjunto Auri Verde e nas indústrias [...].” (DURAN, 2002) Existe, nas imediações da Shell Vila Carioca, na porção leste, uma ocupação de baixa renda, a qual não foi sequer observada pelos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. “[...] a poluição causada pelo enterramento de borras de combustível e de pesticidas ultrapassou os muros da empresa e levou para as águas subterrâneas da parte residencial do bairro pesticidas e hidrocarbonetos tóxicos [...].” (VIVEIROS, 2002 C) Qual seria o real papel da mídia nesse caso? Partindo do pressuposto que o jornalismo tem uma função social, ele deve ser usado como ferramenta para pressionar o poder público a cumprir a lei, bem como informar a população de maneira clara sobre os riscos e os perigos aos quais ela está exposta, sem causar alarde. Para John A. Hannigan, autor do livro “Sociologia ambiental – a formação da perspectiva social” (HANNIGAN, 1995), o problema ambiental constitui-se como tal a partir do momento em que é percebido pelos diferentes atores envolvidos. Nesse sentido, a reportagem, ao revelar o problema ambiental, cumpriu em parte a sua função social, pois tornou conhecido o problema para quem o 12 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ vivenciava sem saber. Deu voz aos técnicos de órgãos envolvidos com as questões ambientais e de saúde, à Justiça, à empresa e ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. No entanto, provocou alarde à população, principalmente aos moradores do entorno da unidade da Shell na Vila Carioca (MARCATTO, 2005). “Essa comunicação na grande imprensa evidencia a ameaça à saúde humana para até 30 mil pessoas, isto é, a informação da existência de perigo para essas pessoas. Cria, com o impacto a notícia, o nãoentendimento dos moradores do entorno da empresa” (p. 103). O caso, publicado na mídia, surpreendeu muitos moradores da região. “Caiu pra gente como uma bomba. Jamais poderia imaginar que tínhamos esse problema, pois nossa água vinha do poço. Esse problema é cancerígeno, está todo mundo desesperado, qualquer doença, já achamos que é da contaminação (...)” (MARCATTO, p. 104). Embora tenha causado ruído comunicacional, o fato de ter sido publicado (o caso da contaminação da Shell) na imprensa facilitou a disseminação da informação. Um técnico do sistema ambiental também destacou a importância de a grande imprensa ter noticiado o fato. “(...) Foi por Deus que isso aconteceu, porque senão as pessoas estariam expostas à contaminação. Talvez se isso não tivesse vazado da forma como vazou para a imprensa, e se não tivesse feito todo esse estardalhaço, nós não saberíamos que tinha gente tomando água contaminada no condomínio Auriverde (...)” (MARCATTO, P. 105). 4.2. Qualidade da abordagem Considerando os princípios de que a cobertura ampla defendida pela sociologia ambiental deve trazer diferentes visões e olhares sobre o mesmo tema, estabelecendo a inter-relação entre eles, ampliar o número de fontes do chamado “lado e outro lado” em direção a uma polifonia é fundamental. Por isso, houve uma categorização, onde as matérias foram divididas em três tipos no que se refere à qualidade da abordagem, de acordo com o número de fontes ouvidas. Das 27 matérias analisadas, a maioria – 12 – ficaram na categoria “Ruim” (com uma ou duas fontes ouvidas); 7 na categoria “Razoável” (três ou quatro fontes), e 8 na categoria “Bom”, com 5 ou mais fontes ouvidas, conforme gráfico abaixo. 13 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ Saber o número de fontes ouvidas em uma matéria jornalística é um bom indicador sobre a abrangência da mesma, mas é importante que esse dado possa ser correlacionado com outro, que indique quem são as fontes mencionadas nas matérias (VIANNA e GÜNTHER, 2008, p: 415). Vale ressaltar que o fato de uma fonte ser mencionada, não quer necessariamente dizer que ela foi ouvida. É o caso, por exemplo, da matéria “TJ nega pedido para que Shell faça exames”, publicada na Folha de S.Paulo em 5 de junho de 2002, cujo nome do autor não foi publicado. Categorizada como qualidade de abordagem “Ruim”, por ter ouvido apenas uma fonte (O juiz Clímaco de Godoy, do Tribunal de Justiça de São Paulo), a matéria menciona outras três fontes de dois segmentos da sociedade: a Shell, representando a empresa; e Promotoria de Meio Ambiente e a 10ª Vara da Fazenda Pública, ambas, representando o poder judiciário. O quadro abaixo corrobora a percepção do sociólogo ambiental John Hannigan (1995) sobre um dos desafios internos, enfrentados nas redações, diante da complexidade da cobertura jornalística sobre as questões ambientais. Trata-se, especificamente, das fontes de informação, que são geralmente aquelas que conseguem integrar uma pequena lista de fontes confiáveis, às quais os repórteres mantem-se fiéis. Neste caso, não foi diferente. Nas 27 matérias analisadas, as principais “vozes” 14 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ encontradas foram de pessoas com papéis oficiais, como políticos, chefes de agência governamentais e representantes da Justiça. Ouvir representantes de diferentes segmentos da sociedade envolvidos com a temática tem muito a somar e contribuir para a qualidade da matéria (VIANNA E GÜNTHER, 2008, p: 415). Com base nos dados apresentados acima, podemos inferir que a mídia, na maioria dos casos, ainda se detém aos dados oficiais e técnicos, deixando de lado outros olhares e perdendo a oportunidade de promover uma contextualização mais ampla da temática abordada, sob a ótica, por exemplo, de um cenário nacional sobre o tema, ou dos impactos econômicos de uma área contaminada, ou de uma análise histórica, mais aprofundada, sobre o gerenciamento de riscos, ou ainda sobre estudos científicos envolvendo relações de causa e efeito entre contaminação e riscos à saúde. No universo de 27 matérias analisadas, o segmento Academias/Estudos foi citado em apenas três casos, mas em nenhum deles os representantes da academia foram ouvidos. Para exemplificar, a matéria “Teste revela contaminação de moradores”, de autoria de Afra Balazina e José Ernesto Credencio, publicada em 20 de junho de 2006, menciona a Unifesp (Universidade Federal de São 15 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ Paulo) apenas no contexto da parceria firmada que a instituição firmou com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de um posto do Programa de Saúde da Família na Vila Carioca: “[...] Segundo a coordenadora de saúde da região sudeste, Edjanne Torreão, "todos que foram ao posto [de saúde Joaquim Rossini] receberam o resultado dos exames." Ela afirma que, em dois meses e meio, o atendimento do PSF (Plano de Saúde da Família) deve começar na Vila Carioca. "Já iniciamos a identificação de um imóvel no local. E a Unifesp [Universidade Federal de São Paulo] será nossa parceira." (BALAZINA e CREDÊNCIO, 2006) Neste caso, vale ressaltar que a cobertura dita “burocrática”, que leva em conta as fontes oficiais e se acomoda nas sugestões de pauta que chegam prontas às redações, não é responsabilidade apenas do repórter. O fato de ele fazer uma cobertura burocrática sobre um problema ambiental não significa que ele seja insensível. Pesquisadores em comunicação apontam para uma crise que assola as redações e têm origens das mais diversas (VIANNA e GÜNTHER, 2008). No livro Meio ambiente no século XXI, André Trigueiro cita uma idéia do professor Ciro Marcondes Filho de que “os registros dos fatos e dos acontecimentos ocorrem num ritmo cada vez mais frenético que vem determinando mudanças até no perfil do jornalista”. Para Marcondes Filho, “bom jornalista passou a ser mais aquele que consegue, em tempo hábil, dar conta das exigências de produção de notícia do que aquele que mais sabe ou que melhor escreve” (MARCONDES FILHO apud TRIGUEIRO, 2003: pg.78). Na mesma linha de raciocínio, Trigueiro também cita uma frase marcante do escritor e poeta argentino Jorge Luiz Borges: “Para a imprensa o agora é o ápice do tempo”. A maior parte do noticiário veiculado na grande mídia traz informações que envelhecem rápido, que são relevantes apenas para o dia de hoje (...). Esse senso de urgência torna a matéria-prima do jornalismo, a notícia, uma substância volátil como o éter, que se dilui rapidamente no ar, ou, como diz o velho ditado sobre o melancólico destino da página de jornal que “amanhã só serve para embrulhar peixe” (TRIGUEIRO, 2003, p: 79). 4.3. O que gera a notícia 16 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ A proposta, nesta etapa, foi de verificar o que gerou as 27 matérias analisadas no presente artigo. A cobertura de entrevistas coletivas ou notícias decorrentes de um contato cotidiano, já estabelecido entre fonte e repórter, para informar questões pontuais foram categorizadas como factual. Já as matérias mais elaboradas, com diversas fontes e com uma abordagem mais aprofundada foram categorizadas como investigação jornalística. Do universo de matérias e notas analisadas, a grande maioria – 82% – foi classificada como factual. Isso denota a existência da crise que se precipita sobre as redações e o próprio jornalismo, qual seja, a acomodação diante da pauta. O jornalismo investigativo, questionador, engajado, como defendem as premissas do jornalismo ambiental, hoje é raro nas grandes redações. Ele deu lugar, salvo exceções, a um jornalismo mais burocrático (VIANNA e GÜNTHER, 2008). 5. Conclusões e Considerações Finais O fato de a população do entorno da unidade da Shell do Brasil S.A., na Vila Carioca, ter sabido do problema da contaminação do solo e da água por meio da mídia – e não pelas autoridades diretamente envolvidas nas investigações – demonstrou que o modelo de fiscalização e de controle das questões ambientais no Estado de São Paulo não propicia de fato uma gestão socioambiental eficaz. No entanto, a primeira reportagem, publicada em 20 de abril de 2002, revelou o problema 17 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ ambiental, cumprindo, pelo menos em parte, a sua função social, embora não o tenha feito da melhor forma, pois causou alarde na população. Na construção dos problemas ambientais, os meios de comunicação social são atores importantes, mas não são os únicos. Diante do alarde que a primeira notícia causou, como ficou claro na declaração de um dos moradores à pesquisadora Flávia Marcatto (2005, p: 104) – “caiu pra gente como uma bomba (...) Esse problema é cancerígeno, está todo mundo desesperado, qualquer doença, já achamos que é da contaminação (...)” – pode-se inferir que a população deveria ter sido informada anteriormente por outros atores sociais, como representantes dos órgãos públicos responsáveis pelas questões ambientais e de saúde do município de São Paulo e/ou do Estado de São Paulo. Como mostra a reportagem, todos já sabiam do ocorrido, tanto que o caso já estava na Justiça. A grande imprensa em geral, e o jornal Folha de S.Paulo, em particular, ainda possuem enormes desafios a enfrentar para cumprir de maneira adequada o papel social dos meios de comunicação na construção dos problemas ambientais e na manutenção dos mesmos nas pautas cotidianas dos jornais. Os desafios vão desde questões simples, como usar com exatidão e clareza conceitos como “risco” e “perigo”, até o enfrentamento de dilemas associados ao próprio processo de fazer notícia, como conseguir vencer fatores de produção, que envolvem a pressa, o imediatismo e, por vezes, o sensacionalismo, para obter uma abordagem mais ampla e diversificada das questões ambientais, com diferentes olhares e que atenda à complexidade que os problemas ambientais exigem. A Folha de S.Paulo, que na primeira matéria, publicada em 20 de abril de 2002, havia alardeado que 30 mil pessoas poderiam ser afetadas pela contaminação, afirmou, em junho de 2006, que o bairro possuía 6.500 moradores, e que apenas 198 tiveram necessidade de passar por exames médicos. “Treze anos após o primeiro inquérito para apurar a contaminação de uma área da Vila Carioca, na zona sul de São Paulo, pela Shell, um relatório da Secretaria Municipal da Saúde apontou que 73 das 198 pessoas analisadas apresentam pesticidas potencialmente cancerígenos no organismo. O bairro tem 6.500 moradores” (2006). 18 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ O jornalista Washington Novaes, durante uma palestra proferida no Fórum Petróleo, Meio Ambiente & Imprensa, realizado em Salvador, na Bahia, em março de 2004, resumiu bem os desafios que envolvem a cobertura jornalística das questões ambientais: “Praticar o jornalismo ambiental, com um olhar ecológico, sistêmico e inter-relacional, exige disposição e esforço. (...) a questão ambiental é ameaçadora para todos: para os governos, para o setor produtivo, e também para as grandes empresas de comunicação social, que terão de mudar o modo de fazer jornalismo, “deixando de lado o jornalismo de espetáculo, cinema e crise”. Novaes vai além e destaca que “a cobertura das questões ambientais representa também uma ameaça para os jornalistas, que terão de mudar a sua visão de mundo, mudar hábitos, e isso não é fácil”. 6. Referências Bibliográficas ARAÚJO, J.M.. “Contaminação ambiental por resíduos perigosos na Vila Carioca: uma interpretação da teoria social na abordagem da saúde ambiental”. São Paulo, 2005 (Tese de Doutorado da Faculdade de Saúde Pública da USP). BALAZINA, A e CREDENCIO, J. E. “Teste revela contaminação de moradores”. Folha de S.Paulo, São Paulo, 2006 jun 20; caderno Cotidiano. BARDIN, L. “Análise de Conteúdo”. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1977. BECK, U. “Incertezas Fabricadas”. Entrevista concedida para a Revista Digital IHU, do Instituto Humanitas Unisinos (www.unisinos.br), de 22/05/2006. Lida em: 13/08/07. BELMONTE, R. V. “Jornalismo Ambiental Brasileiro” – trecho de entrevista concedida à Revista IMPRENSA. São Paulo, junho de 2006. CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo – Relação de Áreas Contaminadas. São Paulo, 2008. Disponível em <http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/areas_contaminadas/texto_areas_cont_nov_08.pdf >. Acesso em: agosto de 2010. 19 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ DURAN, S. “Vigilância Sanitária opta por interdição preventiva de seis reservatórios em área sob suspeita de contaminação em SP. Poços próximos da Shell são interditados‟, Folha de São Paulo, São Paulo, 2002 05 23. GÜNTHER, W.M.R.. Aula teórica. “Fundamentos da prevenção e controle da poluição do solo por resíduos sólidos”. Ministrada no Curso de Especialização em Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Em: 07/06/2006. HANNIGAN, J. A. “Sociologia ambiental- a formação de uma perspectiva social”. Portugal: Instituto Piaget, 1995. MARCATTO, F. S. “A participação pública na gestão de área contaminada: uma análise de caso baseada na Convenção de Aarhus”. São Paulo, 2005 (Dissertação de Mestrado da Faculdade de Saúde Pública da USP). OPAS/OMS. “Informe de la evaluación regional de los servicios de manejo de resíduos sólidos municipales en América Latina y el Caribe”. Washington: OPAS, 2005. Pignatari, Decio. “Informação. Linguagem. Comunicação.” 3ª Ed., Cotia, SP, Ateliê Editorial, 2008. SILVA, C. C. A. [significado discutido em aula ministrada na Faculdade de Saúde Pública, na disciplina Avaliação, Comunicação e Gerenciamento de Riscos Ambientais], 2004. VIANNA, M. A. e GÜNTHER, W. M. R.. O perigo em cada posto: a cobertura desconexa de uma temática ambiental. In: GIRARDI, I. M. T. e SCHWAAB, R. T.. “Jornalismo ambiental – desafios e reflexões”. Porto Alegre. Editora Dom Quixote, 2008. VIVEIROS, M. - A “Contaminação ameaça 30 mil em São Paulo”. Folha de São Paulo, São Paulo, 2002 abr 20; caderno Cotidiano. VIVEIROS, M. - B, “Shell promete descontaminar área até 2003”, Folha de São Paulo, São Paulo, 2002 abr 22; caderno Cotidiano. VIVEIROS, M. - C, “Área de 180 mil m2 na vila Carioca tem o subsolo e as águas subterrâneas contaminados por substâncias tóxicas. Multa da Shell por não ter licença é de R$107”, Folha de São Paulo, São Paulo, 20002 maio 03; caderno Cotidiano. VIVEIROS, M. - D, “Vigilância ordenou medida. Shell começa hoje a cadastrar moradores”, Folha de São Paulo, 2002 jul 02; caderno Cotidiano. 20 V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil _______________________________________________________ VIVEIROS, M. - E, “A ANP, responsável pelo laudo com dados incorretos sobre a unidade da Vila Carioca, poderá responder por crime federal”, Folha de São Paulo, São Paulo, 2002 jul 16; caderno Cotidiano. HANNIGAN, J. “Sociologia ambiental – a formação de uma perspectiva social”. Portugal: Instituto Piaget, 1995. TRIGUEIRO, A. (ORG.). “Meio Ambiente no Século XXI”. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2003. TRIGUEIRO, A. Quando o mundo sustentável é notícia. Disponível em: <http://www.mundosustentavel.com.br/artigo.asp?cd=46>. Acesso em: abril de 2007. MORIN, Edgar. “Ciência com consciência”. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand, 2005. 21
Download