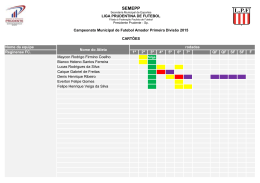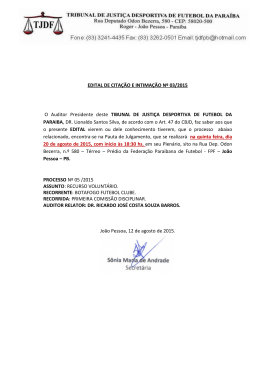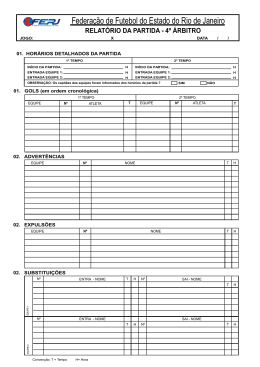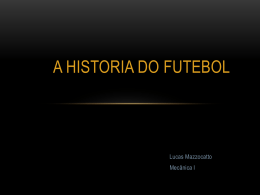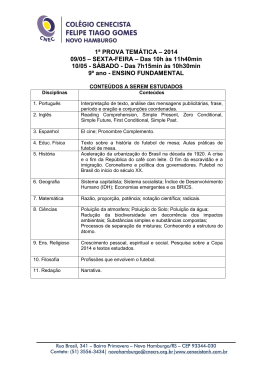1 Praça Charles Miller Bigodão, franja rebelde, camisa branca, calções pretos e, nas mãos, uma bola: esta é a imagem que as fotografias da época – de flash à base de queima de magnésio – nos mostram de Charles William Miller. Filho de John, um engenheiro escocês que, como três mil britânicos, foi à América do Sul para construir a estrada de ferro, e Carlota Fox, brasileira com raízes inglesas, Charlie nasce em 24 de novembro de 1874 no Brás, bairro de São Paulo. Aos nove anos, como ditam as regras da alta sociedade, é enviado para estudar na Europa. Após desembarcar em Southampton, ingressa no Banister Court e, em seguida, em um internato do condado de Hampshire. O Banister é um pequeno colégio particular fundado pelo reverendo George Ellaby com a finalidade de instruir os filhos da Peninsular Steam Navigation Company. Na época em que Miller frequenta suas aulas, o diretor é Christopher Ellaby, filho do reverendo e um grande aficionado por futebol. Na Inglaterra, o beautiful game já desfruta de estatuto oficial: em 26 de outubro de 1863 é fundada em Londres a Football Association, a primeira federação futebolística de âmbito nacional que unifica as regras do jogo. Ellaby, que em seus tempos de Oxford foi capitão do time do college, sabe transmitir aos seus alunos o entusiasmo pela bola. Charles Miller é um bom atleta e logo se torna capitão do time. Seu rosto imberbe e a franja lhe valem o apelido de Nipper (“menino”). Apesar de seu porte físico, torna-se um grande atacante que, às vezes, atua como lateral-esquerdo. “É o nosso melhor atacante. –9– É rápido, tem um drible mortal e um arremate fantástico. Marca com grande facilidade”, garante o jornal do colégio. Com o Banister Court, marca 41 gols em 34 partidas, e 3 em 13 jogos disputados com a St. Mary’s Church of England Young Men’s Association, antecessora do Southampton Football Club, time da Premier League inglesa. Miller tem um estilo de jogo alegre, moleque, criativo um grande controle de bola e uma verdadeira paixão pelas fintas, deixando sentados os seus adversários. Tanto que, aos dezessete anos, é convidado para jogar com a camisa do Corinthian Football Club de Londres, um clube formado por jogadores oriundos de várias escolas e universidades inglesas com o intuito de reverter a superioridade das formações escocesas. “Corinthian”: um nome que, anos mais tarde, com um “s” a mais e sob os auspícios do próprio Miller, será um dos mais famosos clubes de São Paulo. Em 1894, após concluir os estudos, Charlie retorna para o Brasil. Na bagagem, ele leva duas bolas da marca Shoot, fabricadas em Liverpool, um presente de um colega de time; uma bomba de ar; um par de chuteiras; duas camisas (uma do Banister e outra da St. Mary’s) e um calhamaço com as regras redigidas pela Football Association. Reza a lenda que, durante a viagem, Charlie não para de treinar: dribla obstáculos e passageiros de uma ponta a outra do convés do navio. Quando, em 18 de fevereiro, já na plataforma do porto de Santos, seu pai, John, lhe pergunta o que trouxe da Inglaterra, Charles responde: “Meu diploma. Seu filho se formou com honras no futebol”. O anglo-brasileiro de vinte anos começa a trabalhar, como seu pai, na São Paulo Railway Company e se inscreve no São Paulo Athletic Club, fundado em maio de 1888 por vários membros da colônia britânica. Os sócios do clube jogam críquete, e não futebol. Conhecem o jogo, mas ninguém demonstra interesse em praticá-lo. Charles Miller começa seu trabalho de catequização. No clube, explica a amigos e colegas de trabalho – altos funcionários da companhia de gás, do Banco de Londres e das ferrovias – as regras e os termos fundamentais, como half time, corner, ground – 10 – e penalty, e por fim consegue reunir um punhado de seguidores. Convence-os a treinar em um campo de terra batida: Várzea do Carmo, entre Luz e Bom Retiro, hoje Rua do Gasômetro. Não faltam curiosos que se aproximam para contemplar esses excêntricos ingleses. Tempos depois, em uma carta a seu amigo Alcino Guanabara, do Rio de Janeiro, Celso de Araújo escreve: Lá pelos lados da Luz, de Bom Retiro, um grupo de britânicos, maníacos como eles só, punha-se, de vez em quando, mais propriamente aos sábados, dia de descanso laboral, a dar pontapés numa coisa parecida com a bexiga de boi, dando-lhe grande satisfação e pesar quando essa espécie de bexiga amarelada entrava num retângulo formado por paus. Ceticismo à parte, o jogo começa a cair no gosto dos gentlemen da comunidade britânica, e Miller finalmente consegue organizar uma partida. Dia 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, se enfrentam duas equipes compostas por ingleses e brasileiros: o São Paulo Railway e a Companhia de Gás. Liderado por Miller, que marca dois gols, o time dos “ferroviários” se impõe por 4 a 2. São poucos espectadores: amigos e funcionários das duas empresas, mais os burros que pastam nas proximidades. Pouco importa: é a primeira partida de futebol oficial no Brasil e marca a data de nascimento do que será o esporte mais popular no país. É verdade que, bem antes do retorno de Charlie da Inglaterra, entre 1875 e 1890, alguns funcionários de companhias inglesas e marinheiros britânicos haviam disputado partidas nas ruas ou nas praias do Rio, chegando até a realizar um jogo em frente à residência da princesa Isabel, que substituía dom Pedro II na regência do Império do Brasil. Também é verdade que, no colégio São Luis de Itu, o padre jesuíta José Montero havia introduzido entre professores e alunos, seguindo a linha do colégio Eton, um jogo chamado bate bolão. É verdade ainda que jogos como o ballon anglais eram praticados – 11 – em várias escolas religiosas e leigas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No entanto, para os brasileiros, Charles Miller é o pai do futebol. E isso porque, além desse primeiro jogo histórico, Miller cria, dentro do São Paulo Athletic Club (SPAC), um time de futebol e desempenha um papel crucial na fundação, em 19 de dezembro de 1901, da primeira federação futebolística do Brasil: a Liga Paulista de Futebol, que no ano seguinte vai organizar o primeiro campeonato de futebol. A competição tem início em 3 de maio de 1902 com cinco equipes: o São Paulo Athletic Club, a Associação Atlética Mackenzie College, o Sport Club Internacional, o Sport Club Germânia e o Club Athletico Paulistano. O SPAC domina as três primeiras edições. Charles Miller, com dez gols em nove jogos, é o artilheiro do campeonato de 1902 e marca os dois tentos da vitória na final contra o Paulistano. Vestindo a camisa azul e branca com listras verticais ou a camisa branca e calções e meias pretos, o SPAC vence também o torneio de 1903, novamente contra o Paulistano. No ano seguinte, a conquista se repete, e Charlie divide o título de artilheiro – nove gols – com Boyes, seu colega de time. Miller chega até a jogar debaixo das traves e realiza uma verdadeira proeza: faz nove gols contra o Sport Club, de São Paulo, em 1906. Ele joga com o SPAC até 1910, momento em que o futebol brasileiro já é praticado tanto pela elite branca e urbana, que respira o esporte como um símbolo da modernidade europeia, quanto pelos jovens das classes baixas, que fazem uso dele como uma representação de si mesmos que lhes é negada em outros âmbitos sociais. Um exemplo de sua popularidade é a turnê do Corinthian Football Club de Londres. A bordo do transatlântico SS Amazon, os jogadores ingleses desembarcam no Rio de Janeiro em 21 de agosto de 1910. Disputam três jogos contra o Fluminense e outros dois combinados cariocas, vencendo todos os duelos por goleada. Mais tarde, viajam para São Paulo, onde enfrentam o Palmeiras, o Paulistano e, em 4 de setembro, o SPAC. É uma das últimas partidas disputadas por Charles Miller, que já tem 36 anos. O jogo termina com – 12 – um retumbante 8 a 2 a favor dos visitantes britânicos, que se impõem nas duas outras partidas com uma avalanche de gols. “Não podíamos esperar outra coisa”, escreverá em um livro intitulado Minhas memórias do futebol o jornalista Adriano Neiva da Motta e Silva, conhecido como De Vaney. “Todo mundo sabe que o Corinthian é um time que joga um futebol científico, ao passo que nós, em matéria futebolística, ainda estamos com a chupeta na boca.” No entanto, para além de questões técnicas, é surpreendente o interesse gerado pela chegada do time inglês: ampla cobertura nos jornais, multidões que aguardam a saída dos jogadores do Hotel Majestic e, acima de tudo, a lotação do velódromo onde as pelejas são disputadas. “Os espectadores aplaudem cada jogada, e o ar cheira a perfume francês. As partidas do Corinthian são acontecimentos dos mais chic”, comentam os jornais de São Paulo. Nesse mesmo ano de 1910, Charles Miller pendura as chuteiras para se dedicar ao seu trabalho na Royal Mail Line. Anos depois, funda uma companhia de viagens, atividade que concilia com suas funções de vice-cônsul britânico. Casa-se com Antonietta Rudge, grande pianista brasileira, que vai deixá-lo nos anos 20 para ir viver com o poeta Menotti del Picchia. Cria os dois filhos e segue mantendo vínculo com o futebol na qualidade de árbitro, diretor esportivo e, por fim, como simples torcedor. Charles William Miller morre aos 79 anos, em 30 de junho de 1953. Ele viu São Paulo se transformar em uma metrópole e o futebol, que introduzira no país meio século antes, se tornar a grande paixão nacional. Viu o Brasil organizar a Copa Jules Rimet e sofreu, como milhões de outros brasileiros, a dor da maior derrota futebolística: o Maracanaço. A memória de Charles Miller ainda segue viva. Na linguagem do futebol, chaleira (derivado de “Charles”) é um termo utilizado para definir uma jogada inventada por Miller nos primórdios do século: bater na bola com um pé passando atrás do outro para driblar ou fazer o gol. Termo muito habitual em São Paulo. Exatamente um ano depois de sua morte, a cidade bati– 13 – zou com seu nome a praça onde se ergue o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, devido ao nome do bairro. Hoje, a praça, vasto espaço localizado no coração da metrópole paulista – quase um anfiteatro grego por seu formato –, está emoldurada, de um lado, por irregulares arranha-céus que despontam acima das árvores e, de outro, pelo Pacaembu, uma construção de estilo art déco de cor creme cravada na colina. O estádio foi inaugurado em 27 de abril de 1940 pelo presidente Getúlio Vargas, com a presença do prefeito Prestes Maia e do interventor do Estado Adhemar de Barros. Na época tinha capacidade para 71 mil espectadores. Atualmente, após a reforma de 2007, comporta 40 mil torcedores. A atual casa do Corinthians é uma verdadeira joia e um dos mais belos cartões-postais de São Paulo. Dentro, sob os quatro pilares da entrada principal, embaixo do enorme relógio, se encontra o Museu do Futebol. Dezessete salas, inauguradas em 29 de setembro de 2008, pelas quais se viaja – graças a bolas, fotos, vídeos, vozes, rostos, objetos, memórias, curiosidades e estatísticas – pela história do Brasil do século XX. Hilário Franco Júnior, um medievalista que teve a coragem de escrever sobre futebol (A dança dos deuses: futebol, sociedade, cultura), resume assim a história do país e do futebol: No início, o futebol foi criticado como algo fútil e inútil, mas rapidamente deixou de ser um esporte de elites para se tornar o jogo das classes populares. Nos anos 30 se produz o primeiro ponto de inflexão. No Brasil, graças às interpretações que dele fazem grandes intelectuais como Gilberto Freyre, Paulo Prado e Sérgio Buarque de Holanda, toma-se consciência da miscigenação, de uma realidade social em que convivem mulatos, negros e brancos. Nada há do que se envergonhar e, se os mulatos jogam futebol melhor, tanto melhor. O Mundial de 1938, torneio em que Leônidas da Silva – mestiço filho de português e de negra brasileira – será o artilheiro, marca o momento – 14 – da conscientização. Negros e mulatos, que alguns queriam excluir dos torneios de futebol, estão presentes. O segundo momento-chave é o Maracanaço em 1950, a derrota para o Uruguai, que o dramaturgo Nelson Rodrigues chamou de “Hiroshima psíquica”. Foi um duro golpe para toda a sociedade brasileira, assim como para uma classe política que havia confiado no futebol para ficar bem na foto visando às eleições. Um drama nacional que em 1958 foi totalmente compensado pela vitória do Brasil na Copa do Mundo da Suécia. Em Paris, canta-se uma canção que diz que somos os melhores do mundo. É a explosão do orgulho nacional. A partir desse momento, o complexo de inferioridade dá lugar ao de superioridade. Não podemos chegar atrás de ninguém, devemos ser sempre os campeões, como em 1962 e 1970. Porém, isso não é possível. Vem o longo jejum de vitórias e, com ele, a ditadura militar, a repressão, a tortura e o desaparecimento de opositores. O olhar da sociedade para o futebol muda e, apesar das duas vitórias em dois mundiais, paira a dúvida. Na minha opinião, ainda estamos imersos nessa fase. Hoje, o Brasil é um país que valoriza muito o futebol e tem grandes jogadores, mas já não é o país do football. Surgiram outras potências futebolísticas, e as demais seleções também têm bons jogadores. O Brasil quis ser o país do futuro e, por um momento, pareceu que o futuro havia chegado, mas logo recomeçaram as dificuldades. Porque o futuro brasileiro não avança de forma linear, e sim em ziguezague, indo para a frente e para trás, entre contradições e hesitações. Como o futebol. Depois de ouvir a lição deste professor tão versado no futebol como nas utopias medievais, é hora de ver como essa história é ilustrada no Museu do Futebol. Duas escolas esperam sua vez para começar a visita. Os meninos, agitados como todos nessa idade, se perdem pelos – 15 – meandros do estádio e estancam em frente à bola interativa, que lhes permite bater um pênalti e ver a velocidade de seu chute, em frente ao campo em miniatura no qual rola uma pelota ou em frente aos jogadores de madeira de um pebolim que não tem um só segundo de descanso. Assim que se entra no museu, um grande salão permite compreender o que é o futebol no Brasil: uma parafernália multicolorida dos mais variados objetos, bandeiras, faixas, flâmulas, cartazes, miniaturas, chaveiros, acessórios, caricaturas, jornais, botões, mousepads. Uma representação ou uma homenagem à paixão dos torcedores. No fim de uma escada rolante que leva ao primeiro andar, Pelé dá as boas-vindas aos visitantes em três idiomas. Na próxima sala, uma bola chutada por um menino voa de um campo para outro anunciando o caminho que o visitante deve percorrer. Escuridão. No alto, voam alguns anjos barrocos. Jogadores lendários em tamanho natural que driblam, chutam e se movimentam pelo ar. Um cartaz explicativo informa: Eles são apenas 25, mas poderiam ser 50 ou 100, tantos foram os criadores do futebol arte praticado no Brasil ao longo dos anos. Deuses ou heróis, ídolos de várias gerações, eles também podem ser vistos como anjos cujas asas, ou melhor, pés, nos transportam pelos campos onde se cultuam a inventiva, a poética e a magia do jogo. Autênticos anjos da arte barroca, que atendem pelos nomes de Pelé, Sócrates, Gylmar, Carlos Alberto Torres, Bebeto, Tostão, Garrincha, Ronaldo, Gérson, Rivellino, Didi, Vavá, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo, Taffarel, Zico, Zagallo, Falcão, Nilton Santos, Djalma Santos, Jairzinho, Julinho Botelho, Zizinho. Paulo, um garoto que foi ao museu com seus colegas de classe, olha diversas vezes o vídeo do gol que Pelé não fez contra Ladislao Mazurkiewicz, goleiro do Uruguai, nas semifinais da Copa do Mundo de 1970. Depois, lê a longa lista dos anjos – 16 – barrocos; observa atentamente cada nome, olha para cima e pergunta a um amigo: “Por que o nome do Neymar não está aí?”. De fato, Neymar Júnior ainda não subiu a este paraíso do futebol. No entanto, fora do estádio, sob o sol de inverno, a camisa mais vendida nas bancas dos ambulantes é a verde-amarela com o número 10. A do último poeta brasileiro do futebol. – 17 –
Download