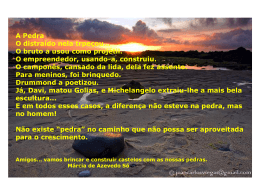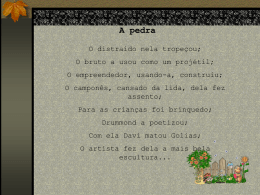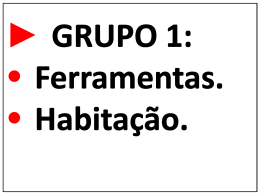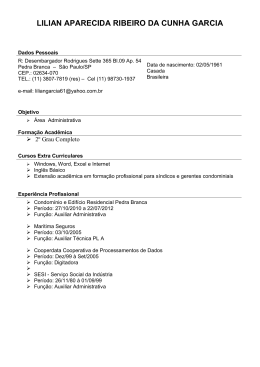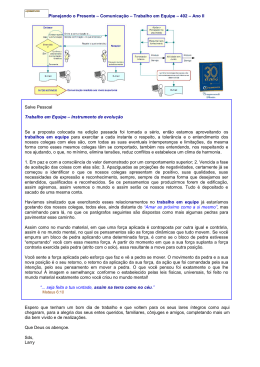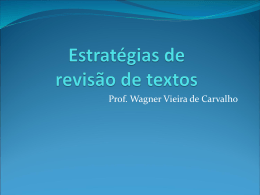A dureza da pétala por Aldenilson Santos A flor, indiscutivelmente, tornou-se sinônimo de delicadeza, sensibilidade, afeto. Dar uma flor a uma mulher pode dizer muito. Pode deixá-la sensibilizada. Já para os homens, receber uma flor pode significar uma afronta. Afronta à masculinidade. Porém, tanto homens como mulheres recebem flores. Com lágrimas. São pétalas jogadas sobre corpos. Pétalas molhadas por lágrimas. Embora sinônimo de delicadeza, sensibilidade, elegância, a flor num enterro torna-se sinônimo de despedida. Eis ai o outro lado que está escondido atrás de cada pétala. O lado da dor. Do sofrimento de perda. Quando as pétalas que formam a flor caem sobre um corpo ou caixão é sinal que está na hora de dizer ADEUS! A leveza da pedra por Aldenilson Santos A leveza da pedra está justamente naquilo que ela não parece ser. Ou seja, leve. A pedra é a base para a construção. Com ela outras ideias tomam forma. Nas mãos de um especialista a pedra fica leve. Tornase joia. É através do manejo com a rocha que aprendemos que ela é mais leve do que imaginamos. É preciso parar, pensar, dar forma, modelar a pedra para assim ela ter seu valor. Sua leveza. Um diamante é uma pedra, originalmente, mas toma uma leveza ímpar quando modelado. Quando burilado. A partir disso, um diamante nas mãos de uma dama torna a pedra leve, sensível, sinônimo de elegância. A leveza da pedra está no que ela pode ser. No que ela pode vir a ser. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Uma outra carta por Aldrey Iscaro Gostaria de poder te ver de novo, de te dar um “oi”, de te abraçar e de sentir teu cheiro. De poder ouvir de você: “olá, querida, estava com saudades, que bom que você está aqui agora!”. Sinto sua falta, sinto falta dos muitos momentos que vivi com você, sinto falta de, ao som de um bom samba, batucar na sua perna, e você me olhar com aquela cara de “você está fora do ritmo”, e eu te olhar com aquela cara de “você é musico, é claro que eu não vou discutir com você”; de rir junto com você ao te ouvir, todo debochado, dizendo: “ah, a Viviane Araújo queria me dar um beijo mas eu achei melhor não... eu cheguei perto e percebi que ela tinha bafinho”; e de te ouvir falar: “tô livre sexta à noite, vamos nos ver?”. Mas sinto falta também das coisas que nunca tive, de um anel prateado com uma pequena, leve e brilhante pedrinha em cima e seu nome gravado na parte de dentro; daquele enorme buque de rosas, que mal poderia segurar de tão bonito, grande e pesado que ganharia de aniversário; e de poder, à meia-noite, te dar feliz Natal. Mas só os encontros e desencontros do destino poderão me dizer se um dia, novamente, te darei um “oi”, sentirei novamente teu cheiro, ouvirei de novo a tua voz e responderei pra você: “também estava com saudades.”. A leveza da pedra, o peso da pétala por Antônio Augusto Veríssimo Quando ouvimos, lemos ou nos lembramos da palavra “pedra”, logo somos remetidos às ideias de dureza, peso, rigidez e imobilidade. Mas, nas mãos de hábeis e criativos arquitetos e escultores, materiais da natureza podem assumir formas e significados que podem modificar de maneira substancial nossas impressões acerca de suas características. Citarei adiante os exemplos de três obras de grandes artistas que nos propiciam, por meio de suas realizações, sensações muito diversas das acima expostas. A primeira delas é uma obra-prima da arte gótica francesa,Sainte-Chapelle. Atribuída ao arquiteto Pierre de Montreuil, a construção dessa capela começou em 1241, tendo sido construída com o objetivo de tornar-se um grande relicário para acomodar as relíquias colecionadas pelo rei Luís IX. Nesta obra foram utilizados, à perfeição, os recursos e técnicas desenvolvidas pela arquitetura gótica francesa, o que resultou em uma estrutura extremamente delgada e delicada, vazada por vitrais majestosos, que nos transmite uma sensação de leveza e que nos faz abstrair a noção de que sobre nossas cabeças está uma estrutura feita totalmente em pedra, cujo peso, em parte, é engenhosamente descarregado, através de arcobotantes, para contrafortes que estão fora de nossa visão. SainteChapelle é uma obra-prima da arquitetura universal que nos dá a noção da capacidade do ser humano de modificar, por meio de arte e engenho, as impressões que temos sobre os materiais da natureza. A segunda é a escultura O Rapto de Proserpina (1621/1622), de Gian Lorenzo Bernini. Esta obra, de grande beleza e referências eróticas, não somente nos transmite leveza, pela visível facilidade com que Plutão mantém o corpo de Proserpina no ar, mas sobretudo revela a maciez daquele voluptuoso corpo feminino, marcado em sua carne pela pressão vigorosa exercida pelas mãos daquele deus mitológico. A terceira é Loie Fuller das la Danse Serpentine, uma escultura de 1893 que retrata a dançarina nascida na cidade de Chicago considerada a precursora da dança moderna. Nesta obra, o autor nos faz abstrair a concretude, rigidez e imobilidade do material que a constitui. O que temos diante de nossos olhos é o movimento, a fluidez, o esvoaçar das vestes dessa bailarina que foi criadora da Dança Serpentina e que, por meio de um artifício engenhoso, criou uma extensão de seus braços, ampliando os limites espaciais e volumétricos dos seus movimentos, tornando-se inspiração para pintores e escultores do movimento Art Nouveau. Já sobre a pétala, pensada individualmente, parece impossível lhe atribuir qualquer noção de peso; mas pensada como constituinte da rosa, já nos permite atribuirlhe valores simbólicos que, se não remetem diretamente à uma noção de peso no sentido físico, traz consigo a densidade das ideias de sagrado, de paixão e de segredo. CAMI(pedra)NHO por Autenir Carvalho de Rezende Movimento e permanência (ou, A leveza da pedra) Por Daniela Motisuke Estática, em seu momento constante, pesa Dinâmica, em equilíbrio instável, flutua O vento que sopra, porém, faz cantar o constante e nem cócegas faz no instável Leveza versus peso, eita falsa dicotomia da vida, da arquitetura, da academia Da arquitetura da pedra, como já disseram o mestre francês e o mestre paulista, “É preciso fazer cantar o ponto de apoio” como uma pétala (ou pluma) Leveza da pedra Por Diana Aguiar Abandonei-te porque assim como Gregório de Matos te senti “madrasta dos naturais”, dos teus por nascimento. Durante muito tempo quis ficar, mas me curvei à sensação irremediável de que as pedras de tuas construções e paralelepípedos no Centro Histórico, na Ribeira, no Dois de Julho, no Bonfim eram grilhões que me atavam ao chão, me impediam de voar. Então te abandonei voando em uma estrutura de metal que, por uma engenharia que me é incompreensível fora do campo da magia, torna-se leve e se mantém suspensa no ar. Longe de ti estive em muitos portos onde pousam essas naves. Por muitos anos, voltava esporadicamente e saía de fininho, sem compreender os amigos que ficavam, por escolha, nessa terra “tão dessemelhante”. Mas permaneceste em mim. Residindo com a teimosia de Oxum. E sem me dar conta me vi subir as ladeiras da Colina Sagrada aos prantos de saudade em tua procissão mais afamada. Redescobri em cada esquina um deleite, acompanhada de e iluminada por Carybé, Verger, Caymmi e Amado. Descobri que em muitas de tuas construções a argamassa é composta de cal extraído da queima de sambaquis. Sambaquis consolidados em milhares de anos de ocupação indígena por toda Paraguaçu – o nome Tupinambá da Bahia de Todos os Santos – apropriados pela ocupação portuguesa. Descobri que tuas pedras catalisam encontros e desencontros, idas e vindas, de teus filhos naturais, bastardos e estrangeiros e daqueles que, como eu, me senti-sinto um pouco de cada coisa ao longo de minha vida. Continuo estranhando tua insistência em (re)colonizar minha alma. Mas ando lutando (muito) menos para resistir aos caprichos que exalam das pétalas da Roma Negra. Nautimodelista e apaixonado por Vespas Luiz de Castro (1931- 2013) Por Frederica Padilha Muitos anos atrás Luiz de Castro costumava levar as filhas pequenas para uma represa, onde soltava suas miniaturas na água. Num barco a remo ia seguindo com as meninas as embarcações de brinquedo. Luiz era um nautimodelista há mais de quarenta anos. Sua paixão pelas miniaturas começou, na verdade, com os aviões. Um dia, porém, viu no Ibirapuera alguns barquinhos e decidiu construí-los. Exímio artesão e muito caprichoso, seus minúsculos veleiros, que depois passaram a ser guiados por controle, tornaram-se famosos. Se não era o campeão, era o vice nas regatas, como conta a família. Ganhou prêmios e ajudou a criar a Associação Paulista de Nautimodelismo. Natural de Santo André, viveu parte da infância em Minas, até se estabelecer em São Paulo. Foi bancário e, depois de se casar com Marília, em 1957, trabalhou com o sogro em uma fábrica de laticínios. Fazia a entrega dos queijos na capital paulista. Após a morte do sogro, chegou a ter sua própria fábrica e ainda foi cobrador num frigorífico. Em 1992, ficou viúvo e voltou a andar em Vespas, pelas quais era apaixonado. Antes, fora obrigado pela mulher, que achava perigoso, a vender sua moto. Há poucos anos quebrou a perna em um acidente, mas não desistiu. Estava feliz por ter encontrado uma nova companheira, a publicitária Élmice, e por ter superado um câncer na bexiga. Era piadista e otimista. Na quarta foi levar um rádio para um amigo em São Bernardo consertar, quando um caminhão o atingiu em sua Vespa na Anchieta. Morreu na hora, aos 81, deixando duas filhas e três netos. A âncora do pintor chinês Fang - Chien Kong Fong (1931- 2012) Por Frederica Padilha O pai de Chien, um engenheiro que dirigia fábricas de papel na China, gostava de rabiscar figuras marítimas. O filho sentava ao seu lado para desenhar e era incentivado na prática artística. Um dia o menino encasquetou com uma forma desconhecida e quis saber o que era. O pai lhe explicou: “As âncoras têm muita personalidade. São modestas e silenciosas. O fundo do mar é um mundo cruel e, diante de qualquer ameaça da correnteza, elas não mudam de posição". Chien Kong Fong ficou conhecido pelo nome artístico Fang. Nascido na China, por volta dos dez anos viu o pai ficar doente, perder o movimento da mão direita e morrer. Em 1951, mudou-se com a mãe e o irmão para o Brasil. Em 1954, Fang começou a estudar pintura com o japonês Yoshiya Takaoka. Desde os quatorze anos já fazia aquarelas e sumi-ê, pintura milenar chinesa trabalhada com nanquim. Começou a expor a partir de 1957 e a ganhar prêmios em salões de arte. Quase não retratou figuras humanas. Tinha paixão pelo “irregular, livre e assimétrico”, características presentes nas pinturas que fazia de casarios, plantas, paisagens e natureza morta. Em 1972, foi convidado a dar aulas na Faculdade de Belas-Artes de São Paulo. Quatro anos depois, expôs no Masp. Também mostrou sua arte em Brasília, Rio, Chicago, Nova York e Tóquio. Assinava com uma âncora para simbolizar que não desviara de seu rumo. Praticava tai chi chuan todos os dias, como conta a mulher Akiko. Passou por uma cirurgia cardíaca, mas não resistiu a um infarto e morreu na quinta, aos 81. Teve três filhos. Leveza da pedra e dureza da pena por Gilberto Schittini A leveza da pedra e a dureza da pena, são contingenciais, relacionais, histórica e geograficamente determinadas No espaço, a pedra flutua Uma erupção lança a pedra como se não fosse nada Numa lagoa a pedra pode quicar três vezes antes de afundar Sobre a dureza da pena É bom perguntar para quem já tentou depenar um pato... Melhor ainda, pergunte para o pato! Pétala: a mulher Nua Por Isis do Mar Muitos conhecem o conto do Fernando Sabino, “O homem nu”. Mas poucos conhecem a nudez das ruas e dos becos de uma cidade, quiçá de uma cidade com tempos e espaços distintos coexistentemente. A nudez da vida, para Agamben, por exemplo, é uma vida nua que jamais se despe e é obrigada a se vestir, maquiar-se e se mascarar num cotidiano hegemônico. Outra nudez, que representa a vestimenta da vida nua, é a cidade e seu olhar para suas gentes. E, como olhar aquilo que nunca é visto, narro agora meu olhar diante do outro e de mim mesma, em um tempo e um espaço distinto e múltiplo. Hoje vi uma mulher nua. Completamente nua. Sentada na calçada, tensa, envergonhada com sua nudez, tentando dormir, mas percebendo os olhares destemidos e desconfiados dos outros. Mulher nua que se despe ainda mais na crueza da rua e no olhar atacado, mas paradoxalmente o olhar de ausência das pessoas. O tempo é curto, o espaço vai embora, a mulher passa... Mas será que não fica em ninguém a angústia de ter passado por essa nudez? Ninguém se move ao perceber que uma mulher está nua, que sua vida está descoberta em todas as feições e todas as situações? A mulher nua se despe ainda mais, na cidade que se propõe igual, mas deixa, à margem da calçada, a nudez de uma pessoa que vive e que morre, em um mesmo tempo, em um mesmo espaço. Hoje vi uma mulher vestida. Vestida de contradições e de vergonhas por gente que sente vergonha de ver uma mulher nua. Gente que, mesmo se sentindo aflito com a desigualdade e com as máscaras da vestimenta que se impõe sobre a nudez, passa rapidamente pela cidade, e alimenta mais e mais esse mundo que jamais existiu e que sempre foi assim. Uma vida tirana de uma mulher que veste as roupas e as fardas de um mundo que não é seu, mas também não é de ninguém. Essa mulher se encontrava à margem da calçada, vestida de recolhimentos e angústias, vestindo-se com as mãos no rosto, triste, pensativa, sem contemplações, porque não há nada o que contemplar neste mundo, não há nada a contemplar nesta calçada, a não serem os olhares rápidos e imprecisos sobre todos nós, que passamos rapidamente sobre o conflito, e tentamos, sem conseguir, ignorar o tempo e o espaço. Hoje vi pessoas nuas, pelo menos por um segundo, a observar mesmo que de lado a mulher nua, mesmo que por um segundo cruzarem os olhares, e mil sentimentos entrarem em conflitos e incursões sobre o que é vida, o que é a nudez, o que é esta mulher... Mas, não sejamos inocentes quanto aos nossos sentimentos. Passam coisas boas e ruins, seja lá o que for bom ou ruim na vida nua, na nudez, na nossa nudez. Hoje vi um dia nu, tentando se vestir com roupas que sempre e nunca serão suas. Pedra: voz é sopro em pé Por Isis do Mar Na lenda da Ceiuci, dos índios Tuxauas, concentrados em sua maioria no interior do Amazonas e Pará, o mundo e o universo foi feito por tucandeiras. Tucandeiras são formigas, uma espécie comum pela Amazônia, que possui um ferrão e uma picada extremamente dolorosa, dizem que mortal, dependendo da quantidade de picadas. O pai de todos virou tucandeira. Ceiuci, a mãe de todas, virou cobra. Mas os dois ensinam para todo o universo que voz é sopro em pé. Não à toa que sopramos e construímos, também, o universo. Esse universo genérico, que não cabe na gente, mas também nosso universo íntimo, peculiar, que cabe menos ainda. Não à toa que fazemos nossas moradas a partir deste universo desconhecido, para tentar conciliar sua ajuda, que é a vida, nesse desenrolar doido que fazemos da nossa trajetória, da nossa travessia. A voz é um pouco esse tom vazio que é o sopro, entoado pela gente (e quando falo gente, o tom da voz é de cada um, e todo mundo sabe disso). Por isso, é inalienável e intransferível nosso desejo de resistir, seja na permanência de estar nesse mundo, seja na produção de nossos próprios espaços, campos de ação, de nossas escolhas. Dia 22 de março, ao chegar à Aldeia Maracanã, e ver os pertences de quem ali escolheu para habitar e para viver sendo jogados à sorte de um caminhão de despacho, desnudado de seus próprios construtores, fiquei pensando nas escolhas dos outros para a gente. Mais ainda, fiquei pensando nas escolhas que os outros fazem para a gente, sem nenhum critério de sensibilidade e prazer, de afeto e solidariedade. E como é fácil fazer escolhas para os outros nos dias de hoje! E, ao contrário, como é duro e difícil, nos dias de hoje, encarar nossas próprias escolhas e considerá-las nossas, sem vergonha de viver e de soprar, sem vergonha de entoar. Ouvi no decorrer do dia e das reportagens (que definiram as escolhas como se elas fossem as escolhas erradas! Quem somos nós para definir que as escolhas dos outros são erradas ou não?) alegarem que os índios nem do Rio de Janeiro eram, que precisavam retornar ao seu lugar de origem se quisessem lutar por algum pedaço de terra. Concomitante a essas falas, em uma das reportagens divulgadas na televisão, os índios em um abrigo andando em direção a um terreno gramado por um mato verde claro. A câmera fez um efeito que tendia a mostrar a nostalgia e um retorno idílico e bucólico. Pensei: Por onde tudo isso começou? Aquele caminhão de mudança, mais cedo, ainda na Aldeia Maracanã, me fez sentir a dor dos índios que lá habitavam, mas também a dor de um morador na favela da cidade do Rio de Janeiro que tem sua casa destruída por algum órgão público, que é ameaçado veladamente e que precisa entender o incompreensível: ele não faz parte dessa cidade. Mas como? Ele se sente parte, ele produz essa cidade e se produz em conjunto. Qual a razão e o sentido dos outros escolherem que ele não é? Abraçar o mundo com a voz. O grito seria o sopro engasgado? Após décadas de consolidação de uma política que acentua as desigualdades espaciais, ao mesmo tempo em que fantasia uma “cidade maravilhosa”, a relação e o discurso do invasor, o problema que leva ao inchaço urbano permanece como justificativa de atenuação de um planejamento tendencioso e vinculado à máquina capitalista. Se a estrutura urbana precária tem como resposta superficial a chegada do migrante, do escravo, do índio, a resistência pela resistência permanece nas projeções de subjetividade, de significante de uma ideia, na construção de uma identidade imposta como o temporário, o pobre, o não cidadão. Movimenta o discurso alheio do sujeito que não é nem cidadão, nem parte da cidade. Da mesma maneira o discurso de que suas pernas não são suas, nem suas escolhas. Quem somos nós – os outros – para dizermos quais são as nossas escolhas, e quais são as nossas pernas? Finalizo com a voz embargada, ao lembrar, em um preciso momento, na Aldeia Maracanã, alguns índios sentados, cantando forte e tenso, um cântico. Em meio ao sol e ao calor que fazia, surge uma nuvem e começa a chover exatamente onde nos encontrávamos. O choro, o lamento, o silêncio, a espera da dor. Porque a dor dos índios da Aldeia Maracanã é também a dor de quem não pode saborear suas escolhas, nem defini-las como voz, como sopro no universo, no nosso, no dos outros, nele inteiro. Sobre a leveza da pedra... Por Josarlete Magalhães Soares Epílogo Pensando sobre a leveza e a dureza de objetos, a princípio, inversamente duros e leves, fui levada instintivamente para a dialética da vida e da morte. Acabei escrevendo sobre a leveza da vida (que nem sempre é leve) e a dureza da morte (que nem sempre deveria ser dura)... No entanto, como pode ser percebido nos textos, não pude falar da vida sem falar da morte e falar da morte sem falar da vida. Sei lá, talvez tudo seja apenas uma questão de ponto de vista... Pensei sobre quão leve é o longo ciclo de transformação da pedra na natureza. Afagada pelo vento – ar – ou pela chuva – água –, a pedra lentamente vai retomando a mobilidade da qual havia descansado por algum tempo. E assim ela encontra, num reencontro, a terra, os rios, retorna à constituição dos seres vivos. De início, quem sabe um alecrim, assa-peixe, flor-demaracujá, pé de manga, uma manga... O verão se aproximando, o aroma se tornando cada vez mais intenso e, num estupor de sabor, a pedra devorada... Por um sagui, talvez um pássaro, algumas centenas de formigas doceiras, um menino banguela que, superando a adversidade da idade, torna a pedra o seu próprio ser, sua carne, seus ossos. Hoje menino, amanhã homem. Talvez será feliz, talvez amará, possivelmente comerá mais mangas e pedras... E o menino, um dia, breve, devolverá à terra a substância de que é feito, inclusive a própria pedra, que talvez descanse por algum tempo ou, não se sentindo cansada, se entregue a uma nova aventura de viver. Sobre a dureza da pétala... por Josarlete Magalhães Soares Pensei sobre o material do qual se constituem as pétalas, em sua função na natureza e sobre as mesmas forças naturais que agem sobre elas, implacáveis, não deixando alternativa em sua curta existência enquanto flor. Pensei na semente encoberta pela terra, violada pela água da chuva e pelo calor do sol, que rompe a superfície à procura de luz, fugindo, assim, da morte prematura. E nesse ímpeto pela vida, a planta entranha suas raízes pelo solo e se agarra ao chão, ao mesmo tempo em que o caule se alonga, ainda perseguindo luz, e as folhas se abrem, mais luz. A voracidade pela sobrevivência continua. Surge um broto, um botão, que voluptuosamente se desabrocha em flor. As formas, o perfume, o colorido das pétalas a alcovitar maliciosamente os insetos e beija-flores, usando e manipulando a mobilidade desses seres em prol da ânsia reprodutiva dos vegetais. E tentando assim escapar da morte, as pétalas se entregam ao máximo de sua vida, para logo então deixála... Função cumprida ou não cumprida, a juventude da flor não pode ser sustentada por mais tempo. Eis que seca, definha, cai sobre a mesma terra que um dia foi seu berço e agora se converteu em seu túmulo. A leveza da pedra e a dureza da pétala por Julianna Malerba O signo representa o presente em sua ausência, o substitui. Jaques Derrida Além do berçário, não consigo pensar em lugar mais demasiadamente humano: a radicalidade da vida tornada espacialidade. Pois essa seria a ocasião e o lugar ideal para me permitir sentir – é o sentir, não o pensar que humaniza nossa presença no mundo – mas, simplesmente não consigo: aqui é a racionalidade que orienta meu olhar. Meu autoperdão: talvez não consiga sentir por rejeitar profundamente esse lugar. E ele é verdadeiramente abominável! Pode-se descrevê-lo em sua abundância de símbolos: tudo aqui indica, significa, simboliza. É um pleonasmo hiperbólico de semiose exagerada que torna insuportável o que já é, por si só, insuperável. Olho à minha volta e me enojo: os espaços vazios, as imagens sagradas, a crueza das lápides, a monotonia das cruzes... Fecho os olhos em busca de auxílio, mas esse profundo silêncio pacífico me atormenta; minha pele é então golpeada por um vento frio, que parece vir de alguma tumba deixada aberta; na boca, o abominável gosto de cinzas... Nauseante. Mas definitivamente não há nada pior que o cheiro desse lugar. Temo que nunca mais poderei ter com flores. É começo de novembro, não poderia ser pior... Sabemos que, entre os órgãos dos sentidos, nenhum é de correspondência mais instantânea que o olfato. Por sinestesia, terei meus sentidos paralisados toda vez que me deparar com esse perfume: outrora apreciado, será, a partir de agora, por mim, eternamente execrado. Por isso, Miguel, perdoe-me, preciso fugir imediatamente daqui... Mas não, não entenda como vingança, devolução do abandono que involuntariamente você me impôs. É que, para mim, você sempre significou vida e vida em abundância e nada, absolutamente nada daqui o representa. Vou te encontrar então onde primeiro seu olhar cruzou o meu: aquele nosso lugar da cidade onde uma praia termina só pra que a outra comece, onde céu mar e terra se confundem, onde o pôr do sol é aplaudido por aqueles que conseguem saber que milagres podem, sim, ser diários. Lá todos meus sentidos poderão, em sinestesia positiva, encontrar você. Inclusive o sexto, que ainda agora pode te cheirar, te tocar, te ouvir, te ver e te gostar... Aquela pedra, lá no alto do Arpoador, será nosso para sempre santuário: o lugar onde irracionalmente você persiste e eu sensivelmente já não mais existo: justamente para continuar sermos o que sempre fomos: nem eu, nem você: nós. Manguinhos e a leveza das noites pesadas por Leonardo Brasil Bueno Panorâmica Tela: Oficina Portinari Rio Faria Timbó Tela: Oficina Portinari Barbearia no Trailer Tela: Oficina Portinari – Isso foi tiro, né, Pretinha? – Foi, mas está longe... – Porra, vem pra cá, aumentou e agora tá mais perto, parece troca com armas diferentes... acho melhor você sair do quarto com janela e vir pra cá. – Tô indo, já vou levantar da cama... caramba, que sono. – Iiih, Leo, já sei que você vai demorar a dormir hoje... Noite pesada e sono leve na favela. Levanto cansado e preocupado, ligações telefônicas e mensagens virtuais. Helicópteros voam baixo, as rajadas assustam. Aquele som dos tiros parece se afastar, mas continua a preocupar. A leveza das balas desconhece os limites da distância, enquanto o peso das fardas e dos cordões brilhantes é plenamente conhecido por quem aqui vive. Qual o grau de precisão de uma guerra não convencional na favela? Quanto de “projeto bem definido e calculado” contém essa obra trágica imposta a trabalhadores e trabalhadoras da cidade? Nesse momento surgem várias imagens precisas na cabeça. Parece incrivelmente nítida a imagem do pequeno Diego andando pela rua, vestido pela surrada camisa do Vasco, descalço, poucos dentes na boca, atrás de alguém pra brincar na praça deserta ou no outro beco. Por um instante, o pensamento também descreve a família da corajosa Fernanda que tem muitos filhos, casa pequena, olhar incisivo e pouco tempo para sorrir. A memória também olha para seu caçula Carlos. Cabelos longos, sorriso e choro fácil, sempre dois dedos em “v” na pose de todas as fotos, além de uma receosa e contida maneira de falar. Também aparecem as lágrimas correndo sem parar ao ouvir a mãe falar da memória do irmão, assassinado de forma brutal por policiais da UPP. Lembro-me de Ana, cunhada de Fernanda. Expressiva e bastante alta, andando com a pequenina Victória, mãos dadas e mochila da filha de saúde frágil no ombro. Fala bastante porque tem coragem, e tem coragem porque fala bastante. Naquele momento pelo telefone, porém, a fala é rápida, em baixo volume e precisa: “Leo, muito tiro e bomba aqui, e tem uns caras de preto passando direto aqui no beco da minha casa”. Essas imagens e palavras insistem em residir na minha memória. Aparecem com frequência nesses momentos de noites pesadas, banalizadas. São acionadas pela preocupação e por um desejo de leveza. É possível? Por que há tanta leveza nas imagens que invadem o pensamento em tão pesado momento? Não há resposta segura. A noite vaga assusta, pois exige preocupação e desespero que se somam a imaginação e a beleza das quais nenhum trabalhador, jovem ou velho militante, deve se desprender. Chuva fina, manhã do dia seguinte. Um grito estridente de criança: “Leooo!”. Um pulo repentino no colo, um largo sorriso seguido de abraço carinhoso. Pergunto à afetuosa Mari enquanto a seguro: – Você comeu chumbo ou cresceu enquanto sonhava de noite? PÉTALA. PESA em PEDRA. LEVE Por Letícia Castilhos Coelho É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade Eis que me chega uma provocação: expressar em escrita “o peso da pétala e a leveza da pedra”. Pergunto-me: O que dizer do peso da pétala? O que dizer da leveza da pedra? Num primeiro instante, entre ideias bobas e certo incômodo, dada a dificuldade de imaginar uma escrita sobre tal assunto, decido não prosseguir... No entanto, a perturbação não cessa e insistentes imagens perseguem meus pensamentos. Constato e aceito o desafio. O provocatório havia cumprido seu dever e, nesse ponto, eu já não conseguia me manter isenta e deter os impulsos indisciplinados que caracterizam o processo criativo. Convencida, me entrego, me abismo e esboço, timidamente, as palavras-imagem que me habitam e povoam a imaginação. Lembro-me do poeta, e me inclino a concordar que “uma pedra é uma pedra é uma pedra” e “uma pétala é uma pétala é uma pétala”. Mas, e o peso e a leveza? Soam como “rótulos” que se grudam às coisas e, instantaneamente, atribuem qualidades, provocam sensações, despertam memórias. Memórias... Sob a guarda de Mnemosine, mãe das musas, sou invadida por lembranças e rememorações de outros tempos-espaços. No fio que trama pedras e pétalas e pesos e levezas, me trans[porto] para um outro Porto, nem distante, nem perto, nem rio, nem mar, nem triste, porém, dito Alegre. Por suas ruas e primaveras, a estação mais bela naquele porto, me lembro caminhante, a errar pela cidade que, outrora concreta como pedra do cotidiano, surge efêmera e leve como imagem do pensamento. Imagens nem nítidas, nem esvanecidas, imagens moventes em que a pedra se faz rua ou calçada ou portuguesa ou granito e a pétala se faz vento ou tapete ou cor ou textura. Nessa mistura, o paradoxo se instaura entre a “pétala-leve: pedra-pesa” e a “pétala-pesa: pedra-leve”. E da pedra (às vezes pesada) surge a leveza do mosaico esculpido pela mão humana. Torna-se caminho. Oferecese ao movimento caminhante, no qual fluxos, pensamentos e olhares se desdobram em intensidades leves (e também pesadas). E da pétala (às vezes leve) surge no chão um tapete colorido e denso, porque mesmo leve tem peso e gravidade. Torna-se caminho. Oferece-se aos pés caminhantes, no qual corpo, tatos e contatos se desdobram em intensidade pesadas (e também leves). 945 PAVUNA- ANCHIETA Por Natalia Urbina Dedicado aos moradores da Maré, Acari, Jorge Turco, Fogo Cruzado, Morro da Pedreira e Fim do Mundo. Zona Norte - Rio de Janeiro 8/10/2014 Rota Fundão- Coelho Netto Ônibus 945 Eis aqui no 945 Pavuna-Anchieta, saí cedo da aula pra pegar meu filho na Escola, Escola nova para ele: "Paula Fonseca", escola municipal situada na Praça Zuinara, no morro do Jorge Turco. Um lindo lugar, que de vez em quanto se vê interrompido, invadido por tiros que obrigam as crianças a ter boas pernas, entre subir pra estudar e se agachar para sobreviver (falando de pétalas, pedras e balas). Sim, minha pétala de rosa, meu filho maior tem sete anos, é lindo, pequeno e macio, é uma flor, arrebento dos meus sonhos e esperanças. A vizinhança conta que nessa escola, o ensino é "melhor" (chame- se melhor a uma professora que grita nos estudantes, que desliga a luz para os estudantes ficarem quietos e que usa o medo e o estigma verbal para ter alunos bem disciplinados, sem contar os golpes na mesa) – falando sobre a dureza da pedra e as pétalas da rosa e a educação pública das nossas crianças. Hoje eu estou conhecendo esta linha de ônibus, antigamente eu pegava uma integração que custava R$ 4,50 e hoje nessa mesma integração teria que pagar R$ 6,50, ou seja, estou procurando alternativas. Na dureza de um assento sem banco e uma janela pichada, o sol marca meus braços que cortam o vento que flui, livre e fresco embaixo do sol. É um ônibus bem bonito, muito colorido, na dureza do tal 945 tem várias flores, nelas me incluo, a mulher de vestido curto amarelo, a senhora dos brincos dourados e eu, tentando escrever, várias flores que ornamentam o contexto duro, como uma pedra. Aí que eu penso: as flores mais lindas são aquelas resistentes, falando das flores que crescem entre as pedras. Poesia acadêmica, realista ou favelada? Ao mais puro estilo de Gullar. Se eu tivesse pegado a integração, aquele ônibus frio e caro, eu estaria num contexto mais "macio", arcondicionado, janelas fechadas, cores cinzas, pardos, pretos e brancos, não tem sol que esquente porque o ar congela, até eventualmente os – pensamentos que poderiam – dar um pouco de calor. Nesse ônibus que é feito para flores, todo delicado, a dureza da pedra se sente quando os estudantes não têm o rosto da vida, e guardam as cores do frio, dentro de si, uma cor de pedra. Há algumas semanas, subiu um rapaz nessa integração, em frente dos tanques do exercito e gritou bem forte: Perdeu, perdeu, universitário, agora você que perdeu!!!! Os passageiros perderam tudo. Quando o rapaz chegou até mim, e nos vimos frente a frente, nos reconhecemos sim, nos lembramos da oficina, da passeata, das crianças, do baseado, aí, justo aí, o ônibus parou, e ele desceu correndo, só falou assim: toma cuidado que mais na frente uns revoltados vão jogar pedras. Agradeci por ter salvo os brincos de flor, herança da minha avó. Por tanto concluí que a melhor decisão é voltar para casa de 945. Um ônibus feito para pedras e enfeitado por varias flores. Vixi, cai na conta. Na dureza do cotidiano. Surgiu uma poesia.
Download