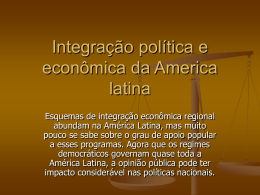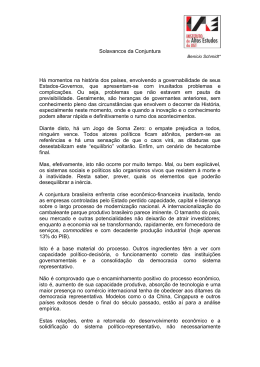CONFERÊNCIA DO EX PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO NA CEPAL SOBRE O TEMA “ALÉM DA ECONOMIA: INTERAÇÃO DE POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO” CEPAL, Santiago, Chile, 8 de agosto de 2003 1 Quero, antes de tudo, agradecer o convite do Secretário-Executivo da CEPAL, meu estimado amigo José António Ocampo, para comparecer a esta Casa, de onde, na verdade, jamais me senti ausente. As funções que estive exercendo nos últimos anos impediram-me de vir à CEPAL com a regularidade que desejava, mas o fiz sempre que possível, como na visita de Estado que realizei ao Chile nos meses iniciais de meu primeiro mandato. Também me trouxe grande satisfação presidir a abertura do XXIX Período Ordinário de Sessões em maio do ano passado, em Brasília, quando se aproximava a conclusão de meu segundo mandato. Iniciei e concluí meu oito anos de Governo em contato estreito com a CEPAL. Isto é muito significativo para quem se percebe desde sempre inspirado pela missão da CEPAL de compreender a realidade latino-americana segundo seus próprios termos. Sabemos todos que o norte dessa missão foi definido pelo patrono desta Cátedra, Raúl Prebisch. Escrevi uma vez que o mérito maior da Comissão foi ter alcançado originalidade na cópia. Prebisch é o melhor exemplo. Sua obra não foi produzida ex nihilo. Prebisch bebeu em fontes seguras. Era familiarizado com a teoria do desenvolvimento. Conhecia os clássicos e a obra de Keynes. Tinha presente o trabalho de Hans Singer. Valorizou o acervo estatístico das Nações Unidas. Mas soube assimilar criando, que é como a inovação sói ocorrer nas ciências econômicas e sociais. O conhecimento costuma evoluir por ganhos cumulativos, pela abertura de um novo ângulo ou perspectiva, e não por cortes dramáticos com o saber existente. 2 A chave de que se serviu Prebisch foi a adequação da teoria do desenvolvimento ao contexto regional. Fez ver que o comércio internacional não havia propiciado à América Latina as benesses apregoadas pela teoria das vantagens comparativas. Ou pela promessa neoclássica de que o comércio permitiria a equalização entre os países da remuneração dos fatores de produção. A capacidade de organização política dos trabalhadores e empresários nos países centrais impedira que os frutos do maior progresso técnico lá alcançado fossem partilhados pelas economias latino-americanas via queda no preço dos bens industriais. Observara-se, na verdade, uma deterioração contínua, ainda que irregular, nos termos de intercâmbio de nossos produtos agrícolas. Daí a recomendação por Prebisch de políticas de industrialização que se destinariam não apenas a ampliar a capacidade de acumulação das economias regionais, mas a reorientar o perfil de nosso comércio exterior. Mais tarde viria a propor uma concertação política a favor da integração dos mercados nacionais. Queria garantir, pelo atendimento das exigências de escala, o êxito do processo de substituição de importações. Desejava construir as condições políticas para um redimensionamento do papel e, quiçá, do peso da América Latina na economia mundial. Prebisch não era, portanto, um fatalista. Acreditava no desenvolvimento, malgrado os gargalos internos e as assimetrias do comércio internacional. Nisto fui e continuo sendo discípulo de Raúl Prebisch. Diria o mesmo de meu querido amigo, Enzo Falleto. Jamais vimos contradição entre desenvolvimento e dependência. 3 A situação de dependência definia o feitio excludente e iníquo do desenvolvimento, mas não o impedia. Foi o aporte maciço de capital externo que, ao lado do investimento público e, em menor volume, do capital privado nacional, sustentou nos anos sessenta a expansão dos indicadores em muitos de nossos países. O desafio que se colocava e não foi atendido era o de fazer chegar os benefícios desse crescimento ao maior número. O desafio era acreditar na autonomia do político e buscar um arranjo de poder mais sensível aos interesses da maioria, o que supunha a afirmação da democracia. Isto nos remete ao objeto de nossa apresentação, a interação de política e desenvolvimento econômico, tema tão gosto de Raúl Prebisch, crente como era ele em um desenvolvimento politicamente orientado. O assunto evoca desafios que nossos agentes políticos são chamados a enfrentar no novo milênio. Traz à mente o esforço em curso para adequar nossas economias a novos padrões de competição e produtividade, sem prejuízo do objetivo de tornar o Estado apto a responder a demandas sociais cada dia mais complexas e diversificadas. Inicio o tratamento do tema recordando que democracia e progresso econômico sem sempre foram considerados valores compatíveis. Foram muitos os momentos ao longo da história em que os reclamos democráticos se viram inibidos por supostas exigências do processo econômico. Forjaram-se antinomias entre o sufrágio universal e o direito de propriedade, entre os direitos sociais e o crescimento econômico, entre os direitos coletivos e a estabilidade orçamentária. 4 Em sua acurada revisão do pensamento conservador nos dois últimos séculos, Albert Hirschman lembra o peso do argumento econômico no discurso contrário à ampliação dos direitos de cidadania. Um caso emblemático teria sido a resistência oposta à aprovação pelo Parlamento inglês das reformas liberais de 1832 e 1867, tidas como ponto de inflexão na história política da Inglaterra, ao provocarem, com a extensão do direito de voto, o fim do domínio oligárquico. Não menos tenaz foi a campanha de oposição aos direitos sociais desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos na segunda metade deste século. Em contraste com as teses keynesianas que sustentavam existir compatibilidade entre os gastos sociais e o crescimento econômico, alertava-se para os riscos impostos por uma hipertrofia do Estado para o equilíbrio fiscal e a estabilidade monetária. A isto se somaria o receio de que ampliação das garantias sociais pudesse gerar crises de governabilidade, como tanto pregou a celebrada Comissão Trilateral no decorrer dos anos setenta. Os Estados estariam assumindo obrigações além de sua capacidade de gestão. Entre nós, o conflito entre política e economia se manifestava com outros matizes, certamente mais agudos, de difícil acomodação. Estive entre aqueles que viam com reservas a explicação de que a experiência autoritária estaria inscrita na lógica do mercado, como condição para o aprofundamento do processo de substituição de importações (Guillermo O’Donnell). 5 Parecia-me claro que as ditaduras latino-americanas eram fenômenos eminentemente políticos, que se sustentavam na capacidade dos autocratas de plantão de utilizarem o espectro da Guerra Fria para abafar o dissenso. As elevadas taxas de crescimento alcançadas em alguns daqueles anos decorreram, como afirmei no início, da ampla disponibilidade de crédito, e não do arbítrio. Este somente viria acentuar alguns traços perversos do modelo, como a concentração de renda. Nos anos oitenta, já em pleno processo de liberalização política, o discurso do autoritarismo como fator de progresso voltou à baila na América Latina. Diante da alegada inaptidão dos governos civis em promoverem as reformas que se sabiam necessárias à retomada de um crescimento sustentável, tornou-se corriqueiro o elogio ao desempenho dos regimes autocráticos do Sudeste Asiático. Sabemos que, uma a uma, as teses que postularam um vínculo necessário entre arbítrio e progresso foram desacreditadas pela história. É assim que a extensão do sufrágio na Europa se deu passo a passo com o desenrolar da Segunda Revolução Industrial. A afirmação do Estado do Bem-Estar Social coincidiu com o expressivo surto de crescimento das economias industriais no pósguerra. A América Latina não se tornou mais justa sob os regimes de exceção. Democracia e desenvolvimento são hoje valores de primeira grandeza na agenda dos Estados, mas não são, em essência, indissociáveis. Por mais que se possa inferir do histórico político das nações mais ricas que o crescimento econômico dificilmente se sustenta sem um amplo usufruto das liberdades públicas, a afluência material não representa um corolário necessário da opção democrática. 6 Prefiro falar de um vínculo imperativo, que não é dado, mas construído, a partir do reconhecimento de que a democracia é uma opção que se justifica em si mesma, como valor universal, passível como tal de aceitação por todos. Não quero com isso arrefecer o ânimo dos que buscam afinidades entre democracia e desenvolvimento. Pelo contrário. Desejo, na verdade, contribuir para que essa busca se faça com realismo. Não foram poucos os que, na América Latina, anteviam o fim do autoritarismo como a chegada à terra da promissão. A experiência logo nos mostraria que o caminho haveria de ser menos fluido, mais desafiador. A longa e penosa recessão que nos afligiu nos anos oitenta, quando já estávamos sob governos civis, foi uma evidência sobremaneira eloqüente de que política e economia podem ter sinais trocados, de que o Estado de Direito não traz inelutavelmente consigo a prosperidade. Como, então, situar a relação entre democracia e desenvolvimento? Devemos nos contentar com o ceticismo de alguns analistas que, diante da dificuldade de definir vínculos precisos e permanentes entre esses valores, optam por vêlos como realidades inteiramente autônomas, cuja interação não se daria senão em bases aleatórias, ocasionais? Estou convencido de que podemos ser mais assertivos na valorização da democracia. Sem a preocupação de traduzir em cifras as benesses do voto, é possível discernir aspectos da experiência democrática de claro interesse para os agentes econômicos. Aspectos que são fundamentais, estou certo, para a busca de um desenvolvimento sustentado. Lembraria, em primeiro lugar, a questão da legitimidade. 7 Sabemos que a democracia tem método próprio para a definição de políticas públicas, inclusive daquelas afetas à gestão da economia. As decisões não prescindem de deliberação. Resultam de uma acomodação negociada de interesses, segundo regras transparentes, definidas no espaço público. Os benefícios daí advindos para a condução da economia me parecem evidentes, a começar pela credibilidade de que na democracia se revestem as normas balizadoras da atuação do mercado. As políticas macroeconômicas deixam de refletir a suposta onisciência de tecnocratas iluminados e passam a representar a depuração de interesses legítimos, um concerto de vontades, entre as quais a do próprio governo. Permito-me recorrer neste contexto ao exemplo do plano de estabilização da economia brasileira, o Plano Real. Em contraste com experiências anteriores, todas insatisfatórias, o Plano foi montado ao longo de um extenso processo de consulta, diálogo, persuasão, acomodação de perspectivas. A acolhida que foi dispensada às suas diretrizes pelas forças produtivas e pela sociedade em geral não foi, assim, um desdobramento fortuito. Decorreu de sua legitimidade enquanto processo. Argumentava-se na época que uma plêiade de pré-condições econômicas teria de ser satisfeita antes de cogitar de um plano de estabilização. A realidade mostrou que as medidas econômicas necessárias podiam constituir etapas e não pressupostos do esforço de estabilização, desde que introduzidas com um amplo e consciente amparo político e social. A disposição em negociar com os atores sociais e em prestar explicações à opinião pública foi, ela sim, a condição sem a qual o Plano Real não teria vingado. 8 Outro exemplo da importância dos procedimentos democráticos para a superação de dificuldades foi a reação no Brasil à crise de energia em 2001. Percebida a gravidade do quadro, a decisão foi a de explicar tudo ao país e pedir a colaboração da população para um severo racionamento. O apoio foi generalizado. A mídia mobilizou-se, informando independentemente e de forma meticulosa qual era a questão. O país como um todo, durante cerca de dez meses, acompanhou os esforços de contenção do consumo em cada região (às vezes de cada grande cidade) e seus efeitos nos reservatórios. O resultado é que se conseguiu evitar - ao contrário do ocorrido na Califórnia, por exemplo – a necessidade de “apagão” (black-out) por algumas horas diárias. Foi, sem dúvida, a concertação entre o Estado e a sociedade que limitou consideravelmente os danos da crise à economia nacional. Quando produzidas segundo o método democrático, as decisões econômicas também se mostram menos sujeitas às circunstâncias voláteis em que é hoje gerada a riqueza. As opções de que as autoridades governamentais costumam dispor para a superação de crises conjunturais provêm do debate diário entre o Governo e a Oposição, quando não dos próprios mecanismos de deliberação internos à máquina do Estado. Basta lembrar a atitude do Brasil diante dos ataques especulativos contra o Real. A consistência com que debelamos a crise dificilmente teria sido possível em um ambiente avesso ao diálogo, à transigência, a julgar pelo desenlace de estratégias mais impositivas adotadas em outras regiões do mundo. Não estou sugerindo que a democracia nos deixa imune ao humor dos especuladores. 9 As decisões sobre como e quando alocar os capitais de curto prazo têm escapado ao controle das instâncias governamentais, provocando variações cambiais, afetando contas públicas, comprometendo políticas de juros. Mas esse quadro pode ser alterado. É cada vez mais disseminada a percepção da necessidade de rediscutir a arquitetura do sistema financeiro internacional, de modo a torná-lo mais eficaz na regulação dos fluxos de capital, cujo descontrole afeta a todos, ricos e pobres, ainda que em graus diferenciados. Levantei o tema pela primeira vez em palestra realizada nesta Casa na visita de 1995. Para minha satisfação, soube pelo Secretário Ocampo na XXIX Sessão Ordinária que a CEPAL havia aceito o desafio e estava tratando do assunto com a seriedade que os riscos que comporta exigem. Lamento que o exemplo não tenha sido seguido e a proposta de um melhor monitoramento do capital volátil continue ausente da agenda dos países com maior influência sobre a arquitetura financeira internacional. Convém recordar que a hipótese de regulação dos fluxos financeiros esteve em pauta e foi acatada nas negociações de Bretton Woods. O artigo VI do acordo de criação do Fundo prevê a possibilidade de que o FMI solicite a um Estado-Membro o exercício de controles para conter fuga excessiva de capital e o conseqüente recurso às reservas da organização. É verdade que os dois principais arquitetos de Bretton Woods, John Maynard Keynes, que assessorava o Exchequer, e Barry Dexter White, do Tesouro americano, divergiram sobre o grau de autonomia do Fundo e a disponibilidade de reservas. Keynes esperava que o FMI constituísse um verdadeiro banco central internacional, que servisse de contraponto ao poder econômico norte-americano, reunindo, entre outras prerrogativas, a de criar seu próprio instrumento de crédito. 10 Já Barry White via o Fundo como uma instituição destinada a assegurar o crescimento equilibrado do comércio mundial de uma maneira tal que preservasse o papel central do dólar nas finanças internacionais. E assim foi criada a instituição, ancorada unicamente no dólar. Só que White logo percebeu que a estabilidade do dólar ficaria em risco com o aumento que se anunciava vertiginoso do comércio mundial e a necessidade de uma expansão equivalente das reservas internacionais. Passou a endossar a posição de Keynes, chegando a propor a revisão dos estatutos do Fundo de modo a permitir a criação de reservas próprias. A proposta não prosperou. Somente duas décadas depois seria acatada emenda introduzindo a figura dos direitos especiais de saque, ainda que em volume limitado. E o fato é que até hoje continua-se a postular a ampliação dos DES de modo a existir um colchão de reservas que possa melhor amparar os países com problemas conjunturais. Ao falar da importância da democracia para a fundamentação de nossa política externa, não posso deixar de fazer menção ao Mercado Comum do Sul. O Mercosul nasceu graças à democracia, que permitiu a diluição de rivalidades e o reforço da confiança entre o Brasil e a Argentina. O processo evoluiu sob a égide da democracia, com o envolvimento das respectivas sociedades nacionais. Pela sua eficácia, a cláusula democrática inspirou a adoção de mecanismos congêneres na Cúpula da América do Sul, em Brasília, e, no âmbito hemisférico, na reunião de Québec. Sem a democratização do Cone Sul, o Mercosul não existiria, mas, ao existir, integrando mercados, superando crises conjunturais e produzindo riquezas, promoveu a democracia além fronteiras. 11 É um círculo virtuoso que confere autoridade ao pleito de seus Membros por uma ordem mundial mais democrática. Concluiria retomando a idéia que tem permeado esta palestra de que o vínculo entre democracia e desenvolvimento não é dado, mas construído, o que acentua - acho importante ressaltar - a responsabilidade política dos grupos dirigentes. Responsabilidade tanto para não se deixarem seduzir pelo apelo fácil do populismo, amigo do autoritarismo, mas também, e sobretudo, para terem a ousadia de atualizar posições, de renovar conceitos, de explorar novos caminhos, sempre que assim recomende o bem comum. Não foram poucas as situações em que este desafio se colocou para quem esteve no exercício do poder na América Latina dos anos noventa. Refiro-me a situações onde a omissão teria o custo claro de atrelar o país ao passado, a fórmulas datadas. Diante da globalização, ou de seu caráter inelutável, cabia explorar o modo de inserção internacional mais vantajoso para nossos países, sem a fantasia de soluções autárquicas, mas com a consciência de que o processo tende a gerar efeitos assimétricos, a perpetuar desigualdades. Aproximando-se o fim da década, desafios como esses continuam em pauta. Neles está em jogo mais do que o desempenho econômico de nossas democracias. Também se coloca em juízo a capacidade de modelarmos, pelo método democrático, um conceito de desenvolvimento diferente daquele que pautou nossa experiência histórica. Um desenvolvimento que não seja excludente, que contemple a todos. Um desenvolvimento que possibilite erradicar a miséria, que elimine a indigência em que continuam a viver milhões de latino-americanos. 12 Para que a assertiva não soe vaga ou mesmo demagógica, é preciso delinear “uma nova agenda de crescimento”. A última década deixou claro que não há espaço nas circunstâncias atuais seja para o fechamento das economias, seja para o financiamento inflacionário do consumo e do investimento, seja, mesmo em relação aos países de desenvolvimento intermediário, para a volta pura e simples à política de substituição de importações. Mas isto não pode significar apenas aceitação do que se convencionou chamar de “ortodoxia monetária” ou de “Consenso de Washington”. Tanto é que nossos países têm ampliado as políticas educacionais, criado redes de proteção para oferecer alguma perspectiva aos mais pobres e reorganizado a administração pública e a estrutura do Estado. Salvo poucas exceções, não se resvalou para a visão dita neoliberal de um Estado mínimo. Chegou a hora de – junto com o esforço que está sendo feito de aumentar continuamente a produtividade e ganhar mercados externos – recuperar, progressivamente, também o mercado interno. Fácil falar, difícil fazer. Mas não impossível. Talvez a questão básica – e, no caso, entramos de chofre na relação entre economia e política – seja a de compreender o mais difícil: como não há rupturas possíveis com as regras fundamentais do jogo, nem milagres, o caminho é longo e os líderes responsáveis, infelizmente, precisam oferecer “suor e lágrimas”. Mas está claro que suor e lágrimas sem recompensa levam ao desalento (à insatisfação social, a revoltas pontuais, à desmoralização de governos), no que se identificam com promessas populistas. Portanto, o caminho do progresso lento – e não há outro – só é aceitável se for progresso contínuo e para todos. 13 Tem faltado às nossas lideranças políticas firmeza para mostrar que o caminho é árduo. E tem faltado mais ainda a compreensão – nacional e internacional – de que sem retribuição adequada em termos de elevação da qualidade de vida, não somente a democracia corre perigo, como a própria economia não deslancha. Muito obrigado
Baixar