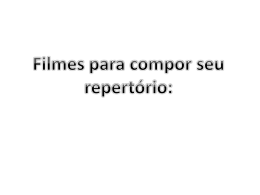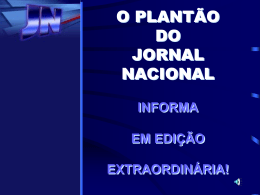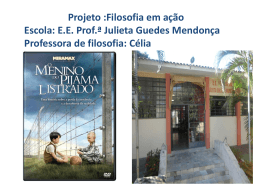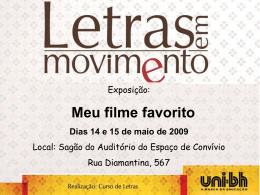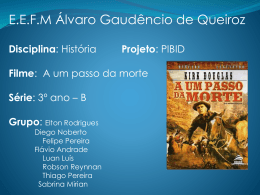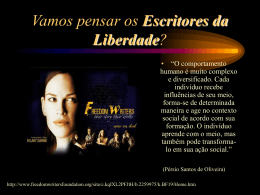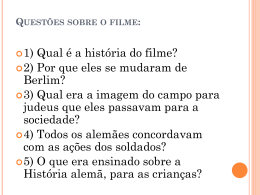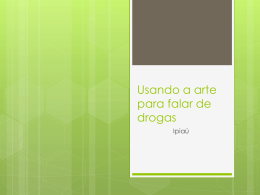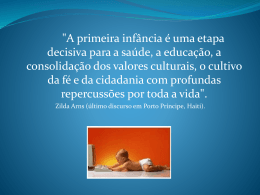Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação O dandismo de dois filmes contemporâneos Dandyism in two contemporary films 1 André Antônio Barbosa Resumo: Através da análise comparativa das mise-en-scènes de dois longasmetragens de 2014 – "Os Maias", de João Botelho (Portugal) e "Saint Laurent", de Bertrand Bonello (França) – este ensaio propõe o dandismo como chave de leitura para se compreender um caminho estético novo que o cinema contemporâneo tem tomado no contexto da sociedade de controle. Com a canonização e o engessamento, no campo institucional do cinema independente, da estética revolucionária modernista do “real”, vários cineastas tem experimentado uma configuração formal que poderia ser descrita como “dândi”: esteticista, agradável, artificial, irônica, lúdica e fria. Quais as implicações desse tipo de experiência estética? As hipóteses aqui expressas integram minha pesquisa mais ampla de doutorado sobre este tipo novo e recente de cinema. Palavra chave: Artifício, Dandismo, Esteticismo, Frieza Abstract: Through a comparative analysis of the mise-en-scènes of two 2014 films – João Botelho’s "Os Maias" and Bertrand Bonello’s "Saint Laurent" – this paper proposes dandyism as a reading key to understanding a new aesthetics that informs contemporary cinema in the context of control society; a formal setting that could be described as “dandy”: aestheticist, artificial, wit, playful and cold. Keywords: Aestheticism, Artifice, Coldness, Dandyism “O dandismo tomou muitas formas. Algumas estão tão disfarçadas que demandam decodificação. Seus efeitos na arte, na literatura e na vida ainda estão conosco” Nigel Rodgers www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 1 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Figurinos extravagantes, cenografias luxuosas, cores prazerosas e, no centro desse estado de coisas, o mais frívolo dos personagens: o dândi. Nada poderia destoar mais da estética privilegiada nos últimos anos pelo cinema contemporâneo (isto é, pelas críticas publicadas, pelas pesquisas e estudos feitos nas universidades e pela seleção e premiação de festivais). Estética cuja força apoiou-se numa renovação da crença bazaniana no austero, na candura redentora do “real” e na resistência heroica que personagens “simples”, cotidianos e banais apresentam contra o domínio desumano do capital. De maneira curiosa, porém, dois longas-metragens de 2014 encaixam-se completamente na descrição com a qual começo este ensaio: Os Maias: cenas da vida romântica (Portugal) e Saint Laurent (França). Meu objetivo aqui é, muito mais que analisar o modo com que cada um dos dois filmes aborda o dândi, perguntar de quê esse interesse renovado pelo personagem é sintoma. Minha hipótese é que o dândi é mais que uma figura que pode protagonizar o enredo de filmes recentes: é a cifra de uma estética cinematográfica nova, que encontra seus caminhos através do esgotamento do já por demais canonizado “cinema do real”. O dândi e o dandismo A maioria dos escritos sobre o dândi aos quais pude ter acesso remete ao inglês George Brummell (1778-1840) como o início do fenômeno: o primeiro dândi (a exceção é Baudelaire, que afirma que o dandismo é uma instituição “antiga, pois dela César, Catilina, Alcibíades nos dão exemplos impressionantes” [BAUDELAIRE, 2010, p. 62]). Significativa e constantemente referido como “Beau” Brummell, ele foi considerado pelos seus admiradores o homem mais elegante de sua época. O fascínio que Brummell exercia consistia em uma peculiar reunião de características: seu modo impecavelmente sofisticado de se vestir tinha como único fim sua própria frivolidade – numa espécie de “arte pela arte” da moda – ao contrário dos “homens de negócio” burgueses de que se distanciava, os quais seguiam de maneira cega as regras do vestuário masculino apenas como forma de aumentar seu status. Brummell também possuía um humor irônico permanente, ou wit – isto é, com frequência tornava importantes coisas irrelevantes e descartava com um tédio mortal o que os costumes burgueses consideravam moralmente valioso (é conhecida a pergunta que fez, com uma expressão blasé, a seu criado quando ambos chegaram diante de uma belíssima paisagem com lagos: “Robinson, qual dos lagos eu prefiro?”) – e isso concedia uma frieza estranha e inédita à sua elegância e polidez. É como se aquele homem extremamente bem vestido, cortês e gentil tivesse, paradoxalmente, a fragilidade superficial, inócua e cadavérica de uma máscara ou de um www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 2 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação artifício em constante e infinita mutação: Ele [Brummell] chegou ao mínimo do wit, conseguindo levá-lo, com felicidade ou dor, a um ponto quase invisível. Todos os seus bons mots fundam-se em uma única circunstância, a exageração dos mais puros disparates em negócios importantes... o seu significado é tão atenuado que “nada vive” entre estes e o não-sentido: estes ficam suspensos à beira do vazio, e na sua sombreada composição estão muito perto da nulidade... A sua arte consiste de fato em escavar algo do nada (HAZLITT apud AGAMBEN, 2007, p. 89). A vida ostensivamente hedonista que Brummell levava – só saía de casa depois que o sol se punha não apenas por acordar demasiado tarde, mas por gastar horas intermináveis em sua toalete para passar a noite impressionando repetidamente salões, clubes, encontros, eventos, festas e bailes – poderia parecer, no mínimo, irrelevante para qualquer discussão “séria” sobre arte. Não fosse o fascínio notável que ele exerceu sobre gerações de escritores e intelectuais, tornando-se personagem de obras literárias e objeto de análises e especulações filosóficas. Na verdade, é possível afirmar que existe uma tradição de pensamento que enxergou em Brummell algo de crucial para a vida nas sociedades modernas, algo que precisava ser compreendido e cultivado. Assim, quando se fala que existiu o “dândi” é preciso também falar que existiu o “dandismo”: embora Brummell não fosse um “intelectual” ou um “artista”, vários artistas e intelectuais transformaram seu modo de vida numa espécie de paradigma estético. O que estava em jogo em Brummell não era a excentricidade de um só homem em particular, mas a possibilidade de uma nova forma de vida, uma nova maneira de se relacionar com o mundo: “A homens que haviam perdido a desenvoltura, o dandy, que transforma a elegância e o supérfluo na própria razão de viver, ensina a possibilidade de uma nova relação com as coisas” (AGAMBEN, 2007, p. 82). Ou, como afirmou Nigel Rodgers, “...não era dinheiro, posições ou poder. Essas coisas podiam ser encontradas em outros lugares. Brummell oferecia algo muito mais encantador: um exemplo de como viver” (2012, tradução minha, cap. 2). www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 3 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Baudelaire foi um dos primeiros a fazer a “transição” do dândi enquanto um indivíduo específico (Brummell ou outro) às potencialidades mais gerais do dandismo, que ele enxergou (2010) como uma espécie de religião para iniciados que pode estar presente em vários contextos e culturas (“Chateaubriand descobre-a nas florestas e às margens dos lagos do Novo Mundo” [BAUDELAIRE, 2010, p. 62]). Sobretudo, para Baudelaire, o dandismo era uma espécie de atitude radicalmente oposta aos valores burgueses e à insipidez da sociedade capitalista industrial, “o último rasgo de heroísmo nas decadências” (idem, p. 66): A crítica capitalista de Baudelaire será crucial para desenhar o nascimento de um novo dandismo, mais ideológico e intelectual que o exercido por Brummell (...) Há um dandismo de Brummell como há um dandismo de Baudelaire. Mas ainda, a dificuldade se agudiza por ser, o dandismo, uma instituição situada nas fronteiras entre a história das condutas e a literatura, entre um personagem do século XIX e um tipo universal (SUTHERLAND, 2011, tradução minha, p. 18-19). É interessante notar que esse caráter de “rebeldia” do dandismo contra o mundo burguês é uma constante nos escritos sobre o tema. O que suscita a dúvida de por que o universo dândi ficou tão marginalizado na história – tão sensível às conexões entre estética e política – do modernismo ao longo do século XX. De fato, obras com tendências “dândis”, como as de Proust na literatura ou as de Visconti no cinema, sempre fizeram parte do “cânone” sem, porém, nunca conseguirem ser suas peças mais emblemáticas ou representativas. A frivolidade radical do dândi, na maior parte dos textos sobre o tema, é entendida como uma potência que corrói as hierarquias e partilhas que sustentam os valores burgueses. O dândi põe em cheque o que é sério e o que é irrelevante, embaralha o que é considerado produtivo e inútil pela ordem econômica e social: ...[os dândis] desprezaram o dinheiro e louvaram com elegância e rigor a beleza da “arte do inútil”, imaginário cultivado onde entrarão os mestres do ócio, criadores, artistas, escritores, músicos, poetas e pintores, que em meio à ascensão e desenvolvimento da burguesia se dedicaram a trabalhos contra-produtivos ou diretamente em franco desdém pelo trabalho “produtivo” e “útil” (SUTHERLAND, 2011, p. 18). www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 4 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Como coloca Juan Pablo Sutherland, o dandismo é composto por “personagens, auras e agudas frivolidades que interrogam a própria cultura burguesa” (idem, p. 15); isto é: “Vaidade, frivolidade, futilidade, fatuidade são os termos que melhor descrevem a singular rebeldia que expõe o dandismo frente à razão utilitarista da ordem capitalista” (BERNABÉ apud SUTHERLAND, 2011, p. 25). Talvez, porém, o dândi comportasse uma ambiguidade que a urgência do modernismo não tinha interesse de ruminar: “O dândi, superficial em seu orgulho de pavão mas profundo em seu desafio ao mundo comercial, permanece um enigma. É ele um aristocrata ou um democrata? Ou um aristocrata e um democrata?” (RODGERS, 2012, cap. 1). Mas se a rebeldia do dândi – ou do dandismo – consistia numa espécie de radicalismo da frivolidade e do inútil, ele fatalmente deveria ser marginalizado dos recortes sensíveis que o modernismo construiu para a arte ao longo do século XX. A elegância lânguida do dândi, por mais que incomodasse a ordem estabelecida, era demasiado diferente das convocações para o “despertar” e para a “ação” caras à sensibilidade revolucionária do modernismo. O gosto dândi pelo decorativo e pela moda não estava incluso no horizonte utópico modernista, que almejada destruir o mundo artificial das mercadorias capitalistas. Pelo contrário, “Ao invés de fugir do mundo industrial democrático, como a maioria dos românticos fez, o dândi o confrontou. Ele tentou recriar uma elite pré-revolucionária – uma elite estética – num mundo pós-revolucionário, saindo aos bulevares para impressionar e inspirar” (Idem). Mas, no momento em que a sensibilidade política modernista, no cinema, parece atingir um cansaço renovado, um engessamento ou canonização frente ao contexto cambiante e cooptador da sociedade de controle, a fleuma paradoxal, ambígua e complexa do dândi, como um sintoma recalcado que retorna, parece nos assombrar com uma força renovada nos dois filmes que abordarei aqui. Seria o dandismo uma configuração estética interessante para compreender melhor os caminhos que o cinema atual mais instigante tem tomado? Quando assisti a Os Maias no Festival do Rio 2014 – significativamente porque os ingressos para o cânone absoluto do cinema independente contemporâneo, Pedro Costa, haviam se esgotado – as cores, os personagens e os figurinos do filme me trouxeram instantaneamente à memória a célebre pintura de Boldini do Conde Montesquiou, o homem em que Proust se inspirou na construção de um dos principais dândis da Recherche, o Barão de Charlus: www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 5 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Img 1 - Giovanni Boldini, "Conde Robert de Montesquiou", 1897 Decidi pôr a pintura neste ensaio acompanhando os frames dos dois filmes para formar uma espécie de constelação de semelhanças visuais que fulguram entre as imagens e potencializam as hipóteses traçadas, à maneira de um mural warburguiano através do qual é possível acompanhar os rastros e sobrevivências de uma cifra cujo significado é preciso desvendar. Duas mise-en-scènes Minha leitura dos dois filmes aqui, portanto, tentará partir do dândi (o personagem) para chegar ao dandismo (na forma dos filmes). Uma abordagem comparativa das duas mise-en-scènes bem diferentes de cada filme poderá ser capaz de engendrar uma resposta mais esclarecedora à pergunta: em que medida esses longas-metragens não apenas são narrativas sobre dândis mas são, eles próprios, obras dândis? A noção de uma “obra dândi” soa menos estranha quando pensamos www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 6 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação na passagem, acima mencionada, do “dândi” ao “dandismo”. Ela tem menos a ver com quão dândi o autor da obra é ou em que medida há personagens dândis e mais com características formais da própria obra. Nigel Rodgers, por exemplo, considera Don Juan, de Byron – cuja extravagancia rebelde, romântica e despojada em seu modo de vestir não poderia estar mais distante da frieza impecável de Brummell – “elegantemente satírico (...) o maior dos poemas dândis”. [Don Juan] é soberbamente dândico. Ele pesquisa o mundo, do naufrágio ao harém e à corte real, com um divertimento mundano derivado das experiências de Byron na Inglaterra da Regência e no Mediterrâneo (...) Tal insensibilidade é intercalada com cenas ternamente românticas como a de Juan e Haidée, uma garota grega que o resgata. Eles vagam ao longo da praia, sozinhos, no pôr-do-sol... (...) Goethe, escrevendo a Byron, disse que a mistura do romântico e do cômico de Don Juan era impossível em alemão. É infernalmente difícil em inglês apesar de toda a aparente facilidade de Byron, mas é quintessencialmente dandesco (RODGERS, 2012, cap. 3). Se o dandismo é uma relação com as coisas do mundo inspirada no modo de vida do dândi, então é uma atitude estética que pode ser identificada na forma de uma obra de arte e, portanto, na mise-en-scène de um filme. Mise-en-scène consistindo justamente no modo com que os ângulos e movimentos de câmera, a dramaturgia com o corpo dos atores e com a cenografia e a montagem implicam uma forma de se relacionar com o mundo. Para Rodgers, Don Juan, como um verdadeiro dândi, possui, em sua construção formal, uma “insensibilidade mundana” ao mesmo tempo que, paradoxalmente, uma indulgência prazerosa na “ternura romântica”. Há um jogo complexo de ironia cômica e paixão emotiva que, segundo Rodgers, é dandesco. Eu arriscaria, aqui, a seguinte definição de dandismo: um modo de se relacionar com o mundo que, por um lado, privilegia o esteticismo, a beleza, a elegância, a delicadeza, o pitoresco ou pictórico, isto é, uma ordem e, por outro lado, paradoxalmente, põe em cheque essa “ordem” ao privilegiar a superficialidade, a frivolidade, a fragilidade, o artifício, o lúdico, a ironia ou wit, a indiferença ou a frieza. É como se o encanto e o esplendor só pudessem ser acessados por uma artificialidade infinitamente mutante: “Talvez a relação mais estreita de Brummel com Oscar Wilde tenha sido pensar sua vida em permanente construção cênica” (SUTHERLAND, 2011, p. 17). Uma artificialidade que, portanto, gera uma espécie de frieza blasé: “Frio poderia descrevê-lo perfeitamente se a palavra não tivesse sido terminalmente ultra-utilizada. Este froideur serviu, como Baudelaire depois notou, para manter tolos à distância, algo essencial para o dândi” (RODGERS, 2012, cap. 1). Antes de responder qual a importância e que consequências esse tipo de estética – tão diferente do cânone artístico e cinematográfico que as instituições contemporâneas parecem www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 7 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação privilegiar – poderia ter em nosso contexto atual, pergunto: o quão “dandicamente” os dois filmes aqui em questão se relacionam com o mundo, para além de terem dândis como personagens de seus enredos? Em minhas análises a seguir, escolhi privilegiar de maneira comparativa a estética e a mise-en-scène de cada filme específico, sem trazer uma abordagem autoral (isto é, sem mergulhar nas obras mais amplas e relativamente coerentes que cada um dos dois auteurs possuem e dentro das quais cada filme está, certamente, inserido). Os Maias As palavras com que Oscar Wilde descreveu seu O retrato de Dorian Gray, “Receio que se pareça bastante com minha vida – repleto de conversas e nenhuma ação” (2010, p. 294), poderiam com precisão ser aplicadas a Os maias: cenas da vida romântica, adaptação do romance de Eça de Queirós dirigida pelo português João Botelho. Em termos de mise-en-scène, o filme repete e reitera, ao longo de toda a sua duração, o mesmo princípio estilístico: há um plano mais aberto, na maior parte dos casos mostrando uma cena de conjunto – tolos personagens da sociedade lisboeta abastada em seus trajes luxuosos tagarelam em ricos salões ou terraços repletos de ornamentos, quadros, vasos e pinturas murais –, que lentamente, através de um zoom-in muito sutil, vai sendo fechado num grupo menor de personagens de mais destaque na cena ou plano em questão (muitas vezes, as cenas e planos coincidem). A sensação do filme como um todo, ao cabo de suas mais de duas horas (João Botelho também preparou uma versão para a TV, ainda mais longa, dividida em quatro episódios), é o de vagar calmamente – no limite do tédio – por várias recepções da alta sociedade portuguesa do século XIX e presenciar suas infinitas, e inúteis, conversas. A câmera de Os Maias, por mais que produza planos longos e de duração estendida, é fria: estamos longe, aqui, da candura material e das revelações redentoras do cinema do fluxo, do plano-sequência bazaniano e da imagem-tempo, que parece dominar o gosto cinéfilo dos últimos anos. Ao invés de personagens simples em sua resistência muda e cotidiana, o que temos aqui são grupos de pessoas ricas e mesquinhas interagindo em conversas frívolas. O espectador parece estar diante, com o desenrolar do filme, de um afeto mais congelado, discreto, que só poderá encontrar vazão nas elegâncias decorativas da pictorialidade. É possível dizer que a mise-en-scène de Os Maias é “dândica” em dois sentidos. Por um lado, com seus ângulos abertos, põe o foco reiteradamente em cenários, na direção de arte e nos figurinos. Há um rigor elegante na construção dos enquadramentos, quase tão polido quanto a www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 8 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação forma de se vestir de um dândi. O filme opta claramente pelo esteticismo, por um embelezamento pictórico que parece ser o exato oposto do realismo rosselliniano privilegiado pelo cânone do cinema contemporâneo. Reforçando isso, no prólogo do filme, que tem a função de resumir boa parte da história do romance original, um narrador familiariza o espectador com personagens da família Maia através de uma sucessão de tableaux em preto-e-branco (o restante do filme é a cores) de grande apuro plástico. Por outro lado, os créditos iniciais do filme se desenrolam sobre o que parece ser um espaço de bastidores do filme, com figurinos semi-preparados, perucas em manequins, anotações, objetos e fotografias em uma luz “teatral”, dramática e contrastada, como se o filme deixasse claro desde o princípio que o que está em jogo é, também, um interesse pelo artifício frio, pelo superficial e pelo exterior. A dramaturgia sutilmente cartunesca que guia os atores reitera isso, dando ao filme uma sensibilidade de máscara debochada. É possível, assim, dizer que Os maias, tal qual um dândi, configura-se através de um esteticismo frio. A insistência no plano aberto com, no máximo, o uso do zoom é uma forma de não tomar o ponto de vista de nenhum dos personagens. Não há qualquer jogo de campo e contracampo ou planos subjetivos que façam o espectador se envolver ou se identificar nos dramas apresentados. Tudo é visto de uma distância gélida, que cria o efeito de diminuir a relevância e o peso das situações vividas pelos personagens. É como se qualquer possibilidade de pathos estivesse destinada, na mise-en-scène do filme, a uma mesma exterioridade chapada e superficial. Todos os personagens que compõem o mosaico do filme ganham um aspecto, em maior ou menor grau, patético e ridículo – exatamente como as vítimas do wit brummelliano. O espectro desse mosaico começa com as aspirações provincianas de uma elite decadente apresentada como ridiculamente “cafona”, que julga o tempo inteiro se as coisas são “chiques” ou não dependendo do grau de proximidade que elas tenham com países estrangeiros europeus como a França ou Inglaterra. Passa pelas vaidosas discussões intelectuais dos homens “cultos” dessa sociedade. Na longuíssima sequência do jantar, os personagens discutem disparatadamente – parecendo ter em vista sobretudo suas próprias imagens como detentores de cultura e conhecimento – sobre a relevância do Realismo e do Naturalismo literários, soltando vários clichês que chegam ao espectador como ironias: o humor de Os Maias depende de mostrar seus personagens tentando sem sucesso ser grandiloquentes, importantes e heroicos – quando não passam de simulacros vulgarmente ocos e banais. O dandismo do filme põe em relevância o caráter artificial e cênico, de máscara, das www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 9 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação relações sociais – caráter frágil, exterior e superficial. O espectro do mosaico de personagens do filme chega, enfim, ao drama central da narrativa, que é o incesto desconhecido. Novamente o filme reitera sua estratégia de “esfriar” as paixões mais compulsivas ao comicamente interromper Afonso da Maia (João Perry) todas as vezes em que ele tenta contar ao neto Carlos (Graciano Dias) que Maria Eduarda (Maria Flor) é na realidade a sua irmã. Mas a ironia cômica atinge um tom mais amargo quando o filme narra o destino de Maria Eduarda e Botelho permite um plano que, embora ainda construído com um ângulo frio de uma plasticidade distante, registra a brutalidade física do choro dela. Essa tragédia paradoxalmente experienciada pelo espectador de uma maneira distante é reforçada com a morte de Afonso, que acontece em sua casa de veraneiro, perto de uma nascente d’água cujo barulho calmo ele gostava de ouvir para se acalmar, para precisamente fugir de todos os dramas e sofrimentos em que se via enredado na metrópole. Se há alguma tragédia em Os Maias é exatamente essa: seus personagens querem estar acima da dependência emocional e das paixões cegas, mas nunca conseguem. Significativamente, o filme encerra com uma conversa entre os dois personagens dândis do filme (cf. Imagem 2), os amigos Carlos da Maia e João da Ega (Pedro Inês): eles, olhando em perspectiva tudo por que passaram, concluem que não vale à pena se desgastar com o pathos e as obsessões da vida. É preciso viver com calma e elegância. Um deles fala: “se o bonde que precisamos tomar passar agora, não correremos para alcança-lo, continuaremos em nosso passo lento e preguiçoso”. No instante seguinte, porém, o bonde de fato passa e os dois, ridiculamente, correm para toma-lo. O esteticismo cômico, ou dândi, de Os Maias parece ter sido o modo que João Botelho encontrou de se relacionar com o mundo decadente e mesquinho do romance de Eça, muito parecido com o mundo contemporâneo nesse sentido. Como se o que restasse frente à contingência sem sentido das tragédias e egoísmos fosse justamente, apenas, a possibilidade de uma beleza fria, artificial, indecisa e calma como a de uma nascente d’água. Se uma vida ao lado da nascente d’água parece impossível aos personagens de Os Maias e suas paixões, o gesto de João Botelho, através de uma mise-en-scène que enseja uma espécie de atitude “pós-humana” – centrando a fruição visual nos objetos e na exterioridade ao invés de priorizar as razões dos dramas interiores e ações emocionais dos personagens – parece ser o de precisamente oferecer ao espectador contemporâneo uma “nascente d’água” cinematográfica. www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 10 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Isto é: uma fruição calma e superficial como o som da água corrente, uma relação lúdica com as coisas do mundo que parece distanciar todas as paixões que nos ferem para ecos frios, decorativos, delicados e longínquos. A imagem da nascente d’água, com seu barulho calmo e constante, me remete ao curta-metragem de Keneth Anger, Eux d’artifice (1953): um filme “plástico”, azul, que se debruça sobre a beleza fria e decorativa de um enorme jardim com fontes d’água e chafarizes que se interligam. Nesse filme, como no de Botelho, uma aura longínqua de beleza decorativa parece mais interessante que a materialidade carnal e apaixonada das narrativas e desejos humanos. Em uma cena de Os Maias, a câmera, sem qualquer explicação ou causa narrativa, centraliza um quadro na parede da residência da família Maia representando Salomé: exatamente a personagem de Wilde que sucumbe ao pathos mais incontrolável e ao mesmo tempo está “caminhando indolentemente, de uma maneira vegetal” (MOREAU, Gustave apud AGAMBEN, 2007, p. 27). Com essa estranha mistura, a estética de Os Maias de Botelho possui algo de extremamente “dândico” em seus gestos e estratégias formais, para além de ter qualquer dândi como personagem de enredo. Img 2 – João Botelho, “Os Maias”, 2014 Saint Laurent Em uma sequência de Saint Laurent, cinebiografia do estilista francês Yves Saint Laurent www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 11 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (1936-2008) dirigida por Bertrand Bonello, a tela do filme se divide ao meio. Do lado esquerdo, em preto-e-branco, vemos imagens de arquivo das manifestações do maio de 68 em Paris; do lado direito, colorido, o desfile que na mesma época apresentava uma nova coleção criada por Saint Laurent. Bonello deixa assim claro, de saída, que ao invés de posicionar sua câmera do lado “fervilhante”, do lado do conflito político, vai permanecer, pelo contrário, filmando o conforto e a calma de um desfile de moda e suas roupas luxuosas. Ao invés de mergulhar na materialidade da película gasta de arquivo, no preto-e-branco austero, vai ficar com o brilho e com as cores festivas do esteticismo artificial. Se esse não é o universo diegético que mais vai engajar o altruísmo do espectador, o protagonista do filme – o homem que “esqueceu como se vive no mundo real; que, sozinho, não consegue mais sequer trocar uma lâmpada” – também não encoraja facilmente uma identificação com seus problemas e valores. Para Yves Saint Laurent, exatamente como para o dândi, o que normalmente se considera frívolo tornou-se crucial para a sua vida; e o que é “importante” no mundo em que vive, ele recebe com um bocejo desdenhoso e entediado. É possível dizer, desse modo, que há uma espécie de frieza envolvida na própria subjetividade do protagonista. Em uma cena, Saint Laurent, de maneira cruel, demite levianamente de sua equipe uma costureira que acaba de saber que está grávida e se sente insegura com essa nova situação. Bonello parece sintetizar a condição do seu personagem numa espécie de delírio visual: a imagem de uma cobra que abocanha seu próprio rabo e que aparece na cama do protagonista – uma frieza maligna inconsequente, que se autodestrói. Porém, a mise-en-scène de Bonello parece ir frontalmente de encontro a essa frieza do mal, a essa frivolidade perversa que parece constituir a lógica que move o universo visual e diegético de Saint Laurent. A câmera de Bonello é vigorosa e carregada de afeto. Ela se movimenta com energia tentando enquadrar seu protagonista. Se a câmera de João Botelho possui uma espécie de elegância desinteressada e por isso mesmo revela algo de ridículo nas máscaras sociais de todos os sujeitos a que filma, a câmera de Bonello jamais abandona a esperança de encontrar, nos confins gélidos do rosto andrógino de Saint Laurent (Gaspard Ulliel), uma faísca de humanidade e salvação. Não por acaso, o filme põe a si mesmo, ostensivamente, sob o signo de Proust. Em um dos primeiros diálogos ouvidos pelo espectador, Saint Laurent se registra em um hotel com o www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 12 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação nome falso de Swann. A mise-en-scène de Bonello, para narrar a trajetória do seu protagonista, realiza uma espécie de movimento proustiano. O que isso significa? Em Proust e os signos, Deleuze (2006) analisa toda a obra de Em busca do tempo perdido através da divisão do que é narrado, nos volumes, em tipos de signos. Cada tipo de signo pertenceria a um “mundo” ou a um “círculo” diferente. Segundo Deleuze, há o círculo mundano, o do amor, o das impressões e qualidades sensíveis e, por fim, o círculo da essência ou da verdade. O herói da Recherche precisa atravessar, mesmo que de maneira não-linear, todos esses mundos diferentes e lidar com cada um dos tipos de signos em busca da essência redentora que lhe escapa, do temps retrouvé. Os signos mundanos, precisamente, são os signos do dandismo – “Charlus é o mais prodigioso emissor de signos, pelo seu poder mundano, seu orgulho, seu senso teatral, seu rosto e sua voz” (DELEUZE, 2006, p. 5) – são simulacros: “um signo que não remete a nenhuma outra coisa, significação transcendente ou conteúdo ideal... é decepcionante e cruel e, do ponto de vista do pensamento, estúpido... o signo mundano não remete a alguma coisa; ele a substitui... daí seu aspecto estereotipado e sua vacuidade” (idem, p. 6). É interessante notar que, para Deleuze, os signos mundanos e os da essência estão nos pontos extremos da Recherche. Os signos da essência e da verdade são o ponto ao qual o herói precisa chegar: eles possuem uma espécie de transcendência ideal e salvadora, talvez próxima ao brilho profético da imagem-cristal que é possível experimentar na durée ou em um plano-sequência rosselliniano. Já “os signos mundanos são frívolos” (idem, p. 22). Eles são apenas uma etapa – que precisa ser superada e transcendida – num aprendizado maior. Se a experimentação estética crucial de Os Maias é, justamente, ter a ousadia de permanecer no círculo mundano (em jamais abandonar o wit, a frieza, a máscara artificial e externa), a mise-en-scène de Saint Laurent leva a cabo algo que a sensibilidade modernista já havia não apenas legitimado mas tornado regra sob pena de a obra de arte cair na banalidade ou na frivolidade da cultura de massa: a passagem do círculo mundano ao círculo da verdade. Bonello filma Aymeline Valade (Betty Catroux) dançando num belo e longuíssimo plano-sequência. A imagem permanece na tela mais do que o “convencional”, como se a câmera sondasse algo por trás daqueles signos: da luz colorida, das roupas sofisticadas, do corpo andrógino. A dramaturgia que rege as atuações é naturalista. Ao contrário dos tempos dilatados de Os Maias, cujo efeito é um tédio proposital que ironiza as aspirações dos personagens, os planos-sequências de Saint Laurent parecem se construir através da lógica da imagem-tempo deleuziana (cf. DELEUZE, 2007): o tempo é um cristal em lenta formação para o espectador vidente. Mesmo em meio à banalidade do www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 13 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação mundo moderno, é possível vislumbrar um fugaz brilho redentor através da duração e das potências da imagem. Do mesmo modo, os movimentos inventivos da câmera, na sequência do encontro entre Saint Laurent e seu amante Jacques de Basche (Louis Garrel, cf. Imagem 3) na boate parecem expressar o desejo de revelar uma convulsão, um afeto forte e quente através dos signos mais frios, superficiais e exteriores daquelas roupas e sons de uma década ultrapassada. Se a câmera um tanto ociosa de Os Maias se recusa a ter interesse por revelar qualquer coisa, a inventividade da câmera modernista de Saint Laurent parece reiteradamente buscar uma Verdade. Se Bonello filma as cores artificiais da alta costura parisiense de fins dos anos 60, ele também precisou deixar claro, dividindo a tela, que não estava esquecido das convulsões e dos conflitos mais “sérios” que desafiavam a época. Isso, com efeito, parece ser algo que assombra o filme, como parece expressar uma fala de Jacques, que, reclinado num divã, lê um livro e, num tédio que não consegue atingir a angústia, afirma que gostaria de ser capaz de escrever, de produzir ele mesmo aquela beleza que ele lê preguiçosamente nas páginas. Até para Jacques, portanto – um personagem que, com seu hedonismo inconsequente e incessante, é ainda mais dândi que o próprio Saint Laurent – é preciso ultrapassar a beleza fria e frívola e atingir a beleza essencial e verdadeira. Ao fim do filme, a parceira de trabalho de Saint Laurent comenta, num lamento: “você fazia referencias a Proust e hoje fazem referencias a histórias em quadrinhos”. Mesmo que o filme pareça utilizar esse pensamento conservador para realçar a decadência do velho Saint Laurent (significativamente interpretado por Helmut Berger, numa espécie de reverência ao cinema canonicamente legitimado de Luchino Visconti) sem exatamente concordar com ele, tanto o virtuosismo modernista dos movimentos de câmera quanto o da montagem – que, ao fim, reforça uma experiência não-linear do tempo ao intercalar velozmente imagens utópicas da infância de Saint Laurent antes de uma nova e triunfante coleção surgir nas passarelas – apontam para o desejo e superação do “mundano” em direção ao “essencial” ou “verdadeiro”. Em Saint Laurent, não é a moda ou os signos frívolos que podem fornecer um caminho novo para a fórmula modernista cansada da “essência” e para a imagem-tempo. Pelo contrário, o movimento de Bonello parece ser o de querer subsumir a singularidade própria do “dândi” ao cânone mais bem legitimado e nobre do “artista”. Em uma sequência, Bonello faz questão de filmar uma reunião de negócios da marca YSL de maneira a gerar um efeito entediante no espectador por causa dos termos financeiros, jargões e burocracias que, ainda por cima, precisam ser traduzidos para outras línguas pelo caráter internacional do encontro. Saint Laurent é www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 14 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação visto, de maneira um tanto romântica, como alguém distante de tudo isso: um gênio que, apesar de toda a frivolidade e banalidade que o cercam, ainda está apto a, na esteira de seus grandes pares – Proust, Visconti ou Warhol – contrapor a força da arte ao mundo frio do capitalismo. Ao cabo, Saint Laurent, apesar de ter dândis como protagonistas cercados por um mundo frívolo e banal, é o tipo de cinema “sério” que o campo institucional do “cinema de arte” no capitalismo de controle atual espera receber. Img 3 - Bertrand Bonello, "Saint Laurent", 2014 O filme dândi Enquanto que Saint Laurent parte de um universo dândi – hedonista e esteticista – mas para abraça-lo de uma forma romântico-modernista, legitimada pelo cânone cinematográfico teórico e estético da imagem-tempo e da verdade redentora, Os Maias parece apontar para um caminho novo. O filme de João Botelho pesquisa e explora formas de se relacionar com o mundo estranhas à sensibilidade política do modernismo e que eu tentei compreender aqui partindo de uma ideia ou sensibilidade um tanto anacrônica para os padrões estéticos e cinéfilos de hoje: o dandismo. Para Aby Warburg, nada pode falar mais sobre uma época do que aquilo que lhe é anacrônico ou recalcado e a ela e retorna, como um fantasma. O que seria um filme dândi? Um filme que não necessariamente aborde www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 15 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação personagens ou universos dândis, mas que tenha uma mise-en-scène, uma forma, e uma visão de mundo “dândica”: ao mesmo tempo esteticista e irônica, elegante e lúdica, fascinada e fria. Os dois filmes analisados aqui dramatizam a questão da estética dândi de maneira mais ostensiva por terem personagens dândis e narrativas que chamam a atenção para o papel da frivolidade em determinadas relações sociais. Mas o caminho da frieza dândi, do gosto irônico pela beleza e pelo lúdico, pode ser seguido também independente disso, como mostram, por exemplo, os filmes do cineasta brasileiro contemporâneo Guto Parente, do cineasta estadunidense Wes Anderson, ou alguns trabalhos de nomes como Tavinho Teixeira, Leonardo Mouramateus, Anita Rocha (Brasil); David Lynch, Todd Haynes, Harmony Korine, Sofia Coppola (Estados Unidos); Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues (Portugal); François Ozon, Xavier Dolan (França); Wong Kar-Wai, Hou Hsiao-Hsien (China); Hong Sang-Soo (Coréia do Sul). Arrisco, aqui, a hipótese de que – em meio ao engessamento da fórmula cinematográfica modernista, de certa maneira vencida e cooptada pelo sistema que ela própria almejava destruir (isto é, legitimada por instituições do capitalismo de controle como festivais, a crítica e a pesquisa acadêmica) – o caminho que vislumbro nos filmes aqui analisados, e, portanto, no dandismo, se constitui como uma configuração formal que pode ser valiosa para a experiência estética no contemporâneo. Ao contrário da recusa revolucionária e radical com a qual a sensibilidade política e a configuração estética modernista propõe se relacionar com a ordem social, o dândi parece, pelo contrário, propor uma subversão diferente, menos grandiloquente, mas não por isso menos efetiva. Nigel Rodgers afirma que o dândi “zomba das regras mas ainda as respeita” (2012, cap. 6). Ou, como coloca Sutherland, “Por definição o dândi se afastará das etiquetas conhecendo-as muito bem, olfato que cultiva para esquivar socialmente de quem o deixa ancorado em um lugar reconhecível.” (SUTHERLAND, 2012, p. 23). A ideia de subverter as regras ao mesmo tempo que respeitá-las me remete, em primeiro lugar, à ideia de Profanação de Giorgio Agamben em seu livro homônimo (2008). Para o autor, profanar a mercadoria não significa ignorar seu valor de troca e retornar ingenuamente a um valor de uso mais “verdadeiro”, como se fosse possível voltar atrás, a uma época mais “pura”, anterior à mercadoria e ao capitalismo (algo que sem dúvida faz lembrar o discurso utópico do modernismo estético). Isso seria destruir, com a violência de um modernista. Um filme como Os Maias www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 16 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de João Botelho possui uma atitude mais “desligada”, mais lúdica, mais frívola: como quem procura passar o tempo num período de tédio com uma brincadeira inconsequente e trivial, ele acaba dando um novo uso à imagem reificada em mercadoria. Isto, para Agamben, seria profanar. Mas, para nos determos na especificidade do cinema, me remete também e sobretudo à forma como Gilles Deleuze (2008) enxerga o cinema dentro da sociedade contemporânea de controle em sua Carta a Serge Daney. Nesse texto, Deleuze descreve uma espécie de terceiro e novo caminho para a imagem cinematográfica. Não mais uma imagem que revele algo que estava escondido (a imagem-movimento), nem uma imagem cristal que faça o espectador se perguntar sobre como a imagem pode ser vista (a imagem-tempo, uma resistência estética própria à sociedade disciplinar), mas uma imagem que é desde já sempre uma imagem – artificial, superficial, vazia – uma imagem que desliza entre outras imagens: “quando não há mais muita coisa para ver nela [na imagem] ou dentro dela, mas quando a sempre imagem desliza sobre uma imagem preexistente, pressuposta quando ‘o fundo da imagem é sempre já uma imagem’, indefinidamente” (DELEUZE, 2008, p. 97). Em sua carta, Deleuze parece, muito mais do que descrever o que os críticos da Cahiers du Cinéma chamaram de cinema “maneirista” dos anos 70 e 80, propor um novo programa de pesquisa para dar conta do cinema no contexto da sociedade de controle, um programa que descartasse a pureza grandiloquente e revolucionária que o cinema possuía numa discussão modernista anterior: ...o cinema ficaria ligado não mais a um pensamento triunfante e coletivo, mas a um pensamento arriscado, singular, que só se apreende e se conserva no seu “impoder”, tal como ele retorna dos mortos e enfrenta a nulidade da produção geral (...) Seria preciso que o cinema deixasse de fazer cinema, que estabelecesse relações específicas com o vídeo, a eletrônica, as imagens digitais, para inventar a nova resistência e se opor à função televisiva de vigilância e de controle (Idem, p. 98). Um “impoder” que retorna dos mortos. Longe do triunfo redentor da essência e da verdade, o tipo de cinema a que Deleuze parece se referir é um cinema dândi, ruminando eternamente entre os signos mundanos, deslocando-se entre infinitas máscaras artificiais, com uma tendência estetizante (muito próximo, no limite da confusão, ao mundo colorido e brilhante da própria mercadoria capitalista) e, tal qual o dândi, ambíguo, complexo e espectral: “Rubén Darío escreve sobre a espectralidade de Bearsdley, como se a figura do dândi sempre devesse submeter-se a um lugar pouco agenciável, ausente ou inalcançável” (SUTHERLAND, 2012, p. 14). No ensaio intitulado Platão e Simulacro, Deleuze (1974) diferencia o ícone do simulacro a partir do fato de o primeiro tipo de imagem estar ancorada a um Modelo (mesmo que www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 17 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação utópico) que ela sempre deve almejar atingir, enquanto que a segunda é apenas a sucessão oca de máscaras superficiais, externas, irônicas e debochadas. É uma imagem mundana que não tem onde se ancorar, e que por isso sempre está aberta à diferença. O dandismo parece convocar o regime de imagem do simulacro, pois “o artista-dandy deve transformar-se em cadáver vivo, tendendo constantemente para um outro, uma criatura essencialmente não-humana e anti-humana” (AGAMEBN, 2007, p. 85). Este me parece um caminho novo e instigante para a experiência estética no contemporâneo, numa época em que o reinado completo da mercadoria na sociedade de controle trouxe, de acordo com Sianne Ngai, a trivialidade como categoria estética dominante de nossa época, cujas “imagens de indiferença, insignificância e ineficácia apontam todas para um déficit de poder” (NGAI, 2012, tradução minha, p. 18). 1 Doutorando, UFRJ, [email protected] Referências AGAMBEN, G. Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Belo Horizonte: UFMG, 2007. ______. Profanações. São Paulo: Boitempo, 2008. BAUDELAIRE, C. O pintor da vida moderna. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007. ______. Conversações. São Paulo: Ed. 34, 2008. ______. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974. ______. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense, 2006. NGAI, S. Our aesthetic categories. London: Harvard University Press, 2012. RODGERS, N. The dandy: peacock or enigma? London: Benefactum, 2012. SUTHERLAND, J (org). Cielo dândi: escrituras y poéticas de estilo en América latina. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2011. www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 18 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação WILDE, O. O retrato de Dorian Gray. São Paulo: Abril Cultural, 2010. Arquivo PDF gerado pela COMPÓS www.compos.org.br - nº do documento: 349A3F88-C122-43B1-BDC8-D46375826A33 Page 19
Download