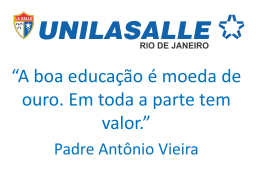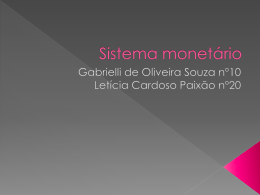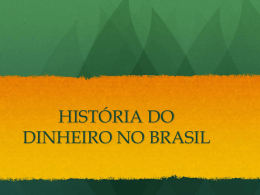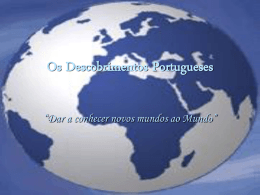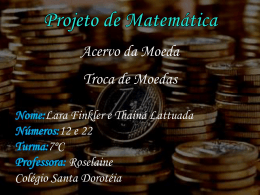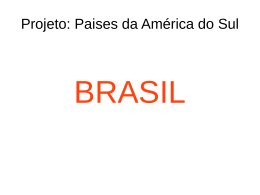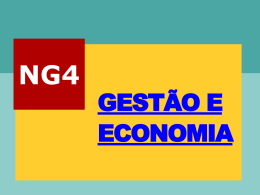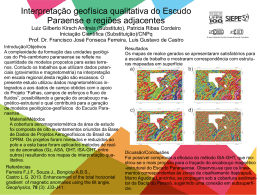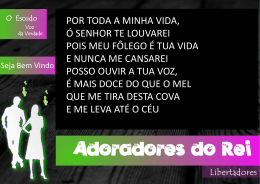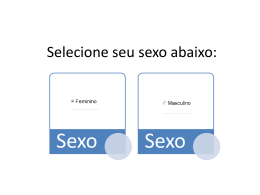Apontamentos:
Escudo
Volume 3: 1982-2001
Nuno Couto
Apontamentos: Escudo
Para a
Renata
1
Apontamentos: Escudo
2
Apontamentos: Escudo
Mundo Rural
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa ao Conselho da Europa 1987: Mundo Rural, a
qual foi publicada em decreto-lei 224A/87 de 3 de Junho durante o governo de Cavaco Silva, era seu ministro José
Cadilhe, sendo Presidente da República Mário Soares.
Considerando que, em finais de 1985, o Conselho da Europa aprovou a organização de uma
campanha europeia a favor do mundo rural, que tinha sido atribuída a Portugal a
responsabilidade do seu lançamento oficial, em 12 de Junho de 1987, por ocasião da V
Conferência Ministerial Europeia sobre o Ambiente e da Feira Nacional da Agricultura, em
sessões que decorreram em Lisboa e Santarém. Dado o interesse de Portugal na participação
activa nesta campanha, tendo em conta a importância da componente agrária na sua
economia e ainda a importância de que se reveste uma ampla sensibilização do público para os
objectivos desta campanha, foi aprovada a autorização da emissão de uma moeda
comemorativa desta iniciativa.
Esta teve por base a moeda circulante de 10$00em latão-níquelde autoria de Helder Baptista,
o qual desenvolveu um reverso comemorativo especial o qual apresentava no centro do
campo, o emblema da Campanha Europeia para o Mundo Rural, orlado por doze estrelas e
circundado pela legenda, da esquerda para a direita, “Conselho da Europa - Mundo Rural”; na
orla inferior, o valor facial “10$00”.
Ficha Técnica
Peso: 7,4 g
Diâmetro: 23,5 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Latão-níquel
Composição: Cu 790, Sn 200,Ni 10
Autor: Helder Baptista
Decreto: 224A/87 de 03/06/1987
Ano
1987
Cunhagem
2 000 000
Código
084.01
3
Apontamentos: Escudo
1ª Série Descobrimentos: Navegações e
Descobrimentos da Costa Ocidental
Africana
A legislação associada à emissão da 1.ª Série dos Descobrimentos dedicada às Navegações e Descobrimentos da
Costa Ocidental Africana, a qual foi publicada em decreto-lei 282/87 de 24 de Julho durante o governo de Cavaco
Silva, sendo Presidente da República Mário Soares.
A passagem do cabo da Boa Esperança e a descoberta do termo austral da África representam
um dos feitos mais memoráveis da história dos Descobrimentos, culminando mais de 50 anos
de sucessivas e sistemáticas viagens de exploração da costa ocidental africana.
Desde 1434, ano da não menos importante viagem de Gil Eanes que permitiu ultrapassar a
temerosa posta do cabo Bojador, até então considerado como limite convencional do mundo,
até 1488 foram inúmeras as viagens de navegadores portugueses que contribuíram para o
aperfeiçoamento da ciência náutica e para o conhecimento de novas terras, de novas gentes e
de novas culturas.
Integradas nas comemorações nacionais dos 500 anos dos descobrimentos portugueses,
considerou-se da maior oportunidade assinalar algumas efemérides representativas dessas
explorações marítimas com a emissão de uma série de quatro moedas comemorativas alusivas
à passagem do cabo Bojador (Gil Eanes, 1434), ao reconhecimento das costas do Senegal até
ao rio Gâmbia (Nuno Tristão, 1446), ao reconhecimento das costas do Sudoeste Africano
(Diogo Cão, 1486) e à passagem do cabo da Boa Esperança (Bartolomeu Dias, 1488).
Esta emissão foi a primeira de sequência de séries comemorativas praticamente com
frequência anual, inicialmente estavam preparadas dez séries, mas acabariam por ser onze.
Para além das emissões para circulação em cuproníquel, (inicialmente de 100$00 e depois de
200$00), foram emitidas séries BNC, proof em prata, proof em ouro e ainda as colecções
prestígio com quatro moedas em quatro metais (ouro, prata, paládio e platina). Estas emissões
especiais para além das habituais caixas em madeira especiais eram acompanhadas de
documentação especialmente preparada explicativa dos motivos comemorativos,
representações de mapas, entre outras. Por fim, referência à existência de letra nas moedas
de ouro (J). Esta refere-se às Minas de Jales, as últimas minas de ouro activas existentes no
território do continente português no século XX. Destas minas foi retirado o ouro utilizado na
cunhagem da primeira série comemorativa.
A primeira série foi cunhada com valores de 100$00 em cuproníquel. Os autores das moedas
foram: Raul Machado (Gil Eanes), Isabel Carriço e Fernando Branco (Nuno Tristão), Paulo
Guilherme (Diogo Cão) e Jorge Vieira (Bartolomeu Dias).
4
Apontamentos: Escudo
A inexistência de gravuras coevas dos navegadores representados levou À apresentação de
imagens representativas dos vários navios utilizados por estes navegadores. Assim, na de Gil
Eanes surge uma barca. Na de Nuno Tristão, Diogo Cão e Bartolomeu Dias apresentam uma
caravela portuguesa com dois mastros. No caso de Diogo Cão é ainda feita referência aos
Padrões deixado por este navegador na costa africana.
Gil Eanes
Gil Eanes foi um navegador português, escudeiro do Infante D. Henrique, e cuja biografia
permanece ainda pouco conhecida e muito discutida. Foi o primeiro a navegar para além do
Cabo Bojador, em 1434, dissipando o terror supersticioso que este promontório inspirava e
iniciando assim a época dos “grandes descobrimentos”. O Infante D. Henrique conseguiu
incentivar Gil Eanes a tentar a proeza da passagem. Ao dobrar o cabo, reforçou o papel de
Portugal como nação marítima. De acordo com Gomes Eanes de Zurara, o Infante o armou
cavaleiro e arranjou-lhe um rico casamento.
Sabe-se que em 1446 partiu para a exploração da
costa da actual Mauritânia e combate aos
Muçulmanos que tentavam impedir os progressos da
navegação portuguesa através da pirataria, de onde
trouxeram o maior número de escravos de sempre.
Regressou a meio da viagem devido ao mau tempo,
não havendo mais dados biográficos concretos a
partir dessa data, embora alguns historiadores
afirmem que continuou a sua vida em Lagos. Este
navegador permitiu um grande avanço na época dos descobrimentos. Entre 1424 e 1433, D
Henrique enviou 15 expedições com a pesada missão de sobrepujar o cabo maldito.
O Cabo Bojador era conhecido como cabo do medo. A 5 quilómetros da costa do cabo, em alto
mar a profundidade é de apenas 2 metros, provavelmente devido ao assoreamento provocado
por milhares de anos de tempestades de areia sopradas pelo deserto do Saara. Ondas
altíssimas e recifes de arestas pontiagudas fervilham àquela região tornando a navegação
muito arriscada.
Em Maio de 1434, Gil Eanes aparelhou uma barca de 30 toneladas, com um só mastro, e uma
única vela redonda e também movida a remos e parcialmente coberta. Com ela ao chegar nas
proximidades do cabo do medo, decidiu manobrar para oeste afastando-se da costa africana.
Após um dia inteiro de navegação longe da costa, deparou com uma baía plácida de ventos
amenos, e então dobrou para sudeste e logo percebeu que havia deixado o cabo Bojador para
trás.
5
Apontamentos: Escudo
Nuno Tristão
Nuno Tristão foi um navegador português do século XV, explorador e mercador de escravos na
costa ocidental africana. Foi o primeiro europeu que se sabe ter atingido o território da actual
Guiné-Bissau, iniciando entre os portugueses e os povos daquela região um relacionamento
comercial e colonial que se prolongaria até 1974.
Em 1441, Nuno Tristão e Antão Gonçalves foram enviados pelo
Infante D. Henrique com a missão de explorar a costa ocidental da
África a sul do Cabo Branco. Integrando um mouro que actuava
como intérprete, a expedição liderada por Nuno Tristão ultrapassou
aquele Cabo, à altura o ponto mais meridional atingido pelos
exploradores europeus, e durante dois anos permaneceu nas águas
do noroeste africano, avançando até ao Golfo de Arguim, na actual
costa da Mauritânia, onde adquiriram 28 escravos.
Em 1445 navegou até à região da Guiné, encontrando uma terra,
que, em contraste com as regiões desérticas a norte, existiam muitas palmeiras e outras
árvores e os campos pareciam férteis. Em 1446 Nuno Tristão desembarcou nas proximidades
da actual cidade de Bissau, iniciando uma presença portuguesa na região que se prolongaria
por quase 500 anos.
Nuno Tristão foi morto em data desconhecida, provavelmente no ano de 1446, durante um
assalto destinado à captura de escravos, ocorrido na costa africana, cerca de 320 km a sul do
Cabo Verde.
Diogo Cão
Diogo Cão foi um navegador português do século XV nasceu provavelmente na região de Vila
Real em data desconhecida. Enviado por D. João II, realizou duas viagens de
descobrimento da costa sudoeste africana, entre 1482 e 1486. Chegou à foz do
Congo e avançou pelo interior do rio, tendo deixado uma inscrição comprovando
a sua chegada às cataratas de Ielala, perto de Matadi. Estabeleceu as primeiras
relações com o Reino do Congo. Em 1485 chegou ao Cabo da Cruz (actual
Namíbia). Introduziu a utilização dos padrões de pedra, em lugar das cruzes de
madeira, para assinalar a presença portuguesa nas zonas descobertas.
Bartolomeu Dias
Bartolomeu Dias foi um navegador português que ficou célebre por ter sido o primeiro europeu
a navegar para além do extremo sul de África, “dobrando” o Cabo da Boa Esperança e
chegando ao oceano Índico a partir do Atlântico.
Dele, que possuía origens judaicas, não se conhecem os antepassados, mas mercês e armas a
ele outorgadas passaram a seus descendentes. Ignora-se onde e quando nasceu, no entanto
alguns historiadores sustentam ter ele nascido em Mirandela. Sobre a sua família sabe-se
apenas que um parente Dinis Dias e Fernandes, na década de 1440 terá comandado expedições
marítimas ao longo da costa do Norte de África, tendo visitado as ilhas de Cabo Verde.
6
Apontamentos: Escudo
Na sua juventude terá frequentado as aulas de Matemática e Astronomia na Universidade de
Lisboa e serviu na fortaleza de São Jorge da Mina. Estava habilitado quer a determinar as
coordenadas de um local, quer a enfrentar tempestades e calmarias como as do Golfo da
Guiné.
Em 1486, D. João II confiou-lhe o comando de duas caravelas e de uma naveta de mantimentos
com o intuito público de saber notícias do Preste João. Ao comando da caravela S. Pantaleão
estava João Infante. O propósito não declarado da expedição seria investigar a verdadeira
extensão para Sul das costas do continente africano, de forma a avaliar a possibilidade de um
caminho marítimo para a Índia. Porém antes disso, capitaneara um navio na expedição de
Diogo de Azambuja ao Golfo da Guiné.
Marinheiro experiente, o primeiro a chegar ao Cabo das Tormentas, como o baptizou em 1488
(chamado assim pois lá encontrou grandes vendavais e tempestades), um dos mais
importantes acontecimentos da história das navegações. A expedição partiu de Lisboa em
Agosto de 1487 a bordo levavam dois negros e quatro negras, capturados por Diogo Cão na
costa ocidental africana.
Bem alimentados e vestidos, serão largados na costa oriental para que testemunhem junto
daquelas populações daquelas regiões a bondade e grandeza dos portugueses, e ao mesmo
tempo recolher informações sobre o reino do Preste João.
Em Dezembro atingiu a costa da actual Namíbia, o ponto mais a sul cartografado pela
expedição de Diogo Cão. Continuando para sul, descobriu primeiro a Angra dos Ilhéus, sendo
assaltado, em seguida, por um violento temporal. Treze dias depois, procurou a costa,
encontrando apenas o mar. Aproveitando os ventos vindos da Antárctica que sopram
vigorosamente no Atlântico Sul, navegou para nordeste, redescobrindo a costa, que aí já tinha
a orientação este-oeste e norte (já para leste do Cabo da Boa Esperança, que foi renomeado
pelo rei português D. João II, assegurando a esperança de se chegar à Índia, para comprar as
tão necessárias especiarias e outros artigos de luxo.
No entanto, a tripulação revoltada obrigou o capitão a regressar a Portugal pela linha da costa
para oeste. No regresso, com a costa sempre visível, descobriu o Cabo das Agulhas, o ponto
mais a sul do continente, e o Cabo das Tormentas, actual Cabo da Boa Esperança, cuja
longitude tinha contornado por alto mar na viagem de ida, nessa viagem de volta colocou
padrões de pedra nos principais pontos descobertos: a actual False Island, a ponta do Cabo das
Tormentas, então descoberto, e o Cabo da Volta, hoje Diaz Point. Regressou a Lisboa em
Dezembro de 1488.O sucesso da sua descoberta do caminho para a Índia não foi
recompensado.
Acompanhou a construção dos navios e acompanhou a esquadra de Vasco da Gama, em 1499
como capitão de um dos navios que tinha como destino até São Jorge da Mina. A expedição
partiu em 1497. Em 1500, acompanhou Pedro Álvares Cabral na famosa viagem em que este
descobriu o Brasil. Quando a frota seguia para a Índia, o navio em que Bartolomeu Dias ia
naufragou e o marinheiro achou a morte junto da sua descoberta mais famosa - o Cabo da Boa
Esperança.
7
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 34 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 282/87 de 24/07/1987
Ano
1987
Cunhagem
1 000 000
Código
085.01
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 34 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 282/87 de 24/07/1987
Ano
1987
Cunhagem
1 000 000
Código
086.01
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 34 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Paulo Guilherme
Decreto: 282/87 de 24/07/1987
Ano
1987
8
Cunhagem
1 000 000
Código
087.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 34 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Jorge Vieira
Decreto: 282/87 de 24/07/1987
Ano
1988
Cunhagem
1 000 000
Código
088.01
Raul Sousa Machado
Nasceu no distrito de Viseu em 20 de Setembro de 1921 e reside em São João
do Estoril. É oficial da Armada. Durante a sua vida adoptou como actividade
paralela algumas modalidades artísticas, abrangendo a pintura, a escultura, o
desenho, a gravura e a medalhística, nelas predominando naturalmente os
temas navais que procurou aprofundar. Como trabalhos seus, que considera
mais representativos, cita-se o mural da entrada do Museu Marítimo de
Macau, em Macau, e o monumento aos Condes de Barcelona, em Cascais.
Participou em múltiplas exposições e a sua obra reparte-se por diversas
Instituições, Museus e colecções privadas com diversas citações de apreço e
alguns prémios, que culminaram na atribuição do grau de comendador da
Ordem de Santiago da Espada. Fez parte da equipa do Programa Numismático
de moedas comemorativas dos Descobrimentos Portugueses.
Paulo Guilherme
Nasceu em Lisboa em 1932. Colaborador regular de quase todos os jornais
diários e periódicos de Lisboa, dirigiu gráfica e literariamente vários
semanários, publicou mais de cinco mil ilustrações e dezenas de capas de
livros e ganhou inúmeros prémios de artes gráficas e publicidade. Dedicou-se
intensamente à decoração de algumas casas particulares. Projectou centros
comerciais, bancos e restaurantes; entre os seus projectos mais importantes
figuram o Banco Pinto e Sotto Mayor, no Porto, O Aeroporto de Lisboa e o
Museu do Centro Cultural de Macau em Lisboa. Realizou inúmeras exposições
individuais e tem pinturas, desenhos, tapeçarias e esculturas em dezenas de
colecções particulares em Portugal, Angola, Moçambique, Espanha, França,
Itália, América do Norte e também no Brasil. Fez ainda diversos selos, moedas
e medalhas. É autor de quatro livros, entre os quais um profundo estudo
sobre a pirâmide de Quéops e O Segredo, o Poder e a Chave. Fez parte da
equipa do Programa Numismático de moedas comemorativas dos
Descobrimentos Portugueses (série I a III).
Jorge Vieira
Jorge Ricardo da Conceição Vieira nasceu em Lisboa, a 16 de Novembro de
1922, vindo a morrer em Évora em 1998.Depois de concluir o liceu,
frequentou o Instituto Comercial e o Instituto Nacional de Educação Física. Em
1941, foi matriculado na Escola de Belas-Artes de Lisboa. Frequenta-a de 1944
a 1953, começando por matricular-se em Arquitectura e depois em Escultura.
Expõe pela primeira vez em 1949 na SNBA. Em 1953 concorreu ao Concurso
Internacional de Escultura promovido em Londres - “O Prisioneiro Político
Desconhecido”. Foi premiado e a sua obra foi exposta na Tate Gallery. Em
1957 executou uma escultura/anúncio para a loja Palissi Galvani projectada
pelos arquitectos Jorge Ferreira Chaves e Frederico Sant'ana, no Chiado, em
Lisboa. A obra esteve em exposição, suspensa sobre a fachada da loja, na Rua
9
Apontamentos: Escudo
Serpa Pinto, até à sua demolição em 2009.No ano de 1958 participa na Feira
Internacional de Bruxelas. Aqui foi seleccionado para figurar na exposição “50
ans d’Art Modern” sendo o único escultor português aí patente. Obteve em
1961 o 1º Prémio de Escultura na 2ª Exposição de Artes Plásticas da Fundação
Gulbenkian. Em 1964, integrado como escultor na equipa dirigida pelo Arq.
Conceição Silva, obteve o 1º Prémio no concurso para a valorização plástica
do maciço de amarração norte da Ponte sobre o Tejo. Em 1976 é 1º Assistente
na Escola de Belas-Artes do Porto. No ano de 1981 transita para a Escola de
Belas-Artes de Lisboa. Jubilou em 1992 como Prof. de Escultura. Em 1995 foi
inaugurada a Casa das Artes Jorge Vieira em Beja. Dois anos depois realizava
uma escultura para a EXPO 98 e em 1998 executou uma escultura para a
Ponte Vasco da Gama. Faleceu em 1998 em Estremoz. Participou na 1.ª Série
dos Descobrimentos em 1987.
Amadeu Souza Cardoso
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa a Amadeu Souza Cardos, a qual foi publicada
em decreto-lei 282/87 de 24 de Julho durante o governo de Cavaco Silva e seu ministro das Finanças Miguel
Cadilhe. Mário Soares era o Presidente da República.
Tendo decorrido em 1987 o centenário no nascimento do pintor Amadeo de Souza-Cardoso,
considerado como o precursor da arte moderna portuguesa, considerou-se da maior
oportunidade assinalar a efeméride com a emissão de uma moeda comemorativa. Esta moeda
cunhada em 1989 foi emitida com data de 1987 correspondente à efeméride em
comemoração.
Para a sua produção foi escolhido trabalho de Irene Vilarque utilizando a base habitual das
moedas de 100$00em cuproníquel, esculpiu uma bela moeda que apresentava no anverso
composição alegórica baseada nas pinturas de Amadeu de Souza Cardoso. No reverso surgia
uma composição cubista do pintor assim como a sua efígie.
Amadeu de Souza Cardoso
Natural do lugar de Manhufe na freguesia de Mancelos (Amarante) onde nasceu em 14 de
Novembro de 1887, vindo a falecer em Espinho (25 de Outubro de 1918). Foi um pintor
precursor da arte moderna em Portugal, prosseguindo o caminho traçado pelos artistas de
vanguarda da sua época. Embora tendo tido uma vida curta, a sua obra tornou-se imortal.
Oriundo de uma família que o influenciou a ingressar no curso de Direito na Universidade de
Coimbra. Depressa desistiu do curso e mudou-se para o curso de Arquitectura na Academia de
Belas Artes de Lisboa (1905). O curso não satisfazia o seu génio criativo, por isso partiu para
Paris em 1906, instalando-se em Montparnasse com a intenção prosseguir os seus estudos. As
suas primeiras experiências artísticas conhecidas foram desenhos e caricaturas.
10
Apontamentos: Escudo
Depois, dedicou-se à pintura. Poder-se-á dizer que foi um pintor
impressionista, expressionista, cubista, futurista, mas sempre recusou
qualquer rótulo. Apesar das múltiplas influências, procurava a
originalidade e a criatividade na sua obra. Em 1908, instala-se no
número catorze da Cité de Falguière.
Frequentou ateliers preparatórios para a Academia das Beaux-Arts e
a Academia Viti do pintor catalão Anglada Camarasa mas, apesar
disso, não chegou a ser admitido. Em 1910, esteve alguns meses em
Bruxelas e, em 1911, expôs trabalhos no Salondes Indépendants, em
Paris, aproximando-se progressivamente das vanguardas e de artistas como Amedeo
Modigliani, Constantin Brancusi, Alexander Archipenko, Juan Gris e Robert Delaunay. Em 1912,
publicou um álbum com vinte desenhos e, em seguida, copiou o conto de Gustave Flaubert
"LaLégende de Saint Julienl'Hospitalier", trabalhos ignorados pelos apreciadores de arte.
Depois de participar com oito trabalhos numa exposição realizada em 1913 no Armory Show
(Estados Unidos da América), voltou a Portugal, onde teve a ousadia de fazer duas exposições,
respectivamente no Porto e em Lisboa.
Nesse ano, participou ainda no Herbstsalon da Galeria Der Sturm,
em Berlim. Em 1914, encontra-se em Barcelona com Antoni Gaudí e
parte para Madrid, onde é surpreendido pelo início da I Guerra
Mundial. Regressa então a Portugal, onde inicia uma meteórica
carreira na experimentação de novas formas de expressão, tendo
pintado com grande constância, ao ponto de, em 1916, expor no
Porto, sob o título "Abstraccionismo", 114 obras, que serão
também expostas em Lisboa, num e noutro caso com novidade e
algum escândalo.
O cubismo em expansão por toda a Europa foi uma influência marcante no seu cubismo
analítico. Amadeo de Souza-Cardoso explora o expressionismo e, nos seus últimos trabalhos,
experimenta novas formas e técnicas, como as colagens e outras formas de expressão plástica.
Em 25 de Outubro de 1918, aos 31 anos de idade, morreu prematuramente em Espinho, vítima
da gripe pneumónica que grassava em Portugal.
11
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 34 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Irene Vilar
Decreto: 144/89 de 04/05/1989
Ano
1987
Cunhagem
800 000
Código
089.01
500 Escudos Ch. 12 Mouzinho da Silveira
José Tavares Moreira
Luís Miguel Beleza
António de Sousa
Walter Waldermar Pego Marques
António Palmeiro Ribeiro
Alípio Pereira Dias
António Castel-Branco Borges
António Bagão Félix
António Pereira Marta
Alberto José Santos Ramalheira
12
Abel António Pinto dos Reis
Apontamentos: Escudo
António Bagão Félix
José Matos Torres
Bernardino Costa Pereira
Luís Miguel Beleza
João Costa Pinto
José António Cardoso Veloso
Diogo Leite de Campos
Abel Moreira Mateus
Para a penúltima chapa de 500 escudos (a 12ª) foi evocada a figura do
insigne estadista português, José Xavier Mouzinho da Silveira (17801849), figura que já tinha surgido na chapa 2 de 2$50. As maquetas
iniciais, aprovadas em sessão do Conselho de Administração de 25 de
Março de 1986, foram da autoria do Professor Luís Filipe de Abreu.A
firma sueca AB Tumba Brukde Estocolmo foi encarregada do fabrico das
chapas e estampagem das notas.
A estampagem calcográfica da frente, a castanho e violeta, incluía a efígie
de Mouzinho da Silveira, o escudo nacional, dísticos, quatro linhas horizontais, de que a
segunda era microimpressa de “Mouzinho da Silveira” e, no canto inferior esquerdo, uma
marca circular para leitura por invisuais. No canto inferior direito o dístico “500” contendo, em
imagem latente, as iniciais “B” e “P” no interior dos dois zeros. O fundo em “offset” simultâneo
a três cores, em tom geral avermelhado-salmão, apresentava motivos decorativos ligados à
Agricultura, actividade que Mouzinho da Silveira tanto apoiou. Na estampagem calcográfica, a
três cores (castanho, verde-azeitona e violeta), sobressaía uma composição com tema referido
a culturas agrícolas, sobre fundo em “offset” simultâneo a três cores com motivos semelhantes
aos da frente. O texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O Governador”, “O
Vice-Governador” e “O Administrador” e chancelas) foi impresso tipograficamente, a preto,
nas oficinas do Banco. O papel foi fabricado na firma impressora. Incorporado no papel, podia
observar-se, na metade esquerda, um filete de segurança microimpresso com o dístico
“Portugal” e, quando sob a incidência da luz ultravioleta, fibras fluorescentes vermelhas e
verdes distribuídas ao acaso sobre toda a superfície. A marca de água surgia no lado direito e
apresentava o retrato de Mouzinho da Silveira ligeiramente reduzido relativamente à figura
estampada.
13
Apontamentos: Escudo
Tumba Bruk
Companhia de microimpressão sueca, actualmente responsável pela
impressão das notas de Coroa Sueca. Criada em 1755 após privilégio
concedido por Eric Carl ao Banco Sveriges. Em 2001 foi vendida à companhia
norte-americana American Crane AB, passando denominar-se AB Tumba Bruk.
A sua maquinaria funcionava servida pela energia eléctrica produzida na
Tumbaån, cujo fluxo de fazia do mar Báltico para o lago Tullinge numa
distância de cerca de cinco quilómetros para um declive de cinco metros.
14
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 500$00
Chapa: 12
Frente: Retrato de Mouzinho da Silveira
Verso: Motivos relacionados com Agricultura
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Mouzinho da Silveira
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com o dístico “Portugal”, fibras
fluorescentes vermelhas e verdes sobre toda a superfície
Medidas: 156x74 mm
Impressão: AB Tumbra Bruk.
Primeira emissão:07-10-1988
Última emissão: 29-09-1994
Retirada de circulação: 30-04-1998
Data
20-11-1987
04-08-1988
04-10-1989
13-02-1992
18-03-1993
04-11-1993
29-09-1994
Emissão
19 900 000
20 053 000
34 273 000
47 420 000
22 000 000
25 000 000
10 460 000
Combinações de Assinaturas
7
6
5
5
7
6
4
5000 Escudos Ch. 2 Antero de Quental
José Tavares Moreira
Walter Waldermar Pego Marques
António Palmeiro Ribeiro
Alípio Pereira Dias
Alberto José Santos Ramalheira
Abel António Pinto dos Reis
José Matos Torres
Luís Miguel Beleza
José Luís Nogueira de Brito
Para a segunda chapa de 5000 escudosfoi evocada a figura do poeta e escritor português
Antero de Quental (1842-1891). No contrato celebrado em 14 de Setembro de 1897 ficou
estabelecido que, nas notas resultantes dos desenhos elaborados por Louis Eugène Mouchon,
deveria figurar o nome deste artista francês. A última nota a ser emitida com esta
15
Apontamentos: Escudo
característica foi a de100 escudos, Chapa 1, em 3 de Dezembro de 1918. Passados quase
setenta anos, reatou-se esta prática, com a elaboração desta nova nota de 5000 escudos, onde
se observa, inscrito, o nome do autor das maquetas iniciais, Professor Luís Filipe de Abreu.
Trabalho executado pela firma inglesa Thomas De La Rue & Co Ltd, desde a elaboração das
chapas até à estampagem das notas. A estampagem a talhe-doce da frente apresentava, em
tom geral verde, a efígie do poeta, dísticos, pombas simbolizando a liberdade e justiça social,
três linhas horizontais, microimpressas com “Banco de Portugal” repetidamente, o escudo
nacional, e, no canto inferior esquerdo, três círculos para identificação por invisuais. O fundo
em tons amarelo-ocre, verde e violeta, era de técnica offset com trabalho numismático. O
registo frente-verso observava-se pelas linhas verticais limites de impressão na margem
esquerda e pelas linhas horizontais por baixo da marca de água, à direita. No verso, a
estampagem calcográfica, com dois tons de verde e amarelo-ocre, mostrava dísticos, pombas
esvoaçando, três linhas horizontais microimpressas com “Banco de Portugal”, e, como motivo
central, um emaranhado de mãos, em círculo, segurando cordas e grilhetas, como símbolo do
esforço conjugado para a liberdade e para o trabalho. No fundo do verso, também em
“offset”, observavam-se combinações de cores evoluindo, pelo processo íris, de um tom verdeamarelo, na metade esquerda, para um verde-cinza, na metade direita. A aposição tipográfica
do texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O Governador”, “O ViceGovernador” e “O Administrador” e chancelas) foi feita nas oficinas do Banco. O papel foi
fabricado na francesa Office Français des Papiers Fiduciaires et Surfins, uma Divisão de
Arjomarin-Prioux SA, em Paris. A marca de água foi colocada no lado direito, apresentava o
retrato de Antero de Quental, reprodução reduzida da efígie estampada na frente da nota. O
filete de segurança, paralelo ao lado menor da nota, sobre a esquerda, foi microimpresso com
o dístico “Portugal”.
Antero de Quental
Antero Tarquínio de Quental (18 de Abril de 1842 — 11 de Setembro de 1891) foi um escritor e
poeta com um papel importante no movimento da Geração de 70.
Nascido em Ponta Delgada na Ilha de São Miguel, Açores, durante a
sua vida, dedicou-se à poesia, à filosofia e à política. Iniciou seus
estudos na cidade natal, mudando para Coimbra aos 16 anos, ali
estudou Direito e manifestou as primeiras ideias socialistas. Fundou
em Coimbra a Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país pela
literatura.
Em 1861, publicou seus primeiros sonetos. Quatro anos depois,
publicou as Odes Modernas, influenciadas pelo socialismo
experimental de Proudhon, enaltecendo a revolução. Nesse mesmo ano iniciou a Questão
Coimbrã, na qual, Antero e outros poetas foram atacados por António Feliciano de Castilho,
por instigarem a revolução intelectual. Como resposta, Antero publicou os opúsculos Bom
Senso e Bom Gosto, carta ao Exmo. Sr. António Feliciano de Castilho, e A Dignidade das Letras e
as Literaturas Oficiais. Ainda em 1866 foi viver para Lisboa, onde experimentou a vida de
operário, trabalhando como tipógrafo, profissão que exerceu também em Paris, entre Janeiro e
16
Apontamentos: Escudo
Fevereiro de 1867. Em 1868 regressou a Lisboa, onde formou o Cenáculo, de que fizeram parte,
entre outros, Eça de Queirós, Abílio de Guerra Junqueiro e Ramalho Ortigão.
Foi um dos fundadores do Partido Socialista Português. Em 1869, fundou o jornal A República,
com Oliveira Martins e em 1872, juntamente com José Fontana, passou a editar a revista O
Pensamento Social. Em 1873 herdou uma quantia considerável de dinheiro, o que lhe permitiu
viver dos rendimentos dessa fortuna. Em 1874, com tuberculose, descansou por um ano, mas
em 1875, fez a reedição das Odes Modernas. Em 1879 mudou-se para o Porto, e em 1886
publicou aquela que é considerada pelos críticos como sua melhor obra poética, Sonetos
Completos, com características autobiográficas e simbolistas. Em 1880, adoptou as duas filhas
do seu amigo, Germano Meireles, que falecera em 1877. Em Setembro de 1881, por razões de
saúde, e a conselho do seu médico, foi viver para Vila do Conde, onde fixou residência até Maio
de 1891, com pequenos intervalos nos Açores e em Lisboa. O período de Vila do Conde foi
considerado pelo poeta o melhor período da sua vida: "Aqui as praias são amplas e belas, e por
elas me passeio ou me estendo ao sol com a voluptuosidade que só conhecem os poetas e os
lagartos adoradores da luz."
Em 1886 foram publicados os Sonetos Completos, coligidos e prefaciados por Oliveira Martins.
Entre Março e Outubro de 1887, permaneceu nos Açores, voltando depois a Vila do Conde.
Devido à sua estadia em Vila do Conde, foi criada nesta cidade, em 1995, o "Centro de Estudos
Anterianos". Em 1890, devido à reacção nacional contra o Ultimato inglês, de 11 de Janeiro,
aceitou presidir à Liga Patriótica do Norte, mas a existência da Liga foi efémera. Quando
regressou a Lisboa, em Maio de 1891, instalou-se em casa da irmã, Ana de Quental. Portador
de Transtorno Bipolar, nesse momento o seu estado de depressão era permanente. Após um
mês, em Junho de 1891, regressou a Ponta Delgada, suicidando-se no dia 11 de Setembro de
1891, com dois tiros na boca, disparados num banco de jardim.
Ficha Técnica
Valor: 5000$00
Chapa: 2
Frente: Retrato de Antero de Quental
Verso: Figuração representando o Trabalho e a Liberdade
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Antero de Quental
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com o dístico “Portugal”
Medidas: 170x75 mm
Impressão: Thomas de La Rue & Co Ltd
Primeira emissão:07-08-1987
Última emissão: 20-06-1989
Retirada de circulação: 31-12-1997
Data
12-02-1987
03-12-1987
Emissão
29 973 000
19 671 000
Combinações de Assinaturas
7
7
17
Apontamentos: Escudo
Jogos Olímpicos de Seul
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa aos Jogos Olímpicos de Seul ‘88, a qual foi
publicada em decreto-lei 159/88 de 13 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministros entre
outros, Miguel Cadilhe e Roberto Luís Carneiro. Mário Soares era o Presidente da República.
Em Setembro de 1988 ocorreram os XXIV Jogos Olímpicos da Era Moderna, acontecimento
desportivo da maior projecção mundial e no qual Portugal participou com uma significativa
delegação de atletas. Considerando que nos Jogos Olímpicos de Los Angeles Portugal ganhou,
pela primeira vez, uma medalha de ouro na modalidade de maratona masculina, facto que na
antiguidade grega era celebrado pela cunhagem de moeda, considerou-se oportuno recordar
18
Apontamentos: Escudo
os sucessos dos atletas nacionais em anteriores Olimpíadas, bem como assinalar a participação
portuguesa nos Jogos Olímpicos de Seulcom a emissão de uma moeda comemorativa. Foi a
primeira moeda comemorativa relativa à participação de Portugal em Jogos Olímpicos, facto
que se repetiu posteriormente com a mesma regularidade que a participação portuguesa.
A moeda criada por Helder Baptistafoi cunhada em cuproníquel, com direita a emissões
especiais em prata, com valor facial de 250$00. Curiosamente a representação foi escolhida o
Atletismoembora com imagem referente a um final de corrida de velocidade, área onde
Portugal só marcaria pontos alguns anos depois com um atleta naturalizado.
Jogos Olímpicos de Seul
Os Jogos Olímpicos de 1988, oficialmente chamados de Jogos da
XXIV Olimpíada da Idade Moderna, foram realizados em Seul, capital
da Coreia do Sul, entre 17 de Setembro e 2 de Outubro de 1988, com
a participação recorde de 159 países e 8 391 atletas, entre eles 2
194 mulheres.
Após os boicotes ocorridos nos jogos anteriores em Montreal, Moscovo e Los Angeles, estes
Jogos tiveram a presença de nações de todo o planeta, à excepção da Coreia do Norte, sua
vizinha comunista, que não teve atendido seu pedido para uma co-participação como sede
olímpica e de Cuba. Países como Etiópia, Ilhas Seychelles e Nicarágua também não
participaram mas devido a dificuldades económicas para enviarem suas equipes.
Os Jogos de Seul serão sempre lembrados pelo seu facto mais marcante, o escândalo com o
velocista canadiano Ben Johnson, que viu ser-lhe retirada a medalha de ouro e o seu recorde
mundial na prova dos 100 metros por ter corrido dopado.
A participação portuguesa ficou marcada pela conquista por Rosa Mota, na maratona
feminina, da segunda medalha de ouro da história de Portugal. Rosa Mota já tinha ganho a
medalha de bronze na mesma prova nos Jogos de Los Angeles.
19
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 23 g
Diâmetro: 37 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Helder Baptista
Decreto: 159/88 de 13/05/1988
Ano
1988
Cunhagem
850 000
Código
090.01
5000 Escudos Ch. 2A Antero de Quental
José Tavares Moreira
Luís Miguel Beleza
Walter Waldermar Pego Marques
António Palmeiro Ribeiro
António Castel-Branco Borges
António Bagão Félix
Alberto José Santos Ramalheira
Abel António Pinto dos Reis
José Matos Torres
20
Luís Miguel Beleza
José António Cardoso Veloso
Abel Moreira Mateus
Apontamentos: Escudo
António Bagão Félix
João Costa Pinto
Bernardino Costa Pereira
Por deliberação tomada em Conselho de Administração do Banco de Portugal de 26 de Maio
de 1988, foi aprovada uma nova versão da nota de 5 000 escudos, o que originou a publicação
de um Aviso no Diário da República, 2ª Série, nº 40, de 17 de Fevereiro de 1989, que referia:
“(…) faz-se público que, por despacho do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de
23-01-1989, foram aprovadas pequenas alterações de cor nos cantos superiores esquerdo e
inferior direito da frente da nota de 5.000$00, Chapa 2, efígie de Antero de Quental, a qual,
por esse motivo, passará a ser designada por “Chapa 2A”. Mantêm-se as restantes
características da nota de 5.000$00, Chapa 2, publicadas no DR, 2ª, 186, de 14-08-1987 (…)”.
O trabalho de impressão das notas continuou a ser feito pela firma inglesa Thomas De La Rue
& Co Ltd, baseado em maqueta do arquitecto Luís Filipe Abreu. As estampagens calcográficas e
os fundos em offset mantiveram-se iguais aos da chapa antecedente, verificando-se somente
pequenas modificações de cor em limitadas áreas da frente da nota (os cantos superior
esquerdo e inferior direito) e a alteração do número da chapa para 2A. A aposição tipográfica
do texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O Governador”, “O ViceGovernador” e “O Administrador” e chancelas) foi feita nas oficinas do Banco, por processo
tipográfico, a preto. O papel manteve a sua produção na francesa Office Français dês Papiers
Fiduciaires et Surfins, uma Divisão de Arjomarin-Prioux SA. A marca de água manteve as
mesmas características da chapa anterior, salvo a incorporação de fibras fluorescentes
vermelhas e verdes e a fluorescência do filete de segurança, visíveis quando sob a incidência
de luz ultravioleta.
Ficha Técnica
Valor: 5000$00
Chapa: 2a
Frente: Retrato de Antero de Quental
Verso: Figuração representando o Trabalho e a Liberdade
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Antero de Quental
Mecanismo de segurança: filete de segurança fluorescente microimpresso com o dístico
“Portugal” e fibras fluorescentes vermelhas e verdes espalhadas
Medidas: 170x75 mm
Impressão: Thomas de La Rue & Co Ltd
Primeira emissão:29-03-1989
Última emissão: 02-09-1993
Retirada de circulação: 31-12-1997
Data
28-10-1988
06-07-1989
19-10-1989
31-10-1991
18-03-1992
02-09-1993
Emissão
19 955 000
19 962 000
29 320 000
28 000 000
21 000 000
20 000 000
Combinações de Assinaturas
6
5
5
5
7
6
21
Apontamentos: Escudo
Moeda Bimetálica de 100 escudos
A legislação associada à emissão da moeda bimetálica de 100$00, a qual foi publicada em decreto-lei 439-A/89 de
20 de Dezembro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro das finanças Miguel Cadilhe. Mário
Soares era o Presidente da República.
Cumprindo o previsto na revisão monetária de 1986 constituído por dois grupos de moedas de
diferentes ligas metálicas (latão-níquel para 1$, 5$ e 10$; cuproníquel para 20$ e 50$)
verificava-se a necessidade de criação de moeda de 100$ e 200$. A necessidade da nova
moeda de 100$surgia dada a rápida deterioração em circulação das notas desse valor o que
em muito encarecia o sistema monetário.
22
Apontamentos: Escudo
Para estes dois valores optou-se por criar um novo grupo de moedas bimetálicas, para melhor
identificação das mesmas. A introdução deste tipo de moedas embora tenha constituído
novidade em Portugal já era prática corrente, pois para além de serem melhor identificadas,
permitem representar valores numismáticos superiores com metal não nobre e dado o tipo de
produção que implicam dificultam a sua falsificação.
A nova moeda de 100$ apresentava diâmetro exterior de 25 mm e 8,3 g de peso, o bordo era
alternadamente liso e serrilhado. O núcleo interno de 17 mm era de liga de cupro-alumínioníquel (Cu 90%; Al 5%; Ni 5%) e a coroa externa de cuproníquel (Cu 75%, Ni 25%). A moeda de
autoria de José Cândido. No anverso surgia representado no núcleo o escudo nacional na parte
superior e o valor facial “100 escudos” em duas linhas abaixo. Na coroa a legenda “REPUBLICA
PORTUGUESA” e a era de cunhagem da esquerda para a direita. No reverso, o núcleo
apresentava a figura de Pedro Nunes, cientista do período dos Descobrimentos, de perfil à
esquerda, segurando a esfera terrestre entre as mãos. Na coroa a legenda “EUROPA” com as
letras entremeadas por 12 estrelas.
Pedro Nunes voltava assim a ser representado na moeda circulante depois de ter sido
representado nas notas de 100 escudos chapa 6 e 6A, as quais circularam durante trinta anos.
Esta foi também a primeira moeda circulante portuguesa a fazer referência à presença da
Comunidade Económica Europeia, futura União Europeia, com as doze estrelas representadas
no reverso, em consonância com a bandeira da União.
José Cândido
Natural do Barreiro (n. 1932). Formado em Pintura na Faculdade de
Belas Artes de Lisboa. Destacou-se como pintor, escultor e designer.
Docente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Entre as suas criações merecem destaque o logótipo da INCM prévio
ao actual. Ao nível da numismática e da medalhística desenvolveu
diversos trabalhos, destacando-se as moedas bimetálicas de 100 e
200 escudos e as moedas comemorativas do Centenário da República
Portuguesa e a Moeda Contra a Indiferença. Faleceu na sua cidade
natal em Janeiro de 2012.
23
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 8,3 g
Diâmetro: 25 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos (dez) e serrilhados (doze)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Cândido
Decreto: 439 A/89 de 20/12/1989
Data e taxa de recolha: 2002; 65,9%
Ano
1989
1990
1991
1992
1997
1998
1999
2000
2001
Cunhagem
20 000 000
52 000 000
45 000 000
14 500 000
5 000 000
21 000 000
13 000 000
6 800 000
250 000
Código
091.01
091.02
091.03
091.04
091.05
091.06
091.07
091.08
091.09
2ª Série Descobrimentos: Navegações e
Descobrimentos dos Arquipélagos
Atlânticos
A legislação associada à emissão da II Série dos Descobrimentos (Navegações e Descobrimentos dos Arquipélagos
Atlânticos), a qual foi publicada em decreto-lei 343/89 de 11 de Outubro durante o governo de Cavaco Silva,
sendo seu ministro das finanças Miguel Cadilhe. Mário Soares era o Presidente da República.
Data de 2 de Julho de 1439 a carta régia de D. Afonso V que concedeu licença ao infante D.
Henrique para mandar povoar as sete ilhas dos Açores até então descobertas, efeméride esta
que completou 550 anos em 1989. Este acontecimento está ligado às viagens de
reconhecimento e exploração efectuadas pelos Portugueses na zona atlântica, que levaram,
nomeadamente, às primeiras expedições às ilhas Canárias cerca de 1336, ao descobrimento do
arquipélago dos Açores (1427-c. 1452) e ao nascimento da navegação astronómica oceânica (c.
1455-1485). Considerou-se, por isso, oportuno assinalar tal efeméride, no âmbito das
comemorações nacionais dos descobrimentos portugueses, com a emissão de uma série de
moedas comemorativas alusivas às navegações atlânticas, designadamente as expedições
portuguesas às ilhas Canárias, à redescoberta das ilhas de Porto Santo e Madeira, ao
descobrimento e povoamento do arquipélago dos Açorese ao nascimento da navegação
astronómicano Atlântico.
24
Apontamentos: Escudo
A segunda série dos descobrimentos foi cunhada em cuproníquel com o valor de 100$00.
Foram produzidas ainda emissões especiais em estojos com todos os espécimes em prata BNC
e em prata proof, ouro proof e edição prestígio (quatro moedas, quatro metais). Para esta
edição foram seleccionados trabalhos de Raul Machado (Ilhas Canárias), Isabel Carriço
eFernando Branco (Descoberta Arquipélago da Madeira),
António Machado (Arquipélago dos Açores) e Paulo
Guilherme (Navegações Astronómica). Em todas as moedas
são apresentadas representações de navios da época dos
descobrimentos portugueses: caravela portuguesa de três
mastros (Ilhas Canárias), barca portuguesa do início século
XV (Arquipélago da Madeira), caravela com vela latina portuguesa de dois mastros
(Arquipélago dos Açores e Navegação Astronómica). Se nas moedas relativas aos arquipélagos
são representados dados identificativos destes (nas Ilhas Canárias – no anverso a
representação duas figuras aborígenes das Canárias a
envolver o escudo nacional com a legenda “Homines
Sylvestres de Insula Canaria” e no reverso a visão do Pico de
Teide; no Arquipélago da Madeira – a representação da ilha
da Madeira e da ilha do Porto Santo no reverso; no
Arquipélago dos Açores – nove estrelas dispostas à
semelhança das ilhas do arquipélago), na moeda relativa à
navegação astronómica estão representadas os elementos astronómicos, cuja compreensão
permitiu esse feito – as constelações da Ursa Maior com a Estrela Polar (no anverso), e do
Cruzeiro do Sul (reverso); bem como a cartografia e instrumentos para a medição da altura do
sol (reverso).
Ilhas Canárias
As ilhas Canárias são conhecidas desde a Antiguidade: existem relatos fidedignos e vestígios
arqueológicos da presença cartaginesa na ilha. Foram descritas no período greco-romano a
partir da obra de Juba II, rei da Numídia, que as mandou reconhecer e que, afirma-se, por nelas
ter encontrado grande números de cães, deu-lhes o nome de "Canárias" ("ilhas dos cães"). São
referidas por autores posteriores como "Ilhas Afortunadas".
Depois de um período de isolamento, resultado da crise e queda do Império Romano do
Ocidente, e das invasões dos povos bárbaros, as ilhas foram redescobertas e novamente
visitadas com regularidade por embarcações europeias a partir de meados do século XIII.
A sua redescoberta é reivindicada por Portugal em período anterior a Agosto de 1336. A sua
posse, entretanto, foi atribuída ao reino de Castela pelo Papa Clemente VI, o que suscitou um
protesto diplomático de D. Afonso IV de Portugal, por carta de 12 de Fevereiro de 1345: “Ao
Santíssimo Padre e Senhor Clemente pela Divina Providência Sumo Pontífice da Sacrossanta e
Universal Igreja, Afonso rei de Portugal e do Algarve, humilde e devoto filho Vosso, com a
devida reverência e devotamento beijo os beatos pés. (…)Respondendo pois à dita carta o que
nos ocorreu, diremos reverentemente, por sua ordem, que os nossos naturais foram os
primeiros que acharam as mencionadas Ilhas [Afortunadas]. E nós, atendendo a que as
referidas ilhas estavam mais perto de nós do que qualquer outro Príncipe e a que por nós
25
Apontamentos: Escudo
podiam mais comodamente subjugar-se, dirigimos para ali os olhos do nosso entendimento, e
desejando pôr em execução o nosso intento mandámos lá as nossas gentes e algumas naus
para explorar a qualidade daquela terra. Abordando às ditas Ilhas se apoderaram, por força,
de homens, animais e outras coisas e as trouxeram com muito prazer aos nossos reinos. Porém,
quando cuidávamos em mandar uma armada para conquistar as referidas Ilhas, com grande
número de cavaleiros e peões, impediu o nosso propósito a guerra que se ateou primeiro entre
nós e El-rei de Castela e depois entre nós e os reis Sarracenos. (…)”
Nos séculos seguintes, com o consentimento papal e o apoio da
Coroa castelhana, organizaram-se várias expedições
comerciais em busca de escravos, peles e tinta. Em 1402
iniciou-se a conquista destas ilhas com a expedição a Lanzarote
dos Normandos Jean de Bethencourt e Gadifer de la Salle, sob
vassalagem dos reis de Castela e com o apoio da Santa Sé.
Devido à localização geográfica, à falta de interesse comercial
e à resistência dos Guanches ao invasor, a conquista só foi
concluída em 1496 quando os últimos Guanches em Tenerife se
renderam.
A conquista das Canárias foi a antecedente da conquista do
Novo Mundo, baseada na destruição quase completa da
cultura indígena, rápida assimilação do cristianismo,
miscigenação genética dos nativos e dos colonizadores. Uma
vez concluída a conquista das ilhas, passa a depender do reino
de Castela, impõe-se um novo modelo económico baseado na
monocultura (primeiro a cana-de-açúcar e posteriormente o vinho, tendo grande importância o
comércio com Inglaterra). É nesta época que se constituíram as primeiras instituições e órgãos
de governo (Cabildos e Concelhos).
As Canárias converteram-se em ponto de escala nas rotas comerciais com a América e África (o
porto de Santa Cruz de La Palma chega a ser um dos pontos mais importantes do Império
Espanhol), o que traz grande prosperidade a determinados sectores da sociedade, mas as crises
da monocultura no século XVIII e a independência das colónias americanas no século XIX,
provocaram graves recessões.
No século XIX e na primeira metade do século XX, a razão das crises económicas é a Imigração
cujo destino principal é o continente americano. No início do século XX é introduzido nas ilhas
Canárias pelos ingleses uma nova monocultura: a banana. A rivalidade entre as elites das
cidades de Santa Cruz e Las Palmas pela capital das ilhas
levará que em 1927 se tome a decisão da divisão do
arquipélago em províncias. Actualmente a capital esta dividida
nas duas cidades.
Navegação Astronómica
Navegação astronómica é parte de um ramo das ciências
astronómicas usada para fins de orientação e cuja missão é fazendo uso de tábuas
26
Apontamentos: Escudo
logarítmicas, anular os movimentos de translação e rotação do planeta Terra a fim de congelar
os aparentes, relativos ao Sol, à Lua e às estrelas durante os 365 dias do ano. O sistema oferece
ao navegador para cada momento da observação a posição exacta das estrelas como se
estivessem sempre fixas no céu.
Esse conhecimento, feito com a comprovação da altura das estrelas em relação ao horizonte,
permite ao navegador corrigir a sua posição estimada. No século XV os navegadores
portugueses possuíam conhecimentos cosmográficos que permitiam a navegação através do
cálculo da latitude e da longitude. Contudo, com as navegações de descoberta depararam-se
com novas realidades que tiveram de estudar e às quais tiveram de se adaptar.
Contam-se entre estas inovações a descoberta da galáxia de Magalhães
e a publicação em 1496 do Almanach Perpetuum Celestium Motum, obra
constante de tabelas de declinações do astrónomo real Abraão Zacuto,
que se tornou essencial, a par da de Pedro Nunes (matemático ao serviço
do rei D. Manuel I), para a navegação. Pedro Nunes desempenhou um
papel fundamental, uma vez que concebeu instrumentos diversos através
da aplicação da geometria e da matemática para a navegação através
da medição da altura do Sol, como um que se parecia a um relógio de Sol
e que foi utilizado por D. João de Castro, o "Instrumento das Sombras", o
"Anel Náutico" e o "Nónio".
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 33,5 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 343/89 de 11/10/1989
Ano
1989
Cunhagem
2 000 000
Código
092.01
27
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 33,5 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 343/89 de 11/10/1989
Ano
1989
Cunhagem
2 000 000
Código
093.01
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 33,5 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 343/89 de 11/10/1989
Ano
1989
Cunhagem
2 000 000
Código
094.01
Ficha Técnica
Peso: 16,5 g
Diâmetro: 33,5 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Paulo Guilherme
Decreto: 343/89 de 11/10/1989
Ano
1990
28
Cunhagem
2 000 000
Código
096.01
Apontamentos: Escudo
António Marinho
Natural de Guimarães (n. 1945). Formado em Escultura pela EADAA
de Lisboa. Dedica-se à escultura, numária e medalhística. Foi um dos
autores com participação em várias séries dos Descobrimentos (2.ª à
11.ª), sendo ainda autor de várias moedas comemorativas da
Restauração da Independência, Jogos Olímpicos de Barcelona,
Mosteiro da Batalha e Foz Côa. Participou em diversas exposições a
nível nacional e internacional.
Batalha de Ourique
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa dos 850 anos da Batalha de Ourique, a qual foi
publicada em decreto-lei 355/89 de 17 de Outubro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Faria
de Oliveira. Mário Soares era o Presidente da República.
A gradual afirmação de autonomia política do Condado Portucalense perante o reino de Leão
assumiu com D. Afonso Henriques uma dinâmica precisa, que conduziu a que ao infante fosse
atribuído, em fins de 1139 ou princípios de 1140, o título de rei por
parte da nobreza portucalense. Apesar de ser convicção dos
historiadores actuais que o uso daquele título não significaria uma
independência efectiva, é indubitável que com ele se estabelece o
principal marco do progresso da fundação da nacionalidade entre
1128 e 1143: a criação do reino de Portugal, só possível pelo enorme
prestígio pessoal e autoridade granjeados pelo infante na sua
actividade guerreira. Nesta, assumiu particular importância o episódio
da Batalha de Ourique, no Verão de 1139. Considerada actualmente
como tendo constituído, de facto, a primeira grande batalha de D.
Afonso Henriques contra os Almorávidas, o regresso do infante, cheio de glória, a território
cristão terá contribuído decisivamente para a sua aclamação como rei de Portugal. Assim, e
para melhor comemoração deste momento decisivo da história de Portugal foi autorizada a
emissão de moeda comemorativa.
A moeda cunhada em cuproníquel com valor de 250$00 foi a
segunda a evocar esta Batalha (a primeira foi por ocasião dos
800 anos da Batalha em 10$00 de prata). De autoria da
escultora Irene Vilar, apresentava elementos figurativos do
período da fundação da nacionalidade portuguesa. Assim, no
anverso aquele que se acreditava ter sido o primitivo escudo das quinas dos reis de Portugal
(escudo amendoado) ladeado pelos sete castelos dispostos em cruz o qual foi colocado à
esquerda do escudo. No reverso surgia uma espada medieval cristã sobre um crescente de
pontas quebradas (símbolo do Império Árabe). À esquerda do reverso estava representado
aspectos existentes um dinheiro do primeiro rei português, classificado como o tipo 2 segundo
Alberto Gomes, dos quais se conhecem dois exemplares (A a sobrepor cruz pátea. Este
29
Apontamentos: Escudo
apresenta um “A” (de alfa, o principio, referência à expressão do Apocalipse de São João “Eu
sou o alfa e o omega, o principio e o fim”) sobre uma cruz pátea.
Ficha Técnica
Peso: 23 g
Diâmetro: 37 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Irene Vilar
Decreto: 355/89 de 17/10/1989
Ano
1989
Cunhagem
750 000
Código
095.01
10000 Escudos Ch. 1 Egas Moniz
José Tavares Moreira
Walter Waldermar Pego Marques
António Palmeiro Ribeiro
António Castel-Branco Borges
Alberto José Santos Ramalheira
Luís Miguel Beleza
Abel António Pinto dos Reis
José Matos Torres
Em Maio de 1985, a Administração do Banco de Portugal entendeu que a situação económicofinanceira e a previsível evolução dos meios de pagamento, justificavam a criação de um tipo
de nota com o valor facial de 10 000 escudos. Ainda em 1985, o Ministério das Finanças deu a
sua concordância a este parecer do Banco. Para ilustrar a nova denominação foi escolhida a
efígie do professor Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina (1874-1955). A elaboração das
30
Apontamentos: Escudo
chapas e estampagem das notas esteve a cargo dos estampadores e impressores canadianos
da British American Bank Note, Inc.,segundo maquetas iniciais do Arquitecto Luís Filipe Abreu.
A estampagem a talhe-doce da frente, em tons de castanho-escuro e vermelho-escuro,
mostrava a efígie de Egas Moniz, dísticos, linhas microimpressas com as palavras “Banco de
Portugal Dez Mil Escudos” em contínuo, e um desenho representando um corte do cérebro
humano e uma representação do sistema vascular, temas ligados às actividades do notável
médico. No interior dos três últimos zeros da denominação “10000”, à esquerda, podia
observar-se, em imagem latente, as letras D, E e Z. O fundo, de técnica offset simultâneo a três
cores, com tom predominante amarelo-ocre, mostrava um conjunto de motivos inspirados na
Medicina, e no canto inferior direito, um desenho parcial do caduceu que faz registo com um
desenho complementar no verso, quando visto à transparência. A estampagem a talhe-doce
do verso, a vermelho-escuro, verde e negro, dominada por uma composição alegórica da vida
e da morte entre forças benignas e malignas e a medalha do Prémio Nobel da Medicina,
incluía, ainda, dísticos, linhas microimpressas com “Banco de Portugal Dez Mil Escudos” e, no
canto inferior direito, um sinal em duplo “L” para leitura por invisuais. No fundo do verso,
também ele de técnica offset simultâneo a três cores, em íris, apresentava uma composição
com motivos semelhantes aos da frente. A aposição tipográfica do texto complementar (data,
série, numeração, as palavras “O Governador”, “O Vice-Governador” e “O Administrador” e
chancelas) foi feita nas oficinas do Banco. O papel foi fabricado pela inglesa Portals Limited. A
marca de água foi colocada no lado direito, apresentava o retrato de Egas Moniz em redução
da efígie estampada. Apresentava ainda, como características especiais, na metade esquerda
da frente da nota, um filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal” sobre base
fluorescente vermelha e, por toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes
vermelhas e verdes, visíveis quando sob a incidência da luz ultravioleta.
Egas Moniz
António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, mais conhecido pelo nome
de Egas Moniz, nasceu em Avanca, a 29 de Novembro de 1874, filho de
Fernando de Pina Resende de Abreu Freire e de sua mulher Maria do
Rosário Oliveira de Almeida Sousa, no seio de uma
família aristocrata. Foi médico, com especialidade de
neurologia, investigador, professor, político e escritor.
Após completar os seus estudos primários, ingressou
no Colégio de S. Fiel, onde concluiu o Curso Liceal.
Formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra,
onde iniciou a sua actividade profissional
como lente, leccionando as cadeiras de
anatomia e fisiologia. Em 1911 foi
transferido para Universidade de Lisboa, onde ocupou a
cadeira de neurologista como professor catedrático. Foi o
fundador do Partido Republicano Centrista, dissidente do
Partido Evolucionista. Apoiou o regime de Sidónio Pais
durante o qual, exerceu as funções de Embaixador de
Portugal em Madrid, no ano de 1917 e de Ministro dos
31
Apontamentos: Escudo
Negócios Estrangeiros em 1918. Presidiu à delegação portuguesa para a Conferência da Paz
em Paris, no mesmo ano. Jubilou-se da carreira universitária em Fevereiro do ano de 1944. A
nível científico contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da medicina ao conseguir pela
primeira vez dar visibilidade às artérias do cérebro. A Angiografia Cerebral, técnica que
desenvolveu após longas experiências com raio X, tornou possível localizar neoplasias,
aneurismas, hemorragias e outras mal formações no cérebro humano, abrindo assim novos
caminhos para a cirurgia cerebral. Foi o primeiro português
a ser distinguido com o prémio Nobel de Medicina no ano de
1949, partilhando com outro notável investigador Walter
Rudolf Hess, fruto deste trabalho. Ao seu trabalho foi dado
continuidade, ao ser fundado no ano de 1950 no Hospital
Júlio de Matos, o Centro de Estudos de Egas Moniz, do qual
foi Presidente. No ano de 1957 foi transferido para o serviço
de Neurologia do Hospital de Santa Maria. Foi autor de
diversas obras: “Vida Sexual”; “A Neurologia na Guerra”,
“Alterações Anátomo-Patológicas na Difteria”; “Júlio Dinis e
a Sua Obra”. Faleceu na cidade de Lisboa a 13 de Dezembro de 1955.
32
Apontamentos: Escudo
British American Bank Note Inc.
A British American Bank Note Company foi fundada em 1866, um ano antes
da fundação da Confederação do Canadá. Estabelecida em Montreal por um
grupo de gravadores e tipógrafos impulsionados pelo escocês William
Cumming Smillie e por George Bull Burland. Sendo uma área industrial ainda
sem representação no Canadá serviu as necessidades de produção de selos e
notas de banco necessários no país. Posteriormente com o crescimento da
economia surgiu a necessidade de produzir certidões de acções, certidões de
seguradoras, etc. No entanto, a crise do início do século XX foi sentida de
forma dolorosa pela companhia. O pós-guerra permitiu a sua recuperação.
Estabeleceu-se posteriormente em Otava alargando o seu leque de negócios
deixando de ser a companhia produtora das notas canadianas para expandir
os negócios para toda a América e Europa.
Ficha Técnica
Valor: 10 000$00
Chapa: 1
Frente: Retrato de Egas Moniz e representações do cérebro e de angiografia
Verso: Figuração representando a Medicina (Caduceu) e o Prémio Nobel
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Egas Moniz
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal” sobre
base fluorescente vermelha e, por toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes
vermelhas e verdes
Medidas: 177x75 mm
Impressão: British American Bank Note Ink.
Primeira emissão:15-09-1989
Última emissão: 16-05-1991
Retirada de circulação: 31-12-1997
Data
12-01-1989
14-12-1989
16-05-1991
Emissão
14 933 000
26 380 000
12 680 000
Combinações de Assinaturas
6
4
4
33
Apontamentos: Escudo
Restauração da Independência
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da Restauração da Independência, a qual foi publicada
em decreto-lei 364/90 de 24 de Novembro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Luís Miguel
Beleza. Mário Soares era o Presidente da República.
A Restauração da Independência, em 1 de Dezembro de 1640, constitui um dos marcos
históricos mais importantes da memória colectiva da Nação Portuguesa. Para assinalar os 350
anos da Restauração, considerou-se da maior oportunidade a emissão de moeda
comemorativa.
A moeda criada por António Marinhofoi cunhada em cuproníquelcom o valor de 100$00. No
reverso surgia a figuração estilizada de um conjurado da revolução de 1640 sobre uma
balaustrada.
Restauração da Independência
A Restauração da Independência é a designação dada à revolta iniciada em 1 de Dezembro de
1640 contra a tentativa de anulação da independência do Reino de Portugal por parte da
dinastia filipina, e que vem a culminar com a instauração da Dinastia Portuguesa da casa de
Bragança. É comemorada anualmente em Portugal por um feriado no dia 1 de Dezembro. O
desaparecimento de D. Sebastião (1557-1578) na batalha de Alcácer-Quibir, apesar da
sucessão do Cardeal D. Henrique (1578-1580), deu origem a uma crise dinástica.
Nas Cortes de Tomar de 1581, Filipe II de Espanha é aclamado rei, jurando os foros, privilégios
e mais franquias do Reino de Portugal. Durante seis décadas Portugal partilhou rei com
Espanha, sob o que se tem designado por “domínio filipino”. Com o primeiro dos Filipes (I de
Portugal, II de Espanha), não foi atingida de forma grave a autonomia política e administrativa
do Reino de Portugal. Com Filipe III de Espanha, porém, começam os actos de desrespeito ao
juramento de Filipe II em Tomar. Em 1610, surgiu um primeiro sinal de revolta portuguesa
contra o centralismo castelhano, na recusa dos regimentos de Lisboa a obedecer ao marquês
San-Germano que de Madrid fora enviado para comandar um exército português.
No início do reinado de D. Filipe III, ao estabelecer-se em Madrid a política centralista do
Conde-duque de Olivares, o seu projecto visava a anulação da autonomia portuguesa,
absorvendo por completo o reino de Portugal. Na Instrucción sobre el gobierno de España, que
o Conde-Duque de Olivares apresentou a D. Filipe III, em 1625, tratava-se do planeamento e da
execução da fase final da sua absorção, indicando três caminhos:
• Realizar uma cuidadosa política de casamentos, para confundir e unificar os vassalos de
Portugal e de Espanha;
• Ir D. Filipe III fazer corte temporária em Lisboa;
34
Apontamentos: Escudo
• Abandonar definitivamente a letra e o espírito dos capítulos das Cortes de Tomar (1581), que
colocava na dependência do Governo autónomo de Portugal os portugueses admitidos nos
cargos militares e administrativos do Reino e do Ultramar (Oriente, África e Brasil), passando
estes a ser Vice-reis, Embaixadores e oficiais palatinos de Espanha.
A política de casamentos seria talvez a mais difícil de concretizar, conseguindo-se ainda assim o
casamento de Dona Luísa de Gusmão com o Duque de Bragança, a pensar que dele sairiam
frutos de confusão e de unificação entre Portugal e Espanha. O resultado veio a ser bem o
contrário. A reacção à política fiscal de D. Filipe III vai tomar a dianteira no processo que
conduz à Restauração de 1640. Logo em 1628, surge no Porto o “Motim das Maçarocas”,
contra o imposto do linho fiado. Mas vão ser as “Alterações de Évora”, em Agosto de 1637, a
abrir definitivamente o caminho à Revolução. Nestas, o povo da cidade deixou de obedecer aos
fidalgos e desrespeitou o arcebispo. A elevação do imposto do real de água e a sua
generalização a todo o Reino de Portugal, bem como o aumento das antigas sisas, fez subir a
indignação geral, explodindo em protestos e violências. O contágio do seu exemplo atingiu
quase de imediato Sousel e Crato; depois, as revoltas propagaram-se a Santarém, Tancos,
Abrantes, Vila Viçosa, Porto, Viana do Castelo, a várias vilas do Algarve, a Bragança e à Beira.
Em 7 de Junho de 1640 surgia também a revolta na Catalunha contra o centralismo do CondeDuque de Olivares. O próprio D. Filipe III manda apresentar-se em Madrid o duque de
Bragança, para o acompanhar à Catalunha e cooperar no movimento de repressão a que ia
proceder. O duque de Bragança recusou-se a obedecer a D. Filipe III. Muitos nobres
portugueses receberam semelhante convocatória, recusando-se também a obedecer a Madrid.
Decidiu-se então ir chamar o Duque de Bragança a Vila Viçosa
para que este assumisse o seu dever de defesa da autonomia
portuguesa, assumindo o Ceptro e a Coroa de Portugal. No dia
1 de Dezembro de 1640, eclodiu por fim em Lisboa a revolta,
imediatamente apoiada por muitas comunidades urbanas e
concelhos rurais de todo o país, levando à instauração no
trono de Portugal da Casa de Bragança, dando o poder reinante a D. João IV. O esforço
nacional foi mantido durante vinte e oito anos, com o qual foi possível suster as sucessivas
tentativas de invasão dos exércitos de D. Filipe III e vencê-los nas mais importantes batalhas,
assinando o tratado de paz definitivo em 1668. Esses anos foram bem sucedidos devido à
conjugação de diversas vertentes como a coincidência das revoltas na Catalunha, os esforços
diplomáticos em Inglaterra, França, Holanda e Roma, a reorganização do exército português, a
reconstrução de fortalezas e a consolidação política e administrativa.
Paralelamente, as tropas portuguesas conseguiram expulsar os holandeses do Brasil, de Angola
e de São Tomé e Príncipe (1641-1654), restabelecendo o poder atlântico português. No
entanto, as perdas no Oriente tornaram-se irreversíveis e Ceuta ficaria na posse dos
Habsburgo. Devido a estarem indisponíveis as mercadorias indianas, Portugal passou a só
obter lucro com a cana-de-açúcar do Brasil.
35
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 15 g
Diâmetro: 33 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 364/90 de 24/11/1990
Ano
1990
Cunhagem
1 000 000
Código
097.01
Camilo Castelo Branco
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do centenário de falecimento de Camilo Castelo
Branco, a qual foi publicada em decreto-lei 363/90 de 24 de Novembro durante o governo de Cavaco Silva, sendo
seu ministro Luís Miguel Beleza. Mário Soares era o Presidente da República.
De entre as figuras mais notáveis das letras portuguesas, Camilo
Castelo Branco (1825-1890) é justamente considerado como o mais
fecundo dos escritores portugueses do século XIX. Embora tenha
cultivado os géneros literários mais diversos, desde a poesia, o drama,
o ensaio, a história literária e a historiografia, foi sobretudo como
ficcionista de grandes recursos e estilo poderoso que a sua obra se
afirmaria como um dos mais ricos monumentos da língua portuguesa.
Para assinalar o centenário da morte de Camilo Castelo Branco em
1990, considerou-se da maior oportunidade a emissão de uma moeda
comemorativa.
Para tal foi escolhido o trabalho de Irene Vilar, produzindo-se
uma moeda em cuproníquelcom o valor de 100$00. Tal como
habitualmente neste período foram ainda emitidas versões
em prata proof em estojo próprio. A moeda apresentava para
além da efígie do escritor, elementos figurativos
representativos de locais onde o escritor viveu (a Acácia do
Jorge existente na sua casa; elementos figurativos do mar em
representação dos períodos em viveu na Póvoa de Varzim ou alegorias de grades de prisão, em
representação do seu período encarcerado na Cadeia da Relação no Porto). Camilo Castelo
Branco já tinha sido escolhido para figurar nas notas de 100 escudos chapa 7.
36
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 15 g
Diâmetro: 33 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Irene Vilar
Decreto: 363/90 de 24/11/1990
Ano
1990
Cunhagem
1 000 000
Código
098.01
Moeda Bimetálica de 200 Escudos
A legislação associada à emissão da moeda bimetálica de 200 escudos, a qual foi publicada em decreto-lei 156/91
de 23 de Abril durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Luís Miguel Beleza. Mário Soares era o
Presidente da República.
A substituição da nota de 100 escudos na circulação fiduciária conduziu à criação de um novo
tipo de moeda metálica corrente do mesmo valor em 1989 (decretolei n.º 439-A/89 de 20 de Dezembro). Nesse decreto era já previsto
uma nova moeda corrente, esta com o valor de 200$00, que
completaria assim, um terceiro grupo de moedas a integrar o sistema
de moedas metálicas correntes. Para estas foram escolhidos
composições em moedas bimetálicas, novidade na numária
portuguesa. Como tema foi seleccionado a contribuição portuguesa
para a ciência europeia, primeiro com a recordação de Pedro Nunes
nas moedas de 100$00 e na de 200$00recordava-se a figura e obra de
Garcia de Orta, pioneira da moderna ciência da medicina. Garcia de
Orta que já tinha sido recordado na nota de 20 escudos chapa 8.
A nova moeda foi fabricada com diâmetro de 28 mm e peso de 9,8 g. O bordo era
alternadamente serrilhado e liso (catorze blocos). O núcleo interno de 19,3 mm em liga de
cuproníquel (cobre 75% e níquel 25%), e coroa externa de liga de cobre-alumínio-níquel (cobre
90%, alumínio 5% e níquel 5%). O trabalho do escultor José Cândidoapresentava no anverso no
campo do núcleo, as armas nacionais na parte superior. Na parte inferior, o valor facial “200
escudos” em duas linhas. Na coroa circular, a legenda “República Portuguesa”, da esquerda
para a direita e a era de cunhagem. No reverso, no campo do núcleo, o busto de Garcia de
Ortaa três quartos à direita, sustentando na mão um ramo de noz-moscada. Na coroa circular
37
Apontamentos: Escudo
elementos alegóricos a ondas do mar na metade inferior e na metade superior um ramo de
oliveira à esquerda e uma espiga de trigo à direita.
Moedas Bimetálicas
O desenvolvimento de moedas bimetálicas surge pela necessidade de criar
moeda metálica de maior valor fiduciário. Tal poderia conduzir à fácil
produção de moeda falsificada se utilizadas as mesmas fórmulas já
conhecidas. Assim, surgiram as moedas bimetálicas, com núcleo e coroas de
ligas diferentes. Esta inovação foi inicialmente desenvolvida pela casa de
moeda italiana no início da década de 80 do século XX. Utilizada inicialmente
em edições de liras italianas e adoptada logo em moedas comemorativas de
São Marino, Cidade do Vaticano e Andorra. Posteriormente já no final da
década foi uma forma adoptada em vários países europeus e não só, entre os
quais Portugal. Em Portugal, a estreia surgiu em 1989 com a moeda de 100
escudos e depois com a de 200 escudos, as quais variavam entre outras coisas
na distribuição das ligas entre o núcleo e a coroa (sendo uma do clássico
cuproníquel, e outra da nova liga de cobre-alumínio-níquel). Durante a década
de 90 foram ainda emitidas moedas comemorativas com as mesmas
características técnicas. Com a adopção do Euro surgem as moedas
bimetálicas para os valores de 1 e 2 euros, bem como as comemorativas de 2
euros.
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Cândido
Decreto: 156/91 de 23/04/1991
Data e taxa de recolha: 2002; 65,9%
Ano
1991
1992
1997
1998
1999
2000
2001
Cunhagem
33 000 000
11 000 000
5 000 000
17 866 000
5 998 000
3 136 000
250 000
Código
099.01
099.02
099.03
099.04
099.05
099.06
099.07
Antero de Quental
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do centenário de falecimento de Antero de Quental, a
qual foi publicada em decreto-lei 367/91 de 4 de Outubro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seus
ministros, entre outros, Luís Miguel Beleza e Campos PInto. Mário Soares era o Presidente da República.
38
Apontamentos: Escudo
Comemorando-se em 1991 o centenário da morte de Antero de
Quental (1842-1891), poeta e ensaísta proeminente da chamada
Geração de 70, cuja obra representa um importante marco na vida
cultural portuguesa, considerou-se importante a emissão de uma
moeda comemorativa para assinalar a efeméride. De referir que os
lucros desta amoedação foram entregues ao Governo Regional dos
Açores.
Esta moeda cunhada em cuproníquelcom o valor de 100$00foi criada
pela escultora Irene Vilar. Como habitualmente foi ainda emitida em
estojos próprios, versões em cuproníquel BNC e em prata proof. De referir ainda, que Antero
de Quental figurava nas notas de 5000 escudos chapa 2 e 2A que circulavam nesta altura.
Ficha Técnica
Peso: 15 g
Diâmetro: 33 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Irene Vilar
Decreto: 367/91 de 04/10/1991
Ano
1991
Cunhagem
1 000 000
Código
100.01
3ª Série Descobrimentos: Descoberta da
América
A legislação associada à emissão da terceira Série dos Descobrimentos (Descoberta da América), a qual foi
publicada em decreto-lei 193/91 de 25 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Luís
Miguel Beleza. Mário Soares era o Presidente da República.
A descoberta por Cristóvão Colombo, em 1492, de um novo continente, mais tarde designado
por América, constituiu um dos acontecimentos mais marcantes na história dos
Descobrimentos. Foi durante a sua permanência em Portugal, de 1476 a 1485, que Colombo
mais aprendeu sobre a ciência da navegação no Atlântico, desenvolvida e aperfeiçoada
durante décadas pelos marinheiros portugueses, o que possibilitou e motivou o nascimento da
sua ideia de alcançar a Ásia navegando para ocidente e a descoberta de um novo mundo.
39
Apontamentos: Escudo
Considerou-se muito oportuno, no âmbito das comemorações nacionais dos Descobrimentos
Portugueses, assinalar os 500 anos da descoberta da América e a contribuição de Portugal para
este acontecimento marcante da história da Europa Ocidental. Em simultâneo e para
completar a Série habitual de quatro moedas, comemorou-se outro acontecimento, este
menos conhecido, que consistiu na descoberta e reconhecimento das costas da Califórnia pelo
navegador português (também ao serviço dos castelhanos) João Rodrigues Cabrilho (450 anos
comemorados em 1992). O último tema foi o fundamental para esta descoberta e resultou dos
conhecimentos de navegação portugueses para o Ocidente do Atlântico.
Esta série foi produzida em cuproníquel, como habitualmente mas desta vez em moedas com
o valor de 200$00, valor que se manteve até ao fim das Séries dos Descobrimentos. Estas
novas moedas apresentavam 36 mm e 21,0 g de peso e bordo serrilhado. De cada um dos
espécimes foram ainda produzidos espécimes com acabamento e metais especiais. Assim,
todas tiveram produção em prata com acabamento BNC e proof, ouro proof. Tal como nas
edições anteriores foi produzida ainda uma emissão prestígio 4 moedas, 4 metais (ouro, prata,
paládio e platina).
Para esta série foram seleccionados os trabalhos de Paulo Guilherme (Navegações para
Ocidente), António Marinho (Cristóvão Colombo), Raul Machado (Descoberta da América) e
Isabel Carriço e Fernando Branco (Descoberta da Califórnia). Novamente surgem nos desenhos
destas moedas a referência a navios da época dos descobrimentos: nau quinhentista
(Descoberta da Califórnia); primeira armada de Colombo (Descoberta da América): Santa
Maria, Pinta e Niña. De novidade, foi a inclusão em várias moedas de desenhos cartográficos:
representação parcial da América do Norte e Central (Descoberta da Califórnia), mapa
hexagonal de Toscanelli (Navegações para Ocidente); mapa da Europa e de África (Cristóvão
Colombo); mapa de Colombo da Ilha Hispaniola (Descoberta da América). Outras
representações alusivas às navegações quinhentistas são na moeda Navegações para Ocidente
do leme, da carta náutica, do astrolábio e da espada com a Cruz de Cristo; rosa dos ventos
(Cristóvão Colombo); rosa dos ventos e cartas náuticas (Descoberta da América).
Navegações para Ocidente
As possibilidades e os conhecimentos para navegar para
Ocidente sem a visão da costa era já uma capacidade que os
portugueses dominavam. Tal tinha permitido as ligações
regulares para os Açores e a Madeira, e dos Açores para a costa
Americana do Norte (Terra de Labrador). O conhecimento das
correntes do Atlântico Norte, bem como da navegação
astronómica eram comuns entre os navegadores portugueses. Todo este conhecimento terá
sido apreendido por Cristóvão Colombo na sua estadia em Porto Santo como sogro do capitão
donatário da ilha. A questão poderá colocar-se na origem do navegador, será que só aí as
apreendeu ou teve a formação típica dos comandantes dos navios portugueses dessa época?
Cristóvão Colombo não teria no entanto, os conhecimentos das navegações secretas
organizadas e enviadas por D. João II que teriam permitido conhecer já a existência da América
e consequente erro de cálculo existente no mapa de Toscanelli que Colombo tomou como certo.
40
Apontamentos: Escudo
Cristóvão Colombo
Segundo a tradição natural da República de Génova, 1451. Veio a
falecer em Valladolid em 20 de Maio de 1506. Foi um navegador e
explorador europeu, responsável por liderar a frota que alcançou a
América em 12 de Outubro de 1492, sob as ordens dos Reis Católicos
de Espanha. Empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico
com o objectivo de atingir a Índia, tendo na realidade descoberto as
ilhas das Caraíbas (Antilhas) e, mais tarde, a costa do Golfo do
México na América Central.
A data do nascimento de Colombo pode ser determinada com
alguma precisão, pois num documento datado de 31 de Outubro de 1470 afirma-se que
Cristóvão Colombo, filho de Domenico é já maior de dezanove anos. O que, juntamente com o
documento Assereto, onde ele próprio afirma ter “cerca de 27 anos”, permite precisar o ano do
seu nascimento como sendo o de 1451, entre 25 de Agosto e 31 de Outubro. Segundo a
documentação existente, era natural de Génova, tendo provavelmente nascido no bairro de
Quinto, onde o seu pai residia já em 1429.Numa minuta datada de 25 de Agosto de 1479,
Colombo é referido como “cidadão Genovês”. O mesmo documento, denominado “documento
Assereto”, no qual Colombo é citado como testemunha num processo judicial sobre uma
compra de açúcar na Ilha da Madeira na qual esteve envolvido, transcreve a afirmação de
Colombo sobre a sua idade à época, cerca de 27 anos, e que estava de partida para Lisboa. O
documento refere ainda os mercadores Genoveses Paolo di Negro e Lodovico Centurione, cujos
herdeiros são citados nos testamentos de Colombo (1506) e do seu filho Diogo (1523). Através
deste documento sabe-se, que em 1479 Colombo trabalhava como representante da casa
Centurione no comércio do açúcar, tendo já visitado a Madeira e parecendo já estar
estabelecido em Lisboa. Sobre a família de Colombo, sabe-se pela documentação existente que
era filho de Domenico Colombo, e neto de Giovanni Colombo, morador em Quinto, e já defunto
a 20 de Abril de 1448. Tinha ainda um tio chamado António Colombo e uma tia Battistina,
casada com Giovanni Frittalo, a qual foi dotada no referido ano de 1448. A 21 de Fevereiro de
1429 o pai de Colombo, Domenico, foi enviado pelo seu pai Giovanni, avô de Colombo, para
casa de um tecelão Alemão, como aprendiz dessa arte, por um prazo de seis anos. Giovanni,
originário de Moconesi, era então habitante em Quinto. Vários documentos notariais
Genoveses atestam a presença em Espanha dos três filhos de Domenico, Bartolomeu, Cristóvão
e Giacomo. Em 1489, após um processo entre Domenico e o pai do seu genro, Giacomo
Bavarello, queijeiro, este, já viúvo, assina na qualidade de legítimo administrador da parte dos
seus três filhos. A 11 de Outubro de 1496, um acordo é assinado entre Giovanni Colombo de
Quinto e Matteo e Amighetto, seus irmãos, todos filhos de António Colombo já defunto,
segundo o qual o primeiro deles se deveria dirigir a Espanha, a expensas comuns, para “visitar
o almirante Cristóvão Colombo”. Em 1501, alguns cidadãos de Savona juraram que Cristóvão,
Bartolomeu e Giacomo Colombo, filhos e herdeiros do defunto Domenico são “há muito tempo
afastados da cidade e território de Savona, para lá de Pisa e de Nice em Provença, e que vivem
em Espanha, como toda a gente sabe e o sabia já”.
Em 1479 Colombo desposou Filipa Moniz, residente no mosteiro feminino de Santos-o-Velho da
Ordem de Santiago desde a morte do pai, Bartolomeu Perestrelo, cavaleiro da casa do Infante
41
Apontamentos: Escudo
D. Henrique, de ascendência presumivelmente italiana, de Placência, e um dos povoadores e
primeiro capitão do donatário da ilha do Porto Santo.
Da união nasceu um filho em c. 1474-80, Diogo Colombo, nomeado pela Coroa Espanhola
como 2º Almirante e Vice-rei das Índias. A partir de 1485 Colombo reside em Castela.
Chegando a Córdova com a corte, teve um caso amoroso, no Inverno de 1487-1488 com uma
moça humilde por nome Beatriz Enríquez da qual nasceu, a 15 de Agosto de 1488, Fernando
Colombo. A esta moça deixa Colombo, no seu testamento, a renda anual de 10 000 maravedis,
presumivelmente como compensação pelos danos causados à sua honra.
Portugal, à época, buscava uma passagem marítima para o Oriente, que lhe permitisse
comerciar directamente com a Índia, de onde eram redistribuídas as especiarias oriundas das
ilhas Molucas, a par de outros produtos de luxo. Via nesse projecto uma resposta cristã à
hegemonia turco-egípcia, muçulmana, sobre a rota terrestre abastecedora da Europa,
particularmente das cidades de Génova e de Veneza. Como alternativa a esse projecto,
Colombo concebeu atingir as Índias navegando para o Ocidente, contornando o planeta. As
suas ideias básicas eram: a esfericidade da Terra; e que os mares eram formados por uma
única massa.
Durante a sua estadia em Portugal, Colombo correspondeu-se com Paolo del Pozzo Toscanelli.
Nessa correspondência passou intencionalmente a Toscanelli uma estimativa (incorrecta) de
que a distância era mais curta que a aceite pela Junta de Matemática de D. João II. Este órgão
aceitava a afirmação de Ptolomeu de que a massa de terras (a Eurásia e a África) ocupava 180
graus da esfera terrestre, com 180 graus de mar.
De facto só ocupa cerca de 120 graus. Colombo teria usado os cálculos de Pierre d'Ailly,
acreditando que a massa ocupada por terras era de 225 graus, deixando 135 graus de mar e
atribuindo um comprimento menor ao grau de longitude terrestre; estes factos, em conjunto
com o globo de Martin Behaim, teriam tido a virtude de convencer os castelhanos, no Concelho
de Salamanca onde apresentou o seu projecto a um grupo de religiosos e leigos, a patrocinar a
sua expedição. A circunferência verdadeira da Terra é de aproximadamente quarenta mil
quilómetros. Colombo teria afirmado que era de trinta mil e seiscentos quilómetros, estimando
assim que a distância ao Japão era de cerca de quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro
quilómetros. Mas Manuel Rosa prova no seu último livro Colón. La Historia Nunca Contada que
Colombo de facto media 231 léguas desde Santa Maria nos Açores até Lisboa (uns 6000
quilómetros por légua), e que essa era a mesma distância que dá Valentim Fernandes no seu
Livro de Marco Paulo.
Também o Infante D. Henrique menciona as mesmas léguas na doação da Ilha Terceira a
Jacome de Bruges em 1450. Deduz-se assim que Colombo em vez de andar perdido ou
enganado, ocultava o que sabia e fazia-o para enganar os Reis Católicos e que o globo de
Martin Behaim, um perito da Junta de Matemática de D. João II fazia parte do mesmo engano.
Colombo conseguiu finalmente fazer aprovar o projecto da sua viagem junto dos Reis Católicos,
após a conquista de Granada, com a ajuda do confessor da rainha Isabel de Castela. Os termos
da sua contratação tornavam-no almirante dos mares da Índia a descobrir e governador e vicerei das terras do Oriente a que se propunha chegar, em competição com os portugueses que
exploravam a Rota do Cabo.
42
Apontamentos: Escudo
Colombo partiu em sua primeira viagem de Palos de la Frontera (Huelva, Espanha), em 3 de
Agosto de 1492, com três pequenas embarcações: a nau Santa Maria e as caravelas Niña e
Pinta. Tocou na Grã-Canária e rumou para Sudoeste; no dia 12 de Outubro de 1492, chegou a
um ilhéu das Bahamas a que deu o nome de São Salvador. Continuando a navegar costeou
Cuba (segundo os próprios cubanos o nome é derivado da palavra Taíno, “cubanacán”,
significando “um lugar central”) e chegou ao Haiti a que deu o nome de Hispaniola. Dizendo ter
chegado à Índia deixou lá uma pequena colónia e regressou à Europa. A sua segunda viagem
iniciou-se em 1493, com três naus e catorze caravelas. Nela avistou as Antilhas e abordou a
Martinica. Rumou depois para o norte e alcançou Porto Rico. Foi a Hispaniola onde a pequena
colónia tinha sido arrasada pelos indígenas.
Tendo ali deixado outro contingente de homens, navegou para o ocidente e chegou à Jamaica.
Nessa viagem fundou Isabela, actual Santo Domingo, na República Dominicana, a primeira
povoação europeia no continente americano. Para a terceira viagem, partiu em 1498, com seis
naus, tendo chegado à ilha da Trinidad depois de uma atribulada viagem. Rumando ao sul
chegou a uma grande terra que pensou ser uma ilha, a que chamou de Gracia. Rumando ao
norte chegou a Santo Domingo, onde entrou em conflito com o governador, vindo ele e o irmão
a ser presos e enviados para Castela.
Na quarta viagem, saiu de Cádiz com quatro naus em 1502, propondo-se uma vez mais a
chegar ao Oriente. Avistou a Jamaica e, depois de grande tempestade, chegou à Ilha de Pinos
nas Honduras. Avistou depois as costas da Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Devido ao péssimo
estado das naus teve de regressar a Hispaniola, de onde voltou para Castela. Colombo sempre
atribuiu as suas viagens ao desejo de converter novos povos ao Cristianismo, uma crença que
se intensificou com a idade. Reivindicou ouvir vozes divinas, e procurou que se organizasse uma
nova cruzada para capturar Jerusalém. Usava as vestes de franciscano, e descreveu as suas
explorações ao “paraíso” como parte do plano divino de que resultaria o último julgamento e o
fim do mundo. Por outro lado, exigiu da Coroa castelhana dez por cento de todos os lucros nas
terras novas de que viesse a tomar posse, conforme o acordo antecedente com os Reis
Católicos. Como Colombo já não governava “as Índias”, o novo monarca rejeitou estas
pretensões. Os seus filhos processaram a Coroa castelhana para obter parte dos lucros do
comércio com a América, mas perderam a causa cinquenta anos mais tarde.
Razoavelmente rico devido ao ouro que os seus homens tinham acumulado em Hispaniola e
particularmente honrado pelos seus filhos, Colombo faleceu em Valladolid a 20 de Maio de
1506. Andres Bernaldez, cronista dos Reis Católicos, amigo íntimo e confidente de Colombo,
atribui-lhe a idade de 70 anos à época do seu falecimento. Teria, assim, nascido em 1436-1437.
Descoberta da América
A América foi inicialmente povoada por índios durante milhares de anos e em todo o
continente se desenvolveram civilizações importantes, como os maias, astecas e incas. Apesar
dos vikings terem explorado e estabelecido bases nas costas da América do Norte a partir do
século X, estes exploradores aparentemente não colonizaram a América, limitando-se a tentar
controlar o comércio de peles de animais e outras mercadorias da região.
43
Apontamentos: Escudo
A colonização da América pelos europeus resultou da procura
de uma rota marítima para a Índia, que era a fonte da seda e
das especiarias, produtos que tinham um grande valor
comercial no “velho continente”. Ao navegarem para oeste,
encontraram o “Novo Mundo”.
Os primeiros a descobrir as “Índias orientais” foram os judeus
- a 12 de Outubro de 1492, Cristóvão Colombo (que chegou à
ilha Hispaniola, onde encontrou nativos amistosos e pensou ter chegado à Índia). Ali, deixou
uma pequena colónia que, no ano seguinte, tinha sido dizimada pelos nativos, e
posteriormente deixou lá uma guarnição bem armada.
Estima-se de cerca de 250 mil aruaques existentes naquela ilha, apenas 500 tinham sobrevivido
no ano 1550; o grupo foi extinto antes de 1650. O Brasil foi colonizado pelos Portugueses. Em
meados do século XVI, o Império Espanhol controlava quase toda a zona costeira das Américas,
desde o Alasca à Patagónia, no ocidente, e desde o actual estado norte-americano da Geórgia,
toda a América Central e o Caribe à Argentina; com excepção do Brasil, que Portugal tinha
conseguido manter graças à mediação do Papa.
João Rodrigues Cabrilho
João Rodrigues Cabrilho, também conhecido como Juan Rodríguez
Cabrillo, foi um navegador e explorador português do século XVI. Ao
serviço da coroa espanhola efectuou importantes explorações
marítimas no Oceano Pacífico (costa Oeste dos actuais EUA) e
terrestres na América do Norte, participando na conquista da Capital
Azteca de Tenochtitlan, com o conquistador espanhol Hernán Cortés
em 1521, participou também com Pedro de Alvarado e mais 300
europeus, na conquista dos territórios que compreendem hoje as
Honduras, Guatemala e San Salvador, entre 1523 e 1535, ajudando a
fundar Oaxaca (um dos 31 Estados do México).
Ao serviço da Espanha, no mês de Junho do ano de 1542, João Rodrigues largou amarras de
Navidade, na costa Oeste do México, navegando para o Norte, e três meses depois alcançou a
Baia de San Diego, tornando-se o primeiro europeu a desembarcar no que é actualmente o
Estado da Califórnia.A nacionalidade portuguesa de João Rodrigues não oferece dúvidas, pois é
o próprio cronista e Chefe das Índias Espanholas, D. António Herrera y Tordesillas, que na sua
Historia General de loshechos de los Castellanos en lás Islas y tierra firme del Mar Oceano o
confirma, ao dizer ter D. António de Mendonça aprestado os navios “São Salvador” e “Victoria”
para prosseguirem na exploração costeira da Nova Espanha e que nomeou por Capitão deles
João Rodrigues Cabrilho. Embora alguns biógrafos e historiadores, em especial Harry Kelsey,
afirmem que Cabrillo tenha nascido em Sevilla (Andaluzia) em data incerta. Morreu a 3 de
Janeiro de 1543 no Sul do actual estado americano da Califórnia, desconhecendo-se o local da
sua sepultura.
44
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Paulo Guilherme
Decreto: 193/91 de 25/05/1991
Ano
1991
Cunhagem
2 000 000
Código
101.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 193/91 de 25/05/1991
Ano
1991
Cunhagem
2 000 000
Código
102.01
45
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 193/91 de 25/05/1991
Ano
1991
Cunhagem
2 000 000
Código
103.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 193/91 de 25/05/1991
Ano
1991
Cunhagem
2 000 000
Código
104.01
2000 Escudos Ch. 1 Bartolomeu Dias
José Tavares Moreira
Luís Miguel Beleza
António Palmeiro Ribeiro
46
Apontamentos: Escudo
António Castel-Branco Borges
António Bagão Félix
Abel António Pinto dos Reis
António Bagão Félix
José Matos Torres
João Morais Costa Pinto
José Cardoso Veloso
Bernardino Costa Pereira
Abel Moreira Mateus
Entendendo que se justificava o complemento do ciclo 1,2,5 do sistema monetário, o Conselho
de Administração, em sessão de 30 de Julho de 1987 e 5 de Novembro do mesmo ano,
deliberou criar um novo tipo de nota com o valor facial de 2000 escudos. Inicialmente indicada
para ser a primeira de uma série de notas de motivação figurativa com base no tema “Portugal
e os Descobrimentos”, só posteriormente, com a emissão da nota de 2000 escudos, Chapa 2,
de novo formato e características especiais, essa deliberação veio a ser efectivamente
concretizada. Bartolomeu Dias, grande navegador e descobridor português da segunda
metade do século XV, foi a figura escolhida para ilustrar a primeira nota desta denominação. A
criação ou trabalhos preliminares (fabrico de maquetas finais, execução de fotolitos para as
chapas offset e gravação, manual ou mecânica, de matrizes para a
estampagem calcográfica), estava habitualmente a cargo da firma
encarregada da impressão. A nova prática, aprovada em sessão de 5
de Janeiro de 1989, dissocia a execução dos trabalhos preliminares da
estampagem final e explicita que a originação, executada por firmas
especializadas, é de propriedade exclusiva do Banco, que a pode
ceder a qualquer dos tradicionais impressores, inclusive a quem fez a
originação ou, ainda, utilizá-la nas suas próprias instalações de
impressão.
Neste contexto a elaboração dos trabalhos preliminares, ou originação, foi consignada à firma
Komori Currency Technology UK Ltd., de Inglaterra, segundo maquetas iniciais do Professor
Luís Filipe de Abreu, ficando a cargo dos impressores British American Bank Note, do Canadá, a
estampagem das notas. A estampagem calcográfica da frente, em cores azul e castanho,
incluía a efígie de Bartolomeu Dias, um astrolábio, ornamentos, dísticos, uma rosácea na
metade superior direita, com a imagem latente de uma cruz de Cristo, linhas, contornando
alguns ornamentos, microimpressas de “Banco de Portugal Dois Mil Escudos Bartolomeu Dias”
em contínuo e, no canto inferior esquerdo, o desenho de uma vela latina, para identificação
por invisuais. O fundo, em offset simultâneo a quatro cores, incluía as Armas Reais de D. João
II, rosa-dos-ventos, motivos inspirados na cruz de Cristo e estilização de ondas, o desenho de
47
Apontamentos: Escudo
um cabo de amarração a todo o comprimento, em baixo, e, no canto inferior direito, uma cruz
que faz registo com a cruz de igual contorno no verso. A estampagem a talhe-doce do verso, a
azul, castanho e vermelho, mostrava uma caravela de velas latinas, o Cabo da Boa Esperança,
esfera armilar, ornamentos, dísticos, e, tal como na frente, linhas microimpressas de “Banco
de Portugal Dois Mil Escudos Bartolomeu Dias” contornando alguns dos ornamentos. O fundo
do verso, em offset simultâneo de quatro cores, com predominância azul esverdeado, era
constituído por temas náuticos e um mapa do continente africano. A aposição tipográfica do
texto complementar (data, série, numeração, as palavras “O Governador”, “O ViceGovernador” e “O Administrador” e chancelas) foi feita nas oficinas do Banco.
O papel foi fabricado pela VHP – Veiligheidspapierfabriek Ugchelenbv, da Holanda. A marca de
água foi colocada no lado direito e apresentava a efígie de Bartolomeu Dias, virada para o
centro, em redução do retrato estampado na nota. Incorporado no papel podia observar-se,
na metade esquerda, um filete de segurança, microimpresso com a palavra “Portugal”
repetidamente e ainda, espalhadas ao acaso por toda a superfície, fibras fluorescentes
vermelhas e verdes, visíveis quando sob a incidência da luz ultravioleta.
Komori Currency Technology UK Ltd
A Komori foi criada em 1923 em Tóquio (Japão) como empresa tipográfica.
Com um crescimento sustentado transforma-se em multinacional chegando
aos Estados Unidos da América em 1982 e à Europa com a subsidiária Komori
UK em 1984. Em 1986 foi criada dentro desta última a Komori Currency
Technology UK Ltd, especializada na criação e desenvolvimento de notaas
bancárias.
48
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 2 000$00
Chapa: 1
Frente: Retrato de Bartolomeu Dias e motivos relacionados com as navegações quinhentistas
Verso: Representação da caravela de Bartolomeu Dias a passar o Cabo da Boa Esperança e
esfera armilar
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Bartolomeu Dias
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal” e, por
toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e verdes
Medidas: 166,5x75 mm
Criação: Komori Currency Technology UK, Ltd
Impressão: British American Bank Note Ink.
Primeira emissão:01-08-1991
Última emissão: 22-10-1993
Retirada de circulação: 31-12-1997
Data
23-05-1991
29-08-1991
16-07-1992
21-10-1993
Emissão
21 000 000
21 000 000
42 000 000
20 320 000
Combinações de Assinaturas
5
4
6
7
Presidência da CEE
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da Presidência Portuguesa da CEE em 1992, a qual foi
publicada em decreto-lei 63/92 de 21 de Abril durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Jorge Braga
de Macedo. Mário Soares era o Presidente da República.
Decorrendo no primeiro semestre de 1992 a primeira presidência portuguesa do Conselho da
Comunidade Europeia, considerou-se da maior oportunidade a emissão de moeda
comemorativa a assinalar o acontecimento.
49
Apontamentos: Escudo
A moeda cunhada teve uma tiragem de 1 milhão de moedas com valor de 200$00em
cuproníquel. A moeda teve autoria da dupla Isabel Carriço e Fernando Branco. Como
habitualmente foram ainda produzidas emissões especiais em prata proof e BNC. A moeda
com desenho estilizado onde se destacavam elementos representativos do brasão português,
bandeira da CEE e elementos ondulantes representando as ondas do mar. Curiosamente
voltaria a ser emitida moeda nas outras duas presidências portuguesas.
Presidência da CEE
A Presidência do Conselho da União Europeia é uma responsabilidade sobre o funcionamento
do Conselho da União Europeia, que foi rotativo entre os Estados membros da União Europeia,
de seis em seis meses. Não havia um único presidente, e a tarefa era levada a cabo por todo
um governo nacional, o que, consequentemente, permite influencie a direcção da política da
União Europeia.
A Presidência, que é por vezes chamada informalmente a Presidência da UE, tem como sua
principal responsabilidade, organizar e presidir a todas as reuniões do Conselho. No entanto, a
capacidade de resolver dificuldades na prática é também uma responsabilidade primária.
A Presidência está sendo, actualmente, executada numa maneira compartilhada, a fim de lidar
com o curto prazo de seis meses de Presidência. Três presidentes sucessivos formarão uma
presidência tri-partilhada, trabalhando em conjunto ao longo de 1,5 anos para cumprir uma
agenda comum pelo actual presidente, simplesmente para se dar continuidade ao trabalho da
anterior presidência, após o final do seu mandato. Deve notar-se que a estrutura jurídica não
tenha sido oficialmente modificada; é de facto um método de funcionamento. No entanto, a
Acta Final da CIG no Tratado de Lisboa iria formalizar esse procedimento. Esse processo
também permite que os novos Estados-Membros assumam a Presidência mais cedo, e, ao
mesmo tempo, o tripletes são dispostas de modo a que, em cada um deles, há dois novos e
antigos Estados-Membros, com o pressuposto de que os antigos Estados-Membros irão passar
as suas experiências com a co-presidência de novos membros.
Separado do Conselho da União Europeia, há também o Conselho Europeu, que se reúne em
cimeiras europeias em cerca de quatro vezes por ano. A tarefa como Presidente do Conselho
Europeu é igualmente realizada pelo chefe de governo ou chefe de estado do Estado membro
que exerce a Presidência. O presidente é o principal responsável pela preparação e presidência
de reuniões do Conselho, e não tem poderes executivos. A partir de 2009, ao abrigo do Tratado
de Lisboa, o Conselho Europeu deixaria de usar o sistema da Presidência do Conselho, pelo
contrário, teria um Presidente a tempo inteiro, que não mantém qualquer serviço nacional.
Portugal assumiu essa responsabilidade pela primeira vez em 1992, sendo João de Deus
Pinheiro ministro dos Negócios Estrangeiros, voltando novamente em 2000 (ministro Jaime
Graça) e 2007 (ministro Luís Amado).
50
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 63/92 de 21/04/1992
Ano
1992
Cunhagem
1 000 000
Código
105.01
Jogos Olímpicos de Barcelona
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa aos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, a
qual foi publicada em decreto-lei 94/92 de 23 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seus ministros
Jorge Braga de Macedo e Couto dos Santos. Mário Soares era o Presidente da República.
Em Julho de 1992 decorreram, em Barcelona, os XXV Jogos olímpicos da Era Moderna,
acontecimento desportivo da maior projecção mundial e no qual Portugal participou com a sua
maior delegação até à data, pelo que se considerou oportuno assinalar os
feitos olímpicos portugueses do passado e a participação nestes Jogos com
a emissão de uma moeda comemorativa.
A moeda com o valor de 200$00, cunhada em cuproníquel, teve a autoria
de António Marinho. A clara alusão aos feitos portugueses nos Jogos
Olímpicos foi feita com a representação de um atleta em esforço durante
uma corrida, relembrando-se os feitos recentes de Carlos Lopes e Rosa
Mota, medalhados nas olimpíadas de Los Angeles e Seul com o Ouro na
Maratona.
Jogos Olímpicos Barcelona 1992
Os XXV Jogos Olímpicos ocorreram em Barcelona (Espanha), cidade do então presidente do
Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, entre 25 de Julho e 9 de Agosto de
1992. Foi a primeira edição desde Munique 1972 aonde todos os Comités Olímpicos Nacionais
estiveram presentes, totalizando 169 nações que enviaram 9356 atletas. Um total de 167
nações enviou representantes para os Jogos. Como consequência da mudança geopolítica do
momento (exactos seis meses antes dos jogos a União Soviética tinha desaparecido), doze
51
Apontamentos: Escudo
países da ex-URSS optaram por formar uma Equipa Unificada, composta pelos então 11 países
da Comunidade dos Estados Independentes mais a Geórgia. Os três países bálticos formados
por Estónia, Letónia e Lituânia optaram por enviar suas próprias delegações.
A África do Sul, retornou aos Jogos após a suspensão de 32 anos ocasionada pelo regime do
Apartheid. A Alemanha competiu como uma única nação após a reunificação, fato que não
ocorria desde a formação da Equipe Alemã Unida entre 1956 e 1964. O desmembramento da
Jugoslávia levou a Croácia, Bósnia-Herzegovina e Eslovénia a participarem com suas próprias
equipas nacionais. A então República Federal da Jugoslávia estava sob embargo das Nações
Unidas devido a Guerra Civil, mas numa forma de não punir os atletas jugoslavos eles tiveram
a participação autorizada como Participantes Olímpicos Independentes, isto fez com que a
Jugoslávia perdesse as respectivas vagas nos desportos colectivos.
A participação portuguesa foi desapontante. Sem nenhuma medalha ao contrário das
participações mais recentes, facto que foi ainda de maior destaque dado o tamanho da
delegação portuguesa. A desilusão foi ainda maior dado que nem a equipa de Hóquei em
Patins (quarta classificada) foi capaz de conquistar medalhas na primeira e única aparição
deste desporto nas Olimpíadas.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 94/92 de 23/05/1992
Ano
1992
Cunhagem
1 000 000
Código
106.01
1ª Série Ibero-Americana: Encontro de
Dois Mundos
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa à primeira série ibero-americana “Encontro de Dois
Mundos”, a qual foi publicada em decreto-lei 449/91 de 30 de Novembro durante o governo de Cavaco Silva,
sendo seus ministros Jorge Braga de Macedo e Couto dos Santos. Mário Soares era o Presidente da República.
52
Apontamentos: Escudo
Portugal esteve directamente envolvido nas comemorações internacionais do 5º Centenário
do Descobrimento Europeu da América realizado em 1992. Participou igualmente na Exposição
Universal de Sevilha, cujo tema “A Era dos Descobrimentos”
contribuiu para realçar o papel pioneiro de Portugal no encontro
entre mundos, no contacto de civilizações e na interpretação de
culturas resultantes da expansão marítima europeia dos séculos XV e
XVI. Tais participações tornaram oportunas a participação de Portugal
numa série internacional de moedas comemorativas, em conjunto
com vários países do continente americano e a Espanha, alusivas ao
“Encontro de Dois Mundos”, por ocasião do 5º Centenário do
Descobrimento Europeu da América.
Para esta série cunhada em moeda de prata com valor de 1000$00, foi seleccionado escultura
da dupla Isabel Carriço e Fernando Branco. Na face nacional (reverso) surgia a figuração de
uma caravela portuguesa de dois mastros e a representação de um mapa quinhentista da
Europa e de África parcialmente encoberto pelo pano da caravela, encontrando-se na proa da
caravela o mapa do Brasil. No anverso surgiam as armas nacionais de todos os países
participantes na série: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, Equador, Espanha,
México, Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela.
53
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 449/91 de 30/11/1991
Ano
1991
Cunhagem
350 000
Código
107.01
4ª Série dos Descobrimentos: 450 anos do
Encontro Portugal – Japão
A legislação associada à emissão da 4.ª Série dos Descobrimentos, a qual foi publicada em decreto-lei 57/93 de 1
de Março durante o governo de Cavaco Silva, sendo seus ministros Jorge Braga de Macedo. Mário Soares era o
Presidente da República.
No âmbito do programa da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, o ano de 1993 foi dedicado às celebrações luso-nipónicas evocativas dos 450
54
Apontamentos: Escudo
anos da chegada dos primeiros portugueses à ilha de Tanegashima, no arquipélago de Kiushu,
a 23 de Setembro de 1543. Desse primeiro encontro, entre as culturas ocidental europeia e a
oriental nipónica, resultou um dos mais enriquecedores diálogos entre civilizações da era dos
Descobrimentos, com importantes consequências na história da humanidade. Considerou-se,
por isso, muito oportuno assinalar os 450 anos do encontro Portugal-Japão, com a emissão de
uma série de moedas comemorativas da efeméride.
A série cunhada em cuproníquel com valor de 200$00, teve ainda emissões especiais em prata
proof, ouro proof e edição prestígio (quatro metais). As quatro moedas tiveram os seguintes
temas: Chegada a Tanegashima (de autoria de Eloisa Byrne), introdução das armas de fogo no
Japão (de autoria de António Marinho), primeira embaixada dos daimius de Kiushu a Portugal
(de autoria de Raul Machado) e desenvolvimento da arte e cultura Namban (de autoria de
Isabel Carriço e Fernando Branco). Esta edição ficou marcada pelas referências constantes a
imagens baseadas na arte Namban e navios quinhentistas portugueses.
Chegada a Tanegashima
Tanegashima é uma ilha do sul do Japão, situada no arquipélago Ōsumi, ao sul de Kyushu. Faz
parte da província de Kagoshima e é a segunda maior do arquipélago. A ilha de Tanegashima é
uma longa e estreita faixa de terra cuidadosamente cultivada, medindo 57,5 quilómetros
norte-sul, e 5-12 km de leste-oeste.
Na ilha há uma cidade, Nishinoomote, e duas vilas, Nakatane
e Minamitane, pertencentes ao distrito de Kumage. O novo
aeroporto de Tanegashima serve a ilha, oferecendo voos
diários para Kagoshima e Osaka. Esta ilha de Tanegashima é
celebrada como o local do primeiro contacto conhecido entre
Europeus e Japoneses, em 1543.
Um entreposto comercial Ryukyuan fora aí estabelecido há
várias décadas, e todo o tráfego de Ryukyus para Kagoshima
em Kyushu, no sul do Japão, era obrigado a passar por esta
estação. Foi assim que um navio Português, desviando-se da rota da China para Okinawa,
aportou em Tanegashima, e não directamente no Japão.
Introdução da Espingarda no Japão
Até aos tempos modernos, as armas de fogo eram coloquialmente conhecidas no Japão como
"Tanegashima", devido a terem sido introduzidas aí pelos primeiros portugueses desse navio.
Nas suas memórias publicadas em 1614, o aventureiro e autor Fernão Mendes Pinto colocou-se
nesse primeiro desembarque, embora esta afirmação tenha sido desacreditada e,
contradizendo com as suas pretensões de estar simultaneamente em Mianmar no momento.
No entanto, parece ter visitado Tanegashima pouco depois. Os europeus chegaram para
comerciar, não só armas, mas também sabão, tabaco e outros produtos desconhecidos no
Japão medieval, por produtos japoneses.
55
Apontamentos: Escudo
Desde que em 1543 as armas de fogo foram introduzidas, os famosos artesãos metalúrgicos de
Tanegashima expandiram suas técnicas originais para incluir a criação de armas de fogo de
alta qualidade em grande escala. Tanegashima era e mantém-se conhecida pelo fabrico
tradicional de ferramentas de ferro, especialmente facas e tesouras.
Os artesãos em Tanegashima têm mantido vivas
as técnicas tradicionais para produzir e afiar
ferramentas. Tanegashima é também conhecida
como o centro de produção de ferro desde cerca
de 1185, quando o clã Taira vindo de Quioto foi aí
exilado por Minamoto no Yoritomo, trazendo
consigo artesãos e cozinheiros.
O povo fala com um sotaque de Quioto, mesmo
hoje. A técnica dos artesãos de Tanegashima é
única no mundo, e produz instrumentos usado por muitos chefs em Kyoto e Kansai, e tesouras
"Tane-Basami" tesoura, preferida por muitos para a arte do Bonsai.
Arte Namban
A arte Namban desenvolveu-se no Japão entre 1500-1600, durante o chamado Período de
comércio Namban influenciado pelos
primeiros contactos com europeus,
iniciados com a chegada dos
portugueses em 1543. A origem do
nome "Namban" vem de "Naban-jin",
ou "bárbaros do sul", termo com que
os
japoneses
apelidaram
os
europeus.
Reflecte os contactos comerciais com
europeus, no que é um dos primeiros exemplos conhecidos de ocidentalização na Ásia. Uma
das maiores colecções de arte Namban está preservada no Museu da Cidade de Kobe, no
Japão. Também em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, pode-se ver uma importante
colecção de biombos Namban mostrando os
portugueses a negociar no Japão.
Enviados Daimius de Kiushu
Em 1582 foi enviada uma embaixada constituída
por quatro adolescentes cristãos japoneses que
viajaram até à Europa no navio português que
fazia anualmente esta carreira. Os seus nomes
eram Mancio Ito (representante do daimiu de
Bungo), Michael Chijiwa (representante do daimiu
de Omura e Arima) e os seus acompanhantes Marin Hara e Julian Nakaura. A acompanhar a
embaixada foi o seu professor português, o jesuíta português Frei Diogo Mesquita.
56
Apontamentos: Escudo
A Viagem tinha como objectivos proporcionar um contacto dos Europeus com a cultura
japonesa por intermédio destes jovens, chamando a atenção para a importância da missão no
Japão e impressionar os adolescentes japoneses com a cultura europeia para estes ajudarem a
europeizar o Japão. A viagem decorreu por várias etapas: Japão, Macau, Malaca, Índia,
Moçambique. Terminou após dois anos e meio em Lisboa em 1534. Em Portugal foram
apresentados a várias autoridades, entre as quais o Arcebispo de Lisboa e a Frei Luís de
Granada. Tiveram ainda oportunidade de visitar os monumentos mais impressionantes da
cidade entre os quais, o Mosteiro dos Jerónimos. Posteriormente seguiram para a Espanha
onde foram recebidos pelo rei Filipe II (I de Portugal) em Madrid. Daí seguiram para Roma onde
foram recebidos pelo Papa Gregório e permaneceram na cidade até à coroação do novo Papa
(Sisto V). Regressaram posteriormente passando por Veneza, Mmilão, Saragoça, Madrid, Évora
e Coimbra antes de embarcarem para o regresso em Lisboa de onde saíram em 8 de Abril de
1586. Chegaram a Nagasaki em 1590 (dezoito anos depois da sua partida). Nesta altura a
governação no Japão tinha sido mudada e os cristãos expulsos.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 449/91 de 01/03/1993
Ano
1993
Cunhagem
1 000 000
Código
108.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 449/91 de 01/03/1993
Ano
1993
Cunhagem
1 000 000
Código
109.01
57
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 449/91 de 01/03/1993
Ano
1993
Cunhagem
1 000 000
Código
110.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 449/91 de 01/03/1993
Ano
1993
Cunhagem
1 000 000
Código
111.01
Eloisa Byrne
A Nasceu em Lisboa, onde reside. Concluiu o curso de escultura na ESBAL em
1963. Em 1964 frequentou a Academia de San Fernando de Madrid.
Participou em exposições em Portugal e no estrangeiro, nas exposições da
FIDEM em Florença 1983, Colorado Spring 1987, Helsínquia 1990, Londres
1992 e Neuchâtel 1996. Esteve representada na exposição "A Medalha
Portuguesa no Século XX", na Bélgica 1991. Desde 1993 está representada na
colecção de medalhas do British Museum. Menção honrosa no concurso
público para a medalha comemorativa dos 25 anos do Totobola. Foi autora da
Medalha dos seis anos da Petrogal, ganha em concurso, e da medalha do
bicentenário do Ministério das Finanças. Fez parte da equipa do Programa
Numismático de moedas comemorativas dos Descobrimentos Portugueses.
58
Apontamentos: Escudo
Lisboa ‟94 Capital Europeia da Cultura
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa a Lisboa ’94 Capital Europeia da Cultura, a qual
foi publicada em decreto-lei 129/94 de 19 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro
Eduardo Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Lisboa foi em 1994 Capital Europeia da Cultura. Tal designação resultou da resolução do
Conselho de ministros da Cultura da Comunidade Europeia e envolvia dois objectivos: a
aproximação dos povos europeus através de traços culturais comuns e a afirmação e
divulgação da cultura do país e da cidade designada.
Nesse âmbito, decorreram em Lisboa, durante 1994,
inúmeras actividades de índole cultural, todas sob o tema:
Lisboa ponto de encontro de culturas. Desta forma, Lisboa
procurou contribuir para a unidade cultural europeia através
de um património espiritual comum aos povos europeus.
Considerou-se, assim, oportuno assinalar tal evento pela
emissão de uma moeda comemorativa.
Esta emissão teve por base as moedas de 200$00 bimetálicas correntes, sendo produzida uma
emissão especial da autoria da dupla Isabel Carriço e Fernando Branco. Foram ainda
produzidas espécimes proof bimetálicos idênticos à moeda corrente. Na face comemorativa foi
colocada a representação da Torre de Belém de perfil e elementos figurativos do rio Tejo.
Capital Europeia da Cultura
A Capital Europeia da Cultura é uma iniciativa da União Europeia que tem por objectivo a
promoção de uma cidade da Europa, por um período de um ano durante o qual a cidade possui
a hipótese de mostrar à Europa sua vida e desenvolvimento cultural, permitindo um melhor
conhecimento mútuo entre os cidadãos da União Europeia.
Esta iniciativa começou em 1985 sob iniciativa da ministra grega
Melina Mercouri, com o nome de Cidade Europeia da Cultura. Apenas
uma cidade era nomeada por ano, sendo a responsabilidade da
organização do evento do Estado-membro ao qual pertencia essa
cidade e sucediam-se por ordem alfabética dos países.
Em 1990, a o Conselho de Ministros decidiu alargar a iniciativa a
outros países da Europa não pertencentes à União Europeia. Esta
norma teria início apenas em 1996, ano em que terminava um ciclo
completo e era limitada a países que segundo a Comunidade
Europeia, respeitassem os princípios da democracia, do pluralismo e do estado de Direito.
59
Apontamentos: Escudo
Segundo as novas regras era sugerido que fosse feita a alternância entre países membros e
outros países, assim como se propunha a alternância entre capitais e cidades de província. Em
25 de Maio de 1999, o Conselho de Ministros e o Parlamento, decidem mudar o nome de
Cidade Europeia da Cultura para Capital Europeia da Cultura.
A data a nível lisboeta foi marcada por um grande programa cultural, tendo a cidade ficado
melhor com a recuperação de vários edifícios, como o Coliseu bem como a construção do
Centro Cultural de Belém.
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Cândido (anverso); Isabel Carriço e Fernando
Branco
Decreto: 129/94 de 19/05/1994
Ano
1994
Cunhagem
1 000 000
Código
112.01
5.ª Série Descobrimentos: Dividindo
Mares e Terra
A legislação associada à emissão da 5.ª Série Comemorativa dos Descobrimentos, a qual foi publicada em
decreto-lei 157/94 de 3 de Junho durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo Catroga. Mário
Soares era o Presidente da República.
No âmbito do plano da Comissão Nacional para as Comemorações
dos Descobrimentos Portugueses, o ano de 1994 foi dedicado às
celebrações do 6º Centenário do nascimento do Infante D.
Henrique e do Tratado de Tordesilhas, entre as coroas castelhana
e portuguesa. O Infante, como figura ímpar da história da
humanidade e grande impulsionador das viagens de exploração
marítima da primeira metade do século XV teve no seu sobrinhoneto o rei D. João II um notável continuador da sua obra e
principal responsável pelo incremento dos Descobrimentos
60
Apontamentos: Escudo
Portugueses do último quartel do século XV.
A descoberta do novo mundo americano, em 1492, levou à celebração de um tratado de
partilha do Atlântico e dos mundos ultramarinos entre Portugal e Espanha, assinado pelos reis
Isabel e Fernando na vila de Tordesilhas, a 7 de Junho de 1494, e ratificado pelo rei D. João II
na cidade de Setúbal, a 5 de Setembro do mesmo ano. O tratado de Tordesilhas constitui um
dos mais importantes diplomas das relações políticas internacionais de Portugal e um dos
acontecimentos de maior repercussão na história do mundo moderno.
Considerou-se, assim, oportuno assinalar o 6.º Centenário do nascimento do Infante D.
Henrique e o 5.º Centenário da Assinatura do Tratado de Tordesilhas com a emissão de uma
série de moedas comemorativas dessas efemérides, em continuação do programa monetário e
numismático alusivo aos Descobrimentos Portugueses iniciado em 1987.
A série cunhada em cuproníquel com valor de 200$00, teve autoria dos seguintes escultores:
Raul Machado (Infante D. Henrique), Isabel Carriço e Fernando Branco (Tratado de
Tordesilhas), António Marinho (Partilha do Mundo) e Eloisa Byrne (D. João II). Tal como nas
edições anteriores foram ainda produzidas emissões especiais
luxuosas, incluíndo a emissão prestigío com quatro moedas em
quatro metais, assim como, as emissões de prata e ouro proof.
Na figuração das moedas para além da representação das figuras
homenageadas: D. João II, Infante D. Henrique e Reis Católicos
(moeda do Tratado de Tordesilhas), surgem representadas vários
navios das descobertas: barca e caravela de dois mastros (Infante
D. Henrique), caravela de três mastros (Tratado de Tordesilhase D.
João II), nau portuguesa (Partilha do Mundo).
O Tratado de Tordesilhas e a Partilha do Mundo
O Tratado de Tordesilhas, assinado na vila castelhana de Tordesilhas em 7 de Junho de 1494,
foi um tratado celebrado entre o Reino de Portugal e o recém-formado Reino da Espanha para
dividir as terras “descobertas e por descobrir” por ambas as Coroas fora da Europa. Este
tratado surgiu na sequência da contestação portuguesa às pretensões da Coroa espanhola
resultantes da viagem de Cristóvão Colombo, que ano e meio antes chegara ao chamado Novo
Mundo, reclamando-o oficialmente para Isabel a Católica.
O tratado definia como linha de demarcação o meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo
Antão no arquipélago de Cabo Verde. Esta linha estava situada a meio-caminho entre estas
ilhas (então portuguesas) e as ilhas das Caraíbas descobertas por
Colombo, no tratado referidas como “Cipango” e Antília. Os territórios
a leste deste meridiano pertenceriam a Portugal e os territórios a
oeste, à Espanha. O tratado foi ratificado pela Espanha a 2 de Julho e
por Portugal a 5 de Setembro de 1494.
Algumas décadas mais tarde, na sequência da chamada “questão das
Molucas”, o outro lado da Terra seria dividido, assumindo como linha
de demarcação, a leste, o antimeridiano correspondente ao meridiano
61
Apontamentos: Escudo
de Tordesilhas, pelo Tratado de Saragoça, a 22 de Abril de 1529. No contexto das Relações
Internacionais, a sua assinatura ocorreu num momento de transição entre a hegemonia do
Papado, poder até então universalista, e a afirmação do poder singular e secular dos monarcas
nacionais – uma das muitas facetas da transição da Idade Média para a Idade Moderna.
Para as negociações do Tratado e a sua assinatura, D. João II designou como embaixador a sua
prima de Castela (filha de uma infanta portuguesa) D. Rui de Sousa.
O início da expansão marítima portuguesa, sob a égide do Infante D. Henrique, levou as
caravelas portuguesas pelo oceano Atlântico, rumo ao Sul, contornando a costa africana. Com
a descoberta da Costa da Mina, iniciou-se o comércio de marfim, ouro e escravos, levando a
aumentar a atenção de Castela, iniciando-se uma série de escaramuças no mar, envolvendo
embarcações de ambas as Coroas.
Portugal, buscando proteger o seu investimento, negociou com Castela o Tratado de Alcáçovas
(1479), obtendo em 1481, do Papa Sisto IV, a bula Æterni regis, que dividia as terras
descobertas e a descobrir por um paralelo na altura das Canárias,
dividindo o mundo em dois hemisférios: a norte, para a Coroa de
Castela; e a sul, para a Coroa de Portugal. Somando-se a duas outras
bulas anteriores de 1452 (Dum Diversas) e 1455 (Romanus Pontifex),
do Papa Nicolau V, Portugal e a Ordem de Cristo haviam recebido
todas as terras conquistadas e a conquistar ao sul do cabo Bojador e
da Gran Canária.
Preservavam-se, desse modo, os interesses de ambas as Coroas,
definindo-se, a partir de então, os dois ciclos da expansão: o
chamado ciclo oriental, pelo qual a Coroa portuguesa garantia o seu progresso para o sul e o
Oriente, contornando a costa africana (o chamado “périplo africano”); e o que se denominou
posteriormente de ciclo ocidental, pelo qual Castela se aventurou no oceano Atlântico, para
oeste.
Ciente da descoberta de Colombo, mediante as coordenadas geográficas fornecidas pelo
navegador, os cosmógrafos portugueses argumentaram que a descoberta, efectivamente, se
encontravam em terras portuguesas. Desse modo, a diplomacia castelhana apressou-se a
obter junto ao Papa Alexandre VI, castelhano, uma nova partição de terras. Assim, em 3 de
Maio de 1493, a Bula Inter Coetera estabelecia uma nova linha de marcação, um meridiano
que separaria as terras de Portugal e de Castela. O meridiano passava a cem léguas a oeste
das ilhas de Cabo Verde.
As novas terras descobertas, situadas a Oeste do meridiano a 100 léguas de Cabo Verde,
pertenceriam a Castela. As terras a leste pertenceriam a Portugal. A bula excluía todas as
terras conhecidas já sob controlo de um estado cristão. Os termos da bula não agradaram a D.
João II de Portugal, que julgava ter direitos adquiridos que a Bula vinha a ferir. Além disso os
seus termos causavam confusão, pois um meridiano vinha a anular o que um paralelo tinha
estabelecido.
62
Apontamentos: Escudo
Complementarmente, a execução prática da Bula era impossibilitada por sua imprecisão e pela
imperfeição dos meios científicos disponíveis à época para a fixação do meridiano escolhido.
Assim sendo, D. João II abriu negociações directas com os Reis Católicos, Fernando II de Aragão
e Isabel I de Castela, para mover a linha mais para oeste, argumentando que o meridiano em
questão se estendia por todo o globo, limitando assim as pretensões castelhanas na Ásia. D.
João II propôs, por uma missão diplomática aos reis católicos, estabelecer um paralelo das Ilhas
Canárias como substituto ao meridiano papal. Os castelhanos recusaram a proposta mas
prestaram-se a discutir o caso.
Assim, o novo Tratado estabelecia a divisão das áreas de influência dos países ibéricos,
cabendo a Portugal as terras “descobertas e por descobrir” situadas antes da linha imaginária
que demarcava 370 léguas (1 770 km) a oeste das ilhas de Cabo Verde, e à Espanha as terras
que ficassem além dessa linha. Como resultado das negociações, os termos do tratado foram
ratificados por Castela a 2 de Julho e, por Portugal, a 5 de Setembro do mesmo ano.
Contrariando a bula anterior de Alexandre VI, Inter Coetera (1493), que atribuía à Espanha a
posse das terras localizadas a partir de uma linha demarcada a 100 léguas de Cabo Verde, o
novo tratado foi aprovado pelo Papa Júlio II em 1506. Afirma Rodrigo Otávio em 1930 que o
Tratado teria “um efeito antes moral do que prático”. O meridiano foi fixado, mas persistiam
as dificuldades de execução de sua demarcação. Os cosmógrafos divergiam sobre as dimensões
da Terra, sobre o ponto de partida para a contagem das léguas e sobre a própria extensão das
léguas, que diferia entre os reinos de Castela e de Portugal. Já se afirmou ainda que os
castelhanos cederam porque esperavam, por meio de sua política de casamentos, estabelecer
algum dia a união ibérica, incorporando Portugal. O que é mais provável é que os negociadores
portugueses, na expressão de Frei Bartolomé de las Casas, tenham tido “mais perícia e mais
experiência” do que os castelhanos.
Em princípio, o tratado resolvia os conflitos que seguiram à descoberta do Novo Mundo por
Cristóvão Colombo. Muito pouco se sabia das novas terras, que passaram a ser exploradas por
Castela. De imediato, o tratado garantia a Portugal o domínio das águas do Atlântico Sul,
essencial para a manobra náutica então conhecida como volta do mar, empregada para evitar
as correntes marítimas que empurravam para o norte as embarcações que navegassem junto à
costa sudoeste africana, e permitindo a ultrapassagem do cabo da Boa Esperança. Nos anos
que se seguiram Portugal prosseguiu no seu projecto de alcançar a Índia, o que foi finalmente
alcançado pela frota de Vasco da Gama, na sua primeira viagem de 1497-1499.
Com a expedição de Pedro Álvares Cabral à Índia, a costa do Brasil foi oficialmente atingida
(Abril de 1500) pelos Portugueses, o que séculos mais tarde viria a abrir uma polémica
historiográfica acerca do “acaso” ou da “intencionalidade” da descoberta. Observe-se que uma
das testemunhas que assinaram o Tratado de Tordesilhas, por Portugal, foi Duarte Pacheco
Pereira, um dos nomes ligados a um suposto descobrimento do Brasil pré-Cabralino. Com o
retorno financeiro da exploração americana (o ouro castelhano e o pau-brasil português),
outras potências marítimas europeias (França, Inglaterra, Países Baixos) passaram a
questionar a exclusividade da partilha do mundo entre as nações ibéricas. Esse
questionamento foi muito apropriadamente expresso por Francisco I de França, que
63
Apontamentos: Escudo
ironicamente pediu para ver a cláusula no testamento de Adão que legitimava essa divisão de
terras.
Por essa razão, desde cedo apareceram na costa do Brasil embarcações que promoviam o
comércio clandestino, estabelecendo contacto com os indígenas e aliando-se a eles contra os
portugueses. Floresceram o corso, a pirataria e o contrabando, pois os armadores de Honfleur,
Ruão e La Rochelle, em busca de pau-brasil fundavam feitorias e saqueavam naus. O mais
célebre foi um armador de Dieppe, Jean Ango ou Angot. Posteriormente, durante a Dinastia
Filipina (União Ibérica), os portugueses se expandiram de tal forma na América do Sul que, em
1680, visando o comércio com a bacia do rio da Prata e a região andina, fundaram um
estabelecimento na margem esquerda do rio da Prata, em frente a Buenos Aires: a Colónia do
Sacramento. A fixação portuguesa em território oficialmente espanhol gerou um longo período
de conflitos armados, conduzindo à negociação do Tratado de Madrid (1750).
Inicialmente o meridiano de Tordesilhas não contornava o globo terrestre. Assim, Espanha e
Portugal podiam conquistar quaisquer novas terras que fossem os primeiros europeus a
descobrir: Espanha para Oeste do meridiano de Tordesilhas e Portugal para Este desta linha,
mesmo encontrando-se no outro lado do globo. Mas a descoberta pelos portugueses em 1512
das valiosas “ilhas das Especiarias”, as Molucas desencadeou a contestação espanhola,
argumentando que o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo em dois hemisférios equivalentes.
Em 1520, as ilhas Molucas, valorizadas como o “berço de todas as especiarias”, foram visitadas
por Fernão de Magalhães, navegador português ao serviço da Coroa Espanhola. Concluída essa
que foi a primeira viagem de circum-navegação (1519-1521), uma nova disputa entre as
nações ibéricas se estabeleceu, envolvendo a demarcação do meridiano pelo outro lado do
planeta e a posse das ilhas Molucas (actual Indonésia). Alegando que se encontravam na sua
zona de demarcação conforme o meridiano de Tordesilhas, os espanhóis ocuparam
militarmente as ilhas, abrindo quase uma década de escaramuças pela sua posse com a Coroa
Portuguesa.
D. João III de Portugal e o imperador Carlos I de Espanha acordaram então não enviar mais
ninguém buscar cravo ou outras especiarias às Molucas enquanto não se esclarecesse em que
hemisfério se encontrava. Para a realização dos cálculos da posição, cada Coroa nomeou três
astrónomos, três pilotos e três matemáticos, que se reuniram entre Badajoz e Elvas. Estes
profissionais, entretanto, não chegaram a acordo, uma vez que, devido à insuficiência dos
meios da época no tocante ao cálculo da longitude, cada grupo atribuía as ilhas aos respectivos
soberanos. O Tratado de Tordesilhas serviu então como base para as negociações da Junta de
Badajoz-Elvas (1524). Para solucionar esta nova disputa, celebrou-se o Tratado de Saragoça a
22 de Abril de 1529. Este definiu a continuação do meridiano de Tordesilhas no hemisfério
oposto, a 297,5 léguas do leste das ilhas Molucas, cedidas pela Espanha mediante o
pagamento, por Portugal, de 350 000 ducados de ouro.
Ressalvava-se que em todo o seu tempo se o imperador ou sucessores quisessem restituir
aquela avultada quantia, ficaria desfeita a venda e cada um “ficará com o direito e a acção que
agora tem”. Tal nunca sucedeu, entre outras razões, porque o imperador necessitava do
dinheiro português para financiar a luta contra Francisco I de França e a Liga de Cognac, que o
suportava.
64
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 157/94 de 03/06/1994
Ano
1994
Cunhagem
750 000
Código
113.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 157/94 de 03/06/1994
Ano
1994
Cunhagem
750 000
Código
114.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 157/94 de 03/06/1994
Ano
1994
Cunhagem
750 000
Código
115.01
65
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloise Byrne
Decreto: 157/94 de 03/06/1994
Ano
1995
Cunhagem
750 000
Código
126.01
Tratado de Tordesilhas
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do Tratado de Tordesilhas, a qual foi publicada em
decreto-lei 158/94 de 3 de Junho durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo Catroga. Mário
Soares era o Presidente da República.
O Tratado de Tordesilhas, cujo texto foi acordado em Tordesilhas, a 7 de Junho de 1494, e
ratificado por D. João II, em Setúbal, a 5 de Setembro do mesmo ano, é um dos documentos
mais significativos na história das relações de Portugal com outras potências e, ao expressar e
garantir o exclusivo da influência portuguesa numa vastíssima parte do mundo, constituiu o
culminar do processo dos Descobrimentos Portugueses iniciado pelo Infante D. Henrique.
Comemorando-se, em 1994, o 5º Centenário do Tratado de Tordesilhas, julgou-se da maior
oportunidade assinalar essa efeméride pela emissão de uma moeda comemorativa cunhada
em metal precioso (prata) e com elevado valor facial (1000$00).
A moeda de autoria de
Nogueira
da
Silva
apresentava
uma
representação
do
planisfério
anónimos
português
de
1502,
conhecido por Cantino,
cujas pontas enrolavam
um padrão português (à
direita) e uma cruz
66
Apontamentos: Escudo
flodelizada espanhola (à esquerda) interceptando o continente sul-americano.
Foi ainda emitida em conjunto com Cabo Verde emissão especial com duas moedas (uma de
cada país) alusiva a este tema. Curiosamente ambas foram produzidas na INCM.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Nogueira da Silva
Decreto: 158/94 de 03/06/1994
Ano
1994
Cunhagem
570 000
Código
116.01
Vítor Nogueira da Silva
Natural de Lisboa. Licenciado em Artes Plásticas em Escultura pela Faculdade
de Belas Artes de Lisboa. Paralelamente à actividade de escultor é professor
de Educação Visual em Lisboa. Tem atelier em Carnide. Ao nível da
numismática destacam-se as moedas dedicadas ao Tratado de Tordesilhas e a
D. João II ambas de 1000 escudos, Jogos Olímpicos de Sidney e a moeda
relativa à Sé do Porto (10 euros).
67
Apontamentos: Escudo
2.ª Série Iberoamericana: Animais em
vias de Extinção - O Lobo
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do Lobo (2.ª Série Iberoamericana), a qual foi
publicada em decreto-lei 266/94 de 26 de Outubro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro
Eduardo Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
A preservação do meio ambiente e da diversidade biológica do planeta é algo de fundamental
para o futuro da Humanidade. No sentido de sensibilizar a comunidade para esse problema,
julgou-se da maior importância a participação de Portugal numa série internacional de moedas
comemorativas, em conjunto com vários países do continente americano e a Espanha, alusiva
às “Espécies em via de extinção” com o tema Lobo Ibérico. Nesta segunda série participaram
para além de Portugal, Argentina, Colômbia (que não emitiu moeda comemorativa própria),
Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Nicarágua, Perú e Uruguai.
Esta moeda (de prata no valor de 1000$00) de autoria da dupla Isabel Carriço e Fernando
Branco merece ainda destaque, por ter sido a moeda da República que mais sentiu a influência
da subida do seu preço logo após o seu lançamento tornando-se numa das peças mais
procuradas desta colecção.
68
Apontamentos: Escudo
O Lobo ibérico
O lobo da Península Ibérica (Canis lupus signatus) é uma subespécie do Lobo -cinzento. A sua
população deve rondar entre 1600-1700 indivíduos. Destes, cerca de 170 habitam no nordeste
transmontano. Um pouco mais pequeno e esguio que as outras subespécies do lobo cinzento, o
lobo ibérico mede entre 130 a 180 cm de comprimento os machos, e 130 a 160 cm as fêmeas.
Os machos pesam geralmente entre 20 a 40 kg e no caso das fêmeas entre 20 a 35 kg. A
pelagem é de coloração acizentada e mesclada de negro, particularmente sobre o dorso. A
alimentação é muito variada, dependendo da existência ou não de presas selvagens e de vários
tipos de pastoreiro em cada região. As suas principais presas são o javali, o corço e o veado, e
as presas domésticas mais comuns são a ovelha, a cabra, a
galinha, o cavalo e a vaca. Ocasionalmente também mata e
come cães e aproveita cadáveres que encontra, isto é,
sempre que pode é necrófago.
Espécie que vive em alcateias formadas por 3 a 8 indivíduos,
devidamente hierarquizados. Existe um par dominante (par
alfa). Os locais habitados por lobos caracterizam-se por baixa
pressão humana, embora com elevada taxa de actividade
pecuária e uma topografia acidentada. De actividade
essencialmente nocturna, podem percorrer num só dia cerca de 20 a 40 km à procura de
presas: mamíferos de médio e grande porte.
Na Península Ibérica, a área de distribuição deste predador restringe-se ao quadrante noroeste
da península, estando classificado como Espécie Vulnerável em Espanha e como Espécie Em
Perigo, em Portugal.
Geralmente acasalam para toda a vida e, usualmente, apenas o par alfa se reproduz. Atingem
a maturidade sexual por volta dos 2-3 anos de idade. Apenas se reproduzem uma vez por ano –
fim do Inverno ou início da Primavera (Janeiro a Março) – altura em que ocorre o
acasalamento. Os nascimentos dão-se, em geral, durante o mês de Maio ou Junho. As ninhadas
têm geralmente 3 a 8 lobitos nascendo com os olhos fechados e necessitando de cuidados
parentais. Em finais de Outubro saem dos locais de criação e iniciam a sua aprendizagem de
caça.
As causas do declínio do lobo são a sua perseguição directa e o extermínio das suas presas
selvagens. O declínio é actualmente agravado pela fragmentação e da destruição do habitat e
pelo aumento do número de cães vadios/assilvestrados.
69
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 266/94 de 26/10/1994
Ano
1994
Cunhagem
70 000
Código
117.01
50º Aniversário da ONU e da FAO
A legislação associada à emissão das moedas comemorativas do 50º Aniversário da ONU e da FAO a qual foi
publicada em decreto-lei 123/95 de 31 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo
Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Comemorando-se em 1995 o cinquentenário da criação da ONU (Organização das Nações
Unidas) como fórum internacional e universal destinado a manter a paz e a segurança
mundiais e da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) como
serviço humanitário contra a fome e a subnutrição, dedicado ao desenvolvimento agrícola e à
distribuição mundial de alimentos, considerou-se oportuno assinalar estas duas efemérides
pela emissão de duas moedas comemorativas.
Esta emissão com duas moedas bimetálicas, uma de 100$00 relativa à FAO e outra de 200$00
relativa à ONU, teve por bases técnicas as moedas circulantes destes valores. Ambas as
moedas tiveram autoria de João Duarte partilhando o anverso com a moeda circulante. Na
moeda da FAO surgia no reverso o emblema da FAO, enquanto na de 200$00 surgia a gravura
do logótipo das Nações Unidas e o número “50” estilizado à sua direita. Este conjunto era
rodeado por um ladrilho de peças, que representavam alegoricamente as nações fundadoras.
Estas moedas foram ainda emitidas com acabamentos BNC e proof.
FAO
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO, sigla de Food and
Agriculture Organization) é uma organização das Nações Unidas cujo objectivo declarado é
elevar os níveis de nutrição e de desenvolvimento rural. Para isso, realiza programas de
70
Apontamentos: Escudo
melhoria da eficiência na produção, elaboração, comercialização e distribuição de alimentos e
produtos agro-pecuários de quintas, bosques e pescas. Também é missão deste organismo
preparar as nações em desenvolvimento para fazer frente a situações de emergência
alimentar. Em certos casos, também presta socorro a populações famintas.
Promove investimentos na agricultura, o aperfeiçoamento da produção agrícola e da criação
de gado e a transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento. Também fomenta a
conservação dos recursos naturais, estimulando o desenvolvimento da pesca, piscicultura e as
fontes de energia renováveis.
De acordo com a própria FAO, suas principais actividades são: desenvolver assistência para
países subdesenvolvidos; informação sobre nutrição, comida,
agricultura, florestamento e pesca; aconselhamento a governos; servir
como um fórum neutro para discutir e formular políticas nos principais
assuntos relacionados a agricultura e alimentação.
A FAO foi fundada a 16 de Outubro de 1945, no Quebeque (Canadá).
Desde 1951, sua sede encontra-se em Roma (Itália). Em 2000, tinha
181 membros (180 países e a União Europeia).
ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações Unidas (NU), é uma
organização internacional cujo objectivo declarado é facilitar a cooperação em matéria de
direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento económico, progresso social,
direitos humanos e a realização da paz mundial. A ONU foi fundada em 1945 após a Segunda
Guerra Mundial para substituir a Liga das Nações, com o objectivo de deter guerras entre
países e para fornecer uma plataforma para o diálogo. Ela contém várias organizações
subsidiárias para realizar suas missões.
Existem actualmente 193 estados-membros, incluindo quase todos os estados soberanos do
mundo. De seus escritórios em todo o mundo, a ONU e suas agências especializadas decidem
sobre questões de substância e administrativas em reuniões regulares ao longo do ano. A
organização está dividida em instâncias administrativas,
principalmente: a Assembleia Geral (assembleia deliberativa
principal); o Conselho de Segurança (para decidir
determinadas resoluções de paz e segurança); o Conselho
Económico e Social (para auxiliar na promoção da cooperação
económica e social internacional e desenvolvimento); o
Secretariado (para fornecimento de estudos, informações e
facilidades necessárias para a ONU), o Tribunal Internacional de Justiça (o órgão judicial
principal). Além de órgãos complementares de todas as outras agências do Sistema das Nações
Unidas, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Alimentar Mundial (FAO) e
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A figura mais visível da ONU é o
Secretário-Geral, cargo ocupado desde 2007 por Ban Ki-moon, da Coreia do Sul. A organização
é financiada por contribuições voluntárias dos seus Estados membros, e tem seis idiomas
oficiais: Árabe, Chinês, Inglês, Francês, Russo e Espanhol.
71
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 8,3 g
Diâmetro: 25 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos (dez) e serrilhados(doze)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Cândido (anverso); João Duarte (reverso)
Decreto: 123/95 de 31/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
500 000
Código
118.01
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Cândido (anverso); João Duarte (reverso)
Decreto: 123/95 de 31/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
500 000
Código
121.01
João Duarte
Natural de Lisboa (1952). Licenciou-se na Escola Superior de Belas-Artes de
Lisboa em Artes Plásticas – Escultura em 1978. Actualmente, é Professor
Associado com Agregação de Escultura e Medalhística na Faculdade de BelasArtes de Lisboa e Director da Secção de Investigação e de Estudos Volte Face –
Medalha Contemporânea. No campo da medalha contemporânea, deu provas
do seu grande talento e criatividade, elaborando medalhas em ruptura com
conceitos medalhísticos do passado, tratando ironicamente e até rejeitando
as características da medalha tradicional e projectando-as num grande leque
de materiais e formas.de Lisboa.
72
Apontamentos: Escudo
Centenários de D. António Prior do
Crato e da Autonomia dos Açores
A legislação associada à emissão das moedas comemorativas do 4º Centenário do falecimento do D. António
prior do Crato e do 1º Centenário da Autonomia dos Distritos dos Açores a qual foi publicada em decreto-lei
122/95 de 31 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo Catroga. Mário Soares era
o Presidente da República.
Em 1995 comemorou-se o 4.º Centenário da morte de D. António, prior do Crato, aclamado e
reconhecido nos Açores como rei de Portugal durante dois anos da sua resistência aos
invasores espanhóis e o 1.º Centenário do Decreto de 2 de Março de 1895, o qual instituiu pela
primeira vez a autonomia dos distritos dos Açores, julgou-se oportuno a cunhagem de duas
moedas comemorativas que assinalaram aquelas duas efemérides e promovam o
conhecimento público da sua importância para a história de Portugal e em particular, da
Região Autónoma dos Açores.
A moeda relativa a D. António prior do Crato, foi cunhada em cuproníquel com o valor de
100$00 com desenho de autoria de Alípio Pinto. A moeda com várias representações
simbólicas surgindo no anverso à esquerda um açor à direita e à esquerda uma composição de
cruzes gravadas nas moedas cunhadas em nome de D. António nos Açores (cruz da Ordem
Militar de Aviz e Cruz da Ordem Militar de Cristo, Cruz de Santiago e cruz do Monte Calvário).
No reverso surgia o busto de D. António a três quartos à direita com a cabeça descoberta e
barba, envergando armadura com gola encanudada. A moeda relativa ao centenário da
autonomia açoriana teve autoria de Álvaro França
D. António, prior do Crato
D. António I (Lisboa, 1531 – Paris, 26 de Agosto de 1595), mais conhecido pelo cognome de o
Prior do Crato (e, mais raramente, como o Determinado, o Lutador ou o Independentista, pela
ênfase posta na manutenção da independência de Portugal). Era filho do Infante D. Luís e neto
de D. Manuel I, e de Violante Gomes, de alcunha a Pelicana,
membro da pequena nobreza por quem o infante D. Luís se deixara
fascinar e com quem casara em segredo. Foi pretendente ao trono
durante a crise sucessória de 1580 e, segundo alguns historiadores,
rei de Portugal (durante um breve espaço de tempo em 1580, no
continente, e desde então até 1583, confinado aos Açores). Não
consta geralmente na lista de reis de Portugal, contudo é
historicamente correcto incluí-lo, pois não foi só aclamado rei, como
reinou de facto, durante um curto período de tempo.
73
Apontamentos: Escudo
Em virtude de ser conhecido como um bastardo e filho de cristã-nova, embora tal não fosse
verdade, que a sua pretensão ao trono foi considerada inválida;
para além disso, o seu pai fora também Prior da Ordem do Crato (o
que o impedia de contrair matrimónio válido sem que antes
obtivesse dispensa papal). António foi discípulo de Frei Bartolomeu
dos Mártires em Coimbra e entrou para a Ordem dos Hospitalários,
cujo prior era o seu pai. Em 1571 foi governador da praça de Tânger
e em 1578 acompanhou o rei D. Sebastião na campanha em
Marrocos. Feito prisioneiro na batalha de Alcácer-Quibir, e conta-se
que conseguiu a libertação com recurso à astúcia: Quando lhe
perguntaram o significado da cruz de S. João que usava, respondeu
que era o sinal de uma pequena mercê que tinha obtido do papa, e
que a perderia se não voltasse até 1 de Janeiro. O seu captor,
pensando que se tratava de um homem pobre, permitiu a sua
libertação em troca de um pequeno resgate.
Quando regressou a Portugal em 1578, D. António reclamou o trono. Essa pretensão que
acabou por lhe ser negada por não ser reconhecido como filho
legítimo, acabando por ser aclamado o seu tio D. Henrique. A 23 de
Novembro de 1579, uma carta régia retira a D. António a
nacionalidade portuguesa; os seus bens são confiscados e é expulso do
reino. Era conhecida a antipatia do cardeal que foi encarregado em
Évora da sua educação e se empenhou para que este seguisse a vida
eclesiástica.
Em Janeiro de 1580, estando reunidas as Cortes em Almeirim, nas
quais se esperava designar um herdeiro para o trono português, faleceu o velho cardeal D.
Henrique. Uma Junta Governativa, constituída por cinco governadores, assumiu a regência do
reino. O trono português era então disputado por diversos pretendentes. Entre eles,
destacavam-se a duquesa de Bragança, D. Catarina, Filipe II de Espanha, e o próprio Prior do
Crato. O mais legítimo herdeiro seria a duquesa, mesmo sendo mulher, já que descendia de D.
Manuel por via masculina; Filipe II, por seu turno, era um estrangeiro e descendente de D.
Manuel por via feminina; quanto a D. António, embora fosse também neto por via masculina
pesava sobre ele a suposta bastardia.
Filipe, no entanto, conseguiu subornar os grandes do reino com o ouro vindo das Américas, e a
coroa começou a pender favoravelmente para o seu lado. Para estes, a ideia de uma união
pessoal com a Espanha seria altamente proveitosa para Portugal, que estava a passar um mau
momento económico. D. António procurou, pois, seduzir o povo para a sua causa, à
semelhança da situação vivida durante a crise de 1383-1385.
A 24 de Julho de 1580, durante a preparação para a esperada invasão espanhola, D. António
foi aclamado rei de Portugal pelo povo, no castelo de Santarém. D. António pedira ao povo que
o aclamasse apenas regedor e defensor do reino. No entanto, um mês mais tarde, a 25 de
Agosto, as suas forças foram derrotadas na batalha de Alcântara, pelas do duque de Alba.
Tendo sobrevivido ao combate, dirigiu-se à ilha Terceira, que havia tomado o seu partido, de
74
Apontamentos: Escudo
onde continuou a governar. Era reconhecido apenas localmente, uma vez que, em Portugal
Continental e na Madeira, o poder passou a ser exercido por Filipe II de Espanha, reconhecido
oficialmente no ano seguinte, pelas Cortes de Tomar de 1581, como D. Filipe I. Iniciava-se, na
História de Portugal, a Dinastia Filipina.
D. António desembarcou na vila de São Sebastião, ao invés do porto de Angra, tendo marchado
por terra até aos portões de São Bento nesta cidade. Ali era esperado por Ciprião de
Figueiredo, pelo conde de Torres Vedras, por Manuel Silva e outras personalidades locais. À sua
chegada, as fortificações de Angra salvaram, o mesmo tendo feito as guarnições, com seus
mosquetes e arcabuzes. Ficou hospedado no Convento de São Francisco e, posteriormente, no
palácio do marquês de Castelo Rodrigo.
De imediato determinou reforçar as defesas de Angra, face à iminência de um ataque espanhol
e à acção dos corsários, tendo contado para tal com o irrestrito apoio de Dona Violante do
Canto, inclusive financeiro. Ainda com relação às finanças, cunhou moeda – um acto típico de
soberania e realeza. Por essas razões, muitos autores não hesitam em considerá-lo o
derradeiro príncipe da Casa de Avis, ao invés do Cardeal D. Henrique e, com toda a justiça, o
décimo oitavo rei de Portugal.
Em Julho de 1580, D. António ainda escreveu à rainha de França, Catarina de Médici, uma
carta pedindo auxílio. Finalmente, em 1581, regista-se a primeira tentativa de desembarque de
tropas espanholas, ferindo-se a batalha da Salga, onde os Espanhóis foram completamente
derrotados. Participaram neste combate os escritores Cervantes e Lope de Vega. Finalmente,
em 1583, forças espanholas muito superiores, sob o comando de D. Álvaro de Bazán (vencedor
da batalha de Lepanto), logram dominar a ilha, após violentos combates. Após a derrota de
suas forças nos Açores, D. António exilou-se em França – inimigo tradicional dos Habsburgos de
Espanha.
Depois de alguns meses, onde andou escondido em casas de amigos e em mosteiros, D.
António viajou até à Inglaterra, congregando também o auxílio da rainha Isabel I, que se
tornara também inimiga da Espanha. O auxílio seria prestado ao longo de vários anos, como
durante os planos de D. António em tomar Lisboa a Julho de 1589, a troco de facilidades no
Brasil e Açores, e ajuda na luta contra a casa da Áustria.
Porém, a armada inglesa, comandada pelo famoso almirante Francis Drake foi atacada de
peste e retirou-se. D. António, desembarcado em Peniche e já a caminho de Lisboa, que
contava com o apoio popular, viu assim fracassada a sua tentativa de tomar a cidade, bem
guarnecida pelos espanhóis. O povo, com medo e desinteressado, não reagiu, e D. António
seria obrigado a partir novamente para o exílio. Há notícia também de uma tentativa de
desembarque ao largo do Cabo de São Vicente, que viria a fracassar.
D. António acabou por perder os meios económicos. Os diamantes que trouxera do reino para o
exílio foram sendo gastos gradualmente. O último e o melhor foi adquirido por M. de Sancy, de
quem foi comprado por Sully e mais tarde incluído nas jóias da coroa inglesa. Nos seus últimos
dias viveu com uma pequena pensão oferecida por Henrique IV da França.
75
Apontamentos: Escudo
D. António, prior do Crato, morreu em Paris, em 1595. Para além dos documentos que publicou
para defender a sua causa, D. António foi o autor do Panegyrus Alphonsi Lusitanorum Regis
(Coimbra, 1550), e de um cento dos Salmos, Psalmi Confessionales (Paris, 1592). Esta obra foi
traduzida para a língua inglesa com o título The Royal Penitent by Francis Chamberleyn
(Londres, 1659), e para a língua alemã com o título Heilige Betrachtungen (Marburg, 1677).
Autonomia dos Açores
O Decreto de 2 de Março de 1895, publicado no Diário do Governo, n.º 50, de 4 de Março de
1895, foi o diploma legal que estabeleceu a possibilidade dos distritos do arquipélago dos
Açores requererem, por maioria de dois terços dos cidadãos elegíveis para os cargos
administrativos, a aplicação de um regime de autonomia administrativa. O regime baseava-se
na existência de uma Junta Geral, semelhante àquelas que tinham existido até 1892, e num
conjunto de receitas fiscais próprias que podiam ser livremente administradas por aquela
Junta.
O Decreto, aprovado na sequência de uma intensa campanha autonómica e independentista,
centrada na ilha de São Miguel, a Primeira Campanha Autonómica, apesar de ser da autoria de
João Franco, foi inspirado por Aristides Moreira da Mota e Gil Mont'Alverne de Sequeira,
considerados os fundadores da primeira autonomia açoriana. Aprovado em ditadura, foi
ratificado pelas Cortes pela Carta de Lei de 14 de Fevereiro de 1896. Com poucas alterações,
este regime vigorou até ser revogado pelo Decreto n.º 15 035, de 16 de Fevereiro de 1928, já
em plena Ditadura Nacional. Nunca chegou a ser aplicado ao Distrito da Horta.
Ficha Técnica
Peso: 15 g
Diâmetro: 33 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Alípio Pinto
Decreto: 122/95 de 31/05/1995
Ano
1995
76
Cunhagem
500 000
Código
119.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 15 g
Diâmetro: 33 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Álvaro França
Decreto: 122/95 de 31/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
500 000
Código
120.01
Alípio Pinto
Natural de Freixo de Espada à Cinta (1951). Licenciou-se na Faculdade de
Belas-Artes de Lisboa em Artes Plásticas – Escultura em 1982. Actualmente, é
Professor Associado de Escultura e Medalhística na Faculdade de Belas-Artes
de Lisboa. Dedica-se ao ensino e à medalhística tendo já ganho vários prémios
e publicado vários estudos nesta temática. Reconhecido por criar medalhas
com novos elementos como o plástico e o uso de policromia, rompendo com
as tradições de medalhística, com novas técnicas as quais mistura com
sucesso com as tradicionais.
Álvaro França
Natural de Ponta Delgada (1940). Licenciou-se na Escola Superior de BelasArtes do Porto em Escultura em 1965. Trabalhou no Atelier do Mestre Barata
Feyo (1963-65). Autor de vários monumentos públicos, principalmente nos
Açores, sendo o autor da moeda comemorativa do centenário da sua
autonomia.
6.ª Série dos Descobrimentos: Na Rota
das Especiarias
A legislação associada à emissão da VI Série dos Descobrimentos Portugueses (Na Rota das Especiarias) a qual foi
publicada em decreto-lei 111/95 de 23 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo
Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Em continuação do programa monetário e numismático alusivo aos Descobrimentos
Portugueses, iniciado em 1987 no âmbito do plano de acções da Comissão Nacional dos
Descobrimentos Portugueses, a 6.ª série destas moedas comemorativas foi alusiva às
navegações e explorações marítimas nos mares de Java e de Banda, que conduziram à chegada
dos primeiros portugueses às ilhas Molucas (1512), às ilhas de Solor e Timor (1515) e às costas
da Austrália (1522-1525).
77
Apontamentos: Escudo
Após a conquista de Malaca em 1511 por D. Afonso de Albuquerque, as navegações
portuguesas dividiram-se em duas grandes rotas marítimas, a primeira em busca das famosas
ilhas das especiarias e a segunda visando o encontro com o Celeste Império. Em 1512, António
de Abreu e Francisco Serrão chegaram às Molucas, as ilhas produtoras das especiarias raras, e
três anos depois os Portugueses visitaram pela primeira vez as ilhas de Solor e de Timor, donde
provinha o melhor sândalo que aparecia nos mercados da Índia.
A Presença dos Portugueses nos mares da Insulíndia incrementou a busca da lendária ilha do
Ouro e da mítica Terra Australis da cartografia ptolemaica. Entre as expedições que estão hoje
suficientemente bem documentadas, as de Cristóvão de Mendonça, em 1522, e de Gomes
Sequeira, em 1525, deixaram evidentes registos cartográficos das suas visitas às costas do
Noroeste Australiano, 80 anos antes das primeiras expedições de outros povos europeus.
Considerou-se, assim, oportuno assinalar esses eventos dos Portugueses com a emissão de
uma série de moedas comemorativas alusivas à conquista de Malaca, às expedições marítimas
às ilhas Molucas, às ilhas de Solor e de Timor e ao continente australiano.
As moedas cunhadas em cuproníquel com o valor de 200$00 tiveram autoria de: Raul
Machado (Malaca e Afonso de Albuquerque), António Marinho (Chegada às Molucas), Eloisa
Byrne (Chegada a Solor e Timor) e Isabel Carriço e Fernando Branco (Descoberta da Austrália).
Foram ainda produzidas emissões especiais em prata e ouro, para além da emissão prestígio
(quatro moedas em quatro metais).
Os elementos marítimos são novamente uma constante: nau-capitânia de Afonso de
Albuquerque “Flor de la Mar”; nau portuguesa (Molucas); nau portuguesa quinhentista (Solor
e Timor); caravelas de vela redonda (Austrália). Surgem ainda elementos específicos a cada
tema: figura de Afonso de Albuquerque e porta da fortaleza de Malaca; representação da
planta do cravinho e da noz-moscada, bem como do arquipélago das Molucas; árvore do
sândalo e representação cartográfica das ilhas de Solor, Atauro e Timor rodeados por
elementos alegóricos representativos de mitos, tradições, usos e costumes do povo maubere
(cobra, símbolo das forças primordiais geradoras de vida; o búfalo, símbolo de riqueza; o
cavalo timorense; o crocodilo, símbolo da lenda da criação de Timor; diadema, insígnia de
chefia; régulo com as suas insígnias e panos tradicionais); contorno do mapa da Austrália.
Malaca
Malaca (em malaio, Melaka) é o terceiro menor estado da Malásia, após Perlis e Penang.
Encontra-se na porção meridional da Península Malaia, à beira do estreito de Malaca. Limita
com Negeri Sembilan ao norte e com Johor a leste. Sua capital
é a cidade de Malaca. Embora Malaca já tenha sido um dos
mais antigos sultanatos malaios, o estado actualmente não é
governado por um sultão e sim por um governador. Em 2008
foi declarada Património Mundial pela UNESCO. Da presença
portuguesa na cidade sobrevivem a Igreja de São Paulo e a
Porta de Santiago da Fortaleza de Malaca, conhecida como "A
Famosa".
78
Apontamentos: Escudo
Em Abril de 1511, Afonso de Albuquerque zarpou de Goa para Malaca com uma força de cerca
de 1 200 homens em 17 ou 18 navios. Malaca tornou-se uma base estratégica para a expansão
portuguesa nas Índias Orientais, subordinada ao Estado Português da Índia. Mahmud Xá,
último sultão de Malaca, refugiou-se no interior, de onde empreendia ataques intermitentes
por terra e mar. Para defender a cidade, os portugueses ergueram um forte. Em 1521 o
Capitão Duarte Coelho Pereira construiu a igreja de Nossa
Senhora do Monte. Em 1526, uma grande força de navios
portugueses comandada por Pedro Mascarenhas foi enviada
para destruir Bintan, onde estava Mahmud. O sultão fugiu
com sua família para Sumatra, do outro lado do estreito,
onde veio a falecer dois anos depois.
Logo ficou claro que o controlo português de Malaca não significava
o controlo do comércio asiático que por ali passava. Seu domínio
sobre o local sofria com dificuldades administrativas e económicas.
Em vez de concretizar sua ambição de controlar o comércio asiático,
o que os portugueses haviam logrado fora desorganizar a rede
mercantil da região. Desaparecera o porto centralizador do comércio
e, com ele, o Estado que policiava o estreito de Malaca. O comércio
espalhou-se por diversos portos.
O missionário jesuíta Francisco Xavier passou vários meses em
Malaca em 1545, 1546 e 1549. Em 1641, forças da Companhia
Holandesa das Índias Orientais bateram os portugueses e
capturaram Malaca com o apoio do sultão de Johore. Os holandeses
governaram Malaca de 1641 a 1795, mas não se interessaram em
desenvolvê-la como centro comercial, preferindo enfatizar o papel de Batávia (actual Jacarta).
Malaca foi cedida aos britânicos pelo tratado Anglo-holandês de 1824, em troca de Bencoolen,
em Sumatra. Entre 1826 e 1946, Malaca foi governada pela Companhia Britânica das Índias
Orientais e, em seguida, como uma colónia da Coroa. Integrava os chamados Straits
Settlements, juntamente com Singapura e Penang. Com a dissolução desta colónia, Malaca e
Penang tornaram-se parte da União Malaia (actual Malásia).
Molucas
As Ilhas Molucas (ou Malucas) são um arquipélago da Insulíndia que faz parte da Indonésia,
localizado entre Celebes (Sulawesi) e a Nova Guiné. É limitado a sul pelo Mar de Arafura, a
oeste pelos mares de Banda e das Molucas e a norte pelo Mar
das Filipinas e a noroeste pelo Mar de Celebes.
Nos séculos XVI e XVII, as ilhas correspondentes à actual
província das Molucas do Norte eram chamadas "Ilhas das
Especiarias". Àquela época, a região era a única fornecedora
mundial de noz-moscada e Cravo-da-índia, especiarias
extremamente valorizadas nos mercados europeus, vendidas
79
Apontamentos: Escudo
por mercadores árabes à República de Veneza a preços exorbitantes, com os negociantes a
nunca divulgarem a localização exacta da origem, pelo que nenhum europeu conseguia deduzir
a sua origem.
Em 1511-12, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar às Molucas, em procura das
afamadas especiarias. Os Holandeses, os espanhóis e reinos locais, como Ternate e Tidore,
disputaram o controlo do lucrativo comércio de especiarias. As árvores de noz-moscada e
cravo-da-Índia foram posteriormente transplantadas para o mundo inteiro, o que reduziu a
importância internacional da região. Em Novembro desse ano, ficando a saber a localização
das "ilhas das especiarias", enviou uma expedição de três navios comandados pelo seu amigo
de confiança António de Abreu para as encontrar. Pilotos malaios foram recrutados e
obrigados, guiando-os via Java, as Pequenas Ilhas de Sunda e da ilha de Ambão até às Ilhas
Banda, onde chegaram no início de 1512. Aí permaneceram, como primeiros europeus a chegar
às ilhas, durante cerca de um mês, comprando e enchendo os seus navios com noz-moscada e
cravinho. Abreu partiu então velejando por Ambão enquanto o seu
vice-com andante Francisco Serrão se adiantou para as ilhas Molucas
mas naufragou terminando em Ternate. Ocupados com hostilidades
noutros pontos do arquipélago, como Ambão e Ternate, só
regressariam em 1529.
A princípio, estas várias ilhas eram habitadas por australasianos. Com
a navegação e o comércio malaio na região, surgiu uma colonização
malaia. No século X chegaram os mercadores árabes, que
atravessavam o Oceano Índico em busca de especiarias. Com eles foi a
religião islâmica, que acabou tornando-se a principal na região. Chamavam as ilhas do extremo
oriente de Al Maluk. Pela extrema dificuldade em se atravessar metade da Terra, saindo de
Mascate ou de Áden, os comerciantes que faziam tais viagens eram apelidados de "malucos",
que acabou como sinónimo de "louco".
Mais tarde, quando os Otomanos
passaram a representar o Califado e as
nações islâmicas, os mercadores árabes
aumentaram muito seu mercado na
região, a ponto dos otomanos
estabelecerem guarnições nas ilhas
(embora, nominalmente, nunca tenham
pertencido de fato ao Império Otomano).
Para os europeus que acabavam de se
lançar ao mar, a produção de especiarias
das distantes ilhas era uma mina de ouro.
Os primeiros relatos europeus escritos sobre a região são da Suma Oriental, um livro escrito
pelo boticário (farmacêutico) português Tomé Pires estabelecido em Malaca entre 1512-15
mas que visitou Banda várias vezes. Na primeira visita contactou os portugueses e
principalmente os marinheiros malaios em Malaca, calculando então a população entre 25003000. Reportou os bandaneses como parte de uma rede de comércio abrangendo toda a
80
Apontamentos: Escudo
Indonésia e os únicos comerciantes de longo curso nativos das Molucas a transportar produtos
para Malaca, embora alguns carregamentos de Banda também fossem feitos por mercadores
javaneses.
Além da noz-moscada e macis, Banda mantinha também um significativo entreposto de
comércio. Entre os produtos que passavam por Banda estavam o cravinho de Ternate e Tidore,
a norte, penas de aves do paraíso das ilhas Aru e da Nova Guiné, entre outros. Logo após a
viagem de circum-navegação executada por Fernão de Magalhães, em 1519, comprovando a
esfericidade da Terra, tornou-se necessário a revisão dos tratados de demarcação que
dividiram as terras descobertas, no período das Grandes Navegações, entre Portugal e
Espanha. Inicialmente, admitia-se como ponto de referência as ilhas de Cabo Verde, a noroeste
do continente africano. Pela Bula Intercoetera, todas as terras a 100 léguas oeste dessas ilhas,
seriam de controlo espanhol, enquanto o lado leste caberia a Portugal. Logo após, o acordo foi
reformulado através do Tratado de Tordesilhas, que avançava a linha para 370 léguas oeste.
Porém, com a circum-navegação, tornava-se necessário a demarcação do limite no outro
extremo do globo. Esse limite foi imposto sobre as ilhas Molucas, usadas como referência. As
terras que estivessem a Leste pertenceriam a Espanha; as que estivessem a Oeste, a Portugal,
até ao mencionado no tratado. Porém, até ao início do século XVII, este tratado não obteve o
mínimo efeito na região, uma vez que esta ficava muito distante de Lisboa e suas colónias, mas
viável para os árabes e otomanos, que mantiveram o controlo económico, cultural e político
sobre as ilhas até a consolidação da colonização holandesa em toda a Indonésia. Durante a
Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano em sua aliança com o Império Alemão tentou
retomar as ilhas.
Solor e Timor
Solor é uma ilha vulcânica das Pequenas Ilhas de Sunda, na Indonésia.
Dá nome a um arquipélago, situado a leste da ilha das Flores,
constituído igualmente pelas ilhas de Adonara e Lomblen (ou Lembata).
Com cerca de 40 km de comprimento por 6 km de largura, tem cinco
vulcões. Forças portuguesas estabeleceram-se na ilha em 1520,
erguendo uma fortificação na aldeia costeira de Lamakera, no extremo
leste da ilha, para apoio à navegação entre as Molucas e Malaca. A
fortificação foi abandonada em meados do século XVII.
Timor é uma ilha da Insulíndia, politicamente repartida em duas
metades: o Timor Oeste (ou Nusa Tenggara Timur), que constitui
uma província da Indonésia, e Timor-Leste, outrora uma colónia
portuguesa, mais tarde ocupada e anexada pela Indonésia em
Novembro de 1975, e que se tornou independente em 2002. Em
Timor-Leste a língua portuguesa é falada por cerca de 5% da
população. A língua tétum predomina e é língua co-oficial, junto
com o português.
De acordo com fontes antropológicas, a ilha já se encontrava
habitada por um pequeno grupo de caçadores e agricultores por
81
Apontamentos: Escudo
volta de 12 000 a.C.. A abundância de madeira de sândalo, mel e cera de abelhas na ilha, atraiu
a atenção de comerciantes da China esporadicamente a partir do século VII.
Por volta do século XIV, os habitantes de Timor pagavam tributo ao reino de Java. O nome
Timor provém do nome dado pelos Malaios à Ilha onde está situado o país, Timur, que significa
Leste. A formação do comércio local esteve na origem de
casamentos com famílias reais locais, contribuindo para a
diversidade étnico-cultural.
O primeiro documento europeu conhecido que fala da ilha é
uma carta de Rui Brito Patalin a D. Manuel I, datada de 6 de
Janeiro de 1514, na qual são referidos navios que tinham
partido para Timor. Atraídos inicialmente pelos recursos
naturais, os portugueses trouxeram consigo missionários e a religião católica. Com a chegada
do primeiro governador, vindo de Portugal em 1702, deu-se início à organização colonial do
território, criando-se o Timor Português.
Lenda da Criação de Timor
Em tempos idos, lá para terras de Macaçar, um desolado crocodilo saiu do seu coito, com a
mira de se alimentar. Era Verão, pelo que os campos feneciam de aridez. Perto dum coilão,
onde o crocodilo vivia alapardado, ficava uma pequena e
humilde povoação. Para ali se dirigiu, indo colocar-se à
sombra duma grande e velha árvore, à coca dum rafeiro
vadio, dum porco, ou de qualquer cabrito descuidado.
Mas, por mais que se tivesse aproximado daquela desolada
povoação, nada conseguiu lograr. Regressou, pois,
amargurado e faminto. O Sol, que a sombra da velha árvore
encobria, mitigando-lhe o ardor, ia já alto. Quando, merencório, abandonou a frescura daquele
sítio, era já meio-dia; fora, a terra escaldava; para chegar à foz da ribeira, ainda tinha muito
que rastejar, e as margens eram só areia escaldante. Então, tentou mover-se apressadamente;
mas, a meio caminho, não podia sofrer mais, porque a areia queimava como fogo.
Arrastava-se penosamente, atormentado pela fome e por um calor infernal, sem que o
refrigério duma nuvem passageira viesse reconfortá-lo. O infeliz crocodilo gemia e contorciase, sentindo que a morte se aproximava. A sua angústia era imensa! Um rapazito, que por
acaso passava perto, a tomar o seu banho, ouviu aqueles gemidos lancinantes. Aproximou-se,
solícito, para saber donde proviriam aqueles gritos. Ao ver o pobre animal prestes a morrer,
disse para consigo: “Coitado deste netinho crocodilo, uns minutos mais e morrerias!”. Tentou
levantá-lo e, vendo que não pesava muito, transportou-o para a água. O crocodilo, ao sentir-se
de novo dentro de água, recobrou ânimo, exultando de satisfação, sem saber como agradecer
ao seu salvador.
Mas, passados os primeiros momentos, disse, movido de gratidão: “De hoje em diante seremos
grandes amigos. Aí do crocodilo que ousar molestar-te!… Desejando passear pelas ribeiras ou
pelos mares, basta que me chames e digas: amigo, lembra-te do bem que te fiz; e eu virei logo
oferecer-te o meu dorso para viajares por onde te aprouver. Se for do teu agrado, partiremos
agora mesmo.” E, confiante, lá andou o rapazito a vogar, às costas do crocodilo, sendo já tarde
quando voltou a casa. Dali em diante, sempre que desejasse fazer-se ao mar, bastava-lhe
82
Apontamentos: Escudo
chamar pelo amigo crocodilo, para que este aparecesse como por encanto. Foi assim durante
muito tempo. Mas um dia o crocodilo deslizou com o amigo para o alto mar, e aí o seu instinto
sentiu grande tentação. Teve ganas de tragar o seu amigo. Mas resistiu a tão feia tentação.
Resolveu aconselhar-se francamente com os peixes do mar e, por fim, também com um
cachalote: “A uma pessoa que nos valeu, devemos fazer bem ou mal?”. Todos responderam
que devemos fazer bem. Mas esta resposta não lhe satisfez os instintos, e a saliva começava a
crescer-lhe na boca, embora no fundo do seu íntimo ele se esforçasse por resistir. Consulta,
então, todos os animais da terra, e todos respondem como os peixes. Finalmente deseja saber
a opinião do macaco. Este, pulando dum lugar para outro e arregalando muito os olhos, indaga
estupefacto: “Que dizes tu?”. E o crocodilo repete o que dissera já aos outros animais.
Aqui o macaco pára, sentado num ramo, ao lado do crocodilo, e prega-lhe esta reprimenda
mestra: “Tu não tens vergonha?! Tu, a quem, um dia, estando prestes a morrer, à torreira do
sol, este jovem desconhecido ergueu e transportou para o mar; tu queres agora, em paga,
devorá-lo?!” E, vituperando-o ainda mais por tão feio pensamento, aviltou-o quanto pôde e
afastou-se para o cume da árvore. O crocodilo, confuso e transido de vergonha, não pensou
mais em devorar o seu grande amigo. Mas, levando-o, um dia, em direcção ao oriente, e
entrando no mar de Timor, disse-lhe reconhecido: “Meu bom amigo, o favor que me fizeste
jamais o poderei pagar. Dentro em breve eu devo morrer; deves voltar para terra, tu, os teus
filhos, todos os teus descendentes, e comer a minha carne em paga do bem que me fizeste.”
Baseados nesta lenda, os velhos afirmam que a ilha de Timor, principiando em Lautém e
acabando em Cupão, é esguia como o corpo dum crocodilo, e a parte central assemelha-se-lhe
à barriga. Timor quer dizer Oriente; muitos timorenses chamam ao crocodilo antepassado ou
avô. Se qualquer crocodilo devora alguém, é porque, dizem, este lhe fez ou disse algo de mal.
Ou quando uma pessoa é apanhada por aquele, costuma gritar: Antepassado ou avô!
Maldição! Maldição! Quando entram ou passam numa ribeira onde haja crocodilos, costumam
atar uma fita verde de folha de palmeira na cabeça, numa perna e, algumas vezes, também na
mão e chamam para junto de si o cão. Assim, o crocodilo sabe, e não os morde.
Austrália e os Portugueses
O primeiro contacto europeu com o continente do Sul terá sido efectuado por navegadores
portugueses. A principal evidência para estas visitas não declaradas foi a descoberta de dois
canhões portugueses afundados ao largo da baía de Broome na costa noroeste da Austrália. A
tipologia dessas peças de artilharia indica serem de fabrico portuguesa, podendo ser datadas
de entre os anos de 1475 e 1525. Tem sido também sugerido que duas expedições portuguesas
realizadas nos mares da Indonésia no primeiro quartel do século XVI teriam atingido o
território australiano: a expedição de Cristóvão de Mendonça a partir de Malaca para o sul em
busca das "ilhas de ouro" (1522), mas sobretudo a de Gomes de Sequeira (1525) que
supostamente teria atingido a Península de York.
Para reforçar esta tese evoca-se o estabelecimento pelos portugueses em 1516 de um
entreposto comercial em Timor, que fica a cerca de 500 quilómetros da Austrália. Segundo o
historiador e filólogo Carl von Brandenstein, os portugueses teriam naufragado no noroeste da
Austrália Ocidental, perto da ilha de Depuch, entre 1511 e 1520, tendo sido os primeiros
europeus a tocar a Austrália, de onde não puderam sair. Estes portugueses acabariam por se
integrar com a população local, deixando marcas culturais assimiladas pelos aborígenes. A
fundamentação das suas teorias encontra-se na análise das línguas das etnias Ngarluma e
Karriera (tribos da Austrália Ocidental), que apresentam particularidades que não se detectam
83
Apontamentos: Escudo
nas outras línguas aborígenes, como o uso da voz passiva. von Brandenstein apresenta
também uma lista de palavras destas línguas que alega terem uma origem portuguesa
(exemplos: thartaruga de tartaruga, monta/manta de monte, thatta de tecto).
Uma série de mapas conhecidos como Mapas de Dieppe, produzidos por uma escola de
cartografia na cidade francesa de mesmo nome entre 1536 e 1566, e que revelam uma
influência portuguesa, retratam uma terra chamada Jave La Grande que apresenta uma
configuração de costa que lembra a costa ocidental australiana, em alguns casos
representando formas vegetais e etnográficas. Alguns académicos rejeitam uma ligação dos
mapas com representações da Austrália, argumentando que as formas vegetais e humanas são
típicas das ilhas da Indonésia ou que seriam meras representações lendárias.
Pode ainda ser salientado um mapa holandês do século XVII que representa uma barreira de
coral com o nome de Abreolhos. Esta palavra é uma derivação da expressão de língua
portuguesa “abre os olhos”, que era usada com frequência para assinalar zonas de perigo em
cartas marítimas lusitanas (expressão ainda hoje utilizada popularmente para designar
qualquer acidente doloroso, que serve para ensinar a ter cuidado).
Para os partidários da tese da prioridade portuguesa, os navegadores lusitanos não
reclamaram o continente para a coroa de Portugal e mantiveram a descoberta aparentemente
em silêncio. Os motivos do secretismo desta eventual iniciativa estariam relacionados com o
Tratado de Tordesilhas, que determinava que a zona da Austrália seria, quando descoberta,
propriedade da coroa espanhola. Para adensar o mistério, os eventuais registos e notas de
bordo destas expedições devem ter desaparecido na destruição do Terramoto de Lisboa de
1755. Com a morte do Cardeal-Rei D. Henrique em 1580, e com a formação da união pessoal
entre as coroas portuguesa e espanhola, Portugal nunca mais retomou as iniciativas de
exploração nesta parte do mundo. A falta de documentos escritos sobre estas expedições faz
com que a presença portuguesa na costa australiana seja posta em causa por muitos
historiadores.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 111/95 de 23/05/1995
Ano
1995
84
Cunhagem
750 000
Código
122.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 111/95 de 23/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
750 000
Código
123.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 111/95 de 23/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
750 000
Código
124.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 111/95 de 23/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
750 000
Código
125.01
85
Apontamentos: Escudo
8º Centenário de Santo António
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 8.º Centenário do nascimento de Santo António, a
qual foi publicada em decreto-lei 233/95 de 13 de Setembro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu
ministro Eduardo Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Comemorando-se em 1995 o 8.º centenário do nascimento de Santo António, um dos mais
célebres e populares santos portugueses, julgou-se da maior oportunidade assinalar esta
efeméride pela emissão de uma moeda comemorativa, cunhada em metal precioso e com
elevado valor facial, adequada à projecção nacional e internacional deste notável taumaturgo.
Assim, foi produzida moeda em prata, com o valor de 500$00. O trabalho de Lima de Freitas
apresentava para além da figura de Santo António com cruz e bíblia nas mãos envolvido por
arco românico, a imagem da Sé de Lisboa. A moeda teve para além da emissão corrente
emissões em prata e ouro proof.
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Lima de Freitas
Decreto: 233/95 de 13/09/1995
Ano
1995
Cunhagem
600 000
Código
127.01
Lima de Freitas
Natural de Setúbal (1927), faleceu em Lisboa (1998). Licenciou-se na Escola
Superior de Belas-Artes de Lisboa onde cursou Pintura. Ilustrador prolífico de
livros, destacou-se ainda na produção de murais de azulejos (destaca-se aqui
o trabalho para a estação do Rossio). Foi um respeitável mestre Maçon. A
nível da numismática foi o responsável pela moeda comemorativa de Santo
António.
86
Apontamentos: Escudo
5.º Centenário de D. João II
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 5.º Centenário da morte do rei D. João II, a qual foi
publicada em decreto-lei 110/95 de 23 de Maio durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro Eduardo
Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Comemorando-se em 1995 o 5º centenário da morte do rei D. João II, figura do maior relevo
no panorama da história de Portugal e grande continuador do
processo dos descobrimentos marítimos portugueses,
iniciado pelo seu tio Infante D. Henrique, julgou-se da maior
oportunidade assinalar esta efeméride pela emissão de uma
moeda comemorativa cunhada em metal precioso e com
elevado valor facial, adequado à projecção nacional e
internacional que se deseja imprimir a esta comemoração.
A moeda cunhada em prata com o valor facial de 1000$00
teve autoria de Nogueira da Silva. A moeda apresentava
recorte gótico típico da era de D. João II, surgindo o seu mote
“Pola Lei e pola Grei” para além do pelicano a alimentar os
filhos, símbolo do rei. O rei é retratado em perfil no reverso onde surge uma caravela
quatrocentista de dois mastros navegando para ocidente.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Nogueira da Silva
Decreto: 110/95 de 23/05/1995
Ano
1995
Cunhagem
600 000
Código
128.01
87
Apontamentos: Escudo
2000 escudos Ch. 2 Bartolomeu Dias
António de Sousa
Victor Constâncio
João Costa Pinto
António M. Pereira Marta
Luís Campos e Cunha
Abel Moreira Mateus
Carlos de Oliveira Cruz
Bernardino Costa Pereira
Vítor Manuel Rodrigues Pessoa
Diogo Leite de Campos
Manuel de Sousa Sebastião
Em 1991 o Banco de Portugal foi confrontado com três situações: necessidade de reimpressão
de notas; futura comemoração dos Descobrimentos portugueses; comemoração, em 1996, dos
seus 150 anos. Assim, achou por bem conjugar estas três situações, associando-se às
Comemorações dos Descobrimentos com a emissão de uma nova série de notas evocativa
dessa epopeia por altura do seu aniversário e ainda uniformizar os elementos de segurança
destinados ao público. Com a utilização crescente de sistemas de escolha automática de notas,
sentia-se também a necessidade de utilizar notas facilmente tratáveis por esses sistemas.
Começou-se assim o estudo de uma nova família de notas, das quais a de 2 000 escudos Ch. 2,
com a efígie Bartolomeu Dias (já usada na chapa 1) foi a primeira a ser emitida.
Foi intenção do Banco de Portugal manter a evocação do importantíssimo personagem nesta
série, toda ela consagrada ao tema dos Descobrimentos. Julgou-se por isso conveniente que,
para lá das alterações determinadas pelo novo formato e normalização, uma relação de
semelhança com a anterior fosse mantida. No desenho agora criado, todo ele original,
surgiram motivos já conhecidos na nota anterior. Não houve preocupação de evitar essas
repetições, antes pelo contrário. Aliás, seria difícil não incluir alguns deles, porquanto estão
directamente relacionados com a dobragem do Cabo da Boa Esperança. Noutros casos porém,
foi intencional a relação mimética, que, servida também pelo esquema de cor aproximado,
88
Apontamentos: Escudo
contribuíram para acentuar o parentesco. Na sequência do processo utilizado na nota de
2.000$00, Ch. 1, foram também separados os trabalhos de originação e de impressão. Sendo a
maqueta original de autoria do Prof. Luís Filipe de Abreu (autor de alguns elementos que a
integravam, nomeadamente a retrato da efígie) foi posto a concurso o trabalho de originação,
vindo este a ser ganho pela firma suíça De La Rue Giori, SA (Lausane). Seguiu-se o concurso de
impressão, este ganho pela firma alemã Gieseche & Devrient (Munique), a quem foi
adjudicada.
A nota impressa com fundos offset a três cores simultâneas frente e verso, foi complementada
com impressão em talhe-doce a três tintas (duas cores). Na impressão offset foi utilizada a
possibilidade de efeito arco-íris. Nas oficinas do Banco foi utilizada uma impressão tipográfica
para a aposição da numeração, data e chancelas bem como a impressão de elementos de
segurança para leitura por máquinas de escolha.
O papel foi fabricado pela firma alemã Papierfabrik Louisenthal, sendo 100% de algodão com
fibras fluorescentes de cores vermelha e verde visíveis sob luz ultravioleta. A marca de água foi
colocada no lado esquerdo, apresentando a efígie em
redução, o filete de segurança em janela, metalizado e
magnético onde se podia ver à transparência o dístico
“Portugal”. Sob a luz ultra-violeta reagia em “arco-íris” na
frente.
Outros elementos de segurança: registo frente/verso
(constituído por desenhos parciais de uma Cruz de Cristo
estilizada, impressos em cada uma das faces, que quando a
nota é observada à transparência a reconstituem); imagem
latente (constituída pelo valor da denominação, era visível quando se observava a nota
segundo uma visão rasante); microimpressão do dístico “Banco de Portugal” no ombro da
efígie; anti fotocopiadores a cor (impresso sobre a marca de água).
89
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 2 000$00
Chapa: 2
Frente: Retrato de Bartolomeu Dias e motivos relacionados com as navegações (astrolábio, rosa
dos ventos) e Cruzado de D. João II
Verso: Representação da caravela de Bartolomeu Dias, padrão, mapa quinhentista da costa
africana, rosa dos ventos e excerto d’Os Lusíadas: “Aqui toda a africana costa acabo/ Neste meu
nunca visto promontório”
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Bartolomeu Dias
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal”; por
toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e verdes;registo
frente/verso (cruz de Cristo); imagem latente (valor da nota); microimpressão “Banco de
Portugal” no ombro da efígie; sistema anti fotocopiadora a cores
Medidas: 139x68 mm
Criação: De La Rue Giori, SA
Impressão: Gieseche & Devrient
Primeira emissão:30-01-1996
Última emissão: 07-11-2000
Retirada de circulação: 28-02-2002
Data
21-09-1995
01-02-1996
31-07-1997
11-09-1997
07-11-2000
Emissão
30 000 000
48 000 000
16 000 000
54 000 000
30 000 000
Combinações de Assinaturas
5
6
6
6
2
Giesecke & Devrient
Companhia alemã sediada em Munique que se dedica à produção de Notas,
máquinas ATM e smart cards. Fundada em 1852 por Hermann Giesecke e
Alphonse Devrient rapidamente se tornaram famosos pelas qualidades das
suas impressões tendo participado na exibição mundial de Paris em 1867.
Foram responsáveis pela produção de notas durante o período da
hiperinflação da República de Weimar. Actualmente alargaram o seu campo
de negócios, sendo a segunda maior empresa de produção de notas, incluindo
as notas alemãs de euro e notas de países diversos como o Cambodja,
Croácia, Etiópia, Guatemala, Peru, R. D. Congo ou Zimbabwé.
90
Apontamentos: Escudo
5000 escudos Ch. 3 Vasco da Gama
António de Sousa
João Costa Pinto
António M. Pereira Marta
Luís Campos e Cunha
Abel Moreira Mateus
Carlos de Oliveira Cruz
Bernardino Costa Pereira
Herlânder Estrela
Diogo Leite de Campos
Na sequência da série de notas emitida por ocasião do 150º
aniversário do Banco de Portugal e no contexto das comemorações
dos descobrimentos, a segunda nota emitida foi a chapa 3 de 5000
escudos com a efígie do navegador Vasco da Gama. Tal como a
anterior de 2000 escudos as suas características e autorização
foi publicada no decreto-lei 285/95 de 30 de Outubro. Como
elementos decorativos da nota foram utilizados desenhos
estilizados e baseados em:
- Na frente: estilização do retrato de Vasco da Gama a
partir de pintura existente no Museu Nacional de Arte Antiga e
tradicionalmente apodada de “retrato de Vasco da Gama”, e
de outro retrato que se sabe ter sido mandado executar pela
família depois da sua morte; esfera armilar; colunelo do
claustro dos Jerónimos; assinatura “Almirante D. Vasco”
reproduzida de documento coevo.
- No verso: fragmento de uma tapeçaria flamenga representando o encontro de Vasco
da Gama com o Samorim de Calecute; pimenteira como símbolo de especiarias; brasão de
armas do Conde da Vidigueira; nau baseada em várias representações da época.
91
Apontamentos: Escudo
Na sequência do processo utilizado na nota de 2000$00, Ch. 1, foram também separados os
trabalhos de originação dos de impressão. Sendo a maqueta original de autoria do Prof. Luís
Filipe de Abreu (autor de alguns elementos que a integram, nomeadamente a retrato da efígie)
foi posto a concurso o trabalho de originação, vindo este a ser ganho pela firma suíça De La
Rue Giori, SA (Lausane). Seguiu-se o concurso de impressão, este ganho pela firma inglesa
Thomas de La Rue and Company Limited a quem foi adjudicada. Impressa com fundos offset a
três cores simultâneas frente e verso, era complementada com impressão a talhe-doce a três
tintas (duas cores). Na impressão offset foi utilizada a possibilidade de efeito arco-íris. Nas
oficinas do Banco foi utilizada uma impressão tipográfica para
a aposição da numeração, data e chancelas bem como a
impressão de elementos de segurança para leitura por
máquinas de escolha.
O papel foi fabricado pela firma francesa Arjo Wiggins, sendo
100% de algodão com fibras fluorescentes vermelhas e
verdes. A marca de água apresentava a efígie de Vasco da Gama em redução da efígie virada
para o centro e visível no primeiro terço esquerdo. Como elementos de segurança adicionais
apresentava filete de segurança embebido, micro impresso com o dístico “Portugal”, visível à
transparência; sob a luz ultra-violeta reagia na cor vermelha; na zona de transição do 2º para o
3º terço da nota surgia uma banda vertical iridescente de 15 mm de largura; registo
frente/verso (constituído por desenhos parciais de uma Cruz de Cristo estilizada, impressos em
cada uma das faces, que quando a nota é observada à transparência a reconstituem); imagem
latente (constituída pelo valor da denominação, era visível, na banda vertical impressa em
talhe doce, quando se observava a nota segundo uma visão rasante); micro-impressão do
dístico “Vasco da Gama” na zona inferior esquerda da efígie; e sistema anti fotocopiadores a
cor (impresso sobre a marca de água).
92
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 5 000$00
Chapa: 3
Frente: Retrato de Vasco da Gama esfera armilar; colunelo do claustro dos Jerónimos;
assinatura “Almirante D. Vasco”
Verso: Representação do encontro de Vasco da Gama com o Samorim de Calecute; pimenteira;
brasão de armas do Conde da Vidigueira; nau quinhentista; frase d’Os Lusíadas: “Tal embaixada
dava o capitão/A quem o rei gentio respondia/Que, em ver embaixadores de Nação/Tão remota
grão glória recebia”
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Vasco da Gama
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com a palavra “Portugal”; por
toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e verdes; registo
frente/verso (cruz de Cristo); imagem latente (valor da nota); microimpressão “Vasco da Gama”
na região inferior da efígie; sistema anti fotocopiadora a cores
Medidas: 139x68 mm
Criação: De La Rue Giori, SA
Impressão: Thomas de La Rue & Co. Ltd
Primeira emissão:30-01-1996
Última emissão: 02-07-1998
Retirada de circulação: 28-02-2002
Data
05-01-1995
12-09-1996
20-02-1997
11-09-1997
02-07-1998
Emissão
70 000 000
40 000 000
32 000 000
20 000 000
120 000 000
Combinações de Assinaturas
5
6
6
6
5
93
Apontamentos: Escudo
7.ª Série dos Descobrimentos: Navegando
no mar da China
A legislação associada à emissão da VII Série dos Descobrimentos (Navegando no mar da China), a qual foi
publicada em decreto-lei 101/96 de 24 de Julho durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Na continuação do programa monetário e numismático dedicado aos Descobrimentos
Portugueses, a 7.ª série destas moedas comemorativas foi alusiva às navegações no mar da
China e às primeiras relações diplomáticas com o Reino do Sião. A chegada dos primeiros
navegadores portugueses ao litoral chinês (1513), iniciou um relacionamento entre Portugal e
a China que perdurou até aos nossos dias. Nesse ano, uma expedição comandada por Jorge
Álvares, feitor da carga pertencente à coroa, ergueu um padrão numa ilha próxima de Cantão
e desembarcou nessa cidade, onde realizou o primeiro intercâmbio comercial luso-chinês.
Quase em simultâneo iniciavam-se os contactos entre os Portugueses e o Reino do Sião. Em
1511, ainda antes da conquista de Malaca, Afonso de Albuquerque enviou Duarte Fernandes
com uma mensagem amistosa ao rei Ramathibodi II (1491-1529), que foi bem recebida e
retribuída, logo seguida, em 1512, por uma primeira embaixada capitaneada por António de
Miranda de Azevedo. Como resultado das amistosas relações desde então estabelecidas, os
Reinos de Portugal e do Sião acordaram numa aliança militar e comercial, que teve profundas
repercussões na história da presença portuguesa no Sudeste Asiático. As navegações e o
comércio português nos mares da China e do Japão receberam um forte impulso em 1557,
com a autorização concedida aos mercadores portugueses de se estabelecerem no porto de
Macau, situado a poucos quilómetros de Cantão. Após a chegada ao Japão (1543), Macau
passou a ser o ponto de escala obrigatório dos navios que ligavam anualmente Goa aos portos
das ilhas de Kiushu, numa rota que costeava uma ilha desconhecida com belas colinas, altas e
verdes, à qual os portugueses chamavam de ilha Formosa, sem nunca a terem reconhecido
nem lá desembarcado. Em 17 de Julho de 1582 um navio capitaneado por André Feio
naufragou num banco de areia da costa setentrional dessa ilha, facto que é considerado como
marcando o descobrimento europeu da Formosa (actual Taiwan).
Considerou-se assim oportuna a emissão de uma série de moedas comemorativas alusivas à
aliança entre Portugal e o Reino do Sião (1512), à chegada dos portugueses à China (1513), ao
estabelecimento em Macau (1557) e à descoberta da ilha Formosa (1582), no âmbito das
comemorações nacionais dos Descobrimentos Portugueses. As moedas cunhadas em
cuproníquel com o valor de 200$00 tiveram autoria de: Eloisa Byrne (aliança de Portugal com
Sião), António Marinho (chegada à China), Raul Machado (estabelecimento em Macau) e Isabel
Carriço e Fernando Branco (descoberta da ilha Formosa). Como habitualmente foi ainda
emitidas edições especiais em prata e ouro proof para além da série prestígio (quatro moedas,
quatro metais).
94
Apontamentos: Escudo
Como elementos marítimos apresentavam: nau quinhentista (Sião, China); junco chinês (China
e Macau); galeão português quinhentista (Taiwan). Outras características eram: representação
de edifícios e templos tradicionais siameses das margens do rio Chaophaya e composições
heráldicas alegóricas com a representação de símbolos iconográficos e heráldicos siameses e a
inscrição do nome do rei “Ramathibodi II”, de referir que a legenda do anverso estava em
português e em tailandês - “Aliança Portugal-Reino de Sião” (Sião); elementos vegetativos de
canas de bambu e representação da linha de costa chinesa identificada pela representação do
Templo do Céu de Pequim e legenda do reverso bilingue (chinês e português) – “China. 1513.
China” (moeda relativa à China); ruínas da Igreja de São Paulo, dragão chinês, farol da Guia e
legenda bilingue (chinês e português) – “Macau 1557 Macau” no reverso (moeda relativa a
Macau); ramo e flor de ameixeira florida, representação cartográfica da ilha Formosa, legenda
bilingue (chinês e português) – “Taiwan” no reverso.
Reino de Sião
Reino do Sião ou Reino Ayutthaya foi um reino siamês fundado em 1351 que perdurou até à
invasão birmanesa em 1767. Fundado pelo povo Tai, que expulso do sudoeste da China se
instalou na região próxima e adoptou o budismo como religião. Ayutthaya estabeleceu
relações amigáveis com negociantes estrangeiros, incluindo os chineses Han, vietnamitas
Annam, indianos, japoneses e persas e, mais tarde com os portugueses, espanhóis, holandeses
e franceses, permitindo-lhes construir povoações no exterior dos muros da cidade.
No século XVI Ayutthaya era descrita por mercadores estrangeiros como uma das maiores e
mais ricas cidades do Oriente. A corte do rei Narai (1656-1688) teve uma forte ligação com a
corte do rei Luís XIV de França, cujos embaixadores a comparavam a Paris pela dimensão e
opulência. Antes do domínio birmanês em 1767, os estados tributários do Reino do Sião
incluíam os estados Shan do norte do actual Myanmar, Chiang Mai, Yunnan e Shan Sri na
China), Lan Xang no Laos, o reino Champa, e algumas cidades-estado da península da Malásia.
Em 1939 trocou de nome e passou a chamar-se Tailândia (ex-Sião).
O estado siamês baseado na cidade de Ayutthaya no vale do
rio Chaophraya cresceu a partir do reino inicial de Lavo, que
viria a absorver, continuando a tendência de expansão para
sul dos povos siameses (Tai). Em 1351 para fugir de uma
epidemia, o rei Ramathibodi I mudou a corte para sul, na
bacia do rio Chaophraya. Numa ilha do rio fundou uma nova
capital, a cidade Ayutthaya, significando "cidade de reis". Em poucos decénios, o reino de
Ayutthaya expandiu-se consideravelmente à custa do decadente império Khmer do Camboja e
do reino de Sukhotai, que foram absorvidos. O império de Ayutthaya empregou novas técnicas
de centralização do poder e herdou do Estado Khmer a visão do governante como um rei
divinizado.
O reino desenvolveu um extenso aparato burocrático, e a sociedade hierarquizou-se
rigidamente. As guerras foram frequentes e o território dominado a partir de Ayutthaya
alcançou limites próximos ao da actual Tailândia. No entanto, as fronteiras com os Estados
vizinhos, devido às contínuas guerras e aos planos separatistas das províncias distantes,
95
Apontamentos: Escudo
modificaram-se constantemente. Em 1569, os birmaneses transformaram Ayutthaya num
Estado dependente.
Quinze anos mais tarde, a independência do Sião foi restabelecida pelo príncipe Naresuan,
considerado desde então um herói nacional na Tailândia. Em 1511 Ayutthaya recebeu uma
missão diplomática portuguesa, enviada por Afonso de Albuquerque na sequência da conquista
portuguesa de Malaca no início do ano, dado a influência que era então atribuída ao Reino do
Sião sobre a península de Malaca.
Duarte Fernandes foi o primeiro enviado à corte de Ramathibodi II, regressando com um
enviado siamês e ofertas para o Rei de Portugal, seguindo-se-lhe António de Miranda de
Azevedo, Duarte Coelho e Manuel Fragoso, que aí permaneceu dois anos preparando um
documento sobre o reino do Sião, que enviou directamente para Portugal. Estes terão sido os
primeiros europeus a visitar o reino. Cinco anos após os contactos iniciais, Ayutthaya e Portugal
estabeleceram um tratado que garantia aos portugueses a permissão para comerciar no reino
do Sião.
As relações entre os dois reinos permaneceram informais até que em 1518 D. Manuel I enviou
uma embaixada com ofertas e a proposta de formalização de um tratado de aliança comercial,
política e militar, que incluía a possibilidade dos siameses comerciarem em Malaca. Os
comerciantes e missionários portugueses não exerceram, no entanto, grande influência sobre o
país, situado fora das principais rotas portuguesas do Índico.
A maioria de portugueses na Tailândia eram aventureiros que serviram nos exércitos reais
como mercenários e que foram responsáveis pela adopção de algumas técnicas militares
ocidentais nas operações tailandesas. Mais tarde, em 1592, seria estabelecido um tratado
semelhante dando aos holandeses uma posição privilegiada no comércio de arroz. Os
estrangeiros eram cordialmente recebidos na corte de Narai (1657-1688), um governante com
uma visão cosmopolita, embora reticente à influência externa.
Foram estabelecidas importantes relações comerciais com os japoneses. No século XVII,
comerciantes holandeses e britânicos começaram a fundar centros comerciais junto à capital e
na península de Malaca. Mais tarde, chegaram os franceses, que se impuseram aos outros
europeus e foram enviadas missões diplomáticas siamesas a Paris e a Haia. Ao manter todos
estes laços a corte do Sião jogou habilmente com as rivalidades entre holandeses e ingleses e
franceses, impedindo a influência excessiva de um único poder.
Contudo em 1664 os holandeses forçaram um tratado garantindo direitos territoriais e acesso
comercial livre. Exortado pelo ministro externo Constantine Phaulkon, um aventureiro grego,
Narai volta-se para a França em busca de auxílio. Engenheiros franceses construíram
fortificações e um novo palácio em Lopburi, além disso missionários franceses dedicaram-se à
educação e medicina, trazendo para o reino a primeira impressora. O próprio Luís XVI
entusiasmou-se com a possibilidade de Narai se poder converter ao cristianismo.
A forte influência francesa despertou desconfianças e a chegada de uma expedição francesa
composta de 600 homens armados, em 1687, despertou receios. No ano seguinte, um golpe
dado por líderes Tais antiocidentais levou à expulsão de todos os franceses. Teve então início,
96
Apontamentos: Escudo
uma etapa de relativo isolamento do Sião com relação ao Ocidente, uma política que durou
150 anos.
Chegada à China
Jorge Álvares foi um explorador português, o primeiro
europeu a aportar directamente na China e a visitar o
território que actualmente é Hong Kong em 1513. Foi um dos
portugueses que, de Malaca, se dirigiram à China, sendo o
primeiro a chegar ao Sul da China, em 1513. A esta visita
seguiu-se o estabelecimento de algumas feitorias portuguesas
na província de Cantão, onde mais tarde se viria a estabelecer
o entreposto de Macau.
Possuía um Junco com o qual se dedicava ao comércio entre
Malaca e Cantão, juntamente com Fernão Pires de Andrade e
Rafael Perestrello, pioneiros desse comércio, considerado
ilegal pelos Chineses.
Participou numa guerra contra o sultão de Bintão,
capitaneando uma galé na Armada Portuguesa. Com a
abordagem de Tamang (Cantão), apesar da oposição do
"Itau" (mandarim local), conseguiu estabelecer-se numa praia
na ilha de Sanchoão, onde ergueu uma cabana que servia de
refúgio aos comerciantes clandestinos e onde, para se achar
como em terra portuguesa, fizera assentar um padrão.
Passou assim a ser considerado como feitor português de Tamang, continuando, no seu Junco,
a navegar pelas Molucas. Nestas águas veio a ser atacado pelos indígenas de Ternate, vindo a
ser gravemente ferido. Veio a falecer na sua cabana, pedindo que fosse enterrado junto ao
padrão que fizera erigir.
Macau
Macau é desde 20 de Dezembro de 1999 uma Região Administrativa Especial da República
Popular da China. Antes desta data, foi colonizada e administrada por Portugal durante mais
de 400 anos e é considerada o primeiro entreposto, bem como a última colónia europeia na
China.
Esta administração teve começo em meados do século XVI. Nesta altura os portugueses
trouxeram prosperidade a este pequeno pedaço de terra, tornando-a numa grande cidade e
importante intermediário no comércio entre a China, a Europa e o Japão, fazendo com que ela
atingisse o seu auge nos finais do século XVI e nos inícios do século XVII.
Só em 1887 é que a China reconheceu oficialmente a soberania e a ocupação perpétua
portuguesa sobre Macau, através do "Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português". Em
1967, como consequência do Motim 1-2-3 levantado pelos residentes chineses pró-comunistas
de Macau no dia 3 de Dezembro de 1966, Portugal renunciou a sua ocupação perpétua sobre
97
Apontamentos: Escudo
Macau. Em 1987, após intensas negociações entre Portugal e a República Popular da China, os
dois países concordaram que Macau iria passar de novo à soberania chinesa no dia 20 de
Dezembro de 1999. Actualmente, Macau está a experimentar um grande e acelerado
crescimento económico, baseado no acentuado desenvolvimento do sector do jogo e do
turismo, as duas actividades económicas vitais desta região administrativa especial chinesa.
É constituída pela Península de Macau e por duas ilhas (Taipa e Coloane, entretanto com a
ligação feita por terra seca por meio de um aterro, o istmo de Cotai), numa superfície total de
28,6 km². Macau situa-se na costa meridional da República Popular da China, a oeste da foz do
Rio das Pérolas e a 60 km de Hong Kong, que se encontra
aproximadamente a este de Macau.
Faz fronteira a norte e a oeste com a Zona Económica Especial
de Zhuhai, logo é adjacente à província de Guangdong.
Macau efectua muitos aterros para reclamar/obter mais
espaços de construção à foz do Rio das Pérolas. Tem cerca de
538 mil habitante s, sendo a esmagadora maioria de etnia
chinesa.
Após o estabelecimento da RAEM, Macau actua sob os
princípios do Governo Popular Central Chinês da RPC de “um
país, dois sistemas”, de “Administração de Macau pela Gente
de Macau” e de “Alto Grau de Autonomia”, gozando por isso
de um estatuto especial, semelhante ao de Hong-Kong, e possuindo consequentemente um
elevado grau de autonomia, limitando-se apenas no que se refere às suas relações exteriores e
à defesa. Foi também garantido pela RPC a preservação do seu sistema económico-financeiro e
das suas especificidades durante pelo menos 50 anos, isto é, pelo menos até 2049.
Os portugueses estabeleceram-se ilegal e provisoriamente em Macau entre 1553 e 1554, sob o
pretexto de secar a sua carga. Em 1557, as autoridades chinesas deram finalmente autorização
para os portugueses se estabelecerem permanentemente em Macau, concedendo-lhes um
considerável grau de autonomia. Em troca, os portugueses foram obrigados a pagar aluguer
anual (cerca de 500 taéis de prata) e certos impostos a estas autoridades, que defendiam que
Macau continuava a ser parte integrante do Império Chinês.
As autoridades chinesas, desde sempre portadoras de algum medo e desprezo pelos
estrangeiros, passaram a supervisionar atentamente os portugueses de Macau e a exercer, até
meados do século XIX, uma grande influência na administração deste estabelecimento
comercial. Desde então, Macau desenvolveu-se como um entreposto e intermediário para o
comércio triangular entre a China, o Japão e a Europa, numa época em que as autoridades da
China proibiram o comércio directo com o Japão por mais de cem anos.
Para além de ser um entreposto comercial, Macau desempenhou também um papel activo e
fulcral na disseminação do Catolicismo, ao tornar-se num importante ponto de formação e de
partida de missionários católicos para os diferentes países do Extremo Oriente, principalmente
para a China.
98
Apontamentos: Escudo
Por este motivo, o Papa Gregório XIII criou, em 1576, a
Diocese de Macau. Estes missionários desempenharam
também um papel importante no intercâmbio cultural,
científico e artístico entre a China e o Ocidente, e no
desenvolvimento da cultura e da educação de Macau.
Em 1583, foi criada o Leal Senado, a sede e o símbolo do
poder e do governo local, pelos moradores portugueses, mais precisamente pelos
comerciantes, de Macau. Este organismo político, considerado como a primeira câmara
municipal de Macau, foi fundada com o objectivo de proteger o comércio controlado por
Macau, de estabelecer ordem e segurança para esta cidade e de resolver os e problemas
quotidianos.
Apesar de a partir de 1623 Macau passar a ter um Governador
português, o Leal Senado, até à primeira metade do século XIX,
continuou a manter uma grande autonomia e a exercer um papel
fundamental na administração da cidade.
Devido à sua prosperidade, Macau foi várias vezes atacada pelos
holandeses ao longo da primeira metade do século XVII. O ataque
mais importante teve início em 22 de Junho de 1622, quando cerca
de 800 soldados holandeses desembarcaram, numa tentativa de
conquistar a cidade. Após dois dias de combate, em 24 de Junho, os
invasores foram derrotados, sofrendo elevadas baixas (cerca de 350
mortes) e conseguindo abater apenas algumas dezenas de
portugueses. Para Macau, desprevenida, esta vitória foi considerada
um milagre.
Em 1638-1639, o comércio português com o Japão foi interrompido,
devido às políticas de isolamento levados a cabo pelo então Xogum
japonês, Tokugawa Iemitsu. Este acontecimento afectou seriamente
a economia de Macau, que rapidamente entrou em declínio.
Descoberta de Taiwan
O conhecimento da existência da ilha Formosa (actual
Taiwan) pelos ocidentais ocorreu por volta de 1544 quando
navegadores portugueses passaram ao largo da ilha e a
registaram como ilha Formosa. Apenas em 1582 aportaram e
por acidente. Um navio capitaneado por André Feio
naufragou devido a um banco de areia na costa setentrional
da ilha e permaneceu nesta durante cerca de 10 semanas. Os
efeitos da malária e os constantes ataques por parte dos aborígenes conduziram à fuga dos
sobreviventes para Macau dentro de uma balsa. Em 1600 foi estabelecido um entreposto
comercial português que foi de pouca dura. A ocupação espanhola de Portugal conduziu
posteriormente ao abandono deste entreposto, ficando os holandeses por intermédio da
99
Apontamentos: Escudo
Companhia Holandesa das Índias Orientais a controlar o comércio para ocidente a partir da
ilha Formosa (1624).
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 101/96 de 24/07/1996
Ano
1996
Cunhagem
750 000
Código
129.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 101/96 de 24/07/1996
Ano
1996
100
Cunhagem
750 000
Código
130.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 101/96 de 24/07/1996
Ano
1996
Cunhagem
750 000
Código
131.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 101/96 de 24/07/1996
Ano
1996
Cunhagem
750 000
Código
132.01
Jogos Olímpicos de Atlanta „96
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos de Atlanta ‘96, a qual foi
publicada em decreto-lei 8/96 de 12 de Fevereiro durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Celebrando-se em 1996 o centenário dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, que
tiveram lugar em Atenas, considerou-se oportuno assinalar esta efeméride e a participação de
Portugal nos XXVI Jogos Olímpicos de Atlanta com a emissão de uma moeda comemorativa.
101
Apontamentos: Escudo
A moeda de autoria de Vítor Santos, foi cunhada com valor de 200$00 seguindo as
características técnicas da moeda bimetálica circulante. Ao contrário das anteriores
comemorativas bimetálicas as duas faces foram desenhadas especialmente para esta.
Apresentando no anverso uma composição alegórica com a chama olímpica e os anéis
olímpicos e no reverso a representação de um atleta em esforço a completar um salto em
altura no estilo Fosbury. A moeda foi ainda emitida com acabamentos BNC e proof. A título
excepcional foi ainda emitida emissão especial com o mesmo desenho mas em prata proof
mas 36 mm como era habitual para as pratas proof de 200$00.
Jogos Olímpicos de Atlanta
Os Jogos Olímpicos de Verão de 1996, oficialmente Jogos da XXVI Olimpíada, foram realizados
em Atlanta, nos Estados Unidos, entre 19 de Julho e 4 de Agosto de 1996. Marcaram os 100
anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, sendo aberto pelo presidente dos Estados Unidos
Bill Clinton. Os então 197 Comités Olímpicos Nacionais filiados ao Comité Olímpico
Internacional enviaram suas delegações, num total de 10 318
atletas, sendo 3 512 deles mulheres, competindo em 26
modalidades.
Os Jogos de Atlanta, que se esperava serem perfeitos, pelos
vultosos recursos investidos em sua organização,
apresentaram vários percalços, como um inesperado
problema nos transportes, com engarrafamentos monstruosos pela cidade
no período dos Jogos dificultando a locomoção entre os locais de
competição, calor intenso durante as competições e o mais grave deles,
um atentado cometido com a explosão de uma bomba no Centennial
Olympic Park, que resultou na morte de duas pessoas e ferimentos em
outras 111.
No discurso de encerramento, o então Presidente do COI, Juan Antonio
Samaranch, referiu-se aos Jogos recém-terminados com um “Bom
trabalho, Atlanta” ao invés do costumeiro “Estes foram os melhores Jogos
da história”, usados até então. A participação portuguesa nestes jogos saldou-se em duas
102
Apontamentos: Escudo
medalhas, uma de ouro (a terceira de Portugal) para Fernanda Ribeiro, nos 10.000m e outra,
de bronze, para Nuno Barreto e Hugo Rocha em Vela na classe 470.
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: Vítor Silva
Decreto: 8/96 de 12/02/1996
Ano
1996
Cunhagem
1 000 000
Código
133.01
Vítor Silva
Escultor natural de Lisboa, onde reside. Licenciado em Escultura pela
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, com mestrado em Desenho pela mesma
instituição. Tem curso de Desenhador Gravador Litógrafo pela Escola de Artes
Decorativas António Arroio. A nível numismático para além da criação de
várias moedas comemorativas é o autor da face nacional dos Euros de
Portugal.
150º Aniversário do Banco de Portugal
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 150º Aniversário do Banco de Portugal, a qual foi
publicada em decreto-lei 192/96 de 9 de Outubro durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Teixeira dos Santos. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Comemorou-se em 1996 o sesquicentenário da fundação do Banco de Portugal, em 19 de
Novembro de 1846, por fusão do Banco de Lisboa com a
Companhia Confiança Nacional. Num já longo e prestigiante
percurso que vai desde a sua afirmação inicial como o mais
importante banco comercial do País, a que se seguiu um
acréscimo da sua vocação pública, enquanto banco emissor,
banqueiro do Estado e de Caixa Geral do Tesouro e que
culminou com o actual desempenho das funções inerentes ao
Banco Central da República Portuguesa, muitos foram os
momentos em que o seu desempenho foi de importância crucial para o País. Afigurou-se assim
da maior oportunidade assinalar esta efeméride pela emissão de uma moeda comemorativa
de prata de circulação corrente e pela cunhagem de espécimes numismáticos bimetálicos de
103
Apontamentos: Escudo
prata e ouro, de características inéditas a nível mundial, com recurso a
tecnologia inovadora desenvolvida pela Casa da Moeda de Lisboa em
colaboração com o Instituto Superior Técnico.
Assim, produziram-se moedas de prata de 500$00 de autoria de Irene
Vilar. As moedas onde se destacava o emblema do Banco de Portugal
tiveram ainda emissões especiais em prata proof para além da primeira emissão de moeda
bilamelar (em prata e ouro).
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Irene Vilar
Decreto: 192/96 de 09/10/1996
Ano
1996
Cunhagem
620 000
Código
134.01
Fragata D. Fernando e Glória
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da recuperação da Fragata D. Fernando e Glória, a qual
foi publicada em decreto-lei 270/95 de 23 de Outubro durante o governo de Cavaco Silva, sendo seu ministro
Eduardo Catroga. Mário Soares era o Presidente da República.
Em 1996 foi re-lançada à água, após completo restauro, a fragata D. Fernando II e Glória. Este
navio de guerra de inegável interesse histórico foi a última fragata à vela da Marinha
Portuguesa e a última embarcação a fazer a chamada “carreira da Índia”, que desde o século
XVI e durante mais de três séculos fez a ligação entre Portugal e aquela antiga colónia. Julgouse assim da maior oportunidade assinalar esse evento pela emissão de uma moeda
comemorativa cunhada em metal precioso e com elevado valor facial, adequado à projecção
nacional e internacional que se deseja imprimir ao acontecimento.
A moeda cunhada em prata com valor de 1000$00 teve autoria do escultor Raul Machado.
Teve ainda emissões especiais em prata proof. Os lucros desta amoedação foram utilizados na
recuperação do navio. A moeda apresentava no anverso para além da representação da
carcaça do navio, um compasso (símbolo da construção naval), as armas nacionais
104
Apontamentos: Escudo
apresentavam um recorte brigantino e no quadrante superior direito era possível observar a
carranca da proa com o busto de perfil de D. Fernando II. No reverso eram visíveis os bustos de
D. Fernando II e de D. Maria II, para além da representação da fragata devidamente
aparelhada.
Fragata D. Fernando II e Glória
A D. Fernando II e Glória foi uma fragata à vela da Marinha
Portuguesa, que navegou entre 1845-78. Actualmente é um
navio museu, na dependência do Museu da Marinha e
classificada como Unidade Auxiliar da Marinha.
A fragata D. Fernando foi o último navio de guerra
inteiramente à vela da Marinha Portuguesa. Foi construída
em Damão, na Índia Portuguesa, sob a supervisão do
engenheiro construtor naval Gil José da Conceição, por uma
equipa de operários indianos e portugueses, liderados pelo
mouro Yadó Semogi. Na sua construção foi usada madeira de
teca de Nagar-Aveli. Depois do lançamento ao mar, em 22 de
Outubro de 1843, o navio foi rebocado para Goa onde foi
aparelhado.
O navio foi baptizado em homenagem ao Casal Real Português, o rei-consorte D. Fernando II e
a Rainha D. Maria II, cujo nome próprio era Maria da Glória. O "Glória" do seu nome também
se referia à sua santa protectora, Nossa Senhora da Glória, de especial devoção entre os
Goeses. O navio estava armado com 50 bocas-de-fogo, com 28 na bateria e 22 no convés. A
sua viagem inaugural, de Goa a Lisboa, decorreu entre 2 de Fevereiro e 4 de Julho de 1845.
A fragata D. Fernando navegou durante 33 anos, percorrendo cerca de 100 000 milhas,
correspondentes a, quase, cinco voltas ao mundo. Foi empregue no transporte de tropas,
colonos e degredados para Angola, Índia e Moçambique. Participou em operações navais de
guerra no Ultramar Português. Apoiou a expedição de Silva Porto de ligação terrestre entre
Benguela em Angola e a costa de Moçambique. Em Setembro de 1865 a fragata D. Fernando
substituiu a nau Vasco da Gama como Escola de Artilharia Naval, fazendo viagens de instrução
até 1878. Nesse ano, fez a sua última missão no mar, realizando uma
viagem de instrução de guarda-marinhas aos Açores. Nessa viagem,
ainda conseguiu salvar a tripulação da barca americana Laurence
Boston que se tinha incendiado. A partir daí passou a estar sempre
fundeada no Tejo.
Em 1938 deixou se servir de Escola Prática de Artilharia Naval, passando
a ser utilizada como navio-chefe das Forças Navais no Tejo. Em 1940
cessou o seu uso pela Marinha Portuguesa, sendo a fragata
transformada em Obra Social da Fragata D. Fernando, uma instituição social que se destinava
a albergar e a dar instrução e treino de marinharia a rapazes oriundos de famílias pobres.
105
Apontamentos: Escudo
Em 1963, um violento incêndio destruiu uma grande parte do navio, ficando abandonado no
Tejo. Entre 1992 e 1997 a fragata foi recuperada pela Marinha Portuguesa, recorrendo ao
Arsenal do Alfeite e aos estaleiros Rio-Marine de Aveiro. O navio esteve exposto na Expo 98.
Desde então é um navio museu da Marinha Portuguesa, estando actualmente desde 1 de
Março de 2008, em doca seca, em Cacilhas (Almada), estando a receber trabalhos de
manutenção.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Raul Machado
Decreto: 270/95 de 23/10/1995
Ano
1996
Cunhagem
600 000
Código
135.01
Nossa Senhora da Conceição
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 350º Aniversário da proclamação de Nossa Senhora
da Conceição como padroeira de Portugal, a qual foi publicada em decreto-lei 191/96 de 9 de Outubro durante o
governo de António Guterres, sendo seu ministro Teixeira dos Santos. Jorge Sampaio era o Presidente da
República.
Ocorrendo em 1996 o 350º aniversário da proclamação de Nossa Senhora da Conceição como
padroeira de Portugal, por provisão régia de D. João IV de 25 de Março de 1646 “em
homenagem, agradecimento solene e perpétuo monumento da Restauração de Portugal,
como anteriormente tinha sido deliberado e jurado em Cortes com os três Estados do reino”,
julgou-se da maior oportunidade assinalar esta data jubilar pela emissão de uma moeda
comemorativa de prata com elevado valor facial. A moeda de 1000$00 de autoria de Helder
Baptista apresentava no anverso a imagem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa,
ladeada pela representação da coroa real do tempo de D. João IV. A moeda teve ainda emissão
especial em prata proof.
106
Apontamentos: Escudo
Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa
O Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa é também conhecido por Solar da
Padroeira, por nele se encontrar a imagem de Nossa Senhora da Conceição (manifestação),
padroeira de Portugal. A igreja, que é simultaneamente Matriz de Vila Viçosa, fica situada
dentro dos muros medievais do castelo da vila, não se podendo porém precisar a data exacta
da sua fundação, sendo que a existência da matriz é já assinalada na época medieval.
Segundo a tradição, a imagem da padroeira terá sido oferecida pelo
Condestável do Reino, D. Nuno Álvares Pereira, que a terá adquirido em
Inglaterra. A mesma imagem teve a honra de, por provisão régia de D.
João IV, referendada em cortes gerais, ter sido proclamada Padroeira de
Portugal, em 25 de Março de 1646.
A partir de então não mais os monarcas portuguesas da Dinastia de
Bragança voltaram a colocar a coroa real na cabeça. A notável imagem,
em pedra de ançã, encontra-se no altar-mor da igreja, estando
tradicionalmente coberta por ricas vestimentas (muitas delas oferecidas
pelas Rainhas e demais damas da Casa Real).
Ainda em 6 de Fevereiro de 1818 o Rei D. João VI concedeu nova benesse ao Santuário,
erigindo-o cabeça da nova Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa,
agradecendo à Padroeira a resistência nacional às invasões francesas. Neste Santuário
nacional estão sediadas as antigas Confrarias de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e
dos Escravos de Nossa Senhora da Conceição.
O Papa João Paulo II visitou este Santuário durante a sua primeira visita a Portugal, em 14 de
Maio de 1982. A grande peregrinação anual ao Santuário de Vila Viçosa celebra-se a 8 de
Dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, Padroeira Principal de Portugal.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Helder Baptista
Decreto: 191/96 de 09/10/1996
Ano
1996
Cunhagem
620 000
Código
136.01
107
Apontamentos: Escudo
1000 escudos Ch. 13 Pedro Álvares
Cabral
António de Sousa
Victor Constâncio
António M. Pereira Marta
Luís Campos e Cunha
Abel Moreira Mateus
Diogo Leite de Campos
Bernardino Costa Pereira
Carlos de Oliveira Cruz
Em consequência da reforma do sistema monetário em papel em
curso desde 1991 (início dos trabalhos), em 1996 foi lançada a nota
de 1000 escudos chapa 13. Nesta foi evocada a figura do fidalgo e
navegador português, Pedro Álvares Cabral. Na sequência do
processo já utilizado na nota de 2000$00, Ch1, foram também
separados os trabalhos de originação dos de impressão. Sendo a
maqueta original e alguns elementos que a integravam,
nomeadamente o retrato da efígie, de autoria do Prof. Luís Filipe de
Abreu, foi posto a concurso o trabalho de originação, vindo este a
ser ganho pela firma suíça De La Rue Giori, SA (Lausane). Seguiu-se o
concurso de impressão, ganho pela firma canadiana British American Banknote (Otawa), a
quem foi adjudicada. A sua emissão foi aprovada em decreto-lei 90/96 de 5 de Maio.
Como elementos decorativos da nota foram utilizados desenhos estilizados e baseados em:
- na frente: adaptação de elementos vegetalistas existentes em manuscritos
iluminados; medalhão com esfera armilar cercada de coroa de ramos e flores; moeda
“Português” de D. Manuel I; retrato de Pedro Álvares Cabral.
- no verso: flora brasileira, macacos e outros animais; cartela “TERRA BRASILIS” da
carta de Lopo Homem; brasão de armas de os “Cabrais”, “nau”, baseada no desenho da de
Álvares Cabral e feita por Lizuarte de Abreu.
108
Apontamentos: Escudo
O fundo foi impresso a três cores (mais uma impressão intaglioset, no verso) pelo processo
offset simultâneo, utilizando também, na frente, uma impressão talhe-doce com três tintas
(duas cores). Nas oficinas do Banco foi utilizada uma impressão
tipográfica para a aposição da numeração, data e chancelas bem
como a impressão de elementos de segurança para leitura por
máquinas de escolha. O papel foi fabricado pela firma espanhola
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre sediada em Burgos, sendo
100% de algodão com fibras fluorescentes vermelhas e verdes
dispersas. Apresentava um filete de segurança embebido,
magnético, micro impresso com o dístico “Brasil” visível à
transparência. A marca de água foi colocada no lado
esquerdo e apresentava o retrato de Pedro Álvares Cabral
reduzido relativamente à figura estampada. Apresentava
ainda outros elementos de segurança, a saber: registo
frente/verso (constituído por desenhos parciais de uma Cruz
de Cristo estilizada, impressos em cada uma das faces, que
quando a nota era observada à transparência a
reconstituíam); imagem latente (constituída pelo valor da
denominação, era visível quando se observava a nota segundo um ângulo de visão rasante);
sistema anti fotocopiadora a cor impresso sobre a marca de água.
109
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 1 000$00
Chapa: 13
Frente: Retrato de Pedro Álvares Cabral, elementos vegetalistas existentes em manuscritos
iluminados; medalhão com esfera armilar cercada de coroa de ramos e flores; moeda
“Português” de D. Manuel I
Verso: Representação de flora e fauna brasileira; cartela “TERRA BRASILIS” da carta de Lopo
Homem; brasão de armas dos “Cabrais”, “nau” de Pedro Álvares Cabral
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Pedro Álvares Cabral
Mecanismo de segurança: filete de segurança microimpresso com a palavra “Brasil”; por toda a
superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e verdes; registo frente/verso
(cruz de Cristo); imagem latente (valor da nota); sistema anti fotocopiadora a cores
Medidas: 132x68 mm
Criação: De La Rue Giori, SA
Impressão: British American Banknote
Primeira emissão: 06-12-1996
Última emissão: 07-11-2000
Retirada de circulação: 28-02-2002
Data
18-04-1996
31-10-1996
12-03-1998
21-05-1998
07-11-2000
Emissão
56 000 000
40 000 000
40 000 000
50 000 000
desconhecida
Combinações de Assinaturas
6
6
6
5
2
10000 escudos Ch. 2 Infante D. Henrique
António de Sousa
António M. Pereira Marta
Luís Campos e Cunha
110
Apontamentos: Escudo
Abel Moreira Mateus
Diogo Leite de Campos
Bernardino Costa Pereira
Carlos de Oliveira Cruz
Da mesma publicação em Diário da República da nota de 1000 escudos Ch. 13 (decreto-lei
90/96 de 5 de Maio) foi ainda aprovada a nova nota de 10000 escudos Ch.2 com invocação do
Infante D. Henrique.
Como elementos decorativos da nota foram utilizados desenhos estilizados e baseados em:
- na frente: estilização do retrato do Infante D. Henrique a partir dos “Painéis de S.
Vicente”; flor-de-lis; Cruz de Cristo; motivos da Ordem da Jarreteira; ampulheta; bússola;
medalhão de desenho adaptado do Selo do Infante; “leão” retirado de uma carta assinalando a
“Serra Lioa”; assinatura do Infante D. Henrique.
- no verso: fundo policromático baseado na iluminura da Crónica da Guiné de Gomes
de Azurara, a qual apresenta a divisa e “empresa” de D. Henrique; caravela; estandarte com a
Cruz de Cristo.
Na sequência do processo iniciado com a nota de 2.000$00, Ch1, foram também separados os
trabalhos de originação dos de impressão. Sendo a maqueta original de autoria do Prof. Luís
Filipe de Abreu (autor de alguns elementos que a integram, nomeadamente a retrato da efígie)
foi posto a concurso o trabalho de originação, vindo este a ser ganho pela firma suíça De La
Rue Giori, SA (Lausane). Seguiu-se o concurso de impressão, ganho pela firma inglesa Thomas
de La Rue & Co Ltd.
Impressa com fundos offset a três cores
simultâneas
frente
e
verso,
foi
complementada com impressão talhe-doce a
três tintas (duas cores). Nas oficinas do Banco
foi utilizada uma impressão tipográfica para a
aposição da numeração, data e chancelas
bem como a impressão de elementos de
segurança para leitura por máquinas de
escolha. O papel foi fabricado na francesa
Arjo Wiggins, sendo 100% de algodão. A
marca de água consistia na redução da efígie
virada para o centro e visível no primeiro terço esquerdo. O filete de segurança em janela,
metalizado e magnético onde se podia ver à transparência o dístico “Portugal”, por
desmetalização da sua superfície. Sob a luz ultravioleta reagia em “arco-íris” na frente. O papel
apresentava fibras invisíveis fluorescentes (vermelhas e verdes) ao acaso sobre toda a
superfície. Na zona de transição do 2º para o 3º terço da nota, uma banda vertical iridescente
de 15 mm de largura. Como elementos de segurança adicionais: registo frente/verso (cruz de
Cristo estilizada), imagem latente (valor de denominação visível em banda vertical impresso
111
Apontamentos: Escudo
em talhe doce observada em ângulo rasante); micro-impressão do dístico “Banco de Portugal
10000” que constituía o sombreado da gola da efígie; sistema anti fotocopiadora a cores sob a
marca de água.
112
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 10 000$00
Chapa: 2
Frente: Retrato do Infante D. Henrique; flor-de-lis; Cruz de Cristo; motivos da Ordem da
Jarreteira; ampulheta; bússola; medalhão de desenho adaptado do Selo do Infante; “leão”
retirado de uma carta assinalando a “Serra Lioa”; assinatura do Infante D. Henrique
Verso: Representação de iluminura da Crónica da Guiné de Gomes de Azurara, a qual apresenta
a divisa e “empresa” de D. Henrique; caravela; estandarte com a Cruz de Cristo.
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: Infante D. Henrique
Mecanismo de segurança: filete de segurança metalizado e magnético microimpresso com a
palavra “Portugal”; por toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e
verdes; registo frente/verso (cruz de Cristo); imagem latente (valor da nota); na zona de
transição do 2º para o 3º terço da nota, uma banda vertical iridescente de 15 mm de largura;
micro impressão do dístico “Banco de Portugal 10 0000” na gola da efígie; sistema anti
fotocopiadora a cores
Medidas: 153x75 mm
Criação: De La Rue Giori, SA
Impressão: Thomas de La Rue & Co Ltd
Primeira emissão: 26-09-1996
Última emissão: 12-02-1998
Retirada de circulação: 28-02-2002
Data
02-05-1996
10-07-1997
12-02-1998
Emissão
32 000 000
16 000 000
27 000 000
Combinações de Assinaturas
6
6
6
1ª Séria EXPO ‟98: Fauna marítima
costeira portuguesa e Expedições
oceanográficas
A legislação associada à emissão da 1.ª Série EXPO ’98 relativa à Fauna Marítima Costeira Portuguesa e ao
Centenário das Expedições Oceanográficas, a qual foi publicada em decreto-lei 171/97 de 8 de Julho durante o
governo de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Em 1998 teve lugar a Exposição Mundial de Lisboa — EXPO 98, a última grande exposição
mundial do século XX e um acontecimento da maior relevância e importância política, cultural,
turística e económica para a cidade de Lisboa e para Portugal. Considerando que o tema
central da EXPO 98 era “Os oceanos, um património para o futuro”, que o ano de 1998 foi
declarado Ano Internacional dos Oceanos pela ONU e que no
final do século tiveram início as comemorações do Milénio
do Atlântico, julgou-se da maior oportunidade assinalar a
realização da Exposição Mundial de Lisboa com um
programa de emissões monetárias comemorativas
constituído por três séries a lançar no período de 1997 a
113
Apontamentos: Escudo
1999 e com temas alusivos à fauna marítima costeira portuguesa, ao centenário das primeiras
expedições oceanográficas portuguesas (1997), à EXPO 98 e ao Ano Internacional dos Oceanos
(1998) e ao Milénio do Atlântico (1999). A primeira série foi constituída por três moedas: duas
bimetálicas de 100$00 e 200$00 relativas à fauna costeira portuguesa e uma de 1000$00 em
prata comemorativa do centenário das Expedições Oceanográficas.
A moeda de 100$00 de autoria de Vítor Santos fez referência à fauna presente nas ilhas
Desertas do arquipélago da Madeira, nomeadamente a foca monge e a cagarra. A de 200$00
de José Simão fez homenagem aos golfinhos do estuário do Sado. Por fim a moeda de 1000$00
de autoria de Raul Machado apresentava vários elementos referentes às expedições
oceanográficas do rei D. Carlos I nomeadamente: uma representação do esqualo Odontaspis
nasutus, Bragança, duas espécies de tunídeos, estudados e descritos nessas expedições, o iate
Amélia (barco utilizado pelo rei português) e os bustos dos dois monarcas responsáveis pelas
expedições (D. Carlos I de Portugal e Alberto I do Mónaco). Em todas as moedas era visível o
símbolo da EXPO ’98. As moedas tiveram ainda emissões especiais em acabamento BNC e
proof. Os lucros obtidos nesta amoedação foi investido no desenvolvimento da EXPO ’98.
Foca monge
A foca-monge-do-mediterrâneo (Monachus monachus), também conhecida por lobo-marinho é
provavelmente o membro da família das focas mais ameaçado de extinção. Outrora espalhada
pelo Mediterrâneo e águas adjacentes, hoje estima-se que haja somente em torno de 400
indivíduos restantes desse mamífero marinho. A foca-monge constitui um dos géneros da
família dos focidas. Compreende a foca-monge-do-havai (Monachus schauinslandi), a focamonge-do-caribe (Monachus tropicalis), que entretanto foi considerada extinta, e, por último,
a foca-monge-do-mediterrânio (Monachus monachus).
É um animal robusto que pode atingir os 400 quilos e os 4
metros, no caso dos machos. As fêmeas são sempre mais
pequenas podendo atingir até 2,30 metros. Apresenta uma
coloração castanha-acinzentada, sendo que, nas partes
inferiores, apresentam manchas mais claras de cor amarelada
e esbranquiçada. Quanto mais velhas se tornam, mais clara é
a sua tonalidade, chegando a atingir a coloração prateada.
Quando submerge, as suas narinas paralelas fecham-se, impedindo, desta forma, a entrada de
água para os canais respiratórios. Debaixo de água, servem-se dos olhos para se guiarem, mas
também dos seus longos bigodes, órgãos do tacto extremamente sensíveis às mudanças de
pressão. As focas passam a maior parte do tempo dentro de água. Podem mesmo dormir no
mar, à superfície. Conseguem manter-se submersas por períodos que podem atingir os 12
minutos.
Embora realize a maior parte da sua actividade no mar, a foca depende da terra para repousar,
fazendo-o essencialmente em praias escondidas no interior de grutas. Alimenta-se de animais
que captura na água, como polvos e peixes de tamanho considerável, entre os quais se
encontram o mero (Epinephelus marginatus) e o congro (Conger conger). Ainda assim, além de
predadores, são também presas de outros predadores maiores como a orca (Orcinus orca) e os
114
Apontamentos: Escudo
tubarões. Porém, dado que estes animais não costumam aproximar-se das zonas costeiras,
constituem ameaças muito pontuais. Trata-se de um animal muito curioso, que facilmente se
aproxima do ser humano, especialmente quando jovem. No entanto, nas épocas de criação, as
fêmeas tornam-se muito ciosas das crias, tentando sempre afastá-las do Homem, podendo ter
reacções imprevistas e agressivas. Não possuem uma época própria para os nascimentos,
embora se verifique uma maior concentração destes nos períodos entre Outubro e Novembro.
A gestação demora entre 8 a 11 meses, ao fim dos quais nasce uma pequena cria indefesa,
coberta por uma pelugem lanosa de cor negra. As crias ficam entregues aos cuidados das
progenitoras por um período que pode ir de 1 a 2 anos, altura em que se apresentam mais
brincalhonas e despreocupadas. Estes animais podem viver cerca de 20 ou 30 anos no seu
estado selvagem.
Há relatos datados da primeira metade do século XV, descrevendo colónias de mais de 5000
indivíduos nas costas do actual Saara Ocidental. Os povos mediterrânicos, no passado,
atribuíram sempre uma grande importância à foca-monge, colocando-a sob a protecção
directa dos deuses, dotando-a de uma natureza parcialmente humana, evitando ao máximo
capturá-la.
O primeiro contacto português conhecido com as focas-monge data de 1419, quando João
Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira chegaram à Madeira. Nessa altura, os portugueses
descobriram um animal que lhes parecia estranho e deram-lhe o nome de Lobo-marinho, O
nome deveu-se, muito possivelmente à sua fisionomia e aos seus bigodes longos, embora
também seja verdade que esta foca é um predador muito eficiente. De qualquer forma, o local
onde este animal foi primariamente avistado é hoje conhecido pela designação Câmara de
Lobos, uma vez que esta localidade forma uma pequena baía em anfiteatro que no momento
da descoberta se encontrava apinhada destes simpáticos mamíferos.
O contacto com o ser humano foi logo prejudicial para a foca. Primeiro, foi perseguida para uso
dos seus despojos com fins comerciais; depois, sofreu com a actividade piscatória, que
competiu com a sua própria actividade de predação/alimentação e a empurrou cada vez mais
para fora das áreas onde antes habitava. Além disso, a actividade dos pescadores tornou-se
também nociva, quer pelo abate voluntário, quer pelo abate acidental com explosivos, ou pela
captura em redes de emalhar. Hoje em dia, os indivíduos sobreviventes desta exposição ao
contacto humano no arquipélago português concentram-se nas Desertas, conjunto de
pequenos ilhéus despovoados da Madeira, de origem vulcânica.
A principal característica que levou à fixação desta espécie neste espaço foi o da desertificação
humana que aqui se verifica. Embora tenham tentado colonizar estes ilhéus, os portugueses
abandonaram a empresa devido a factores, dos quais o relevo acidentado, principalmente
devido à acção marinha e eólica, e a ausência de água doce, foram os principais. De uma
população de 500 indivíduos distribuídos por todo o mundo, na Madeira podemos encontrar
23, numa colónia que se encontra em recuperação e na qual se regista uma taxa de natalidade
anual de 1 para 3.
Pelo menos desde 1982 que existe um cuidado especial em preservar a foca-monge das
Desertas. Esse cuidado tem vindo a ser prestado pelo Parque Natural da Madeira. Em 1988, a
protecção legislativa das Ilhas Desertas veio reforçar esse esforço de preservação, tendo sido
115
Apontamentos: Escudo
criado em 1995 a Reserva Natural das Ilhas Desertas. Durante a década de 80 e 90, o PNM
apostou na protecção da espécie in loco, na monitorização e estudo da colónia, na educação
ambiental, e no contacto directo com os pescadores do Funchal e do Machico. Em 1997, criouse nas Desertas uma Unidade de Reabilitação destinada a recuperar animais que corressem
risco por se encontrarem debilitados. A protecção das focas é levada a cabo por vigilantes da
natureza que patrulham as ilhas de bote.
Hoje em dia, a principal ameaça sobre estes mamíferos pode ser uma catástrofe inesperada,
tal como um derrame de crude. Isso, por si só, seria suficiente para dizimar a colónia. Ao longo
dos tempos a foca monge tem sofrido processos de adaptação ao meio que a rodeia, tendo
sido o convívio com o homem que se manifestou o mais nocivo na continuidade da espécie. De
tal modo o seu desaparecimento foi uma preocupação que, posteriormente, foram necessárias
medidas de protecção deste animal. Contudo a dependência que o homem tem dos outros
seres vivos, e a constante sensibilização para a preservação daquilo que poderia, um dia, deixar
de existir, manifestou-se em momentos de aprendizagem e de aceitação da amplitude e
importância da Natureza.
Cagarra
Cagarra é a designação comum dada às aves procelariformes do género Calonectris. Os seus
parentes mais próximos, dentro da família Procellariidae são as pardelas. As cagarras são aves
marinhas de corpo fusiforme e asas longas. A sua plumagem é escura (cinzenta ou
acastanhada) no dorso e branca na zona da barriga.
As cagarras são aves migratórias de longa distância, que passam a maior parte da vida voando
sobre os oceanos de águas temperadas a frias. O seu único contacto com terra é na época de
acasalamento, quando se reúnem em ilhas e áreas costeiras para nidificar em zonas rochosas.
O ninho é construído como uma espécie de toca e visitado pelos progenitores apenas durante a
noite. Cada postura é composta por um único ovo. A alimentação das cagarras é feita à base
de peixes e cefalópodes.
Nos arquipélagos portugueses (Madeira e Açores) encontramse a maior concentração mundial de cagarras, espécie que se
encontra em regressão a nível mundial devido à
vulnerabilidade que apresenta e à presença de predadores
terrestres e à actividade humana. Por esse facto foi necessário
proceder por via da lei à protecção desta ave marinha com leis
nacionais e internacionais, que impedem a sua captura,
detenção ou abate, assim como a destruição ou danificação
do seu habitat.
Trata-se da ave marinha mais abundante nos Açores, região a que regressa todos os anos em
Março para acasalar e nidificar. Todos os anos as cagarras regressam à mesma ilha e ao
mesmo ninho onde se reproduziram pela primeira vez. O parceiro é sempre o mesmo todos os
anos e os rituais de reconhecimento e acasalamento são complexos. As crias nascem em Maio
e em Outubro abandonam os ninhos rumo ao mar. Só regressam para se reproduzir passados 5
anos.
116
Apontamentos: Escudo
A cagarra alimenta-se, muitas vezes, em simultâneo com tunídeos ou golfinhos, já que estas
espécies fazem com que os animais de que se alimentam, nomeadamente peixe, lulas e
crustáceos, se aproximem da superfície. Trata-se de uma ave adaptada à vida em alto mar e
que pode viver até 40 anos.
Golfinho
Os golfinhos ou delfins são animais cetáceos pertencentes à família Delphinidae. São
perfeitamente adaptados para viver no ambiente aquático, sendo que existem 37 espécies
conhecidas de golfinhos dentre os de água salgada e água doce. A espécie mais comum é a
Delphinus delphis.
São nadadores privilegiados, às vezes, saltam até cinco
metros acima da água, podem nadar a uma velocidade de
até 40 km/h e mergulhar a grandes profundidades. A sua
alimentação consiste basicamente de peixes e lulas. Podem
viver de 25 a 30 anos e dão à luz um filhote de cada vez.
Vivem em grupos, são animais sociáveis, tanto entre eles,
como com outros animais e humanos.
Sua excelente inteligência é motivo de muitos estudos por parte dos cientistas. Em cativeiro é
possível treiná-los para executarem grande variedade de tarefas, algumas de grande
complexidade. São extremamente brincalhões, e nenhum animal, excepto o homem, tem uma
variedade tão grande de comportamentos que não estejam directamente ligados às
actividades biológicas básicas, como alimentação e reprodução.
Possuem o extraordinário sentido de eco localização ou biossonar ou ainda orientação por
ecos, que utilizam para nadar por entre obstáculos ou para caçar suas presas. Os predadores
dos golfinhos são os tubarões e principalmente o ser humano. Os pescadores de atuns,
costumam procurar golfinhos, que também os caçam, ocasião em que ocorre um mutualismo.
O golfinho encontra o cardume e os pescadores jogam as redes aprisionando os peixes e
deixam os golfinhos se alimentarem para depois puxarem as redes. Desse modo, ambas as
espécies beneficiam do alimento. Porém, muitas vezes, os golfinhos acabam se enroscando nas
redes, podendo morrer. O comprimento das redes, além do necessário, assim como a poluição,
também aumentam a predação.
Os golfinhos são caçadores e alimentam-se principalmente de peixes e lulas, mas alguns
preferem moluscos e camarões. Muitos deles caçam em grupo e procuram os grandes
cardumes de peixes. Cada espécie de peixe tem um ciclo anual de movimentos, e os golfinhos
acompanham esses cardumes e por vezes parecem saber onde interceptá-los, provavelmente
conseguem estas informações pelas excreções químicas dos peixes, presentes na urina e as
fezes.
O golfinho possui o extraordinário sentido da eco localização, trata-se de um sistema acústico
que lhe permite obter informações sobre outros animais e o ambiente, pois consegue produzir
sons de alta frequência ou ultra-sónicos, na faixa de 150 kHz, sob a forma de cliques ou
estalidos. Esses sons são gerados pelo ar inspirado e expirado através de um órgão existente no
alto da cabeça, os sacos nasais ou aéreos. Os sons provavelmente são controlados,
117
Apontamentos: Escudo
amplificados e enviados à frente através de uma ampola cheia de óleo situada na nuca ou
testa, o Melão, que dirige as ondas sonoras em feixe à frente, para o ambiente aquático. Esse
ambiente favorece muito esse sentido, pois o som propaga-se na água cinco vezes mais rápido
do que no ar.
A frequência desses estalidos é mais alta que a dos sons usados para comunicações e é
diferente para cada espécie. Quando o som atinge um objecto ou presa, parte é reflectida de
volta na forma de eco e é captado por um grande órgão adiposo ou tecido especial no seu
maxilar inferior ou mandíbula, sendo os sons transmitidos ao ouvido interno ou médio e daí
para o cérebro. Grande parte do cérebro está envolvida no processamento e na interpretação
dessas informações acústicas geradas pela eco localização. Assim que o eco é recebido, o
golfinho gera outro estalido. Quanto mais perto está do objecto que examina, mais rápido é o
eco e com mais frequência os estalidos são emitidos. O lapso temporal entre os estalidos
permite ao golfinho identificar a distância que o separa do objecto ou presa em movimento.
Pela continuidade deste processo, o golfinho consegue segui-los, sendo capaz de o fazer num
ambiente com ruídos, de assobiar e ecoar ao mesmo tempo e pode ecoar diferentes objectos
simultaneamente. A eco localização dos golfinhos, além de permitir saber a distância do
objecto e se o mesmo está em movimento ou não, permite saber a textura, a densidade e o
tamanho do objecto ou presa. Esses factores tornam a eco localização do golfinho muito
superior a qualquer sonar electrónico inventado pelo ser humano. A temperatura dele varia
com a da água 28 a 30 °C.
Os golfinhos por serem mamíferos e apresentarem respiração pulmonar devem
constantemente realizar a hematose a partir do oxigénio presente na atmosfera, tal fato
obriga os golfinhos e muitos outros animais aquáticos dotados de respiração pulmonar a
subirem constantemente à superfície. Uma das consequências desta condição é o sono
baseado no princípio da alternação dos hemisférios cerebrais no qual somente um hemisfério
cerebral se torna inconsciente enquanto o outro hemisfério permanece consciente, capacitando
a obtenção do oxigénio da superfície.
Em Portugal são conhecidas colónias de golfinhos no estuário do Sado, sendo que existiam
também no estuário do Tejo, estando desaparecidos do mar da Palha devido à poluição.
Existem várias colónias ao largo dos Açores.
Expedições Oceanográficas
O rei D. Carlos I (1863-1908), era uma pessoa bastante
inteligente e sensível. Além de revelar grande interesse por
todos os aspectos humanísticos, era um naturalista
competente e um pintor e desenhador talentoso, o que está
amplamente demonstrado nos desenhos com que ilustrou os
seus trabalhos de oceanografia. Como ele próprio confessou
em várias cartas, desde criança que tinha uma paixão pelo
mar. Esta paixão, aliada a um grande orgulho nacional, levou-o a tentar que as águas
portuguesas fossem estudadas por cientistas portugueses a bordo de navios oceanográficos
portugueses. Esta vontade está expressa em diversos escritos seus, nomeadamente no que foi
publicado em 1987, em que relata a primeira campanha que efectuou, e em que refere que "no
118
Apontamentos: Escudo
dia 1 de Setembro de 1896 tivemos o prazer de iniciar o primeiro cruzeiro ocenográfico
nacional nos mares de Portugal".
Como refere Saldanha (1997), todos os factores eram, na realidade, favoráveis a D. Carlos: era
naturalista, artista e marinheiro, podia despender verbas significativas, e tinha um iate. Além
disso, as águas próximas de Cascais, de Lisboa, de Sesimbra e de Setúbal ofereciam um campo
alargado para a prospecção. Não só aí existiam estuários e plataformas continentais como, o
que ainda era mais interessante, havia canhões submarinos profundos próximo da costa.
Além disso, na sua juventude o futuro rei foi certamente
influenciado por vários acontecimentos de grande relevância
para o desenvolvimento da oceanografia, designadamente o
trabalho de Barboza du Bocage e os cruzeiros científicos que
decorreram em águas portuguesas na sequência das suas
descobertas, a visita do H.M.S. Challenger a Lisboa no início da
sua viagem de circum-navegação, e a visita a Portugal do
Príncipe Alberto do Mónaco no seu novo iate Hirondelle, que
posteriormente utilizou numa série de longos cruzeiros
oceanográficos.
Não há quaisquer evidências do envolvimento do futuro rei na visita que o Príncipe Alberto do
Mónaco fez a Lisboa com o seu primeiro iate apelidado de Hirondelle, que tinha adquirido
algumas semanas antes. No entanto, os dois futuros soberanos encontraram-se seis anos mais
tarde quando o Hirondelle aportou novamente a Lisboa no regresso de um cruzeiro no
Atlântico em que visitou as Canárias, a Madeira e os Açores. Embora Alberto, nesta altura, não
tivesse ainda iniciado seriamente os seus cruzeiros científicos (que só se iniciaram em 1884,
incentivados pelo sucesso da campanha do Challenger), parece terem-se estabelecido entre os
dois relações de amizade duradoura que inquestionavelmente influenciaram D. Carlos, o que
está vastamente atestado pela abundante correspondência que trocaram.Por certo que um dos
maiores estímulos para a actividade oceanográfica de D. Carlos foi a descoberta, em 1896, por
Alberto do Mónaco, do Banco da Princesa Alice, a sul dos Açores, e do potencial pesqueiro que
este acidente fisiográfico representava.
Os cruzeiros oceanográficos de D. Carlos decorreram entre 1896 e 1907. Inicialmente estavam
focalizados na região de Lisboa Setúbal mas, mais tarde, foram alargados para a região do
Algarve, principalmente para desenvolver trabalhos sobre o atum.
Como meio naval principal para as suas expedições oceanográficas, Carlos de Bragança
utilizou, sucessivamente, 4 iates de recreio (os iates reais) adaptados para trabalhos de
oceanografia, todos eles baptizados com o nome de "Amélia", em homenagem à rainha. À
medida que a experiência do rei ia aumentando, este ia constatando deficiências no navio
utilizado e, sucessivamente, foi-os substituindo por outros com mais possibilidades. Um dos
parâmetros mais importantes para os trabalhos em mar aberto é o comprimento do meio
naval utilizado. Assim, e no sentido de ampliar as possibilidades de trabalho, o primeiro yatch
Amélia, que tinha 35 metros de comprimento, foi substituído pelo segundo yatch Amélia, com
45 metros, posteriormente pelo terceiro yatch Amélia, que tinha 55 metros e, finalmente, pelo
quarto yatch Amélia, com 70 metros de comprimento.
É interessante verificar que o navio utilizado nos cruzeiros científicos do rei D. Carlos entre 1901
e 1907 era ligeiramente maior do que o maior navio de investigação actualmente em utilização
em Portugal. Deve referir-se, também, que após a implantação da República, em 1910, o
119
Apontamentos: Escudo
quarto yatch Amélia foi nacionalizado e rebaptizado com o nome de Aviso 5 de Outubro, tendo
desenvolvido intenso trabalho de investigação ao serviço do País, designadamente nos
cruzeiros que culminaram com a publicação das Cartas Litológicas Submarinas.
Nos trabalhos desenvolvidos por D. Carlos depreende-se grande preocupação com a pesca
comercial. Essa preocupação está nomeadamente expressa num Decreto Real datado de 17 de
Agosto de 1901, em que, pela primeira vez, se explicita a necessidade de elaboração de cartas
de pescas. No entanto, este monarca oceanógrafo revelou ser dotado de espírito científico
apurado, preocupando-se com a caracterização do sistema ecológico nas suas diferentes
vertentes (física, biológica, geológica, química) designadamente como forma de obter
respostas para a problemática das pescas. Assim, a determinação dos valores dos parâmetros
físicos (em especial a temperatura) foi sistematicamente contemplada nas campanhas que
realizou, tendo mesmo lançado flutuadores derivantes para obter dados sobre as correntes. Os
sedimentos de fundo foram, também, contemplados nos seus estudos.
Tirando partido da existência de grandes fundos junto à costa relativamente próximo de
Lisboa, D. Carlos interessou-se bastante pelo canhão submarino de Setúbal, tendo produzido a
primeira carta batimétrica deste notável vale submarino. A notável actividade científica de
Carlos de Bragança no âmbito da oceanografia foi súbita e dramaticamente interrompida com
o regicídio de 1908.
Ficha Técnica
Peso: 8,3 g
Diâmetro: 25 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos (dez) e serrilhados(doze)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: Vítor Santos
Decreto: 171/97 de 08/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
1 000 000
Código
137.01
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: José Simão
Decreto: 171/97 de 08/07/1997
Ano
1997
120
Cunhagem
1 000 000
Código
142.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Raul Machado
Decreto: 171/97 de 08/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
520 000
Código
160.01
8.ª Série dos Descobrimentos: A
Missionação Cristã
A legislação associada à emissão da 8.ª Série dos Descobrimentos relativa à Missionação Cristã, a qual foi
publicada em decreto-lei 194/97 de 30 de Julho durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Em continuação do programa monetário e numismático dedicado aos Descobrimentos
Portugueses, a 8.ª série destas moedas comemorativas foi alusiva à Missionação durante essa
época. A chegada dos Portugueses aos mares da Ásia e América nos séculos XV e XVI teve
decerto motivações económicas e político-estratégicas, mas possuiu também, sem dúvida,
uma importante componente religiosa, expressa inicialmente pelo desejo e pela convicção do
encontro, nalgumas regiões, com numerosas comunidades de cristãos ali existentes. Embora
essa expectativa tenha sido em larga medida frustrada, a acção evangelizadora das gentes
asiáticas iniciou-se de imediato, com espírito ecuménico umas vezes, de forma conflituosa
outras, mas em geral reflectindo a possibilidade do diálogo cultural. Porventura mais activa
depois da década de 1540, coincidindo com a chegada da Companhia de Jesus ao Oriente, a
acção missionária do Padroado Régio Português revestiu-se de inegável importância histórica,
que merece ser estudada, no plano global dos encontros (e desencontros) culturais do
Ocidente com o Oriente e as suas culturas e religiões no século XVI.
Considerou-se, assim, oportuna a emissão de uma série de moedas comemorativas alusivas a
São Francisco de Xavier (1506), ao padre Luís Fróis (1532), ao beato José de Anchieta (1534) e
ao irmão Bento de Góis (1562), no âmbito das comemorações nacionais dos Descobrimentos
121
Apontamentos: Escudo
Portugueses. Esta série cunhada em cuproníquel com o valor de 200$00 teve autoria de: Raul
Machado (S. Francisco Xavier), Isabel Carriço e Fernando Branco (Padre Luís Fróis), Eloisa Byrne
(Beato José de Anchieta) e António Marinho (Irmão Bento de Góis). Esta emissão teve ainda
emissões especiais em prata BNC, prata e ouro proof, para além da emissão prestigio (quatro
moedas, quatro metais).
Ao contrário do habitual, apenas a moeda relativa a S. Francisco Xavier apresentava motivos
marítimos: representação do milagre de S. Francisco Xavier a acalmar a tempestade ao tocar
na água, após ser descido do navio pelos companheiros. As restantes moedas apresentavam
motivos associados às vidas de cada um dos missionários: figura de S. Francisco Xavier de
acordo com retrato de pintor japonês anónimo (século XVII), presente em Kobe e emblema da
Ordem dos Jesuítas (S. Francisco Xavier); representação de motivos presentes na arte Namban
e de jesuíta a conversar com nobre japonês em alusão à primeira história do Japão escrita por
Luís Fróis, assinatura de Luís Fróis (Padre Luís Fróis); representação do mapa da América do Sul
com índio Tupo, cabana de fundação de São Paulo e elemento da flora com o Rio de Janeiro no
horizonte e de retrato de José de Anchieta junto ao lema dos Jesuítas “Ad majorem Dei
gloriam” (Beato José de Anchieta); representação cartográfica da China e efígie de Bento de
Góis (Bento de Góis).
São Francisco de Xavier
São Francisco de Xavier, nascido Francisco de Jaso y Azpilicueta,
(Xavier, 7 de Abril de 1506 – Sanchoão, 3 de Dezembro de 1552) foi
um missionário cristão do padroado português e apóstolo navarro.
Pioneiro e co-fundador da Companhia de Jesus, a Igreja Católica
Romana considera que tenha convertido mais pessoas ao
Cristianismo do que qualquer outro missionário desde São Paulo,
merecendo o epíteto de "Apóstolo do Oriente". É o padroeiro dos
missionários e também um dos padroeiros da Diocese de Macau.
Nasceu no castelo da família em Xavier, no Reino de Navarra, a 7 de Abril de 1506, segundo o
registo mantido pela sua família. Filho de famílias aristocráticas navarras era o filho mais novo
de Juan de Jasso (conselheiro da corte do rei João III de Navarra) e de Maria de Azpilicueta y
Xavier, única herdeira de duas famílias nobres de Navarra. Seguindo a tradição basca de
atribuição do sobrenome, foi baptizado herdando o nome de sua mãe, de Xavier. O seu nome é
correctamente escrito Francisco de Xavier e não Francisco Xavier, já que Xavier provém do
nome da terra da qual a família é originária.
O pai de Francisco morrera quando este tinha apenas nove anos e sua mãe, querendo que o
filho estudasse, procurara enviá-lo para a universidade. No entanto, apesar das boas
universidades castelhanas, como a de Salamanca e a de Alcalá, a mãe de Francisco não
desejara naturalmente instruí-lo nas escolas do invasor, pelo que, aos catorze anos, o enviara
para o Colégio de Santa Bárbara, em Paris, dirigido pelo português Diogo de Gouveia.
No Colégio de Santa Bárbara, Francisco de Xavier foi preparado para prestar provas de
admissão à universidade, completando estudos em filosofia, literatura e humanidades. É ainda
aqui, que aprende a dominar as línguas francesa, italiana e alemã. É lá que vive todo o período
122
Apontamentos: Escudo
que passa em Paris, primeiro como aluno e mais tarde como professor de filosofia do Colégio
de Beauvais. Consta que terá feito grande sucesso entre os colegas por ser um rapaz muito
inteligente, de espírito vivo e conversa fácil, bem constituído e bonito. É neste período que tem
como colegas de quarto o francês Le Fèvre e o basco Inácio de Loyola, que dão ao seu grupo o
nome de Societas Jesus, latim para Sociedade de Jesus, que mais tarde se viria a tornar a
Companhia de Jesus. É no ano de 1534 que este grupo de devotos amigos, com mais quatro
companheiros: Alfonso Salmeron, Diego Laynez, Nicolau Bobedilla e o português Simão
Rodrigues, fundam a Companhia de Jesus, congregação religiosa destinada ao ensino, à
conversão e à caridade. Fazem voto de pobreza e pedem ao Papa que os reconheça
oficialmente.
Enquanto anseia o reconhecimento do Papa, que só acontecerá em 1541, o grupo parte para
Veneza com o objectivo de alcançar a Terra Santa. É aí, a 24 de Junho de 1537, que Francisco
de Xavier é ordenado padre. Não chegando a pisar a Terra Santa em virtude da guerra entre
venezianos e turcos, o grupo parte para Roma, onde Francisco serve por um breve período.
Em Roma, Francisco de Xavier sente-se muito abalado pela conquista do Reino de Navarra pelo
Reino de Castela. É nesse momento que D. João III, depois dos sucessivos apelos ao Papa Paulo
III para que este lhe envie missionários para espalhar a fé cristã pelos territórios descobertos
pelos portugueses, é aconselhado entusiasticamente pelo director do Colégio de Santa
Bárbara, Diogo de Gouveia, a chamar para o Reino de Portugal os jovens cultos e inteligentes
da Companhia de Jesus, que este lhe recomenda. D. João III pede assim ao embaixador de
Portugal em Roma que sonde o grupo e é aí que Francisco de Xavier descobre um caminho para
pôr em prática a sua vocação missionária. É escolhido por Inácio de Loyola e chega a Portugal
em 1540.
Francisco de Xavier parte de Lisboa para a Índia no ano seguinte, a 7 de Abril, acompanhado de
outros dois jesuítas, Francisco de Mansila e Paulo Camarate. Partem a bordo da nau Santiago,
onde viajava Martim Afonso de Sousa, que ia tomar posse do cargo de governador na Índia.
Em Agosto ancoraram junto da ilha de Moçambique. Nessa altura do ano, os ventos adversos
impediram a continuação regular da viagem, tendo a nau invernado ali durante seis meses.
Francisco dedicou o seu tempo ao auxílio e tratamento dos doentes. Tendo-se feito de novo ao
mar, a nau voltou a aportar em Melinde. Aí, Francisco de Xavier conseguiu de imediato
converter alguns africanos, e desejou por força lá permanecer, ao que não foi autorizado por
Martim Afonso de Sousa, por essa decisão ser contrária às instruções do Rei.
A nau Santiago ancorou em Goa, a então capital do Estado Português da Índia, a 6 de Maio de
1542. Sabe-se, através das cartas a Inácio de Loyola, que as primeiras impressões de Francisco
Xavier sobre Goa foram muito favoráveis, tendo ficado entusiasmado com a quantidade de
indianos que falava português, com a quantidade de igrejas e de convertidos. No entanto, à
medida que foi conhecendo melhor a cidade, apercebeu-se de que muitos dos convertidos
praticavam ainda paralelamente cultos hindus e que muitos portugueses davam também mau
exemplo, defendendo as virtudes cristãs mas não as praticando. Estrategicamente, decidiu
assim dedicar-se numa primeira fase a reencaminhar os portugueses para a verdadeira fé,
tendo só posteriormente iniciado o seu trabalho de conversão. Quando iniciou as conversões,
dedicou-se primeiramente às crianças e só depois aos adultos. Todo o tempo que lhe sobrava
123
Apontamentos: Escudo
era dedicado a visitar as prisões, a tratar dos doentes no Hospital Real e dos leprosos no
Hospital de São Lázaro. É aí que começa a escrever um catecismo que veio a ser traduzido para
várias línguas asiáticas.
A 20 de Setembro de 1543, parte na sua primeira acção missionária para a costa a que os
portugueses chamavam “Costa de Pescaria”, na costa este do Sul da Índia, a norte do Cabo
Comorim, território dos Paravás. Nesta região, a prática da pesca era muito popular, prática
essa que não era bem encarada pela religião hindu, que reprova a morte de animais. Os
pescadores da região foram, portanto, muito receptivos à religião cristã, que não os criticava
pela profissão que levavam, usava um peixe como um dos seus símbolos e cujos primeiros
apóstolos eram pescadores de peixe tornados “pescadores de homens”. Ficou a viver numa
gruta nas rochas junto ao mar em Manapad, catequizando as crianças Paravás intensivamente
durante três meses em 1544. Concentrou-se então em converter o rei de Travancore ao
Cristianismo, tendo visitando também o Ceilão. Insatisfeito com os resultados da sua
actividade, partiu ainda mais para oriente em 1545, planeando uma viagem missionária a
Macáçar, na ilha de Celebes.
Em Outubro, aportou em Malaca. Tendo sido forçado a esperar três meses por um barco para
Macáçar, desistiu desse objectivo e partiu de Malaca a 1 de Janeiro de 1546 para as ilhas de
Amboino, onde permaneceu até meados de Junho. Visitou, depois, outras das ilhas Molucas,
incluindo Ternate e Morotai. Pouco depois da Páscoa de 1546, regressou às ilhas de Amboino e,
posteriormente, a Malaca.
Nesse período, frustrado pelas elites de Goa, São Francisco escreve a D. João III de Portugal
pedindo que fosse instalada em Goa uma Inquisição. Esta Inquisição, à qual o rei se mostrou
resistente, como se mostrara à sua presença em Lisboa, viria a ser instalada oito anos após a
morte de Francisco de Xavier.
O trabalho de Francisco de Xavier inaugurou mudanças permanentes nas ilhas que configuram
a Indonésia Oriental, tendo-se tornado conhecido como o “Apóstolo das Índias” quando, entre
1546-47, trabalhou nas ilhas Molucas, cavando os alicerces para uma missão permanente.
Em Dezembro de 1547, em Malaca, Francisco de Xavier conhece o aventureiro e futuro escritor
Fernão Mendes Pinto, que regressava do Japão e trazia consigo um nobre japonês de nome
Angiró, natural de Kagoshima. Angiró ouvira falar de Francisco em 1545 e viajara de
Kagoshima para Malaca com o propósito de o conhecer. Angiró tinha sido acusado de
assassínio e fugira do Japão. Abriu o seu coração a Francisco, confessando-lhe a vida que
levara até ali, mas também os costumes e cultura da sua amada terra natal. Angiró é
baptizado por Francisco Xavier e adopta o nome português de Paulo de Santa Fé. Angiró era
samurai e, como tal, tornar-se-ia um valiosíssimo mediador e tradutor para uma missão ao
Japão que assim se tornava cada vez mais próxima da realidade.
Regressado à Índia em Janeiro de 1548, passa os quinze meses seguintes com variadas viagens
e tomando medidas administrativas na Índia. Devido ao que considerou um estilo de vida nãocristão por parte de muitos portugueses, que lhe impedia o trabalho missionário, viajou para o
sudeste. Partiu de Goa a 15 de Abril de 1549, parou em Malaca e visitou Cantão, na China.
124
Apontamentos: Escudo
Foi acompanhado por Angiró, pelo padre Cosme de Torres, pelo irmão João Fernandes e por
outros dois homens japoneses que estudaram em Goa para servirem de intérpretes. Levou
também consigo inúmeros presentes para o “rei do Japão”, já que tencionava apresentar-se
perante ele como representante da cristandade. Alcançaram o Japão a 27 de Julho de 1549,
mas só a 15 de Agosto é que foram autorizados a aportar em Kagoshima, o principal porto da
província de Satsuma, na ilha de Kiushu.
Foi recebido amigavelmente e ficou hospedado pela família de Angiró até Outubro de 1550.
Entre Outubro e Dezembro desse ano, residiu em Yamaguchi. Pouco antes do Natal, partiu para
Kyoto, mas não conseguiu autorização para visitar o imperador. Regressou a Yamaguchi em
Março de 1551, onde o Daimio daquela província o autorizou a pregar. Contudo, faltando-lhe a
fluência na língua japonesa, teve de se limitar a ler alto a tradução do catecismo feita com
Angiró. Francisco teve um forte impacto no Japão, tendo sido o primeiro jesuíta a lá ir em
missão. Levou com ele pinturas da Virgem Maria e da Virgem com Jesus. Estas pinturas
ajudaram-no a explicar o Cristianismo aos japoneses, já que a barreira de comunicação era
enorme, visto o japonês ser uma língua diferente de todas as que os missionários tinham até aí
encontrado. Xavier foi bem acolhido pelos monges da escola de Shingon, por ter usado a
palavra “Dainichi” para descrever o Deus Cristão. Depois de ter aprendido mais sobre as
nuances da palavra, Francisco pasou a usar a palavra “Deusu”, da palavra latina e portuguesa
“Deus”. Foi nesse momento que os monges se aperceberam que ele pregava uma religião rival.
No entanto, Francisco sempre respeitou o povo que o acolheu, tendo aprendido japonês,
deixado de comer carne e peixe, e cumprimentava os senhores com vénias profundas, tendo
chegado em algumas circunstâncias a vestir-se com trajes japoneses, tudo para ser melhor
aceite. Com a passagem do tempo, a missão de Francisco Xavier no Japão pôde ser
considerada muito frutuosa, tendo conseguido estabelecer congregações em Hirado,
Yamaguchi e Bungo. Xavier continuou a trabalhar durante mais de dois anos no Japão, tendo
escrito um livro em japonês sobre a criação do mundo e a vida de Cristo, até a chegada dos
jesuítas que o vieram suceder, cujo estabelecimento supervisionou.
É aí que decide regressar à Índia. Nessa viagem, uma tempestade força-o a parar numa ilha
perto de Cantão, na China, onde já estivera. Encontra assim, o rico mercador Diogo Pereira, um
velho amigo de Cochim, que lhe mostra uma carta proveniente de portugueses mantidos
prisioneiros em Cantão, pedindo um embaixador português que intercedesse a seu favor junto
do Imperador.
Mais tarde durante a viagem, pára de novo em Malaca a 27 de Dezembro de 1551 e segue em
17 de Abril com Diego Pereira a bordo da nau Santa Cruz, a caminho da China. Apresenta-se
como representante da cristandade e Pereira como embaixador do Rei de Portugal.
É pouco depois que se apercebe que se esquecera das suas certidões que o confirmavam como
representante da Igreja Católica na Ásia. De novo em Malaca, é confrontado pelo Capitão
Álvaro de Ataíde de Gama que tinha agora controlo total do porto e se recusa a reconhecê-lo
como representante da Igreja Católica e que exige a Pereira que resigne ao seu título de
embaixador. O Capitão nomeia então uma nova tripulação para a nau e ordena que os
presentes para o Imperador sejam deixados em Malaca.
125
Apontamentos: Escudo
De volta a Goa, Xavier não baixou os braços, ocupando-se em enviar para várias regiões da
Índia os muitos grupos de novos jesuítas recém-chegados à Índia, com o objectivo de fundarem
missões. Ocupou-se também com a direcção do Colégio de São Paulo em Goa, que formava
catequistas e padres asiáticos, promovendo ainda a tradução de livros religiosos para as
línguas locais.
Apesar da intensa actividade, Francisco Xavier acalentava o sonho de ir missionar na China,
onde era proibida a entrada de estrangeiros. Parte a 14 de Abril de 1552, convencido de que
conseguiria infiltrar-se secretamente e cativar chineses para o cristianismo.
Desembarcou na ilha de Sanchoão e, quando se encontrava em negociações com um mercador
chinês que prometera levá-lo consigo, foi atacado por febres violentas. Morre a 3 de Dezembro
de 1552, numa humilde esteira de vimes, abraçado ao crucifixo oferecido por Inácio.
Foi primeiramente sepultado em Sanchoão, mas, em Fevereiro de 1553, os seus restos mortais,
encontrados incorruptos, foram transportados da ilha e, temporariamente, sepultados na
Igreja de São Paulo em Malaca. Depois de 15 de Abril de 1553, Diogo Pereira vem de Goa,
remove o corpo de Xavier e leva-o para sua casa. É a 11 de Dezembro desse ano que o corpo de
Xavier é levado para Goa. O seu corpo está hoje na Basílica do Bom Jesus de Goa, onde o seu
corpo foi colocado numa caixa de vidro e prata, a 2 de Dezembro de 1637, e se tornou lugar de
peregrinação. Um osso do corpo de Xavier foi levado para Macau, onde é mantido num
relicário de prata. Esta relíquia destinava-se ao Japão, mas a perseguição religiosa na região
levou a que fosse mantida nas ruínas da Igreja da Madre de Deus em Macau, hoje conhecida
como Ruínas de São Paulo. Hoje em dia, é na Igreja de S. José, em Macau, que está depositada
essa relíquia sagrada de Francisco Xavier. Foi beatificado pelo Papa Paulo V a 25 de Outubro de
1619 e canonizado pelo Papa Gregório XV, a 12 de Março de 1622, em simultâneo com Inácio
de Loyola. É o santo patrono dos missionários. O seu dia festivo é 3 de Dezembro.
Padre Luís Fróis
Nasceu em Lisboa em 1532 no seio de uma família ligada à
nobreza da corte do Rei D. João III, aos 16 anos, e depois de
concluir os seus estudos na área de humanidades, efectua
uma breve passagem na corte e em 1548 entra para a
Companhia de Jesus. Após dois meses de noviciado, embarca
em Lisboa a 17 de Março do mesmo ano, numa viagem para
a Índia, sem nunca mais voltar ao seu país natal. Chega à
cidade de Goa a 9 de Outrubro de 1548. Entre 1548 a 1561
inicia os seus estudos no Colégio de S. Paulo. Já nessa altura se distingue pela forma como
descreve pormenorizadamente as actividades dos missionários em Goa e Malaca. Foi ordenado
padre em 1561. É também em Goa que viria a ter diversos encontros com Francisco Xavier o
último dos quais em 1554, que iram marcar profundamente toda a sua vida. Parte para Macau
em 1562 e dali inicia a sua viagem para o Japão, como missionário da Companhia de Jesus em
1563. Chega ao Japão, fixando-se em Yokoseura, (localizada na actual Prefeitura de Nagasaki)
no período de apogeu da missão jesuíta no Japão e um mês após o baptismo do primeiro
dáimio japonês, (Bartolomeu) Omura Sumitada. Ali começa a escrever uma longa série de
cartas, e variadíssimas relações e tratados, nos quais descreve em detalhe as actividades dos
126
Apontamentos: Escudo
padres e da Missão. O valor histórico destas cartas é inestimável, são os documentos que se
conhecem com mais detalhe sobre a vida quotidiana dos missionários no Japão. A análise de
alguns desses textos permite reconstituir as principais atitudes que o jesuíta tomou face à
cultura japonesa, clarificando, de passagem, aspectos do diálogo civilizacional que portugueses
e asiáticos travaram na segunda metade de Quinhentos.
Luís Fróis assistiu à destruição de Yokoseura, e refugiou-se mais tarde na ilha de Takushima, no
pequeno arquipélago de Hirado, onde inicia os seus estudos de língua japonesa que lhe
permitiram mais tarde estabelecer contactos importantes junto de personalidades influentes,
nomeadamente em Kyoto, (á época a nova capital do Japão) a onde chega em 1565. Após a
sua chegada a Kyoto conheceu o Xogun Ashikaga Yoshiteru, e privou mais tarde com Oda
Nobunaga, (o Xogun que iniciou o processo de centralização e unificação do poder no Japão e
pôs fim a um longo período de guerra civil) tendo em 1569, inclusivamente permanecido por
um breve período de tempo na residência privada de Nobunaga em Gifu, enquanto escrevia os
seus livros.
Em 1577, passa pelo reino de Bungo, (actual prefeitura de Oita), durante esse período o dáimio
local, Otomosorin, converteu-se e é baptizado com o nome, Francisco de Bungo. Mais tarde em
1581, Fróis foi novamente chamado a Nagasaki, como secretário do Vice-Provincial, o Padre
Gaspar Coelho. Nessa altura e a pedido de Alexandre Valignano, iniciou a sua Historia de
Japam, a qual é ainda hoje uma fonte importante para os estudiosos da história do Japão e da
missão jesuíta entre 1549 a 1593. Luís Fróis acompanha o Padre Gaspar Coelho, como
intérprete, na importante visita efectuada em 1586 ao novo líder do Japão, o Xogun Toyotomi
Hideyoshi, que precede a emissão do decreto de expulsão de todos os missionários no Japão,
editado no ano de 1587. Hideyoshi considerava a missão envagelizadora do missionários
jesuítas um entrave à reunificação politica do País. Após a expulsão dos religiosos por parte das
autoridades japonesas, Luís Froís continua a desenvolver o seu trabalho como missionário na
clandestinidade e consagrou a maior parte do seu tempo à redacção do manuscrito da sua
História do Japão
Em 1592, e a pedido do Padre Alexandre Valignano, viaja como seu secretário para Macau, a
onde termina o relato da organização da viagem de uma embaixada japonesa a Roma iniciada
em 1582, composta por 4 jovens, que chegou a Lisboa em 1584. Nessa altura dá por concluída
a sua História do Japão, episódio documentado numa carta enviada ao Padre Acquaviva. Mas
o seu estilo de escrita não agrada a Valignano; o qual critica severamente muitos dos aspectos
de uma obra que é considerada actualmente como referência indispensável a todos os
estudiosos da História do Japão. Todo o trabalho que desenvolveu teve como base a sua
experiência pessoal. É um testemunho directo e de certa forma autobiográfico desse momento
histórico do Japão e da presença missionária da Companhia de Jesus.
O seu estado de saúde fragiliza-se, Luís Fróis receia que o seu manuscrito se perca em Macau e
para que a sua História do Japão fosse salva, decide fazer o sacrifício e volta doente e exausto
no ano de 1595 a Nagasaki. Na última fase da sua vida deixa-nos os escritos, talvez da sua
melhor obra, a onde mais uma vez demonstra o seu profundo conhecimento pela cultura
japonesa, o relato da morte dos 26 mártires de Nagasaki de 15 de Março de 1597. O texto foi
enviado passando pelas Filipinas, escapando assim á censura do padre Valignano; mas assim
que este tomou conhecimento da acção, solicitou a Roma o arquivo do referido documento,
127
Apontamentos: Escudo
que apenas foi publicado em 1935. Luis Froís acabou por morrer no Colégio de São Paulo em
Nagasaki, em 8 de Julho de 1597.
Beato José de Anchieta
Beato José de Anchieta, natural de San Cristóbal de La Laguna (1534), falecido em Iriritiba em
1597. Foi um padre jesuíta espanhol, um dos fundadores da cidade de São Paulo e declarado
beato pelo Papa João Paulo II. É cognominado de Apóstolo do Brasil.
Nascido na ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, era filho
de Juán López de Anchieta, um revolucionário que tomou parte na
revolta dos Comuneros contra o Imperador Carlos V na Espanha e
um grande devoto da Virgem Maria. Descendia da nobre família
basca Anchieta (Antxeta). Sua mãe chamava-se Mência Dias de
Clavijo e Larena, natural das Ilhas Canárias, filha de judeus
cristãos-novos. O avô materno, Sebastião de Larena, era um judeu
convertido do Reino de Castela.
Anchieta viveu com a família até aos catorze anos de idade,
quando se mudou para Coimbra, onde estudou Filosofia no Colégio das Artes, anexo à
Universidade de Coimbra. A ascendência judaica foi determinante para que o enviassem para
estudar em Portugal, uma vez que na Espanha, à época, a Inquisição era mais rigorosa.
Ingressou na Companhia de Jesus em 1551 como irmão.
Tendo o padre Manuel da Nóbrega, Provincial dos Jesuítas no Brasil, solicitado mais braços
para a actividade de evangelização do Brasil (mesmo os fracos de engenho e os doentes do
corpo), o Provincial da Ordem, Simão Rodrigues, indicou, entre outros, José de Anchieta.
Anchieta, que padecia de "espinhela caída", chegou ao Brasil em 13 de Junho de 1553, com
menos de 20 anos de idade, com outros padres como o basco João de Azpilcueta Navarro.
Noviço veio na armada de Duarte Góis e só mais tarde conheceria Manuel da Nóbrega, de
quem se tornaria particular amigo.
Nóbrega deu-lhe a incumbência de continuar a construção do Colégio e foi a partir deste que
Anchieta abriu os caminhos do sertão, aprendendo a língua tupi e compondo a primeira
gramática desta que, na América Portuguesa, seria chamada de "língua geral".
No seguimento da sua acção missionária, participou da fundação, no planalto de Piratininga,
do Colégio de São Paulo, do qual foi regente, embrião da cidade de São Paulo, junto com outros
padres da Companhia, em 25 de Janeiro de 1554. Esta povoação contava, no primeiro ano da
sua existência com 130 pessoas, das quais 36 haviam recebido o baptismo.
O religioso cuidava não apenas de educar e catequizar os indígenas, como também de defendêlos dos abusos dos colonizadores portugueses que queriam não raro escravizá-los e tomar-lhes
as mulheres e filhos. Esteve em Itanhaém e Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, na quaresma
que antecedeu a sua ida à aldeia de Iperoig, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, em
missão de preparo para o Armistício com os Tupinambás de Ubatuba (Armistício de Iperoig).
128
Apontamentos: Escudo
Nesse período, intermediou as negociações entre os portugueses e os indígenas reunidos na
Confederação dos Tamoios, oferecendo-se Anchieta como refém dos Tamoios em Iperoig,
enquanto o padre Manuel da Nóbrega retornou a São Vicente juntamente com Cunhambebe
(filho) para ultimar as negociações de paz e ntre os indígenas e os portugueses. Durante este
tempo em que passou entre os gentios compôs o "Poema à Virgem". Segundo uma tradição,
teria escrito nas areias da praia e memorizado o poema, e apenas mais tarde, em São Vicente,
o teria trasladado para o papel. Ainda segundo a tradição, foi
também durante o cativeiro que Anchieta teria em tese
"levitado" entre os indígenas, os quais, imbuídos de grande
pavor, pensavam tratar-se de um feiticeiro. Lutou contra os
franceses estabelecidos na França Antártica na baía da
Guanabara; foi companheiro de Estácio de Sá, a quem
assistiu em seus últimos momentos (1567).
Em 1566 foi enviado à Capitania da Bahia com o encargo de informar ao governador Mem de
Sá do andamento da guerra contra os franceses, possibilitando o envio de reforços portugueses
ao Rio de Janeiro. Por esta época foi ordenado sacerdote aos 32 anos de idade. Dirigiu o
Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro por três anos, de 1570 a 1573. Em 1569, fundou a
povoação de Iritiba ou Reritiba, actual Anchieta, no Espírito Santo. Em 1577 foi nomeado
Provincial da Companhia de Jesus no Brasil, função que exerceu por dez anos, sendo substituído
em 1587 a seu próprio pedido. Retirou-se para Reritiba, mas teve ainda de dirigir o Colégio do
Jesuítas em Vitória, no Espírito Santo.
Em 1595 obteve dispensa dessas funções e conseguiu retirar-se definitivamente para Reritiba
onde veio a falecer, sendo sepultado em Vitória. Embora a campanha para a sua beatificação
tenha sido iniciada na Capitania da Bahia em 1617, só foi beatificado em Junho de 1980 pelo
Papa João Paulo II.
Irmão Bento de Góis
Bento de Góis (Vila Franca do Campo, 1562 — Suzhou, 1607) foi um religioso e explorador
português. Foi o primeiro europeu a percorrer o caminho terrestre da
Índia para a China, através da Ásia Central. A sua viagem, uma das
maiores explorações da história da humanidade, demonstrou que o
reino de Cataio e o da China eram afinal o mesmo, o que alterou
significativamente a concepção do mundo à época, uma vez que as
relações comerciais entre a Ásia e a Europa eram muito intensas
durante esse período. Bento de Góis foi baptizado em Vila Franca do
Campo a 9 de Agosto de 1562, com o nome de Luís Gonçalves.
Tornou-se soldado por volta dos vinte anos de idade, tendo sido
destacado, em 1583, para a Índia.
De acordo com a lenda, nesse período levava uma vida boémia até que após ter tido uma
visão, numa igreja da aldeia de Colachel (província de Travancor) decidiu ingressar na
Companhia de Jesus, o que fez, em Fevereiro de 1584, no Colégio dos Jesuítas em Goa. Dois
anos mais tarde, abandonou temporariamente o Colégio e viajou pela Pérsia, Arábia,
129
Apontamentos: Escudo
Baluchistão, Sri Lanka, e muitos outros reinos da Ásia. Em 1588 regressou a Goa, ao Colégio
dos Jesuítas, e mudou o seu nome para Bento de Goes.
Em 1594 integrou a 3º expedição dos Jesuítas, guiada desta vez pelo padre Jerónimo Xavier
(sobrinho-neto de São Francisco Xavier), à corte do Grão-Mogol Akbar, o Grande, em Lahore,
passando a granjear deste uma marcada amizade. Tanto que induziu Akbar, o Grande, a
estabelecer tréguas com os portugueses. Para tal, Akbar incumbiu Bento de organizar a
faustosa embaixada (1600-01) aos portugueses de Goa.
Em Setembro de 1602 Bento partiu de Goa com um grupo restrito, em busca do lendário GrãoCataio, reino onde se afirmava existirem comunidades cristãs nestorianas. A viagem era muito
extensa (mais de 6 mil quilómetros) e de longa duração (mais de quatro anos), e onde grandes
obstáculos se deparam ao longo do percurso, sobretudo em virtude dos muitos conflitos na
região, da profusão de reinos e estados, e da existência de grandes montanhas e desertos. Para
além disso, a maior parte do seu percurso foi realizado em territórios de domínio muçulmano
que nutriam especial animosidade pelos cristãos. Em inícios de 1606 Bento de Góis chegou a
Jiuquan, junto da Muralha da China, uma cidade próxima de Dunhuang na provincia de Gansu.
Góis provou assim que o reino de Cataio e o reino da China eram afinal o mesmo, tal como a
cidade de Khambalaik, de Marco Polo, era efectivamente a cidade de Pequim. Doente
(possivelmente por ter sido atacado/assaltado e ferido) e com poucos meios de subsistência
comunicou-o em carta ao padre Matteo Ricci, residente em Pequim, que lhe enviou o padre
João Fernandes, um jesuíta de origem chinesa, para o conduzir até Pequim. Contudo, quando
este alcançou Bento de Góis este já estava à beira da morte, o que ocorreu em 11 de Abril de
1607. Bento de Góis, que possuía um marcado conhecimento da cultura e costumes de
múltiplos reinos da Ásia, e falava diversos idiomas como o Persa e o Turco, registou a sua
viagem num diário. Contudo, pelo facto de no mesmo documento também registar as dívidas
que terceiros lhe deviam o seu diário foi rasgado em inúmeros pedaços pouco antes da sua
morte. O padre João Fernandes e o arménio Isaac, que acompanhou o missionário na longa
viagem desde Goa, reuniram fragmentos do que sobrou desse diário e outros documentos, que
entregaram posteriormente ao padre Matteo Ricci. Este padre, um grande erudito, através
desses escassos documentos, do relato do arménio Isaac que o acompanhou sempre ao longo
da Grande Odisseia, do que Goes contou ainda em vida ao padre João Fernandes, e de algumas
cartas que Bento de Góis lhe tinha enviado anteriormente bem como aos Jesuítas em Goa;
escreveu, entre 1608 e 1610, uma narrativa dessa viagem, que depois foi publicada. Esta
relativa escassez de registos teve influência na projecção que a sua viagem assumiu doravante.
Bento de Góis tornou-se o primeiro português a atravessar a Ásia Central, transpondo grandes
cadeias montanhosas como os Pamires e o Karakoram, ou o grande deserto de Gobi, numa
odisseia considerada por muitos historiadores não inferior à empreendida por Marco Polo
séculos antes. Aliás, Bento de Góis foi a primeira pessoa após Marco Polo a empreender esta
extensa viagem pela Ásia Central, o que realizou cerca de três séculos depois de Polo. E só
cerca de dois séculos depois, e com mais e melhores meios de orientação e de sobrevivência, é
que se conseguiu realizar uma viagem semelhante à de Bento de Góis. Em Portugal, Bento de
Góis tem sido entre os exploradores portugueses da época dos Descobrimentos dos mais
subvalorizados.
130
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 194/97 de 30/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
750 000
Código
138.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 194/97 de 30/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
750 000
Código
139.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 194/97 de 30/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
750 000
Código
140.01
131
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 194/97 de 30/07/1997
Ano
1997
Cunhagem
750 000
Código
141.01
Padre António Vieira
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 3.º Centenário da Morte do Padre António Vieira, a
qual foi publicada em decreto-lei 341/97 de 5 de Dezembro durante o governo de António Guterres, sendo seu
ministro Teixeira dos Santos. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Comemora-se em 1997 o III Centenário da Morte do Padre António Vieira, sacerdote jesuíta no
Brasil e um dos maiores oradores e escritores de Portugal, tendo igualmente desempenhado
importante papel político e diplomático no reinado de D. João IV. Assim, julgou-se da maior
oportunidade assinalar esta efeméride pela emissão de uma moeda comemorativa cunhada
em metal precioso e com elevado valor facial, adequado à projecção nacional e internacional
desta notável personagem. A moeda corrente foi cunhada em prata com valor de 500$00.
Foram ainda emitidas emissões especiais em prata proof e lamelares (em prata e ouro)
também com acabamento proof. Os ganhos obtidos com esta emissão foram cedidos para as
Comemorações dos Descobrimentos. A moeda de autoria de Hélder Baptista apresentava o
retrato do Padre António Vieira baseado em gravura a burial feita em Roma por Arnold van
Westerhout.
Padre António Vieira
António Vieira (Lisboa, 6 de Fevereiro de 1608 — Bahia, 18 de Julho de 1697) foi um religioso,
escritor e orador português da Companhia de Jesus. Um dos mais influentes personagens do
século XVII em termos de política destacou-se como missionário em terras brasileiras. Nesta
qualidade, defendeu infatigavelmente os direitos humanos dos povos indígenas combatendo a
sua exploração e escravização. Era por eles chamado de "Paiaçu" (Grande Padre/Pai, em tupi).
132
Apontamentos: Escudo
António Vieira defendeu também os judeus, a abolição da distinção
entre cristãos-novos e cristãos-velhos e a abolição da escravatura.
Criticou ainda severamente os sacerdotes da sua época e a própria
Inquisição.
Nascido em lar humilde, perto da Sé, em Lisboa, foi o primogénito de
quatro filhos de Cristóvão Vieira Ravasco, de origem alentejana cuja
mãe era filha de uma mulata ou africana, e de Maria de Azevedo,
lisboeta. Cristóvão serviu na Marinha Portuguesa e foi, por dois
anos, escrivão da Inquisição. Mudou-se para o Brasil em 1614, para
assumir cargo de escrivão em Salvador, na Bahia, mandando vir a família em 1618. António
Vieira chegou à Bahia com seis anos de idade. Fez os primeiros estudos no Colégio dos Jesuítas
em Salvador, onde, principiando com dificuldades, veio a tornar-se brilhante aluno. Ingressou
na Companhia de Jesus como noviço em Maio de 1623.
Em 1624, quando na invasão holandesa de Salvador, refugiou-se no interior da capitania, onde
se iniciou a sua vocação missionária. Um ano depois tomou os votos de castidade, pobreza e
obediência, abandonando o noviciado. Prosseguiu os seus estudos em Teologia, tendo
estudado ainda Lógica, Metafísica e Matemática, obtendo o mestrado em Artes. Foi professor
de Retórica em Olinda, ordenando-se sacerdote em 1634. Nesta época já era conhecido pelos
seus primeiros sermões, tendo fama de notável pregador.
Quando a segunda invasão holandesa ao Nordeste do Brasil (1630-54), defendeu que Portugal
entregasse a região aos Países Baixos, pois gastava dez vezes mais com sua manutenção e
defesa do que o que obtinha em contrapartida, além do fato de que os Países Baixos eram um
inimigo militarmente muito superior à época. Quando eclodiu uma disputa entre Dominicanos
(membros da Inquisição) e Jesuítas (catequistas), Vieira, defensor dos judeus, caiu em
desgraça, enfraquecido pela derrota de sua posição quanto à questão da Região Nordeste do
Brasil.
Após a Restauração da Independência (1640), regressou a Lisboa (1641) iniciando uma carreira
diplomática, pois integrava a missão que ia ao Reino prestar obediência ao novo monarca.
Sobressaindo pela vivacidade de espírito e como orador, conquistou a amizade e a confiança de
D. João IV de Portugal, sendo por ele nomeado pregador régio. Ainda como diplomata, foi
enviado em 1646 aos Países Baixos para negociar a devolução do Nordeste do Brasil, e, no ano
seguinte, à França. Caloroso adepto de obter para a Coroa a ajuda financeira dos cristãosnovos, entrou em conflito com o Santo Ofício, mas viu fundada a Companhia Geral do Comércio
do Brasil.
Após tempos conturbados acabou voltando ao Brasil, de 1652-61, missionário no Maranhão e
no Grão-Pará, sempre defendendo a liberdade dos índios. Diz o Padre Serafim Leite em "Novas
Cartas Jesuíticas", Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1940, pág. 12, que Vieira tem "para
o norte do Brasil, de formação tardia, só no século XVII, papel idêntico ao dos primeiros jesuítas
no centro e no sul», na «defesa dos Índios e crítica de costumes". "Manoel da Nóbrega e
António Vieira são, efectivamente, os mais altos representantes, no Brasil, do criticismo
colonial. Viam justo - e clamavam!".
133
Apontamentos: Escudo
Em 1654, pouco depois de proferir o célebre "Sermão de Santo António aos Peixes" em São Luís
do Maranhão, parte para Lisboa, junto com dois companheiros, a bordo de um navio da
Companhia de Comércio, carregado de açúcar. Tinha como missão defender junto ao monarca
os direitos dos indígenas escravizados contra a cobiça dos colonos portugueses. Após cerca de
dois meses de viagem, já à vista da ilha do Corvo, a Oeste dos Açores, abateu-se sobre a
embarcação uma violenta tempestade. Após ficar à deriva por terem os mastros do navio
quebrados foram abordados por um navio corsário holandês que recolheu os náufragos a
bordo e pilhou a embarcação à deriva, que acabou por ser afundada. Nove dias mais tarde,
quarenta e um portugueses, despojados de seus pertences pessoais, foram desembarcados na
Graciosa, onde o padre António Vieira, com o auxílio dos religiosos da Companhia de Jesus,
procurou providenciar-lhes roupas, calçado e dinheiro durante os dois meses que
permaneceram na ilha. Dali, também, creditou Jerónimo Nunes da Costa para que este fosse a
Amesterdão resgatar os papéis e livros que lhe haviam sido tomados pelos corsários, o que se
acredita tenha sido cumprido uma vez que dispomos hoje de cerca de duzentos sermões (este
naufrágio é relatado no vigésimo-sexto) e cerca de 500 cartas do religioso, muitas das quais
anteriores ao naufrágio.
O grupo passou em seguida à Ilha Terceira, onde Vieira obteve o aprestamento de uma
embarcação para que os seus companheiros de infortúnio pudessem seguir para Lisboa.
Instalado no Colégio dos Jesuítas em Angra, ele permaneceu mais algum tempo, tendo
instituído a devoção do terço, que pela primeira vez foi cantado na Ermida da Boa Nova. Entre
os sermões que pregou em diversos locais da ilha, destacou-se o que proferiu na Igreja da Sé,
na Festa do Rosário, celebrada anualmente a 7 de Outubro, com aquele templo repleto.
Uma semana mais tarde, passou à Ilha de São Miguel, onde proferiu o sermão de Santa Teresa,
um dos mais destacados de sua autoria. Dali partiu para Lisboa, a bordo de um navio inglês, a
24 de Outubro. Após atravessar nova tempestade, o religioso chegou finalmente ao destino,
em Novembro de 1654. Voltou para a Europa com a morte de D. João IV, tornando-se confessor
da Regente, D. Luísa de Gusmão. Com a morte de D. Afonso VI, Vieira não encontrou apoio.
Abraçou a profecia sebastiana e por isso entrou de novo em conflito com a Inquisição que o
acusou de heresia com base numa carta de 1659 ao bispo do Japão, na qual expunha sua
teoria do Quinto Império, segundo a qual Portugal estaria predestinado a ser a cabeça de um
grande império do futuro. Expulso de Lisboa, desterrado e encarcerado no Porto e depois
encarcerado em Coimbra, enquanto os jesuítas perdiam seus privilégios. Em 1667 foi
condenado a internamento e proibido de pregar, mas, seis meses depois, a pena foi anulada.
Com a regência de D. Pedro, futuro D. Pedro II de Portugal, recuperou o valimento.
Seguiu para Roma, de 1669-75. Encontrou o Papa às portas da morte, mas deslumbrou a Cúria
com seus discursos e sermões. Com apoios poderosos, renovou a luta contra a Inquisição, cuja
actuação considerava nefasta para o equilíbrio da sociedade portuguesa. Obteve um breve
pontifício que o tornava apenas dependente do Tribunal romano. A mesma extraordinária
capacidade oratória que seduzira o governo-geral do Brasil, primeiro, e depois, a corte de D.
João VI, iria convencer o Papa e garantir assim a anulação das suas penas e condenações. Mas
Vieira conseguiria ainda mais. Entre 1675-81, a actividade da Inquisição esteve suspensa por
determinação papal em Portugal e no império, uma determinação que encontrou o seu maior
134
Apontamentos: Escudo
fundamento nos relatórios sobre os múltiplos abusos de poder que o jesuíta deixou em Roma,
nas mãos do Sumo Pontífice. Desta forma conseguia dois feitos raros e históricos, por um lado
conseguia parar pela primeira vez durante sete anos a actividade do Santo Oficio em Portugal
e, feito não menor, lograva escapulir da perigosa malha que inquisidores derramavam sobre si.
Regressou a Lisboa seguro de não ser mais importunado. Quando, em 1671, uma nova
expulsão dos judeus foi promovida, novamente os defendeu. Mas o Príncipe Regente passara a
protector do Santo Ofício e recebeu-o friamente. Em 1675, absolvido pela Inquisição, voltou
para Lisboa por ordem de D. Pedro, mas afastou-se dos negócios públicos.
Decidiu voltar outra vez para o Brasil, em 1681. Dedicou-se à tarefa de continuar a coligir seus
escritos, visando à edição completa em 16 volumes dos seus Sermões, iniciada em 1679, e à
conclusão da Clavis Prophetarum. Possuía cerca de 500 Cartas que foram publicadas em 3
volumes. Suas obras começaram a ser publicadas na Europa, onde foram elogiadas até pela
Inquisição. Já velho e doente teve que espalhar circulares sobre a sua saúde para poder manter
em dia a sua vasta correspondência. Em 1694, já não conseguia escrever de próprio punho. Em
10 de Junho começou a agonia. Morreu a 18 de Julho de 1697, com 89 anos.
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Helder Baptista
Decreto: 341/97 de 05/12/1997
Ano
1997
Cunhagem
520 000
Código
143.01
3.ª Série Iberoamericana: Danças e
Trajes típicos – Pauliteiros de Miranda
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa integrada na 3.ª Série Iberoamericana Danças e Trajes
Típicos (Pauliteiros de Miranda), a qual foi publicada em decreto-lei 342/97 de 5 de Dezembro durante o governo
de António Guterres, sendo seu ministro Teixeira dos Santos. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
A preservação do meio cultural e da diversidade histórica do planeta é algo de fundamental e
importante para o futuro da humanidade. Julgou-se, assim, da maior importância a
135
Apontamentos: Escudo
participação de Portugal numa série internacional de moedas comemorativas, em conjunto
com vários países do continente americano e a Espanha, alusivas às “Danças e Trajes Típicos”.
O tema seleccionado para a face nacional foram os Pauliteiros de Miranda, em moeda de
autoria de Irene Vilar. A moeda de prata com valor de 1000$00 teve para além da emissão
corrente, emissões especiais em prata proof. Participaram nesta série os seguintes países:
Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru,
Portugal e Uruguai.
Pauliteiros de Miranda
Os Pauliteiros de Miranda é o nome dado a grupos de homens que bailam ritmos tradicionais
da Terra de Miranda, no nordeste de Portugal, Trás-os-Montes. O nome pauliteiro deriva de
paulito.
Pauliteiros são os praticantes da dança guerreira característica das Terras de Miranda,
chamada de dança dos paus, representativa de momentos históricos locais acompanhada com
os sons da gaita-de-foles, caixa e bombo e com a particularidade de ser dançada por oito
homens (mais recentemente também dançada por mulheres) que vestem saia bordada e
camisa de linho, um colete de pardo, botas de cabedal, meias de lã e chapéu que pode estar
enfeitado com flores e finalmente por dois paus (palos) com os quais estes dançadores fazem
uma séria de diferentes passos e movimentos coordenados. O reportório musical da dança dos
paus chama-se lhaços, e é constituído pela música, texto e coreografia.
136
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Irene Vilar
Decreto: 342/97 de 58/12/1997
Ano
1997
Cunhagem
520 000
Código
161.01
Crédito Público
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 2.º Centenário do Crédito Público, a qual foi
publicada em decreto-lei 377-A/97 de 24 de Dezembro durante o governo de António Guterres, sendo seu
ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
De acordo com a lei que aprovou a emissão desta moeda comemorativa é possível
compreender de forma rápida a evolução do Crédito Público Português : “É considerado o
alvará de 13 de Março de 1797 como o diploma contendo a origem da Junta do Crédito Público
ao criar uma Administração para executar as tarefas inerentes ao designado “1º empréstimo
de dívida pública”, concebido em moldes modernos, com a emissão de 29 de Outubro de
1796, e destinado a cobrir as despesas com a guerra do Rossilhão.
“Essa “Administração” com cofre de quatro chaves, distribuídas pelo “Thesoureiro Geral dos
Juros, e seu Escrivão, e por Dous Homens de Negócio de conhecida probidade e abonação”,
“foi criada enquanto não se estabelecesse um Banco Público ou Caixa de Desconto”. No
entanto, mesmo após a criação de bancos essa Administração permaneceu com a mesma
missão de emitir e administrar a dívida pública, ajustando as suas denominações e estruturas
aos desafios e necessidades da época: Junta d’Administração e Arrecadação dos Fundos
Aplicados para o Pagamento dos Juros; Junta dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos; Junta
dos Juros dos Reais Empréstimos; Comissão Interina da Junta do Crédito Público; Junta do
Crédito Público.
“Esta última designação, datada de 16 de Maio de 1832, chegou aos nossos dias herdando e
assumindo um prestígio institucional que tantas vezes emprestou, aliado ao prestígio pessoal
dos seus dirigentes, para captar e contratar empréstimos, sobretudo no estrangeiro,
137
Apontamentos: Escudo
constituindo garante mesmo em tempos conturbados de guerra civil, instabilidade ou queda
de regime.
“Múltiplos produtos financeiros foram lançados ao longo dos tempos com diferentes taxas,
montantes e finalidades — do investimento público ao saneamento de infra-estruturas como
caminhos de ferro, portos, estradas, etc. A representação dos empréstimos constituiu um
aliciante convite para a sua ilustração por artistas plásticos.
“Hoje, acompanhando os tempos, as técnicas e a tecnologia, propicia-se a desmaterialização
dos títulos com o registo escritural das suas operações. Pelo Decreto-Lei n.º 160/96, de 4 de
Setembro, nova alteração estrutural e designação se estabelece com a aprovação dos
estatutos do Instituto de Gestão do Crédito Público, herdeiro das funções, missões, património
e de uma história de 200 anos.”
Assim, achou-se conveniente a emissão de moeda comemorativa em prata com valor de
1000$00 para assinalar o segundo centenário desta instituição. A moeda de autoria de João
Duarte apresenta uma figuração com quatro hexágonos entrelaçados simbolizando as outras
designações (Junta d’Administração e Arrecadação dos Fundos Aplicados para o Pagamento
dos Juros; Junta dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos; Junta dos Juros dos Reais
Empréstimos, e Junta do Crédito Público) que a Administração teve ao longo do tempo, dando
origem a um justo sucessor, o Instituto de Gestão do Crédito Público, cujo logótipo se encontra
na parte superior do campo da moeda, assim como as letras «I.G.C.P.». No reverso surgiam
dois hexágonos entrelaçados entre eles, simbolizando alegoricamente a Administração do
Estado, cujos módulos mantêm o mesmo desenho análogo ao do anverso, dando unidade às
faces da moeda.
Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público
O Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P., abreviadamente designado por
IGCP, é a nova designação do Instituto de Gestão do Crédito Público, criado em dezembro de
1996 (substituindo a extinta Junta do Crédito Público JCP),
entidade pública a quem compete, nos termos do Decreto-Lei
n.º 273/2007, de 30 de julho, gerir, de forma integrada, a
tesouraria e a dívida pública direta do Estado português.
Ao longo dos anos (desde finais do século XVIII) foram criadas instituições autónomas para
gerir a dívida pública em Portugal, em que as denominações e estruturas foram sendo
ajustadas aos desafios e necessidades da época:
138
Junta d’Administração e Arrecadação dos Fundos Aplicados para o pagamento dos
Juros (1796);
Junta dos Fundos e Juros dos Reais Empréstimos;
Junta dos Juros dos Reais Empréstimos (1825);
Comissão Interina da Junta do Crédito Público (1834);
Junta do Crédito Público (1832-criada/1837-instalada).
Apontamentos: Escudo
Pelo Alvará de 13 de março de 1797 foi criada a Junta da Administração das Rendas aplicadas
aos Juros do Empréstimo feito ao Real Erário, instituição que tinha por missão gerir os
empréstimos emitidos na sequência da Campanha do Rossilhão (1793-95), deixando para trás
uma dívida pública firmada em Tenças e Tenças de Juro Real.
Com efeito, Portugal ao não reconhecer o Governo saído da Revolução Francesa envolveu-se na
guerra, obrigando à mobilização de recursos financeiros extraordinários, tornando, assim,
necessário recorrer ao crédito público, o que vai obrigar no ano de 1796 à emissão de um
empréstimo no montante de 10 milhões de cruzados ao juro de 5 por cento. Este ficou
conhecido como o 1º Empréstimo da dívida nova. O facto das chamadas Apólices Grandes de
100$000 (cem mil réis) não terem sido subscritas nas quantidades que se esperava, levou ao
seu desdobramento em valores muito mais pequenos de 1$200, 2$400, 5$000, 6$400, 10$000
12$800 e 20$000. Estes títulos (Apólice Pequena) ficaram também designados por PapelMoeda, circulando como moeda, o que fazia deles autênticos percursores da nota de Banco,
apesar de vencerem juros. A autonomia da Administração encarregada da gestão deste
empréstimo era vincada no referido Alvará quando nele se estabelecia que as quatro chaves do
cofre da Tesouraria dos Juros deviam ser distribuídas pelo Tesoureiro Geral dos Juros e seu
Escrivão e por dois homens de negócios de conhecida probidade e abonação.
O Decreto n.º 22 de 16 de maio de 1832 extingue a então chamada Junta Dos Juros dos Reais
Empréstimos e o Erário Régio e cria a Junta do Crédito Público (JCP), com independência face
ao Governo, nome que foi consagrado pelo Governo Liberal, exilado então na Ilha Terceira. A
Junta dos Juros dos Reais Empréstimos, é dissolvida e substituída por uma Comissão Interina
(Comissão Interina da Junta do Crédito Público) e só em outubro de 1837 é instalada a Junta do
Crédito Público, tendo como primeiro Presidente o Marquês de Ponte de Lima. Foi o nome de
Junta do Crédito Público que chegou aos últimos anos do século XX, herdando e assumindo um
prestígio institucional que tantas vezes emprestou, aliado ao prestígio pessoal dos seus
dirigentes, para captar e contratar empréstimos, sobretudo no estrangeiro, constituindo
garante, mesmo em tempos conturbados.
Para além do número de produtos financeiros lançados, que foram inúmeros, sendo as suas
taxas de valores diferentes bem como os montantes e finalidades, a JCP administrou a Caixa
Geral de Depósitos (CGD) na altura da sua criação (1876), bem como administra a Caixa
Nacional de Aposentação, na época da sua fundação (1885) através da CGD.
O ano de 1936 foi de grande importância para a JCP, pois é publicada a Lei 1933 que origina
uma grande reforma na Junta quer a nível dos serviços, quer a nível da representação da
dívida. Passaram a ser admitidas as seguintes formas de representação: Títulos de cupão, ao
portador, de uma, cinco e dez obrigações; Certificados de dívida inscrita correspondentes a
qualquer número de obrigações; Certificados de Renda Perpétua; Certificados de Renda
Vitalícia; Certificados de propriedade e renda suspensa.
Em 1941, é lançada a emissão do Consolidado de 3 ½ por cento – 1941, para cuja ilustração é
convidado Almada Negreiros. Desde 1900 que a Junta entendeu, apesar de nem sempre
constante, encomendar a artistas plásticos (de nomeada) portugueses, o desenho dos títulos
de empréstimos, dos quais se destacam Almada Negreiros, Cottinelli Telmo, Ernesto Condeixa,
João Vaz, Rui Preto Pacheco entre outros.
Com o pós-guerra, o governo de então deu início aos Planos de Fomento, o primeiro ocorreu
em 1953. No âmbito do II Plano de Fomento (1959-64), é emitido o empréstimo obrigacionista
3½% - II Plano de Fomento – 1959. Em 1960, assinalando as comemorações Henriquinas,
139
Apontamentos: Escudo
ocorre o empréstimo, 3 ½% - V Centenário do Infante D. Henrique. Ainda na década de 60, com
o intuito de captar a pequena poupança é criado um produto financeiro novo, o Certificado de
Aforro, Série A, cuja emissão vai de abril de 1961 a junho de 1986.
Em julho de 1986 tem início uma nova série (Série B) cuja emissão se mantém até janeiro de
2008, ano em que foi criado a Série C através da Portaria 73-A/2008. É também criado no ano
de 1960 o Fundo de Regularização da Dívida Pública - FRDP (em substituição do Fundo de
Amortização da Dívida Pública lei 1933) tinha como atribuições, regular a procura e a oferta
dos títulos da dívida pública no mercado secundário, passando, a partir de 1988, a acolher as
receitas e realizar as despesas no âmbito do processo de privatizações e, em geral, no da
reforma do setor empresarial do Estado.
A gestão da dívida pública tem andado associada à história portuguesa, e mais uma vez a
Junta do Crédito Público é chamada a intervir através da publicação da lei 80/77, que legisla
sobre a forma e o método de atribuição das indemnizações e a sua forma de pagamento a
atribuir as taxas de ação de Sociedades Anónimas, Sociedades por Quotas ou reforma agrária
na sequência das nacionalizações de 1975. O Orçamento de Estado de 1977 prevê a criação de
empréstimos para serem apresentados à subscrição do público e dos investidores
institucionais, surgindo assim as Obrigações do Tesouro FIP (Fomento de Investimento Público).
Este tipo de empréstimo é mais uma vez confiado à Junta do Crédito Público. Os FIP tiveram o
seu fim em 2000.
A criação do IGCP, constituiu um importante passo na construção das condições à adaptação
harmoniosa do país ao cenário do Euro, tendo em vista o elevado grau de especialização
financeira exigida para um eficiente e rigoroso exercício da atividade de emissão e de gestão
da dívida pública. Para que a redenominação da dívida de escudos para euros fosse um
sucesso, o IGCP apetrechou-se dos meios necessários que lhe permitiram enfrentar um
mercado alargado e competitivo. Existem dois importantes instrumentos de emissão de dívida
Pública, as Obrigações do Tesouro (OT) e Bilhetes do Tesouro (BT), que são colocados em
mercado primário através de operadores especializados, os Operadores Especializados de
Valores do Tesouro (OEVT) e os Operadores do Mercado Primário (OMP) para as OT e os
Especialistas em Bilhetes do Tesouro (EBT) para os BT.
Os anos de 2005 e 2006 são de grande importância para a dívida pública portuguesa, com a
emissão de OT a 15 e 30 anos, respetivamente, o que permitiu alongar a curva de rendimentos
portuguesa, à semelhança com o registado por outros soberanos europeus. Nesta nova fase
(pós 1999) e tendo por objetivo a modernização e dinamização do mercado de capitais
portugueses, bem como para responder à globalização, foi criado o Mercado Especial de Dívida
Pública (MEDIP), onde são negociadas as OT e os BT, utilizando-se para tal uma plataforma
eletrónica, tendo sido criada a MTS-Portugal, empresa responsável pelo sistema de
negociação. O cunho artístico das emissões desapareceu com a desmaterialização dos títulos
de dívida pública. Mas se este fato é uma consequência da mudança dos tempos, já a tradição
de uma gestão especializada e independente da dívida pública, renovada no contexto do
mercado do euro e da globalização mais geral dos mercados financeiros, é merecedora da
confiança dos investidores que fazem as suas aplicações financeiras em títulos da República de
Portugal
No ano de 2007, através da publicação dos Decretos-Lei 86/2007 e 273/2007, o IGCP ganha
uma nova designação, Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P.,
concretizando-se a disposição inscrita no preâmbulo estatutário, a missão é alargada passando
a gerir de forma integrada a Tesouraria e o endividamento público direto do Estado.
140
Apontamentos: Escudo
A partir de 1 de setembro de 2007, o IGCP passou a ter um novo organigrama e a exercer as
novas funções da Tesouraria, que até então estavam acometidas à Direção-Geral do Tesouro e
Finanças – DGTF. Com o intuito de permitir que as famílias tenham acesso a instrumentos de
dívida pública de longo prazo, foram criados em 2010 os Certificados do Tesouro (RCM
40/2010), promovendo-se a poupança das mesmas. A integração da Tesouraria do Estado com
a Dívida Pública, enquadra-se cada vez mais em tendências internacionais, em que o principal
objetivo passa por haver ganhos de eficiência na administração financeira do Estado, os saldos
de Tesouraria passarão a ser utilizados para compensar parcialmente os saldos da dívida,
diminuindo a dívida em circulação e os consequentes encargos financeiros do Estado.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: João Duarte
Decreto: 377-A/97 de 24/12/1997
Ano
1997
Cunhagem
320 000
Código
146.01
500 escudos Ch. 13 João de Barros
António de Sousa
Victor Constâncio
António M. Pereira Marta
Luís Campos e Cunha
Bernardino Costa Pereira
Abel Moreira Mateus
Diogo Leite de Campos
141
Apontamentos: Escudo
Herlânder Estrela
Carlos de Oliveira Cruz
Foi evocada nesta chapa de 500 escudos a figura do insigne cronista, historiador e linguista
português, João de Barros (1496-1570). Na sequência do processo utilizado na nota de
2000$00, Ch. 1, foram também separados os trabalhos de originação dos de impressão. Sendo
a maqueta original de autoria do Prof. Luís Filipe de Abreu, foi posto a concurso o trabalho de
originação, vindo este a ser ganho pela firma suíça De La Rue Giori, SA (Lausane). Seguiu-se o
concurso de impressão, ganho pela firma François-Charles Oberthur Fiduciaire de Paris, a
quem foi adjudicada.
Como elementos decorativos da nota foram utilizados desenhos estilizados e baseados em:
- na frente: fundo decorativo policromático inspirado no jogo de motivos gráficos,
constituído por títulos das obras de João de Barros (Copicapnefma, Ásia-Décadas, Crónica do
Imperador Clarimundo, Gramática, Geografia, Cartilha); um mapa-múndi patenteando a
influência portuguesa na África e Ásia (adaptado da Crónica de el Rei D. Afonso Henriques de
Duarte Galvão); entre a efígie e a margem direita a assinatura de João de Barros.
- no verso: fundo policromático, inspirado numa das páginas do códice Imagens do
Oriente no Século XVI, da biblioteca casanatense, representando cena da vida na Índia; a
“esfera das letras”, destinada ao ensino de leitura adaptada de xilografia da Cartilha, e
adaptando duas figuras, simbolizando um homem de ciência e letras e um mercador, tendo
por fundo naus; no canto inferior esquerdo frase da obra Décadas: dos feitos que os
portugueses fizeram nos descobrimentos e conquista dos mares e terras do oriente.
O fundo foi impresso a três cores (mais uma impressão intaglioset, no verso) pelo processo
offset simultâneo, utilizando também, na frente, uma impressão talhe-doce com três tintas.
Nas oficinas do Bando foi utilizada uma impressão tipográfica da numeração, data e chancelas
bem como a impressão de elementos de segurança em offset húmido. O papel foi fabricado
pelos papeleiros ingleses Portals Limited, sendo 100% algodão. Apresentava um filete de
segurança magnético fluorescente, reagindo em vermelho sob a luz de ultravioleta, onde se
podia ver à transparência o dístico “Portugal”. Fibras fluorescentes invisíveis, reagindo nas
cores verde e vermelha sob a luz ultravioleta, estavam distribuídas ao acaso sobre toda a
superfície da nota. A marca de água foi colocada no lado esquerdo e apresentava o retrato de
João de Barros reduzido relativamente à figura estampada. Apresentava ainda como
elementos de segurança adicionais: registo frente e verso com desenhos parciais de uma
Esfera Armilar; imagem latente constituída pelo valor da denominação (visível em ângulo
rasante); micro impressão (nome das obras de João de Barros na parte esquerda do
enquadramento da efígie); estampagem com sistema anti fotocopiadora a cores na marca de
água.
142
Apontamentos: Escudo
João de Barros
João de Barros nasceu segundo uns historiadores em Viseu, outros inclinam-se para Braga ou
para Vila Real, e ainda outros para a Ribeira de Alitém (Pombal) no ano de
1496, sendo um dos mais insignes escritores e historiadores portugueses
da sua época. Oriundo de famílias nobres foi educado na corte de D.
Manuel I no apogeu dos descobrimentos portugueses. Na sua juventude já
demonstrava um carácter de índole literária, iniciando a escrita com um
romance de cavalaria “A Crónica do Imperador Clarimundo, donde os Reis
de Portugal descendem”, dedicando-o ao príncipe D. João, com pouco
mais de vinte anos de idade. No ano de 1521 quando D. João III subiu ao
trono, este concedeu a João de Barros o cargo de capitão da fortaleza de
São Jorge da Mina. Em 1525 foi nomeado tesoureiro da Casa da Índia,
missão que ocupou até ao ano de 1528. A peste negra que atingira quase toda a Europa
também se fez sentir em Portugal e no ano de 1530 João de Barros refugiou-se na sua Quinta
de Alitém, onde concluiu o seu diálogo moral “Rhopicapneuma”, alegoria que recebeu os
maiores elogios de Jusan Luis Vives, de origem catalã. Após dois anos regressou a Lisboa no
ano de 1532 onde D. João III o designou como feitor da Casa da Índia e da Mina, cargos que
desempenhou com grande destaque e responsabilidade, numa Lisboa que era naquele tempo
143
Apontamentos: Escudo
um empório a nível europeu, para todo o comércio originário do oriente. Desempenhou uma
administração exemplar ao contrário dos seus antecessores que acumularam enormes fortunas
com os cargos então exercidos. No ano de 1535 e após D. João III, ter procedido a reformas
acentuadas na colónia do Brasil, com o fim de atrair colonos e evitar as tentativas da
penetração francesa, dividiu a colónia em capitanias hereditárias, seguindo um sistema já
aplicado nas ilhas atlânticas; agraciou João de Barros com a posse de duas capitanias em
parceria com Aires da Cunha, o “Ceará” e o “Pará”; partiram no ano de 1539 com uma armada
composta por dez embarcações e novecentos homens. A expedição não foi feliz, devido aos
erros cometidos pelos seus pilotos, indo aportar às Antilhas espanholas, o que lhe provocou
enormes prejuízos, levando em atenção o seu grande humanismo. Pagou as dívidas aos
familiares dos que haviam falecido na expedição. Os anos em que permaneceu no Brasil,
dedicou-os aos estudos durante as horas vagas; logo após a desastrosa expedição ao Brasil,
publicou a “Gramática da Língua Portuguesa”, e uma “Cartilha para Aprender a Ler” com o fim
de auxiliar o ensino da língua materna. Após este trabalho, reassumiu um compromisso que lhe
havia sido endereçado por D. Manuel I: a escrita de uma história que narrasse os feitos dos
portugueses na Índia. Mas a obra marcante de João de Barros, foi sem dúvida alguma as
“Décadas da Ásia” (Ásia de João de Barros, dos feitos que os Portugueses fizeram na conquista
e descobrimento dos mares e terras do Oriente). O nome “Décadas” agrupa os acontecimentos
por livro em períodos de dez anos. A primeira década foi publicada em 1522, a segunda em
1553, a terceira em 1563 e a quarta, inacabada foi mais tarde completada por João Baptista
Lavanha e publicada após a sua morte no ano de 1615 em Madrid. A escrita de João de Barros
é admirável de pureza, vigor e propriedade valendo-lhe o cognome de “Tito Lívio Português”. O
estilo de prosa fluente e rico pouco interesse despertou em vida, sendo somente conhecida
uma tradução italiana em Veneza, em 1563. D. João III, entusiasmado com a obra ora
apresentada solicitou a João de Barros que redigisse uma crónica relativa a D. Manuel I, o que
João de Barros declinou evocando os muitos afazeres na Casa da Índia, sendo este trabalho
redigido por outro grande humanista português Damião de Góis. No ano de 1568 sofreu um
acidente vascular, sendo exonerado das suas funções recebendo um título de fidalguia e uma
tença régia do rei D. Sebastião. Veio a falecer na sua Quinta de Alitém, no ano de 1570, na
maior das misérias, sendo tantas as dívidas que os filhos renunciaram ao seu testamento.
144
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 500$00
Chapa: 13
Frente: Fundo inspirado nos títulos das obras de João de Barros; mapa-múndi; efígie de João de
Barros e assinatura de João de Barros.
Verso: Representação de cena da vida na Índia; a “esfera das letras”; duas figuras, simbolizando
um homem de ciência e letras e um mercador, tendo por fundo naus; no canto inferior esquerdo
frase da obra Décadas
Maqueta: Luís Filipe de Abreu
Marca de água: João de Barros
Mecanismo de segurança: filete de segurança magnético fluorescente microimpresso com a
palavra “Portugal”; por toda a superfície, distribuídas ao acaso, fibras fluorescentes vermelhas e
verdes; registo frente/verso (esfera armilar); imagem latente (valor da nota); sistema anti
fotocopiadora a cores
Medidas: 123x67 mm
Criação: De La Rue Giori, SA
Impressão: François-Charles Oberthur Fiduciaire
Primeira emissão: 17-09-1997
Última emissão: 07-11-2000
Retirada de circulação: 28-02-2002
Data
17-04-1997
11-09-1997
07-11-2000
Emissão
40 000 000
39 000 000
10 000 000
Combinações de Assinaturas
6
6
1
François-Charles Oberthur Fiduciaire
A François-Charles Oberthur Fiduciaire é um grupo empresarial francês
especializado na impressão de notas e outros documentos fiduciários criada
em 1984 por Jean-Pierre Savare após a aquisição da Oberthur (fundada em
1842 por François Charles Oberthur). Actualmente é o terceiro maior
produtor de notas (produz Euros e as notas de cerca de 70 países) e o maior
de documentos de identificação a nível mundial.
9.ª Série dos Descobrimentos: Descoberta
do Caminho Marítimo para a Índia
A legislação associada à emissão da série comemorativa 9.ª Série dos Descobrimentos alusiva à Descoberta do
Caminho Marítimo para a Índia, a qual foi publicada em decreto-lei 318/98 de 27 de Outubro durante o governo
de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Em continuação do programa monetário e numismático dedicado aos Descobrimentos
Portugueses, a 9.ª série destas moedas comemorativas é alusiva à Descoberta do Caminho
Marítimo para a Índia. A chegada dos Portugueses aos mares da Ásia, nomeadamente à Índia,
marcou uma nova era no desenvolvimento mundial, que se reflectiu em todas as actividades,
desde as comerciais e culturais até às científicas e religiosas. Considerou-se, assim, oportuna a
emissão de uma série de moedas comemorativas alusivas à Terra do Natal, Moçambique, Índia
e Vasco da Gama, no âmbito das comemorações nacionais dos Descobrimentos Portugueses.
145
Apontamentos: Escudo
A série cunhada em cuproníquel com moedas com valor de 200$00 teve ainda emissões
especiais em prata BNC, prata e ouro proof, e emissão prestígio (quatro moedas, quatro
metais). A autoria da série foi de António Marinho (Terra de Natal), Eloisa Byrne
(Moçambique), Isabel Carriço e Fernando Branco (Chegada à Índia) e Raul Machado (Vasco da
Gama). Todos os lucros obtidos com esta amoedação foram utilizados pela Comissão Nacional
para as Comemorações Dos Descobrimentos Portugueses à semelhança das restantes séries.
As moedas apresentavam motivos marítimos: nau portuguesa, mapa com costa ocidental
africana com descrição da rota de Vasco da Gama (Terra de Natal); nau portuguesa e barco à
vela do Índico (Moçambique); embarcação de um patamar típica da costa indiana com vela
latina e nau de Vasco da Gama, representação da carta de Lopo Homem Rainel de 1519 com a
localização de Calecute (Chegada à Índia); armada de Vasco da
Gama (S. Gabriel, S. Rafael e Bérrio) a S. Gabriel era a capitânia e
está representada com mastro com vela com Cruz de Cristo (Vasco
da Gama). Outras características representativas dos motivos em
comemoração: representação de nau avistando a Terra de Natal
com elementos vegetais locais e padrão, indígena (Terra de Natal);
referência ao canto II d’Os Lusíadas com um tritão a transportar
Dione, representação da ilha de Moçambique (Moçambique); ramo
de pimenteira (Chegada à Índia); efígie de Vasco da Gama (Vasco da
Gama).
Terra de Natal
Vasco da Gama foi o primeiro europeu a avistar a costa oriental de África no dia de Natal de
1497 e, por isso, esta região passou a ser conhecida pelos europeus por este nome. Nos
princípios do século XIX, a região era habitada principalmente pelos Zulu e os britânicos
adquiriram muito daquelas terras dos chefes Shaka e Dingane. Os agricultores africânderes
chegaram à região em 1837 e, depois de várias batalhas com os Zulu, a mais notável sendo a
de Blood River em 1838 em que derrotaram Dingane, fundaram ali uma “república”.
Em 1843, a coroa britânica anexou o Natal à Colónia do Cabo,
o que levou ao êxodo dos bôeres. Em 1856, o Natal tornou-se
uma colónia separada e, em 1860 começou a plantação de
cana-de-açúcar e foram contratados da Índia muitos
trabalhadores para esta indústria. Estes permaneceram no
Natal no fim dos seus contratos e, em 1900, eram mais
numerosos que os brancos. Em 1893, a colónia passou a ter
um governo autónomo e, em 1910, tornou-se uma das
províncias fundadoras da União Sul-Africana.
Quando o bantustão do KwaZulu, que significa "Terra dos Zulus", foi re-incorporado à província
do Natal, com a nova constituição de 1993, a província passou a ter o nome de KwaZulu-Natal
e é a única do país que inclui no seu nome o grupo étnico dominante. De facto, a maioria da
população desta província é Zulu.
146
Apontamentos: Escudo
Moçambique
Moçambique é um país da África Austral, situado na costa do Oceano Índico, com cerca de 20
milhões de habitantes (2004). Foi uma colónia portuguesa, que se tornou independente em 25
de Junho de 1975. A história de Moçambique encontra-se documentada pelo menos a partir do
século X, quando um estudioso viajante árabe, Al-Masudi descreveu uma importante
actividade comercial entre as nações da região do Golfo Pérsico e os "Zanj" (os negros) da
"Bilad as Sofala", que incluía grande parte da costa norte e centro do actual Moçambique.
No entanto, vários achados arqueológicos permitem
caracterizar a "pré-história" de Moçambique por muitos
séculos antes. Provavelmente o evento mais importante
dessa pré-história terá sido a fixação nesta região dos povos
Bantu que, não só eram agricultores, mas introduziram aqui
a metalurgia do ferro, entre os séculos I a IV.
A penetração portuguesa em Moçambique, iniciada no início
do século XVI, só em 1885 - com a partilha de África pelas potências europeias durante a
Conferência de Berlim - se transformou numa ocupação militar, ou seja, na submissão total dos
estados ali existentes, que levou, nos inícios do século XX a uma verdadeira administração
colonial.
Depois de uma guerra de libertação que durou cerca de 10 anos, Moçambique tornou-se
independente em 25 de Junho de 1975. Quando Vasco da Gama chegou pela primeira vez a
Moçambique, em 1497, já existiam entrepostos comerciais árabes e uma grande parte da
população tinha aderido ao Islão.
Os mercadores portugueses, apoiados por exércitos
privados, foram-se infiltrando no império dos
Mwenemutapas, umas vezes firmando acordos,
noutras forçando-os. Em 1530 foi fundada a povoação
portuguesa de Sena, em 1537, de Tete, no rio Zambeze,
e em 1544 de Quelimane, na costa do Oceano Índico,
assenhorando-se da rota entre as minas e o oceano.
Em 1607 obtiveram do rei a concessão de todas as
minas de ouro do seu território. Em 1627, o
Mwenemutapa Capranzina, hostil aos portugueses, foi
deposto e substituído pelo seu tio Mavura; os
portugueses baptizaram-no e este declarou-se vassalo
de Portugal. Os Mwenemutapas reinaram até finais do
século XVII, altura em que foram substituídos pela
dinastia dos Changamiras, outro grupo Shona que
dominava o reino Butua, contribuindo assim para a
extensão territorial do império. As relações dos Changamiras com os portugueses tiveram altos
e baixos mas, em 1693, houve um levantamento armado em que os soldados portugueses que
147
Apontamentos: Escudo
residiam na capital foram escorraçados, várias igrejas destruídas e os portugueses impedidos,
durante algum tempo, de ter acesso ao ouro e ao comércio com os reinos indígenas.
Por essa altura, no entanto, os portugueses controlavam o vale do Zambeze e começaram a
interessar-se mais pelo marfim, empreendimento que levavam a cabo por acordo com os
estados Marave. O império dos Mwenemutapa, embora com menos poder económico,
manteve-se até meados do século XIX, altura em que foi desmembrado pelos Estados Militares
que se formaram como resistência dos prazeiros à administração portuguesa. Finalmente, a
administração colonial portuguesa e britânica em África terminou com o poder político dos
chefes então existentes.
Chegada à Índia
A expedição iniciou-se a 8 de Julho de 1497. A linha de navegação de Lisboa a Cabo da Boa
Espernça foi a habitual e no Oceano Índico é descrita por Álvaro Velho: “rota costeira até
Melinde e travessia directa deste porto até Calecute”. Durante esta expedição foram
determinadas latitudes através da observação solar, como refere João de Barros.
Relatam os Diários de Bordo das naus muitas
experiências inéditas. Encontrou esta ansiosa
tripulação rica fauna e flora. Fizeram contacto
perto da baía de Santa Helena com tribos que
comiam lobos-marinhos, baleias, carne de gazelas e
raízes de ervas; andavam cobertos com peles e as
suas armas eram simples lanças de madeira de
zambujo e cornos de animais; viram tribos que
tocavam flautas rústicas de forma coordenada, o
que era surpreendente perante a visão dos negros pelos europeus. Ao mesmo tempo que o
escorbuto se instalava na tripulação, cruzavam-se em Moçambique com palmeiras que davam
cocos.
Apesar das adversidades de uma viagem desta escala, a tripulação
mantinha a curiosidade e o ânimo em conseguir a proeza e conviver com
os povos. Para isso reuniam forças até para assaltar navios em busca de
pilotos. Com os prisioneiros, podia o capitão-mor fazer trocas, ou colocálos a trabalhar na faina; ao rei de Mombaça pediu pilotos cristãos que
ele tinha detido e assim trocou prisioneiros. Seria com a ajuda destes
pilotos que chegariam a Calecute, terra tão desejada, onde o fascínio se
perdia agora pela moda, costumes e riqueza dos nativos.
Sabe-se, por Damião de Góis, que durante a viagem foram colocados cinco padrões: São
Rafael, no rio dos Bons Sinais; São Jorge, em Moçambique, Santo Espírito, em Melinde; Santa
Maria, nos Ilhéus, e São Gabriel, em Calecute. Estes monumentos destinavam-se a afirmar a
soberania portuguesa nos locais para que outros exploradores não tomassem as terras como
por si descobertas.
148
Apontamentos: Escudo
Em 20 de Maio de 1498, a frota alcançou Kappakadavu, próxima a Calecute, no actual estado
indiano de Kerala, ficando estabelecida a rota no Oceano Índico e aberto o caminho marítimo
dos Europeus para a Índia. As negociações com o governador local, Samutiri Manavikraman
Rajá, Samorim de Calecute, foram difíceis. Os esforços de Vasco da Gama para obter condições
comerciais favoráveis foram dificultados pela diferença de culturas e pelo baixo valor das suas
ofertas (no ocidente era hábito os reis presentearem os enviados estrangeiros, no oriente
esperavam ser impressionados com ricas ofertas).
As mercadorias apresentadas pelos portugueses mostraram-se insuficientes para impressionar
o samorim e os representantes do samorim escarneceram das suas ofertas, simultaneamente
os mercadores árabes aí estabelecidos resistiam à possibilidade de concorrência indesejada. A
perseverança de Vasco da Gama fez com que se iniciassem, mesmo assim, as negociações
entre ele e o samorim, que se mostrou agradado com as cartas de D. Manuel I. Por fim, Vasco
da Gama conseguiu obter uma carta ambígua de concessão de direitos para comerciar,
comprovatória do encontro que dizia:
«Vasco da Gama, fidalgo da vossa casa, veio à minha terra, com o que eu folguei. Em minha
terra, há muita canela, e muito cravo e gengibre e pimenta e muitas pedras preciosas. E o que
quero da tua é ouro e prata e coral e escarlata».
Os portugueses acabariam por vender as suas mercadorias por baixo preço para poderem
adquirir pequenas quantidades de especiarias e jóias para levar para o reino. Contudo a frota
acabou por partir sem aviso após o Samorim e o seu chefe da Marinha Kunjali Marakkar
insistirem para que deixasse todos os seus bens como garantia. Vasco da Gama manteve os
seus bens, mas deixou alguns portugueses com ordens para iniciar uma feitoria.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 318/98 de 27/10/1998
Ano
1998
Cunhagem
750 000
Código
147.01
149
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 318/98 de 27/10/1998
Ano
1998
Cunhagem
750 000
Código
148.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 318/98 de 27/10/1998
Ano
1998
Cunhagem
750 000
Código
149.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 318/98 de 27/10/1998
Ano
1998
150
Cunhagem
750 000
Código
150.01
Apontamentos: Escudo
2.ª Série EXPO ‟98: EXPO ‟98 e Ano
Internacional dos Oceanos
A legislação associada à emissão da 2.ª série comemorativa relativa à EXPO ’98 a qual incluiu a moeda relativa ao
Ano Internacional dos Oceanos e que foi publicada no decreto-lei 150/98 de 30 de Maio durante o governo de
António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Dando seguimento ao programa monetário e numismático aprovado pelo Decreto-Lei n.º
171/97, de 8 de Julho, foi em 1998 aprovada a segunda série, constituída por duas moedas
comemorativas da Exposição Mundial de Lisboa — EXPO 98, sendo uma alusiva ao certame,
com o valor facial de 200$00 e bimetálica, e a outra ao Ano Internacional dos Oceanos, com o
valor facial de 1000$00 em prata. Os lucros desta amoedação foram cedidos à Parque EXPO
98, S. A., para financiamento de projectos específicos no âmbito da EXPO 98 e do Ano
Internacional dos Oceanos.
As moedas tiveram autoria de João Cutileiro (responsável pela moeda de 200$00 conhecida
por peixe), sendo Espiga Pinto o autor da moeda comemorativa do Ano Internacional dos
Oceanos. A segunda apresentava vários motivos marítimos (rosa-dos-ventos, astrolábios, vela
de barco, constelação Ursa Menor e Estrela Polar, embarcações, cavalo marinho).
A moeda de prata teve ainda emissão especial em prata proof, enquanto a bimetálica teve
emissões em BNC e proof colocadas nas carteiras anuais. Estava prevista uma emissão em
prata proof a qual não se chegou a realizar.
EXPO ‘98
A EXPO'98, Exposição Mundial de 1998, ou, oficialmente, Exposição Internacional de Lisboa de
1998, cujo tema foi "Os oceanos: um património para o
futuro", realizou-se em Lisboa, de 22 de Maio a 30 de
Setembro de 1998. A zona escolhida para albergar o recinto
foi o limite oriental da cidade junto ao rio Tejo. Foram
construídos diversos pavilhões que permanecem ao serviço
dos habitantes e visitantes integrados no agora designado
Parque das Nações, destacando-se o Oceanário (o maior
aquário do Mundo com a reprodução de 5 oceanos distintos
e numerosas espécies de mamíferos e peixes, do arquitecto Peter Chermayeff) um pavilhão de
múltiplas utilizações (Pavilhão Atlântico, arquitecto Regino Cruz) e um complexo de transportes
com metropolitano e ligações ferroviárias (Estação do Oriente, do arquitecto Santiago
Calatrava).
A EXPO'98 atraiu cerca de 11 milhões de visitantes, apesar de previsões iniciais apontarem
para cerca de 15 milhões, o que veio a justificar algumas opções de gestão de carácter
duvidoso, e, acima de tudo, ruinosas para a empresa e seus accionistas. Parte do seu sucesso
151
Apontamentos: Escudo
ficou a dever-se à vitalidade cultural que demonstrou (por exemplo, os seus cerca de 5000
eventos musicais constituíram um dos maiores festivais musicais da história da humanidade).
Arquitectonicamente, a Expo revolucionou esta parte da cidade e influenciou os hábitos de
conservação urbana dos portugueses (pode dizer-se que o Parque das Nações é um exemplo de
conservação bem-sucedida dum espaço urbano).
Foi considerado pelo BIE (o organismo internacional que elege as cidades a receberem as
exposições) como a melhor Exposição Mundial de sempre. A utilização pioneira de ferramentas
de design para grandes projectos de arquitectura, engenharia e construção transformou a
EXPO'98 num caso de estudo internacional na área do desenho assistido por computador
(CAD). O pioneirismo da EXPO foi, aliás, ressaltado por um trabalho de reportagem intitulado
“A Tale of Two Cities” publicado na edição de Junho de 1999, da Computer Graphics World
(volume 22, nº6), a revista de referência internacional do sector. “Os clássicos estiradores
foram substituídos por estações de trabalho. Estávamos em 1993, o que provocou uma
verdadeira revolução no modo de trabalhar típico deste sector e representou uma situação
ímpar na história de grandes projectos no nosso país”. O homem no centro desta operação foi
José da Conceição Silva, um especialista de Informática da área de CAD/AEC, do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), de Lisboa, requisitado para a Parque Expo para
responsável pelo Departamento de CAD, GIS, Web e Multimédia.
Ano Internacional dos Oceanos
O ano de 1998 foi declarado na Assembleia Geral da ONU de 19
de Dezembro de 1994. Os Oceanos como ecossistemas vitais
para a vida na Terra dada a sua influência no clima, na oferta de
alimentação para os Humanos através das pescas e uma das
fontes de várias indústrias (farmacêuticas, via de comunicação,
etc.). Foi em reconhecimento desta importância que a ONU
decreto o ano de 1998 como o Ano Internacional dos Oceanos
(YOTO na sigla inglesa). A designação de ano internacional é de
importância mundial pois implica todos os estados membros em desenvolver políticas
associadas. Neste caso, foi a oportunidade de criar redes entre os vários países no sentido de
optimizar os recursos marinhos e protege-los para as gerações futuras. Neste contexto foi
ainda valorizado a Exposição Mundial que ocorreu em Lisboa que assumiu esse tema como
ponto central.
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: João Cutileiro
Decreto: 150/98 de 30/05/1998
Ano
1998
152
Cunhagem
2 000 000
Código
151.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Espiga Pinto
Decreto: 150/98 de30/05/1998
Ano
1998
Cunhagem
1 000 000
Código
153.01
João Cutileiro
Escultor natural de Lisboa, estando instalado em Évora. Estudou escultura na
Faculdade de Belas Artes de Lisboa e posteriormente na Slade School of Art
em Londres. Com prémios e exposições em todo o mundo, sendo um dos
artistas plásticos portugueses mais internacionais. A nível da numismática
destaca-se por peças simples e com campos das moedas muito pouco
preenchidos.
Espiga Pinto
Escultor natural de Vila Viçosa (1940). Desde 1955, data da sua primeira
Exposição Individual (Vila Viçosa), realizou 80 Exposições Individuais.
Participou em Exposições Colectivas e tem obras em colecções particulares,
nomeadamente em Portugal, Espanha Inglaterra, França e Estados Unidos.
Estreou-se na numária com a moeda do Ano Internacional dos Oceanos.
Ponte Vasco da Gama
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da Ponte Vasco da Gama e que foi publicada no
decreto-lei 62/98 de 17 de Março durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco.
Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Inaugurando-se em Março de 1998 a nova ponte sobre o rio Tejo (Ponte Vasco da Gama),
julgou-se da maior oportunidade assinalar este evento com a emissão de uma moeda
comemorativa cunhada em metal precioso (prata) e com elevado valor facial (500$00),
adequado à projecção nacional e internacional deste notável empreendimento. A moeda de
autoria de Vítor Santos teve ainda emissões especiais em prata proof e lamelar (em ouro e
prata).
O desenho continha uma interpretação da rosa-dos-ventos de Jorge Aguiar (1492) e a imagem
da ponte bem como referência a velame de nau do período de Vasco da Gama. Os lucros da
153
Apontamentos: Escudo
amoedação foram colocados à disposição da entidade promotora, GATTEL— Gabinete da
Travessia do Tejo em Lisboa.
Ponte Vasco da Gama
A Ponte Vasco da Gama é uma ponte sobre o rio Tejo, na área da Grande Lisboa, ligando
Montijo e Alcochete a Lisboa e Sacavém, muito próximo do Parque das Nações, onde se
realizou a EXPO ‘98. Inaugurada a 4 de Abril de 1998, a ponte é a mais longa da Europa e é
actualmente a nona mais extensa de todo o mundo, com os seus 17,3 km de comprimento, dos
quais 10 estão sobre as águas do estuário do Tejo.
O vão (comprimento do tabuleiro) do viaduto central é de 420
m. Foi construída a fim de constituir uma alternativa à ponte
25 de Abril para o trânsito que circula entre o norte e o sul do
país na zona da capital portuguesa.
Aquando da sua construção foi necessário tomar especiais
cuidados com o impacto ambiental, visto que atravessa o
Parque Natural do Estuário do Tejo, uma importante área à escala europeia de alimentação e
nidificação de aves aquáticas. Foi também necessário proceder-se ao realojamento de 300
famílias.
O nome da ponte comemora os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498. É
uma das mais altas construções de Portugal, com 155 m de altura. A ponte tem um perfil
transversal de 3+3 vias, ou seja, um total de seis vias, com um limite de velocidade de 120
km/h. Em dias de vento, chuva ou de céu nublado, o limite de velocidade é reduzida para 90
km/h. O número de vias pode ser alargado para oito, quando o tráfego chegar a uma média
diária de 52 000 veículos.
O projecto foi dividido em quatro partes, as quais foram construídas por empresas diferentes, e
foi supervisionado por um consórcio independente. Encontraram-se até 3300 trabalhadores em
simultâneo com o projecto, o qual constituiu 18 meses de preparação e 18 meses de
construção. A ponte tem uma esperança de vida de 120 anos, tendo sido projectada para
suportar velocidades do vento de 250 km/h e resistir a um sismo 4,5 vezes mais forte do que o
histórico Terramoto de Lisboa, em 1755, sismo estimado em 8,7 na escala de Richter. As
fundações mais profundas, com um diâmetro de 2,2 m, foram conduzidas a uma profundidade
de 95 metros abaixo do nível médio do mar.
Devido ao tamanho da ponte, foi necessário tomar em conta a curvatura da Terra, no
planeamento correcto, pois em caso contrário, um desvio de 80 cm seria verificado em cada
extremidade desta. As pressões ambientais ao longo de todo o projecto resultaram numa
preocupação para a preservação dos pântanos existentes por baixo da ponte, assim como a
iluminação nocturna da ponte, a qual está inclinada para dentro, de forma a não lançar luz
sobre o rio.
154
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Vítor Santos
Decreto: 62/98 de 17/03/1998
Ano
1998
Cunhagem
1 000 000
Código
152.01
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 5.º Centenário da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e que foi publicada no decreto-lei 153/98 de 6 de Junho durante o governo de António Guterres, sendo
seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, instituição ao serviço da solidariedade social, celebrou,
em 1998, 500 anos da sua fundação. A rainha D. Leonor, protectora dos que promoviam os
ideais humanistas e renascentistas, empenhou-se profundamente na prossecução de uma
nova política assistencial, contando para o efeito com o apoio de frei Miguel Contreiras. Assim,
em 15 de Agosto de 1498 nasceu uma irmandade animada de um novo espírito (a Irmandade
de Nossa Senhora da Misericórdia), cujo compromisso veio a servir de modelo a todas as
outras misericórdias fundadas em Portugal, na Europa, no Oriente, em África e no Brasil.
Para lembrar esta efeméride achou-se conveniente a emissão de
moeda em metal precioso (prata) de alto valor (1000$00). Os lucros de
amoedação foram entregues à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
para ser utilizado nas suas obras sociais. A moeda de autoria de José
João Brito apresentava a imagem da Nossa Senhora da Conceição
(padroeira da Misericórdia) com um manto segurado por dois anjos a
dar guarida a elementos figurativos dos doentes (freira vicentina),
clero (bispo), nobreza (monarca) e pobres (mendigo com cajado). No
reverso observa-se o camaroeiro (emblema adoptado pela rainha D.
Leonor, fundadora da Misericórdia).
155
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: José João de Brito
Decreto: 153/98 de 06/06/1998
Ano
1998
Cunhagem
500 000
Código
154.01
José João de Brito
Escultor natural de Coimbra (1941). Com o curso complementar de escultura
pela ESBAP. Destacou-se no campo da medalhística e numismática
nomeadamente com a medalha sobre o tema “Descobrimentos Portugueses”.
Tem ainda obras de escultura em vários pontos do país, Europa (Suécia,
Finlândia, Reino Unido, Hungria ou Suiça) e na América (Uruguai e Estados
Unidos)
D. Manuel I
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 5.º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo
para a Índia no reinado de D. Manuel I e que foi publicada no decreto-lei 319/98 de 27 de Outubro durante o
governo de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Comemorando-se em 1998 o 5º Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia
e tendo-se verificado no reinado de D. Manuel I este e outros factos ímpares da nossa história,
julgou-se da maior oportunidade assinalar esta efeméride pela emissão de uma moeda
comemorativa cunhada em metal precioso (prata) e com elevado valor facial (1000$00),
adequada à projecção nacional e internacional deste notável personagem. Os lucros desta
amoedação foram entregues à Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses.
A moeda de autoria de Joaquim Correia apresentava a figura de D. Manuel I sentado no trono
no anverso e a cruz de Cristo no reverso onde eram ainda representadas duas naus, uma
esfera armilar (emblema do rei) e o escudo de Portugal.
156
Apontamentos: Escudo
D. Manuel I, O Venturoso
D. Manuel I, 14.º rei de Portugal (Alcochete, 1469 — Lisboa, 1521), cognominado de “O
Venturoso”, “O Bem-Aventurado” ou “O Afortunado” tanto pelos eventos felizes que o levaram
ao trono, como pelos que ocorreram no seu reinado. D. Manuel I ascendeu inesperadamente
ao trono em 1495, em circunstâncias excepcionais, sucedendo ao seu primo direito D. João II,
de quem se tornara protegido. Prosseguiu as explorações portuguesas iniciadas pelos seus
antecessores, o que levou à descoberta do caminho marítimo para a Índia, do Brasil e das
ambicionadas "ilhas das especiarias", as Molucas.
Foi o primeiro rei a assumir o título de Senhor do Comércio, da
Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e Índia. Em 1521
promulgou uma revisão da legislação conhecida como Ordenações
Manuelinas, que divulgou com ajuda da recente imprensa. No seu
reinado, apesar da sua resistência inicial, cumprindo as cláusulas do
seu casamento com Maria de Aragão viria a autorizar a instalação
da inquisição em Portugal. Com a prosperidade resultante do
comércio, em particular o de especiarias, realizou numerosas obras
cujo estilo arquitectónico ficou conhecido como manuelino.
Durante seu reinado, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia (1498), Pedro
Álvares Cabral descobriu o Brasil (1500), D. Francisco de Almeida tornou-se no primeiro vice-rei
da Índia (1505) e o almirante D. Afonso de Albuquerque assegurou o controlo das rotas
comerciais do Oceano Índico e Golfo Pérsico e conquistou para Portugal lugares importantes
como Malaca, Goa e Ormuz.
Também no seu reinado organizam-se viagens para ocidente, tendo-se chegado à Gronelândia
e à Terra Nova. O seu reinado decorreu num “contexto expansionista, já preparado por seu
antecessor e marcado pela descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498 e pelas
consequências políticas e económicas que advieram deste facto”. A extensão de seu reinado
“permite surpreender nele uma personagem determinada, teimosa, voluntariosa, autocrática,
detentora de um programa político de potenciação do seu poder dotado de uma assombrosa
coerência, posto em prática até ao seu mais ínfimo detalhe.”
D. Manuel I optou por uma política de expansão indiana e pôs em prática os seus princípios,
criando a oportunidade para a realização da viagem de Vasco da Gama em 1497, contra, ao
que parece, a oposição de parte do seu Conselho. Escolheu, ainda, a via da inversão próaristocrática, ou seja, de restauração de privilégios e direitos antes postos em causa e isto
certamente por opção política de Estado. O rei edificou, igualmente, um Estado que prenuncia
em boa medida o absolutismo régio e o governo iluminado, por contraponto, aliás, ao
problemático e agitado centralismo do seu antecessor D. João II.
Tudo isto contribuiu para a constituição do Império Português, fazendo de Portugal um dos
países mais ricos e poderosos da Europa. D. Manuel I utilizou a riqueza obtida pelo comércio
para construir edifícios reais, no que se chamaria muito posteriormente estilo manuelino, dos
que são exemplo o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Atraiu cientistas para a corte de
157
Apontamentos: Escudo
Lisboa e estabeleceram-se tratados comerciais e relações diplomáticas com a China e a Pérsia,
além de que, em Marrocos, realizaram-se conquistas como Safim, Azamor e Agadir.
A sua completa consagração europeia deu-se com a aparatosa embaixada em 1514, chefiada
por Tristão da Cunha, enviando ao Papa Leão X presentes magníficos como pedrarias, tecidos e
jóias. Dos animais raros, destacaram-se um cavalo persa e um elefante, chamado Hanno,
doravante mascote do papa, que executava várias habilidades. Mas uma das inúmeras
novidades que encantaram os espíritos curiosos das cortes europeias da época terá sido sem
dúvida o rinoceronte trazido das Índias, que assumiu, então, um papel preponderante na arte
italiana.
Na vida política interna, D. Manuel I seguiu as pisadas de D. João II e tornou-se quase num rei
absoluto. As cortes foram reunidas apenas três vezes durante o seu reinado de mais de vinte e
cinco anos, e sempre no paço de Lisboa. D. Manuel I dedicou-se à reforma dos tribunais e do
sistema tributário, adaptando-o ao progresso económico que Portugal então vivia.
D. Manuel I era um homem bastante religioso que investiu uma boa parte da fortuna do país
na construção de igrejas e mosteiros, bem como no patrocínio da evangelização das novas
colónias através dos missionários católicos. O seu reinado ficará também lembrado pela
perseguição feita a judeus e muçulmanos em Portugal, particularmente nos anos de 1496-98.
Esta política foi tomada por forma a agradar aos reis católicos, cumprindo uma das cláusulas
do seu contrato de casamento com a herdeira de Espanha, Isabel de Aragão.
O Massacre de Lisboa de 1506 foi talvez uma das consequências da política de D. Manuel I.
Seguiram-se as conversões forçadas dos judeus e, depois, confiou ao seu embaixador em Roma
a missão secreta de pedir ao papa, em 1515, a permissão de estabelecer a Inquisição em
Portugal. Na cultura, D. Manuel I procedeu à reforma dos Estudos Gerais, criando novos planos
educativos e bolsas de estudo. Na sua corte surge também Gil Vicente, o pai do teatro
português, e Duarte Pacheco Pereira, o geógrafo, autor do Esmeraldo de Situ Orbis.
Analisando-se a sua obra, verifica-se que avulta a tentativa de reforma do reino, “através da
criação de instrumentos unificadores de carácter estatal, como sejam a publicação dos Forais
Novos, reformando os antigos, a Leitura Nova (1504-1522), a compilação e revisão da
legislação, consagrada pelas Ordenações Manuelinas, a reorganização da Fazenda Pública e a
estruturação administrativa daí decorrente. Com ele organiza-se o Estado moderno”. D.
Manuel I morreu em 1521 e encontra-se sepultado no Mosteiro dos Jerónimos.
Joaquim Correia
Escultor natural da Marinha Grande (1920). Com o curso complementar de
escultura iniciado na ESBAP e terminado na ESBAL, onde foi discípulo de José
Simões de Almeida (sobrinho). É sócio efectivo da Sociedade Nacional de
Belas Artes, da Associação dos Arqueólogos Portugueses e da Sociedade de
Geografia de Lisboa. Preside à comissão instaladora do Museu Nacional do
Vidro. Comendador da Ordem Militar de Sant'iago de espada e "Des Arts et
Lettres" de França. É autor de numerosas estátuas, baixos-relevos e medalhas
que figuram em lugares públicos e privados em Portugal e no estrangeiro. Está
representado nos Museus Nacionais de Arte Contemporânea de Lisboa, de
Soares dos Reis no Porto, no centro de arte moderna da fundação Calouste
Gulbenkian, e em várias colecções nacionais e estrangeiras
158
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Joaquim Correia
Decreto: 319/98 de 27/10/1998
Ano
1998
Cunhagem
500 000
Código
155.01
Liga dos Combatentes
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 75.º Aniversário da Liga dos Combatentes e que foi
publicada no decreto-lei 29/99 de 29 de Janeiro durante o governo de António Guterres, sendo seus ministros
Sousa Franco e Veiga Simão. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
De acordo com a introdução da lei que autorizou esta emissão, a Liga dos Combatentes, é uma
instituição de utilidade pública, de ideal patriótico e de carácter social, que celebrou em 1998
e 1999, 75 anos da sua fundação. A Liga dos Combatentes, herdeira da Liga dos Combatentes
da Grande Guerra, criada após o termo da 1.ª Grande Guerra (1914-18), empenha-se
fundamentalmente na protecção e auxílio mútuos de defesa dos interesses morais e materiais
dos que cumpriram ou vierem a cumprir os seus deveres militares, estendendo-se estes fins
aos seus familiares que, de algum modo, se encontrem carecidos. Assim, em 16 de Outubro de
1923 foi fundada a Liga dos Combatentes da Grande Guerra, passando a designar-se apenas
como Liga dos Combatentes, nos termos da Portaria n.º 18 053, de 11 de Novembro de 1960, e
que, ao longo dos anos e numa perspectiva mais alargada, prestou assistência aos militares
que se bateram nas campanhas em que as Forças Armadas nacionais estiveram envolvidas.
Assim e considerando que a Liga dos Combatentes se desenvolveu sempre dentro dos mais
sagrados princípios de bem servir e de honrar a Pátria e a humanidade e que tem uma
organização própria e méritos oficialmente reconhecidos para poder alargar e melhorar acções
de reconhecida utilidade pública, julgou-se da maior oportunidade assinalar este evento com a
emissão de uma moeda comemorativa cunhada em metal precioso (prata) e com elevado
valor facial (1000$00), adequada à projecção nacional deste notável acontecimento. Os lucros
da amoedação foram colocados à disposição da entidade promotora — Liga dos Combatentes.
159
Apontamentos: Escudo
A moeda teve autoria de José João de Brito e apresentava no anverso um ramo de Oliveria
(símbolo da paz) mantida e sempre defendida por uma espada vitoriosa (ideal combatente).
No reverso a Cruz de Guerra (emblema da Liga dos Combatentes) sobreposto às cinco quinas
portuguesas e no fundo a esfera armilar.
Liga dos Combatentes
A Liga dos Combatentes (LC) é uma organização cívica e patriótica
portuguesa que reúne os antigos combatentes das forças armadas e
de segurança. A LC é uma pessoa colectiva de utilidade pública
administrativa tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional.
São seus objectivos: promover a exaltação do amor à Pátria e dos
símbolos nacionais; promover internacionalmente o prestígio de
Portugal; promover a protecção e o auxílio mútuo dos antigos
combatentes; colaborar com as entidades públicas no auxílio aos
antigos combatentes; desenvolver actividades culturais e educacionais em benefício do país e
dos antigos combatentes.
Os principais membros da Liga são os sócios combatentes que incluem os membros das forças
armadas e de segurança que participaram em missões de guerra ou de manutenção de paz.
Existem também outras categorias de sócios que incluem outros militares, civis que tenham
participado em missões de guerra, familiares de antigos combatentes, civis, etc.
A Liga dos Combatentes foi criada em 1923, com a denominação de Liga dos Combatentes da
Grande Guerra. Ao ser criada tinha como objectivo reunir numa associação os militares e exmilitares portugueses que tinham combatido na 1.ª Guerra Mundial. Posteriormente a liga
passou a ser aberta todos os ex-combatentes portugueses, mudando a sua designação para
Liga dos Combatentes.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: José João de Brito
Decreto: 29/99 de 29/01/1999
Ano
1998
160
Cunhagem
500 000
Código
156.01
Apontamentos: Escudo
UNICEF
A legislação associada à emissão da série de moedas comemorativas do 50.º Aniversário da UNICEF e que foi
publicada no decreto-lei 307/99 de 10 de Agosto durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Dentro do programa do cinquentenário da UNICEF, emitiu-se em 1999 uma colecção de
moedas das crianças do Mundo. Considera-se assim oportuno assinalar estas efemérides pela
emissão de duas moedas comemorativas. Foram emitidas tendo por base as moedas correntes
de 100$00 e 200$00 bimetálicas. A moeda de 100$00 de autoria de Fernando Conduto
apresentava apenas desenhos no núcleo surgindo no reverso o símbolo da UNICEF. A de
200$00 apresentava no reverso um brinquedo tradicional português e teve autoria de Clara
Menéres. As moedas tiveram ainda emissões especiais com acabamentos BNC e proof emitidos
nas carteiras anuais.
UNICEF
O Fundo das Nações Unidas para a Infância (em inglês United
Nations Children's Fund - UNICEF) é uma agência das Nações
Unidas que tem como objectivo promover a defesa dos
direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas
necessidades básicas e contribuir para o seu pleno
desenvolvimento. O UNICEF rege-se pela Convenção sobre os
Direitos da Criança e trabalha para que esses direitos se
convertam em princípios éticos permanentes e em códigos de conduta internacionais para as
crianças.
Tem como objectivo promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar resposta às suas
necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento. O mundo já viu muitas
guerras. Todas elas prejudicam as famílias dos países atingidos, especialmente as crianças.
Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, muitas crianças na Europa, no
Médio Oriente e na China não tinham quem cuidasse delas.
Ficaram sem casa, sem família, sem saúde, sem comida, às
vezes sem tudo isso de uma vez.
Dizem que a união faz a força. Então, um grupo de países
reunidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)
resolveu fazer alguma coisa. Foi fundada em 11 de Dezembro
de 1946, e foi criada para ajudar as crianças que viviam na
Europa e que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Sua
sede é em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No começo, o UNICEF era um fundo de emergência
para ajudar as crianças que sofreram com a guerra. Mas alguns anos depois, milhões de
161
Apontamentos: Escudo
crianças de países pobres continuavam ameaçadas pela fome e pela doença. Não dava para
ficar de braços cruzados... Em 1953, o UNICEF tornou-se uma instituição permanente de ajuda
e protecção a crianças de todo o mundo, e é a única organização mundial que se dedica
especificamente às crianças. Hoje, está presente em 191 países.
Em termos genéricos, trabalha com os governos nacionais e organizações locais em programas
de desenvolvimento a longo prazo nos sectores da saúde, educação, nutrição, água e
saneamento e também em situações de emergência ajudar a dar resposta às suas
necessidades básicas e contribuir para o seu pleno desenvolvimento.
Em paralelo o UNICEF apoia projectos concretos desenvolvidos por organizações não
governamentais ou governamentais que oferecem soluções locais ao problema. São projectos
de atendimento directo a crianças e adolescentes em todas as regiões do mundo. As iniciativas
que conseguiram criar metodologias inovadoras e eficientes para tratar o problema são
divulgadas e inspiram outras instituições e projectos.
Ficha Técnica
Peso: 8,3 g
Diâmetro: 25 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos (dez) e serrilhados(doze)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: Fernando Conduto
Decreto: 307/99 de 10/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
157.01
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: Clara Menéres
Decreto: 307/99 de 10/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
162.01
Fernando Conduto
Escultor natural de Silves (1937). Com o curso de escultura da ESBAL. Deu
aulas de técnicas de gravura na Sociedade Cooperativa de Gravadores
Portugueses, de modelação na Escola de Artes Decorativas António Arroio e
162
Apontamentos: Escudo
de Desenho Básico na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa e na Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de
Lisboa. Fez parte do Conselho Técnico e foi co-fundador da Curso de
Formação Artística da Sociedade Nacional de Belas Artes. Realizou três
exposições individuais. Em 2000 o IAPMEI patrocinou a publicação de um livro
sobre o seu trabalho.
Clara Menéres
Escultora natural de Braga (1943). Com o curso de escultura pela ESBAP
possuindo igualmente um doutoramento em Etnologia na Universidade de
Paris VII. Como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Luso
Americana prosseguiu os seus estudos artísticos em Paris e nos Estados
Unidos. Tem desenvolvido intensa actividade docente, na ESBAL e na
Universidade de Évora. Como escultora é de destacar as suas obras de cariz
religioso onde as temáticas bíblicas reflectem um profundo e sensível diálogo
entre fé e arte.
10.ª Série dos Descobrimentos: O Mundo
Novo, Brasil
A legislação associada à emissão da 10ª série de moedas comemorativas dos Descobrimentos com o tema “O
Mundo Novo, Brasil” que foi publicada no decreto-lei 313/99 de 11 de Agosto durante o governo de António
Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Em continuação do programa monetário e numismático dedicado aos Descobrimentos
Portugueses, a 10.ª série destas moedas comemorativas foi alusiva à descoberta do Brasil. A
chegada dos portugueses aos mares da América do Sul marcou uma nova era no
desenvolvimento mundial, que se reflectiu em todas as
actividades, desde as comerciais e culturais até às científicas e
religiosas. Considerou-se, assim, oportuna a emissão de uma
série de moedas comemorativas alusivas a esta efeméride, no
âmbito das comemorações nacionais dos Descobrimentos
Portugueses.
A série teve autoria de: Eloisa Byrne (Duarte Pacheco Pereira),
Isabel Carriço e Fernando Branco (Pedro Álvares Cabral), Raul
Machado (Descoberta do Brasil) e António Marinho (Morte no
Mar). Tal como as anteriores séries as moedas foram
cunhadas em cuproníquel com o valor de 200$00. Foram
ainda feitas emissões especiais em prata BNC, prata e ouro proof, para além da emissão
prestígio (quatro moedas, quatro metais).
Como habitualmente os motivos representados têm alusões marítimas e referentes às
efemérides. Assim, na moeda de Duarte Pacheco Pereira para além da sua efígie estão
representadas duas caravelas. Na de Pedro Álvares Cabral a representação de onze navios da
163
Apontamentos: Escudo
sua frota, perfil do navegador e recorte da costa brasileira com a representação do local de
desembarque (Porto Seguro). Na relativa à descoberta do Brasil a representação de um trecho
da carta do Atlas de Lopo Homem Reineis de 1519 com a localização do Brasil, onde figuram
duas figuras humanas e outros elementos locais (ave e duas palmeiras). Na moeda com o tema
Morte no Mar surgem os cordames de navios e a representação de um naufrágio com
destroços de uma nau e a figura de um monstro marinho.
Duarte Pacheco Pereira
Duarte Pacheco Pereira (Lisboa, 1460 — 1533) foi um navegador,
militar e cosmógrafo português. Filho de João Pacheco e Isabel
Pereira nasceu em Lisboa (afirma-se ainda que em Santarém) em
1460. Em 1455 encontra-se Duarte Pacheco letrado, recebendo
uma bolsa de estudos do monarca. Cavaleiro da casa de D. João II,
contrariamente à tradição é pouco provável que tenha ido em 1482
a São Jorge da Mina, onde Diogo de Azambuja iniciava a
construção do Feitoria de São Jorge da Mina. De acordo com a obra
Décadas da Ásia, do cronista João de Barros, na viagem de retorno
do cabo da Boa Esperança, em 1488, Bartolomeu Dias, encontrou-o
gravemente doente na ilha do Príncipe e levou-o para Portugal.
Reconhecido geógrafo e cosmógrafo, em 1490 viveu em Lisboa da pensão real a que o seu
título lhe dava direito. Em 7 de Junho de 1494 assinou, na "qualidade de contínuo da casa do
senhor rei de Portugal", o Tratado de Tordesilhas. Em 1498 D. Manuel I encarregou-o de uma
expedição secreta, organizada com o objectivo de reconhecer as zonas situadas para além da
linha de demarcação de Tordesilhas, expedição que, partindo do Arquipélago de Cabo Verde, se
acredita teria culminado com o descobrimento do Brasil, em algum ponto da costa entre o
Maranhão e o Pará, entre os meses de Novembro e Dezembro desse mesmo ano. Dali, teria
acompanhado a costa Norte, alcançando a foz do rio Amazonas e a ilha do Marajó.
Em relação ao descobrimento do Brasil ou da eventual exploração das Antilhas e parte da
América do Norte, tendo em conta as revelações cartográficas contidas no Planisfério de
Cantino, o autor apresenta informações no segundo capítulo da primeira parte.
Resumidamente, o trecho relata: "Como no terceiro ano de vosso reinado do ano de Nosso
Senhor de mil quatrocentos e noventa e oito, donde nos vossa Alteza mandou descobrir a parte
ocidental, passando além a grandeza do mar Oceano, onde é achada e navegada uma tam
grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela e é grandemente povoada.
Tanto se dilata sua grandeza e corre com muita longura, que de uma arte nem da outra não foi
visto nem sabido o fim e cabo dela. É achado nela muito e fino brasil com outras muitas cousas
de que os navios nestes Reinos vem grandemente povoados."
É, assim, o primeiro roteiro de navegação portuguesa a mencionar a costa do Brasil e a
abundância de pau-brasil (Caesalpinia echinata), nela existente. No Atlântico Sul, entre as ilhas
oceânicas, apresenta, com suas "ladezas" (latitudes) conhecidas à época: A ilha de Sam
Lourenço (ilha de Fernando de Noronha); A ilha d'Acensam (ilha da Trindade); A ilha de S. Crara
(ilha de Santana, ao largo de Macaé) e o cabo Frio.
164
Apontamentos: Escudo
Em 1503 comandou a nau Espírito Santo, integrante da esquadra de Afonso de Albuquerque à
Índia. Ali guarneceu a Fortaleza de Cochim com 150 homens e alguns indianos onde sustentou
vitorioso o cerco do Samorim de Calecute que dispunha de 50.000 homens. Tendo exercido os
cargos de Capitão-general da Armada de Calecute e de Vice-rei e Governador do Malabar na
Índia, retornou a Lisboa em 1505 quando foi recebido em grande triunfo. Em Lisboa e em todo
o lado os seus feitos da Índia foram divulgados e um relato dos mesmos foi enviado ao Papa e
a outros reis da cristandade. Foi como uma espécie de herói internacional que, nesse ano
iniciou a redacção do Esmeraldo de situ orbis, obra que ele interrompeu nos primeiros meses de
1508. Nesse ano foi encarregado pelo soberano de dar caça ao corsário francês Mondragon
que actuava entre os Açores e a costa portuguesa, onde atacava as naus vindas da Índia.
Duarte Pacheco localiza-o, em 1509, ao largo do cabo Finisterra, onde o derrotou e capturou.
Em 1511 comandou uma frota enviada em socorro a Tânger, sob cerco das forças do Rei de
Fez. Desposou no ano seguinte a Dona Antónia de Albuquerque que recebe do Rei um dote de
120.000 reais, que lhe será entregue em fracções, até 1515. Em 1519 foi nomeado capitão e
governador de São Jorge da Mina, onde serviu até 1522. Veio sob prisão para Portugal por
ordem de D. João III pela acusação de contrabando de ouro, embora actualmente ainda não se
conheçam os reais motivos de tal decisão do monarca. Quando libertado por ordem do Rei,
recebeu 300 cruzados a título de parte de pagamento por jóias que tinha trazido de São Jorge
da Mina e havia confiado à Casa da Mina para serem fundidas.
Faleceu nos primeiros meses de 1533 e, pouco depois, o monarca concedeu a seu filho, João
Fernandes Pacheco, uma pensão anual de 20.000 reais. Como as pensões reais frequentemente
eram pagas com atraso, mãe e filho passaram dificuldades, o que os levou a recorrer a um
empréstimo. A lenda de Duarte Pacheco Pereira desenvolveu-se após a sua morte. Luís de
Camões, n'Os Lusíadas chama-lhe fortíssimo e Grão Pacheco Aquiles Lusitano. Mais tarde, no
século XVII, Jacinto Cordeiro consagrou-lhe duas comédias bastante longas em castelhano e,
Vicente Cerqueira Doce, um poema em dez cantos, de que se perdeu o rasto.
De acordo com um de seus mais importantes biógrafos, o historiador português Joaquim
Barradas de Carvalho, que viveu exilado no Brasil na década de 1960, Duarte Pacheco foi um
génio comparável a Leonardo da Vinci. Com a antecipação de mais de dois séculos, o
cosmógrafo foi o responsável pelo cálculo do valor do grau de meridiano com uma margem de
erro de apenas 4%.
Morte no Mar
Na época dos Descobrimentos as viagens marítimas eram de grande risco. De facto, as
estatísticas desta época eram terríveis para quem procurava a aventura saindo de Portugal.
Em média menos de metade regressavam. As causas da sua morte eram várias desde os
naufrágios por causas climatéricas e dificuldades marítimas, passando por causas bélicas. Não
raras vezes os homens que saiam de Portugal em busca de ganhar a sua fortuna acabavam por
participar em guerras como mercenários muito bem pagos perecendo não raras vezes nos
campos de batalha. Será necessário não esquecer ainda o contacto com doenças tropicais para
as quais os europeus e a sua medicina primitiva não estavam de todo preparados. Por fim, um
pequeno número prosperava e muitas vezes não regressava ao país natal. Mas os perigos e a
165
Apontamentos: Escudo
frequência dos naufrágios seriam com certeza traumatizantes, sendo que o maior poeta deste
período chegou a sofrer um e descreveu no canto X do seu poema Os Lusíadas:
“Vêm do naufrágio triste e miserando,
Dos procelosos baxos escapados,
Das fomes, dos perigos grandes, quando
Será o injusto mando executado”
Fernão Mendes Pinto na sua narração descreve vários episódios de naufrágios dos quais
conseguiu sobreviver miraculosamente, também é um bom exemplo deste constante perigo.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 313/99 de 11/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
158.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 313/99 de 11/08/1999
Ano
1999
166
Cunhagem
500 000
Código
159.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 313/99 de 11/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
160.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 313/99 de 11/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
161.01
Macau
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da transferência da soberania de Macau de Portugal
para a República Popular da China que foi publicada no decreto-lei 456/99 de 5 de Novembro durante o governo
de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Ocorrendo, em 20 de Dezembro de 1999, a constituição da Região Administrativa Especial de
Macau, com a transferência da administração do território de Macau para a República Popular
da China, depois de 450 anos de presença portuguesa, julgou-se da maior oportunidade
167
Apontamentos: Escudo
assinalar este acontecimento pela emissão de uma moeda comemorativa cunhada em metal
precioso (prata) e com elevado valor facial (500$00).
A moeda de autoria de Paula Lourenço apresentava a representação da ponte que liga a
península de Macau à ilha de Taipa (Ponte da Amizade), sendo o mar a representação da
calçada portuguesa presente nas ruas de Macau. A legenda desta moeda era bilingue
(português e chinês) estando em chinês: “Macau-Portugal”. A moeda para além da emissão
corrente teve ainda emissão em prata proof e lamelar (ouro e prata).
Macau
Macau é uma Região Administrativa Especial da República Popular da China desde os primeiros
momentos da madrugada do dia 20 de Dezembro de 1999.Antes desta data, Macau foi
colonizada e administrada por Portugal durante mais de 400 anos e é considerada o primeiro
entreposto bem como a última colónia europeia na China.
Esta administração teve começo em meados do século XVI,
quando Macau foi colonizada e ocupada gradualmente pelos
portugueses. Estes últimos rapidamente trouxeram
prosperidade a este pequeno pedaço de terra, tornando-a
numa grande cidade e importante intermediário no comércio
entre a China, a Europa e o Japão, fazendo com que ela
atingisse o seu auge nos finais do século XVI e nos inícios do século XVII. Só em 1887 é que a
China reconheceu oficialmente a soberania e a ocupação perpétua portuguesa sobre Macau,
através do "Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português".
Em 1967, como consequência do Motim 1-2-3 levantado pelos residentes chineses prócomunistas de Macau no dia 3 de Dezembro de 1966, Portugal renunciou a sua ocupação
perpétua sobre Macau. Em 1987, após intensas negociações entre Portugal e a República
Popular da China, os dois países concordaram que Macau iria passar de novo à soberania
chinesa no dia 20 de Dezembro de 1999.
Actualmente, Macau está a experimentar um grande e acelerado crescimento económico,
baseado no acentuado desenvolvimento do sector do jogo e do turismo, as duas actividades
económicas vitais desta região administrativa especial
chinesa.
É constituída pela Península de Macau e por duas ilhas (Taipa
e Coloane, entretanto com a ligação feita por terra seca por
meio de um aterro, o istmo de Cotai), numa superfície total
de 28,6 km².
Macau situa-se na costa meridional da República Popular da China, a oeste da foz do Rio das
Pérolas e a 60 km de Hong Kong, que se encontra aproximadamente a este de Macau. Faz
fronteira a norte e a oeste com a Zona Económica Especial de Zhuhai, logo é adjacente à
província de Guangdong.
168
Apontamentos: Escudo
Macau efectua muitos aterros para reclamar, "obter" mais espaços de construção à foz do Rio
das Pérolas. Tem cerca de 538 mil habitantes, sendo a esmagadora maioria de etnia chinesa.
Desde 20 de Dezembro de 1999, o nome oficial de Macau é "Região Administrativa Especial de
Macau da República Popular da China" (RAEM). Após o estabelecimento da RAEM, Macau
actua sob os princípios do Governo Popular Central Chinês da RPC de "um país, dois sistemas",
de "Administração de Macau pela Gente de Macau" e de "Alto Grau de Autonomia", gozando
por isso de um estatuto especial, semelhante ao de Hong-Kong, e possuindo consequentemente
um elevado grau de autonomia, limitando-se apenas no que se refere às suas relações
exteriores e à defesa. Foi também garantido pela RPC a preservação do seu sistema
económico-financeiro e das suas especificidades durante pelo menos 50 anos, isto é, pelo
menos até 2049.
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Paula Lourenço
Decreto: 456/99 de 05/11/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
163.01
Paula Lourenço
Escultora com o curso de escultura pela FBAL. Estagiou no CENCAL e em
Montemor-o-Novo, “Escultura em Terracota” com a escultora Virgínia Fróis.
Nos seus trabalhos expressa-se em Escultura, Medalhística, Numismática,
Gravura (Calcografia e Ilustração). Expõe em Portugal e estrangeiro. Está
representada no British Museum. Membro da Sociedade Cooperativa de
Gravadores Portugueses, Federação Internacional Medalhística.
25.º Aniversário do 25 de Abril
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa do 25.º Aniversário do 25 de Abril que foi publicada no
decreto-lei 147/99 de 4 de Maio durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco. Jorge
Sampaio era o Presidente da República.
Comemorou-se em 1999 o 25.º Aniversário da Revolução do 25 de Abril. Julgou-se da maior
oportunidade assinalar este evento com a emissão de uma moeda comemorativa cunhada em
metal precioso (prata) e com elevado valor facial (1000$00), adequado à projecção deste
acontecimento. A moeda de autoria de José Aurélio apresentava um jogo gráfico com as
169
Apontamentos: Escudo
palavras “Liberdade” e “Democracia” no rebordo e no campo “25 de Abril” e “25 Anos”. Para
além da emissão corrente foi ainda realizada emissão especial em prata proof. Os lucros desta
amoedação foram entregues à Comissão Executiva das Comemorações Oficiais do 25 de Abril.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: José Aurélio
Decreto: 147/99 de 04/05/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
164.01
3.ª Série EXPO ‟98: Milénio do Atlântico
A legislação associada à emissão da 3.ª Série EXPO ’98 dedicada ao Milénio do Atlântico que foi publicada no
decreto-lei 314/99 de 11 de Agosto durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro Sousa Franco.
Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Dando seguimento ao programa monetário e numismático aprovado pelo Decreto-Lei n.º
171/97, de 8 de Julho, foi aprovada a terceira e última moeda comemorativa da Exposição
Mundial de Lisboa — EXPO 98, sendo esta alusiva ao “Milénio do Atlântico”, com o valor facial
de 1000$00 em prata.
A moeda de autoria de Paulo Guilherme utilizou a figura do Adamastor para representar os
feitos associados à exploração do Atlântico. Para além da emissão corrente foi ainda emitida
uma edição especial em prata proof. Os lucros da amoedação foram entregues à Parque EXPO
’98.
Adamastor
Adamastor é um mítico gigante baseado na mitologia greco-romana, referido por Luís de
Camões n'Os Lusíadas. Representa as forças da natureza contra Vasco da Gama sob a forma de
uma tempestade, ameaçando a ruína daquele que tentasse dobrar o Cabo da Boa Esperança e
penetrasse no Oceano Índico, os alegados domínios de Adamastor.
170
Apontamentos: Escudo
É o nome atribuído a um dos gigantes, filhos de Terra, que se rebelaram contra Zeus.
Fulminados por este, ficaram dispersos e reduzidos a promontórios, ilhas e fraguedos. O seu
nome surge, certamente, pela primeira vez com Sidónio Apolinário. O gigante foi listado por
Rabelais, em Gargantua e Pantagruel.
Foi popularizado ao ser usado com verdadeira mestria pelo poeta português Luís de Camões,
no Canto V da epopeia portuguesa Os Lusíadas, como o gigante do Cabo das Tormentas, que
afundava as naus, e cuja figura se desfazia em lágrimas, que eram as águas salgadas que
banhavam a confluência dos oceanos Atlântico e Índico. O episódio do Adamastor representa,
assim, em figuração grandiosa e comovida, a sua oposição à audácia dos navegadores
portugueses e a predição da história trágico-marítima que se lhe seguiria.
O Adamastor tem não só o papel de reforçar o positivismo da viagem, assim como o Velho do
Restelo. Também dá ênfase ao “mais que humano feito” referido na proposição. Realçando a
coragem do Herói, individual ou colectivo, que enfrenta, apesar do medo, desafios superiores
do poder do Homem, porque renega a sua emoção seguindo a ordem de el-rei.
Na continuação do episódio, o narrador mostra-nos como este gigante tem uma fraqueza, um
amor impossível, mostrando que até o mais poderoso ser padece dessa doença benigna que é o
amor. A sul do Cabo Bojador erguia-se um conjunto de lendas e superstições que a imaginação
mitogénica criara a partir do mundo desconhecido. Os marinheiros quatrocentistas não podiam
deixar de sentir o mistério que envolvia a transposição de tais obstáculos. As lendas
representavam o medo do que havia no tenebroso cabo e para além dele.
À custa de uma experimentação contínua, os marinheiros portugueses aprenderam a recusar
esses mitos e chegaram com Bartolomeu Dias ao Cabo das Tormentas, conhecido pela
impossibilidade de se navegar, e que, passando a se chamar Cabo da Boa Esperança, lhes abria
as portas da Índia. Os mares desse cabo serviram muitas vezes de sepultura a naus e a gentes
carregadas de riquezas e de desilusões, como que comprovando as profecias do Adamastor.
171
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Paulo Guilherme
Decreto: 314/99 de 11/08/1999
Ano
1999
Cunhagem
500 000
Código
165.01
Jogos Olímpicos de Sidney 2000
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa à participação portuguesa nos Jogos Olímpicos
de Sidney que foi publicada no decreto-lei 113/2000 de 4 de Julho durante o governo de António Guterres, sendo
seu ministro Pina Moura. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Realizando-se em 2000 os Jogos Olímpicos de Sidney, considerou-se oportuno assinalar esta
efeméride e a participação de Portugal com a emissão de uma moeda comemorativa. A moeda
de autoria de Nogueira da Silva foi cunhada em módulo bimetálico com o valor de 200$00. A
moeda apresentava para além dos anéis olímpicos e facho olímpico (símbolo das Olímpiadas
modernas), a cúpula da Ópera de Sidney. O diferencial entre o valor facial e os
correspondentes custos de produção relativamente às moedas efectivamente colocadas junto
do público será posto pelo Ministério das Finanças à disposição do Ministério da Educação,
para ser afecto ao Comité Olímpico Português para financiamento dos custos de preparação e
das deslocações das equipas e delegações olímpicas nacionais. Para além da emissão corrente
foram ainda produzidas moedas em acabamento BNC e proof colocadas nas carteiras anuais
Jogos Olímpicos de Sidney
Os Jogos Olímpicos de Verão de 2000 (Jogos do Novo
Milénio), oficialmente conhecidos como Jogos da XXVII
Olimpíada foram realizados em Sidney, na Austrália, entre 13
de Setembro e 1 de Outubro de 2000 (com a Cerimónia de
Abertura ocorrendo em 15 de Setembro). Competiram 10 651
atletas de 199 países em 300 eventos desportivos. Os maiores
172
Apontamentos: Escudo
Jogos Olímpicos de todos os tempos em número de atletas e de países ocorreram num clima de
paz e com uma excelente organização. Apesar de serem oficialmente os Jogos Olímpicos de
Verão de 2000, ocorreram entre o fim do inverno e o início da primavera australiana. A
presença portuguesa nestes Jogos Olímpicos saldou-se em duas medalhas de bronze, uma para
Fernanda Ribeiro, na prova de atletismo de 10 000 m e outra para Nuno Delgado, em Judo na
categoria de - 81 Kg.
Ficha Técnica
Peso: 9,8 g
Diâmetro: 28 mm
Bordo: Alternado em blocos lisos e serrilhados (catorze de
cada)
Eixo: Horizontal
Metal: Bimetálica
Composição: núcleo Cu 900, Al 50, Ni 50; anel Cu 750, Ni 250
Autor: Nogueira da Silva
Decreto: 113/2000 de 04/07/2000
Ano
2000
Cunhagem
1 000 000
Código
166.01
11.ª Série dos Descobrimentos: Novas
Fronteiras Marítimas
A legislação associada à emissão da 11.ª Série Dos Descobrimentos (Novas Fronteiras Marítimas) que foi
publicada no decreto-lei 299/2000 de 18 de Novembro durante o governo de António Guterres, sendo seu
ministro Pina Moura. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Em continuação do programa monetário e numismático dedicado aos Descobrimentos
portugueses, foi autorizada a emissão da 11.ª série destas moedas comemorativas, alusiva às
“Novas Fronteiras Marítimas”, cada uma dedicada, respectivamente, à Terra do Lavrador, à
Terra dos Corte-Reais, à Terra Florida e a Fernão de Magalhães. As moedas cunhadas em
cuproníquel com valor de 200$00, tiveram ainda emissões especiais em prata e ouro proof,
para além da emissão prestígio (quatro moedas/quatro metais). Os lucros da amoedação
foram colocados à disposição da Comissão Nacional para as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses.
A autoria das moedas foi de: Eloisa Byrne (Terra do Lavrador), Isabel Carriço e Fernando
Branco (Terra dos Cortes Reais), António Marinho (Terra Florida) e Raul Machado (Fernão de
Magalhães). Como habitualmente apresentaram motivos marítimos e alusivos às
comemorações específicas. Assim, na moeda relativa à Terra do Lavrador surgia uma
173
Apontamentos: Escudo
representação esquemática do Atlântico Norte (segundo o planisfério de Cantino), a ilha de
Terra Nova, extremidade sul da Gronelândia e baleia, enquanto no reverso surgia a
representação esquemática da Terra do Lavrador segundo o mapa da Cosmografia Universal
de G. le Tetu com representação de elementos da flora e fauna locais, assim como, uma
caravela de três mastros. Na moeda referente à Terra dos Cortes Reais uma caravela de três
mastros de velas latinas e as armas dos Cortes-Reais e uma representação de um fio de costa
com a legenda “Esta he a terá Dos Corte Reais”. Na moeda relativa à Terra Florida um mapa
descritivo da área (território e costas da Florida) com a cruz de Cristo e caravela de dois
mastros a navegar. Na moeda relativa a Fernão de Magalhães encontra-se a representação da
nau que concluiu a primeira viagem de circum-navegação (Victoria) e a figura do navegador
recolhida em retrato da época.
Terra do Labrador
O Labrador é uma das duas regiões que compõem a província
canadiana de Terra Nova e Labrador. O Labrador localiza-se
no continente, na Península de Labrador, enquanto que a
Terra Nova é uma ilha, a sudeste da Terra Nova.
A população do Labrador é actualmente de cerca de 30 000
habitantes. Destes, cerca de 20% são nativos americanos,
entre Inuits, Innus, e Métis. Com uma área de 294 330 km², o Labrador possui um tamanho
similar ao da Itália.
O nome Labrador é um dos nomes de origem europeia mais
antigas do Canadá, quase tão antiga quanto o nome
Newfoundland (Terra Nova). A região do Labrador foi
nomeada em homenagem ao explorador português João
Fernandes Lavrador, que, juntamente com Pedro de Barcelos
avistaram a região em 1499. A maior parte da colonização e
do povoamento não aborígene da região deu-se através de
vilas pesqueiras, missões religiosas e postos comerciais.
Assentamentos mais modernos e recentes foram criados graças à exploração de minério de
ferro e da criação de barragens e centrais hidroeléctricas e de bases militares.
Cortes Reais e Terra Nova
João Vaz Corte-Real era um navegador português do século XV ligado ao
descobrimento da Terra Nova, cerca do ano de 1472. Para além desta
expedição, Corte-Real organizou ainda outras viagens que o terão levado
até à costa da América do Norte, explorando desde as margens do Rio
Hudson e São Lourenço até ao Canadá e Península do Labrador.
Em 1474 foi nomeado capitão-donatário de Angra e a partir de 1483, também da ilha de S.
Jorge. Os seus três filhos, todos navegadores audaciosos, Gaspar Corte-Real, Miguel Corte-Real
e Vasco Anes Corte-Real, continuaram o espírito de aventura de seu pai tendo os dois primeiros
desaparecido depois de expedições marítimas, em 1501 e 1502 respectivamente. Vasco Anes
174
Apontamentos: Escudo
quis ir em busca de seus irmãos mas o Rei não lhe concedeu autorização, tendo sucedido a seu
pai como Capitão-Donatário.
Por volta de 1418 o Infante D. Henrique deu vida e alento ao grande desejo dos Portugueses de
procurarem fama e fortuna, descobrindo terras novas num mundo que era então vastamente
desconhecido. As outras nações, que mais tarde competiram com os portugueses na
colonização, encontravam-se por essa altura ocupadas com graves problemas internos.
Tomando vantagem dessa distracção, e em grande segredo, um enorme esforço foi
desenvolvido que resultou na descoberta da maioria das terras do mundo pelos navegadores
portugueses. Por causa desse grande segredo necessário nessa altura, hoje a História tem
lacunas, que muitos pesquisadores procuram diligentemente preencher. Umas destas é: Quem
foi o primeiro Navegador a descobrir o Canadá? E a América?
Hoje aceita-se que João Vaz Corte-Real possa ser considerado como o primeiro europeu que
chegou à costa Americana, pelo menos, mais
de vinte anos antes de Cristóvão Colombo.
Em 1918 Edmund Delabarre, da Brown
University, escreveu (em inglês): "Eu vi, clara
e indubitavelmente, a data 1511. Ninguém
até à data a viu, ou detectou, na pedra ou em
fotografia, mas uma vez vista, a sua presença
genuína não pode ser negada".
Um médico Luso-Americano, Manuel Luciano da Silva, que como Historiador e Pesquisador
amador, viu e reconheceu em Fall River, Massachusetts, prova vastamente ignorada de que
Miguel Corte-Real ali esteve em 1511. Essa prova é constituída por uma grande pedra,
conhecida pela Dighton Rock, em que se podem ver vários escudos em V com cruzes idênticas
às usadas nas velas das Naus e Caravelas Portuguesas:
MIGUEL CORTEREAL
V. DEI HIC DUX IND.
1511.
Depois de gravada, a pedra de Dighton esteve 500 anos ao "sabor dos ventos e das marés". A
erosão é tremenda, estando a pedra muito maltratada. Sempre que maré subia, a tapava
quase totalmente, e sempre que descia e a destapava os ventos arrastavam areias que a
desgastavam. No Inverno os gelos, no Verão o Sol, sempre as ondas, e ainda, humanos, que lá
escrevinharam coisas. O pior foi o vandalismo humano até 1974 quando a pedra foi colocada
dentro de um pavilhão fechado. Manuel Luciano da Silva compreendeu a importância desta
descoberta e tornou-se o seu Moderno Paladino, dedicou muitos anos da sua vida, a sua
considerável influência e muito do seu dinheiro, para que a pedra Dighton fosse reconhecida
como testemunha de facto histórico significante e salva do seu ambiente destrutivo. Em 1973,
a sua instância, um pavilhão octogonal foi construído para abrigar a pedra, e hoje existe o
Museu da Pedra Dighton, no que se tornou um Parque Estatal. Da Silva escreveu dois livros e
muitos artigos, e tem feito centenas de palestras para disseminar esta informação.
175
Apontamentos: Escudo
Terra Florida
A história oficial atribuí a descoberta europeia do território actual de Florida ao castelhano
Juan Ponce de Leon em 1513, o qual reclamou o território para a coroa espanhola. Na verdade
é provável que o território já fosse conhecido antes por navegadores europeus (de facto Ponce
de Leon comunicou com nativos em espanhol que o compreendiam). Os outros possíveis
“descobridores” são o inglês John Cabot que terá entre 1497-98 reconhecido a costa norteamericana ou os portugueses. Para validar estas últimas hipóteses contam-se as cartas
marítimas deste período. Assim, na Carta de Cantino (cópia de mapa oficial português da
época de 1500) está representada a costa da actual Florida. A prova de que terão sido os
portugueses é no entanto de difícil comprovação dada a escassez de registos deste período.
Fernão de Magalhães
Fernão de Magalhães (Ponte da Barca c.1480, Portugal, - 27 de
Abril de 1521, Filipinas) foi um navegador português que, ao
serviço do rei de Espanha, planeou e comandou a expedição
marítima que efectuou a primeira viagem de circum-navegação ao
globo. Foi o primeiro a alcançar a Terra do Fogo no extremo Sul do
continente Americano, a atravessar o estreito hoje conhecido como
Estreito de Magalhães e a cruzar o Oceano Pacífico, que baptizou.
Fernão de Magalhães foi morto em batalha na ilha de Cebu, nas
Filipinas no curso da expedição, posteriormente chefiada por Juan
Sebastián Elcano até ao regresso em 1522.
Fernão de Magalhães era filho de Rui de Magalhães e Alda de Mesquita, irmão de Duarte de
Sousa, Diogo de Sousa, Isabel Magalhães e de Leonor de Magalhães, (da nobre Casa do Paço
Vedro de Magalhães, Ponte da Barca). Após a morte de seus pais, aos dez anos, Magalhães
tornou-se pajem da corte da Rainha D. Leonor, consorte de D. João II. Casou com Beatriz
Barbosa e teve dois filhos: Rodrigo de Magalhães e Carlos de Magalhães, ambos falecidos
jovens. Em Março de 1505, com 25 anos, alistou-se na Armada da Índia, enviada para instalar
D. Francisco de Almeida como primeiro vice-rei da Índia. Embora o seu nome não figure nas
crónicas, sabe-se que ali permaneceu oito anos, e que esteve em Goa, Cochim e Quíloa.
Participou em várias batalhas, incluindo a batalha naval de Cananor em 1506, onde foi ferido.
Em 1509 partiu com Diogo Lopes de Sequeira na primeira embaixada a Malaca, onde seguia
também Francisco Serrão, seu amigo e possivelmente primo. Chegados a Malaca em Setembro,
foram vítimas de uma conspiração e a expedição terminou em fuga, na qual Magalhães teve
um papel crucial avisando Sequeira e salvando Francisco Serrão que havia desembarcado. Para
trás ficaram dezanove prisioneiros. A sua actuação valeu-lhe honras e uma promoção.
Ao serviço do novo governador, D. Afonso de Albuquerque, participou na conquista de Malaca
em 1511. Após a conquista da cidade Magalhães promovido, com um rico saque e na
companhia de um escravo malaio, regressou. As cartas do seu amigo Serrão, que tinha ficado
como embaixador nas ilhas Molucas, para Magalhães seriam decisivas, pois dele obteve
informações quanto à situação dos lugares produtores de especiarias. Fernão de Magalhães,
após se ausentar sem permissão, perdeu influência. Em serviço em Azamor (Marrocos) foi
176
Apontamentos: Escudo
depois acusado de comércio ilegal com os mouros, com várias das acusações comprovadas
cessaram as ofertas de emprego a partir de 15 de Maio de 1514.
Mais tarde, em 1515, surgiu uma oferta para membro da tripulação de um navio, mas
Magalhães rejeitou-a. Em Lisboa dedicou-se a estudar as mais recentes cartas, investigando
uma passagem para o pacífico pelo Atlântico Sul e a possibilidade de as Molucas estarem na
zona de Tordesilhas espanhola, em parceria com o cosmógrafo Rui Faleiro.
Em 1517 foi a Sevilha com Rui Faleiro, tendo encontrado no feitor da "Casa de la Contratación"
da cidade um adepto do projecto que entretanto concebera: dar a Espanha a possibilidade de
atingir as Molucas pelo Ocidente, por mares não reservados aos portugueses no Tratado de
Tordesilhas e, além disso, segundo Faleiro, provar que as ilhas das especiarias se situavam no
hemisfério castelhano. Com a influência do bispo de Burgos conseguiram a aprovação do
projecto por parte de Carlos V, e começaram os morosos preparativos para a viagem, cheios de
incidentes; o cartógrafo de origem portuguesa Diogo Ribeiro que começara a trabalhar para
Espanha em 1518, na Casa de Contratación em Sevilha participou no desenvolvimento dos
mapas utilizados na viagem.
Depois da ruptura com Rui Faleiro, Magalhães continuou a aparelhagem dos cinco navios que,
com 256 homens de tripulação, partiram de Sanlúcar de Barrameda em 20 de Setembro de
1519. A esquadra tinha cinco navios e uma tripulação total de 234 homens, com cerca de 40
portugueses entre os quais Duarte Barbosa, cunhado de Magalhães, João Serrão, primo ou
irmão de Francisco Serrão e Estevão Gomes. Seguia também Henrique de Malaca.
Antonio Pigafetta, escritor italiano que havia pago do seu próprio bolso para viajar com a
expedição, escreveu um diário completo de toda a viagem, possibilitado pelo fato de Pigafetta
ter sido um dos 18 homens a retornar vivo para a Europa. Dessa forma, legou à posteridade um
raro e importante registo de onde se pode extrair muito do que se sabe sobre este episódio da
história. A armada fez escala nas ilhas Canárias e alcançou a costa da América do Sul,
chegando em 13 de Dezembro ao Rio de Janeiro. Prosseguindo para o sul, atingiram Puerto San
Julian à entrada do estreito, na extremidade da actual costa da Argentina, onde o capitão
decidiu hibernar.
Irrompeu então uma revolta que ele conseguiu dominar com habilidosa astúcia. Após cinco
meses de espera, período no qual a "Santiago" foi perdida em uma viagem de reconhecimento,
tendo os seus tripulantes conseguido ser resgatados, Magalhães encontrou o estreito que hoje
leva seu nome, aprofundando-se nele. Em outra viagem de reconhecimento, outra nau foi
perdida, mas desta vez por um motim na "San Antonio" onde a tripulação, sem que soubesse
seu capitão-mor, iniciou uma viagem de volta (realmente estes completaram a viagem,
espalhando ofensas contra Fernão de Magalhães na Espanha).
Apenas em Novembro a esquadra atravessaria o Estreito, penetrando nas águas do Mar do Sul
(assim baptizado por Balboa), e baptizando o oceano em que entravam como “Pacífico” por
contraste às dificuldades encontradas no Estreito. Depois de cerca de quatro meses, a fome, a
sede e as doenças (principalmente o escorbuto) começaram a dizimar a tripulação. No Pacífico
que encontrou as nebulosas que hoje ostenta o seu nome - as nebulosas de Magalhães.
177
Apontamentos: Escudo
Em Março de 1521, alcançaram a ilha de Ladrões no actual arquipélago de Guam, chegando à
ilha de Cebu nas actuais ilhas Filipinas em 7 de Abril. Imediatamente começaram com os
nativos as trocas comerciais. Dias depois, porém, Fernão de Magalhães morreu em combate
com os nativos na Ilha de Mactan, atraído a uma emboscada.
A expedição prosseguiu sob o comando de João Lopes Carvalho, deixando Cebu no início de
Março de 1522. Dois meses depois, seria comandada por Juan Sebastián Elcano.
Decidiram incendiar a nau Concepción, visto o pequeno número de homens para operá-la, e
finalmente conseguiram chegar às Molucas, onde obtiveram seu suprimento de especiarias.
Trinidad acabou ali permanecendo para reparos e a "Victoria" voltou sozinha para casa,
contornando o Índico pelo sul, a fim de não encontrar navios portugueses.
A Trinidad, após os reparos tentou seguir uma rota pelo
Pacífico até a América Central, onde poderia contactar os
espanhóis e levar sua carga, no entanto acabou tendo de
retornar às Molucas onde seus tripulantes foram aprisionados
pelos portugueses que ha viam chegado.
A nau "Victoria" dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1522,
fez escala em Cabo Verde, onde alguns homens foram detidos pelos portugueses, alcançando
finalmente o porto de S. Lúcar de Barrameda, com apenas 18 homens na tripulação. Uma única
nau tinha completado a circum-navegação do globo ao alcançar Sevilha em 6 de Setembro de
1522. Juan Sebastián Elcano, a restante tripulação da expedição de Magalhães e o último navio
da frota regressaram decorridos três anos após a partida. A expedição de facto trouxe poucos
benefícios financeiros, não tendo a tripulação chegado a receber o pagamento.
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Eloisa Byrne
Decreto: 299/2000 de 18/11/2000
Ano
2000
178
Cunhagem
250 000
Código
167.01
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Isabel Carriço e Fernando Branco
Decreto: 299/2000 de 18/11/2000
Ano
2000
Cunhagem
250 000
Código
168.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: António Marinho
Decreto: 299/2000 de 18/11/2000
Ano
2000
Cunhagem
250 000
Código
169.01
Ficha Técnica
Peso: 21 g
Diâmetro: 36 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: Raul Machado
Decreto: 299/2000 de 18/11/2000
Ano
2000
Cunhagem
250 000
Código
170.01
179
Apontamentos: Escudo
Eça de Queiroz
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa relativa ao Primeiro Centenário da morte de Eça de
Queiroz que foi publicada no decreto-lei 203/2000 de 1 de Setembro durante o governo de António Guterres,
sendo Jaime Gama interinamente o Primeiro-ministro e Pina Moura, o ministro das Finanças. Jorge Sampaio era o
Presidente da República.
Ocorrendo em 2000 o 1.º Centenário da Morte de Eça de Queiroz julgouse da maior oportunidade assinalar esta efeméride pela emissão de uma
moeda comemorativa cunhada em metal precioso (prata) e com elevado
valor facial (500$00), adequada à projecção nacional e internacional
deste notável escritor. A moeda de autoria de Paulo Guilherme destacase pela efígie geometrizada do escritor. A moeda teve ainda emissões
especiais de prata proof e lamelar (ouro e prata).
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Paula Guilherme
Decreto: 203/2000 de 01/09/2000
Ano
2000
Cunhagem
500 000
Código
171.01
Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia
A legislação associada à emissão da moeda comemorativa da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia de 2000 que foi publicada no decreto-lei 114/2000 de 4 de Julho durante o governo de António
Guterres, sendo seu ministro Pina Moura. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
180
Apontamentos: Escudo
Celebrando a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2000, foi considerado
oportuno assinalar esta efeméride com a emissão de uma moeda comemorativa em prata e de
alvo valor (1000$00). A moeda com autoria de José João de Brito apresentava alusões às
gravuras rupestres de Foz de Côa, a obra de arte mais antiga do país e em cuja conservação foi
um dos motes políticos deste período e à paisagem de socalcos da bacia do Douro, região
próxima ao local onde foram encontradas as gravuras rupestres. Para além da moeda corrente
foi ainda feita emissão especial em prata proof.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: José João de Brito
Decreto: 114/2000 de 04/07/2000
Ano
2000
Cunhagem
450 000
Código
172.01
4.ª Série Iberoamericana: Homem e o
Seu Cavalo
A legislação associada à emissão da 4.ª Série Iberoamericana (“Homem e o Seu Cavalo”) com o tema Cavalo
Lusitano que foi publicada no decreto-lei 255/2000 de 17 de Outubro durante o governo de António Guterres,
sendo seus ministros Jaime Gama, Pina Moura e Capoulas Santos. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
A preservação do meio cultural e da diversidade no planeta é algo de fundamental para o
futuro da humanidade. Julgou-se, assim, da maior importância a participação de Portugal, em
181
Apontamentos: Escudo
conjunto com vários países do continente americano e com a Espanha, na emissão de uma
série internacional de moedas comemorativas alusivas ao “Homem e o seu Cavalo”. Na moeda
portuguesa (prata, 1000$00) foi seleccionado o tema do Cavalo Lusitano. A face portuguesa
teve autoria de Vítor Santos e apresentava a representação de um puro-sangue lusitano e de
um cavaleiro com as vestes tradicionais a montar um cavalo lusitano. Foi ainda produzida uma
emissão especial em prata proof. Os lucros da amoedação foram distribuídos pela Associação
Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano e pela Associação da Feira Nacional
do Cavalo. Participaram nesta emissão os seguintes países: Argentina, Cuba, Equador,
Espanha, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai.
O Cavalo Lusitano
O Puro-sangue Lusitano é uma raça de cavalos com origem em Portugal. É o cavalo de sela
mais antigo do Mundo, sendo montado aproximadamente há mais de 5 000 anos. Os seus
ancestrais são comuns aos da raça Sorraia e Árabe. Essas duas raças formam os denominados
cavalos ibéricos, que evoluíram a partir de cavalos primitivos existentes na Península Ibérica
dos quais se supõe descenderem directamente o pequeno grupo da raça Sorraia ainda
existente. Pensa-se que essa raça primitiva foi cruzada com cavalos Brad oriundos do Norte de
África e mais tarde tiveram também influência do Árabe.
O Puro-sangue Lusitano apresenta uma aptidão natural para alta escola (Haute École) e
exercícios de ares altos, uma vez que põe os membros posteriores debaixo da massa com
grande facilidade. Assim, o Lusitano revela-se não só no toureio e equitação clássica, mas
também nas disciplinas equestres federadas como dressage, obstáculos, atrelagem e, em
especial, equitação de trabalho, estando no mesmo patamar que os melhores especialistas da
modalidade. Foram estes cavalos portugueses, os utilizados na produção do filme "O Senhor
dos Anéis".
182
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Vítor Santos
Decreto: 255/2000 de 17/10/2000
Ano
2000
Cunhagem
450 000
Código
173.01
D. João de Castro
A legislação associada à emissão da moeda relativa a D. João de Castro incluída nas emissões associadas às
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses aprovada no decreto-lei 300/2000 de 18 de Novembro durante
o governo de António Guterres, sendo seu ministro Pina Moura. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Enquadrado
no
programa
monetário
comemorativo
dos
Descobrimentos Portugueses, foi emitida uma moeda alusiva à vida e à
obra de D. João de Castro, IV Vice-Rei da Índia, cientista e navegador. A
moeda de autoria de António Vidigal foi cunhada em prata com o valor
de 1000$00. Como habitualmente foi produzida emissão especial em
prata proof. Os lucros desta amoedação foram aplicados nas
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
António Vidigal
Escultor natural de Safara (1936) com o curso de escultura pela ESBAL (1968).
Professor Catedrático na FBAL. Autor de diversos monumentos e esculturas
públicas, medalhas comemorativas e retratos, estando representado em
diversos museus, nomeadamente: Mirandela, Alençon (França), Luís de
Camões (Macau), e José Malhoa (Caldas da Rainha).
183
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: António Vidigal
Decreto: 300/2000 de 18/11/2000
Ano
2000
Cunhagem
450 000
Código
174.01
Porto 2001 Capital Europeia da Cultura
A legislação associada à emissão da moeda relativa à comemoração do Porto 2001 Capital Europeia da Cultura
aprovada no decreto-lei 167/2001 de 25 de Maio durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Pina Moura. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
A realização do “Porto 2001 — Capital Europeia da Cultura” constituiu um evento da maior
importância, pelo que se julgou oportuno assinalar esta efeméride através da emissão de uma
moeda comemorativa cunhada em metal precioso (prata) e com elevado valor facial (500$00),
adequado à projecção nacional e internacional deste acontecimento. A moeda desenvolvida
por Irene Vilar cujo desenho foi baseado no logótipo da Capital Europeia da Cultura teve ainda
emissões especiais em acabamento proof em ouro e prata. Os lucros desta amoedação foram
entregues à Sociedade Porto 2001, S.A. promotora do evento.
Porto 2001
Porto 2001 foi o nome dado à iniciativa Porto Capital Europeia
da Cultura 2001 em conjunto com Roterdão. A programação
foi dividida em: teatro, música, dança, artes plásticas e
arquitectura, programa de envolvimento da população,
animação da cidade, circo, marionetas, literatura, odisseia nas
imagens, ópera e ciência.
Esta iniciativa foi acompanhada por um forte investimento na
recuperação e construção do espaço público da cidade. De destacar, a recuperação do Jardim
da Cordoaria, da Praça da Batalha e da Praça de D. João I, e as novas construções, o Edifício
184
Apontamentos: Escudo
Transparente (de Santiago Calatrava) e a Casa da Música obra emblemática deste evento, da
autoria do arquitecto Rem Koolhaas.
Ficha Técnica
Peso: 14 g
Diâmetro: 30 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: Irene Vilar
Decreto: 167/2001 de 25/05/2001
Ano
2001
Cunhagem
500 000
Código
175.01
Europeu de Futebol 2004
A legislação associada à emissão da moeda relativa à Organização do Campeonato Europeu de Futebol 2004
aprovada no decreto-lei 252/2001 de 22 de Setembro durante o governo de António Guterres, sendo seu ministro
Oliveira Martins. Jorge Sampaio era o Presidente da República.
Face à importância para o País da organização pela primeira vez do Europeu de Futebol,
considerou-se da maior oportunidade assinalar este acontecimento com a emissão de uma
moeda comemorativa. A moeda de autoria de José Simão faz referência a um dos maiores
momentos do jogo de futebol: o golo. A moeda cunhada em prata com valor facial de 1000$00
teve ainda emissão especial em prata proof. Os lucros desta amoedação foram colocados à
disposição da Federação Portuguesa de Futebol para investimentos associados à organização
do evento.
Organização do Campeonato Europeu de Futebol 2004
Considerado o maior evento desportivo jamais realizado em Portugal, o décimo segundo
Campeonato Europeu de Futebol teve lugar entre 12 de Junho e 4 de Julho de 2004. O
empreendimento, fruto do empenho da Federação Portuguesa de Futebol, contou com o apoio
formal e inequívoco do governo e da grande maioria da população portuguesa.
Os primeiros passos do evento foram dados a 1 de Junho de 1998, quando Portugal apresentou
o logótipo de candidatura. Três meses mais tarde, foram apresentados os 10 estádios
constantes da candidatura, que foi entregue oficialmente na sede da UEFA a 1 de Outubro do
mesmo ano. Outra data marcante para o processo foi 24 de Julho de 1999: mais de 30 000
185
Apontamentos: Escudo
pessoas juntaram-se no relvado do estádio nacional para formar um logótipo humano que
promovia a realização do evento em Portugal, mencionando "We love football". Finalmente, a
12 de Outubro de 1999, a UEFA anunciou a escolha de Portugal para a organização do
Europeu, em detrimento da Espanha e da candidatura conjunta da Áustria e Hungria.
O governo comprometeu-se a comparticipar em 25% das despesas de construção ou
remodelação dos 10 estádios da competição e respectivos lugares de estacionamento, bem
como a suportar a totalidade dos custos com as acessibilidades. Os promotores das obras
foram os clubes e as câmaras municipais. Para fiscalizar e
acompanhar as referidas obras foi constituída, em Outubro de
2001, a sociedade anónima (de capitais maioritariamente públicos)
Portugal 2004, S.A. Os palcos da fase final do Euro 2004 foram os
seguintes: em Braga, o Estádio Municipal de Braga; em Guimarães,
o Estádio D. Afonso Henriques; no Porto, o Estádio do Dragão e o
Estádio do Bessa; em Aveiro, o Estádio Municipal de Aveiro; em
Coimbra, o Estádio Municipal de Coimbra; em Leiria, o Estádio Dr.
Magalhães Pessoa; em Lisboa, o Estádio da Luz e o Estádio
Alvalade XXI; e em Faro, o Estádio do Algarve.
O logótipo oficial do Euro 2004, criado pela empresa britânica Euro
RSCG, é a representação de uma bola de futebol, cujo desenho foi
baseado em elementos tradicionais da arte portuguesa, inserida
num coração de filigrana ladeado, por sua vez, por sete pontos
verdes. A escolha de sete pontos está relacionada com a
importância deste número na história de Portugal, como a
existência de sete castelos na bandeira e a conquista dos sete mares. A mascote oficial da
competição foi o Kinas, um rapaz apaixonado por futebol, cujo nome foi inspirado nos cinco
escudos do brasão português.
Ficha Técnica
Peso: 27 g
Diâmetro: 40 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Prata
Composição: Ag 500
Autor: José Simão
Decreto: 252/2001 de 22/09/2001
Ano
2001
186
Cunhagem
500 000
Código
176.01
Apontamentos: Escudo
Edições Especiais
Conferência Mundial de Gestão e Desenvolvimento das
Pescas
A Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO) decidiu organizar, em
1984, a Conferência Mundial sobre Gestão e Desenvolvimento de Pescas. Esta Conferência
teve como principal objectivo alertar a opinião internacional para a necessidade de uma
exploração racional dos recursos pesqueiros, por forma a melhorar as condições de vida das
populações. Como uma das formas de sensibilização da opinião pública, o Governo decidiu
autorizar a emissão de uma moeda comemorativa desta iniciativa.
A moeda de autoria de José Aurélio foi cunhada em cuproníquel com valor de 250$00.
Apresentava no reverso um cardume em forma de cunha apontada da esquerda para a direita.
A emissão portuguesa foi integrada numa internacional que contou com a participação de 12
países. A instituição que teve na base desta emissão foi a Real Casa da Moeda Britânica. A
moeda portuguesa sobressaiu da monotonia plástica naturalista representada nas restantes
moedas, com uma composição dinâmica e moderna.
A moeda em cuproníquel nunca chegou a circular pois o diploma que autorizou a sua
cunhagem (decreto-lei n.º 70/84, de 27 de Fevereiro) estabeleceu um antecedente pouco
canónico: a totalidade da emissão, 200 000 moedas de cuproníquel de 250$00 e 22 000
moedas de prata com acabamento proof, seria distribuída e comercializada pela INCM.
187
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Peso: 23 g
Diâmetro: 37 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Cuproníquel
Composição: Cu 750,Ni250
Autor: José Aurélio
Decreto: 70/84 de 27/02/1984
Ano
1984
Cunhagem
123 572
Escudo de Ouro
No último ano de circulação do escudo como moeda corrente em
Portugal julgou-se oportuno autorizar a cunhagem pela Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., de uma emissão de espécimes
numismáticos em ouro da moeda de 1$. Esta moeda em quase tudo (no
aspecto) idêntica à corrente em latão-níquel foi cunhada em ouro
(91,66 %) acabamento flor de cunho. Tinha 4,6 g e 16 mm de diâmetro,
eixo horizontal. Para além do peso, diferia da corrente pois no reverso
surgia Au sobre o escudo nacional.
Ficha Técnica
Peso: 4,6 g
Diâmetro: 16 mm
Bordo: Serrilhado
Eixo: Horizontal
Metal: Ouro
Composição: Au 916,6
Autor: Helder Baptista
Decreto: 339-B/2001 de 28/12/2001
Ano
2001
Cunhagem
50 000
Tipos de Emissões Especiais
Desde os finais dos anos 70 o INCM instituiu uma nova política comercial na qual todas as suas
emissões passaram a ter emissões correntes (com raras e já referidas excepções) e emissões
especiais dedicadas a coleccionadores com moedas com acabamentos especiais. A primeira
legislação sobre estes aspectos foi aprovada em 1983 (decreto-lei 176/83 de 3 de Maio),
188
Apontamentos: Escudo
revista em 1984 (decreto-lei 325/84 de 9 de Outubro). Em 1988 (decreto-lei 178/88 19 de
Maio) foi novamente revista a lei criando-se os seguintes espécimes numismáticos:
a) “flor de cunho” (FDC) – moedas de cunhagem especial, sobre discos metálicos
escolhidos e com recurso a cunhos novos, seleccionados pela qualidade de
acabamento superficial nas primeiras séries de cunhagem;
b) “brilhantes não circulados” (BNC) – moedas de cunhagem especial, sobre discos
metálicos polidos e com recurso a cunhos polidos, apresentando o campo e os
relevos uniformemente brilhantes ou uniformemente patinados;
c) “provas numismáticas” (proof) – moedas de cunhagem especial, sobre discos
metálicos polidos e com recurso a cunhos foscados e polidos, apresentando o
campo espelhado e os relevos matizados.
Em 1996 foi introduzido pela INCM um novo método de produção de moedas denominadas de
lamelares. Este processo desenvolvido por António José do Rosário Coelho Teixeira, Paulo
António Firme Martins e Paulo Jorge Dias Leitão chegou a ser premiado em 1998 na XX
Conferência de Directores de Casa da Moeda com o prémio: Melhor moeda comemorativa em
desenvolvimento tecnológico.
O processo baseia-se na utilização de discos metálicos com diâmetros próximos, sendo um
muito delgado (designado lamela), sobreposto e encravado mecanicamente no mais espesso,
através dos cunhos, simultaneamente com a operação de cunhagem que transpõe para a
superfície dos discos as respectivas gravuras. O processo requer a formação de uma geometria
especial no bordo do disco mais espesso, o que possibilita o encravamento dos discos. A
tecnologia proposta baseia-se num processo de produção que envolve três operações de
enformação plástica a frio e uma de recozimento intermediário. Na primeira operação de
enformação plástica forma-se um bordo alto no disco mais espesso (disco). A segunda
operação é a rebordagem do disco obtido anteriormente, durante a qual o bordo pré-cunhado
é curvado para o interior do disco, de modo a formar um perfil adequado para o
encravamento da lamela. A terceira operação de enformação plástica é a cunhagem, durante a
qual os discos (disco e lamela) são montados e encravados, através da sobreposição do
rebordo do disco sobre o bordo da lamela, simultaneamente com a transposição das gravuras
para a sua superfície. O recozimento deverá ser realizado imediatamente antes desta
operação, de modo a devolver a ductilidade inicial ao disco antes de se proceder à cunhagem.
Por fim, referência ao cuidado desenvolvido nestas produções com estojos próprios aos quais
se associaram, nomeadamente nas séries dos Descobrimentos à emissão de documentação
especial, como representações entre outras de cartas marítimas e mapas que em muito
enobreceram estas emissões.
Emissões especiais do INCM:
em cuproníquel
o BNC
Ano Internacional do Deficiente (1984)
Mundial de Hóquei (1982)
10.º Aniversário 25 de Abril (1984)
189
Apontamentos: Escudo
190
o Proof
Em prata
o BNC
o Proof
FAO pescas (1984)
FAO alimentação (1983)
Ano Internacional da Criança (1979)
Adesão à CEE (1986)
Fernando Pessoa (1986)
Alexandre Herculano (1977)
XVII Exposição (1983)
Luís Camões (1980)
Mundial Futebol México (1986)
D. Afonso Henriques (1985)
Batalha de Aljubarrota (1985)
1.ª Série dos Descobrimentos (1987)
Jogos Olímpicos de Seul (1988)
Autonomia Regional Açores (1986)
Amadeu Souza Cardoso (1987)
2.ª Série dos Descobrimentos (1989)
Batalha de Ourique (1989)
Restauração da Independência (1990)
Camilo Castelo Branco (1990)
Antero de Quental (1991)
3.ª Série dos Descobrimentos (1991)
Jogos Olímpicos de Barcelona (1992)
Presidência da Comunidade Europeia (1992)
4.ª Série dos Descobrimentos (1993)
5.ª Série dos Descobrimentos (1994)
D. António, Prior do Crato e Centenário Autonomia Açoriana (1995)
6.ª Série dos Descobrimentos (1995)
7.ª Série dos Descobrimentos (1996)
8.ª Série dos Descobrimentos (1997)
9.ª Série dos Descobrimentos (1998)
10.ª Série dos Descobrimentos (1999)
11.ª Série dos Descobrimentos (2000)
25 de Abril (1977)
XVII Exposição (1983)
Luís de Camões (1980)
Região Autónoma Açores (1980)
Região Autónoma Madeira (1981)
FAO pescas (1984)
Mundial Futebol México (1986)
Adesão à CEE (1986)
Fernando Pessoa (1986)
Apontamentos: Escudo
D. Afonso Henriques (1985)
Batalha de Aljubarrota (1985)
1.ª Série dos Descobrimentos (1987)
Jogos Olímpicos de Seul (1988)
Autonomia Regional Açores (1986)
Amadeu Souza Cardoso (1987)
2.ª Série dos Descobrimentos (1989)
Batalha de Ourique (1989)
Restauração da Independência (1990)
Camilo Castelo Branco (1990)
Antero de Quental (1991)
3.ª Série dos Descobrimentos (1991)
Jogos Olímpicos de Barcelona (1992)
Presidência da Comunidade Europeia (1992)
Encontro de Dois Mundos (1992)
4.ª Série dos Descobrimentos (1993)
5.ª Série dos Descobrimentos (1994)
Tratado de Tordesilhas (1994)
O Lobo (1994)
D. João II (1995)
D. António, Prior do Crato e Centenário Autonomia Açoriana (1995)
6.ª Série dos Descobrimentos (1995)
Santo António (1995)
Fragata D. Fernando II e Glória (1996)
Jogos Olímpicos de Atlanta (1996)
7.ª Série dos Descobrimentos (1996)
Banco de Portugal (1996)
Nossa Senhora de Conceição (1996)
Expedições Oceanográficas (1996)
8.ª Série dos Descobrimentos (1997)
Padre António Vieira (1997)
Pauliteiros de Miranda (1997)
Crédito Público (1997)
Ponte Vasco da Gama (1998)
9.ª Série dos Descobrimentos (1998)
Ano Internacional dos Oceanos (1998)
Santa Casa da Misericórdia (1998)
Liga dos Combatentes (1998)
25 anos do 25 de Abril (1999)
Milénio do Atlântico (1999)
10.ª Série dos Descobrimentos (1999)
Macau (1999)
Eça de Queiroz (2000)
Presidência do Conselho da União Europeia (2000)
11.ª Série dos Descobrimentos (2000)
191
Apontamentos: Escudo
192
O Homem e o seu Cavalo (2000)
D. João de Castro (2000)
Porto 2001 (2001)
Europeu de Futebol 2004 (2001)
Em ouro
o BNC
1.ª Série dos Descobrimentos (1987)
o Proof
2.ª Série dos Descobrimentos (1989)
3.ª Série dos Descobrimentos (1991)
4.ª Série dos Descobrimentos (1993)
5.ª Série dos Descobrimentos (1994)
6.ª Série dos Descobrimentos (1995)
Santo António (1995)
7.ª Série dos Descobrimentos (1996)
8.ª Série dos Descobrimentos (1997)
9.ª Série dos Descobrimentos (1998)
10.ª Série dos Descobrimentos (1999)
11.ª Série dos Descobrimentos (2000)
Porto 2001 (2001)
Séries Prestígio (quatro moedas/quatro metais) em prata, ouro, platina e paládio
o BNC
1.ª Série dos Descobrimentos (1987)
o Proof
1.ª Série dos Descobrimentos (1987)
2.ª Série dos Descobrimentos (1989)
3.ª Série dos Descobrimentos (1991)
4.ª Série dos Descobrimentos (1993)
5.ª Série dos Descobrimentos (1994)
6.ª Série dos Descobrimentos (1995)
7.ª Série dos Descobrimentos (1996)
8.ª Série dos Descobrimentos (1997)
9.ª Série dos Descobrimentos (1998)
10.ª Série dos Descobrimentos (1999)
11.ª Série dos Descobrimentos (2000)
Lamelar (ouro e prata)
o Proof
Banco de Portugal (1996)
Padre António Vieria (1997)
Ponte Vasco da Gama (1998)
Macau (1999)
Eça de Queiroz (2000)
Apontamentos: Escudo
Desde 1986 a INCM tem ainda emitido as Séries Anuais, em que são incluídas em acabamento
BNC e proof as moedas correntes, incluindo-se (nos anos em que foram emitidas) moedas
bimetálicas comemorativas. Emissões BNC (de 1986 a 2001), e proof (de 1991 a 2001).
193
Apontamentos: Escudo
194
Apontamentos: Escudo
Erros e Variantes
O Escudo nasceu numa época de cunhagem mecânica já desenvolvida à escala industrial de
grande produção. Embora raros registaram-se alguns erros de produção que chegaram a sair
para a circulação. De referir ainda algumas variações ao nível do cunho que por vezes fazem as
delícias dos coleccionadores. Vejamos alguns exemplos.
P aberto
Esta variante surgiu logo no início do Escudo, ocorrendo nas seguintes moedas:
1 centavo de 1920
20 centavos 1920
20 centavos 1921
Portugusa
Na moeda comemorativa da UNICEF de 100$00 bimetálica de 1999 ocorreu um erro grave ao
nível da produção dos cunhos. Assim, um pouco mais do que metade da produção (180 000 de
um total de 320 000) da moeda tinha um erro na palavra Portuguesa, a qual foi cunhada como
Portugusa.
Os berloques nas moedas de 200 escudos Garcia da
Orta
Os 200 escudos de 1991 (os primeiros a serem emitidos) tinham o berloque do chapéu do
Garcia de Horta na coroa exterior. A partir do ano seguinte, muito provavelmente para facilitar
o processo de cunhagem, foi feito um reajuste do desenho para que o berloque passasse a
ficar na coroa interna. Os catálogos apontam como única excepção o ano 1997, o que quereria
dizer que existem dois cunhos distintos. Se foi isso que aconteceu, então é realmente uma
excepção e portanto uma variante. Até ficar provado, aquilo que acontece é um desvio do
disco no processo, ficando o berloque a meio caminho entre um e outro disco.
195
Apontamentos: Escudo
Mudanças de cunho nas alpacas
Embora pequenas, ocorreram algumas mudanças que são perceptíveis entre os cunhos pré
1946 e pós 1946. Estas pequenas diferenças são de importância nomeadamente para detectar
falsificações do escudo de 1935 feitas a partir de moedas cunhadas posteriormente.
Assim, são de referir as seguintes diferenças: largura do bordo (mais fino nas primeiras), os
castelos (mais pequenos e estreitos nas mais antigas), cabelo (distância ao listel – maior nas
primeiras datas – e nessa mesma zona, diferença no cabelo por baixo da “voluta” – arco feito
pelo cabelo – em que nas moedas mais antigas podem ver-se três níveis de representação do
cabelo em vez de dois nas mais recentes).
196
Apontamentos: Escudo
Mudança na assinatura
Nas moedas de 1 escudo latão-níquel, verificou-se uma alteração de cunho que conduziu a
alteração na dimensão do nome do autor (H. Baptista) e na espessura das linhas do desenho
do vitral. Esta alteração ocorreu em 1992, havendo nesta data as duas variantes.
Mudança nas velas
A moeda de 50 escudos sofreu uma pequena alteração ao nível das velas da embarcação
representada. Esta alteração surgiu pela necessidade de coerência em relação à informação
presente na lei de aprovação da moeda que indica que o navio representado é do século XV,
como tal os escudetes têm de estar virados ao centro e na vertical como aconteceu em 1986.
Erros de Eixo
Estes erros começaram a ser “comuns” com o aumento de produção de moeda ocorrida a
partir dos anos 50. Assim, ocasionalmente surgem pequenas variações de eixo que são pouco
significativas. Em alguns anos foram detectadas variações significativas (por exemplo eixos
horizontais que passaram a verticais), embora em volume reduzido. A forma de avaliar o eixo
segue a representação abaixo (eixo horizontal).
197
Apontamentos: Escudo
Estão documentados as seguintes variações de eixo:
X centavos 1951 (eixo vertical)
X centavos 1965 (eixo vertical)
X centavos 1968 (eixo vertical)
X centavos 1968 (eixo 8 H)
10 centavos 1974 (eixo vertical)
10 centavos 1976 (eixo vertical)
XX centavos 1951 (eixo vertical)
XX centavos 1964 (eixo 9 H)
XX centavos 1964 (eixo vertical)
20 centavos 1973 (eixo vertical)
20 centavos 1974 (eixo vertical)
50 centavos 1973 (eixo 4 H)
50 centavos 1979 (eixo 8 H)
1 escudo 1976 (eixo vertical)
1 escudo 1979 (eixo vertical)
1 escudo 1982 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1964 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1973 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1974 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1975 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1978 (eixo 7 H)
2 escudos e 50 centavos 1983 (eixo vertical)
2 escudos e 50 centavos 1983 (eixo 9 H)
5 escudos 1976 (eixo vertical)
5 escudos 1981 (eixo vertical)
25 escudos 1984 (eixo vertical)
100 escudos 1989 (eixo vertical)
100 escudos 1991 (eixo vertical)
100 escudos 1992 (eixo vertical)
200 escudos 1997 (eixo vertical)
Variações do bordo
Nos bordos legendados é possível definir dois tipos de bordo, o chamado bordo A e o bordo B
atendendo à orientação do texto tendo como como base o anverso (ou o reverso) da moeda.
Assim, colocando uma moeda com bordo legendado (exemplo 10 escudo cuproníquel) com o
anverso para cima deveremos encontrar moedas com a legenda invertida e normal.
Diferenças nos blocos dos bordos
Nas moedas de 100 escudos bimetálicas ocorreu em 1991 uma alteração ao nível do número
de blocos serrilhados em que apenas aparecem seis blocos.
198
Apontamentos: Escudo
Moedas ou “Moedas”
A definição de Moeda é algo difícil de definir de forma a ser consensual para todos os
coleccionadores. Tomando como linha de base ter poder liberatório, autorização para circular
e ter circulado surgem dois numismas que levantam grande celeuma.
Começando pelo 1 centavo de 1922. Foi uma
peça com autorização (como os restantes 1
centavos), mas cuja utilização foi suspensa em
1922. Nesta altura o custo de produção e em
metal era superior ao seu valor. Acontece que já
tinha sido produzida um volume importante
destas moedas (2.150.000 segundo registos da
Casa da Moeda), quando foi decidida a sua suspensão e consequente não colocação em
circulação. Não se sabe como (existem no entanto algumas lendas como a do director da Casa
da Moeda ter ficado com cinco ou seis para recordação…) algumas terão saído da Casa da
Moeda.
Assim, nos finais dos anos sessenta em artigo publicado no Diário de Lisboa (5-12-1960) é dada
informação de existência de três exemplares. Pouco depois surgiram mais três. Desde essa
altura assume-se como só existindo seis exemplares deste numisma, que por duas vezes já foi
leiloado na Numisma por valores astronómicos.
Quanto aos 10 centavos de alumínio de 1969,
existe maior concordância. Teve lei a autorizar
(que foi revista dando origem aos 10 centavos
que foram colocados a circular em 1971) e terão
circulado (por engano foram colocados a
circular). Na Grande História do Escudo de
Trigueiros é referido que os exemplares de 10
centavos de alumínio de 1969 terão sido um ensaio industrial (15000 exemplares) dada a
necessidade de ajustar o modo de produção para a nova liga. A moeda difere da mais comum
pelo módulo (16 mm) e no reverso apresenta cunho semelhante às moedas de bronze prévias.
Por fim, referência às moedas de ouro previstas na lei
122 de 1911 que nunca viriam a ser emitidas. São
conhecidas as de 5 escudos que terão sido oferecidas a
um Presidente numa visita à Casa da Moeda.
Recentemente em leilão da Numisma (Dezembro de
2011) foi colocada a leilão uma prova para 1 escudo.
São raridades que mostram que o Escudo poderia ser
bem mais rico.
199
Apontamentos: Escudo
Notas de Réis com Sobrecarga
“República”
A necessidade de aumentar o dinheiro em circulação, a falta de metal conduziu durante o
período da primeira República à proliferação de notas de baixo valor com consequente
inflação. Esta necessidade teve uma das suas expressões com a emissão das últimas notas de
Réis para a circulação com a sobrecarga “Republica”.
Circularam neste período os seguintes valores: 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 20000, 50000 e
100000 Réis. As notas de 500 Réis Ch. 3 são as mais comuns. Teve uma emissão de 47 milhões.
Retirada de circulação em 24 de Junho de 1929 (em concomitância existiam 51 milhões de
notas de $50, para além das moedas de $50 de prata, bronze alumínio e alpaca (1927-29). As
chapas desta nota foram gravadas na Estamparia do Banco de Portugal, cabendo à firma
Bradbury, Wilkinson & Co, Ltd., de Londres, a sua estampagem, bem como a impressão
tipográfica do texto complementar (data, numeração, as palavras O Governador e O Director e
chancelas) e a sobrecarga REPÚBLICA. A sua emissão foi iniciada em 20 de Julho de 1917
mantendo-se até 4 de Junho de 1925. A sobrecarga ocorrer em vermelho e em preto. As notas
têm as datas de 27 de Dezembro de 1904 e de 30 de Setembro de 1910. Datas estas anteriores
à data da implantação da República que ocorreu, como se sabe, em 5 de Outubro de 1910. Daí
que os motivos da nota tenham um conteúdo “monárquico”, porque destinavam-se a ser
utilizadas antes da República. No verso surge a cabeça de Atena, Deusa grega da Guerra.
Embora com as datas referidas acima, foi inicialmente emitida em 20 de Julho de 1917.
200
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: $500
Chapa: 3
Frente: Denominação da nota. Escudo monárquico com sobrecarga República
Verso: Representação da Guerra (figura feminina)
Marca de água: Efígie feminina simbolizando a guerra
Medidas: 119x73 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 20-07-1917
Última emissão: 04-07-1925
Retirada de circulação: 24-07-1929
Datas: 27-12-1904; 30-09-1910
Emissão: 47 000 000
A Chapa 3 de 1000 réis foi a única que circulou na República. Actualmente é uma nota rara e
difícil de encontrar em estado de nova. A principal razão será a emissão muito baixa (2 700 000
201
Apontamentos: Escudo
exemplares). Foram também retiradas de circulação em 1929 (30 de Janeiro) quando já havia
em circulação mais de 32 milhões de notas de 1$00, para além das moedas de escudo de
prata, de bronze-alumínio e as de alpaca (1927-29), que totalizavam mais de 25 milhões de
moedas. Embora produzida aquando da crise de 1891, só foi colocada em circulação em plena
crise de 1917 (20 de Julho de 1917), cessando a sua emissão em 18 de Setembro de 1917. A
Chapa 3 de 1.000 réis foi integralmente produzida na Estamparia de Banco de Portugal,
apresentando em ambas as faces alegorias à Justiça.
202
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 1$000
Chapa: 3
Frente: Representação figurativa da Justiça
Verso: Representação figurativa da Justiça
Marca de água: Banco de Portugal
Medidas: 120x77 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 20-07-1917
Última emissão: 18-09-1917
Retirada de circulação: 30-01-1929
Datas: 30-09-1910
Emissão: 2 700 000
A nota de 2 500 réis que circulou na República foi a Chapa 4. Emitida inicialmente em 1 de
Março de 1916, foi retirada em 25 de Maio de 1928 (última emissão em 28 de Maio de 1920).
No total foram emitidos cerca de 12 000 000 de exemplares. Actualmente são raros,
nomeadamente em estados de conservação elevados e a variante que apresenta a sobrecarga
"República" a vermelho é mesmo muito rara (foi colocado apenas em algumas notas com data
de 20-06-1909. Foram sendo substituídas pelas notas de 2$50, Chapa 1 e Chapa 2 e com a
entrada em circulação das moedas de prata, em 1932, todas estas notas de baixo valor facial
foram retiradas de circulação. Na face apresentava a efígie de D. Afonso de Albuquerque e no
verso a efígie de Mercúrio (deus grego do comércio). Foram emitidas com as seguintes datas:
20-06-1909, 30-06-1909, 30-09-1910 e 27-06-1919.
203
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 2$500
Chapa: 4
Frente: Efígie de D. Afonso de Albuquerque
Verso: Representação de Mercúrio
Marca de água: Bustos a representar a Europa e a África
Medidas: 125x81 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 01-03-1916
Última emissão: 28-05-1920
Retirada de circulação: 25-05-1928
Datas: 20-06-1909; 30-06-1909; 30-09-1910; 27-06-1919
Emissão: 12 000 000
204
Apontamentos: Escudo
As notas de 5.000 réis que circularam durante a República foram as das Chapas 6 e 7, num
total de pouco mais de 11 milhões de exemplares. Actualmente são raras e normalmente em
mau estado, sendo a da Chapa 7 a mais visível. De referir que a primeira nota de Escudos tinha
valor semelhante (5$00) e foi baseada em nota já preparada de valor de 5000 Réis. As notas da
Chapa 6 foram recolhidas logo em 1911 e as da Chapa 7 em 1916 (data oficial: 20-01-1916).
Estas notas não apresentam sobrecarga República.
Com o valor facial de 10.000 réis, em 1910, estava em circulação a Chapa 3 que foi retirada em
1917. A emissão foi de pouco mais de 5 000 000 de notas que circulavam desde 1903. Foram
substituídas pela Chapa 4, que já se encontrava impressa, e à qual foi aposta a normal
sobrecarga "República" sobre a coroa monárquica. Desta Chapa 4 foram postas a circular 4 700
000 de exemplares que circularam até 1929. Actualmente são notas raras, normalmente
apresentam-se em mau estado de conservação. Para sua substituição surgiram as notas de
10$00 (Ch. 1, 2 e 3, num total de cerca de 43 milhões de notas). Foram emitidas com as datas
22-05-1908 e 30-09-1910. Apresentam na frente cinco figuras representativas das artes
(escultura, pintura, música e literatura). No verso o deus grego da arte Apolo.
205
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 10$000
Chapa: 4
Frente: Representação figurativa das artes
Verso: Representação de Apolo
Marca de água: Cabeça coroada com louros
Medidas: 161x103 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 03-10-1917
Última emissão: 31-05-1923
Retirada de circulação: 17-09-1929
Datas: 22-05-1908; 30-09-1910
Emissão: 4 700 000
As notas de 20000 Réis Chapa 9 que já estava impressa no tempo da Monarquia, foi posta a
circular entre 1912 e 1916. São notas muito raras, que tiveram elevada taxa de recolha. Foram
substituídas pelas notas de 20$00, das Ch. 1 e 2. Na frente com desenho rico em pormenores
surgem dois brasões com a representação de Vasco da Gama à esquerda e de Luís de Camões
à direita. Apresenta duas sobrecargas: na frente a preto e no verso a azul. Foram emitidas
notas com as datas de 30-12-1909.
206
Apontamentos: Escudo
207
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 20$000
Chapa: 9
Frente: Brasões com Vasco da Gama e Luís de Camões
Verso: Escudo Monárquico com sobrecarga República
Marca de água: Efígie de D. João II
Medidas: 179x115 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 23-12-1912
Última emissão: 11-04-1916
Retirada de circulação: 17-10-1916
Datas: 30-12-1909; 30-03-1912
Emissão: 1 060 000
Durante a República circularam duas chapas de 50.000 réis, a 3 e a 4. A primeira vinha já do
período monárquico, desde 1905 e a segunda iniciou a sua circulação em 1917, sendo ambas
retiradas em 1929. São ambas muito raras pois tiveram elevada taxa de recolha. Aquando da
sua recolha já circulavam as notas de 50$00, Chapas 1, 2 e 3, que iniciaram a circulação em
1922, 1924 e 1928, respectivamente. Foi emitida com data de 30-09-1910. Na frente apresenta
um trabalho do belga Eugène Mouchon que representa a recepção do Samorim de Calecute a
Vasco da Gama. No verso surgia a representação de uma cabeça feminina em perfil para a
esquerda.
208
Apontamentos: Escudo
Ficha Técnica
Valor: 50$000
Chapa: 4
Frente: Representação da recepção do Samorim de Calecute a Vasco da Gama
Verso: Efígie feminina a olhar para a esquerda
Marca de água: Efígie de indiano
Medidas: 192x117 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 19-12-1917
Última emissão: 30-11-1922
Retirada de circulação: 24-07-1929
Datas: 30-09-1910
Emissão: 2 100 000
Ficha Técnica
Valor: 100$000
Chapa: 2
Frente: Representação da saída de Pedro Álvares Cabral frente a D. Manuel I
Verso: Valor da nota e escudo nacional
Marca de água: Efígie de Pedro Nunes
Medidas: 204x126 mm
Impressão: Banco de Portugal
Primeira emissão: 04-01-1916
Última emissão: 31-05-1923
Retirada de circulação: 08-10-1926
Datas: 22-05-1908; 10-03-1909; 30-09-1910
Emissão: 2 060 000
Durante a República circularam duas chapas de 100.000 réis, a 1 e a 2. A primeira vinha já do
período monárquico, desde 1895 e foi a nota de valor facial mais elevado que circulou na
monarquia. Foi retirada de circulação em 1916. Como já estava impressa a Chapa 2, estas
notas foram colocadas em circulação em 1916, com a sobrecarga "República". Os exemplares
209
Apontamentos: Escudo
desta chapa foram retirados de circulação em 1926. Aparecem muito pouco no mercado, pois
representavam um valor muito elevado na época. Foram substituídas pelas notas de 100$00,
Chapas 1 e 2, que iniciaram a circulação em 1918 e 1920, respectivamente. Eram notas de uma
dimensão apreciável (204x126 mm). A nota apresentava uma composição de autoria do belga
Eugène Mouchon a representar a partida da armada de Pedro Álvares Cabral com D. Manuel I
sentado no trono à direita.
210
Apontamentos: Escudo
211
Apontamentos: Escudo
Legislação
Segue-se a listagem da legislação associada à emissão do Escudo e suas diversas moedas,
cédulas oficiais e outra legislação monetária:
212
Lei de 1911-05-22 publicado no DG 122 (1911-05-26): Cria o escudo de ouro como
unidade monetária. Define características técnicas para todos os valores da nova
moeda: em ouro: 10$, 5$ e 1$; em prata: 1$, $50, $20 e $10; em bronze-níquel: $04,
$02, $01 e $005. De todas estas novas moedas, apenas as de $50, $20 e $10 chegaram
a ser fabricadas com as características indicadas.
Lei de 1913-06-21 publicado no DG 144 (1911-06-23): Elimina o valor de $005 e altera
as características das restantes moedas de bronze. Define regras de arredondamento a
adoptar pelas repartições e elimina algumas portagens de atravessamento de pontes
(Ponte D. Luís). Permite o uso de moedas de 5 réis apenas entre particulares.
1914-06-30 L 220: uniformiza o toque das moedas de prata, passando a moeda de 1$
de 900 a 835 milésimos. Ordena o fabrico de 1 milhão de moedas de 1$
comemorativas da implementação da República para circularem a partir do dia 5 de
Outubro (artigos 20º a 22º).
1914-10-03 L 997: autoriza a moeda de 1$ comemorativa do dia 5 de Outubro.
1917-04-21 L 679 Altera o Decreto-lei de 1911, cria as moedas de bronze de 1 e 2
centavos e cuproníquel de 4 centavos.
1917-08-15 D 3296: manda recolher as moedas de prata monárquicas com excepção
das comemorativas e autoriza a emissão de cédulas de $02, $05 e $10.
1918-04-22 D 4120: retira de circulação as cédulas de $05 da Santa Casa da
Misericórdia e autoriza a emissão de cédulas da Casa da Moeda de igual valor.
1918-09-09 D 4849: Autoriza a cunhagem de moeda corrente em ferro nos valores
faciais de 1,2 e 4 centavos.
1920-02-28 L 950: Modifica a liga das moedas de bronze da Lei 679.
1920-06-25 L 990: Cria as moedas de $10 e $20 de cuproníquel e $05 de bronze.
1920-12-09 L 1085: Cria as moedas de $05 de bronze.
1922-08-04 L 1297: Autoriza a emissão de cédulas de $20.
1923-05-15 L 1424: Autoriza a cunhagem de moeda de $50 e 1$ de bronze-alumínio.
1923-06-21 D 8940: descrimina as características das moedas de $50 e 1$ de bronzealumínio.
1924-02-07 L 1545: Faculta ao poder executivo a emissão de moeda.
1924-05-23 D 9718: Cria moedas de bronze de $05, $10 e $20 para substituição das
cédulas de papel.
1924-05-23 D 9719: Regulamenta as emissões de $50 e 1$ bronze-alumínio criadas
pela lei 1424.
1925-04-11 D 10687: autoriza nova emissão de cédulas de $20.
1926-11-26 D 12740: define competências na emissão de moeda.
1926-12-17 D 12892: retira de circulação as moedas de $01, $02, $04 e $05 centavos.
1927-06-21 D 13797: Moedas da alpaca de $50 e 1$.
1928-04-09 D 15331: define competências na emissão de moeda.
Apontamentos: Escudo
1928-04-18 D 15386: Autoriza a emissão da moeda da Batalha de Ourique.
1929-04-18 P 6102: retira de circulação as moedas de $10 e $20 de cuproníquel.
1931-06-09 D 19869: Decretos da Estabilização da moeda: Redefine o escudo ouro
padrão; estabelece o regime da moeda 2$50, 5$ e 10$ prata (caravela).
1931-06-09 D 19871: Decretos da Estabilização da moeda: Regulamenta todo o
sistema monetário 50$, 100$ e 250$ ouro (nunca emitidas); 2$50, 5$ e 10$ prata
(caravela); manda recolher as moedas de prata de $10, $20, $50 e 1$ republicanas e
também as monárquicas comemorativas do centenário da Índia, Guerra Peninsular e
Marquês de Pombal, sendo todas pagas por peso ($20 a grama); retira de circulação
em 1932-01-01 as moedas de $50 e 1$ de bronze-alumínio.
1943-01-29 D 32648: Cria os X e XX centavos de bronze.
1948-10-27 D 37120: Aumenta os limites de emissão da moeda de prata, retira a
moeda de bronze de $05, $10 e $20 da emissão 1924-40.
1954-01-02 D 39508: cria novo tipo de 10$ de prata e autoriza a Moeda Renovação
Financeira de 20$.
1954-12-31 DL 40021: retira as moedas de 10$ de prata emitidas entre 1932-48 em 101-1955, com prazo de troca até 28-02-1955.
1956-10-31 DL 40839: Altera os limites de emissão para as moedas de 1$ de alpaca.
1958-03-13 DL 41557: Altera os limites de emissão para as moedas de $10, $50 de
alpaca.
1959-02-05 DL 42138: Cria a série henriquina.
1959-07-03 DL 42357: Reformula a Série Henriquina.
1959-08-22 DL 42463: Altera os limites de emissão $20.
1960-08-27 DL 43134: Altera os limites de emissão $10.
1961-03-11 DL 43531: Altera os limites de emissão das moedas de prata de 2$50, 5$00
e 10$00 e das moedas de alpaca de $50 e 1$00.
1961-05-06 DL 43667: Altera os limites de emissão das moedas de $10 e $20.
1962-08-28 DL 44546: Altera os limites de emissão das moedas de $10 X.
1963-01-04 DL 44841: Altera os limites de emissão das moedas de $20 XX.
1963-06-12 DL 45129: Cria as moedas de cuproníquel de 2$50 e 5$.
1963-06-12 DL 45130: Altera os limites de emissão das moedas de $10, $20 e $50.
1966-04-15 DL 46961: Retira de circulação os 10$ de prata (em 1 Maio 1966).
1966-07-23 DL 47111: Autoriza emissão da moeda Ponte Salazar.
1969-04-30 DL 49001: Autoriza emissão de moeda Pedro Álvares Cabral.
1969-08-04 DL 49167: Cria um novo sistema de moeda metálica com as novas moedas:
$10 alumínio (16mm); $20, $50 e 1$ em bronze; 10$ em níquel.
1970-08-12 DL 399/70: Autoriza a emissão da moeda Vasco da Gama.
1970-11-06 DL 525/70: Altera o DL 49167, nomeadamente as características físicas da
moeda de $10 de alumínio (15mm) e a legenda do bordo da moeda de 10$.
1971-07-17 DL 311/71: Autoriza emissão da moeda Marechal Carmona.
1972-02-28 DL 134/72: Autoriza a emissão da moeda Banco de Portugal.
1972-10-24 DL 399/72: Autoriza a emissão da moeda Os Lusíadas.
1975-12-31 DL 766/75: Altera as características das moedas de 10$ de níquel para
cuproníquel (não emitidas).
213
Apontamentos: Escudo
214
1976-05-25 DL 381/76: Cria série comemorativa 25 de Abril.
1976-12-15 DL 847/76: Cria moedas de 25$.
1977-09-03 DL 369/77: Aumenta limites de emissão para as moedas de 5$00.
1977-11-11 DL 472/77: Aumenta os limites de emissão das moedas de 2$50 e de 1$00.
1977-12-30 DL 534/77: Altera as características físicas da moeda de 25$, aumenta o
peso de 8g para 9,5g.
1978-03-16 DL 46/78: Autoriza a emissão comemorativa Alexandre Herculano.
1979-12-28 DL 519R/79: Altera as características físicas da moeda de 25$, aumenta o
diâmetro para 28,5 mm e o peso para 11g.
1980-08-16 DL 299/80: Autoriza a emissão das séries comemorativas das Regiões
Autónomas Açores e Madeira.
1980-11-17 DL 545/80: Cria um novo tipo de moeda de 1$ em latão-níquel.
1981-03-31 P 307/81: Define características moeda comemorativa Região Autónoma
dos Açores.
1981-09-15 DL 267/81: Retira de circulação as moedas de X e XX centavos, $50 e 1$ de
alpaca, $10 de alumínio, $20 de bronze e 10$ de níquel, com efeito a partir de 1-011982.
1981-12-04 DL 325/81: Autoriza a emissão da moeda Luís de Camões.
1981-12-04 DL 326/81: Reformula as características da emissão comemorativa das
Regiões Autónomas.
1981-12-07 DL 333/81: Aprova os Estatutos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(alterado posteriormente pelo DL 479/82).
1982-09-04 DL 353/82: Autoriza a emissão da Série Ano Internacional do Deficiente.
1982-09-04 DL 354/82: Autoriza a emissão da Série Mundial de Hóquei de Patins 1982.
1982-12-23 DL 479/82: Alterações aos Estatutos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(alterado posteriormente pelo DL 138/98)
1983-01-22 DL 22/83: Altera características para a emissão do Ano Internacional do
Deficiente.
1983-02-11 DL 84/83: Autoriza a emissão da série comemorativa da XVII Exposição de
Ciência, Arte e Cultura.
1983-04-30 DL 168/83: Retira de circulação as moedas de 25$ módulo menor, efectivo
a 1-07-1983.
1983-05-03 DL 176/83: Descreve como será a comercialização de moeda metálica pela
INCM - espécimes numismáticos (revogado pelo DL 325/84)
1984-02-27 DL 70/84: Autoriza a moeda FAO Conferência das Pescas.
1984-04-16 DL 123A/84: Autoriza a emissão da moeda 25 de Abril.
1984-04-26 DL 127/84: Autoriza a emissão da Série FAO.
1984-05-28 DL 183/84: Autoriza a moeda Ano Internacional da Criança.
1984-10-09 DL 325/84: Altera os regulamentos de comercialização de moedas
metálicas e outros espécimes numismáticos (revogado pelo DL 178/88).
1986-02-06 DL 17A/86: Autoriza a emissão relativa a Fernando Pessoa.
1986-02-06 DL 17B/86: Autoriza a emissão relativa à Adesão à CEE.
1986-03-11 DL 47/86: Autoriza a emissão da série relativa a 1385 (Cortes de Coimbra e
Batalha de Aljubarrota).
Apontamentos: Escudo
1986-04-30 DL 76A/86: Autorização da emissão da moeda relativa ao Mundial de
Futebol México 1986.
1986-17-17 DL 191/86: Autoriza a emissão da moeda D. Afonso Henriques.
1986-09-12 DL 293/86: Revê o sistema de moeda metálica (alterado pelo DL 138/98,
revogado pelo DL 246/2007) com as novas moedas: 1$, 5$, 10$ de latão-níquel; 20$ e
50$ de cuproníquel; retira a moeda de 1$ bronze a ser efectivo em 1-01-1987.
1987-06-03 DL 224A/87: Autoriza a emissão da moeda comemorativa do Mundo Rural.
1987-07-24 DL 282/87: Autoriza a emissão da Primeira Série dos Descobrimentos.
1988-05-15 DL 159/88: Autoriza a emissão da moeda comemorativa dos Jogos
Olímpicos de Seul.
1988-05-19 DL 178/88: Regulamentação da actividade de produção e comercialização
de espécies numismáticos (alterado pelo DL 138/98).
1988-07-17 DL 210/88: Autoriza a emissão da moeda relativa à Autonomia dos Açores.
1988-11-19 DL 427/88: Retira de circulação as moedas de 5$ de cuproníquel, com
efeito a partir de 1-01-1989.
1989-04-27 DL 134/89: Retira do uso legal, a partir de 30 de Junho de 1989, a moeda
de 25$00, de liga de cuproníquel, criada pelo DL 519R/79.
1989-05-04 DL 144/89: Autoriza a emissão da moeda Amadeu Souza Cardoso.
1989-10-11 DL 343/89: Autoriza a Segunda Série dos Descobrimentos.
1989-10-17 DL 355/89: Autoriza a emissão da moeda relativa à Batalha de Ourique.
1989-12-20 DL 439A/89: Cria uma nova moeda bimetálica de 100$.
1990-01-08 DL 13/90: Altera as normas reguladoras do exercício do comércio de
câmbios, das operações cambiais e das operações sobre o ouro.
1990-11-24 DL 363/90: Autoriza a emissão da moeda de Camilo Castelo Branco.
1990-11-24 DL 364/90: Autoriza a emissão da moeda relativa à Restauração da
Independência.
1991-04-23 DL 156/91: Cria uma nova moeda bimetálica de 200$.
1991-05-25 DL 193/91: Autoriza a Terceira Série dos Descobrimentos.
1991-05-25 DL 366/91: Publica as características da nova nota de 2000 escudos.
1991-10-04 DL 367/91: Autoriza a moeda relativa a Antero de Quental.
1991-11-30 DL 449/91: Autoriza a emissão da moeda Encontro de Dois Mundos.
1992-04-21 DL 63/92: Autoriza a emissão da moeda relativa à Presidência da CEE.
1992-05-23 DL 94/92: Autoriza a emissão da moeda relativa aos Jogos Olímpicos de
Barcelona.
1993-03-01 DL 57/93: Autoriza a emissão da Quarta Série dos Descobrimentos.
1994-05-19 DL 129/94: Autoriza a emissão da moeda de Lisboa Capital Europeia da
Cultura.
1994-06-03 DL 157/94: Autoriza a Quinta Série dos Descobrimentos.
1994-06-03 DL 158/94: Autoriza a emissão da moeda relativa ao Tratado de
Tordesilhas.
1994-10-25 DL 266/94: Autoriza a emissão da moeda O Lobo.
1995-03-31 DL 122/95: Autoriza a emissão da série D. António Prior do Crato e Açores.
1995-03-31 DL 123/95: Autoriza a emissão da série do cinquentenário da ONU.
1995-05-23 DL 110/95: Autoriza a emissão da moeda relativa a D. João II.
215
Apontamentos: Escudo
216
1995-05-23 DL 111/95: Autoriza a emissão da Sexta Série dos Descobrimentos.
1995-09-13 DL 234/95: Autoriza a moeda relativa a Santo António.
1995-10-23 DL 270/95: Autoriza a emissão da moeda relativa à Fragata D. Fernando II
e Glória.
1995-10-30 DL 285/95: Publica as características das novas notas de 2000 e 5000
escudos.
1996-02-12 DL 8/96: Autoriza a emissão da moeda Jogos Olímpicos de Atlanta.
1996-07-05 DL 90/96: Publica as características das novas notas de 1000 e 10000
escudos.
1996-07-24 DL 101/96: Autoriza a Sétima Série dos Descobrimentos.
1996-10-09 DL 191/96: Autoriza a emissão da moeda relativa a Nossa Senhora da
Conceição.
1996-10-09 DL 192/96: Autoriza a emissão da moeda Banco de Portugal.
1997-07-08 DL 171/97: Autoriza a Primeira Série EXPO 98.
1997-07-22 DL 176/97: Publica as características da nova nota de 500 escudos.
1997-07-30 DL 194/97: Autoriza a Oitava Série dos Descobrimentos.
1997-12-05 DL 341/97: Autoriza a emissão da moeda relativa a Padre António Vieira.
1997-12-05 DL 342/97: Autoriza a moeda relativa aos Pauliteiros de Miranda.
1997-12-24 DL 377A/97: Autoriza a emissão da moeda relativa ao Crédito Público.
1998-03-17 DL 62/98: Autoriza a emissão da moeda relativa à Ponte Vasco da Gama.
1998-05-16 DL 138/98: Estabelece regras fundamentais a observar no processo de
transição para o Euro, complementando o ordenamento jurídico comunitário
existente. Retira as moedas de $50 e 2$50, com efeito a partir de 1-10-1998 (revogado
pelo DL 246/2007).
1998-05-30 DL 150/98: Autoriza a Segunda Série EXPO 98.
1998-06-06 DL 153-98: Autoriza a emissão da moeda Santa Casa da Misericórdia.
1998-10-27 DL 318/98: Autoriza a Nona Série dos Descobrimentos.
1998-10-27 DL 319/98: Autoriza a emissão da moeda relativa a D. Manuel I.
1999-01-29 DL 29/99: Autoriza a emissão da moeda Liga dos Combatentes.
1999-05-04 DL 147/99: Autoriza a emissão da moeda 25 de Abril.
1999-10-08 DL 307/99: Autoriza a emissão da série relativa à UNICEF.
1999-11-08 DL 313/99: Autoriza a emissão da Décima Série dos Descobrimentos.
1999-11-08 DL 314/99: Autoriza a emissão da moeda Milénio do Atlântico.
1999-11-05 DL 456/99: Autoriza a emissão da moeda relativa à transferência de
soberania sobre Macau.
2000-07-04 DL 113/2000: Autoriza a emissão da moeda relativa aos Jogos Olímpicos
de Sidney.
2000-07-04 DL 114/2000: Autoriza a emissão da moeda Presidência da UE.
2000-09-01 DL 203/2000: Autoriza a emissão da moeda Eça de Queiroz.
2000-10-17 DL 255/2000: Autoriza a emissão da moeda D. João de Castro.
2000-11-18 DL 299/2000: Autoriza a Décima Primeira Série dos Descobrimentos.
2001-04-17 DL 117/2001: Retira de circulação todas as moedas designadas em escudos
(1$ 1980-86, e todas as do DL 293/86) com data efectiva a partir de 1-03-2002.
Apontamentos: Escudo
2001-05-25 DL 167/2001: Autoriza a emissão da moeda Porto 2001 Capital Europeia da
Cultura.
2001-09-22 DL 252/2001: Autoriza a emissão da moeda relativa ao Europeu de Futebol
2004.
2001-12-28 DL 339B/2001: Autoriza a emissão da moeda de Escudo flor de cunho
ouro.
Abreviaturas utilizadas:
D
Decreto
DG
Diário do Governo, na falta de numeração dos diplomas legais, indica-se o respectivo
Diário do Governo onde foi publicado.
DL
Decreto-Lei (numerado sequencialmente até 1969, no formato nn/yy a partir de 1970
e no formato nn/yyyy a partir de 2000)
L
Lei
P
Portaria
217
Apontamentos: Escudo
Bibliografia
Na escrita deste trabalho foi utilizada como bibliografia relativa à numismática e notafilia as
seguintes obras:
Alberto Gomes “Moedas Portuguesas e do Território que é hoje Portugal”. 5.ª edição
José Valério “Moedas Comemorativas Portuguesas” 1.ª edição
M. Trigueiros “A Grande História do Escudo Português”
“Papel-Moeda em Portugal - Banco de Portugal” edição do Banco de Portugal, 2.ª
edição
L. M. Tudella “Numária – o Papel Moeda”.
Diário da República.
Para a descrição das comemorações e símbolos utilizados recorreu-se a:
www.wikipedia.org
www.infopedia.pt
Para as imagens recorreu-se a:
218
www.coindatabase.com
www.forum-numismatica.com
www.numismatas.com
www.moedas-comemoratias.blogspot.com
Apontamentos: Escudo
Índice
Mundo Rural.................................................................................................................................. 3
1ª Série Descobrimentos: Navegações e Descobrimentos da Costa Ocidental Africana.............. 4
Amadeu Souza Cardoso............................................................................................................... 10
500 Escudos Ch. 12 Mouzinho da Silveira ................................................................................... 12
5000 Escudos Ch. 2 Antero de Quental....................................................................................... 15
Jogos Olímpicos de Seul .............................................................................................................. 18
5000 Escudos Ch. 2A Antero de Quental .................................................................................... 20
Moeda Bimetálica de 100 escudos ............................................................................................. 22
2ª Série Descobrimentos: Navegações e Descobrimentos dos Arquipélagos Atlânticos ........... 24
Batalha de Ourique ..................................................................................................................... 29
10000 Escudos Ch. 1 Egas Moniz ................................................................................................ 30
Restauração da Independência ................................................................................................... 34
Camilo Castelo Branco ................................................................................................................ 36
Moeda Bimetálica de 200 Escudos.............................................................................................. 37
Antero de Quental....................................................................................................................... 38
3ª Série Descobrimentos: Descoberta da América ..................................................................... 39
2000 Escudos Ch. 1 Bartolomeu Dias .......................................................................................... 46
Presidência da CEE ...................................................................................................................... 49
Jogos Olímpicos de Barcelona ..................................................................................................... 51
1ª Série Ibero-Americana: Encontro de Dois Mundos ................................................................ 52
4ª Série dos Descobrimentos: 450 anos do Encontro Portugal – Japão ..................................... 54
Lisboa ’94 Capital Europeia da Cultura ....................................................................................... 59
5.ª Série Descobrimentos: Dividindo Mares e Terra ................................................................... 60
Tratado de Tordesilhas................................................................................................................ 66
2.ª Série Iberoamericana: Animais em vias de Extinção - O Lobo .............................................. 68
50º Aniversário da ONU e da FAO ............................................................................................... 70
Centenários de D. António Prior do Crato e da Autonomia dos Açores ..................................... 73
6.ª Série dos Descobrimentos: Na Rota das Especiarias ............................................................. 77
8º Centenário de Santo António ................................................................................................. 86
5.º Centenário de D. João II......................................................................................................... 87
2000 escudos Ch. 2 Bartolomeu Dias .......................................................................................... 88
219
Apontamentos: Escudo
5000 escudos Ch. 3 Vasco da Gama ............................................................................................ 91
7.ª Série dos Descobrimentos: Navegando no mar da China ..................................................... 94
Jogos Olímpicos de Atlanta ‘96 ................................................................................................. 101
150º Aniversário do Banco de Portugal .................................................................................... 103
Fragata D. Fernando e Glória .................................................................................................... 104
Nossa Senhora da Conceição .................................................................................................... 106
1000 escudos Ch. 13 Pedro Álvares Cabral ............................................................................... 108
10000 escudos Ch. 2 Infante D. Henrique ................................................................................. 110
1ª Séria EXPO ’98: Fauna marítima costeira portuguesa e Expedições oceanográficas ........... 113
8.ª Série dos Descobrimentos: A Missionação Cristã................................................................ 121
Padre António Vieira ................................................................................................................. 132
3.ª Série Iberoamericana: Danças e Trajes típicos – Pauliteiros de Miranda ........................... 135
Crédito Público .......................................................................................................................... 137
500 escudos Ch. 13 João de Barros ........................................................................................... 141
9.ª Série dos Descobrimentos: Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia ...................... 145
2.ª Série EXPO ’98: EXPO ’98 e Ano Internacional dos Oceanos ............................................... 151
Ponte Vasco da Gama ............................................................................................................... 153
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ....................................................................................... 155
D. Manuel I ................................................................................................................................ 156
Liga dos Combatentes ............................................................................................................... 159
UNICEF....................................................................................................................................... 161
10.ª Série dos Descobrimentos: O Mundo Novo, Brasil............................................................ 163
Macau........................................................................................................................................ 167
25.º Aniversário do 25 de Abril ................................................................................................. 169
3.ª Série EXPO ’98: Milénio do Atlântico................................................................................... 170
Jogos Olímpicos de Sidney 2000 ............................................................................................... 172
11.ª Série dos Descobrimentos: Novas Fronteiras Marítimas .................................................. 173
Eça de Queiroz........................................................................................................................... 180
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia ......................................................... 180
4.ª Série Iberoamericana: Homem e o Seu Cavalo ................................................................... 181
D. João de Castro ....................................................................................................................... 183
Porto 2001 Capital Europeia da Cultura.................................................................................... 184
Europeu de Futebol 2004 .......................................................................................................... 185
Edições Especiais ....................................................................................................................... 187
220
Apontamentos: Escudo
Erros e Variantes ....................................................................................................................... 195
Moedas ou “Moedas” ............................................................................................................... 199
Notas de Réis com Sobrecarga “República” .............................................................................. 200
Legislação .................................................................................................................................. 212
221
Apontamentos: Escudo
Índice Remissivo
1
10 000 escudos, 31
10$00, 4
100$00, 5, 11, 23, 26, 35, 37, 40, 71, 74, 115, 162
1000 escudos, 109
1000$00, 54, 68, 69, 88, 105, 107, 115, 137, 139,
152, 156, 157, 160, 170, 171, 183, 184, 186
10000 escudos, 112
2
200$00, 38, 41, 51, 52, 56, 60, 62, 71, 79, 95, 102,
115, 123, 147, 152, 162, 164, 173, 174
2000 escudos, 48, 89
25 de Abril, 170
250$00, 20, 30
5
500 escudos, 14, 143
500$00, 87, 105, 133, 154, 168, 181, 185
5000 escudos, 16, 22, 92
A
AB Tumba Bruk, 14
Adamastor, 171
Agricultura, 14
Alípio Pinto, 74
Álvaro França, 74
Amadeo de Souza-Cardoso, 11
Ano Internacional dos Oceanos, 152
Antero de Quental, 16, 22, 40
António Machado, 26
António Marinho, 35, 41, 52, 56, 62, 79, 95, 123,
147, 164, 174
António Vidigal, 184
Arjo Wiggins, 93, 112
Arquipélago da Madeira, 26
arquipélago dos Açores, 25
Atletismo, 20
autonomia dos distritos dos Açores, 74
B
Banco de Portugal, 104
Bartolomeu Dias, 5, 48, 89
Batalha de Ourique, 30
Beato José de Anchieta, 122
bimetálica, 24, 38, 60, 71, 102, 115, 152, 162, 173
British American Bank Note, Inc., 32, 48, 109
222
C
Camilo Castelo Branco, 37
Cavalo Lusitano, 183
Chegada a Tanegashima, 56
China, 95
Clara Menéres, 162
conquista de Malaca, 79
Crédito Público Português, 138
Cristóvão Colombo, 41
cuproníquel, 5, 11, 20, 26, 30, 35, 37, 40, 41, 51, 52,
56, 62, 74, 79, 95, 123, 147, 164, 174
D
D. Afonso de Albuquerque, 79
D. António, prior do Crato, 74
D. João de Castro, 184
D. João II, 62, 88
D. Manuel I, 157
De La Rue Giori, SA, 90, 93, 109, 112, 143
Descoberta da América, 41, 54
Descoberta da Austrália, 79
Descoberta do Brasil, 164
desenvolvimento da arte e cultura Namban, 56
Diogo Cão, 5
Duarte Pacheco Pereira, 164
E
Eça de Queiroz, 181
Egas Moniz, 31
Eloisa Byrne, 56, 62, 79, 95, 123, 147, 164, 174
Espiga Pinto, 152
Europeu de Futebol, 186
Expedições Oceanográficas, 115
EXPO 98, 152
F
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 110
FAO, 71
Fernando Conduto, 162
Fernão de Magalhães, 174
foca monge, 115
fragata D. Fernando II e Glória, 105
François-Charles Oberthur Fiduciaire, 143
G
Garcia de Orta, 39
Apontamentos: Escudo
Gieseche & Devrient, 90
Gil Eanes, 5
golfinho, 115
Molucas, 79
Morte no Mar, 164
Mouzinho da Silveira, 14
mundo rural, 4
H
Helder Baptista, 4, 20, 107, 133
I
ilhas Canárias, 25
ilhas de Solor e de Timor, 79
Índia, 146
Infante D. Henrique, 62, 112
introdução das armas de fogo no Japão, 56
Irene Vilar, 11, 30, 37, 40, 105, 137, 185
Irmão Bento de Góis, 122
Isabel Carriço e Fernando Branco, 5, 26, 41, 51, 54,
56, 60, 62, 69, 79, 95, 123, 147, 164, 174
J
João Cutileiro, 152
João de Barros, 143
João Duarte, 71, 139
João Rodrigues Cabrilho, 45
Joaquim Correia, 157
Jogos Olímpicos Barcelona 1992, 52
Jogos Olímpicos de Atlanta, 102
Jogos Olímpicos de Seul, 20
Jogos Olímpicos de Sidney, 173
Jorge Vieira, 5
José Aurélio, 170
José Cândido, 24, 39
José João de Brito, 156, 161
José Simão, 115, 186
K
Komori Currency Technology UK Ltd., 48
L
latão-níquel, 4
Liga dos Combatentes, 160
Lima de Freitas, 87
Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura, 60
Lobo Ibérico, 69
Luís Filipe de Abreu, 14, 17, 22, 32, 48, 90, 93, 109,
112, 143
M
Macau, 95
Milénio do Atlântico, 171
Moçambique, 146
N
navegação astronómica, 25
Navegações para Ocidente, 41
Nogueira da Silva, 68, 88, 173
Nossa Senhora da Conceição, 107
Nuno Tristão, 5
O
Office Français des Papiers Fiduciaires et Surfins, 17,
22
ONU, 71
P
Padre António Vieira, 133
Padre Luís Fróis, 122
Papierfabrik Louisenthal, 90
Partilha do Mundo, 62
Paula Lourenço, 169
Pauliteiros de Miranda, 137
Paulo Guilherme, 5, 26, 41, 171, 181
Pedro Álvares Cabral, 109, 164
Pedro Nunes, 24
Ponte Vasco da Gama, 154
Portals Limited, 32, 143
Porto 2001 — Capital Europeia da Cultura, 185
prata, 54, 68, 69, 87, 88, 105, 107, 115, 133, 137,
139, 152, 154, 156, 157, 160, 168, 170, 171, 181,
183, 184, 185, 186
presidência portuguesa do Conselho da Comunidade
Europeia, 50
primeira embaixada dos daimius de Kiushu a
Portugal, 56
R
Raul Machado, 5, 26, 41, 56, 62, 79, 95, 105, 115,
123, 147, 164, 174
Região Administrativa Especial de Macau, 168
Restauração da Independência, 35
S
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 156
Santo António, 87
São Francisco de Xavier, 122
Sião, 95
223
Apontamentos: Escudo
T
Taiwan, 96
Terra do Lavrador, 174
Terra do Natal, 146
Terra dos Corte-Reais, 174
Terra Florida, 174
Thomas de La Rue & Co Ltd, 17, 22, 93, 112
Tratado de Tordesilhas, 62, 68
224
U
UNICEF, 162
V
Vasco da Gama, 92, 146
Veiligheidspapierfabriek Ugchelenbv, 49
Vítor Santos, 102, 115, 154, 183
Apontamentos: Escudo
225
Download