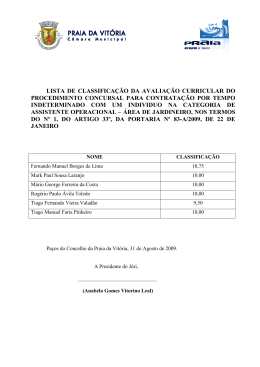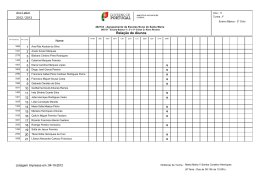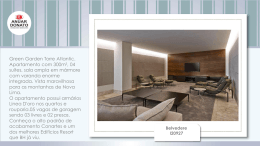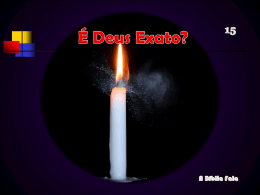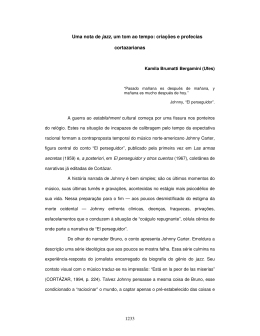Tiago Carrasco Até Lá Abaixo Três homens, um jipe e 150 dias de aventuras em África Fotografias de João Henriques Título original: Até Lá Abaixo © 2011, Tiago Carrasco e Oficina do Livro – Sociedade Editorial, Lda. Editor: Francisco Camacho Capa: Rui Garrido Fotografia: © João Henriques Revisão: Alda Rocha Composição: Cristiana Vicente, em caracteres Sabon, corpo 11 Impressão e acabamento: Rolo & Filhos II, S.A. – Indústrias Gráficas 1.ª edição: Maio de 2011 ISBN: 978-989-555-728-8 Depósito legal n.º 326352/11 Oficina do Livro uma empresa do grupo LeYa Rua Cidade de Córdova, 2 2610-038 Alfragide Tel.: 210 417 410, Fax: 214 717 737 E-mail: [email protected] www.oficinadolivro.pt ÁFRICA O percurso de 30 mil km e 150 dias NOTA DO EDITOR O fascínio que África exerce sobre os aventureiros permanece intacto, séculos após as primeiras colonizações e décadas passadas sobre as últimas independências do poder europeu. Será escusado falar da América do Sul ou da Ásia Central. Viajar pelo continente africano continua a ser a maior aventura a que um viajante pode aspirar. Nenhuma região do mundo é tão resistente ao desenvolvimento e à penetração da civilização, como a entendemos no Ocidente. Nenhuma implica tantos riscos diferentes e em simultâneo. Nenhuma tem uma natureza tão intensa. Não, nenhuma é tão sedutora como África para quem procura emoções fortes – tenham elas que ver com o calor impiedoso do deserto, com o ruído inesquecível de uma tempestade no mato, com a visão de um animal selvagem, com a quantidade de metralhadoras em mãos erradas, com os desafios que a pequena corrupção coloca aos viajantes, com a profusão de doenças ou com a beleza primordial da paisagem. É por estes e outros motivos que as raras pessoas capazes de pensar sequer em fazer uma viagem de milhares de quilómetros por África não partem para a estrada sem antes montarem cuidadosamente uma logística capaz de cobrir todos os imprevistos imagináveis (e, ainda assim, sobram os que não se podem imaginar), sendo que, normalmente, isso custa muito dinheiro 8 AT É LÁ ABAIXO e conta com o mínimo de experiência entre o grupo de aventureiros. Quando Tiago Carrasco e dois amigos – todos no desemprego – saíram de Portugal a bordo de um jipe em segunda mão em direcção à Cidade do Cabo, não podiam estar mais impreparados para a odisseia que os esperava. Na noite antes da partida, escreve o autor, «ficámos com a sensação de que éramos as primeiras pessoas a tentar uma aventura daquelas sem seguro de viagem, sem carta de condução internacional, sem trincos nas portas, sem noções básicas de mecânica, sem kit de primeiros-socorros, sem saber fazer uma massagem cardíaca, sem mapas. Éramos trapezistas sem rede na mais difícil acrobacia para um viajante.» Percebe-se o desprendimento. Afinal, foi com a célebre pergunta de Bruce Chatwin que esta aventura começou: «Que faço eu aqui?» A constatação óbvia da falta de experiência em grandes viagens – ainda para mais em África – não os travou: nem mesmo depois de se perderem logo à saída de Lisboa, quando tinham 30 mil quilómetros pela frente. Tiago Carrasco, João Henriques e João Fontes também não desistiram perante a pobreza do orçamento de que dispunham: uns míseros sessenta euros diários para sustentar três homens e um automóvel ao longo de cinco meses. As opiniões desencorajadoras de amigos, familiares e conhecidos, que os olhavam como se fossem loucos, também não os demoveram. Nada os deteve. Pura e simplesmente avançaram em direção ao desconhecido e ao sonho de quem nada tinha a perder se cortasse amarras e partisse à aventura. Disse-me um dia o Tiago: «Foi a nossa ingenuidade que nos fez chegar lá baixo.» E a coragem, acrescente-se. Porque esta é uma história de superação individual. Uma prova eloquente de determinação. Uma metáfora sobre a capacidade humana de vencer as contrariedades e até mesmo (como bem 9 NOTA DO EDITOR traduz a dedicatória do livro) de transformar essas contrariedades em estímulos e vantagens. Um exemplo inspirador para toda uma geração paralisada pelo medo e pela desconfiança em relação ao futuro. Mas sobre tudo isto temos uma grande aventura, onde nos cruzamos com a história recente de África e vemos as manifestações desse desastre pelos olhos de três europeus aturdidos: emigrantes em fuga para a Europa, traficantes de gente e de ouro, senhores da guerra, governantes manobrados por feiticeiros, polícias corruptos, militares e rebeldes cegos pelo ódio, órfãos e deficientes entregues a si próprios, perseguições étnicas, cidades caóticas, bairros miseráveis. E, a par deste cenário sem lugar para a esperança, a hospitalidade dos povos e a sensação de terra inexplorada que só África proporciona – nos encontros com tribos como os dogons ou os pigmeus, no deslumbramento do Parque de Etosha ou das cataratas de Vitória, no encontro mágico com um rinoceronte negro, na incursão pelas entranhas da selva do Congo ou na violência dos relâmpagos numa noite de apocalipse em que o mundo parecia prestes a acabar. Definitivamente, Até Lá Abaixo é uma das mais empolgantes narrativas de viagem escritas em português nos últimos anos. Francisco Camacho 10 Aos meus pais, à Tânia, ao João Fontes e ao João Henriques. E também a todos os chefes que nunca me propuseram um contrato de trabalho – sem eles este livro não teria sido possível. Uma paragem a caminho de Brazzaville, Congo I Nem o cheiro insuportável nem o chão pegajoso perturbam o meu momento de introspeção. Estou na casa de banho de um bar do Cais do Sodré, não sei qual, mas pouco importa. São todos iguais. A mesma penumbra, os mesmos pseudo-intelectuais, a mesma música obsoleta dos anos 80. Tudo a mesma merda. E eu faço parte dela. Preciso de me isolar. Pouso o copo de gin tónico no lavatório asqueroso enquanto a porta da casa de banho se fecha lentamente, deixando os decibéis dos Joy Division cada vez mais abafados, até se tornarem num sussurro. Muda de vida. O espelho reflete uns olhos injetados e ofusca-me com a ilusão apaziguadora de que estou diante de alguém que me compreende – sou eu, embriagado. É quando atinjo este estado que me dou conta da minha necessidade imperiosa de evasão. Quero partir para bem longe. E não me faltam pretextos para a fuga. Lá fora, a Sofia está a arrasar a festa da revista onde trabalho. Irrompeu bar adentro com o seu ar alucinado, decidida a mostrar a todos que temos um caso. Os estragos provocados à minha imagem por aquele furacão de mulher estão a ser terríveis. A Sofia tenta beijar-me à força, cospe vodka para cima dos meus colegas jornalistas e distribui linguados por lésbicas decadentes. Antes de me refugiar na casa de banho, ficou com um ataque de ciúmes da minha colega da frente, mordeu-lhe o pescoço e ainda acusou o meu chefe de ter cara de quem não sabe fazer sexo oral. Uma catástrofe. 13 TIAGO CARRASCO Deixei-me contagiar pela sedução tresloucada da Sofia, pela cavalgada contínua da sua longa crina castanha, pela irreverência do sotaque algarvio, pelo seu prazer de viver e pela sua obsessão mal disfarçada pela morte. A vida que tinha construído sobre os alicerces de um apartamento na Graça, partilhado durante três anos com a minha namorada italiana, estremecera e ruíra. Não queria trocar a minha felicidade estável com a Giovanna pela felicidade libidinosa que a Sofia prometia. Não. O que estava em causa era o próprio conceito de felicidade, que sofrera o primeiro abanão quando a Giovanna, fundamentalista vegetariana e amiga dos animais, decidiu levar lá para casa dois coelhos-anões. Malditos roedores. Começaram a mijar no tapete e a invadir-me o território, desviando todas as atenções da Giovanna para os seus lindos focinhos. Os meus dias passaram a ser divididos entre idas de emergência ao veterinário em Telheiras, porque o Ernesto era epilético, e serões passados em cuecas no sofá a acariciar a felpuda Amélie. Apesar de até gostar dos bichos, eu já não suportava apanhar caganitas de leporídeos e substituir cabos de rodapé, roídos pelos incisivos assassinos das novas coqueluches da minha namorada. E assim começaram as discussões. Além disso, o trabalho, onde me fui habituando a descarregar as frustrações, já não me animava. Dava por mim a salivar para cima da National Geographic e da Newsweek, verde de inveja por não poder fazer reportagens internacionais. E depois havia o salário, tão baixo que da última vez que tinha pedido apoio ao arrendamento jovem me responderam que os meus rendimentos não alcançavam o patamar mínimo contemplado. Demasiado pobre. Assim, deixava-me flutuar entre as páginas do Ébano de Kapuscinski e os delírios do Hunther Thomson, sonhando com os tempos em que os jornais eram pastos abundantes habitados por vacas gordas. «Não podes sentir nostalgia de um tempo que não viveste», alertou-me em conversa de balcão, há minutos, o meu estimado chefe – o tal que pouco depois estava a ser cruelmente acusado de não saber fazer minetes. 14 AT É LÁ ABAIXO Na superfície daquele espelho encardido iam desfilando as ilusões criadas por uma educação numa família da classe média – a família feliz, o emprego estável, o automóvel vistoso, o apartamento decorado com requinte, o ecrã LCD mais fino que o do vizinho, a Bimby que até faz papas de serrabulho, e segurança, muita segurança. Foi ali, naquele momento, que tomei uma decisão. Foi ali que matei o sonho americano. Não senti remorsos, porque ele estava a sufocar-me. Chegara a hora de superar um verdadeiro desafio, de criar a minha própria ilusão, um lugar onde nem o espaço me aperte nem o tempo me asfixie. Quero… «África, já», berra uma figura baixa e cabeçuda, como se estivesse a adivinhar-me os pensamentos, ao mesmo tempo que empurra a porta da casa de banho e se planta ao meu lado de boca aberta, com um sorriso aberto. É o Johnny, o meu amigo inseparável. O volume da música voltou a aumentar. Agora é uma piroseira qualquer dos Abba. Há treze anos que conheço esta expressão do Johnny. Traz sempre água no bico. Conhecemo-nos no Baleal, na costa oeste, onde as nossas famílias construíram uma casa de férias. Passámos verões intermináveis e fins de semana de inverno a brincar aos polícias e ladrões, a fazer guerras de torrões de areia e a jogar à bola. Principalmente a jogar à bola. Juntos, bebemos os primeiros copos, vivemos os primeiros namoricos e fumámos os primeiros cigarros. Quis o destino que o Johnny tal como eu fosse parar ao jornalismo, como fotógrafo, e que trabalhássemos juntos. Por isso conheço bem aquela cara de quem fez alguma ou está para fazer. É que o Johnny também quer sair daqui. Está saturado de preencher recibos verdes e passar dias sentado sem fazer nenhum. Mas o grande mal do Johnny é que está cego de amor. Há dois ou três anos que tem uma obsessão desmedida por uma rapariga do Norte chamada Inês, que conheceu quando ambos estudavam em Espanha. O namoro acabou, mas o Johnny e a Inês continuam a viver juntos, num apartamento no Bairro Alto. Desde essa altura abdica de tudo 15 TIAGO CARRASCO para alimentar a esperança de reatar a relação. De há uns tempos para cá, olho para o Johnny como um herói da mitologia grega caído em desgraça e castigado pelos deuses – vive diariamente a um palmo da única coisa que quer na vida e não consegue tocar-lhe. Mas esta carantonha está a dizer-me que ele atingiu o limite. Tal como eu, quer fugir. África assaltou-nos o imaginário há mais de um ano, quando trabalhávamos juntos numa produtora televisiva. Tivemos então esta ideia ingénua: sair de Lisboa num jipe e atravessar o continente pela costa atlântica, até à África do Sul. Na bagagem levaríamos uma bola de futebol. Acreditávamos que era o objeto indicado para comunicar com os africanos e chegar à África do Sul, onde estaria a começar o Mundial, com uma série de boas histórias acumuladas ao longo do caminho (além de que não aguentamos muito tempo sem dar uns toques). Falámos da ideia a amigos, colegas e familiares, mas ninguém nos levou a sério. Agora, naquela casa de banho imunda, tinha chegado a hora de mostrar que não estávamos a brincar. «Estava a pensar arrancar no início de Janeiro. Que achas?» «Parece-me bem», balbuciou o Johnny. «Mas faltam-nos umas coisinhas: dinheiro, carro… nem a bola de futebol temos.» «Arranja-se. O que me preocupa é o Fontes. O sacana continua em Angola.» Conhecera o João Fontes na produtora. Eu como jornalista, ele como operador de câmara, trabalhávamos em programas sobre assuntos tão variados como o novo iPhone ou a pesca da tainha. Ficámos amigos. Quando dividimos um apartamento em Lisboa com uns italianos, enchíamos a casa de estrangeiras e fazíamos festas pela madrugada fora. «Como é que ele se está a dar por Angola?», perguntou o Johnny. «Anda a fazer um programa sobre o jet set angolano e está farto de Luanda. Acho que vem a Lisboa para a semana.» «Já não volta, vamos sequestrá-lo. África, já!» 16 AT É LÁ ABAIXO Bebemos mais um gin e uma cerveja e abandonámos o bar. A Sofia entrou pela janela do meu Ford Fiesta e deitou-se sobre mim e o meu colega que se sentara no lugar do morto. Com a vista embaciada e a alavanca das mudanças tapada por umas belas coxas, deslizei em segunda velocidade pelas ruas de Lisboa, agora mais tranquilo, apenas com vontade de acelerar a contagem decrescente para a chegada do João Fontes. São sete da manhã no aeroporto da Portela. O Gordo desce as escadas rolantes em grande correria e abalroa-me. Dois corpos no chão de mármore e dois baldes de cerveja derramados. Ainda combalido, espreito por cima do ombro e vejo aproximar-se um grupo de hooligans descontrolados. O Johnny está no meio deles. O caos está lançado na plataforma de chegadas. Nada a temer. É só o grupo de amigos do João Fontes que, como eu e o Johnny, não quiseram faltar à receção de boas-vindas. Já não o vemos há meio ano. Até que o Fontes lá aparece, com a pele torrada pelo calor dos trópicos, um sorriso aliviado, piercing a reluzir aos primeiros raios de sol que entram pelas janelas. Saltamos como uma mola para a rampa de passageiros. O Fontes espalha-se ao comprido. Seguem-se os apertos de mão, os abraços, uma enorme algazarra. Sem querer empurro o carrinho das malas contra um dos pilares, causando um grande estrondo. «Saia já do aeroporto», grita um polícia. «Ou então vou ter de o deter». O Gordo e o resto dos desordeiros saem em minha defesa. Vêm mais polícias e acabamos todos na rua. Cá fora, faço a pergunta fatal ao recém-chegado: «Como é, Fontes? Vamos mesmo até à África do Sul?» «Então não foi para isso que eu voltei?» A pergunta confirmava as melhores expetativas: o Fontes acabara de trocar os dólares de Luanda pela viagem mais louca das nossas vidas. A equipa estava feita. Agora só faltava o dinheiro. E o carro. Pormenores. 17 O nosso jipe, o Yuran, na despedida em Lisboa II «Vocês acham que conseguem atravessar África assim? Olha para ti… Se te veem com esse brinquinho e essa camisola com bonecos comem-te vivo», diz o velho Albertino, apontando para o Road Runner e o Wile E. Coyote estampados na T-shirt cinzenta do Fontes. Deveríamos estar num encontro de angariação de fundos para a viagem. Em vez disso estão a rogar-nos pragas há mais de uma hora. Albertino tinha sido nosso patrão na produtora e levou-nos a uma reunião com o misterioso produtor Jacques Domy, num apartamento de tetos altos junto à Avenida da Liberdade. É já a terceira vez que nos sentamos em frente deste sexagenário de rosto indecifrável e olhos escondidos por lentes grossas, ouvindo, arrepiados, o seu sotaque com erres carregados. Albertino dissera-nos que Jacques produzia vídeos institucionais, mas não vejo nem posters de cinema, nem câmaras, nem bobinas, nem salas de edição, nem gente – só mesmo a secretária jeitosa que nos veio abrir a porta O apartamento mais parece um entreposto de tráfico de interesses e, de facto, Jacques tem fama de fazer muitos favores diplomáticos. O seu discurso cheirava mais a esturro que uma incineradora. «Estão a falarrr com dois homens com experrriência de Áfrrrique. Quando menos esperrrarrrem têm uma pissstole na cabeça.» A dupla grisalha tentava despertar o nosso medo e a nossa insegurança. Albertino e Jacques, que tinham passado 19 TIAGO CARRASCO boa parte da vida na África colonial – o português em Angola, o francês na Costa do Marfim – exalavam a nostalgia própria de muitos retornados. A última imagem que guardavam de uma terra que outrora lhes dera conforto e prosperidade era a revolta sanguinária dos negros contra os antigos senhores coloniais – massacres, pilhagens e violações. Albertino chegara mesmo a lutar do lado do MPLA pelo nascimento de uma nova Angola mas, depois da independência, apenas se aguentara até aos anos 80, altura em que se desiludira com a guerra e com o partido e voltara à pátria. Jacques fizera várias viagens de negócios pela Costa do Marfim até que, em 2002, tivera de fugir da guerra civil e da caça aos franceses. «Em Abidjan não podem andarrr na rua sem segurrranças. Assim que chegarrrem à fronteirrra vão roubar-vos as câmarrras. Se parrrarrrem num sinal verrrmelho, entrram-vos no jipe e tirram-vos as malas.» Jacques e Albertino traçavam-nos um cenário terrível e ameaçador. Era preciso cuidado com o calor assassino, com os canibais, com as minas, com os feiticeiros que envenenavam a água embebendo a unha do dedo mindinho nas garrafas e com as doenças dos trópicos que matavam um homem em poucas horas. Atiravam-nos tudo o que já sabíamos e ainda o que não queríamos saber. Todos os perigos tinham um denominador comum. «Vocês são brrrancos. Il n'y a rien de plus dangereux pour un blanc en Afrique que le simple fait d'être blanc.» O francês estava bastante reticente em investir um cêntimo que fosse na nossa aventura. A suspeita de que os seus preciosos euros fossem desaparecer num remoto posto alfandegário ou numa barricada de uma milícia hostil era superior ao interesse pelo projeto. Quando disse que era imperativo fazermos um curso de defesa pessoal, apressámos o desfecho da reunião e fomo-nos embora. Continuávamos sem dinheiro para a viagem. 20
Baixar