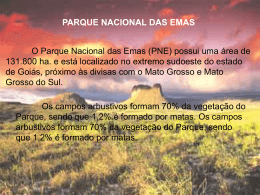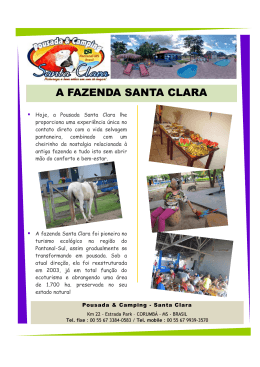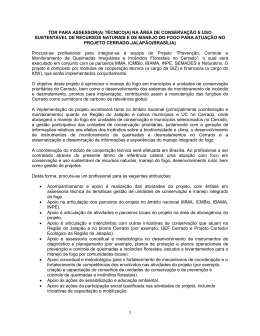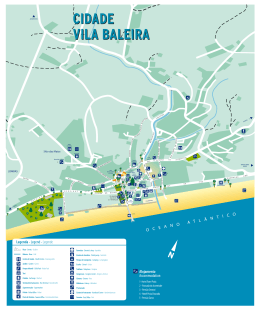Jalapão: atropelado pela sua fama prematura Claudio de Moura Castro Houve uma reunião de prefeitos do Centro Oeste em Brasília. O objetivo era discutir possíveis locais para armazenar o lixo atômico. O funcionário do governo teria dito que queria encontrar para isso um lugar no fim do mundo (a expressão usada foi mais literal!). Levanta-se irado um prefeito do Jalapão e exclama: “No meu município, não!” A estória pode ser apócrifa, mas ilustra a própria percepção dos moradores acerca de onde se situa o Jalapão. Em termos mais precisos, para nós que estávamos em Belo Horizonte, é um vôo para Brasília, mais uma hora de vôo para Palmas, a novíssima capital do Tocantins. De lá, são trezentos quilômetros em direção nordeste, metade em estrada de terra. Havia sido convidado para uma conferência em Palmas. Vi então a chance que tinha para visitar o Jalapão, cuja fama está se alastrando rapidamente. Mas era fim de maio e as excursões regulares de barco ainda não haviam começado. Tínhamos uma chance de organizar uma expedição especial, mas seriam necessárias seis pessoas no mínimo. Os muitos candidatos foram desistindo, um a um, até que ficamos meu irmão Affonso Henrique (Ika) e eu. Com esse quorum não dava, o preço ficava proibitivo. Fui a Palmas e fiquei uma tarde em Taquarussu, um vale simpático, mas aquém do critério do Michelin “vale a viagem”, sobretudo, quando a viagem é de dois mil quilômetros. Mas a frustração ficou pendente. Quando a Secretaria de Planejamento do Jalapão organizou um passeio para funcionários do MEC, a chance voltou a se apresentar. Aproveitaríamos a carona para o Jalapão, mas teríamos que acampar, pois a pousada estava completa. De último momento, desistem algumas pessoas e fomos todos para a pousada. Saindo de Palmas, ainda se vêem alguns povoados ralos. Mas nos trezentos quilômetros do percurso, há apenas uma cidade, bastante pequena e pobre. O resto é um cerrado desabitado. Segundo um biólogo que encontramos, é uma mistura de cerrado com caatinga, pois não está muito longe dos fundões da Bahia, Piauí e Maranhão. Mas para os leigos, é cerrado mesmo, bastante plano, com os campos típicos e as árvores retorcidas. A Pousada do Jalapão tem uma origem bastante sinistra. Era um refino de cocaína e uma plantação de maconha. Pertencia a um americano que saiu fugido quando a polícia descobriu. Seus funcionários foram presos e a terra confiscada pelo Estado. Anos depois, a ex-secretária de Turismo conseguiu uma concessão para instalar uma pousada no local. Foram construídos vários prédios, com simplicidade, mas evidente bom gosto na arquitetura e decoração. Mas o paisagismo foi esquecido. É um descampado arenoso, com uma vegetação espontânea rasteira. Parece uma obra inacabada. No meio, há um bosque de eucaliptos – uma árvore forasteira na região. Considerando a desolação do lugar, é uma pousada com conforto mais do que razoável e com uma equipe bem intencionada. Telefone e e-mail, só via satélite. Mas estava tudo enguiçado nos dias em que lá estivemos. Fomos para o Jalapão em duas camionetes. Uma Mitsubishi com tração nas quatro rodas (“traçada” no dizer local) e uma Chevrolet S20, não “traçada”. A idéia era que lá trocaríamos a Chevrolet por outro veículo “traçado”, pois sem diferencial bloqueado e tração nas quatro, não se chega mais além da pousada. Mas a camionete substituta não se materializou, por razões desconhecidas. Após o almoço, fomos ao Rio Novo, não muito longe da Pousada. É considerado como o maior rio potável do mundo. Além de correr sobre um leito de arenito, que garante a transparência da água, não tem moradores nas suas margens. Em grande medida, os atrativos do Jalapão estão nos seus rios, supremamente limpos, com abundantes cachoeiras e praias de areias imaculadamente brancas. Fomos ver a Cachoeira da Velha, excepcional pela beleza e harmonia. É uma queda em forma de ferradura, com a água formando uma cortina contínua e côncava. Curiosamente, é possível fazer todo o percurso por trás da parede de água. Podemos entrar por uma ponta e sair pela outra, parte no seco, parte caminhando na água e parte nadando,. O guia da pousada, lá presente por acaso, decantou os atrativos da travessia. Animei-me a ir. Ficou ele entre a responsabilidade de deixar alguém fazer a travessia sem conhecer ou, molhar as ataduras que protegiam um machucado no pé. Decidiu tirar as ataduras e guiar os mais afoitos. Mas uma vez que entrei com meu irmão e mais alguém, animaram-se muitos e iniciaram a travessia. Começamos a ver o que a se repete em todo o país no turismo-aventura: O risco descontrolado e a falta de preparo dos guias. O lugar é perigoso para quem não está acostumado. Pode ser transposto com o auxílio de um guia. Mas havia mais de dez pessoas com os mais variados níveis de preparo físico e de idades se enfiando atrás da cachoeira. Nenhum guia poderia ajudar a todos. O guia assoviava e mandava esperar, mas avançavam todos. Por grande sorte, até os gordos sobreviveram incólumes, embora saíssem alguns com arranhões aqui e acolá. Ficamos com o deslumbramento da cachoeira, da sua visão pelo avesso, atrás da parede de água e uma clara sensação de que a organização do Jalapão não está pronta para o turismo. Menos ainda os guias que não têm a coragem de dar as broncas necessárias para impor sua autoridade. Voltamos a tempo de testar a presença dos mosquitos ao entardecer. Confirmou-se amplamente a teoria de que aparecem antes do por do sol. E como outros que conhecemos, enfrentam com bastante êxito os repelentes. Mas a bem da verdade, nem aparecem com o sol presente e nem durante a noite. Comparados com outros lugares menos desolados, nada a reclamar. Mas o pôr do sol justifica qualquer perda de sangue. Como não há nenhuma poluição, as nuvens vão sendo iluminadas pelos raios violeta e amarelos do sol que vai desaparecendo no horizonte. Dormimos com dois grilos cantando dentro do quarto. Acho que estavam embaixo da cama. Fiquei me sentindo na China de outrora, onde era comum ter grilos dentro de casa – de fato, ainda se compram lá as suas gaiolinhas, nas lojas de antiguidades. No dia seguinte, o programa era carregado. Iríamos ver outra cachoeira, tomar banho no celebrado Fervedouro e visitar Mumbuca, onde foi descoberto o artesanato do capim dourado. Mas a S20 sem tração não estava à altura dos areais da estrada. Atolou cinco vezes. Uma delas, na poeira vermelha. A poeira é tão fina e tão profunda que nela afundou o diferencial da camionete. Mas sendo tão fina, o vento que soprava paralelo à estrada levantava uma nuvem que nos engolia. Tínhamos que ficar do lado de fora, durante a operação de desatolar, comendo poeira. Uma camionete acelerava e a outra camionete puxava. Mas não foi possível arrancá-la. Um dos motoristas, muito habituado às condições locais, cortou alguns pedaços de pau e neles apoiou um macaco hidráulico. A coluna do macaco se apoiava na parte interna superior do aro da roda. Ao bombear o macaco, a roda se levantava do chão. Isso permitia colocar paus e pedras sob o pneu. Feito isso, a operação era repetida com mais paus na base do macaco, permitindo subir mais a roda. Uma vez desenterrado o diferencial do solo, acelerando e puxando com a outra camionete, conseguimos sair do atoleiro. Como atolou cinco vezes, a operação foi repetida outras tantas. Mas no processo, quebrou-se o platô de embreagem da Mitsubishi. Rebocamos a vítima para a próxima cidade e dali não saiu mais. O reboque de Palmas ficou de vir buscar. Empilharam-se todos na S20, dois infelizes na carroceria, coberta de fibra mas nada protegida da poeira. As distâncias do dia eram bem longas, pois devíamos vencer mais de 80km em péssimas estradas, para chegar onde queríamos. Mas no caminho havia recompensas visuais . A área do Jalapão alterna cerrado plano com o que localmente chamam de chapadas. É a mesma geometria da Chapada de Diamantina, das mesetas dos desertos do Colorado ou os tepuis da fronteira de Roraima com a Venezuela. São montanhas com topo plano e de contornos abruptos, falésias na verdade. Em sua metade superior, aparecem os blocos de arenitos avermelhados, dando-lhes uma majestade que vem mais da estética do que da altura, pois não se elevam mais de duzentos ou trezentos metros, acima de um cerrado praticamente plano. Essa é a marca registrada do Jalapão. As chapadas e a topografia lembram as planices de Utah (Zion National Park), estas últimas mais vermelhas e mais peladas. As do Jalapão são igualmente belas, sob um céu limpo e azul saturado. Vão se revezando no horizonte, umas compridas, outras redondas, como um funil. Pena não haver tempo para escalar algumas destas chapadas. A Cachoeira da Formiga vale pela água azulada e supremamente transparente. Mas como cachoeira, não é nada de espetacular. Além disso, está em uma propriedade privada, sendo explorada comercialmente com a cobrança de uma taxa. O problema não é a taxa mas a precariedade, feiúra e pobreza do que fazem os proprietários do local. Pobres e pouco educados, não tem noção do que atrairia turistas dispostos a viajar milhares de quilômetros para chegar ao Jalapão. Aliás, esse é um dos assuntos pendentes do Jalapão. A demografia é rala, mas há gente morando por lá. E são muito pobres. Tanto do ponto de vista humano como da viabilidade turística de longo prazo, é preciso pensar na sua inserção correta na economia do turismo. São populações muito pobres e de pouquíssima educação. Qualquer que seja o papel que vão desempenhar, alguém tem que ensinar a eles. Relativamente perto está o Fervedouro. Essa sim é uma curiosidade bizarra e inesperada. É um poço circular, com seu sete a oito metros de diâmetro. O fundo aparenta meio metro de profundidade e está forrado de areia fina e branca. A água que brota de uma fonte subterrânea, atravessa a areia e borbulha no fundo. Quando pisamos, um susto anunciado, são areias movediças. Os pés afundam e não encontram nenhum obstáculo sólido no fundo. Todavia, as leis da física de plantão cuidam do resto. A combinação de areia com água tem uma densidade maior do que a água pura. Portanto, as pernas enfiadas na areia bóiam mais do que na água pura. O tronco bóia apenas na água. As pernas bóiam muito mais. É como se as pernas estivessem sendo empurradas para cima e o corpo não. Fica meio desequilibrado. Tudo muito estranho. O motorista não tem muita coragem de entrar, apesar de ser meio do tipo valentão, ex-cabo do exército em tropa de elite. Saindo do centro da mina, a areia fica um pouco mais dura. Mas move-se, treme, como se estivesse sendo vibrada por um motor. É ainda mais estranho. Como a água não é fria e a temperatura externa é confortavelmente quente, não dá vontade de sair. Mas o dia é curto para tantos atoleiros e novidades. Queremos ir a Mumbuca e às dunas. Mumbuca mal pode ser chamada de povoado. Dez casas, no máximo. E paupérrimas todas, de pau à pique, feitas com uma argila esbranquiçada. Mas esta é a pátria do artesanato em capim dourado, que hoje se vende nas butiques da moda. Conversando com algumas mulheres locais, ficamos sabendo que suas avós já tiravam a haste de um capim muito comum na região e a usavam para fazer objetos utilitários. São então agrupadas em maços circulares e, com fibra de buriti fazendo às vezes de linha, são construídas as formas de bolsas e tigelas. A colheita deve esperar o fim da seca, por volta de setembro, para que hajam adquirido o tom dourado que é sua marca registrada. Segundo os entendidos, o capim nasce melhor quando o campo é queimado. De fato, na casa onde opera o “showroom” dos produtos em capim dourado, havia um pôster oficial, dando instruções de como queimar os campos com segurança. Esse é um assunto acerca do qual não parece haver consenso entre os entendidos. Queima-se o campo ou não? Segundo alguns biólogos, há algumas plantas que necessitam o fogo para a sua prosperidade. Mas o fogo impede o crescimento da matas mais substanciais e lambe algumas florestas ciliares. Será que os biólogos não podem se por de acordo acerca das queimadas? Como muitos outros artesanatos primitivos, o do capim dourado não passava muito da produção de objetos funcionais. Era um artesanato antigo, conservado por Dona Miúda. Isso até que a “doutora”, uma mulher local mais alerta, começa a vender os objetos. Há então uma intervenção do SEBRAE que manda um professor de São Paulo para redesenhar alguns objetos e corrigir a sua qualidade. O êxito foi instantâneo. Em poucos anos, exportam-se bolsas e sous-plâts das profundezas do norte do Tocantins para as butiques badaladas de São Paulo. O nome sous-plâts e o seu uso em jantares elegantes não podia ser mais contrastante com a pobreza local. É a velha estória dos proventos dos mais pobres serem derivado da venda aos mais ricos. Obviamente, aquela meia dúzia de mulheres não tem como atender ao mercado nacional. Começam então a aparecer outros centros de produção nos vilarejos vizinhos. Seguindo as práticas do SEBRAE, todos criam sua cooperativa de produtores que vende o produto e divide a receita entre o fabricante, o vendedor e à própria cooperativa. Cumprimentos para o belo trabalho do SEBRAE que inventou uma atividade econômica que fortalece várias comunidades paupérrimas. Vai se aproximando o fim da tarde. Temos que chegar às dunas. Com muita sorte e uma condução competente, escapamos de atolar em vários areais. Chegamos nos últimos minutos antes do por do sol. Vejo as fotos perfeitas se ajeitando em frente ao visor da minha Canon. Corro, corro muito para não perder as mais interessantes. Ao desaparecer o último raio de sol, já tenho uma boa provisão de fotos que, ao ser reveladas, confirmaram a intuição do olho fotográfico. Só que, vitima das as areias da duna, minha fiel Canon faleceu ad eternitatem. Na verdade, a imagem do Jalapão está muito associada às dunas. Não que lhes falte beleza, com sua cor entre o laranja e o vermelho. Mas são diminutas, diante da imensidão do cerrado. Há uma certa injustiça na hiper-valorização de um acidente geográfico quantitativamente tão insignificante. Voltamos já no lusco fusco. Suficientemente escuro para não poder escolher a melhor passagem para o carro, no meio do areal. Não nos distanciamos muito, antes que atolasse irremediavelmente. Não houve galho, graveto ou tronco que ajudasse. A noite chegou e o carro não saiu de onde estava. Pelo que me lembro, vi poucas vezes em minha vida em um céu tão escuro quanto esse. Luzes de cidade, só em Palmas, a 400 quilômetros. O filho de um dos membros da expedição teve um acesso de medo. Felizmente, ainda estava na duna a diretora do Parque Estadual, com seu escudeiro. Como estavam em uma Mitsubishi 4x4, podiam ajudar. Repete-se a mesma operação do macaco com o pau embaixo. Todos empurrando, mais uma forcinha e, finalmente, conseguimos tirar o carro do areal. Na verdade, sem ajuda não sairíamos dali. E estávamos a uns bons sessenta quilômetros da Pousada – ou de qualquer outro povoado. Descobrimos que a Pousada tinha um “raft” e um guia capaz de manejá-lo - era o mesmo da cachoeira no primeiro dia. Curioso que não houve muito empenho da Pousada em propor a descida. Havia problemas de transporte. A Mitstubishi da Pousada estava com a direção remendada, sem muita segurança. O ônibus estava com o grupo de turistas da própria Pousada. Um dos nossos carros estava fora de combate. Sobrava o Sadam, um caminhão da Engesa, comprado do Exército Brasileiro. Valentia ao Sadam não faltava. Mas era considerado supremamente inconfortável, pela dureza da suspensão e pelos pneus à prova de bala, por conta de uma malha de aço cujas conseqüências são consideradas nefastas sobre as bundas dos turistas. Assim sendo, fomos na S20 não “traçada” e na Misubishi da Pousada – a da direção mal consertada. A estrada até o local de lançamento do barco na água é relativamente boa e pouco ultrapassa os dez quilômetros. O problema é que após descer 15 km deslizando na água, o resgate se faz por 90 quilômetros de estrada – no padrão local, com todos os areais de direito. Se houvesse uma reles picada, seria mais rápido voltar à pé. Em que pese a falta de entusiasmo mostrado pelos funcionários da Pousada, o rafting é simplesmente imperdível. Pode-se dizer que é o ponto alto do passeio. De fato, de todas as descidas que conheço de primeira e segunda mãos, não há outra que se compare. Há outras que são mais em qualquer dos atributos individuais do Rio Novo. Mas local que tenha tantos atributos com sinal positivo, fica difícil encontrar igual. A paisagem é estupenda. É um cerrado ligeiramente mais úmido, pela proximidade da água, mesclado com bosques ciliares belíssimos. Naturalmente, há as pedras, as corredeiras e as praias de areias brancas. Mas paisagens belas se encontram em muitos passeios no gênero. Os vídeos do Futalelefu (no Chile) não deixam dúvidas sobre a beleza do sul dos Andes. A água é limpíssima e transparente. Nadando, é abrir a boca e beber com segurança total. Em contraste, a maioria dos locais interessantes de rafting tem águas barrentas - como o Colorado e muitos rios brasileiros. E na maior parte dos rios, beber a água é uma aventura de mais risco do que a descida de balsa. A temperatura da água e do ar é simplesmente perfeita para tal atividade. Um ar seco a 30º e uma água a vinte e tantos são imbatíveis. O Futalefu é água de degelo. Um desconforto enorme se o barco virar. O mesmo com os maravilhosos rios dos Alpes. Finalmente, nesta época do ano, o rio é nível 3+. Emoção, alguma adrenalina, mas sem sustos. Pode virar, como virou o nosso, esparramando passageiros por todo lado. Mas é até uma virada divertida, pois nem tem tanto é o perigo e nem a água é fria. Juntando tudo, é uma combinação invencível. Outros lugares tem seus atributos, mas têm também seus pontos baixos, para compensar. O Jalapão tem as vantagens, sem as desvantagens – exceto a distância. Um pé de página lingüístico sobre o rafting: Quando a coisa aperta e o barco periga, o mais aconselhável é sentar-se no fundo, até passar o pior. Isso tem que ser comandado pelo piloto do barco. A palavra usada é “pise”. Fiquei pensando de onde viria, pois em português não diz nada. Deu o estalo. Dever ser uma tradução do inglês, país de origem provável desse desporto no Brasil. “Step in” seria a expressão inglesa correspondente. Traduzindo o “step” (e esquecendo o “in”), dá “pise”. Será? Terminamos a descida em uma espécie de porto de rio, onde havia vários barcos. Um deles era do sitiante local. O outro pertencia a um grupo de biólogos que estava fazendo um levantamento dos peixes da região. Ao chegar, soubemos que um dos nossos carros havia novamente quebrado. Desta vez, o radiador saiu de prumo e foi trucidado pela hélice do ventilador . Estava sendo reparado em um vilarejo próximo. Mas era conserto à base de cola. Estávamos com fome e nos esperava um almoço na casa do sitiante local. Mas não havia ainda quem nos levasse lá. Propus caminhar os seis quilômetros. Mas um dos biólogos se propôs a nos levar na sua picape Bandeirante. Como a perspectiva de andar no areal não era das mais brilhantes, aceitamos a carona, sem muita cerimônia. Fomos levados a uma casa de pau a pique, imaculadamente limpa, com um enorme cajueiro à porta e flores brancas no quintal. Lá comemos um almoço de roça, caprichosamente preparado. Barriga cheia, começam as ruminações intelectuais. Com um intervalo de dez minutos, havíamos visitado um acampamento de biólogos e uma casa de pau a pique de um habitante do local – não é demasiado repetir que é um local dos mais remotos quantos há no Brasil. A casa era simples, sem o mais remoto esforço estético, exceto as flores. Mas era limpíssima. O chão de terra batida era varrido à exaustão. A sala, meio escura, era igualmente bem ajeitada. E a comida era bem cuidada. Os biólogos eram todos formados em universidades, um deles cursava o seu doutorado. Mas seu acampamento era uma bagunça e uma imundice sem par. Nega frontalmente a idéia romântica de acampar à beira de um rio belíssimo. A comida na frigideira não era apetitosa. Os badulaques estavam pendurados nas árvores, as caixas de isopor eram sujas e desgastadas. Não, acampar não é isso! Como entender essa dissonância cognitiva, onde membros da elite intelectual brasileira vivem em um acampamento visualmente promíscuo e sujo, enquanto uma família de fim de mundo, tem uma casa tão limpinha? A verdade é que não tenho a resposta. Poderia até especular, mas seria sem grandes teorias. Pensando nesses assuntos, sacolejamos de volta no carro com a barra de direção mal remendada e no outro com o radiador colado. Chegamos à Pousada sem atolar uma só vez. À noite, para variar do refeitório, foi servido um churrasco perto da piscina. O cheiro da carne atraiu a matilha de lobos guará que costuma dar as caras na pousada, sempre de noitinha. O guará tem corpo de lobo e pernas de bezerro. É como se fosse um lobo em pernas de pau. Os funcionários dão comida aos bichos, para que voltem sempre. Os radicais da ecologia condenam o “sopão” dos lobos. Não sei. Do ponto de vista de marketing, é um grande sucesso, pois chegam bem perto, sem medo algum. Deveriam ser alimentados na conta da Kodak, pois acarretam um grande aumento no consumo de filmes. De fato, ainda há muito bicho na região. Vimos um filhote de raposa cruzando a estrada. Vimos seriemas. Tucanos passaram voando, bem como três araras azuis, daquelas de jardim zoológico. No dia seguinte, domingo, tomamos o caminho de volta, no novo carro enviado de Palmas e na S20. Não durou muito a primeira perna da viagem, pois a S20 engripou o rolamento da correia do ventilador. Usamos a outra camionete para rebocá-la até a cidade próxima, onde ficou, à espera do reboque. Amontoados em um único veículo, voltamos a Palmas. Chegamos empoeirados, calorentos, queimados de sol e com a alma lavada, pela beleza do Jalapão. Mas como os maus hábitos de pontificar sobre tudo não nos abandonam jamais, muito especulamos sobre o que significa o empreendimento turístico do Jalapão. A chave para entender o momento presente veio da diretora do Parque. No dia da visita às dunas, ela também lá foi, para desalojar um senhor acampado no alto da duna, com seus dois cachorros. Disse-lhe que ali não podia acampar. Ao que o senhor retrucou: “E onde se pode acampar?” A verdade é que ela não tinha a resposta, pois isso não foi ainda decidido. De fato, estava com ela um funcionário do BID que está examinando a possibilidade de um projeto de desenvolvimento turístico do Parque. Em conversas com assessores do Secretário de Planejamento, começamos a formular uma hipótese acerca do que aconteceu no Jalapão. Havia claramente a intenção de dar um destino turístico ao Jalapão. Aliás, esta idéia não escaparia a quem quer que visite a região. Foi feito um planejamento que começou com a criação legal do Parque Estadual. Está previsto um plano diretor, a desapropriação das poucas terras que são habitadas e tudo mais que vem depois. Acontece que o Jalapão foi descoberto pelos aficionados antes que a preparação para a sua visita estivesse sequer no meio. A imprensa escrita e a televisão descobriram o Jalapão e não se cansam de mostrar suas belezas. O Google mostra 7890 referências para o Jalapão”, contra 9970 para Parque Itatiaia, um dos mais antigos e conhecidos parques nacionais do país. Aparecem por lá todas as marcas conhecidas de carros com tração nas quatro rodas. A maioria ou é local ou tem placas de São Paulo. Começa a corrida para o Jalapão, antes que sequer as normas de uso estejam pensadas. A ameaça sobre o eco-sistema é real, embora não pareça dramática. O cerrado é um ecosistema muito frágil. A bio-massa é pouco espessa e a erosão faz estragos consideráveis. Na verdade, muito da topografia, é moldada pela erosão milenar dos arenitos. Contudo, o tipo de turista que para lá vai tende a ser relativamente sofisticado. Afinal, o turista mais predatório não é atraído por dunas e rios, pagando bilhetes de avião de mil reais para Palmas e mais os outros tantos reais pelo resto do passeio. Pelo contrário. O que se observa em outros lugares é que são os turistas desse tipo que importam para a região as preocupações com meio ambiente – como vi claramente na subida do Everest. Mas dos turistas locais não se pode dizer o mesmo. Não por serem do Tocantins, pois, pelo Brasil afora, o turista do interior ainda é o que joga lixo e escreve o nome nas pedras. Há séria preocupação com o meio ambiente por parte do governo estadual e da administração dos parques. Mas não há meio ambiente que resista às oito mil referências no Google, e aos documentários de televisão, antes mesmo que os mecanismos de fiscalização estejam implantados. Obviamente, as estradas são péssimas. Muitos poderiam ver aí um problema sério. Mas no momento, isso é até um fator positivo, por frear o crescimento do turismo, enquanto não houver mais mecanismos de controle. Na verdade, turismo aventura não se faz em estrada asfaltada. Não é o asfalto que atrai esse perfil de turista, mas sim o isolamento, a beleza selvagem e, enfim, a verdadeira aventura de estar tão longe e tão fora dos recursos modernos. O verdadeiro problema hoje – além do risco ao meio ambiente – é a falta de infraestrutura humana e organizacional. A Pousada recebe grupos de vinte ou mais turistas, contratados via Internet. Chegam velhos, crianças, gordos, magros, aventureiros e intelectuais. São todos misturados no mesmo grupo. Há um velho ônibus urbano, com pintura desbotada. Parece que apenas retiraram a catraca e mandaram para lá. Difícil imaginar um veículo com menos charme. Lá se amontoam todos, mais de vinte, rumando para locais onde o atrativo estaria na sensação de exclusividade, ainda que fugaz. É o sentimento de sentir como seu algum pedaço virgem do planeta. No Fervedouro, a carga máxima é de seis pessoas, pois não passa de um laguinho de poucos metros de diâmetro. Com as filas para entrar na água, vai-se o encanto. Pior, há lugares difíceis e até perigosos. Não obstante, vão todos juntos, crianças chorando e velhas resmungando. Vimos a gerência sugerir um passeio a uma família de doze pessoas, incluindo velhos e crianças. Ora, aquele passeio é classificado como nível III na placa que lá está. Havíamos acabado de percorrer a trilha e certamente, não é nem para velhos alquebrados e nem para crianças. Nosso grupo “adotou” um casal de jovens advogados do Rio de Janeiro, intelectualmente sofisticados e revoltados com o tratamento de turismo de massa que recebiam, em um local tão intimista. Com a multidão heterogênea dentro do ônibus, alguns passeios só terminavam às dez da noite, com todos reclamando. Algumas senhoras vociferavam contra o ônibus que, naquele dia, havia duas vezes furado o pneu. Diziam haver fotografado o estado dos pneus e iam tomar alguma providência que não entendi bem. De fato, mesmo sentado na varanda, era possível ver que em um dos pneus faltava um naco de borracha do tamanho de um livro de bolso. O bote inflável (“raft”) tinha dois furos nas câmaras onde se põem os pés. Nada sério, nada que comprometa a segurança. Mas as borbulhas causam péssima impressão em aventureiros mais inexperientes ou medrosos. Não há um só pedaço de papel dizendo o que há para ver, qual o roteiro e por aí afora. Tanto quanto pudemos ver, há apenas um guia. Mas obviamente, é um produto local, sem a preparação requerida e sem muita informação a oferecer. Alguém que chegue ao Jalapão no seu próprio carro – o que é possível, pois a estrada é razoável – estará ilhado na Pousada, sem guias, sem opções de ir a lugar algum, fora do que se oferece no ônibus velho e congestionado. No fundo, não podemos reclamar dos que lá estão operando. Com quem poderiam haver aprendido? Mesmo no Brasil, não há bons modelos de turismo aventura. No Tocantins, ainda menos. Reinventa-se a roda a cada momento. A cada passo, há um imprevisto, para o qual ninguém havia pensado, embora seja inerente a qualquer atividade tão longe e em lugares tão primitivos. Aí desaba a indecisão. O que fazer com o carro quebrado? E naquelas estradas, quebram o tempo todo. No nosso caso, quebraram três vezes. Como pedir socorro? Aliás, quem tem conhecimentos de primeiros socorros naquele ermo? A experiência mais próxima, ainda que macabra, é a do motorista da Secretaria que em seu emprego anterior era chofer de agência funerária. No fundo, fica a idéia de que o Jalapão está sendo atropelado pelo seu próprio sucesso. Há uma corrida entre os que precisam acertar, calibrar, treinar e regulamentar o uso do parque e o afluxo prematuro de visitantes, antes sequer que haja regras para o uso do espaço.
Download