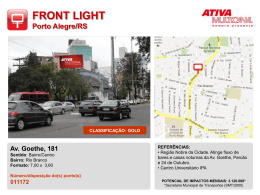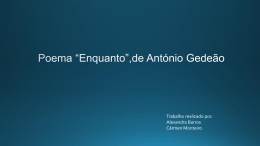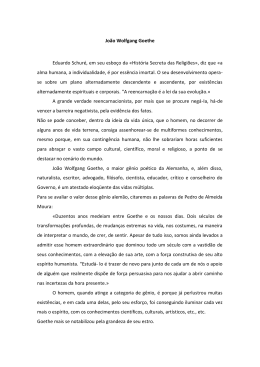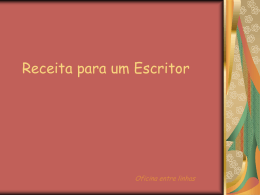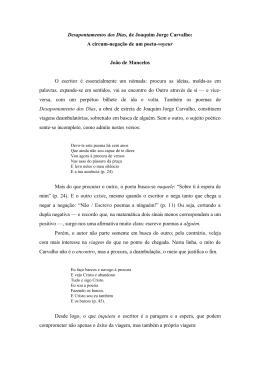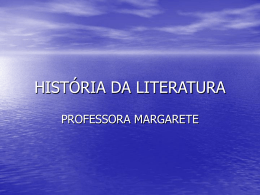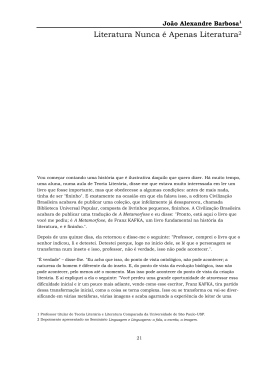05/10/2012 às 00h00 Escritores nunca estão em casa Por José Castello | Para o Valor, de Curitiba Em "Festa sob as Bombas", livro traduzido no Brasil, em 2009, pela Estação Liberdade, o escritor Elias Canetti relata uma impressionante história de seu amigo, o pintor austríaco Oskar Kokoschka (1886-1980). O infeliz Kokoschka, apesar dos protestos enfáticos de Canetti, atribuía a si mesmo a expansão do nazismo e a eclosão da Segunda Guerra. Ele e Adolf Hitler foram amigos de juventude. Como Kokoschka, também Hitler desejava tornar-se pintor. Ambos se candidataram a uma mesma bolsa na Academia de Viena. Kokoschka foi aceito e Hitler, recusado. Durante toda a vida, o pintor expressionista se culpou por essa vitória. Se Hitler tivesse recebido a bolsa, e não ele, o pobre Kokoschka teimava em pensar, o Partido Nacional Socialista e o nazismo jamais existiriam! A guerra também não. "Kokoschka era, portanto, o culpado da guerra", Canetti rememora. "Voltou mais uma vez ao assunto e eu tive com isso a estranha impressão de que se colocava no lugar de Hitler." A história narrada por Canetti me voltou à mente quando visitei, há duas semanas, na companhia de meu amigo Carlos Frederico Schaffgotsch, a Casa de Goethe, mais célebre museu de Frankfurt, Alemanha. Eu estava na cidade a convite do Centro Cultural Brasileiro em Frankfurt. Naquela casa, o escritor alemão passou a infância e a juventude. Ainda era um rapaz comum, ainda não era Goethe, quando a deixou. Seus vestígios pela casa são, contudo, imprecisos. Na verdade, mais que isso: são falsos. Um belo mobiliário da época encena a presença dos móveis verdadeiros, que se perderam para sempre. Sua disposição pelos cômodos também é arbitrária: não se sabe onde foi realmente seu quarto, qual espaço lhe serviu de escritório, em qual deles dormiram seus pais. Visitamos, meu amigo e eu, uma réplica construída, com grande rigor histórico, em 1951. A casa original foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra. Estávamos no império consolador dos substitutos e das simulações. Não é só com Goethe que isso acontece. No ano passado, visitei, em São Petersburgo, a casa (bem mais recente) do escritor russo Vladimir Nabokov. Lá estavam "objetos verdadeiros", mas dispostos como numa "mostra oficial"; ou seja, como se fossem falsos. Também o espírito de Nabokov parecia ausente de sua casa. A atmosfera é fria. Não senti resquícios de vida. Tudo tinha a aparência de uma exposição didática. Mesmo na grandiosa Praga de Franz Kafka - cidade que vive, em grande parte, ancorada em sua memória - as pegadas (verdadeiras) deixadas pelo escritor se desviam, um pouco, na verdade. A pequena casa que Kafka manteve, durante um tempo, no castelo de Praga, por exemplo, transformada hoje em uma pequena loja em sua memória, guarda a aparência de um sorvedouro. Kafka - como Goethe e Nabokov - desaparece nos vestígios que deixou. Estes os evocam, eles os exaltam e enobrecem, mas também os escondem. Tanto a visita à Casa de Goethe como a lembrança do sofrimento de Oskar Kokoschka me fazem pensar na experiência do descentramento, que define a experiência do artista. Rigoroso consigo mesmo, Kokoschka julgava sua arte responsável pelo genocídio. Ali onde devia estar a vida se escondia (ele imaginava) a morte. Também os vestígios de Goethe que reencontrei estão deslocados de seu centro. Não passam de uma amorosa, mas crua, simulação. São só vestígios de vestígios. Nos dois casos, o artista não está onde deveria estar. Mas onde um artista deve estar? Não: eu não devia sentir-me decepcionado. Não será próprio de sua presença o desaparecer? Não será esse um efeito da escrita que, ao mostrar e dizer, na verdade esconde e cala? Depois da visita à Casa de Goethe, meu amigo Carlos Frederico me convidou para um lanche, em um café às margens do rio Neno. Sugeriu que dividíssemos uma larga fatia de um bolo de papoulas - umas das delícias da culinária alemã. Enquanto nós o saboreávamos, ele me explicou que os alemães não cultivam papoulas - seu cultivo, por motivos de segurança, é proibido no país -, eles as importam. Entendi (posso ter entendido errado) que do Afeganistão. Contudo, são os alemães, e não os afegãos, que transformam as papoulas naquele delicioso bolo, um bolo pálido coberto de pintas esverdeadas. Pensei, mais uma vez, como também no caso dos escritores, que as papoulas parecem estar onde não estão; ou talvez estejam onde não deveriam estar. Relembrei, então, uma visita que fiz, nos anos 1990, ao poeta Manoel de Barros, em Mato Grosso do Sul. Meu editor me pediu que entrevistasse o poeta, que lançava um novo livro. Não havia ainda a internet e Manoel não gostava de telefone. Deram-me, então, um endereço em Campo Grande, onde ele vive até hoje. Eu lhe enviei pelo correio uma carta com minhas perguntas. Algumas semanas se passaram até que, quando já parecia que isso não iria acontecer, recebi uma resposta de Manoel. Vinha escrita a lápis, em um antigo papel de pão. A letra era tímida e vacilante, quase incompreensível. Dizia-me o poeta que não via sentido na entrevista, porque nada tinha a dizer. Ainda assim, se eu quisesse mesmo visitá-lo, me receberia com prazer. Dias depois, desembarquei em Campo Grande e passei seu endereço para um taxista. Estranhei quando ele tomou a direção de um bairro nobre da capital. A carta de Manoel - onde ele devia estar, mas não estava! - me induzia a pensar que o poeta era um homem simples, que vivia em um ambiente modesto. Eu cheguei a imaginá-lo sentado em um banquinho de quintal, entre vira-latas e galinhas, escrevendo sobre os joelhos, com grandes dificuldades, a carta que me enviou. Que nada. O táxi estacionou diante de um alto muro, em que havia apenas uma porta e uma campainha eletrônica. Ainda acreditando que me encontrava no endereço errado, desembarquei e toquei a campainha. Um homem elegante, de calça social impecável e camisa de seda, com um par de sapatos lustrosos, me fez entrar. Era Manoel. Conduziu-me, então, a uma grande sala, decorada com telas de artistas de prestígio e cercada por uma farta biblioteca. Ofereceu-me uma dose de uísque escocês, que recusei. Eu estava com dificuldade de aceitar que aquele homem era o mesmo que me escreveu a carta. Era o poeta, autor de versos rústicos e despojados, que conheço. Manoel de Barros - ao menos o "meu" Manoel de Barros - não estava onde devia estar. Tratou-me com grande delicadeza, deu-me uma comovente entrevista, mas eu continuava a não acreditar que estava no lugar certo e diante do poeta verdadeiro. São traiçoeiras as relações que um texto estabelece com seu leitor. A ficção está sempre a meio caminho entre a verdade e a mentira. A rigor, ela é um alargamento da verdade, tão vasto e radical que pode desmenti-la. Quando lemos uma ficção, ou um poema, entrevemos, em meio à floresta de palavras, a presença de seu autor. Contudo, é como observar alguém através de um vidro embaçado: o escritor está ali, mas não está ali. Nós o vemos, mas não o vemos. E é desse borrão, no qual duas imagens divergentes se superpõem, que a escrita emerge. É ali, dessa divergência, que a arte surge. O pintor Oskar Kokoschka sempre acreditou que estava no lugar errado - na Academia de Viena, como um aluno -, quando estava no lugar certo. Sempre atribuiu a guerra e o holocausto ao fato de ter superado Adolf Hitler em uma prova. Morreu desejando consertar uma realidade que é sempre torta. Também eu, na Casa de Goethe, não suportei a relação de amor que levou os alemães a, com tanto esmero, reconstruir a infância e juventude perdidas do autor do "Fausto". Na casa de Nabokov, a verdadeira, eu não encontrei Nabokov, embora todos os seus pertences estivessem lá. Na pequena casa de Kafka, espremida pelo castelo de Praga, senti algo parecido. Tudo isso me leva a aceitar - não sem certa perturbação - a ideia de que o escritor (o artista) nunca está onde devia estar. Nunca está em casa. Escritores só estão mesmo em seus textos. Só existem naquilo que escrevem. O resto - sua vida, suas biografias, sua glória ou sua decadência - não passa de ficções de segunda classe que até ajudam a entender a obra, mas jamais a substituem. A literatura não deixa de ser, então, uma espécie perversa de espelho. Não o espelho correto dos realistas, que reproduz a realidade ponto a ponto, antecipando a fotografia. Mas um espelho opaco que, ao esconder e deformar um vulto, nos mostra, enfim, quem ele é. Não: não é em suas casas que os escritores podem ser encontrados, mas em seus livros. José Castello é jornalista e escritor. Autor, entre outros, de "Ribamar" (Bertrand Brasil, Prêmio Jabuti de romance) e de "Vinicius: o Poeta da Paixão" (Companhia das Letras, Jabuti de ensaio). É colunista do "Prosa & Verso" de "O Globo", no qual mantém o blog "A literatura na poltrona" (www.oglobo.com.br/blogs/literatura)
Baixar