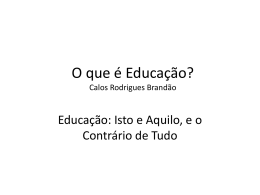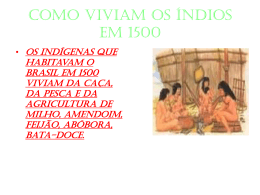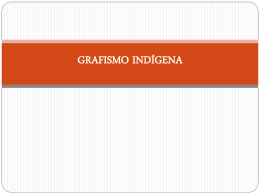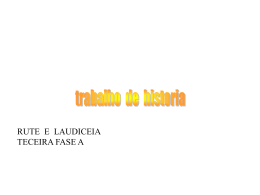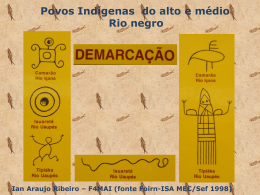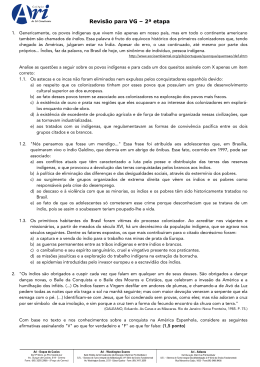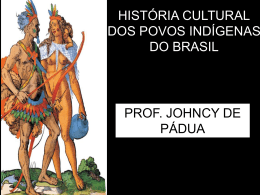MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável Diretoria de Extrativismo CARTEIRA INDÍGENA ENCONTRO DE INTERCÂMBIO COM POVOS INDIGENAS MATO GROSSO DO SUL: 20 a 28 de novembro de 2007 RELATÓRIO DAS REUNIÕES REALIZADAS EM TERRAS GUARANI DO CONE SUL DO MATO GROSSO DO SUL 2º. Produto Carteira Indígena/MMA/PNUD Rubem F. Thomaz de Almjeida Consultor Antropólogo FEVEREIRO 2008 1 ÍNDICE Introdução ........................................................................................................................ 03 Programação ........................................................................................................ 04 Agenda de Encontros: 20 e 28.11.2007 ............................................................... 05 PARTE I Dourados I.1.- Os Encontros na Reserva de Dourados ................................................................... 06 I.2.- Dinâmica dos Encontros em Dourados .................................................................... 07 I.3.- Aspectos positivos dos encontros em Dourados ...................................................... 07 I.3.1.- Projetos de piscicultura em Dourados (20 e 21.11) ............................................... 07 I.4.- Dificuldades ...............................................................................................................08 I.4.1.- O trabalho coletivo ................................................................................................. 08 I.4.2.- Assistência Técnica na piscicultura ....................................................................... 09 I.4.3.- Veneno de soja e roubo de peixes: problemas ..................................................... 09 I.5.- Diversificação de atividades ......................................................................................10 Cartela 1º. Dia .......................................................................................................12 I.6.- A ASSIND e as Associações Indígenas ................................................................... 14 I.6.1.- Recursos para articulação ..................................................................................... 14 I.6.2.- Criação de outras associações .............................................................................. 14 I.7.- Projetos da KATEGUÁ, IMAD, COCTEKD E GAPK (22.11.2007) ........................... 15 I.7.1.- Os poucos pontos positivos indicados ................................................................ 15 I.7.2.- Dificuldades ............................................................................................................16 I.7.2.1.- Projeto de Granja (criação de galinhas) ............................................................. 16 I.7.2.2.- Projeto de pomar e viveiro de mudas frutíferas .................................................. 16 I.7.2.3.- Projeto de “corte costura, tricô, crochê e artesanato” ....................................... 18 I.7.2.3.1.- Kyse yvyra: capacitação necessária para desenvolver projetos .......... .......... 18 Cartelas 2º. Dia .....................................................................................................20 PARTE II Os Kaiowa de Guyra Roka, Paso Piraju, Ñande Ru Marangatu e Caarapó II.1.- As Áreas de Conflito: Guyra Roka, Paso Piraju, Ñande Ru Marangatu ............... 21 II.1.1.- Aty Guasu: foro de decisões .................................................................................22 II.1.2.- Guyra Roka (23.11.2007) ......................................................................................23 II.1.3.- Paso Piraju ............................................................................................................25 II.1.4.- Ñande Ru Marangatu (dia 26.11.2007) .................................................................26 II.2.- Caarapó (27.11.2007) .............................................................................................. 27 PARTE III 2 Encontros com Proponentes Não Indígenas III.1.- Proponentes não indígenas (24 e 28.11.2007) .......................................................30 III.2.- APAE – Ñande Ru Marangatu ................................................................................ 30 III.3.- GAPK e COCTEKD: dificuldades com administração ........................................... 31 III.4.- IMAD ....................................................................................................................... 31 III.5.- GAPK (Bororo, Dourados, 28.11.2007) .................................................................. 32 III.6.- UCDB (Campo Grande, 28.11.2007) ...................................................................... 32 Oficina Nacional ............................................................................................................... 33 Desfecho .......................................................................................................................... 33 Glossário das Siglas ........................................................................................................ 34 3 Introdução Este documento é resultado dos “Encontros de Intercâmbio com Povos Indígenas no Mato Grosso do Sul” – mais especificamente com os Guarani-Ñandéva e GuaraniKaiowa – realizados em diversas áreas Guarani ( 1) conforme programado nos Encontros de Intercâmbio com Povos Indígenas no Mato Grosso Do Sul: 20 a 28 de novembro de 2007, Plano de Trabalho e Metodologia (1º. Produto). Estes Encontros, como apontado ali, tiveram como objeto uma aproximação com os realizadores de projetos auspiciados pela Carteira Indígena e, tendo por base suas experiências, com eles discutir e levantar subsídios para auxiliar as reflexões de redefinição de suas diretrizes para torná-la mais eficiente e ágil no apoio a comunidades e localidades indígenas do país. O relato em mãos, um 2º. Produto da Consultoria Antropológica aos Encontros de Intercâmbio no MS, procurou fazer uma “Descrição das Reuniões” realizadas na viagem entre 20 e 28 de novembro de 2007 a diversas aldeias Guarani no MS para concretização dos encontros programados e da qual o signatário participou acompanhando a equipe de quatro técnicos do MMA/CI. O documento faz, assim, breve descrição dessas viagens e comenta, também de forma sucinta, as discussões e as dinâmicas operadas durante os encontros realizados com grupos de famílias indígenas que trabalham com a Carteira Indígena (CI), indicando, de forma panorâmica e em linhas gerais, o que resultou dessas reuniões que possam ser úteis para se repensar a CI e suas diretrizes – um texto voltado para a análise da experiência desses encontros será apresentado nos próximos dias como 3º. Produto (“Análise e Comentários”) da Consultoria Antropológica. A viagem correu bem e sem contratempos. Em sua avaliação a equipe considerou ter alcançado os objetivos previamente definidos de realizar os encontros e discutir com os índios e instituições não indígenas sobre os trabalhos com a Carteira. Como previsto (v. 1º. Produto) os encontros de fato apresentaram dinâmicas diferenciadas nas várias localidades onde ocorreram. Para maior eficácia nas discussões a equipe procurou adequar-se a cada situação social criada nos Encontros entre grupos de indígenas diferenciados entre si (v. 1º. Produto), e “autoridades de Governo que vieram de Brasília”. A orientação metodológica para tanto foi de “ir aos índios” para melhor entender suas demandas, suas aspirações, expectativas e os problemas de maior relevância segundo sua própria interpretação. Implícito nisso a expectativa de estabelecer diálogo e conversações com as famílias locais, procurando ir além das relações estabelecidas com as chamadas “lideranças”, os indígenas mais visíveis e mais compreensíveis aos brancos. Buscando minimizar o problema do pouco tempo disponível para entender os projetos, a equipe da CI procurou romper minimamente com esse obstáculo e, ao invés 1 O termo Guarani quando usado aqui, estará englobando os Guarani-Kaiowa, que se autodenominam ava Tavyterã, e os Guarani-Ñandéva, que também podem ser conhecidos por ava-guarani (ou apenas guarani), ava-chiripa ou ava-katu-ete. 4 de levar representantes de grupos familiares a um hotel para reuniões, se deslocou para o lugar dos índios. O documento está dividido em três partes de modo que as diferentes situações em que se processaram as discussões são apresentadas em módulos específicos que pretenderam facilitar a compreensão. A Parte I descreve e faz breves comentários sobre as reuniões com os variados grupos na Reserva de Dourados; a Parte II refere-se às Áreas de Conflito e inclui Caarapó por suas diferenças marcantes com Dourados – embora seja uma Reserva (1914) também populosa; a última Parte III apresenta os resultados das conversas com as associações não indígenas proponentes de projetos junto à Carteira Indígena. Programação Embora se tenha estabelecido uma programação antes de realizar a viagem (v. 1º. Produto), algumas alterações se operaram na agenda da equipe sem prejuízos para o trabalho e objetivando maior produção. Os primeiros três dias foram dedicados aos projetos de piscicultura, “corte e costura, crochê e tricô”, criação de galinhas e cabras, pomares e viveiros, todos em Dourados. Na continuidade, foram feitas visitas e reuniões com as famílias indígenas de Guyra Roka, Paso Piraju, Ñande Ru Marangatu e Caarapó. Finalmente os encontros com as proponentes não indígenas – v. agenda a seguir. * * * Durante todo o trabalho foi bastante ativa a participação dos técnicos da equipe do Ministério do Maior Ambiente/ Carteira Indígena, proporcionando ao monitor respaldo eficaz diante de eventuais aspectos desconhecidos do funcionamento da CI. Encarregaram-se de elaborar e fixar as cartelas que resumiam o discurso dos participantes, cuidarem da infra-estrutura e da logística das reuniões e tiveram participação importante no processo de discussão, levantando questões, opinando nos momentos de reflexão conjunta, informando sobre funcionamento da máquina administrativa do governo, orientando e respondendo demandas dos participantes. Não houve qualquer problema no correr dos trabalhos e o grupo funcionou efetivamente como equipe. 5 AGENDA DE ENCONTROS 20 e 28.11.2007 20.11.- ASSIND (piscicultura) – Dourados 21.11.- ASSIND (piscicultura) – Dourados 22.11.- KATEGUÁ, IMAD, COCTEKD, GAPK (artesanato, corte costura, criação de galinha, criação de cabras, outros) – Dourados 23.11.- Guyra Roka e Paso Piraju (roças de subsistência) 24.11.- Proponentes não-indígenas (sede de uma das instituições na cidade de Dourados). 26.11.- Ñande Ru Marangatu (projeto emergencial) 27.11.- Caarapo (criação de galinhas com chocadeira elétrica) 28.11.- Visita a projeto de pomar e viveiro de mudas da GAPK em Dourados e reunião com UCDB em Campo Grande. 6 PARTE I Dourados I.1.- Os Encontros na Reserva de Dourados Os três primeiros dias de reuniões se deram na Reserva de Dourados e tiveram lugar nas instalações de uma igreja evangélica – uma sala nova, arejada e bem construída em alvenaria – que emprestara o local para os encontros dos índios com a CI. Lugar apropriado para receber as aproximadamente trinta pessoas que participaram em cada dia de conversas. As reuniões foram organizadas por técnicos do MMA e dois kaiowa membros regionais da Comissão de Avaliação de Projetos Indígenas – CAPI. Um é professor em Caarapó e outro trabalha como funcionário da Prefeitura de Dourados, além de ser dirigente da ASSIND. Coube a eles a indicação e a decisão sobre o local das conversas em Dourados e Caarapó. Nesses três primeiros dias de trabalho a dinâmica das reuniões se revestiu de um caráter “ocidental local formal” tendo em vista composição dos grupos auspiciados pela CI na Reserva, em sua maioria indígenas terena e, quando kaiowa e ñandéva, com bom domínio do português e dos códigos dos não índios. A dinâmica adotada esteve referida às sugestões decorrentes da oficina realizada com grupos indígenas do Nordeste ( 2), embora sem a divisão das plenárias em grupos já que em Dourados não eram tão numerosas; o uso de cartelas afixadas na parede para anotar partes importantes das discussões só foi adotado aqui. Na primeira parte da manhã o comparecimento dos participantes esperados foi reduzido, obrigando dirigentes de associações e organizadores do evento a saírem com alguns veículos em busca de “cabeçantes” (3) e membros de grupos de trabalho, o que adiou um pouco o início das conversas. Na tarde desse dia e nos dois seguintes, constatada a concretude das reuniões e de que ali se falaria de recursos e projetos, a presença dos envolvidos com a CI foi voluntária e agregou número representativo de pessoas e experiências que permitiram boas discussões. Este primeiro momento contou com a presença da coordenadora da Carteira Indígena, quem fez breve apresentação sobre funcionamento, desempenho e área de abrangência desse ente de Governo; afirmou, como seria reiterado em todo o procedimento dos encontros futuros, que a Carteira Indígena tinha interesse em conhecer os problemas enfrentados pelos projetos apoiados por ela para obter subsídios dos índios do MS na redefinição das diretrizes que norteiam suas ações. As opiniões e considerações dos participantes dos encontros serão levadas a um foro ampliado onde representantes indígenas de todo o país, inclusive dos Guarani no MS, discutiriam como melhorar a atuação da Carteira Indígena. Nesse sentido, os técnicos da CI e o mediador, informou a coordenadora, estavam promovendo reuniões no MS para escutar os índios. 2 Ver documentos “Proposta Metodológica - Oficinas de Consultas Regionais - Revisão das Diretrizes da Carteira Indígena” e “Oficina da Carteira Indígena com os Povos do Nordeste e Leste - 16 a 19 de Outubro de 2007, Garanhuns (PE), Programação e Estratégia de Moderação”, ambos produzidos pelo MMA/CI em 2007. 3 “Cabeçante”: termo utilizado pelos índios da região para indicar aquele que encabeça, que assume a liderança de um grupo de trabalho; o termo não é usado para líderes políticos a não ser como figura retórica. 7 Esta apresentação foi utilizada como referencial nos outros encontros, mantendose, assim, mesma estrutura de discurso em todos os lugares visitados, com adequações face às especificidades locais. I.2.- Dinâmica dos Encontros em Dourados Após a apresentação pautada nos referenciais acima indicados, procedia-se uma rodada para que os presentes dissessem nome e projeto ao qual estavam vinculados; finda essa rodada era iniciada uma segunda na qual cada um comentava sua experiência com o projeto, mostrando “pontos positivos, “dificuldades” e as “mudanças propostas” – esta foi a classificação dada às cartelas onde os técnicos do MMA apontavam resumidamente os aspectos considerados mais relevantes abordados nas discussões. Em avaliações parciais sobre o andamento dos trabalhos a equipe considerou ter criado, nas reuniões em Dourados, uma sistemática de conversas que contribuiu para chegar aos objetivos esperados de se obter informações sobre as experiências de projeto. Para efeitos do diálogo pretendido nas diferentes localidades e situações Guarani, houve, como referido, empenho dos agentes em seguir as determinações da população local para a dinâmica dos encontros buscando, assim, criar situações confortáveis para os realizadores das experiências (os índios) apresentarem com desenvoltura seus trabalhos – os Guarani sempre se sentem “apertados” ou “oprimidos ([a]jopy) pelo comportamento do branco que denominam mbaretepe (arrogante, prepotente, gritão, mandão, autoritário). I.3.- Aspectos positivos dos encontros em Dourados I.3.1.- Projetos de piscicultura em Dourados (20 e 21.11) As reações dos índios diante da Carteira Indígena foram positivas, não só em Dourados, mas em todos os encontros realizados. Nos primeiros dois dias, quando se tratou exclusivamente dos projetos de piscicultura propostos pela ASSIND e Prefeitura de Dourados. , os índios “enalteceram” e “agradeceram a presença, atuação e apoio” da CI e do “Governo Federal” que, com os projetos, “olhou para os índios”. Na compreensão de boa parte dos participantes o apoio da Carteira “valorizava o trabalho dos índios”, assim como o “crédito às associações indígenas” e o estímulo ao “trabalho coletivo” eram “positivos” por levar os índios a conversar e refletir sobre o trabalho na aldeia, “agregando pessoas” e promovendo a “integração e a solidariedade entre as famílias”. O depoimento de um chefe de família (terena) cujo trabalho alcançou resultados positivos e que resume aspectos do trabalho tocados por muitos, ponderou ter sido uma boa experiência para seu grupo familiar (filhos, genros, irmãos, sobrinhos) pois os levou a intensificar o diálogo e as relações entre a parentela. Foi enfático, por outro lado, ao referir-se às dificuldades para conseguir “juntar pessoas” para o trabalho uma vez que os homens necessitam ir à changa (4), e isso os impede de dar maior dedicação ao trabalho na aldeia. Os discursos reiteraram freqüentemente a importância da existência da Carteira Indígena e insistiram na necessidade de que os projetos e a CI sejam ampliados e 4 É o trabalho remunerado fora da aldeia, temporário e não especializado. 8 tenham continuidade, uma vez que, como entendiam alguns, tratava-se de projetos “pioneiros” que não poderiam ser interrompidos. A expectativa e insistência com que os índios se referiram à necessidade de continuidade perpassaram o discurso de todos os projetos; é um aspecto que deve ser considerado com atenção pela CI – disso se falará no 3º. Produto. Tendo em vista o que se escutou dos índios e dado o pouco tempo de experiência que têm com essa “novidade do Governo”, o ponto positivo por excelência da Carteira Indígena é, a rigor, sua própria existência. I.4.- Dificuldades Nos dois primeiros dias foram discutidos, como mencionado, apenas os trabalhos de criação de peixes. Os grupos organizados para a piscicultura e que alcançaram bons resultados (5) , confirmam que a iniciativa pode ser proveitosa. Confirmam-se também teorias e reiteram-se experiências empíricas. Constata-se, com o bom andamento de algumas experiências que, se todas as variáveis e técnicas de criação de peixe em açudes conhecidas pela Biologia estiverem sob rígido controle, é perfeitamente possível de se produzir peixes. Trata-se, contudo, de produção que, enquanto variável da Economia, implica em trabalho e, antes de tudo, em força de trabalho (aquela que faz a produção existir, que a materializa, isto é, o homem). Nesses termos é prudente que qualquer planejador ou gestor não perca de vista que se trata de uma variável não controlável, motivo que tem levado muitos projetos a obterem resultados apenas incipientes, quando não o desperdício total dos recursos aplicados. Apesar dos inúmeros pontos positivos vividos e comentados pelos índios que querem ampliar a continuar os projetos, não são poucos, de outro lado, as dificuldades encontrandas, seja na organização e aceitação das associações indígenas, seja nas questões administrativas às quais estão sujeitos, nas questões técnicas e, principalmente, no trabalho coletivo. Aqui serão considerados os aspectos problemáticos que mais incidiram nos discursos dos índios no correr das discussões. I.4.1.- O trabalho coletivo O trabalho coletivo foi tema debatido com entusiasmo nas reuniões em Dourados, particularmente em relação à criação dos peixes que depende em grande medida, como planejado em Dourados, do funcionamento do grupo e do envolvimento e dedicação de seus membros. O problema foi apontado por quase todos os “cabeçantes” de grupos, salvando-se algumas exceções. "Primeiro”, dizem, “as pessoas se empolgam, depois deixam o trabalho". A maioria dos “cabeçantes” enfrentou, portanto, inúmeras dificuldades para aglutinar pessoas em torno das tarefas de criar peixes e obter maior participação dos companheiros. Foi um dos principais problemas apontados pelos índios em observações como “nem todos querem trabalhar, mas todos querem usufruir” ou a "maioria não quer limpar o açude, mas na colheita vem todo mundo", "os companheiros não ajudam"; "de 12 ou 15, foram só 04" para cuidar dos afazeres necessários à manutenção dos tanques; 5 Seria necessário realizar um levantamento mais acurado para se detectar quantos açudes efetivamente apresentaram produção efetiva e qual o número de pessoas que cada um teria beneficiado. 9 “difícil juntar pessoas” porque “vão para a changa” e o cuidado dos peixes “sobra para o responsável” pelo grupo. A maioria dos grupos indicou enfrentar esse problema. É importante salientar, entretanto, que os poucos casos em que o assunto não foi motivo de queixa referem-se àqueles grupos coesos, com liderança forte e constituída por membros de uma mesma família e que, tendo terra para plantar, têm economia equilibrada, o que lhes permite organizar o tempo entre roça, changa, açude – do que foi possível observar no curto tempo de conversas uma família kaiowa do Bororo preenche esses requisitos. I.4.2.- Assistência Técnica na piscicultura Os projetos de piscicultura para que sejam produtivos e rentáveis exigem controle de variáveis técnicas importantes, razão pela qual a assistência e a orientação de especialistas são determinantes. Foram fortes as críticas e reclamos pela carência de assistência por parte daqueles grupos que não receberam o atendimento que necessitavam (6). Assim, um número que não foi possível definir recebeu assistência técnica sistemática ou quando necessitaram e chamaram; outros tantos, contudo, alegaram não ter recebido uma só visita do técnico apesar dos chamados: “em um ano compareceu apenas uma vez para ver o meu tanque”, diz um dos que se sentiram prejudicados com a ausência do técnico. Outros foram atendidos quando necessário. Mas, segundo boa parte dos depoimentos, faltou orientação técnica. Foram incisivas e diversas as críticas pela ausência do técnico para orientar os trabalhos e contornar os problemas tais como erosão e enxurradas que provocam queda das barreiras que sustentam os tanques; crescimento de fungos; choque térmico; coloração diferenciada da água; morte inexplicável de peixes (receberam alimentação e não houve variação aparente da água); dificuldades com a ração; problemas de peixes que não crescem depois de um ano mesmo recebendo ração diária; água que fica verde ou marrom e provoca a morte de alguns peixes; tratamento da água; falta de oxigênio e outras. Segundo se pôde depreender e que foi, posteriormente, corroborado pelo técnico em questão, é que este tem um roteiro-cronograma no seu cotidiano de trabalho onde eram incluídas visitas aos índios; como estes, como era de se esperar, não seguiam a programação estipulada, não recebiam as visitas. É recomendável que os técnicos se adéqüem ao programa dos índios e não o contrário se se propõe a ações não colonizadoras e eficazes em seus resultados (7). I.4.3.- Veneno de soja e roubo de peixes: problemas Outros dois problemas foram apontados nos projetos de criação de peixes. Primeiro, as mortes provocadas pelo veneno aplicado nas plantações de soja que com a chuva é levado para os açudes contaminando a água. Um segundo problema, tratado de forma jocosa nas reuniões, é o roubo de peixes. Alguns “cabeçantes” revelaram que foram vitimas de “pescadores noturnos” que, sorrateiramente, se esgueiravam para o açude e, com anzol e linha, pescavam e levavam os peixes mais graúdos. Com sua casa 6 Aqui também seria necessário uma investigação ou acompanhamento para saber com algum precisão como se deu essa atenção técnica e quais os grupos que receberam e os que não receberam. 7 Seria necessário, entretanto, aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica dos trabalhos e das relações entre os grupos para saber se o problema vai além do que apresentou esse técnico. 10 relativamente distante da represa o responsável pelo cuidado do tanque não tinha como controlar. Critica mais severa, no entanto, foi destinada aos que roubam peixes com tarrafa, sempre em maior quantidade. Pelos comentários os roubos de peixe são comuns em Dourados. I.5.- Diversificação de atividades No decorrer das discussões surgiram algumas propostas para fomento aos açudes de peixe na medida em que se constatou a necessidade de estar permanentemente comprando alevinos e ração para os peixes. Constatou-se a impossibilidade de sustentabilidade do projeto caso não se realize uma excelente administração para uma consistente organização da força de trabalho a movimentar o empreendimento. Entre várias sugestões – todas dependentes exatamente dessas duas componentes para a criação de peixes –, duas parecem ter sensibilizado os presentes na discussão e poderão, eventualmente, constituir a continuidade ou o desdobramento dos tanques de peixe, conforme se discutiu. A primeira delas, oriunda de um líder kaiowa, foi no sentido de plantar mandioca e milho que se destinariam a alimentar os peixes, idéia que no decorrer da conversa surgiu como para “tentar experimentar” elaborar, dentro da aldeia e com orientação técnica, uma produção de ração para peixes. Como desdobramento das discussões sobre a sustentabilidade da criação de peixes, surgiu a proposta de se tentar produzir não só a ração como também os próprios alevinos. Segundo informações, entretanto, de alguns dos presentes com um pouco mais de conhecimento no assunto, tal empreitada exigiria, por ser mais sofisticada, acompanhamento e orientação técnica sistemáticos e cuidadosos, além de exigir recursos financeiros para criar a infra estrutura; como agravante a dificultar uma eventual iniciativa nessa linha, não será possível criar o alevino se não se adquirir o estágio anterior do proto-peixe o que, contudo, exigiria, como dito conhecimento tecnológico sofisticado. Alguns participantes de projetos revelaram que "Não dá para sobreviver [com os peixes]". "Só o peixe não dá". Com esse discurso pretenderam apontar para a diversificação dos projetos; alguns falaram em roça, horta e até mesmo em criação de vacas. Foram ilustrativas as discussões afetas aos desdobramentos pretendidos por alguns indígenas a partir dessa atividade, tais como hortas e roças para produção do alimento para os peixes; ou até mesmo uma “fábrica de ração” como se comentou; ou mesmo criar uma estrutura para produção de alevinos. Investimentos volumosos que exigem administração acurada. Projeto temerário pensando nos problemas de Dourados. Alguns grupos afirmam que querem fazer outros tanques; outros, mais sofisticados, cujos componentes têm cuidados especiais com seu trabalho de agricultor e criador de pequenos animais, afirmam que os tanques devem crescer e diversificar-se (horta, roças, etc). Outros, ainda, querem criar peixes, “para sua família e para vender”, utilizando varjão próximo de sua casa. Assim, em alguns segmentos da população de Dourados a repercussão dos açudes, apesar dos problemas que possa representar, foi consistente. 11 Muitos participantes vinculados a associações indígenas, pensavam em receber apoio para construir seu próprio açude no futuro. Por desdobramentos que podem ser comprometedores e suscitar conflitos por espaços de terra no futuro, o tema deve ser refletido pela CI. 12 Pontos Positivos. Dourados 1º. Dia – só piscicultura. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Conseguiu agregar porque já estava disperso de novo. Contemplou diferentes segmentos: professores, saúde... Organização dos povos indígenas. Uma coisa puxa a outra: plantio de mandioca. Boa iniciativa do governo federal. Participação dos indígenas representantes na CAPI. Resgatou a cultura (terena): costume de comer peixe. Capacidade de gerar recursos no modelo do não-índio. Os projetos da CI auxiliaram no resgate do espírito de coletividade. Além da produção de alimento, a criançada diverte bastante. Descoberta de várias potencialidades. Foi criando uma nova consciência: cuidar da água. O peixe é bom para as crianças. Fortalecimento das associações indígenas. Auto estima voltou. Integração entre as famílias. Bom para a sustentação das famílias. Os filhos passaram a trabalhar junto nos tanques. Solidariedade entre as famílias (distribuição de peixes). Dificuldades Dourados 1º. Dia – só piscicultura. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Os companheiros não ajudam na manutenção do tanque. Erosão do tanque. A assistência não foi direta; pouca presença de técnicos. Os peixes não estão crescendo Faltou oxigênio e teve enxurrada que trouxe veneno da soja. Muita gente para pouco peixe Reclamações por parte das famílias não beneficiadas Pouca visita técnica: uma em um ano. Mortandade de peixes (muitos casos). Tanque feito no lugar errado; já tem um ano e não foi colocado peixe. Falta das pessoas entenderem o valor da associação e por isso ficam excluídos. Envolver toda a família no projeto. Aglutinar pessoas para trabalhar coletivamente. Muitos homens das famílias não podem ajudar no serviço dos tanques, pois precisam trabalhar (changa). Roubo de peixes (muitos casos). Dificuldade no diálogo com os associados. Parte da comunidade não está disponível para trabalhar no projeto. Dificuldade em planejar a sustentabilidade do projeto (continuidade). Demora na reposição de alevinos após a despesca. O curimba não cresceu e tem espinho, as crianças não gostam. Problema de crescimento com o curimba (em mais de um projeto). Como melhorar (ou Propostas). Dourados 1º. Dia – só piscicultura. • • • • • • • • Os técnicos virem mais vezes. Treinamento/capacitação em piscicultura. Capacitação da associação em execução de projetos Continuidade da Carteira Indígena. Avaliação permanente dos projetos para tentar superar as dificuldades. Buscar a integração. As pessoas terem mais responsabilidades Organizar a distribuição dos peixes produzidos. 13 • • • • • • • • • • Ter mais reunião com a associação. Alguns peixes têm que ser vendidos para continuar o projeto. Haver um incentivo para o cabeçante de grupo. Comprar alevinos maiores. Trocar experiências com produtores locais. Aumentar o número de tanques Produção própria de ração. Prolongar os prazos dos projetos (cinco anos). Possuir tanques para produção de alevinos. Erguer terraço para evitar enxurrada. Colocar tela (ao redor do açude) para evitar roubo. COMO MUDAR? • • • • • • • • • Que tenha maior número de técnicos que possam acompanhar os trabalhos nos tanques de criação de peixes. Associações querem ser independentes. Roubaram os peixes. Foram com tarrafa e roubaram boa parte dos peixes. Falou-se em cercar o tanque com telas para que ao houvesse roubos. Colocar luz no tanque para não roubarem. Contra o roubo de peixes, que é muito comum, falaram em eletrocutar cercas para evitar o roubo. Galinha caipira. Frango caipira. Capacitação de indígenas. Discutir de forma sistemática os projetos; que isto se dê dentro dos grupos, entre os grupos e com técnicos da CI. Investimentos para aglutina mais as pessoas e ampliar o diálogo entre indivíduos e famílias. Buscar parceiros. Sugestão de um incentivo – figura retórica para dizer recurso financeiro, salário, soldo – aos cabeçantes de grupos. Também para os dirigentes de associações. UM PERIGO ISSO. 14 I.6.- A ASSIND e as Associações Indígenas Um dos temas mais candentes das discussões em Dourados foi sobre as associações indígenas, reconhecida por boa parte dos dirigentes presentes como em processo de constituição, em peleja permanente para superar as dificuldades com que se deparam. Alguns dirigentes demonstraram ânimo de superar os desafios e “ir adiante”. Na avaliação dos dirigentes de associações indígenas a Carteira Indígena também foi considerada como um fator positivo dentro das aldeias. Afora ter possibilitado a existência de fato das associações, de ter estimulado sua criação e da viabilizar projetos, a Carteira Indígena permitiu “que se provasse” que as associações podiam administrar recursos e que eram “capazes dessa organização” e que, a partir dessas experiências, poderiam se organizar em outras esferas de trabalho – os elogios e discursos não raro exacerbados e inflamados de apoio aos projetos da CI não impediram, no entanto, que apresentassem veementes queixas das dificuldades encontradas na administração dos projetos como comentado abaixo. Os índios dirigentes de associações indígenas apresentaram também uma série de dificuldades que enfrentam, a começar para fazer os patrícios entenderem o que é uma “associação”; há dificuldades para “aglutinar gente, criar solidariedade”, afirmam dirigentes da ASSIND que têm recebido “apoio administrativo e político da Prefeitura de Dourados, com assessoria direta e permanente”, e tem conseguido dar avanços, embora esteja distante de alcançar uma pretendida autonomia. Seus dirigentes consideram que todos os problemas são desafios que estão sendo superados. Consideram ainda que a experiência dos açudes é o início, ressalvando que todas as atividades devem estar voltadas para o coletivo. I.6.1.- Recursos para articulação Muitos dos discursos dos dirigentes apontaram para outra dificuldade que enfrentam que é a articulação dos projetos. Isso significa mobilização, eventuais viagens, comunicação, etc. Sugeriram que a CI financiasse esse trabalho e alocasse recursos, além dos 5% de cada projeto liberado para gastos administrativos. A sugestão, a rigor, é de uma remuneração. I.6.2.- Criação de outras associações No processo de discussão se observou que um número significativo de “cabeçantes” e membros de grupos (8) se mostraram desejosos de "entrar com outros projetos" junto à CI. Nesse sentido, aproveitaram a presença dos técnicos da Carteira Indígena para saber como proceder para constituir organização com qualificação para elaborar e administrar projetos, procurando independência da ASSIND – ou de outra associação qualquer. Alguns questionaram a aglutinação de muitos projetos sob a responsabilidade de uma só associação e demonstraram certa insatisfação com o desempenho da ASSIND. Indicadores, uns mais sutis, outros mais objetivos, observados no correr das discussões 8 Seria necessário realizar levantamento mais cuidadoso para saber com alguma precisão o número de eventuais associações que seriam criadas ou, de outro modo, saber quais os grupos não estão “satisfeitos com a ASSIND” e porque isso ocorre. 15 apontam para as mazelas, dificuldades e problemas implícitos nas relações entre as associações e os associados, em particular face à administração de recursos; mesmo entre os terena ou descendentes de terena há o impulso – que é muito forte entre os Guarani por sua forma de organização social – de criar “associação familiar”, isto é, do grupo de parentesco ao qual o líder está vinculado. Os reclamos por independência esbarram, entretanto, em significativa defasagem entre a ASSIND e outras associações, tema que se procurará analisar no 3º. Produto, lembrando que A ASSIND vem recebendo assessoria, assistência e orientação permanente e, em muitos casos como na questão da piscicultura, contam com técnicos de primeira qualidade que os orientam. Empenhados em formá-la e fortalecê-la, e apoiando-a na criação de sua estrutura, obter CNPJ, fomentando e orientando os trâmites administrativo-burocráticos para sua constituição, o que concede a essa Associação grandes vantagens sobre qualquer outro grupo que pretenda formar sua associação. Os problemas entre as associações e os associados não são, no entanto, prerrogativa da ASSIND; o fenômeno foi sentido tangencialmente – seria necessário ampliar o conhecimento sobre isso, o que exigiria um acompanhamento mais próximo para se saber efetivamente como operam essas associações – em muitos grupos de trabalho de piscicultura e outros em Dourados. I.7.- Projetos da KATEGUÁ, IMAD, COCTEKD E GAPK (22.11.2007) Após os dois primeiros dias de encontros com os projetos de piscicultura que têm a ASSIND como proponente, a equipe da Carteira reuniu-se, no mesmo lugar e mantendo mesma dinâmica dos dias anteriores, com as associações indígenas KATEGUÁ, IMAD, COCTEKD E GAPK. I.7.1.- Os poucos pontos positivos indicados O entusiasmo e a exaltação referentes aos projetos da Carteira Indígena não foram tão esfuziantes neste terceiro dia de encontros como foram nos dois primeiros. Apesar do pouco entusiasmo – se comparado com alguns discursos exacerbados dos piscicultores – houve sérios reconhecimentos de que os projetos da Carteira devem ser ampliados e ter continuidade. Uma experiência interessante e digna de nota, refere-se ao projeto de criação de cabras que se está realizando no Brejinho (Dourados) com resultados positivos, deixando seus realizadores contentes. Cabe salientar que tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas famílias que vivem ali (9), trata-se de um fato digno de nota trabalho que deve ser incentivado e continuado. O projeto consiste na criação de nove cabras e não teve custeio afora a compra de 17 cabras das quais morreram oito. Os índios que participam do trabalho estão gostando e querem aumentar o número de cabras e recursos para cuidar melhor dos animais como, por exemplo, dar vacinas. 9 O Brejinho é o lugar de maior pobreza dentro da reserva de Dourados; as famílias vivem em lotes diminutos onde mal conseguem construir suas casas; em alguns lugares do Brejinho têm problemas até mesmo em fazer latrinas uma vez que cavando pouco mais de 20cm já se encontra água – contaminada. 16 Ainda como aspectos positivos da CI e seus projetos, valorizaram atividades decorrentes dos projetos como, por exemplo, o mutirão para preparo da terra e plantio das roças de mandioca, bem como o projeto do Brejinho. I.7.2.- Dificuldades I.7.2.1.- Projeto de Granja (criação de galinhas) No decorrer dos diversos encontros realizados pela equipe do MMA apenas um pequeno entrevero teve ocasião nesse 3º dia de reunião em Dourados. Um líder de grupo (terena) que recebe apoio para projeto de criação de galinhas, alegou, junto ao dirigente da Associação (também terena), que tinha em mãos notas fiscais que “provariam” haver “sido enganado pela associação” repassadora dos recursos e reivindicava, junto aos técnicos da CI que resolvessem a questão (10). Com notas fiscais em mãos pretendia demonstrar tudo o que havia sido comprado para seu projeto que não deu certo e alegava que a associação fizera “duas prestações de conta”, uma para Brasília e outra para os grupos locais, e que "a prestação de contas aqui", dizia, "não é a mesma que foi enviada para Brasília". "Perdemos ração e não foi gasto o restante de nossa parte no projeto". Reclamou bastante do intervalo entre a primeira e a segunda parcela, o que teria prejudicado seu trabalho. O demandante lamentou-se não poder ter uma associação para receber recursos sem depender da organização que havia feito isso. Não foi somente este “cabeçante” que apresentou queixas em relação ao projeto de granja em Dourados; outros também reclamaram sem, contudo, comentar sobre eventuais desvios administrativos como neste caso. I.7.2.2.- Projeto de pomar e viveiro de mudas frutíferas Este projeto consistiria na abertura de 300 covas para mudas de plantas frutíferas que formaria um pomar; teria, além disso, um viveiro para criar mudas de plantas frutíferas. Como adendo, o projeto previa a instalação de um sistema de irrigação do pomar e do viveiro. Antes mesmo de ser criado e oferecer soluções, o projeto teve início com problemas e de imediato criou inúmeras necessidades. Ao exigir água para o sistema de irrigação, e como não seria possível utilizando a força da natureza, projetou-se uma caixa d’água para alimentar o sistema. Observado mais de perto o projeto revela aspectos que devem ser considerados em qualquer análise de gestão. O trabalho vai se desdobrando e, lentamente, criando necessidades. Primeiro, a instalação do gigantesco artefato para armazenar água que exigia estrutura de concreto e um profissional competente no assunto para sua instalação, a cinco metros de altura, sem que isso representasse perigo (11). Um segundo desdobramento se manifesta na necessidade de uma bomba para alçar água para a caixa, exigindo, portanto a instalação de um artefato que consome energia elétrica. Surge, 10 Um dos técnicos do MMA combinou uma hora para reunir-se com o reclamante para análise dos documentos. O problema, segundo informação desse técnico, só deverá ficar claro com a análise de todo o processo e da averiguação das notas fiscais, o que seria feito em Brasília. 11 Muito provavelmente esta caixa d’água se transformará em outro “monumento ao nada” que apodrecerá ao tempo como outros tantos que existem na Reserva de Dourados; obras promovidas por instituições que pensam estar "fazendo o bem" para os índios. 17 contudo, um novo desdobramento. O padrão de energia elétrica disponível na aldeia não era compatível com o exigido pela instalação da bomba, obrigando a colocação de padrões de energia apropriados, o que levou muitas semanas até se concretizar, atrasando o trabalho e irritando os índios. Mas há, ainda, outro problema: para o funcionamento da bomba d'água é necessário pagar a conta de luz, diante do que os índios demonstraram apreensão – com o novo padrão os índios superam a faixa de consumo comum dentro da aldeia e passarão a pagar mais energia. Cabe considerar ainda que um sistema de irrigação exige alguma sofisticação tecnológica e que só poderá ser mantido com acompanhamento de profissional qualificado; a participação dos índios, por sua vez, dependerá de capacitá-los e remunerá-los para que mantenham o projeto em funcionamento. Os índios foram procurados pela proponente para elaborar, enviar e realizar o projeto. Inicialmente foi oferecido às mulheres um “projeto de flores”, iniciativa que não vingou e deu lugar ao "projeto do pomar e do viveiro" com os homens. Segundo informações da proponente o projeto foi elaborado por um agrônomo ligado a ela que não parece ter experiência ou conhecimento sobre o funcionamento do trabalho com indígenas. Os três “cabeçantes” que se envolveram com os projetos de pomar e viveiro se mostraram indignados com a proponente e idealizadora do projeto no encontro em Dourados. Fizeram muitas críticas e cobranças pelas dificuldades e problemas para sua realização, explicitando com veemência sua insatisfação com a longa interrupção das atividades do projeto – aqui também a demora no envio da 2ª parcela dos recursos orçados teria dificultado os projetos. Os índios reclamaram também do fato de que o pomar ou a produção de fruta leva tempo e que não têm como alimentar-se. “Índios não são pedreiros”. “Desde o começo muitas coisas erradas”. A instituição pediu que os próprios índios levantassem a pesada caixa d’água, iniciativa temerária, pois, dadas as dimensões da empreitada, qualquer falha técnica na construção da estrutura poderia resultar em sérios problemas. Os índios revelaram ainda que os problemas técnicos se multiplicaram no decorrer do projeto; o material adquirido não serviu para levantar a caixa d'água, com o que tudo foi interrompido. Outro aspecto, similar ao reflorestamento, é que os kaiowa não são “produtores de frutos”. Não é de sua tradição de conhecimento lidar com pomares, embora ogajere, isto é, ao redor da casa, plantem grande variedade de frutos: laranja, mamão, abacaxi, amora, banana, tangerina, romã, melancia, melão, etc. São, contudo, alguns poucos exemplares dessas frutíferas, e não uma produção como se dá em pomares. Para tanto, necessitarão, de um lado, de tecnologia de manutenção permanente, o que gera dependência e tende a impedir a continuidade e, de outro, necessitarão de autorização cosmológica para o plantio de mudas. Aqui também a discussão com os índios foi falha. A proponente não teve visão para perceber que os Guarani realizam o que querem; não considerou como desconhecedores do trabalho com indígenas e nem se sentiram necessitados de processo de capacitação nesse trabalho. 18 I.7.2.3.- Projeto de “corte costura, tricô, crochê e artesanato” Essa experiência foi apresentada à CI por uma proponente não indígena e realizada com mulheres kaiowa funcionárias da FUNASA (agentes de saúde) na Reserva de Dourados e, ao que parece, relacionadas entre si por vínculos de parentesco (12). Na plenária onde se discutiu o projeto este foi avaliado como positivo pelas mulheres que se envolveram com o trabalho e, em certa medida, o dirigiram. Segundo sua avaliação o projeto deve seguir adiante por ter “apresentado resultados”; não só isso como entendem que deve ser estendido para número maior de mulheres e diversificado sua produção, passando também a confeccionar roupas para vender. Diante da pergunta sobre como diversificar ou desdobrar os trabalhos, consideraram até mesmo a possibilidade de criar cabras. Na mesma plenária e quase de modo simultâneo, as participantes-dirigentes do trabalho apresentaram, no entanto, veementes críticas e reclamações contra a proponente. Alegaram, demonstrando certa animosidade e hostilidade ritual, que os agentes da proponente não permitiram que “os índios” acompanhassem o processo de aplicação dos recursos na compra do material; afirmaram que a proponentes apresentou notas de compra, mas não o material adquirido ou mesmo o lugar onde foi guardado. Revelando-se bastante apoquentadas, reclamaram ainda de que poucas aulas teriam sido ministradas nos cursos programados de tricô, crochê, corte costura e bijuteria (artesanato) e que a proponente favoreceu o professor branco em detrimento do professor indígena no transporte para o curso. Da mesma forma que nos outros projetos, as mulheres kaiowa também reclamaram da tardança em ser autorizada e chegar à aldeia da 2ª parcela dos recursos do projeto, o que foi motivo de virulentas críticas porque teria ocasionado sérios problemas ao trabalho. Essa demora foi interpretada pelas indígenas como a razão de ser do “sumiço dos agentes” da proponente que, supostamente “teriam desaparecido com o dinheiro”, raciocínio que se justificava pelo fato desses agentes terem ficado três meses sem aparecer – ao que parece por falta de experiência e capacitação no trabalho com indígenas, estes agentes não procuraram as executoras do projeto com quem deveriam conversar para explicar as dificuldades decorrentes da demora em chegar a 2ª parcela. I.7.2.3.1.- Kyse yvyra: capacitação necessária para desenvolver projetos Muito provavelmente os acontecimentos descritos na reunião não se processaram na dimensão em que aparece no discurso das mulheres kaiowa. Mas seu modo exacerbado e exasperado de apresentar as críticas ao trabalho indica que as relações entre proponente e realizadores não são de todo satisfatórias – muito embora deva ser considerado um tekopoxy (modo de ser “nervoso”) ritualizado que podem levar o discurso Guarani a assumir formas pouco além da medida – que eles mesmos reconhecem. A kyse yvyra (literalmente faca de maneira que adquire significado de “política”, “fofoca”, “oposição”, “posição contrária”) das kaiowa mulheres contra a instituição deve ser levada em conta como variável de grande relevância do cotidiano das localidades Guarani. As instituições do kyse yvyra, que se associa ao do ñembotavy (fazer-se de bobo ou “dar uma de Migué”, como se fala em São Paulo), devem ser levadas em conta e 12 Aqui também seria importante um levantamento mais aprofundado para saber efetivamente como se constitui esse grupo. 19 com seriedade ao se pensar na realização de qualquer projeto com esse povo; caso contrário, corre-se o risco de ser “vitimado” por esse jogo como se viu nesse projeto ou mesmo em outros aqui considerados. Os agentes tiveram dificuldades em conduzir as relações com os índios e os problemas se avolumaram; desconsideraram premissa de absoluta relevância no trabalho com grupos humanos que é o diálogo igualitário e cotidiano com os beneficiários da intervenção. 20 2º. Dia em Dourados: diversos projetos Pontos Positivos • • • • • • • • A rama é um alimento maior. Projeto inédito Aumentou a auto-estima do povo que vivia desacreditado com projeto. Incentivou o mutirão das roças. Agrofloresta deu certo. O trator da associação está sempre servindo a comunidade. A gurizada toma leite de cabra. Os cursos de crochê e tricô foram novidades. Dificuldades (Dou. 2º. Dia – Variados Projetos) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Morreram os pintinhos Primeiro as pessoas se empolgam, depois saem. Demorou para instalar a caixa d’água. Demora na liberação da 2ª parcela e os preços subiram. Vai ter que fazer as covas de novo porque demorou. Ninguém veio dar atenção para nós. Assistência técnica inadequada. Faltou mão-de-obra especializada em construções. Como solucionar o pagamento das contas de luz. Não teve dinheiro para ajudante de pedreiro e para continuar. A proponente não mostrou o lugar onde guarda o material. As rações e os medicamentos foram comprados com a 1ª parcela e demorou para entrar a 2ª. As galinhas foram compradas com a 2ª parcela e os medicamentos já (tinham) vencido. Depois que a proponente recebeu a 2ª parcela, sumiu três meses. Pouco material (pano). As horas de curso foram poucas. O professor não índio vinha de carro e o índios não vinha de carro. A compra dos materiais e carro não foi realizada com a proponente. Divergência de informação entre proponente e executora. (No Brejinho) Perderam quase todas as galinhas e a ração. A ração pegou chuva porque não tinha galpão. Tecido de péssima qualidade. Não ficaram sabendo como deveria ser comprado o material. Falta de respeito com os executores. Muita gente não entendeu como a Carteira Indígena funciona. Como melhorar (Dourados. 2º. Dia – Variados Projetos) • • • • • • • • Mais insumos para participar mais gente Reforço para continuar. Precisa de mais muda para a agrofloresta. Demorar no máximo dois meses para liberar o dinheiro. Produzir confecção de roupa com máquina overlock. Trocar de professor de costura. Fiscalizar a proponente. Dar prioridade para os índios darem curso. 21 Parte II Os Kaiowa de Guyra Roka, Paso Piraju, Ñande Ru Marangatu e Caarapó II.1.- As Áreas de Conflito: Guyra Roka, Paso Piraju, Ñande Ru Marangatu Essa Parte II do relatório trata exclusivamente de áreas de índios kaiowa que apresentam diferenças acentuadas no modo de ser, pensar o mundo a nele atuar, se comparado com os indígenas envolvidos com os trabalhos em Dourados (v. 1º. Produto). As demandas por viabilizar trabalho que se tornam projetos demarcam aqui outras premências e outras justificativas, constituindo-se em desafio e exigindo flexibilidade nos aportes da Carteira Indígena, muito importantes para os Guarani no MS. Os Guarani-Kaiowa que se autodenominam Tavyterã – os que são do centro da terra – e todas as áreas aqui incluídas, são espaços territoriais tradicionais desses indígenas – nas quatro áreas consideradas, só Caarapó acolhe, há décadas, número relativamente reduzidos de famílias ñandéva (ava-guarani) que vivem em Caarapó. Os Tavyterã (kaiowa) mantêm sua identidade como grupo humano específico permanentemente reiterada em todas as atividades de seu cotidiano, seus valores, a moral, religiosidade e organização para a política, a economia e a vida social. Revelam, no contato mais próximo, seu rechaço às relações de contato além daqueles aspectos que lhes possam ser úteis. Falantes do guarani, relativamente poucos kaiowa têm fluidez e domínio do português até mesmo falado na região – que dizer do português falado em Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro ou nos jargões especializados. Também têm, de um modo geral, “dificuldades” e um considerável desinteresse em entender e dominar nossos códigos, regras e normas às quais estão sujeitos quando se lhes exige associações, CNPJs e administração de projetos. As especificidades dos locais visitados pela equipe da CI, dessa forma, determinaram mudanças na condução das reuniões, bem como na dinâmica dos trabalhos; como já mencionado, acompanhou aqui se procurou acompanhar a orientação de cada localidade face à situação criada com a presença das “autoridades de Brasília”. Coube, assim, aos líderes locais, a responsabilidade de receber a equipe e ordenar e conduzir as conversas com os representantes das famílias participantes dos projetos. As Áreas de Conflito – neste caso as de Guyra Roka, Paso Piraju e Ñande Ru Marangatu (13) – agrupam famílias Guarani que nas três últimas décadas vêem se organizando para recuperar terras de ocupação tradicional, de onde foram compulsoriamente retiradas nos últimos cem anos para dar lugar à colonização por fazendas. De seus tekoha ymãguare (14) as famílias foram obrigadas a se assentarem nas Reservas Indígenas (criadas no início do sec. XX) mais próximas. 13 Os três casos aqui focados, de outro lado, representam perto de 10% das áreas de conflito ou espaços de tekoha ymaguare (espaços territoriais ocupados no passado) conhecidos. 14 TEKO: modo de ser, comportamento, ideologia, filosofia de vida, visão de mundo; HÁ: sufixo que indica lugar. TEKOHA: lugar onde realizamos nosso modo de ser. YMÃGUARE: que ocorreu no passado, antigo. 22 Desde 1978 os kaiowa e os ñandéva no MS têm passado por processos de enfrentamentos não raro violentos, com fazendeiros com os quais disputam terras. Das três áreas focadas Ñande Ru Marangatu é a mais próxima de uma “solução definitiva” (segundo o Decreto No. 1775/96) embora, como Guyra Roka, esteja subjudice. Foi homologado pelo Presidente da República, o que representa o último passo no processo de regularização de uma terra indígena. Gestões de fazendeiros junto ao Poder Judiciário impediram que, embora homologada, se concretizasse a ocupação plena da área pelas mais de 140 famílias kaiowa que pertencem ao lugar, e que aguardam em reduzidos espaços ocupados com exclusividade dentro dos tekoha já identificados, os estágios do moroso processo judicial movido por fazendeiros. Para viver recebem cestas básicas do governo. Guyra Roka é uma terra com reconhecimento da FUNAI e do Ministério da Justiça como indígena, tendo sido obstruído no âmbito da justiça o prosseguimento administrativo para sua regularização. Paso Piraju, por sua vez, não foi sequer identificado, o que se espera ocorra agora em 2008. A condição de “litígio permanente” vivenciada pelas famílias kaiowa desses lugares define modos peculiares e circunstanciais de ordenar a política local por parte dos grupos familiares envolvidos nesse mister, e irá definir a aceitação e a disposição em organizar-se e envolver-se com atividades para a produção de alimentos (15) como no caso dos projetos auspiciados pela CI. Não houve nenhum cerimonial “ocidental local formal” como nos encontros de Dourados e, como será visto, em certa medida em Caarapó; as reuniões foram marcadas por uma “formalidade cerimonial kaiowa”, com procedimentos prescritos e esperados dentro de padrões de comportamento kaiowa. Mesmo no Paso Piraju, onde a equipe conversou apenas com o líder político local, ou no Guyra Roka, onde apenas o líder manteve a palavra e não houve discussão com o restante dos presentes – muito embora todas as famílias do lugar estivessem plenamente representadas. O sistema de decisão político dos kaiowa poderá ser mais bem compreendido com as considerações abaixo. II.1.1.- Aty Guasu: foro de decisões A observação, o acompanhamento e as pesquisas antropológicas sobre os ñandéva e kaiowa nas últimas décadas revelam que as decisões, diante de acontecimentos que afetem o conjunto de famílias do local, são tomadas no âmbito da instituição da sua tradição denominada aty guasu. O termo pode ser traduzido como “reunião ampliada” ou “assembléia geral” e são convocadas para que homens e mulheres decidam consensualmente sobre aspectos da vida cotidiana ou situações extraordinárias. No cotidiano das localidades Guarani, os aty guasu desempenham função rituais ratificadores de decisões políticas previamente discutidas e definidas nas conversas diárias entre parentes e membros de famílias (extensas) aliadas nesses assuntos comunitários. Por isso, um encontro breve e pontual como o da visita da equipe do MMA não poderia chegar a informações e decisões mais das que se chegou no tempo que ali estivemos, em que se pode detectar, de modo panorâmico, se os trabalhos caminham de forma satisfatória ou não. 15 As princiais reivindicações dos Guarani no Mato Grosso do Sul na contemporaneidade é a regularização das suas terras de ocupação tradicional e a produção de alimento, isto é, a realização de seus cultivos. 23 Nessas reuniões, apresentados os assuntos – o que, em geral, é feito pelo “capitão” ou quem ele indicar – todos podem opinar; quando não se expressam em discursos, endossam (ou não) com afirmações e expressões padronizadas aqueles que consideram representar seu modo de entender a questão em pauta – como ocorreu no Guyra Roka e mais explicitamente no Marangatu. Aparentemente informais, desorganizados e dispersos aos olhos do branco, esses encontros constituem ocasiões políticas e morais importantes para as famílias envolvidas na vida comunitária do tekoha. Constituindo-se em importante foro de discussão, socialização e decisão; é recomendável que os projetos levem isso em conta. II.1.2.- Guyra Roka (23.11.2007) Guyra Roka talvez seja a área com melhor resultado e aproveitamento nos projetos financiados pela CI. Ao que parece o projeto atendeu a todas as famílias locais e não se escuta falar, no ambiente guaranítico no MS, de problemas ali; os recursos recebidos, pelo que se pode apurar, foram bem aplicados. A reunião aconteceu na casa do líder político do Guyra Roka, e havia perto de 60 pessoas entre homens e mulheres, casados e solteiros, representando as famílias do lugar. A casa desse mburuvixa, assim como todas as casas do Guyra Roka, é feita com taquara e sapé e, também como as demais, tem mais de uma construção. Como líder que recebe com freqüência pessoas para conversas, há uma terceira construção que define um espaço político onde são realizadas essas conversações. Em geral, como neste caso, trata-se de uma construção à parte, ampla, coberta de sapé mas sem paredes; é onde se reúnem em assembléias. O mediador, falando inicialmente em guarani – para que houvesse entendimento de todos sobre do que se falaria ali –, explicou aos índios a razão da visita que se realizava, apresentou um a um dos presentes e solicitou a todos que comentassem sobre o trabalho das roças e quais as dificuldades que haviam encontrado na sua realização – a rigor um discurso formal, para explicar aos índios, que já sabiam sobre nossa presença. O encontro no Guyra Roka foi praticamente uma exposição dos trabalhos que ali se realizaram feita pelo líder local e reproduziu a estrutura de funcionamento kaiowa em situações em que está em jogo interesses que cabe ao mburuvixa entender, discutir, decidir e orientar sua gente. É o que esperam dele. A situação criada com a chegada de um grupo de desconhecidos, todos juru’a, agentes do Governo Federal que os visitava exigia uma ordem política estruturada e em funcionamento, como se viu ali, além da exigência de conhecimento da língua. Desta forma, a apropriação da tribuna pelo líder local não deve ser entendida como manipulação ou “descontrole social”; é um líder legítimo e reconhecido local e regionalmente, e que se constituiu sobre acirrada e duradoura condução de luta por fazer valer seus direitos sobre a terra do tekoha ymãguare do Guyra Roka. Em sua fala – que foi longa – o líder apontou os pontos positivos que vieram com o projeto, constatado pela equipe do MMA que pôde ver muitas roças, cultivos diversificados, animais, terras preparadas e máquinas e ferramentas para o trabalho agrícola como resultado do apoio da CI. 24 O primeiro ponto tocado pelo “capitão” foi sobre a continuidade dos trabalhos. Cabe reiterar que a questão continuidade dos projetos aparece com insistência em todos os discursos e em todos os grupos. Pelo número de roças distribuídas pelos 60ha que ocupam – o tekoha foi identificado com aproximadamente 10.000ha – pode-se conferir o quanto foi útil para aquelas famílias o apoio da CI e a relevância do projeto ter continuidade. O líder local insistiu na necessidade de continuidade das roças por considerar que vão muito bem: os recursos vieram na hora certa, todos trabalharam e todos têm roça e comida. Querem dar seqüência e “se tiver jeito”, diz o “capitão”, “vamos atrás dos recursos”. Revelou também que além das roças de subsistência estava pretendendo encontrar modo de produzir uma roça de 5ha exclusivamente para plantar mandioca para comercializar e “fazer dinheiro”. A valorização do trabalho em seu discurso não radicava somente na produção de alimentos, mas também no fato de se “mostrar o trabalho” para os mais novos: “como mostrar para os jovens e para as crianças se não há terra; e quando há terra não há apoio para as roças?” Os cultivos de roçados têm, nestes casos, grande importância, realçando a relevância do apoio da Carteira Indígena. Apregoou com firmeza que os planos que faziam tinham por objetivo os netos e não sua geração, destacando o coletivo em detrimento do individual. Descreveu, ainda, o processo pelo qual chegou à elaboração e execução do projeto explicando que, meses atrás, esteve com técnicos da CI que recomendaram que elaborasse um projeto; sem saber fazer um projeto, solicitou a uma instituição não-indígena que se tornou a intermediária proponente, e cujos agentes, conhecidos de muitos anos dos índios, que apoiasse o Guyra Roka na elaboração de um plano de trabalho e repassasse os recursos em caso de aprovação. Em seu discurso – entremeado por explanações sobre a boa produção de milho, arroz, feijão, mandioca, batata doce, abóbora, cana e outras – o “capitão” do Guyra Roka comentou sobre a organização dos trabalhos em seu tekoha aventando para a situação de Dourados com “12 mil pessoas que ninguém lidera”, apontando quanto isso dificulta a organização do trabalho; contrapondo-se a isso, Guyra Roka tinha liderança e união entre as famílias que discutem e realizam o trabalho. O “capitão” mostrou-se indignado diante do fato que não há como guardar as sementes que são oferecidas a eles porque não germinam. Em experiência que realizou recentemente guardando, como sempre fez em sua tradição de povo agrícola milenar as sementes de milho oferecidas, mas estas "deram caruncho”, muito embora, como alegou, tenham sido guardadas “na lua certa” e com todos os cuidados (16). Era “gancho” para comentar com muita indignação sobre as cestas básicas afirmando que não adianta “jogar uma tonelada de cesta básica; vai acabar e depois?”; em seu raciocínio considerou que o Governo Federal terá que oferecer cesta para os 16 Agrônomos que pesquisaram aspectos ambientais da vida Guarani se surpreenderam com o banco de sementes que encontraram entre esses indígenas; por séculos têm mantido variadas espécies de inúmeras plantas como jety (batata doce), avati (milho), mandi’o (mandioca) entre outras (v. Spyer, Paulo in T. de Almeida. R.- Terra Indígena GuaraniKaiowa Ñande Ru Marangatu: Relatório de Estudo Antropológico de Identificação, Portaria No. 199/PRES/FUNAI (09.04.1999), Brasília, 67pp., 2000). 25 índios “até morrer” caso não queira resolver a questão das terras: “terra é importante, não cesta básica”. Fez ainda severas críticas aos índios que vão à changa nas usinas de cana de açúcar, dizendo ser lugar de “matança de índios”; o “dinheiro e o alimento vêm da terra” vaticinou. Como será mais bem discutido no 3º produto, Guyra Roka espera que a CI dê continuidade ao apoio a projetos e, “para melhorar”, sugere plantar, além das roças de subsistência, uma roça de grandes dimensões com plantio de mandioca para comercialização. II.1.3.- Paso Piraju No Paso Piraju não houve propriamente um encontro, mas uma conversa da equipe da CI com o líder político do lugar que recebeu muito bem o grupo; não convocara, contudo, os parentes e patrícios para o aty com a presença da Carteira Indígena como teria sido acertado previamente. Embora conhecendo esta liderança há muitos anos, não foi possível clarificar o porquê não convocou sua gente, o que poderia ter feito de uma hora para outra. Ocupando uma área de 40ha e dentro do que consideram ser seu tekoha ymãguare, há no Paso Piraju entre 20 e 25 famílias nucleares, quase todas ligadas por laços de parentesco com famílias extensas em Caarapó. Enfrentam problemas sérios na disputa por terras que consideram terem sido sempre habitadas por seus antepassados, remotos e contemporâneos. Em 1º. de abril de 2006 episódio violento marcou a disputa com fazendeiros que se consideram proprietários da mesma terra, ocasionando a morte de dois policiais da cidade de Dourados. O fatídico incidente tem marcado intensamente a vida dos te’yi (famílias extensas kaiowa) desse lugar. Agentes da instituição proponente informaram que o líder local, e quem dirigia o projeto da CI, foi levado prisioneiro em plena vigência dos trabalhos, arrefecendo momentaneamente sua dinâmica. Semanas depois as famílias do lugar decidiram que a esposa do mburuvixa e um sobrinho ficariam no comando político do tekoha e na condução dos trabalhos da roça; dois ou três meses depois este sobrinho do “capitão” cometeu suicídio. O choque causado pelo episódio dos homicídios junto ao grupo de famílias do Paso Piraju foi impactante e ocasionou fortes turbulências na organização da economia, diretamente ligada ao projeto da Carteira Indígena. Os trabalhos no Paso Piraju não tiveram curso e tempo compassados como ocorreu no Guyra Roka que vive situação bem menos conturbada, apesar de ter havido boa produção de mandioca, milho, batata doce e feijão nas roças do Paso Piraju (17). Em visitas à área no correr dos últimos tempos, era visível a satisfação das pessoas com as roças plantadas e que contribuíram para a permanência no lugar enquanto se decide sobre suas terras. A necessidade básica do Paso Piraju era, e ainda é comida; produzi-la contribui para a manutenção das famílias em seu empenho em reconquistar terras tradicionais e esperar as medidas oficiais para isso. Como nos outros dois casos de Áreas de Conflito, o apoio da Carteira Indígena teve peso importante no processo que vem sendo enfrentado pelos índios do lugar. II.1.4.- Ñande Ru Marangatu (dia 26.11.2007) 17 Quanto à administração dos recursos, houve uma só variação nos elementos de roça adquiridos; 26 O encontro no Marangtatu foi interessante; não tanto pelo trabalho emergencial que se realizou ali, mas pela possibilidade de clarificar aos índios sobre o que é a CI e como, no futuro, poderão solicitar financiamentos de projetos. A reunião aconteceu na casa do “capitão” que, a exemplo do líder do Guyra Roka, possui um espaço coberto de sapé e sem paredes, também utilizado como “sala de recepção” e espaço político. Entre 60 e 70 pessoas estiveram presentes, número representativo das famílias “pioneiras” do Marangatu e que formam a base da ordem política local. Como no Guyra Roka, uma parte das pessoas esteve sentada nos bancos a isso destinados e outra parte esteve “espalhada” em torno desse lugar ouvindo as discussões, criando um ambiente de aparente desinteresse pelo que está sendo falado, tipificando o aty guasu. O Projeto no Marangatu financiado pela CI previa a construção de três galpões para atender situação emergencial vivida por 140 famílias kaiowa que ocupam parte reduzida (126ha) de seu tekoha ymãguare identificado (com 9.900ha) e homologado pela Presidência da República. Apesar disso, no final de 2005 (14.12), uma ordem judicial decorrente de gestões jurídicas protagonizadas por fazendeiros determinou o despejo daquelas famílias que se assentaram na beira da estrada, em lugar contíguo à área de onde foram retirados. Por falta de alternativas e em função do caráter emergencial a proponente do Projeto foi a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Antonio João (MS), instituição de alcance nacional que não mantém qualquer vínculo com a questão indígena. Como já era do conhecimento da equipe que escutara a representante da proponente em Dourados, os índios confirmaram que não haviam participado da elaboração do projeto, mesmo porque não poderia ser de outro modo. Viviam uma situação muito difícil e os recursos solicitados eram destinados a uma “ação de assistência social” para combate imediato de falta de alimentos dada a brusca mudança daquele contingente de famílias. Os galpões visavam evitar que as 750 pessoas – particularmente as crianças – passassem fome ou padecessem de desnutrição. A iniciativa do pedido de recursos à CI partira do Comitê Gestor de Políticas Indígenas no Cone Sul do MS; sugeria criar estrutura para receber, armazenar, cozinhar e consumir alimentos disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Os índios viram os galpões serem construídos, mas não participaram nem mesmo como mão de obra. Afirmaram jocosamente que “os barracos” não eram bons e tinham sido mal construídos porque dois deles haviam sido derrubados com o vento e que não valeu a pena sua construção. Dos três galpões construídos dois foram destruídos pelo vento; o terceiro tornou-se sala de aula. Ficou claro, contudo, nas discussões mantidas naquela manhã no Marangatu, que na época os galpões foram de grande utilidade e alcançaram plenamente seus objetivos. Os índios do Ñande Ru Marangatu também vivem, como todas as Áreas de Conflito Guarani no Mato Grosso do Sul, em permanente litígio com fazendeiros e reivindicam, veementemente, afora a regularização definitiva de suas terras, apoio para a produção de suas lavouras, para a realização de sua economia de subsistência apesar do 27 espaço relativamente reduzido (120ha) que dispõem dentro dos 9.900ha do tekoha identificado. Fica claro no Marangatu, assim como no Guyra Roka e no Paso Piraju, que as expectativas mais prementes dos kaiowa estão voltadas para o plantio de suas roças, variável determinante de seu cotidiano e no cálculo de sua economia. Vários discursos foram feitos por homens e mulheres, jovens e idosos, no sentido da necessidade de se plantar, de se utilizar a terra para produzir alimentos. Nesses discursos as crianças aparecem como fator de muita relevância. II.2.- Caarapó (27.11.2007) O encontro realizado em Caarapó manteve certa similitude com Dourados, seguindo um modelo de organização do tipo “ocidental formal local”. Foi organizado e coordenado pelos dois kaiowa já referidos – membros do CAPI. Teve lugar nas instalações do CRAS/MDS naquela reserva; uma sala ampla que se mostrou adequada às conversas entre os aproximadamente 30 presentes. Dispostos em roda os participantes se apresentaram e depois comentaram sobre o trabalho, coordenados pelo professor mencionado. Entre os presentes, todos indígenas, estiveram o "capitão" (líder político) da aldeia e presidente da associação proponente; quatro professores funcionários do município; um vereador de Caarapó; três indígenas responsáveis pelos cuidados cotidianos do viveiro de mudas e do trabalho com as galinhas, auspiciados por uma universidade de Campo Grande. Trata-se do núcleo de poder que administra e coordena articulações e recursos dirigidos à esta Reserva vindos de instituições oficiais (prefeitura, FUNAI, FUNASA, Ministérios, outros) ou privadas como a UCDB. Todos são remunerados e mantêm ligações estreitas com instituições do mundo do branco, com um bom domínio do português e do seu código. Dentro de Caarapó, área com 3.600 ha e entre 5.000 e 6.000 habitantes em sua maioria absoluta kaiowa – há porcentagem reduzida de ava-guarani – este grupo não parece representar a totalidade da área, mas sim uma rede de relações entre famílias extensas locais e uma linha de poder político, legítimo, que se instaurou na localidade em sua história recente (18). Como nos outros encontros, foi solicitado, desta vez pelo professor kaiowa, que a plenária apresentasse seu parecer sobre o andamento dos projetos, quais os pontos positivos e, principalmente, quais as dificuldades encontradas; o objetivo, invariavel, era a redefinição das diretrizes da CI. Através de rodadas os índios se apresentaram dando nome e inserção na Reserva e opinaram, inicialmente, sobre o andamento da associação e as dificuldades para organizá-la, assim como “lidar com o papel”. "Burocracia é grande". "Seria necessário dar capacitação administrativa aos índios" para aprenderem. Os índios "precisam aprender muito é a administração dos recursos" foram opiniões expressas pelos presentes. O “capitão” indígena lembrou episódio sintomático da relação entre os kaiowa com o kuatia (papéis; documentos, textos, notas, jornais); contou que havia chegado 18 Uma vez mais cabe indicar a necessidade de uma investigação mais cuidadosa para ampliar o conhecimento sobre essa situação em Caarapó. 28 correspondência da CI trazendo a aprovação do tão esperado projeto e caberia a ele, como presidente da associação, assiná-lo e devolvê-lo imediatamente a Brasília para continuidade do processo de liberação de recursos; mas, diz o líder, “coloquei na gaveta e esqueci; depois me lembraram e eu fiz o que tinha que fazer". Procedimentos dessa ordem não são incomuns entre os Guarani. Não possuem armários, estantes, gavetas, pastas ou arquivos de aço para guardar ou resguardar, literalmente dos rigores das variações climáticas, os kuatia ou “papéis”. Documentos, papéis ou livros convivem pela casa do Guarani com ferramentas, talheres, peças de roupas, remédios do mato, etc., incrustados nos vãos de tetos e paredes de suas casas. Difícil afirmar que o “papel” tenha sido incorporado ao cotidiano desses indígenas da forma como o fazemos nós, brancos – ou mesmo os terena que têm outra relação com papéis e documentos; No caso particular de Caarapó os índios informaram que uma das dificuldades administrativas mais sérias que enfrentam é exigência da licitação para aquisição de produtos. Por ser uma cidade pequena com um comércio restrito, tiveram problemas para levantar preços e foram obrigados, em alguns casos, a irem a Dourados, o que significa deslocamentos que exigem dinheiro. Afora os problemas administrativos consideram como positivos os resultados da criação de galinhas através de chocadeira com capacidade para gerar 120 ovos pintinhos que serão “distribuídos para as famílias". O projeto da galinha está funcionando para a escola que capacita alunos. Na avaliação dos presentes ao encontro, têm sido satisfatórios os resultados do projeto que é centrado e desenvolvido pela escola. Muito embora a natureza, como é do conhecimento e da prática dos índios Guarani desde que entraram em contato com galinhas, também possa oferecer pintinhos sem necessidade de capacitação de crianças com artefatos elétricos, o projeto entendeu ser melhor sua produção com a máquina, focando mais a capacitação dos alunos em lidar com esta produção. Os pintinhos após o nascimento são distribuídos para as famílias na aldeia. Embora afirmando que o projeto tem que crescer porque “ajuda a família” – pretendem diversificar o projeto com criação de vacas – são professores que se envolvem com o trabalho e os investimentos e as atenções estão voltadas primeiramente para a escola que é coadjuvada pela família. “A experiência”, dizem os índios, “leva o trabalho na casa”. Diante da constatação do reforço à escola e a decorrente questão se isso não prejudicava o fortalecimento dos te’yi (famílias extensas kaiowa), disseram que não, pois “os alunos levam os ensinamentos para a família”. A referida UCDB e a Prefeitura de Caarapó dão assistência técnica para tratar os projetos ali realizados de galinhas e outros – há um funcionário (branco) da prefeitura cotidianamente na aldeia. Valorizaram o trabalho auspiciado pela CI e foram insistentes na demanda por sua continuidade. O trabalho, segundo seu entendimento, fortaleceu a economia local e tem permitido que os próprios índios administrem recursos com o que aprendem; outro ponto positivo apontaram para o fato de que os projetos vão “daqui para lá” e não o contrário. 29 PARTE III Encontros com Proponentes Não Indígenas III.1.- Proponentes não indígenas (24 e 28.11.2007) A reunião com as proponentes não indígenas foi realizada na sede do IMAD em Dourados e seguiu a rotina de rodadas para as pessoas se apresentarem e, posteriormente, comentarem sobre seus projetos com a CI. Estiveram presentes as proponentes do projeto emergencial no Marangatu (APAE); das roças de subsistência no Guyra Roka e Paso Piraju (ITJE); de “corte e costura, tricô e crochê” em Dourados (IMAD); formação de pomares e viveiros (GAPK e COCTEKD); compareceram ainda um representante da AGRAER (governo do MS) e o técnico que dá assistência no cuidado dos açudes. Na tarde do dia 28.11 a equipe da CI reuniu-se em Campo Grande com técnicos da UCDB que dão assistência a projetos em Caarapó. Em seu discurso de apresentação o moderador dos encontros repetiu os pontos rotineiros, mas enfatizou a questão administrativa ao solicitar que os presentes comentassem como explicariam as experiências dos índios com esse aspecto sabidamente problemático e inerente a qualquer projeto. Pretendia-se situar os principais óbices, gargalos e problemas encontrados pelos índios e que tivessem sido observados pelas proponentes no correr das experiências. Embora a questão administrativa tenha sido amplamente comentada pelos índios, estes o fizeram de forma genérica e panorâmica; esperava-se obter informações não exatamente sobre os já conhecidos – e fartamente discutidos pela literatura e pelas Ciências Sociais – problemas de qualquer instituição ou pessoa com a “burocracia de Estado”, mas como era a compreensão e a vivência dos índios com o assunto da perspectiva daqueles agentes. Surgiram, no entanto, poucas informações que ilustrassem essa perspectiva de análise; exceção feita à UCDB (v. adiante) os discursos estiveram voltados mais para as dificuldades próprias a cada entidade na medida em que ficou constatado, nas discussões com as proponentes, que as associações indígenas só puderam realizar os trâmites administrativos com assessoria direta e permanente das proponentes pois, caso contrário, os índios não as realizariam. III.2.- APAE – Ñande Ru Marangatu A representante da APAE em Antonio João apresentou sua experiência com o projeto emergencial para o Ñande Ru Marangatu, voltado para o combate imediato da fome das famílias kaiowa precariamente acampadas na beira da estrada que liga Antônio João a Bela Vista, como descrita acima. Ressaltou que a APAE se envolvera com o problema como “ação humanitária” já que os índios, sem lenha, instalados em precários barracos de lona, sem acesso a água e sem possibilidade de plantar, viviam momentos difíceis e o projeto, elaborado às pressas, 30 era para sanar o perigo da fome e suas conseqüências (o projeto dessa proponente está descrito no item II.2.3.). III.3.- GAPK e COCTEKD: dificuldades com administração As conversas com o assessor da COCTEKD esclareceram dúvidas da equipe da Carteira sobre o que estava ocorrendo com os projetos de pomar e viveiro de mudas frutíferas. Foi possível entender que este assessor, que inicialmente atendia os projetos pela instituição não indígena GAPK, rompera relações de trabalho com esta entidade e a partir de então passou a assessorar somente a COCKTEKD, uma associação indígena que segue, assim, com os mesmo problemas que os outros dois grupos, com seu projeto de pomar e viveiro de mudas. As dificuldades, segundo este profissional, foram muitas, seja para executar o projeto, seja para administrá-lo. Foi enfático em criticar a burocracia e administração – talvez aproveitando a pergunta do mediador – dos projetos afirmando que a COCTEKD não teria condições de atender, sem assessoramento do branco, as exigências administrativas do projeto. Licitações, abertura de conta corrente, diálogo e exigências burocráticas do banco, estruturar-se para a prestação de contas, administrar recursos no banco, produzir um documento explicativo além de outras tantas iniciativas e afazeres que são exigidos de uma instituição, os índios teriam muitas dificuldades e necessitariam de assessoramento permanente até estarem capacitados. Sugeriu maior flexibilidade da CI nas “exigências burocráticas”, procurando diminuir o número de papéis exigidos para inclusão, relatórios e prestação de contas de um projeto. Para este profissional a experiência está mostrando que o excesso de burocracia prejudica os projetos. III.4.- IMAD A exemplo do assessor da COCTEKD os agentes do IMAD também foram enérgicos em suas críticas à administração exigida pelo projeto da CI bem como na demora no recebimento da segunda parcela, que provocou a interrupção do projeto. Esta paralisação, que não foi, como seria recomendável, explicada e discutida com os índios, levou-os a desconfiar da proponente, criando clima de animosidade manifesto no insistente reclamo das mulheres indígenas envolvidas com o trabalho de tricô, crochê e corte e costura como visto. Em contra partida e em sua defesa, a proponente considera que "os índios desconhecem nossa sociedade" e as "agentes de saúde", que inicialmente procuraram o IMAD para a realização do projeto, passaram a representar “sérias dificuldades” com as outras mulheres envolvidas no projeto. Os agentes do IMAD, entretanto, apresentaram sua renúncia, depois de muita reflexão, ao trabalho com indígenas. O que “seria normal para nós, não o é para eles” argumentaram; “não é uma coisa deles, como vamos trabalhar com isso?” O IMAD tomou a iniciativa de retirar da Carteira Indígena duas solicitações que haviam apresentado ano que passou. O IMAD procurou ainda envolver outras agências para consumar o projeto, não obtendo êxito em sua empreitada de estabelecer parcerias. Nem FUNASA nem Prefeitura, a primeira para transportar professores e a segunda para comercializar a produção, colaboraram com a proponente que esperava "apoio de alguma instituição 31 pública" – esquecendo-se que instituições públicas já têm problemas demais com os índios e dificilmente se envolvem com organismos não oficiais nos termos pretendidos pelo IMAD. III.5.- GAPK (Bororo, Dourados, 28.11.2007) Na reunião com as instituições não indígenas do dia 27.11 no IMAD não houve representação da GAPK, ONG que tem planejado desenvolver projetos de pomar e viveiro de mudas em dois lugares em Dourados, com um grupo kaiowa no Bororo e outro grupo ñandéva (guarani) no Jaguapiru – como vimos, seriam três projetos caso não se desse a ruptura com a COCTEKD. No encontro em Dourados os “cabeçantes” desses grupos de trabalho fizeram queixas severas ao fato do projeto não estar sendo realizado, e pela impossibilidade de encontrar os agentes da GAPK. A demanda dos índios – raivosa e veemente – mobilizou a equipe que se prontificou a procurar a instituição e dar-lhes uma resposta sobre o “sumiço” daqueles agentes. Em contato com a GAPK marcou o encontro na casa do índio kaiowa do Bororo; compareceu também nesse encontro o indígena ñandéva com mesmo projeto no Jaguapiru. Questionada pelos índios a GPKA explicou que “finalmente” haviam sido superadas as condicionantes técnicas para o plantio das mudas: a caixa d’água fora erguida; o padrão de energia mudado e os problemáticos desdobramentos disso tudo haviam sido sanados (v. item 1.7.2.2). Quanto às mudas, revelou que o fornecedor não as tem para pronta entrega e que a ONG havia encomendo novas mudas que estariam chegando no “próximo mês” (12.2007) – conforme “planejado”, as mudas deveriam estar disponíveis e sendo plantadas em janeiro de 2006. Com a chegada das mudas os índios se perguntam como preparar e abrir 300 covas sem a ajuda de muitas pessoas. A GPKA informou que oferecerá “puchero” (carne) para realização de um mutirão. III.6.- UCDB (Campo Grande, 28.11.2007) Essa instituição universitária vem atuando em Caarapó há anos, tendo ali investido em inúmeras atividades e projetos como construção de represas, viveiro de mudas, questões ambientais e, principalmente, em educação indígena. Informaram seus agentes naquele encontro, que dão assistência técnica e contabilista a dois projetos naquela aldeia. Quanto aos aspectos contabilistas, espontaneamente explicitaram os agentes de UCDB que entendem ser da maior importância e seriedade os problemas de prestação de contas realizados pelas associações indígenas para os projetos da vez. Por primeira a equipe da CI escutou falar o que “não raro há grandes confusões” nas tentativas de fechamentos de contas e “vez ou outra há por ai um cheque voador”. Do que “puderam acompanhar” consideraram que “dificilmente as associações indígenas darão certo”, e que, diante disso, seria importante procurar outros caminhos para fazer chegar a ajuda aos índios recomendando, ainda, que isso seja “o mais 32 descentralizado possível”. Comentaram que nesse processo se observa a “existência de muitos vícios” e – consideração importante e que será mais bem comentada no 3º. Produto – que “as propostas apresentadas à CI são para branco ver". Foram, no entanto, enfáticos no sentido de que os recursos vindos da CI são fundamentais e muito importantes. Os agentes dessa instituição, alguns com longa experiência de trabalho com os Guarani, sugeriram – a rigor endossando o que a CI estava realizando – discutir mais com os índios sobre os projetos e ampliar a troca de experiência entre eles, procurando, quando possível, “desingessar” os projetos da dificuldade maior que é a da prestação de contas. * * * Oficina Nacional Nas reuniões em Guyra Roka, Marangatu e Dourados a equipe da Carteira Indígena discutiu e definiu com os presentes quem iria representar os Guarani do Mato Grosso do Sul na II Oficina Nacional. Previsto para os primeiros meses de 2008 este evento prevê o encontro de representantes de variados povos indígenas apoiados pela CI no país, para discutir mudanças das diretrizes orientadoras com vistas na melhoria de seu desempenho no trabalho com os índios. O assunto não foi comentado em Caarapó e Paso Piraju; o primeiro, porque já é deste lugar o kaiowa que participa da CAP; o segundo porque a situação desta localidade é bastante tensa e não convém que haja deslocamentos de indígenas deste lugar. Os índios escolhidos foram Teodora Souza (ava-guarani/terena de Dourados), Ambrósio Villalba (kaiowa de Guyra Roka) e Hamilton Lopés (kaiowa de Ñande Ru Marangatu). Conclusão Este 2º Produto da Consultoria Antropológica à Carteira Indígena pretendeu apresentar, de modo sucinto e conciso, uma descrição dos Encontros de Intercâmbio com Povos Indígenas que se realizaram em terras Guarani no Mato Grosso do Sul, entre 20 e 28 de novembro passado. No 3º Produto seguirá texto analítico que procurou incorporar as discussões mantidas no Mato Grosso do Sul e indicar algumas considerações que podem contribuir na construção de novas diretrizes da Carteira Indígena. Rio de Janeiro, 03 de Março de 2008 Rubem F. Thomaz de Almeida Antropólogo ABA 2.143.769.770 33 GLOSSÁRIO DE SIGLAS AITK APAE ASSIND CAPI COCTEKD GAPK IMAD ITJE KATEGUA MMA CRAS MDS - Associação Indígena Te’yikue (Caarapó). - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Antonio João). - Associação Indígena Avaete Oñondivepa Guarani, Kaiowa e Terena (Dourados) - Comissão de Avaliação de Projetos Indígenas - Centro Organizacional da Cultura Tradicional da Etnia Kaiowa de Dourados (Dourados) - Grupo de Apoio aos Povos Kaiowa-Guarani (Dourados) - Instituto de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Dourados) - Instituto Técnico Jurídico Educativo (Campo Grande). - Associação Indígena Kateguá (Dourados) - Ministério do Meio Ambiente - Centro de Referencia de Assistência Social - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 34
Download