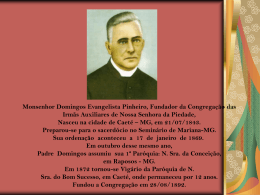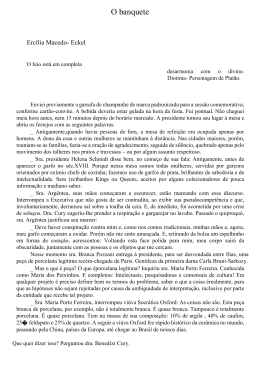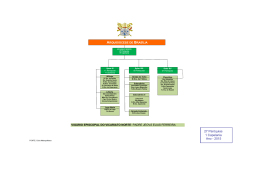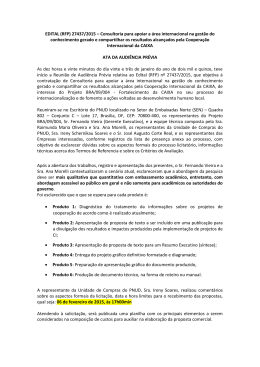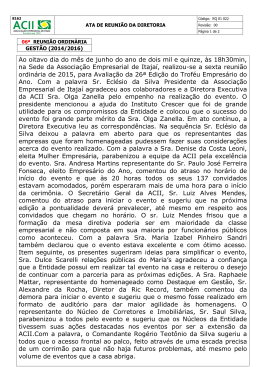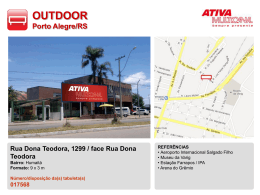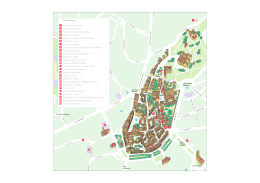Histórias sobre Ética Este livro apresenta os mesmos textos ficcionais das edições anteriores. PARA GOSTAR DE LER 27 Histórias sobre Ética LA FONTAINE, MACHADO DE ASSIS, MOACYR SCLIAR LYGIA FAGUNDES TELLES, VOLTAIRE, GUIDO FIDELIS KATHERINE MANSFIELD, LIMA BARRETO LOURENÇO DIAFÉRIA, ARTUR AZEVEDO ÁLVARO CARDOSO GOMES Coordenação geral e seleção de textos Marisa Lajolo Quinta edição 1a impressão cclílo Diretor editorial adjunto: Fernando Paixão Editora adjunta: Cartnen Lúcia Campos Revisão: Ivany Picasso Batista (coord) Lucy Caetano de Oliveira Editora de arte Suzana Laub Editor de arte assistente Antônio Paulos Ilustrações Júlio Mmervmo Colaboração na redação de textos Maht Rangel Criação do projeto original da coleção Jiro Takahashi Suplemento de leitura Veio Libn Editoração eletrônica: Studio Desenvolvimento Editorial: Eduardo Rodrigues Edição eletrônica de imagens Cesai Wolf IMPRESSÃO E ACABAMENTO Corrrmt Gráfica e Editora Ltda ISBN 85 08 08579 6 2003 Todos os direitos reservados pela Editora Ática Rua Barão de Iguape, 110 - CEP 01507-900 Caixa Postal 2937 - CEP 01065-970 - São Paulo - SP Tel O—11 3346-3000-Fax 0—113277-4146 Internet http //www.atica.com.br e-mail editonalfe’[email protected] Digitalização: Vítor Chaves Correção: Marcilene Aparecida Alberton Ghisi Chaves Sumário Entre o bem e o mal 7 La Fontaine O lobo e o cordeiro 13 Machado de Assis 19 Conto de escola 21 Moacyr Scliar 33 O dia em que matamos James Cagney 35 Lygia Fagundes Telles 41 Antes do baile verde 43 Voltaire 55 A dança 57 Guido Fidelis 65 Conversa de comadres à espera da morte 67 Katherine Mansfield 75 A casa de bonecas 77 Lima Barreto 89 A nova Califórnia 91 Lourenço Diaféria 103 Os gatos pardos da noite 107 Artur Azevedo 113 O custodinho 115 Álvaro Cardoso Gomes 123 Paloma 125 Referências bibliográficas 135 Entre o bem e o mal Marisa Lajolo Todos nós, mulheres e homens, adultos e jovens, passamos boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na realidade entre o que consideramos Bem e o que consideramos Mal. Mas, apesar da longa permanência e universalidade da questão, o que se considera certo e o que se considera errado muda ao longo da história e ao redor do globo terrestre. Ainda hoje, em certos lugares, a pena de morte autoriza o Estado a matar em nome da justiça. Em outras sociedades, o direito à vida é inviolável e nem o Estado nem ninguém tem direito de tirar a vida alheia. Tempos atrás era tido como legítimo espancarem-se crianças, escravizarem-se povos, mutilarem-se mulheres. Nesta virada de século, embora ainda se saiba de casos de espancamento de crianças, de trabalho escravo e de violência contra mulheres, todos estes comportamentos são publicamente condenados na maior parte do mundo. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um de 7 nós, homens e mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se enfrentam. E a ética é o domínio deste enfrentamento. Nem sempre, no entanto, as decisões entre certo e errado, bem e mal dizem respeito a fazer ou não fazer determinada coisa, praticar ou não praticar determinado ato. Nossas decisões éticas ficam, muitas vezes, afetas apenas a juízos e opiniões. Ou seja, agimos e pensamos segundo nosso senso ético. Mas ninguém nasce com senso ético. Ética se aprende: aprende-se em casa, na escola e na rua. Ao longo de toda a vida, a partir das diferentes experiências que vivemos, vamos reforçando ou alterando nosso senso ético, ou seja, os valores que norteiam nosso comportamento e nosso modo de pensar. Entre as experiências que influenciam nosso senso ético destacam-se as culturais e artísticas. Dentre as artes, sobretudo a literatura: em seu compromisso com a vida humana em suas diferentes manifestações históricas, ela tematiza conflitos éticos, representando o ser humano em situações-limite. Ao flagrar personagens vivendo momentos nos quais bem e mal se entrelaçam intimamente, a literatura tanto registra a vocação ética do ser humano quanto testemunha as dificuldades e os embaraços da 8 realização desta vocação. De forma implícita ou explícita. O dilema ético é escancarado, por exemplo, em Hamlet, de Shakespeare, onde o protagonista se debate entre o respeito devido ao tio que se casara com sua mãe viúva, e a suspeita de que este tio era responsável pelo assassinato de seu pai. Já no romance São Bernardo, de Graciliano Ramos, o dilema ético fica implícito na escrita em que Paulo Honório resgata as origens de seu ciúme doentio e homicida pela mulher Madalena. Os contos aqui reunidos ilustram como escritoras e escritores, em diferentes tempos e lugares, fixaram, por meio da escrita, homens e mulheres às voltas com valores e condutas. Assim, na história do lobo e do cordeiro, de La Fontaine, em ”Os gatos pardos na noite”, de Lourenço Diaféria, e ”O dia em que matamos James Cagney”, de Moacyr Scliar, o direito da força entra em choque com a força do direito. As histórias criadas por Voltaire, Artur Azevedo e Álvaro Cardoso Gomes fazem o leitor testemunhar conflitos entre condutas pessoais e o bem público, entre opiniões e vantagens pessoais. E é o difícil equilíbrio entre interesses individuais e valores socialmente aceitos, entre essência e aparência, que encontramos nos contos de Guido Fidelis, Lima Barreto e Machado de Assis. 9 Em ”A casa de bonecas” e ”Antes do baile verde”, Katherine Mansfield e Lygia Fagundes Telles trazem para o mundo doméstico — feminino e infantil — o peso das decisões radicais entre preconceito, egoísmo e generosidade. Em resumo, todas as histórias constróem um universo que, embora de papel e tinta, é como o nosso, onde as pessoas têm constantemente de optar entre diferentes valores e condutas diferentes. E nós leitores, testemunhas desta opção, quem sabe, podemos sair da leitura mais sensíveis e mais preparados para nossas próprias opções éticas? 10 La Fontaine O lobo e o cordeiro La Fontaine A razão do mais forte vai sempre vencer é o que adiante vocês hão de ver. Num límpido regato um dia um cordeiro, sereno, bebia. Eis que surge um lobo faminto: — Como ousas sujar minha água? Diz o lobo com fingida mágoa: — Logo vais receber o castigo por assim desafiar o perigo. — Senhor — o cordeiro responde —, Não te zangues: não vês que me encontro vinte passos abaixo de ti, e, portanto, seria impossível macular tua água daqui? — Tu a sujas — diz o bicho feroz. — Além disso estou informado que falaste de mim ano passado. — Como poderia te ter ofendido se não era nascido então, e o leite materno inda bebo? — Ora, ora, se não foste tu, com certeza foi teu irmão. — Não o tenho. — Então foi algum dos teus: pois que nunca me deixam em paz. Tu, teus pastores e cães; necessária a vingança se faz. 13 E no fundo da floresta com toda tranqüilidade O lobo devora o cordeiro Sem outra formalidade. Tradução de Luciano Vieira Machado 14 La Fontaine O mestre da fábula O escritor francês Jean de La Fontaine nasceu em 1621, na província de Chatêau-Thierry, Champagne, na França central, e morreu em 1695, na cidade de Paris. No tempo em que viveu, ele era considerado uma pessoa que não queria saber de nada além de festas, amores e diversão. Hoje, é considerado um dos maiores escritores da literatura universal. Entre 1668 e 1694, Fontaine publicou os livros de fábulas que até hoje correm o mundo em diferentes versões. Muito embora La Fontaine seja a pessoa quem escreveu e publicou as fábulas, ele não as inventou: foi buscar na obra de Esopo, um professor grego, os enredos que, reescritos em verso, garantiram sua imortalidade literária. Membro da Academia Francesa de Letras, La Fontaine escreveu, além de fábulas, textos para o teatro, contos e poemas. Gênero por definição didático e moralista, a fábula apresenta uma história exemplar, tendo geralmente animais e objetos como personagens. Em sua leitura se aprendem valores e atitudes — certos ou errados, bons e maus — a serem seguidos ou repudiados. La Fontaine foi um dos responsáveis pela perpetuação das fábulas de Esopo 16 A atualidade de ”O lobo e o cordeiro” se deve ao fato do conteúdo do texto ser uma apresentação bem verossímil das relações humanas, principalmente no mundo contemporâneo. Mundo esse tantas vezes definido como um lugar onde o homem é lobo do homem, como já dizia o filósofo Hobbes. 17 Machado de Assis Conto de escola Machado de Assis A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia — uma segunda-feira, do mês de maio — deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde iria brincar a manhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e o campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior tinha feito dois suetos, e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do Arsenal de Guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial, e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela, para não ser ouvido do mestre, e cheguei a tempo; ele entrou na sala três ou quatro minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se 21 Policarpo e tinha perto de cinqüenta anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a boceta de rape e o lenço vermelho, pô-los na gaveta; depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem; começaram os trabalhos. — Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava duas horas em reter aquilo que a outros levava apenas trinta ou cinqüenta minutos; vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia a isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente; raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. — O que é que você quer? — Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da escola; mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino: tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa; tão depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe cinco ou seis atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era; mas, instintivamente, dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando; não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita, e voltar para o meu lugar. 22 com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora, e recapitulava o campo e o morro, pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, vi através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. — Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. — Não diga isso, murmurou ele. Olhei para ele; estava mais pálido. Então lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa, e perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo, e, rápido, disse-me que esperasse um pouco; era uma coisa particular. — Seu Pilar... murmurou ele daí a alguns minutos. — Que é? — Você... — Você quê? Ele deitou os olhos ao pai, e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele, desconfiado, e o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo, e vi que parecia atento; podia ser uma simples curiosidade vaga, natural indiscrição; mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha onze anos, era mais velho que nós. Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele nem de mim. Ou então, de tarde... — De tarde, não, interrompeu-me ele; não pode ser de tarde. — Então agora... 23 — Papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos, para trazelo mais aperreado. Mas nós também éramos finos; metemos o nariz no livro, e continuamos a ler. Afinal cansou e tomou as folhas do dia, três ou quatro, que ele lia devagar, mastigando as idéias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da Regência1, e que era grande a agitação pública. Policarpo tinha decerto algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada do portal da janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despéndurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse; levantava os olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas tomava logo aos jornais, e lia a valer. No fim de algum tempo — dez ou doze minutos — Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. — Sabe o que tenho aqui? — Não. — Uma pratinha que mamãe me deu — Hoje? — Não, no outro dia, quando fiz anos... — Pratinha de verdade? — De verdade. Tirou-a vagarosamente, e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei, cuido que doze vinténs ou dois tostões, não me lembra; mas era uma moeda, e tal moeda que me 1 Regência O período da Regência situa-se entre a renúncia de D Pedro I em 1831 e o golpe conservador que proclamou a maiondade de D Pedro II em 1845, alguns anos antes do tempo Foi dos períodos mais agitados e complexos na História do Brasil. Houve inúmeras revoltas localistas por todo o país, o poder central estava consideravelmente enfraquecido e os ventos sopravam na direção de um maior liberalismo político. Daí a ironia de tudo isso aparecer em função de um velho e rabugento professor. (N E.) 24 fez pular o sangue no coração. Raimundo revolveu em mim o olhar pálido; depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. — Mas então você fica sem ela? — Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou, numa caixinha; algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida propôs-me um negócio, uma troca de serviços; ele me daria a moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguira reter nada do livro, e estava com medo do pai. E concluía a proposta esfregando a pratinha nos joelhos... Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma idéia antes própria de homem; não é também que não fosse fácil em empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, toma lá, dá cá; tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil, e que o Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de outras vezes; mas parece que a lembrança das outras vezes, o medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada, e não aprender como queria, — e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal, — parece que tal foi a causa da proposta. O pobre-diabo contava com o favor, — mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo; pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos, à minha vista, como uma tentação... Realmente, era bonita, fina, branca, muito branca; e para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado... 26 Não queria recebê-la, e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse, que lhe pingava o rape do nariz. — Ande, tome, dizia-me baixinho o filho. E a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos, como se fora diamante... Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? E ele não podia ver nada, estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação... — Tome, tome... Relanceei os olhos pela sala, e dei com os do Curvelo em nós; disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava, então dissimulei; mas daí a pouco, deitei-lhe outra vez o olho, e — tanto se ilude a vontade! — não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo. — Dê cá... Raimundo deu-me a pratinha, sorrateiramente; eu meti-a na algibeira das calças, com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição, e não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente; passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que despendia um esforço cinco ou seis vezes maior para aprender um nada; mas contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. De repente, olhei para o Curvelo e estremeci; tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mau. Disfarcei; mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu; ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. — Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo. — Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse; mas ele instava, e a moeda, cá no bolso, lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito; depois, tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, dantes mau, 27 estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse; mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola; este lia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me serrassem; guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. Para que me não fugisse, ia-a apalpando, roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade de espiá-la. — Oh! seu Pilar!, bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. — Venha cá!, bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos; depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado; ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. — Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros?, disse-me o Policarpo. — Eu... — Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu!, clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais, meti a mão no bolso, vagarosamente, saquei-a e entreguei-lha. Ele examinou-a de um e outro lado, bufando de raiva; depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras, que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, 28 baixa, uma vilania, e para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. — Perdão, seu mestre... solucei eu. — Não há perdão! Dê cá a mão! dê cá! vamos! sem-vergonha! dê cá a mão! — Mas, seu mestre... — Olhe que é pior! Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa; não lhe poupou nada, dois, quatro, oito, doze bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem-vergonhas, desaforados, e jurou que, se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo o sempre. E exclamava: Porcalhões! tratantes! faltos de brio! Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror; posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei logo para ele, cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara, na rua, logo que saíssemos, tão certo como três e dois serem cinco. Daí a algum tempo olhei para ele; ele também olhava para mim, mas desviou a cara, e penso que empalideceu. compôs-se e entrou a ler em voz alta; estava com medo. Começou a variar de atitude, agitando-se à toa, tocando os joelhos, o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado; e na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe tirávamos alguma coisa? ”Tu me pagas! tão duro como osso!”, dizia eu comigo. Veio a hora de sair, e saímos; ele foi adiante, apressado, e eu não queria brigar ali mesmo, na Rua do Costa, perto do colégio; havia de ser na rua larga de S. Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já o não vi; provavelmente escondera-se em algum corredor ou loja; entrei numa botica, espiei em outras 29 casas, perguntei por ele a algumas pessoas, ninguém me deu notícia. De tarde faltou à escola. Em casa não contei nada, é claro; mas para explicar as mãos inchadas, menti a minha mãe, disse-lhe que não tinha sabido a lição. Dormi nessa noite mandando ao diabo os dois meninos, tanto o da denúncia como o da moeda. E sonhei com a moeda; sonhei que, ao tornar à escola, no dia seguinte, dera com ela na rua, e a apanhara, sem medo nem escrúpulos... De manhã, acordei cedo. A idéia de ir procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava esplêndido, um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu, por sinal que eram amarelas. Tudo isso, e a pratinha... Saí de casa, como se fosse trepar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola; ainda assim não andei tão depressa que amarrotasse as calças. Não, que elas eram bonitas! Mirava-as, fugia aos encontros, ao lixo da rua... Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo; vinham, passaram por mim, e foram andando. Eu senti uma comichão nos pés, e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse: o dia estava lindo, e depois o tambor... Olhei para um e outro lado; afinal, não sei como foi, entrei a marchar também ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa: Rato na casaca... Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, e depois enfiei pela Saúde, e acabei a manhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso nem ressentimento na alma. E contudo a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação; mas o diabo do tambor... 30 Machado de Assis Desvendando a alma humana O olhar impiedoso e irônico de Machado de Assis captou a alma humana em toda sua complexidade. Considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, o carioca Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908 na cidade do Rio de Janeiro. Mulato franzino e doente, de origem social muito humilde, vivendo na sociedade preconceituosa ainda com pensamentos e atitudes escravocratas, Machado de Assis fez da vida literária passaporte para a posteridade, tornando-se célebre pelos contos e romances que escreveu. Para isso, teve que estudar muito, e por conta própria, na maior parte das vezes, já que, quando jovem, precisou abrir mão dos estudos para ajudar no sustento da casa. Modelo de linguagem e de estilo, Machado renovou a literatura brasileira. Sua obra traça um painel bastante realista da sociedade brasileira de seu tempo, de onde extrai elementos para retratar o ser humano, sempre pelo olhar impiedoso e irônico do escritor. Dotado de um humor fino e de uma ironia disfarçada, mas cruel, livros como Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) e Dom Casmurro (1899) não apenas se tornaram clássicos da literatura brasileira e universal, 31 como também traçaram um verdadeiro estudo sobre a própria condição humana, com todas as suas imperfeições. Nada escapa ao realismo desencantado de Machado, nem a infância, como se vê em seu antológico ”Conto de escola”, em que um garoto aprende na própria pele conceitos como corrupção e delação. 32 Moacyr Scliar O dia em que matamos James Cagney Moacyr Scliar Uma vez fomos ao Cinema Apoio. Sendo matinê de domingo, esperávamos um bom filme de mocinho. Comíamos bala café-com-leite e batíamos na cabeça dos outros com nossos gibis. Quando as luzes se apagaram, aplaudimos e assobiamos; mas depois que o filme começou, fomos ficando apreensivos... O mocinho, que se chamava James Cagney, era baixinho e não dava em ninguém. Ao contrário: cada vez que encontrava o bandido — um sujeito alto e bigodudo chamado Sam — levava uma surra de quebrar os ossos. Era murro, e tabefe, e chave-inglesa, e até pontapé na barriga. James Cagney apanhava, sangrava, ficava de olho inchado — e não reagia. A princípio estávamos murmurando, e logo batendo os pés. Não tínhamos nenhum respeito, nenhuma estima por aquele fracalhão repelente. James Cagney levou uma vida atribulada. Muito cedo teve de trabalhar para se sustentar. Vendia jornais na esquina. Os moleques tentavam roubar-lhe o dinheiro. Ele sempre se defendera valorosamente. E agora sua carreira promissora terminava daquele jeito! Nós vaiávamos, sim, nós não poupávamos os palavrões. James Cagney já andava com medo de nós. Deslizava encostado às paredes. Olhava-nos de soslaio. O cão covarde, o patife, o traidor. 35 Três meses depois do início do filme ele leva uma surra formidável de Sam e fica estirado no chão, sangrando como um porco. Nós nem nos importávamos mais. Francamente, nosso desgosto era tanto, que por nós ele podia morrer de uma vez — a tal ponto chegava nossa revolta. Mas aí um de nós notou um leve crispar de dedos na mão esquerda, um discreto ricto de lábios. Num homem caído. Aquilo podia ser considerado um sinal animador. Achamos que, apesar de tudo, valia a pena trabalhar James Cagney. Iniciamos um aplauso moderado, mas firme. James Cagney levantou-se. Aumentamos um pouco as palmas — não muito, o suficiente para que ele ficasse de pé. Fizemos com que andasse alguns passos. Que chegasse a um espelho, que se olhasse, era o que desejávamos no momento. James Cagney olhou-se ao espelho. Ficamos em silêncio, vendo a vergonha surgir na cara partida de socos. — Te vinga! — berrou alguém. Era desnecessário: para bom entendedor nosso silêncio bastaria, e James Cagney já aprendera o suficiente conosco naquele domingo à tarde no Cinema Apoio. Vagarosamente ele abriu a gaveta da cômoda e pegou o velho revólver do pai. Examinou-o: era um quarenta-e-cinco! Nós assobiávamos e batíamos palmas. James Cagney botou o chapéu e correu para o carro. Suas mãos seguravam o volante com firmeza; lia-se determinação em seu rosto. Tínhamos feito de James Cagney um novo homem. Correspondíamos aprovadoramente ao seu olhar confiante. Descobriu Sam num hotel de terceira. Subiu a escada lentamente. Nós marcávamos o ritmo de seus passos com nossas próprias botinas. Quando ele abriu a porta do quarto, a gritaria foi ensurdecedora. Sam estava sentado na cama. Pôs-se de pé. Era um gigante. James Cagney olhou para o bandido, olhou para nós. Fomos forçados a reconhecer: estava com medo. Todo o nosso trabalho, todo aquele esforço de semanas fora inútil. James 37 Cagney continuava James Cagney. O bandido tirou-lhe o quarenta-e-cinco, baleou-o no meio da testa: ele caiu sem um gemido. — Bem feito — resmungou Pedro, quando as luzes se; acenderam. — Ele merecia. Foi o nosso primeiro crime. Cometemos muitos outros, depois. Moacyr Scliar Realidade com muita fantasia Nos textos de Moacyr Scliar, a mistura de fantasia e realidade cria desfechos surpreendentes. Nascido em 1937 na cidade de Porto Alegre, o gaúcho Moacyr Scliar é um homem versátil: médico e escritor, é igualmente atuante nas duas áreas. Há pouco tempo, mesmo escrevendo seus contos e crônicas, Scliar não abria mão de suas tardes no consultório médico. Dono de uma obra literária extensa, é ainda um biógrafo de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e adultos são sucesso de público e de crítica e alguns já foram publicados no exterior. Em seus textos, misturam-se sérias críticas sociais, magia e fantasia que Scliar herdou de algumas influências literárias (tais como Jorge Luís Borges e Gabriel Garcia Márquez), além de tradições judaicas e lembranças da infância, que fizeram parte da sua história. Muito atento às situações-limite que degradam a vida humana, Scliar combina em seus textos indícios de uma realidade bastante concreta com cenas absolutamente fantásticas. A convivência entre realismo e fantasia é harmoniosa e dela nascem os desfechos surpreendentes presentes em seus textos. 39 Em sua obra são freqüentes questões de identidade judaica, do cotidiano da Medicina e do mundo da mídia, como por exemplo acontece no conto ”O dia em que matamos James Cagney”, presente nesta antologia. 40 Lygia Fagundes Telles Antes do baile verde Lygia Fagundes Telles O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos à Luís XV e sua porta-estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide, os cachos desabados na testa, a cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalhada pelo asfalto. O negro do bumbo fez uma profunda reverência diante das duas mulheres debruçadas na janela e prosseguiu com seu chapéu de três bicos, fazendo rodar a capa encharcada de suor. — Ele gostou de você — disse a jovem, voltando-se para a mulher que ainda aplaudia. — O cumprimento foi na sua direção, viu que chique? A preta deu uma risadinha. — Meu homem é mil vezes mais bonito, pelo menos na minha opinião. E já deve estar chegando, ficou de me pegar às dez na esquina. Se me atraso, ele começa a encher a caveira e pronto, não sai mais nada. A jovem tomou-a pelo braço e arrastou-a até a mesa-de-cabeceira. O quarto estava revolvido como se um ladrão tivesse passado por ali e despejado caixas e gavetas. — Estou atrasadíssima, Lu! Essa fantasia é fogo... Tenha paciência, mas você vai me ajudar um pouquinho. — Mas você ainda não acabou? Sentando-se na cama, a jovem abriu sobre os joelhos o saiote verde. Usava biquíni e meias rendadas também verdes. — Acabei o quê! falta pregar tudo isso ainda, olha aí... Fui inventar um raio de pierrete dificílima! 43 A preta aproximou-se, alisando com as mãos o quimono de seda brilhante. Espetado na carapinha trazia um crisântemo de papel-crepom vermelho. Sentou-se ao lado da moça. — O Raimundo já deve estar chegando, ele fica uma onça se me atraso. A gente vai ver os ranchos, hoje quero ver todos. — Tem tempo, sossega — atalhou a jovem. Afastou os cabelos que lhe caíam nos olhos. Levantou o abajur que tombou na mesinha. — Não sei como fui me atrasar desse jeito. — Mas não posso perder o desfile, viu, Tatisa? Tudo, menos perder o desfile! — E quem está dizendo que você vai perder? A mulher enfiou o dedo no pote de cola e baixou-o de leve nas lantejoulas do pires. Em seguida, levou o dedo até o saiote e ali deixou as lantejoulas formando uma constelação desordenada. Colheu uma lantejoula que escapara e delicadamente tocou com ela na cola. Depositou-a no saiote, fixando-a com pequenos movimentos circulares. — Mas se tiver que pregar as lantejoulas em todo o saiote... —Já começou a queixação? Achei que dava tempo e agora não posso largar a coisa pela metade, vê se entende! Você ajudando vai num instante, já me pintei, olha aí, que tal minha cara? Você nem disse nada, sua bruxa! Hein?... Que tal? — Ficou bonito, Tatisa. com o cabelo assim verde, você está parecendo uma alcachofra, tão gozado. Não gosto é desse verde na unha, fica esquisito. Num movimento brusco, a jovem levantou a cabeça para respirar melhor. Passou o dorso da mão na face afogueada. — Mas as unhas é que dão a nota, sua tonta. É um baile verde, as fantasias têm que ser verdes, tudo verde. Mas não precisa ficar me olhando, vamos, não pare, pode falar, mas vá trabalhando. Falta mais da metade, Lu! — Estou sem óculos, não enxergo direito sem os óculos. — Não faz mal — disse a jovem, limpando no lençol o excesso de cola que lhe escorreu pelo dedo. — Vá grudando de qualquer jeito que lá dentro ninguém vai reparar, vai ter gente à beça. O que está me endoidando é este calor, não agüento 44 mais, tenho a impressão de que estou me derretendo, você não sente? Calor bárbaro! A mulher tentou prender o crisântemo que resvalara para o pescoço. Franziu a testa e baixou o tom de voz. — Estive lá. — E daí? — Ele está morrendo. Um carro passou na rua, buzinando freneticamente. Alguns meninos puseram-se a cantar aos gritos, o compasso marcado pelas batidas numa frigideira: A coroa do rei não é de ouro nem de prata... — Parece que estou num forno — gemeu a jovem, dilatando as narinas porejadas de suor. — Se soubesse, teria inventado uma fantasia mais leve. — Mais leve do que isso? Você está quase nua, Tatisa. Eu ia com a minha havaiana, mas só porque aparece um pedaço da coxa o Raimundo implica. Imagine você então... com a ponta da unha, Tatisa colheu uma lantejoula que se enredara na renda da meia. Deixou-a cair na pequena constelação que ia armando na barra do saiote e ficou raspando pensativamente um pingo ressequido de cola que lhe caíra no joelho. Vagava o olhar pelos objetos, sem fixar-se em nenhum. Falou num tom sombrio: — Você acha, Lu? — Acha o quê? — Que ele está morrendo? — Ah, está sim. Conheço bem isso, já vi um monte de gente morrer, agora já sei como é. Ele não passa desta noite. — Mas você já se enganou uma vez, lembra? Disse que ele ia morrer, que estava nas últimas... E no dia seguinte ele já pedia leite, radiante. — Radiante? — espantou-se a empregada. Fechou num muxoxo os lábios pintados de vermelho violeta. — E, depois, eu não disse não senhora que ele ia morrer, eu disse que ele estava ruim, foi o que eu disse. Mas hoje é diferente, Tatisa. Espiei da porta, nem precisei entrar para ver que ele está morrendo. 45 — Mas quando fui lá ele estava dormindo tão calmo, Lu. — Aquilo não é sono. É outra coisa. Afastando bruscamente o saiote aberto nos joelhos, a jovem levantou-se. Foi até a mesa, pegou a garrafa de uísque e procurou um copo em meio da desordem dos frascos e caixas. Achou-o debaixo da esponja de arminho. Soprou o fundo cheio de pó-de-arroz e bebeu em largos goles, apertando os maxilares. Respirou de boca aberta. Dirigiu-se à preta. — Quer? — Tomei muita cerveja, se misturo dá ânsia. A jovem despejou mais uísque no copo. — Minha pintura não está derretendo? Veja se o verde dos olhos não borrou... Nunca transpirei tanto, sinto o sangue ferver. — Você está bebendo demais. E nessa correria... Também não sei por que essa invenção de saiote bordado, as lantejoulas vão se desgrudar todas no aperto. E pior é que não posso caprichar, com o pensamento no Raimundo lá na esquina... — Você é chata, não, Lu? Mil vezes fica repetindo a mesma coisa, taque-taque-taque-taque! Esse cara não pode esperar um pouco? A mulher não respondeu. Ouvia com expressão deliciada a música de um bloco que passava já longínquo. Cantarolou em falsete: Acabou chorando... acabou chorando... — No outro Carnaval entrei num bloco de sujos e me diverti à grande. Meu sapato até desmanchou de tanto que dancei. — E eu na cama, podre de gripe, lembra? Neste quero me esbaldar. — E seu pai? Lentamente a jovem foi limpando no lenço as pontas dos dedos esbranquiçados de cola. Tomou um gole de uísque. Voltou a afundar o dedo no pote. — Você quer que eu fique aqui chorando, não é isso que você quer? Quer que eu cubra a cabeça com cinza e fique de joelhos rezando, não é isso que você está querendo? — Ficou 46 olhando para a ponta do dedo coberto de lantejoulas. Foi deixando no saiote o dedal cintilante. — Que é que eu posso fazer? Não sou Deus, sou? Então? Se ele está pior, que culpa tenho eu? — Não estou dizendo que você é culpada, Tatisa. Não tenho nada com isso, ele é seu pai, não meu. Faça o que bem entender. — Mas você começa a dizer que ele está morrendo! — Pois está mesmo. — Está nada! Também espiei, ele está dormindo, ninguém morre dormindo daquele jeito. — Então não está. A jovem foi até a janela e ofereceu a face ao céu roxo. Na calçada, um bando de meninos brincava com bisnagas de plástico em formato de banana, esguichando água um na cara do outro. Interromperam a brincadeira para vaiar um homem que passou vestido de mulher, pisando para fora nos sapatos de saltos altíssimos. ”Minha lindura, vem comigo, minha lindura!” — gritou o moleque maior, correndo atrás do homem. Ela assistia à cena com indiferença. Puxou com força as meias presas aos elásticos do biquíni. — Estou transpirando feito um cavalo. Juro que se não tivesse me pintado, me metia agora num chuveiro, besteira a gente se pintar antes. — E eu não agüento mais de sede — resmungou a empregada, arregaçando as mangas do quimono. — Ai! uma cerveja bem geladinha. Gosto mesmo é de cerveja, mas o Raimundo prefere cachaça. No ano passado, ele ficou de porre os três dias, fui sozinha no desfile. Tinha um carro que foi o mais bonito de todos, representava um mar. Você precisava ver aquele monte de sereias enroladas em pérolas. Tinha pescador, tinha pirata, tinha polvo, tinha tudo! Bem lá em cima, dentro de uma concha abrindo e fechando, a rainha do mar coberta de jóias... — Você já se enganou uma vez — atalhou a jovem. — Ele não pode estar morrendo, não pode. Também estive lá antes de você, ele estava dormindo tão sossegado. E hoje cedo 48 até me reconheceu, ficou me olhando, me olhando e depois sorriu. Você está bem papai?, perguntei e ele não respondeu, mas vi que entendeu perfeitamente o que eu disse. — Ele se fez de forte, coitado. — De forte, como? — Sabe que você tem o seu baile, não quer atrapalhar. — Ih, como é difícil conversar com gente ignorante — explodiu a jovem, atirando no chão as roupas amontoadas na cama. Revistou os bolsos de uma calça comprida. — Você pegou meu cigarro. — Tenho minha marca, não preciso dos seus. — Escuta, Luzinha, escuta — começou ela, ajeitando a flor na carapinha da mulher. — Eu não estou inventando, tenho certeza de que ainda hoje cedo ele me reconheceu. Acho que nessa hora sentiu alguma dor porque uma lágrima foi escorrendo daquele lado paralisado. Nunca vi ele chorar daquele lado, nunca. Chorou só daquele lado, uma lágrima tão escura... — Ele estava se despedindo. — Lá vem você de novo, merda! Pare de bancar o corvo, até parece que você quer que seja hoje. Por que tem que repetir isso, por quê? — Você mesmo pergunta e não quer que eu responda. Não vou mentir, Tatisa. A jovem espiou debaixo da cama. Puxou um pé de sapato. Agachou-se mais, roçando os cabelos verdes no chão. Levantou-se, olhou em redor. E foi-se ajoelhando devagarinho diante da preta. Apanhou o pote de cola. — E se você desse um pulo lá só para ver? — Mas você quer ou não que eu acabe isto? — a mulher gemeu exasperada, abrindo e fechando os dedos ressequidos de cola. — O Raimundo tem ódio de esperar, hoje ainda apanho! A jovem levantou-se. Fungou, andando rápido num andar de bicho na jaula. Chutou o sapato que encontrou no caminho. — Aquele médico miserável. Tudo culpa daquela bicha. Eu bem disse que não podia ficar com ele aqui em casa, eu disse 49 que não sei tratar de doente, não tenho jeito, não posso! Se você fosse boazinha, você me ajudava, mas você não passa de uma egoísta, uma chata que não quer saber de nada. Sua egoísta! — Mas Tatisa, ele não é meu pai, não tenho nada com isso, até que ajudo muito sim senhora, como não? Todos esses meses quem é que tem agüentado o tranco? Não me queixo porque ele é muito bom, coitado. Mas tenha a santa paciência, hoje não! Já estou fazendo demais aqui plantada quando devia estar na rua. com um gesto fatigado, a jovem abriu a porta do armário. Olhou-se no espelho. Beliscou a cintura. — Engordei, Lu. — Você, gorda? Mas você é só osso, menina. Seu namorado não tem onde pegar. Ou tem? Ela ensaiou com os quadris um movimento lascivo. Riu. Os olhos animaram-se: — Lu, Lu, pelo amor de Deus, acabe logo que à meianoite ele vem me buscar. Mandou fazer um pierrô verde. — Também já me fantasiei de pierrô. Mas faz tempo. — Vem num Tufão, viu que chique? — Que é isso? — É um carro muito bacana, vermelho. Mas não fique aí me olhando, depressa, Lu, você não vê que... — Passou ansiosamente a mão no pescoço. — Lu, Lu, por que ele não ficou no hospital?! Estava tão bem no hospital... — Hospital de graça é assim mesmo, Tatisa. Eles não podem ficar a vida inteira com um doente que não resolve, tem doente esperando até na calçada. — Há meses que venho pensando nesse baile. Ele viveu sessenta e seis anos. Não podia viver mais um dia? A preta sacudiu o saiote e examinou-o a uma certa distância. Abriu-o de novo no colo e inclinou-se para o pires de lantejoulas. — Falta só um pedaço. — Um dia mais... só — Vem me ajudar, Tatisa, nós duas pregando vai num instante. Agora ambas trabalhavam num ritmo acelerado, as mãos indo e vindo do pote de cola ao pires e do pires ao saiote, curvo como uma asa verde, pesada de lantejoulas. — Hoje o Raimundo me mata — recomeçou a mulher, grudando as lantejoulas meio ao acaso. Passou o dorso da mão na testa molhada. Ficou com a mão parada no ar. — Você não ouviu? A jovem demorou para responder. — O quê? — Parece que ouvi um gemido. Ela baixou o olhar. — Foi na rua. Inclinaram as cabeças irmanadas sob a luz amarela do abajur. — Escuta, Lu, se você pudesse ficar hoje, só hoje — começou ela num tom manso. Apressou-se: — Eu te daria meu vestido branco, aquele meu branco, sabe qual é? E também os sapatos, estão novos ainda, você sabe que eles estão novos. Você pode sair amanhã, você pode sair todos os dias, mas pelo amor de Deus, Lu, fica hoje! A empregada empertigou-se, triunfante. — Custou, Tatisa, custou. Desde o começo eu já estava esperando. Ah, mas hoje nem que me matasse eu ficava, hoje não. — O crisântemo caiu enquanto ela sacudia a cabeça. Prendeu-o com um grampo que abriu entre os dentes. — Perder esse desfile? Nunca! Já fiz muito — acrescentou, sacudindo o saiote. — Pronto, pode vestir. Está um serviço porco, mas ninguém vai reparar. — Eu podia te dar o casaco azul — murmurou a jovem, limpando os dedos no lençol. — Nem que fosse para ficar com meu pai eu ficava, ouviu isso, Tatisa? Nem com meu pai, hoje não. Levantando-se de um salto, a moça foi até a garrafa e bebeu de olhos fechados mais alguns goles. Vestiu o saiote. 51 — Brrrr! Esse uísque é uma bomba — resmungou, aproximando-se do espelho. — Anda, venha aqui me abotoar, não precisa ficar aí com essa cara. Sua chata. A mulher tateou os dedos por entre o tule. — Não acho os colchetes. A jovem ficou diante do espelho, as pernas abertas, a cabeça levantada. Olhou para a mulher, através do espelho: — Morrendo coisa nenhuma, Lu. Você estava sem os óculos quando entrou no quarto, não estava? Então não viu direito, ele estava dormindo. — Pode ser que me enganasse mesmo. — Claro que se enganou. Ele estava dormindo. A mulher franziu a testa, enxugando na manga do quimono o suor do queixo. Repetiu como um eco: — Estava dormindo, sim. — Depressa, Lu, faz uma hora que está com esses colchetes! — Pronto — disse a outra, baixinho, enquanto recuava até a porta. — Não precisa mais de mim, não é? — Espera! — ordenou a moça, perfumando-se rapidamente. Retocou os lábios, atirou o pincel ao lado do vidro destapado. —Já estou pronta, vamos descer juntas. — Tenho que ir, Tatisa! — Espera, já disse que estou pronta — repetiu, baixando a voz. — Só vou pegar a bolsa... — Você vai deixar a luz acesa? — Melhor, não? A casa fica mais alegre assim. No topo da escada ficaram mais juntas. Olharam na mesma direção: a porta estava fechada. Imóveis como se tivessem sido petrificadas na fuga, as duas mulheres ficaram ouvindo o relógio da sala. Foi a preta quem primeiro se moveu. A voz era um sopro: — Quer ir dar uma espiada, Tatisa? — Vá você, Lu... Trocaram um rápido olhar. Bagas de suor escorriam pelas têmporas verdes da jovem, um suor turvo como o sumo de uma casca de limão. O som prolongado de uma buzina foi-se 52 fragmentando lá fora. Subiu poderoso o som do relógio. Brandamente a empregada desprendeu-se da mão da jovem. Foi descendo a escada na ponta dos pés. Abriu a porta da rua. — Lu! Lu! — a jovem chamou num sobressalto. Continha-se para não gritar. — Espera aí, já vou indo! E apoiando-se ao corrimão, colada a ele, desceu precipitadamente. Quando bateu a porta atrás de si, rolaram pela escada algumas lantejoulas verdes na mesma direção, como se quisessem alcançá-la. 53 O comum e o avesso da vida Sensível e profunda, a obra de Lygia Fagundes Telles mostra várias facetas do ser humano A escritora Lygia Fagundes Telles nasceu na cidade de São Paulo, onde mora até hoje. Porém, quando era criança, — Lygia passou por várias cidades do interior paulista, acompanhando o pai, promotor público. E a menina não se importava tanto, desde que sempre tivesse quem lhe contasse histórias novas e compartilhasse as que ela mesma inventava. Lygia começou a escrever seus primeiros textos ainda adolescente, mas desde menina já tinha uma imaginação privilegiada. Foi premiada ao publicar seu segundo livro pela Academia Brasileira de Letras, sendo uma das primeiras mulheres a fazer parte de tal instituição. Sua obra extensa de prosadora é profundamente sensível ao registro da vida cotidiana e suas personagens femininas são muito marcantes. Tanto que, dentre seus romances, Ciranda de Pedra (1954) e As Meninas (1973) trazem protagonistas fortes e inesquecíveis. Retalhos de vida, frustrações e desejos são a matériaprima com a qual Lygia registra e questiona, em romances e contos, não apenas o mundo feminino, mas também a condição humana. 54 Voltaire A dança Voltaire Sétoc precisava fazer uma viagem de negócios à ilha de Serendib; mas, estando no primeiro mês de seu casamento, que, como se sabe, é a lua-de-mel, não podia deixar sua mulher, nem sequer pensar que pudesse fazê-lo um dia: ele pediu a seu amigo Zadig que fizesse a viagem em seu lugar. — Pobre de mim! — lamentava-se Zadig. — Será preciso que eu aumente ainda mais a distância que há entre mim e minha bela Astartéia? Mas eu tenho de servir aos meus benfeitores. Disse, chorou e partiu. Não precisou passar muito tempo em Serendib para ser visto como um homem extraordinário. Tornou-se o árbitro de todas as disputas entre os negociantes, o amigo dos sábios, o conselheiro daquele pequeno número de pessoas que querem conselhos. O rei quis vê-lo e ouvi-lo. Percebeu logo todo o valor de Zadig; confiou em sua sabedoria e fê-lo seu amigo. A familiaridade e a estima do rei assustaram Zadig. Dia e noite ele pensava nos infortúnios que lhe tinham causado as atenções que recebera de Moabdar. ”O rei gosta de mim”, pensava ele. ”Não estarei perdido?” Contudo, não se podia furtar às amabilidades de Sua Majestade: porque, verdade seja dita, Nabussan, rei de Serendib, filho de Nussanab, filho de Nabassun, filho de Sanbusná, era um dos melhores príncipes da Ásia e, quando se falava com ele, era difícil não amá-lo. Esse bom príncipe era sempre louvado, enganado e roubado; era como se houvesse uma disputa para ver quem mais 57 lhe pilhava os tesouros. O recebedor-geral da ilha de Serendib era o primeiro a fazer isso, sendo fielmente seguido pelos outros. O rei sabia disso: várias vezes já mudara o recebedor; mas não pudera mudar o modo já estabelecido de dividir as rendas do rei em duas partes desiguais, ficando sempre a menor para Sua Majestade e a maior para seus administradores. O rei Nabussan confiou seu problema ao sábio Zadig. — Vós, que conheceis tantas e tão belas coisas, por acaso não saberíeis me dizer como encontrar um tesoureiro que não me roube? — perguntou ele. — Certamente. Conheço uma forma infalível de encontrar um homem que tenha as mãos limpas — respondeu Zadig. O rei, encantado, abraçando-o, perguntou-lhe o que devia fazer para conseguir isso. — Basta — disse Zadig — mandar que dancem todos aqueles que se candidatarem ao cargo de tesoureiro. Aquele que dançar com mais leveza será com toda certeza o homem mais honesto. — Estais a zombar de mim — disse o rei. — Eis uma maneira muito estranha de escolher alguém para cuidar de minha fortuna. Ora! Quereis dizer que quem fizer o melhor entrechat será o tesoureiro mais íntegro e mais capaz? — perguntou o rei. — Eu não vos disse que será o mais capaz — retorquiu Zadig. — Mas vos asseguro que, sem sombra de dúvida, será o homem mais honesto. Zadig falava com tanta segurança que o rei supôs que ele tivesse algum dom sobrenatural para conhecer administradores de finanças. — Não gosto de coisas sobrenaturais — disse Zadig. — Sempre me desagradaram pessoas e livros ligados a milagres e prodígios; se Vossa Majestade permitir que eu faça a prova que proponho, haverá de se convencer de que meu segredo é a coisa mais simples e sem mistérios. Nabussan, rei de Serendib, espantou-se muito mais em ouvir que o segredo era simples do que se lho tivessem apresentado como um milagre. 58 — Pois bem — disse ele. — Podeis fazer como vos aprouver. — Deixai que o faça — disse Zadig. — Vossa Majestade haverá de ganhar muito mais do que imagina. No mesmo dia, Zadig fez publicar, em nome do rei, que todos os que aspirassem ao cargo de recebedor-geral de Sua Graciosa Majestade Nabussan, filho de Nussanab, fossem, em trajes de seda leve, na primeira noite da lua do crocodilo, à antecâmara do rei. Lá compareceram sessenta e quatro pessoas. Trouxeram-se violinos para a sala contígua; estava tudo pronto para o baile; mas a porta do salão estava fechada e, para entrar lá, era preciso passar por uma pequena galeria, bastante escura. Um porteiro ficou encarregado de acompanhar cada candidato a essa passagem, onde eram deixados alguns instantes a sós. O rei, que já estava bem avisado, expusera todos os seus tesouros na galeria. Quando todos os candidatos haviam chegado ao salão, Sua Majestade ordenou que dançassem. Jamais se dançou de forma tão pesada e tão desajeitada. Todos mantinham a cabeça baixa, as costas curvadas, as mãos coladas ao corpo. — Que gatunos! — dizia baixinho Zadig. Apenas um entre eles dançava com leveza, a cabeça levantada, o olhar seguro, os braços estendidos, o corpo ereto, os jarretes firmes. — Ah, que homem honesto! Que homem bom! — dizia Zadig. O rei abraçou aquele bom dançarino, nomeou-o tesoureiro e todos os outros foram acusados e punidos com toda justiça: porque todos eles, no momento em que se encontravam sozinhos no corredor, haviam enchido os bolsos e mal conseguiam andar. O rei se tomou de desgosto pela natureza humana, pelo fato de haver sessenta e três gatunos entre os sessenta e quatro dançarinos. A galeria escura foi chamada Corredor da Tentação. Se o caso se tivesse dado na Pérsia, esses sessenta e três senhores teriam sido empalados; em outros países, eles seriam submetidos a um processo cujo custo se elevaria ao triplo do valor roubado, que não haveria de voltar aos cofres do soberano; em um outro reino, eles teriam provado sua completa inocência, fazendo com que o dançarino mais lépido 59 caísse em desgraça; em Serendib, foram condenados apenas a aumentar o tesouro público, porque Nabussan era muito complacente. Era também muito reconhecido; ele deu a Zadig uma soma em dinheiro muito maior do que jamais um tesoureiro foi capaz de roubar ao rei, seu senhor. Zadig a usou para enviar mensageiros à Babilônia, que deviam se informar sobre o destino de Astartéia. A voz lhe tremeu ao dar essa ordem, o sangue refluiu ao coração, os olhos se turvaram, sua alma por pouco não o abandonou. O mensageiro partiu, Zadig viu-o embarcar; ele voltou para o palácio do rei sem enxergar ninguém, como se estivesse em seu quarto, pronunciando a palavra ”amor”. — Ah! O amor — disse o rei. — É justamente disso que se trata. Vós adivinhais o meu tormento. Sois um grande homem! Espero que me ensineis a conhecer uma mulher de suma virtude, como me fizestes encontrar um tesoureiro desinteressado. Zadig, caindo em si, prometeu ajudá-lo no amor como o fizera nas finanças, embora isso lhe parecesse uma coisa ainda mais difícil. Tradução de Luciano Vieira Machado 61 Voltaire A sátira como tempero da história Voltaire é pseudônimo literário de François-Marie Arouet, escritor francês que nasceu em 1694 e morreu em 1778. De família rica, Voltaire começou a freqüentar a corte ainda bastante jovem, onde logo se destacou pela inteligência e pelo comportamento irreverente que o levou, inclusive, à prisão e ao exílio. Na verdade, Voltaire tinha idéias muito avançadas para aquele tempo. Em pleno Absolutismo, em que tudo era controlado pelo poder real, inclusive a religião e as idéias divulgadas pelas pessoas, Voltaire pregava liberdade de expressão (dizia que ”liberdade de pensamento é a vida da alma”) e dizia que sua religiosidade não passava pela igreja (sendo que o clero também era muito poderoso na época). A força crítica de seus escritos teria contribuído para a Revolução Francesa, em 1789, marco da chamada Idade Moderna. O texto ”A dança” foi extraído do livro Zadig que, com o título de Memnon, histoire orientais, foi publicado pela primeira vez em 1747. Neste livro, é narrada uma série de aventuras Por suas idéias avançadas, Voltaire chegou a ser preso e exilado 62 vividas por um sábio da Babilônia durante sua viagem pelo Oriente, onde ele vive experiências ricas para aprender mais sobre o caráter humano. Este texto é uma oportunidade única de se entrar em contato com a marca registrada de Voltaire: a denúncia irônica dos desmandos sociais e a representação impiedosamente ridícula dos poderosos, temas sempre atuais. 63 Conversa de comadres a espera da morte Guido Fidelis - Dona Encarnação melhorou? — Na mesma. — Coitada! — É a vontade de Deus! — O padre... Já veio? — Sim. Disse que está encomendada, orações foram feitas, é esperar os desígnios do Senhor para a consumação. Barulho de xícaras, Dona Conceição, mulher robusta, espécie de líder religiosa, aparece, carrega enorme bandeja de plástico, serve café e torradas, as mulheres se animam, umas dez ou doze, comadres e vizinhas, conversam, fazem indagações, mistérios que precisam ser resolvidos. — Será que ela passa de hoje? — Não sei... Já é tempo, muita agonia, merece descansar. — Vamos rezar um terço, pedir para que sua alma ganhe liberdade... — Sei de um remédio infalível. — Pra quê? — Pra morte, ora. — Acha que ela pode melhorar? — Não, não é isso. — O que, então? — Para puxar a morte, chamar a morte, abreviar, sabe como é. 67 — Sei não. — Minha mãe sempre contava. Pessoas que estão na pior, querem a morte, que ela apresse o trabalho para acabar logo a agonia. Melhor que ficar na dor... — Credo! — Deus me livre! — Virgem Maria! — Como é? — Fácil. — Conta. — Velhos escravos usavam o método, infalível, minha querida. — Pecado mortal. — Bruxaria. — Crime. — A gente pode acabar na cadeia. — Não é crime. — Vai dar veneno? — Cuidado, ela guarda um revólver na gaveta, preto, feio, já vi. — Nada disso. — O que é, então? — Apenas abrir as portas para a morte. Ela entra devagar, suave, termina e vai embora, como passarinho. — De que jeito? — Silêncio que eu conto tudinho. As mulheres se aquietam. Dona Carola abre a janela, espreita, não quer nenhum espião rondando, grita com o menino que urina na parede: — Caia fora, seu peste! O menino ri, faz careta, mostra a língua, balança o pau e o ombro, permanece. Dona Carola fecha a janela, está sem jeito, senta-se para ouvir a explicação de Dona Terezinha, mulher prática, que já participou de mais de uma centena de velórios, lavou e trocou cadáveres, não se impressiona mais com o hálito da morte. 68 — A gente dá um banho em Dona Encarnação, que fica preparada para o grande encontro. Bota uma roupa branca, lembrança dos tempos de virgindade, que é pureza de alma... — Mas ela nunca foi tão pura... — Verdade? — Lógico, comadre, você nunca soube? — Não. Conte! — Depois, deixe Dona Terezinha explicar... — Não, não, fale primeiro. — Será? — Conte, vá! — Não seja chata. — Aguça a curiosidade da gente... — Bem... Dona Frutuosa sorri, deixa em destaque a boca, grande, tinta de batom, arranha a garganta com o pigarro, acende o cigarro sem filtro, encara as amigas, segreda: — Juro, juro por esses olhos... — Não precisa, vamos, conte. — Isso mesmo, fale logo. — Não agüento esperar. — Sabe... fraquezas... todas nós temos nossos momentos, foi há muito tempo, ela era casada, antes de enviuvar-se, o marido saía para trabalhar, como todos os maridos que se prezam e que se levantam cedo, ela ficava sozinha, solitária, sem filhos, sabe, é duro ficar olhando as paredes limpas, vinha o entregador de jornal e entrava, ficava umas duas horas e se mandava, sabe lá Deus o que aprontavam na cama, ouvi dizer que o rapaz era fogo, também, em plena juventude... — Não pode ser. — Incrível. — Mas é a verdade. E tem mais. Deu também uns pulos com o sonso do seu Joaquim, aquela cara de desentendido, sempre a errar nas contas, a seu favor, lógico, que não é besta de voltar troco a mais. — Quem diria! 69 — Aquela expressão de santa nunca me enganou. — Deixa pra lá, é perigoso cuspir pra cima, muitas outras mulheres do bairro também tiveram suas aventuras. Sei de muitas, tantas... Tosses, barulho de xícaras, inquietação, clima tenso, volta o silêncio, as mulheres acham que é melhor que Dona Terezinha conclua sua explicação a respeito do método infalível, descoberta de velhos escravos, para invocar a morte na agonia, acabar com o sofrimento. Dona Terezinha sente súbito alívio, como se colocasse o rosto úmido de suor debaixo da torneira e sentisse a água fria refrescar o calor da pele. — Certo, certo. Como dizia, a gente ajeita Dona Encarnação, que fica à espera do abraço da morte, em nome de Deus todo-poderoso e da Santíssima Virgem Maria. — Será que não vamos ter remorsos depois? — Não. Já ajudei muitas pessoas. É ato piedoso. — Está bem, então conte logo. — Ela fica estendida na cama, lamparina de óleo acesa no oratório para iluminar o caminho, azeite bento, basta quebrar três ovos, retirar as claras e passar na fronte, é um remédio santo, o caminho lubrificado se abre, florida avenida, a morte penetra leve, no silêncio, e a alma se liberta da prisão, transforma-se em luz. — Oh! — Belo, muito belo! — Pai nosso. — Piedade, Deus! As mulheres trocam olhares, há clima de angústia, decisão difícil, escolha do método, mais difícil que a escolha do caixão, a funerária apresenta várias sugestões, modelos de luxo, de primeira, de segunda... Uma delas levanta questão de vital importância: — Dona Encarnação é uma pessoa solitária, não teve filhos, o marido morreu, não tem parente, ao que consta. Bem... recebe pensão... possui outros bens... E... isso... nós teremos de arcar com as despesas do enterro. 70 — É mesmo. — Puxa! — Não tinha pensado. — Diabo. — Custa caro? — Tenho solução... vocês vão achar justo... — Qual é? — Que tal se fizéssemos uma distribuição, entre nós, dos objetos de Dona Encarnação? Penso que ela ficaria feliz, nós, suas amigas, guardando as melhores recordações... — Apoiado. — Aprovado. — Não há mal nenhum. — Será que não dá galho? — Que nada. — Melhor nós que o governo, que fica com tudo. — Então... — Apenas os bens e o dinheiro que está na caixinha. — Que caixinha? — Uma de madeira que ela guarda na gaveta do guarda-roupa, sabe, fui pegar uma muda de roupa e achei, deve ter uns quarenta mil, a gente retira mil para o enterro e pronto... — Muito justo. — Em parcelas iguais. — Os bens, de acordo com a predileção, sei que comadre Carola sempre cobiçou as sapatas de prata... — Não é bem assim, apenas gosto delas, são lindas! — Dona Terezinha fica com os castiçais de estanho... — Obrigada. — Para Dona Conceição, que gosta de cozinha, o faqueiro e o jogo de chá. — Perfeito. — O rádio, o liqüidificador, o anel de pedra preta... Os bens, inventariados, foram distribuídos e repartidos em igualdade fraterna, perfeito socialismo entre as mulheres, todas pertencentes à Irmandade de Santo Antônio, benemérita 72 medida, afinal, sendo só, melhor que os haveres fiquem com elas, a casa será fechada mesmo. Decidido o destino de todas as posses as mulheres resolveram anuir, preparam-se para abrir o caminho para a morte. Barulho no quarto. Sobressaltam-se, pode ser ladrão, o diabo, o padre, alguém pode ter ouvido a conversa. Dona Encarnação aparece, como se tivesse regressado do inferno, olhos parados, fixos: — Fora, fora suas vagabundas, ainda vou enterrar muitas de vocês... 73 Guido Fidelis Histórias ásperas do dia-a-dia Guido Fidelis é paulista de Altinópolis, onde nasceu em 1939. Jornalista atuante, com passagem pelo famoso jornal Última Hora, Fidelis é também advogado e, claro, escritor. Autor de diversos livros de ficção, entre contos e romances, ele define seus textos como ”pedaços ásperos do dia-a-dia, a miséria humana em preto-ebranco, a dança de prantos dos desesperados”. Colaborou com diversos jornais do país como cronista. Sua linguagem é tão cortante como as histórias que conta. A ironia com que revela o que se esconde por trás de cenas do cotidiano torna seu texto um retrato sem retoques do ser humano. O texto que você acabou de ler é fiel a essa proposta de literatura-denúncia. Em ”Conversa de comadres à espera da morte”, o leitor se envolve em uma trama de interesses mesquinhos, hipocrisia e maledicência, num cenário interiorano que poderia localizar-se em qualquer canto do mundo. Uma revelação ao mesmo tempo perspicaz e incômoda sobre a vida de todos nós. Os textos de Guido Fidelis mostram as mazelas do ser humano, sem retoques 74 Katherine Mansfield Casa de Bonecas Katherine Mansfield Quando a querida sra. Hay voltou para a cidade após ter passado uns dias com os Burnell, ela mandou para as crianças uma casa de bonecas. Era tão grande que o entregador e Pat carregaram-na para o quintal, e lá ela ficou, escorada em duas caixas de madeira ao lado da porta do celeiro. Ela não poderia se estragar: era verão. E, além disso, talvez o cheiro de tinta tivesse desaparecido quando fosse a hora de levá-la para dentro. Pois, realmente, o cheiro de tinta que vinha daquela casa de bonecas (”Que encantadora a velha sra. Hay! Tão encantadora e generosa!”)... mas o cheiro de tinta era forte o bastante para deixar qualquer um seriamente doente, na opinião da tia Beryl. Mesmo antes de se retirar a embalagem. E quando foi retirada... Lá estava a casa de bonecas, de um verde escuro, oleoso, espinafre, realçado com amarelo brilhante. Suas duas sólidas chaminezinhas, coladas no telhado, pintadas de vermelho e branco, e a porta, reluzente de verniz amarelo, era como uma pequena barra de caramelo. Quatro janelas, janelas de verdade, eram divididas em painéis por uma grossa risca verde. Havia de fato uma pequena varanda, com grandes gomos de tinta coagulada pendendo ao longo do beiral. Que casinha mais perfeita! Quem iria se importar com o cheiro? Era parte da alegria, parte da novidade. — Alguém abra isso logo! O gancho lateral estava preso com firmeza. Pat o fez saltar com seu canivete e toda a frente da casa deslizou para trás 77 e... lá estavam todos, abarcando num só olhar a sala de estar e a sala de jantar, a cozinha e os dois quartos. Esse é o jeito de uma casa se abrir! Por que todas as casas não se abrem assim? É muito mais excitante do que espiar pela fenda de uma porta para ver um reles vestíbulo com um porta-chapéus e duas sombrinhas! É isso o que se deseja saber de uma casa quando se põe a mão na maçaneta, não é? Talvez seja desse modo que Deus abre casas altas horas quando está dando um passeio calmo com um anjo... — O-oh! As filhas dos Burnell exclamaram como se estivessem desesperadas. Era incrivelmente maravilhoso. Era demais para elas. Nunca tinham visto nada parecido em suas vidas. Todos os cômodos tinham papel de parede. Havia quadros nas paredes, pintados sobre o papel, com molduras douradas e tudo. Todo o piso, com exceção da cozinha, era coberto de carpete vermelho. Cadeiras de pelúcia vermelha na sala de estar, verde na sala de jantar. Mesas, camas com lençóis de verdade, um berço, um fogão, um aparador com minúsculos pratos e uma grande jarra. Mas aquilo de que Kezia gostou mais, aquilo de que gostou mesmo, foi o lampião. Ele estava no centro da mesa de jantar, um delicado lampiãozinho de âmbar com um globo branco. Estava inclusive cheio, prontinho para ser aceso, embora, é claro, não fosse conveniente acendê-lo. Mas havia algo dentro dele que parecia querosene e que se mexia quando era sacudido. O boneco-pai e a boneca-mãe, estatelados e rijos como se tivessem desmaiado na sala de estar, e seus dois filhinhos, adormecidos no primeiro andar, eram na verdade grandes demais para a casa de bonecas. Pareciam destoar ali. Mas o lampião era perfeito. Ele parecia sorrir para Kezia, dizendolhe: ”Eu moro aqui”. O lampião era de verdade. As filhas dos Burnell não sabiam como ir mais depressa rumo à escola na manhã seguinte. Ardiam por contar a todo mundo, por descrever, por... bem... por se gabar da casa de bonecas antes que a sineta tocasse. 78 — Eu é que vou contar — disse Isabel —, porque sou a mais velha. Vocês duas podem falar depois. Mas eu conto primeiro. Não havia o que contestar. Isabel era mandona, mas sempre tinha razão, e Lottie e Kezia conheciam bem demais os poderes que cabiam à mais velha. Passaram rapidamente pelos espessos ranúnculos à beira da estrada sem nada dizer. — E sou eu que vou escolher quem vai lá em casa para ver primeiro. Mamãe disse que eu podia. Afinal, tinha sido combinado que, enquanto a casa de bonecas permanecesse no quintal, elas poderiam convidar as meninas da escola, duas por vez, para vir e olhar. Não para ficar para o chá, é claro, ou para sair fuçando pela casa. Mas só para ficarem quietas de pé no quintal, enquanto Isabel apontava as belezas — Lottie e Kezia pareceram satisfeitas. Mas, apesar de toda a rapidez, no momento em que alcançaram a cerca coberta de alcatrão do pátio dos meninos, a sineta começou a trinar. Tiveram tempo apenas de arrancar os chapéus e entrar na fila antes de ser feita a chamada. Não importa. Isabel tentou compensar aquilo assumindo um ar muito importante e misterioso e cochichando com a mão na boca para as meninas perto de si: — Tenho uma coisa para lhes contar no recreio. Chegou o recreio e Isabel foi cercada. As meninas de sua classe quase brigaram para colocar os braços em torno dela, para puxá-la de lado, para bajulá-la com sorrisos, para ser sua melhor amiga. Uma verdadeira corte se formara à sua volta sob os enormes pinheiros ao lado do pátio. Acotovelando-se, dando risinhos juntas, as meninas se apinharam perto dela. E as duas únicas que ficaram fora do círculo foram as duas que estavam sempre de fora, as pequenas Kelvey. Elas sabiam que era melhor não se aproximar das Burnell. O fato é que a escola que as filhas dos Burnell freqüentavam estava longe de ser o tipo de lugar que seus pais teriam escolhido se tivesse havido escolha. Mas não houve. Era a única escola num raio de quilômetros. E a conseqüência era que 79 todas as crianças das redondezas — as filhas do juiz, as do médico, os filhos do dono do armazém e do leiteiro — eram forçadas a se misturar. Sem falar que também havia um número igual de garotos rudes e grosseiros. Mas a linha divisória tinha de ser traçada em algum lugar. E foi traçada nas Kelvey. Muitas das crianças, incluindo as Burnell, não tinham permissão sequer de falar com elas. Passavam pelas Kelvey com o nariz empinado, e como elas ditavam moda em tudo o que dizia respeito a comportamento, todo mundo evitava as Kelvey. Até mesmo a professora tinha um tom de voz especial para elas, e um sorriso especial para as outras crianças quando Lil Kelvey se aproximava de sua mesa com um ramo de flores horrivelmente vulgares. Eram filhas de uma lavadeirinha lépida e trabalhadeira, que passava o dia todo indo de uma casa para outra. Aquilo era terrível o bastante. Mas onde estava o sr. Kelvey? Ninguém sabia ao certo. Mas todos diziam que estava na cadeia. Então eram filhas de uma lavadeira e de um preso. Excelente companhia para os filhos dos outros! E elas não negavam a raça. Era difícil entender por que a sra. Kelvey deixava aquilo tão evidente. A verdade é que ela as vestia com ”retalhos” dados pelas pessoas para quem trabalhava. Lil, por exemplo, que era uma menina corpulenta e sem graça, com grandes sardas, ia à escola com um vestido feito de uma toalha de mesa de sarja verde dos Burnell, com mangas de pelúcia vermelha das cortinas dos Logan. Seu chapéu, pendurado no topo de sua testa alta, era um chapéu de mulher adulta, antiga propriedade da srta. Lecky, funcionária do Correio. Tinha a parte de trás virada para cima, enfeitada com uma grande pluma escarlate. Como ela parecia um garotinho! Era impossível não rir. E sua irmãzinha, nossa Else, usava um longo vestido branco, que mais parecia uma camisola, e um par de botas de menino. Mas qualquer coisa que vestisse faria nossa Else parecer estranha. Era um gravetinho de gente, com cabelo cortado rente e enormes olhos solenes — uma corujinha branca. Ninguém jamais a vira sorrir, e quase nunca falava. Levava a vida agarrada 80 à irmã, com um pedaço da saia de Lil preso à sua mão. Aonde Lil fosse, nossa Else a seguia. No pátio, na estrada indo à escola e voltando, lá estava Lil marchando à frente e nossa Else agarrada atrás. Apenas quando queria alguma coisa, ou quando ficava sem fôlego, é que nossa Else dava um puxão em Lil, e Lil parava e se voltava. As Kelvey nunca deixavam de se entender. Agora elas rondavam por perto; era impossível impedilas de ouvir. Quando as meninas se voltaram e a olharam com desdém, Lil, como de hábito, abriu seu sorriso tolo e acanhado, mas nossa Else apenas olhou. E a voz de Isabel, tão cheia de orgulho, continuou a contar. O carpete causou grande sensação, mas também as camas com lençóis de verdade e o fogão com o forno que se abria. Quando ela terminou, Kezia interveio: — Você esqueceu o lampião, Isabel. — Oh, sim — disse Isabel. — E tem também um lampiãozinho, todo feito de vidro amarelo, com um globo branco, em cima da mesa de jantar. Dá para a gente jurar que é de verdade. — O lampião é o melhor de tudo — gritou Kezia. Ela achava que Isabel não estava dando ao lampiãozinho todo o crédito que ele merecia. Mas ninguém prestou atenção. Isabel estava escolhendo as duas que voltariam com elas à tarde para ver. Escolheu Emmie Cole e Lena Logan. Mas quando as demais souberam que todas teriam sua vez não sabiam o que fazer para agradar Isabel. Uma a uma, puseram o braço em torno da cintura de Isabel e a puxaram para o canto. Tinham algo a cochichar, um segredo: — Isabel é minha amiga. Só as Kelvey se afastaram, esquecidas. Para elas não havia mais nada o que ouvir. Os dias se passaram, e à medida que mais crianças a viam, a fama da casa de bonecas se espalhava. Tornou-se o único assunto, a coqueluche. A única pergunta era: ”Você viu a casa de bonecas das Burnell? Oh, não é uma graça?” ”Você não viu? Oh, que pena!” 81 Nem mesmo na hora de comer elas desistiam de falar daquilo. As meninas se sentavam sob os pinheiros comendo seus fartos sanduíches de carneiro e grandes broas de milho besuntadas de manteiga. Enquanto isso, as Kelvey, como sempre, se sentavam tão perto quanto podiam, nossa Else agarrada a Lil, ambas mascando seus sanduíches de geléia, envoltos em papel-jornal manchado com grandes borrões vermelhos... — Mamãe — dizia Kezia —, posso convidar as Kelvey só uma vez? — É claro que não, Kezia. — Mas por que não? — Deixe disso, Kezia, você sabe muito bem por quê. Por fim, todo mundo tinha visto a casa de bonecas, menos elas. Por isso, naquele dia o assunto já tinha murchado. Era a hora do lanche. As meninas estavam juntas sob os pinheiros quando, de repente, ao olharem para as Kelvey comendo em seu papel-jornal, sempre sozinhas, sempre ouvindo, tiveram vontade de maltratá-las. Emmie Cole começou o fuxico: — Lil Kelvey vai ser empregada doméstica quando crescer. — O-oh, que horror! — disse Isabel Burnell, lançando um olhar cúmplice para Emmie. Emmie engoliu de um modo muito significativo e balançou a cabeça para Isabel, como vira sua mãe fazer em tais ocasiões. — É verdade... é verdade... é verdade — dizia ela. Então os olhinhos de Lena Logan piscaram depressa. — E se eu perguntar a ela? — cochichou. — Aposto que não tem coragem — disse Jessie May. — Ora, se não tenho — disse Lena. Subitamente, deu um gritinho e começou a dançar diante das outras meninas. — Olhem! Olhem para mim! Olhem só para mim! — disse Lena. E deslizando, saltitando, arrastando um pé, rindo furtivamente, Lena chegou até as Kelvey. Lil desviou o olhar de seu lanche. Embrulhou o resto depressa. Nossa Else parou de mastigar. O que ia acontecer agora? 83 — É verdade que você vai ser empregada doméstica quando crescer, Lil Kelvey? — disse Lena com voz estridente. Silêncio mortal. Mas, em vez de responder, Lil abriu apenas seu sorriso tolo e acanhado. Não parecia importar-se em nada com a pergunta. Que decepção para Lena! As meninas começaram a abafar risinhos. Lena não pôde agüentar aquilo. Pôs as mãos na cintura e disparou: — Seu pai está na cadeia, não é? — sibilou, com desprezo. Era algo tão maravilhoso ter dito aquilo que as meninas saíram todas em disparada, muito, muito excitadas, loucas de alegria. Alguém achou uma corda comprida, e começaram a pular. E nunca pularam tão alto, correndo para dentro e para fora tão rápidas, nunca fizeram coisas tão ousadas como naquela manhã. À tarde, Pat veio buscar as Burnell de charrete, e todos foram para casa. Havia visitas. Isabel e Lottie, que gostavam de visitas, subiram as escadas para trocar seus aventais. Mas Kezia escapuliu pelos fundos. Não havia ninguém por ali. Ela começou a balançar nos grandes portões brancos do quintal. Dentro em pouco, olhando para a estrada, viu dois pequenos pontos. Eles foram crescendo, vindo na direção dela. Agora ela podia ver que um estava na frente e o outro, logo atrás. Agora podia ver que eram as Kelvey. Kezia parou de balançar. Escorregou pelo portão como se estivesse prestes a sair correndo. Então hesitou. As Kelvey se aproximaram mais, e atrás delas vinham suas sombras, muito compridas, esticando-se retas pela estrada com as cabeças nos ranúnculos. Kezia voltou a trepar no portão; tinha tomado uma decisão; escorregou para fora. — Olá — disse para as Kelvey que passavam. Elas ficaram tão atônitas que pararam. Lil abriu seu sorrisinho tolo. Nossa Else ficou olhando fixamente. — Vocês podem entrar e ver nossa casa de bonecas se quiserem — disse Kezia, esfregando um dedão do pé na terra. Mas diante daquilo Lil corou e balançou a cabeça vigorosamente. — Por que não? — perguntou Kezia. 84 Lil respirou ofegante, depois disse: — Sua mãe disse à nossa mãe que você não podia falar com a gente. — Ah, sei — disse Kezia. Ela não sabia o que responder. — Não importa. Vocês podem entrar e ver nossa casa de bonecas do mesmo jeito. Venham. Ninguém está vendo. Mas Lil sacudiu a cabeça com mais força ainda. — Você não quer? — perguntou Kezia. De repente, houve um puxão na saia de Lil. Ela se voltou. Nossa Else olhava para ela com grandes olhos suplicantes; franzia o cenho; queria ir. Por um momento Lil olhou cheia de dúvida para nossa Else. Mas então nossa Else puxou-lhe novamente a saia. Lil deu um passo adiante. Kezia mostrou o caminho. Como dois gatinhos perdidos, elas a seguiram pelo quintal onde estava a casa de bonecas. — Aí está — disse Kezia. Houve uma pausa. Lil respirava pesadamente, quase bufando. Nossa Else estava quieta como uma pedra. — Vou abrir para vocês — disse Kezia, gentil. Soltou o gancho e elas olharam para dentro. — Aqui é a sala de estar e a sala de jantar, e ali é... — Kezia! Oh, que pulo elas deram! — Kezia! Era a voz da tia Beryl. Elas se voltaram. Na porta dos fundos estava a tia Beryl, de olhos arregalados como se não conseguisse acreditar no que via. — Como se atreve a trazer as Kelvey para o quintal? — disse a voz fria e irada. — Você sabe tanto quanto eu que não tem permissão de falar com elas. Vão embora, meninas, vão embora já. E não voltem mais — disse a tia Beryl. Ela então marchou para o quintal e enxotou-as para fora como se fossem galinhas. — Fora daqui imediatamente! — gritou, fria e orgulhosa. Não foi preciso mandar duas vezes. Ardendo de vergonha, encolhidas uma na outra, Lil precipitou-se para fora 85 como sua mãe fazia, enquanto nossa Else parecia atordoada. Atravessaram como puderam o grande quintal e se espremeram pelo portão branco. — Menina má, desobediente! — disse amargamente a tia Beryl para Kezia, batendo a porta da casa de bonecas. A tarde tinha sido horrível. Chegara uma carta de Willie Brent, uma carta terrível, ameaçadora, dizendo que se ela não fosse encontrá-lo aquela noite em Pulman’s Bush ele viria na porta da frente perguntar por quê! Mas agora que ela tinha espantado aquelas ratinhas das Kelvey e dado uma boa bronca em Kezia, seu coração parecia mais leve. Aquela pressão assustadora tinha passado. Voltou para dentro de casa cantarolando. Quando a casa dos Burnell ficou fora de suas vistas, as Kelvey se sentaram para descansar sobre um grande cano vermelho na beira da estrada. O rosto de Lil ainda ardia. Tirou o chapéu com a pluma e o pousou no joelho. com olhar sonhador, contemplaram por cima dos pastos de feno, na outra margem do riacho, a cerca do curral, onde as vacas dos Logan ficavam esperando para serem ordenhadas. Em que estavam pensando? De repente, nossa Else cutucou de leve a irmã. Já tinha esquecido a mulher zangada. Esticou um dedo e buliu na pluma do chapéu de Lil. Sorriu seu raro sorriso. — Eu vi o lampiãozinho — disse ela, devagar. Em seguida, as duas se calaram novamente. 86 Katherine Mansfield Uma intérprete sensível do mundo feminino Nascida na Nova Zelândia em 1888, Katherine Mansfield acompanhou a família em mudança para a Inglaterra, passando a viver em Londres. Rompeu com as estreitezas de horizontes que sua época reservava às mulheres e foi além da obrigação de casamento e filhos: ao invés disso, Katherine freqüentou as rodas literárias de seu tempo, convivendo com escritores como D.H. Lawrence e Virginia Woolf. Teve uma carreira literária meteórica: aos 23 anos lançou seu primeiro livro e aos 25, vítima de uma tuberculose, acabou falecendo. Katherine é considerada figura ímpar da literatura de língua inglesa, principalmente no gênero do conto. Costuma focalizar em sua obra episódios corriqueiros e personagens comuns, retratando-os com extrema sensibilidade. Em seus contos nota-se a influência de Anton Tchekhov, escritor russo (1860-1904), já que, assim como ele, Katherine também detém-se nos pequenos detalhes que compõem o ser humano. É o universo feminino, sobretudo, que ganha realcê Katherine Mansfield rompeu os padrões de sua época ao freqüentar salões literários. 87 em seus livros, fazendo o leitor contemplar aspectos incomuns do ser humano. Nos textos de Katherine Mansfield diferentes desejos e sonhos entram em conflito, numa espécie de revelação súbita e surpreendente do mistério da vida, como você pôde verificar em ”A casa de bonecas”. 88 Lima Barreto A nova Califórnia Lima Barreto Ninguém sabia donde viera aquele homem. O agente do Correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes... Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. — Vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção: um forno na sala de jantar! E, pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia — um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa; para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um ”credo” em voz baixa; e, não fora a intervenção 91 do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou tranqüilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam e não era raro que às ”boas noites” acrescentassem ”doutor”. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que os cercavam... Em poucos dias a admiração pelo sábio era quase geral, e não o era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao partido situacionista, embirrava com o sábio. ”Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse 92 tipo... Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do Rio.” A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Não que Felino fosse químico, longe disso; mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do Capitão Felino, e mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: ”Não há dúvida. O homem tem talento, mas escreve: ’um outro’, ’de resto’...” E contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Felino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio... Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar dois dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Felino avaro de palavras, limitando-se tão-somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. ”Eu asseguro, dizia o agente do Correio, que...” Por aí, o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica: ”Não diga ’asseguro’, Senhor Bernardes; em português é ’garanto’”. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Felino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival, que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloqüência: não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso — pai da pobreza —, e o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. 93 — Uma descoberta... Mas não me convém, por ora, comunicar ao mundo sábio, compreende? — Perfeitamente. — Por isso precisava de três pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em firma, para resguardar a prioridade da minha invenção... O senhor sabe: há acontecimentos imprevistos e... — Certamente! Não há dúvida! — Imagine o senhor que se trata de fazer ouro... — Como? O quê?, fez Bastos, arregalando os olhos. — Sim! Ouro!, disse, com firmeza, Flamel. — Como? — O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? — com certeza, é preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto... — Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor; as outras duas, o Senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos e, ao fim de uns três minutos, perguntou: — O Coronel Bentes lhe serve? Conhece? — Não. O senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. — Posso garantir-lhe que é homem sério, rico e muito discreto. — É religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem... — Qual! É quase ateu... — Bem! Aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais consultando a sua memória... Por fim, falou: — Será o Tenente Carvalhais, o coletor, conhece? 94 II Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse e, certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de detrás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava e foi quase em uma exclamação que disse: — Doutor, seja bem-vindo. O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente, olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: — Desejava falar-lhe em particular, Senhor Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem, cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez... Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a ”mão” descansar no gral, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor: — Como o senhor deve saber, dedico-me à química, tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio... — Sei perfeitamente, doutor, mesmo tenho disso informado, aqui, aos meus amigos. — Obrigado. Pois bem: fiz uma grande descoberta, extraordinária... Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou: 95 — Como já lhe disse... — É verdade. É homem de confiança, sério, mas... — Que é que tem? — É maçom. — Melhor. — E quando é? — Domingo. Domingo, os três irão lá em casa assistir à experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. — Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as três pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel, e, dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. in Tubiacanga era uma pequena cidade de três ou quatro mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde, os expressos davam a honra de parar. Havia cinco anos não se registrava nela um furto ou roubo. As portas e janelas só eram usadas... porque o Rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro fora um assassinato por ocasião das eleições municipais; mas, atendendo que o assassino era do partido do governo, e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória! Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio; não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria; era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas 96 as religiões e consciências: violavam-se as sepulturas do ”Sossego”, do seu cemitério, do seu campo-santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os; foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados; no outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta, foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os seis presbiterianos do lugar — os bíblicos, como lhes chama o povo; clamava o Agrimensor Nicolau, antigo cadete, e positivista do rito Teixeira Mendes; clamava o Major Camanho, presidente da Loja Nova Esperança; clamavam o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao deus-dará, bebericando parati nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da estrada de ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la — a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do Rio? Decerto, não; mas era a Morte, a Morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem-feito e num 97 túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes... O mais indignado, porém, era Felino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando: ”Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam: o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do ’Sossego’”. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz; os negócios estavam paralisados; os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e, à noite, todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais... Parecia que os mortos pediam vingança... O saque, porém, continuava. Toda noite eram duas, três sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas, em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro e, pela madrugada, já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia o coveiro verificou que duas sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. Dez homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira; mas, na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar dois dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões, que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa e, quando, de manhã, se tratou de estabelecer a identidade dos dois malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o Coletor Carvalhais e o Coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente 98 da Câmara. Este último ainda vivia e, a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria ao papel de ladrão de mortos se a coisa não fosse verdade! Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles! O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças... Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los; e aqueles dois ou três milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fossem uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o subdelegado pôde impedir que varejassem a botica e conseguir que ficassem na praça, à espera do homem que tinha o segredo de toda uma Potosí1. Ele não tardou a aparecer. Trepado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã, Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo, se lhe poupassem a vida. ”Queremos já sabê-lo”, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos — trabalho longo que só poderia ser entregue impresso 1 Potosí, no sul da Bolívia, outrora era considerada a cidade mais rica da América por extrair grande quantidade de prata de suas minas. (N.E.) 100 no dia seguinte. Houve um murmúrio, alguns chegaram a gritar, mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docemente, com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da estrada de ferro. Ao jantar, não se falou em outra coisa. O doutor concatenou o que ainda sabia do seu curso e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta: ouro é ouro, corpo simples, e osso é osso, um composto, fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa outra era ”besteira”. Cora aproveitou o caso para rir-se petropolimente da crueldade daqueles botocudos; mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou a janela e correu em direitura do cemitério; Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem juntas à colheita de ossos. Não a encontrou, foi sozinha; e Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía; a mulher, julgando enganar o marido, saía; os filhos, as filhas, os criados — toda a população, sob a luz das estrelas assombradas, correu ao satânico rendezvous no ”Sossego”. E ninguém faltou. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o Major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com os seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sânie das sepulturas, arrancava as carnes, ainda podres, agarradas tenazmente aos ossos e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia e as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentiam o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta... A desinteligência não tardou a surgir; os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve 101 facadas, tiros, cachações. Felino esfaqueou o turco por causa de um fêmur e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram. Andaram juntos e de acordo e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de onze anos, até aconselhou ao pai: ”Papai, vamos aonde está mamãe; ela era tão gorda...” De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que recebera em trinta anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas: fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda, meio aberta, e nela não encontrando ninguém, enchera uma garrafa de parati e se deixara ficar a beber sentado na margem do Tubiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito — ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo à fuga do farmacêutico, com a sua Potosí e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. 10-11-1910 102 Lima Barreto A voz e a vez da periferia Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e lá faleceu em 1922. Mulato, pobre e com graves problemas de saúde, sofreu na sociedade ainda preconceituosa e com resquícios Homens escravocratas do começo do século XX. Não obstante seu afastamento das rodas literárias daquele tempo, em que os autores se encontravam em cafés e confeitarias para discutir literatura (tudo muito distante do universo periférico de Lima Barreto, que ainda trabalhava como funcionário público para sustentar a família), ele escreveu uma obra extensa e variada, sendo hoje considerado um dos escritores mais importantes da língua portuguesa. Não foi, claro, quase reconhecido na época. Na verdade, seus textos cheios de veracidade e críticas sociais eram antes vistos como incômodos por muita gente. com sua literatura tornou-se um renovador da nossa prosa, para a qual trouxe um tom coloquial e despretensioso, além de atuar como porta-voz de uma camada da população Lima Barreto fez uma literatura critica, expondo os contrastes da sociedade 103 até então ausente da literatura: os pobres, os oprimidos, os discriminados. O conto ”A Nova Califórnia” mergulha o leitor na vida de uma cidadezinha do interior brasileiro, onde valores éticos são postos à prova a partir da chegada de uma misteriosa personagem e a promessa de riqueza fácil. Como sempre uma visão irônica e mordaz do comportamento humano. Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro em 1922, vítima de um colapso cardíaco. 104 Lourenço Diaféria Os gatos pardos da noite Lourenço Diaféria A batida policial para agarrar o ladrão aconteceu logo no começo da madrugada. As informações diziam que o homem se escondia ali no barraco de tábuas, onde dormia com os olhos abertos, os bolsos recheados de munição e dois revólveres de prontidão. Àquela hora ainda estava muito escuro, porque na pirambeira não havia luz de mercúrio nas ruas, nem nada. O céu também não tinha a mínima lua. Cautelosamente os tiras saltaram da viatura com as armas embaladas e bateram na porta do barraco suspeito. — Abram, é a polícia. Dentro do barraco, Maria do Rosário, dezenove anos, acordou assustada e se pôs a tremer como uma bobinha. Não podia imaginar o que a autoridade queria com eles assim tão tarde. Chamou o marido. Estremunhando, ele demorou a entender o que a mulher falava e o que os homens gritavam lá fora. Sentou na cama, esfregou os olhos. Acordava muito cedo, mas o corpo moído de cansaço sabia que ainda não era a hora de levantar. Estavam agora batendo perto da janela. E nos fundos da casa. Parecia que o barraco estava cercado. O marido não podia acreditar que fosse a polícia. Por isso não ia abrir porta nenhuma, não era louco, tinha mulher em casa, e filho. 107 Devia ser o mesmo bando de arruaceiros que ficava enchendo a cara na biboca e viera ali querendo puxar briga. Mas ele não ia dar corda. Além disso, estava em desvantagem. A violência das pancadas aumentou. Alguém chutava a porta do barraco. O marido de Maria do Rosário costumava dormir com um calção folgado amarrado na cintura por um cordão de tecido. O marido suspendeu e ajustou o calção, tratando de tatear um pedaço de pau qualquer para escorar os trancos na porta. Não teve tempo de se levantar. A folha de madeira cedeu, deixando entrar no cômodo abafado um pouco de luz amarela. O homem se abaixou instintivamente, como um bicho. Os pêlos de seus braços estavam molhados de medo. Cachorros vira-latas faziam bulha ao longe, mas ele somente percebeu os latidos quando um silêncio estranho tomou conta de tudo. Sentia-se a respiração que vinha de fora. O rosto do homem fixava o quadro da porta, onde a qualquer momento ia aparecer um lobisomem. Maria do Rosário levou a mão direita ao rosto, sem saber se tapava a boca ou os olhos. Na cama, a criança iniciou o berreiro. De repente a luz amarela se apagou. Os tiras se jogaram para dentro do barraco, despejando fogo. Não houve reação, a não ser gritos e mais choro. Nesse exato momento uma pequena bala de chumbo, entre outras, era expulsa do tambor e começava a movimentar-se no túnel raiado do cano de um revólver oxidado. Como se tivesse asas, a bala saltou na escuridão e voou imperceptivelmente como o zumbido inocente de uma mosca. O vôo foi tão rápido e seco que cortou um gemido ao meio. Depois disso a viatura dos investigadores encostou no barraco com os faróis ligados. Maria do Rosário apertou o botão da pêra e acendeu a lâmpada de quarenta velas. O esparramo não tinha respeitado nem o penico. O homem de calção estava coberto por uma curiosa cor levemente esverdeada. Suas mãos estavam presas por algemas. Apontou com o dedo a carteira de trabalho no fundo da gaveta da cômoda. 108 Não era o ladrão, embora tivesse a cara assustada de um vulgar ladrão. Um dos policiais pensou em pedir desculpas pelo engano. Maria do Rosário se aproximou do berço. com um pequeno furo na cabeça, onde se alojara a bala, seu filho Claudemir, de dezoito meses, acabava de morrer. Um fio de sangue escorria; a chupeta caíra da boca no chão de terra batida. Nenhum deles se sentia exatamente o culpado de nada, porque a bala não tinha dono único. O dedo no gatilho fora uma operação de rotina, como uma cirurgia de ablação. Às vezes até os doutores cortam a perna errada. Tecnicamente, não passara de um trabalho de equipe concluído bisonhamente. Lamentável, porém compreensível. Mais tarde, o policial tomaria café com sua esposa e os filhos e explicaria: foi um acidente. E completaria: à noite todos os gatos são pardos. Dormiria algumas horas, faria a barba, tomaria banho. Deixaria a água escorrer pelo corpo, lavaria os cabelos com xampu contra caspa. Diante do espelho levaria um susto: começava a ficar careca. Era o fim. Sua mulher trouxe o jornal: — Você viu o que estão falando? Seu coração disparou. Procurou entre as notícias qualquer coisa que o arrancasse daquela ansiedade. Não ia agüentar muito tempo a estúpida tensão. Mas o anúncio lá estava, no alto da página, limpando a barra: ”O professor Norman Orentreich, da Universidade de Nova York, anunciou publicamente que no máximo dentro de dois anos será descoberto o remédio para a cura da calvície, graças às recentes pesquisas sobre o androgênio, hormônio feminino que atua no crescimento dos cabelos”. Sorriu tranqüilo. E perguntou à mulher o que tinha para o almoço. 110 Lourenço Diaféria Histórias da cidade grande Nascido em 1933, no bairro paulistano do Brás, Lourenço Diaféria confessa ser irremediavelmente apaixonado por sua cidade. Da infância rigorosamente urbana guarda imagens de sua convivência com os ferroviários da antiga Central do Brasil, cujos trilhos corriam vizinhos ao seu quintal. As levas de migrantes que desembarcavam na Estação do Norte e passavam diante de sua casa, assim como os costumes peculiares que assinalavam as festas do bairro, acabaram por imprimir e misturar tons de melancolia e humor em suas narrativas paulistanas. Jornalista de longa data, Diaféria capta cenas curiosas, singelas e dramáticas em meio ao cotidiano contraditório de São Paulo. Lourenço Diaféria costuma contar que em suas caminhadas pela cidade aproveita para observar os desvãos da cidade e seus habitantes anônimos, que são, certamente, seus temas preferidos. A maior inspiração de Lourenço Diaféria para escrever seus textos é a cidade de São Paulo. 111 O texto de Diaféria constrói uma realidade feita de concreto, poluição, violência e um ritmo vertiginoso de acontecimentos e de emoções, comum à vida nas grandes cidades. E essa radiografia paulistana é a marca de suas crônicas tanto para jornais e rádio quanto para os livros que escreve. Em todas elas, Lourenço evidencia o tom emotivo com que descreve os detalhes das cenas cotidianas. 112 Artur Azevedo O Custodinho Artur Azevedo Quando rebentou a revolta de 6 de setembro de 1831, o Sr. Menezes, empregado público, mostrou-se na sua repartição de uma reserva prudente, mas em casa, no seio da família, era de um custodio feroz. — Oh! o Custódio!... Aquele é o meu homem!... Em 9 de setembro o entusiasmo do Sr. Menezes esfriou consideravelmente: havia já dois dias que contava com o seu homem no palácio de Itamaraty; mas no dia 13, depois do famoso bombardeio que pôs a população em sobressalto, voltaram-lhe os ímpetos do primeiro dia. Na madrugada de 14 ele saiu de casa expressamente para escrever a carvão no muro branco de uma chácara próxima: ”O Custódio na ponta!” ”De uma baioneta!” — acrescentou no dia seguinte, também a carvão, um florianista igualmente anônimo; e a pilhéria de tal forma exacerbou o Sr. Menezes, que dona Augusta, sua desvelada esposa, teve um susto ao vê-lo entrar em casa desfigurado e apoplético. 1 Nesta data teve início o episódio nacional conhecido como a Revolta da Armada Liderado pelo almirante Custódio José de Melo (1840-1902), o movimento visava derrubar o então presidente Floriano Peixoto (1839-1895), que acabou vencendo os conspiradores. O fato de Floriano governar com austeridade, mais a situação tensa que vivia o Brasil com a iniciante Republica levaram ao fanatismo político tanto os seguidores de Floriano quanto seus adversários (N E ) 115 Daí em diante começou para o Sr. Menezes uma existência de oscilação política. Quando pela primeira vez o Aquidaban saiu barra fora, o nosso homem quase endoideceu de alegria; levou o entusiasmo ao ponto de esvaziar, à sobremesa, em família, uma velhíssima garrafa de vinho do Porto, que havia muitos anos esperava um momento de grande júbilo para ser desarrolhada. Entretanto, qualquer contratempo que sofressem os revoltosos acabrunhava-o profundamente. As explosões do Mocanguê e da ilha do Governador puseram-no de cama; o sossobro do Javary fê-lo ficar taciturno e sorumbático durante oito dias; o combate da Armação tirou-lhe completamente o apetite. Por esse tempo já o almirante Custódio José de Melo deixara de ser o ídolo do Sr. Menezes, que lhe não perdoava o ter partido para o Sul, deixando a ”esquadra libertadora” tão mal defendida no porto do Rio de Janeiro. Num dia em que dona Augusta — que nada entendia de política e era custodista apenas em virtude do preceito divino que manda a mulher acompanhar o marido — num dia em que dona Augusta, dizíamos, se referiu à ”esquadra de papelão, que não entrava nem nada”, o Sr. Menezes atalhou furioso: — Qual papelão! Isso é uma história! De papelão sou eu, que tomei o Custódio a sério! Depois dessa frase, desse grito do coração, que causou grande pasmo à família do Sr. Menezes, ninguém mais em casa o ouviu em assuntos políticos. Eram uns restos de pudor, porque na repartição — onde até então recusara manifestar-se — ele já se mostrava partidário decidido do governo, e muitos colegas o consideravam jacobino. 116 A pobre senhora estava para cada hora. O marido, nos momentos em que qualquer sucesso das armas revoltosas o punha de bom humor, dava-lhe no ventre umas pancadinhas de afeto, e dizia: — Há de ser um custodista enragél Quando dona Augusta deu à luz um rapagão que parecia ter já um mês de nascido, o Sr. Menezes convidou imediatamente para padrinho da criança o comendador Baltazar, que também manifestava grande simpatia pela revolta, dizendo sempre que era estrangeiro e nada tinha com isso. — Comendador, disse-lhe o Sr. Menezes, compete-lhe, como padrinho, escolher o nome que o pequeno há de receber na pia batismal; permita, entretanto, que lhe lembre um... — Qual? — Custódio. — Bravo!, aprovou o padrinho; não é um bonito nome, mas é nome de um grande homem, de um brasileiro ilustre, de um valente marinheiro! — Então está dito? Custódio? — Custódio. No dia seguinte o comendador Baltazar, com medo de que alguma bala lhe desse cabo do canastro, tomou o trem para Minas. — Só estarei de volta depois de terminado este lamentável estado de coisas. Quando eu regressar, batizaremos o Custodinho. 117 O Custodinho ia se desenvolvendo ao troar da artilharia fratricida, e dona Augusta mostrava-se bastante contrariada pela demora do batizado. O comendador Baltazar continuava em Minas. — Meu Deus! quando se batizará ao Custodinho?, perguntava ela de instante a instante. Todas as vezes que ouvia esse nome, o Sr. Menezes tinha um olhar oblíquo, inexprimível; mas calava-se, para não dar o braço a torcer, para que em casa não dissessem que ele pensava hoje uma coisa e amanhã outra. Chegou, afinal, o memorável dia 13 de março, e o Sr. Menezes, certo que ia haver no porto do Rio de Janeiro um combate sanguinolento e horroroso, meteu-se com a família num dos hospitaleiros galpões que a Intendência Municipal mandou construir nos subúrbios para abrigo da população. Como tantos outros, o pai do Custodinho imaginou que o barulho produzido pela pólvora seca da vitória fosse um tiroteio medonho, e, enquanto ouviu tiros ao longe, guardou um silêncio profundo, mostrando-se apreensivo e inquieto. Caiu-lhe a alma aos pés (se é que ele a tinha) quando no dia seguinte se convenceu de que os revoltosos haviam se refugiado a bordo do Mindello. Ainda assim, não se manifestou diante de dona Augusta, testemunha implacável do seu custodismo intransigente. O Sr. Menezes receava que a família fizesse um juízo desfavorável ao seu caráter. Poucos dias depois, o comendador Baltazar voltava de Minas, e ia ter com o pai da criança. 119 — Aqui estou de torna-viagem, meu caro compadre; quando quiser, batizemos o Custodinho. Enquanto pôde, o Sr. Menezes protelou o batizado, mas dona Augusta, impaciente de ver o pimpolho livre do pecado original, exigiu formalmente que a cerimônia se realizasse o mais depressa possível. Assim foi. Marcou-se, afinal, o dia do batizado, e esse dia chegou. No momento em que os padrinhos e a família entravam nos carros que os deviam levar à igreja, o Sr. Menezes recebeu, por um vizinho, a notícia de que o almirante Custódio abandonara também o Rio Grande. Coitado! Metia dó! Na igreja. Estão todos em volta da pia batismal. Aparece o vigário e dá começo à cerimônia. No momento oportuno volta-se para o padrinho e pergunta: — O nome da criança? — Custódio, responde o comendador Baltazar. — Perdão!, exclama o Sr. Menezes com um esforço supremo, o pequeno chama-se Floriano. 120 Artur Azevedo Um retrato bem-humorado do nosso país Irmão do também escritor Aluísio Azevedo, Artur Azevedo nasceu em 1855 em São Luís do Maranhão, mas viveu durante anos no Rio de Janeiro. Lá, escreveu quase duzentas peças de teatro que divertiam as platéias da então capital do país. Juntamente com Machado de Assis, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Inspirada no dia-a-dia de gente comum e na vida política brasileira, a obra de Artur Azevedo é marcada quase sempre pela bem-humorada crítica de costumes. Além de peças teatrais, escreveu pequenos textos humorísticos, como o que você leu aqui. Ao representar saborosamente a oscilação das opções políticas do protagonista de ”Custodinho”, Artur Azevedo o torna exemplo de uma incrível (e atual) inconstância ideológica. Faleceu em 1906, no Rio de Janeiro, deixando uma obra importante para o teatro nacional. Os textos bem-humorados de Azevedo estão cheios de críticas à sociedade. 121 Paloma Álvaro Cardoso Gomes Bauru, 20 de Fevereiro de 1975 querida mamãe: E Espero que esta vá encontrá-la gozando saúde como é o meu maior desejo. Estou cheio de saudades da senhora, e a todo momento rezo a Deus para que me perdoe do grande desgosto que lhe dou. Mas, apesar de tudo, sou ainda o filho que muito lhe quer e que só a fatalidade empurrou para o abismo. Reze por mim, mamãe, pois sofro muito e pago as penas de outros, neste grande mundo de sofrimento, dor e injustiças. A finalidade desta é pedir-lhe ajuda, bem como esclarecer o meu triste caso que os jornais insistiram, na sede de sangue, em transformar em escabrosidade. Da última vez que nos vimos, senti-me embargado pela emoção (Lembra-se de como choramos um nos braços do outro?) e incapaz de contar-lhe um pouquinho que fosse de meu caso. Mas hoje boto os pingos nos is e tenho certeza de que compreenderá o seu infausto filho, vendo que me portei à altura dos acontecimentos. Afinal, o Dr. Naércio teve o que merecia. Sempre me perseguiu, sem levar em conta minhas qualidades profissionais. Um dia, lá mesmo, no ”Rodrigues Alves”, me disse que eu podia ter mais tempo de casa, mas que as aulas da noite eram da Neuza que só tem diploma primário. O Dr. Naércio era useiro e vezeiro em proteger seus apaniguados. Dava-me as piores classes; lembra-se quando lhe falei daquele cafajeste, 125 o Luís Américo, filho do Prefeito? Pois bem, me desfeiteou na frente dele. Onde teria eu autoridade para controlar a 3a B? Depois ainda do caso com Paloma... e a coisa ficou horrível. Embora me proibisse, mamãe, que tocasse no nome dela, minha honra de homem e a vontade que tenho de esclarecer as coisas me impedem que o faça. Mas deixo isto para depois, o importante é que a senhora fale com o Tio Mazinho. Ele tem grande influência política e pode me ajudar. Quando falaram que eu vinha para cá, pensei até que fosse bom, mas a Colônia Penal é igual a qualquer inferno por aí. O caso é que não me deixam em paz. Quem manda aqui é um preso chamado João Pirata que cobra proteção e sei lá mais o quê. Estou completamente ao deus-dará, nas mãos do diabo. O João Pirata diz que um dia me estripa todo. Aí lhe disse que já tinha matado um e que não hesitaria em matar outro. Mas não sabia que o João Pirata era protegido: guardas carcereiros, todo mundo é corrompido. O Diretor me mudou de ala, mas recebo ameaças dia e noite. Maldito o dia em que entrei nesta vida. Aviso-lhe, no entanto, mamãe, que Paloma não tem culpa, que ela é vítima também da situação e da educação que recebeu. Faz tempo recebi uma carta dela em que me pede perdão por ter-me levado para a desgraça. Olhe este trecho e veja se ela não é uma mulher de coração: ”Tenha a certeza que lhe amo muito apesar de tudo. Se não tivesse esta desgraça, seríamos felizes, como deve estar sofrendo o coitadinho”. Ela não tem culpa, mamãe. Agora lhe conto tudo — eu que sempre fui rebelde — porque me abro com a sra. como se a sra. fosse um padre. As penas do sofrimento deixam a gente como se estivesse no Inferno e precisasse do auxílio de quem nos criou e nos deu o primeiro amor que houve na face da Terra. Paloma me contou que muitas vezes passou diante de casa e que queria entrar e chorar com a sra., mas que sentia vergonha, mulher desgraçada que é, com medo que a sra. a escorraçasse. Mas a sra. não faria isto, não é? Conto-lhe tudo, mamãe: conheci Paloma em lugar mal-afamado, na Vila Teresinha. Me contou 126 toda a desgraça de sua vida: que só tinha mãe; o padrasto abusou dela ainda menina. Me contou com lágrimas nos olhos. Ela disse que fez tudo para regenerar-se, costurava, cozinhava, aprendeu a ler e datilografia, mas a cidade grande engole todo mundo. Ainda por cima, tinha de aparecer o Dr. Naércio no nosso caminho. Cafajeste de marca maior, sempre com aqueles salamaleques. O que sofri nas mãos dele não foi brinquedo. A justiça que fiz com as próprias mãos foi pouco; é certo, a sra. deve chorar quando ler estas linhas. Deve ser-lhe muito duro dizer ASSASSINO lá no fundo de si, compreendendo que o filho que saiu de suas entranhas escolheu o caminho do mal, que os seus conselhos, o seu carinho e seu sacrifício de nada adiantaram... Mas o seu coração de mãe sempre foi grande e sabe que, mau filho, apesar de tudo, nunca deixei de amá-la e que a tenho dentro de mim a noite inteira, quando sozinho faço minhas orações. Bem, voltando ao assunto, penso que poderia falar com o Tio Mazinho: quem sabe ele conseguiria minha transferência da Colônia. Os presos daqui, não sei como, arranjam facas e matam-se uns aos outros. Outro dia mesmo o João Pirata espetou o Bertolli, um coitado, pai de cinco filhos, e ninguém teve coragem de dizer nada. Tudo ficou em brancas nuvens. Ai de quem abrir a boca, eles perseguem e aí matam que nem cão danado. Como eu dizia, o Tio Mazinho pode bem me ajudar e não custava nada com as ligações políticas que ele tem. Eu sei que também a fatalidade fez que ele ficasse brigado com a gente e que a senhora fez muito bem em respeitar a imagem de papai. É claro, não podia casar-se com o tio só porque era irmão de papai sem mais nem essa. A sra. podia escrever uma carta com jeitinho para ele explicando tudo; o tio não é mau, e com o respeito que tem pela sra., irá ouvi-la com certeza. Vai custar-lhe muito, ainda mais que a sra. falava que não queria mais ver a cara dele pela frente e que lhe dissera poucas e boas, mas é a única saída. Conte-lhe tudo, mamãe, explique-lhe que o meu caso com Paloma — que ele tanto criticou (Lembra-se que, inclusive 127 me disse que se fosse meu pai me punha nos eixos? Coitado; do seu ponto de vista, tinha alguma razão) — foi uma coisa muito honesta e que o passado dela não deveria nunca enodoar o presente. Males às vezes vêm para bem: minha vida boêmia, bebida, mulheres, não impediu que eu retirasse a flor do lodo, o joio do trigo. Paloma me redimiu para a vida, posto que fosse o estopim de minha perdição. Também o Dr. Naércio não tinha o direito de me espezinhar, ele que fez da minha vida um calvário. Só agora lhe conto, mas tenho isto atravessado na minha garganta há muito tempo: lembra-se do meu caso com a Neuzinha que a sra. encorajava, dizendo que a moça era prendada e tudo, etc.? Pois bem, foi o Dr. Naércio quem a tirou de mim: não ponho a mão no fogo, mas falava-se na escola que os dois tinham encontros. O Dr. Naércio, apesar de casado, não passava de um sem-vergonha. Coitada de D. Nininha, tão boa, esposa daquele canalha. Sinto muito que tenha feito ela sofrer tanto, com seus filhos e com as más-línguas. Um dia estive na casa dela — mal começara no ”Rodrigues Alves” e nem conhecia direito o Dr. Naércio —, queixou-se do marido e só hoje entendo o porquê. Lembro-me, como se fosse hoje, de suas palavras, quando lhe perguntei se o Dr. Naércio ainda demorava (tinha ido lá de noite). Ela me respondeu: ”Sabe, seu João... é este seu nome, não?” Confirmei, mas disse que podia me chamar de Almeidinha, mesmo. Afinal, o sobrenome é que nos liga à família, sem o que nada somos, não é, mamãe? ”Pois bem, seu Almeidinha, para lhe ser franca, nem eu mesma sei... O Naércio não me dá muitas satisfações a este respeito...” Sei que também passei a freqüentar a vida noturna de Andradina, mas pior era ele que era diretor de escola. Não foi à toa que a Neuzinha ganhou minhas aulas. Me disse que gostava de mim, mas que a mãe, a D. Candoca, não queria o noivado, que o meu nome não era de boa fama na cidade. Na última hora dizer isto? Me envenenar assim? Já tinha comprado os móveis, lenços, camisas e a sra. tinha muita razão quando disse 128 que os Natalli eram gentinha, que tinham vindo da Itália, comendo pão com cebola, em navio de terceira classe. Falei pra ele isto mesmo e fiz insinuações do caso dela com o Dr. Naércio. Foi isso que me perdeu. Desse dia em diante, o homem não me largou mais: um tal de plantão na escola sem motivo aparente, desrespeito na frente dos alunos. Está certo que eu não era professor concursado. (Quando há concurso neste país? O de 60 foi aquela vergonha que a senhora sabe; até o filho do Dr. Maurício que é burro e que só colava na escola passou. Foi o maior escândalo e teve gente que ia impetrar mandado de segurança. Pena que não tenha ido para a frente e que o Secretário da Educação só levasse o caso para um canal superior se a gente desse uma bolada para ele.) Infelizmente este mundo é dos medíocres e dos incapacitados e a bebida foi um derivativo para quem é revoltado e vê os medíocres vencerem sem mérito algum, dependendo da ajuda de pistolões. Mas voltando ao que dizia: eu não era concursado, mas sempre cumpri com o meu dever. Nem a vida boêmia me fez esquecer as tarefas que devia cumprir. E o Dr. Naércio ainda tinha a coragem de me condenar, dizendo que eu tinha uma vida devassa: o roto rindo do esfarrapado. Quantas vezes não o encontrei lá na Vila Teresinha? Sabe com quem? Logo com a Luzia, aquela que tem marido aí na rua e que todo mundo fala, uma que não respeita família, lar, nem nada. Pois bem, o tipo fez que não me conheceu e, no outro dia, na escola, estava com uma cara de santo, falando que, se eu chegasse atrasado, nem devia entrar na aula e perguntando se eu não tinha responsabilidade. A sra. se lembra que naquele dia estive com uma maldita cólica e que a sra. passou a noite em claro fazendo chazinhos? Esse homem tornou minha vida um inferno e foi por isso que a Neuzinha mudou tanto. Devolveu-me a aliança de noivado com um bilhetinho malcriado. Acho que foi D. Candoca quem escreveu, instigada pelo Dr. Naércio. Aquela letra nunca foi da Neuzinha. E depois vem o Tio Mazinho dizendo que eu fui malcriado com ela... 129 No fundo, mamãe, ele tem um pouco de razão; afinal a Neuzinha é afilhada dele. A sra. não deve levá-lo tanto a mal: na verdade, creio, fui eu quem o desrespeitou e a sra. tomou minhas dores como mãe que era. Falando nele, o secretário aqui da Colônia disse que estava doido para ser transferido para outra prisão e que só o Tio Mazinho — influente como é — é que podia ajudá-lo. Falou-me que, se eu arranjasse as coisas para ele, não teria dúvida nenhuma em arrumar minha vida. Da vez em que esteve aqui, a sra. nem quis ouvir o nome do Tio Mazinho, mas, mamãe, agora é tudo ou nada. A sra. sabe quanto ele a aprecia. Eu, nem adianta pedir; fui muito malcriado com ele no caso da Neuzinha. Também estava transtornado e acabei descarregando em cima de quem não merecia. Explica pra ele que foi um destempero meu; afinal, é irmão de papai e não se negaria a cooperar num caso desses. Ah! que martírio, que inferno! No almoço, o João Pirata me empurrou no refeitório. Perdi a comida e ainda um guarda me ameaçou de me mandar para a solitária. O João Pirata é o rei aqui dentro e não tem medo nem do diretor. Se a sra. soubesse o que tenho sofrido... Paloma me disse que chora noite e dia e que lê minhas cartas sem parar. A sra. a julgou mal, quando disse que eu andava em companhia de gente ordinária: a vida é que fez mal a ela. Um pouco antes de me perder, prometia me regenerar e ela me disse que me acompanharia até o fim do mundo. Foi tudo obra do Dr. Naércio que não só me perseguia na escola, como também onde me encontrava. O que os jornais contam, falando de covarde assassínio, não passa de mentira. Matei-o numa crise de nervos. Ele insistiu em me desfeitear na frente de Paloma e na cara de homem não se joga insulto. Não contente com isso, insistiu em levar Paloma com ele, mostrando o dinheiro que tinha no bolso. Não vi mais nada na frente, senão uma mancha vermelha. Nem sei direito como acabei com aquele diabo. Perdoe-me, mamãe, mesmo quando lhe falo nestas coisas, perco a cabeça, fico doido da vida. Quando a sra. me disse que foi 130 o mau exemplo de papai que me pôs a perder, talvez tenha um pouco de razão: onde se viu deixá-la sozinha e, de bar em bar, sumir pelo mundo? Quem diria que em meu sangue estava um pouco do aventureiro dele e o destino de uma porta de bar? Se a sra. não tivesse impedido minha ida para São Paulo, teria melhor colocação e hoje estaria amparando sua velhice. Lá estaria longe dos mesquinhos e dos apaniguados, dependendo só de minhas forças para vencer na vida. Mas não adianta lamentar-me; o que foi traçado está traçado, não há remédio. Agora só a mão de Deus é que me pode amparar. Ah!, quase me esquecia de dizer: Paloma me falou que viu a sra. outro dia na igreja e que chorou muito só de vê-la rezar. Disse também que rezou três ave-marias em sua intenção. Pobrezinha! Agora, sem ter quem a sustente, não pode largar da vida que leva: a mãe está entrevada no interior. Ela disse também que já está cansada de esperar (menti para ela; falei que o Tio Mazinho, logo, logo, acertaria as coisas para o meu lado) e que não agüenta as provocações dos outros. Quando ela me disse estas coisas, fiquei que nem louco. Ela disse que não adiantava ficar bravo e que eu tratasse de arrumar as coisas. Mas que posso fazer de mãos atadas? Não custava nada ao Tio Mazinho usar de sua influência. O secretário da prisão me disse, inclusive, que o cargo do tio é muito forte e ele pode até conseguir liberdade condicional dentro de alguns anos. Nem quero isto; já me bastava ir embora deste inferno. Mudando um pouco de assunto, como vai o Duque? A sra. tem dado comida pra ele? Não vá deixar o pobrezinho morrer de fome. A sra. se lembra que ele abanava o rabinho mal me via chegar da rua? Bem, acho que é só, preciso aproveitar o correio que sai ainda agora de tarde. Neste momento, penso na sra. mais que tudo no mundo e gostaria de tê-la perto de mim. Reze muito por mim, mamãe, que eu sou um desgraçado. A sra. é tudo que tenho no mundo, mais Paloma que eu não poderia jamais esquecer. Do filho, que muito lhe quer, pedindo a Deus que a conserve em franca saúde: 132 João Almeida RS. Agradeça a Tia Inezita por ter-me enviado os doces. Infelizmente, nem pude experimentá-los. Os amigos de João Pirata me roubaram o pacote ontem à noite. O mesmo aconteceu com as cuecas e meias que a sra. mandou. Não tenho mais nada de meu. Isto aqui é um inferno! Um beijo do Mesmo 133 Álvaro Cardoso Gomes A receita da boa literatura Natural de Americana, no interior de São Paulo, Álvaro Cardoso Gomes navega com igual talento tanto pela literatura portuguesa, matéria da qual foi professor na Universidade de São Paulo, quanto pelas venturas e desventuras das personagens que cria em seus romances e contos. Suas histórias são, muitas vezes, protagonizadas por jovens. Nelas, o mundo contemporâneo explode ora em imagens fantásticas, ora em flashes do cotidiano. Autor de livros de sucesso, Álvaro vem se destacando como uma das revelações da literatura brasileira para o público juvenil. Em ”Paloma”, a forma epistolar, ao mesmo tempo que sugere violência, ciúme e corrupção, deixa à fantasia do leitor imaginar o antes e o depois da história de João Almeida. Os personagens jovens são constantes na obra de Álvaro Cardoso Gomes. 134 Referências bibliográficas La Fontaine - ”Lê loup et 1’agneau.” In: Oeuvres completes. Paris, Aux Éditions du Seuil, 1965. p. 78. Machado de Assis- ”Conto de escola.” In: Contos. 22. ed. São Paulo, Ática, 1977. p. 31-37. Moacyr Scliar - ”O dia em que matamos James Cagney”. In: Os melhores contos de Moacyr Scliar. Seleção de Regina Zilbermann. São Paulo, Global, 1986. p. 85-87. Voltaire - ”Zadig ou Ia destinée.” In: Romans et contes. Paris, Garnier/Flammarion, 1986. p. 86-88. Guido Fidelis - ”Conversa de comadres à espera da morte.” In: É um assalto! São Paulo, Ática, 1980. p. 26-31. Lygia Fagundes Telles - ”Antes do baile verde.” In: Antes do baile verde. Rio de Janeiro, Ed. Rocco, 1999. Katherine Mansfield - ”A casa de bonecas.” In: The dove’s nest and other storíes. Hophart Press, 1923. 135 Lima Barreto - ”A Nova Califórnia.” In: Contos. São Paulo, Brasiliense, 1979. p. 73-83. Lourenço Diaféria - ”Os gatos pardos da noite.” In: Um gato na terra do tamborim. 4. ed. São Paulo, Ática, 1982. p. 13-15. Artur Azevedo - ”O Custodinho.” In: Contos efêmeros. 4. ed. Rio de Janeiro, Garnier, s.d. p. 87-93. Álvaro Cardoso Gomes - ”Paloma.” In: A teia de aranha. São Paulo, Ática, 1978. p. 108-113. 136
Download