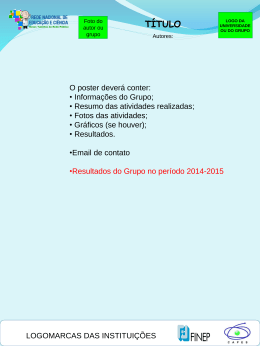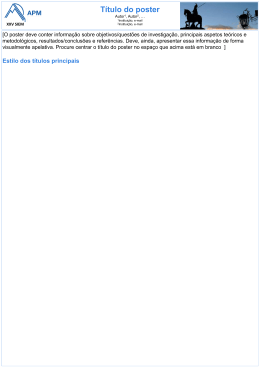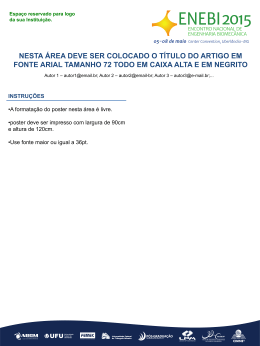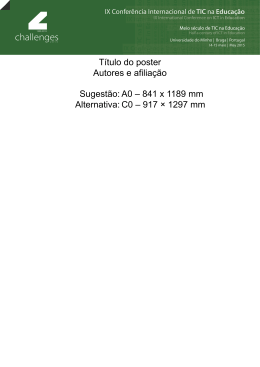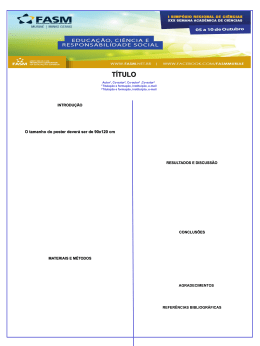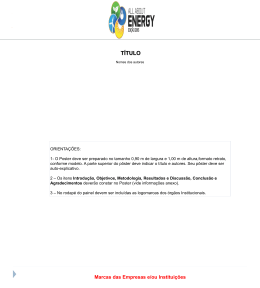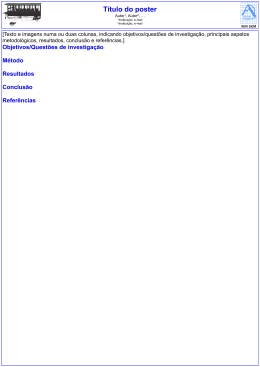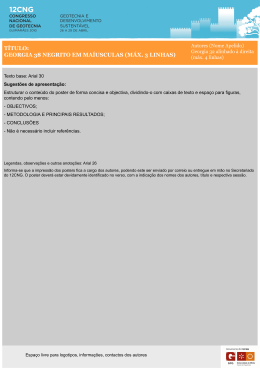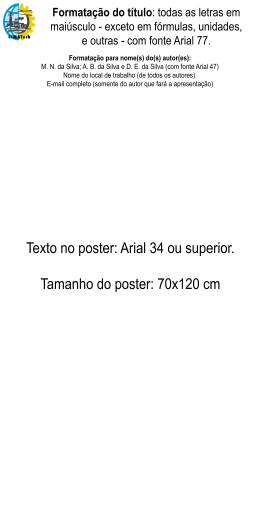7
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
INVITED SPEAKERS
ABSTRACTS
VISUAL DEFICITS AND THEIR EFFECTS ON MOBILITY: IMPLICA TIONS FOR GAIT REHABILITA TION
Patla, Aftab E., University of Waterloo, Ontario, Canada
Vision provides unique sensory information for the control of locomotion. Control of dynamic stability, adapting the
basic patterns of gait for different environments and guidance of locomotion towards endpoints not visible from the start are
adversely affected when vision is compromised. In this presentation, the focus will be on effects of various deficits on the
control of gait on step by step basis rather than the effects on route planning. Visual deficits in the peripheral sensory
apparatus examined include age-related cataracts, age-related maculopathy, and loss of one eye. The accuracy and precision
of gait patterns over uneven terrain is differentially influenced by these pathologies. Loss of foveal vision affects the
accuracy of limb elevation when stepping over low contrast low obstacles, while presence of cataracts affects both accuracy
and precision of limb elevation control over small obstacles. Loss of one eye forces individuais to provide a larger safety
margin over high obstacles, modify the stepping patterns and use head roll movements to acquire depth information. Damage
to the ventral stream emanating from the primary visual cortex spares the visuomotor transformations for precise control of
lower limb movements. While deficits such as cataracts can be corrected by surgery, appropriate adaptive strategies have to
be developed to deal with most visual deficits. Knowing the terrain and ambient conditions that pose greatest threat to
mobility is the first step; creating and implementing rehabilitation training in these environments is necessary. In addition,
patients need to be trained to develop the compensatory strategies to acquire appropriate sensory information to guide
locomotion.
Supported by grants from Health Canada and NSERC Canada.
ASPECTOS DA BIOMECANICA PARA ANALISE DO MOVIMENTO HUMANO: CONSIDERACOES SOBRE
FORCAS INTERNAS.
Amadio, Alberto Carlos, Laboratorio de Biomecanica, Escola de Educacao Física e Esporte da Uni v. de Sao Paulo, Brasil.
Discute-se a conceituacao da biomecanica, no contexto de uma disciplina que, entre as ciencias derivadas das
ciencias naturais, ocupa-se com analises físicas de sistemas biologicos, conseqentemente, analises físicas de movimentos do
corpo humano. Assim, atraves da biomecanica e de suas areas de conhecimento correlatas podemos analisar as causas e
fenomenos relacionados ao movimento humano. A biomecanica interpretada como uma ciencia multidisciplinar, levando-se
em consideracao cada domínio do conhecimento ou sub-disciplina que compoe esse espectro, que investiga o movimento.
Considera-se portanto o movimento humano como o objeto central de estudos onde analisamos suas causas e efeitos
produzidos em relacao a biomecanica. Pela obvia dificuldade metodolgica de acessarmos o comportamento biomecanico de
estruturas internas dos sistemas biologicos, a sua parametrizacao em termos de variaveis biomecanicas internas se torna
extremamente dependente de medicoes externas ao organismo, ou seja, observadas exteriormente, ou por equacoes de
estimacao, na composicao de modelos para a determinacao destes parmetros internos ao aparelho locomotor.
Entre os estudos biomecanicos que buscam descrever indicadores do comportamento das variaveis dinamicas
durante a marcha, por exemplo, tem-se usado a forca reacao do solo como componente descritivo primaria para indicar a
sobrecarga no aparelho locomotor durante a fase de apoio, pois ela reflete a somatoria dos produtos da aceleracao da massa
de todos os segmentos do corpo. Com relacao a corrida, devemos considerar duas tecnicas de movimento que podem
influenciar a distribuicao de cargas ao aparelho locomotor: (a) corredores de retro-pe (constituem-se em aproximadamente
80%) e (b) corredores de ante-pe (20%), em acordo com BAUMANN (1992). Ao observarmos a curva forca de reacao do
solo em funcao do tempo, os corredores de retro-pe e os de ante-pe apresentam comportamentos diferentes, os primeiros com
e os segundos sem a presenca de um pico de forca inicial. O impulso e aproximadamente o mesmo pois, ambos apresentam o
mesmo peso corporal e deslocam-se a mesma velocidade. Entretanto as forcas articular e muscular na articulacao do
tornozelo
indicam enormes diferencas entre ambas as situacoes de sobrecarga em funcao portanto das tecnicas de movimento. O
corredor de ante-pe apresenta uma carga no tendo de Aquiles, aproximadamente 25-30% maior se comparado ao corredor de
retro-pe. A mesma relacao observada para a forca articular, considerando-se para a articulacao do tornozelo. Observamos
assim valores para a forca de compressao articular ao redor de 9 vezes o peso corporal.
Desta maneira consideramos ser a Biomecanica um importante ramo de interacao com areas diversas que se aplicam
ao estudo do movimento humano. Logo em funcao destes parametros estabelecemos a validade para a analise do movimento,
na busca de sua otimizacao, nao apenas no sentido de eficiencia mas ainda em relacao a um processo de economia e controle
motor da tecnica de movimento. _,
8
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
ANTICIPATORY POSTURAL ADJUSTMENTS IN HEALTH AND DISEASE
Aruin, Alexander S. Rehabilitation Foundation, Inc. Wheaton Illinois, 60189. USA
Voluntary limb movements are virtually always associated with changes in the activity o f postura! muscles. Some of
these changes occur prior to the movement and can be addressed as anticipatory. Their assumed role is to minimize
perturbation of the limb or body posture that would otherwise be induced by the movement. Another group of reactions in
postura! muscles occurs !ater. This group may be considered compensatory reactions to the perturbations induced by the
intended movement. Anticipatory postura! adjustments (APA) have been investigated since the pioneering study of Belenkii
et ai. (1965) who showed that changes in the electromyographic activity of postura! muscles in standing humans appears prior
to a voluntary movement of an upper limb and are specific to this movement.
The process of generation of anticipatory postura! adjustments is likely to be affected by three major factors: 1)
Expected magnitude and direction of the perturbation; 2) Voluntary action associated with the perturbation; and 3) Postura!
task (e.g. a body configuration).
Effects of these three factors have been studied relatively extensively, however, a contribution of each of them to
anticipatory postura! adjustments is not quite clear because they are interrelated (for review see Massion, 1992). Experiments
with load manipulations let the experimenters separate the effects of the magnitude of motor action and of the magnitude of
perturbation upon the AP As. Such studies have suggested that both the magnitude of the action and the magnitude of the
perturbation can affect APAs independently. In particular, our experiments with voluntary actions of different apparent
magnitude (small finger flexion movements vs. bilateral shoulder abduction movements) demonstrated a scaling of APAs
with the magnitude of the voluntary action used to induce the perturbation, while the magnitude of the perturbation was
always the same. The results of the other study demonstrated the anticipatory postura! adjustment scale with the expected
magnitude of a perturbation when the voluntary action was always the same (Aruin, Latash, 1995, 1996a).
We know much less currently about the effect of postura! task on anticipatory postura! adjustments. Reports on the
dependence of AP As on the stability demands of the postura! task have been somewhat conflicting, suggesting that the
dependence may be non-monotonic. In particular, APAs associated with voluntary movements were attenuated or absent
when the posture was unstable as well as when it was very stable. Our recent experiments have demonstrated that the
magnitude of AP As in conditions o f a standard perturbation triggered by a standard motor action by the subject, depends on
two factors related to the postura! task, namely, the plane ofpostural instability and the effective width of support.
The results of our own studies of anticipatory postura! adjustments in conditions of postura! instability combined
with that provided by others have allowed us to formulate a hypothesis that anticipatory postura! adjustments themselves may
be perturbations to balance, and that the lack of anticipatory postura! adjustments in conditions of postura! instability
represents a defensive strategy of the central nervous system (CNS). Adaptive changes in APAs that have been seen in
patients with postura! instability, and in healthy subjects while posture is unstable (generation o f anticipatory postura!
adjustments in healthy persons in conditions of postura! instability may also be challenging, so that postura! instability may
be used as a model of postura! impairment), support our conclusion. The task of generating anticipatory postura! adjustments
may be trivial for the CNS of a healthy person, but it may be challenging for a person with a neurological disorder (such as
Parkinson's disease), an inborn deficiency (e.g., Down syndrome), a lower Iimb amputation leading to a major disruption of
the biomechanical and neurophysiological relations developed during the lifetime, or for a person whose ability to perform
voluntary movements is impaired by natural reasons (e.g., aging).
Motor disorders in Down syndrome (DS) are commonly addressed as "clumsiness." Two major components of
clumsiness in DS include slowness of the movements and the inability to rapidly respond to the changing environment (for
reviews se e Corcos, 1991; Latas h and Anson, 1995 ). In a number of postura[ and movement tasks, persons with DS
frequently use atypical coactivation patterns of muscle activity seen in both, anticipatory and compensatory reactions (Aruin
and Almeida, 1997).
There is substantial variability among the studies of anticipatory postura! adjustments in Parkinson's disease (PD).
The reports vary from minor changes in the anticipatory reactions in Parkinson's disease (Diener et ai.; 1989, Latash et ai.
1995, Aruin et ai., 1996b) to the lack of anticipatory postura! adjustments in 95% of patients with Parkinson's disease
(Bazalgette et a!., 1986). The slowness of voluntary movements in Parkinson's disease (bradykinesia) apparently leads to
smaller reactive torques during voluntary movements and, as a consequence, to smaller postura! perturbations. Hence,
possible sources of variability among the studies of anticipatory reactions in PD may be the different motor tasks used,
different amounts of practice, and other factors leading to different efficacy of voluntary movements as postura!
perturbations. Patients after a below knee amputation demonstrated a general pattern of larger anticipatory changes in the
activity of muscles on the intact side of the body as compared to symmetrical muscles on the side of amputation which may
reflect central adaptive changes secondary to the amputation (Aruin et ai., 1997).
Studies directed to understanding the nature of anticipatory postura! adjustments in healthy adults combined with
investigation of assisted recovery of postura! contra! in neurological patients may suggest ways of improvement of
rehabilitation strategies whose purpose is to assure adequate postura! contra! in cases o f postura! disorders.
ACKNOWLEDGEMENTS
This work was supported in part by grant HD-37141 from the National Center for Medica! Rehabilitation Research, NIH.
9
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
ASSESSMENT OF GAIT REHABILITA TION THROUGH EVALUA TION OF JOINT EFFORTS
Quevedo, Antonio A. F. Dept. o f Biomedical Engineering, Fac. of Electrical and Compu ter Engineering, State University of
Campinas, Brazil
INTRODUCTI ON
Gait rehabilitation can be achieved through several different techniques, according to the cause of motor defcit.
Biomechanical evaluation techniques are an important tool for movement studies in pathologic subjects. These techniques, if
adequately adapted, could provide important information regarding the assessment of conventional and non-conventional gait
rehabilitation techniques. This work refers to parameters related to joint efforts, which are a major concern when dealing with
gait restoration.
METHODS
Angular accelerations are directly related to joint rotational moments. If one wants to avoid excessive effort on
joints, it is important to keep accelerations within acceptable Jimits. However, Jimitation of acceleration peaks is not enough
to prevent joint damage. Even if values are kept within the normal peak Iimits, the average acceleration can be higher than
normal. The acceleration module integral (AMI) can be used as a safety parameter. If AMis for all joints can be kept within
the values found for normal subjects, the restored gait can be considered "safe".
Direct use of rotational moments of force could theoretically provide more realistic estimates. Thus, moment module
integrais (MMI) can be used in the same way as for accelerations. As moments are usually normalized according to body
mass, the same procedure was used in the current work.
For parameter estimation on normal subjects, data from (Winter, 1991) was used. For comparison, data from a clinicai case
(Vaughan et al, 1992) was used. Clinicai case is a Cerebral Palsy subject with subtalar ankle artrodesis. Gait cycle was
normalized by interpolation to 100 samples (0-99% in increments of 1%). Sample signal was then canceled (modulus
function) and the 100 samples were summed.
RESULTS
Tables 1 and 2 present the values obtained for the normal sample and for the clinicai case.
l~
linical
linical
1284.60 (R); 2191.71 (L)
3734.66 (R); 5208.72 (L)
695.5 (R); 2695.5 (L)
Table 1: AMI values (rad/s2)
Table 2: MMI values (N.m/kg)
DISCUSSION AND CONCLUSION
AMis are greatly increased in the clinicai case. As joint efforts were expected to increase due to lack of movement
optimization, the proposed parameter seems to reflect well these efforts. Thus, AMis can be used as quantitative parameters
for assessing rehabilitation techniques. MMis, though, presented unexpected results. According to Table 2, values are above
normal standard for hip and knee joints, as expected, but below normal for ankle joints. According to (Winter, 1991),
computation of rotational moments are subjected to cummulative errors, which come from estimation of body segment
inertias and from other sources as well. Due to the contradictory results found for MMis, and considering that computational
cost and errors for calculation of rotational moments are much higher than the ones for accelerations, preference must be
given to AMI values. Estimation of body segment inertias would also be subjected to more errors when gait rehabilitation
techniques include the use of orthoses.
REFERENCES
D. A. Winter. The biomechanics and motor control of human gait: Normal, elderly and pathological, University of Waterloo
Press, 1991.
C. L. Vaughan et al. Dynamics of human gait, Human Kinetics Publishers, 1992.
ACKNOWLED GMENTS
The author would like to thank CNPq, CAPES, FAPESP, and FAEP (Brazil) for the granting support, as well as Dr.
David Winter and Dr. Christopher Vaughan for kindly allowing the use of their data in this work.
FACTORS CONTRIBUTI NG TO MOTOR REHABILITAT ION IN INFANTS WITH DOWN SYNDROME AND
SPINA BIFIDA
Ulrich, Beverly D., Ph.D., Department of Kinesiology, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA.
Designing effective intervention programs for people with movement problems must involve consideration of
several factors. Two of the most important factors are (a) what does the person have to work with (e.g., leveis of muscle
strength, motivation, motor control) and (b.) what is the process that underlies changes in motor performance. Because
individuais are complex beings, they come to the rehabilitation setting with many different intrinsic capacities, even though
they may be classified as having Down syndrome, cerebral palsy, or spina bifida. How one chooses to help each infant or
child acquire motor skills must be based on a theory of what drives change in behavior. This, I propose, is the same
underlying process for all of us regardless of levei of ability.
10
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
In my talk I will discuss, briefly, some of the principies that drive change in motor performance, namely, principies from
dynamic systems theories. I will spend most of my time elaborating those principies by sharing results from severa! research
studies out of our Motor Development Laboratory. Our laboratory team has been studying infants with Down syndrome and
infants with spina bifida. I believe our results have implications for designing intervention programs that will help people
learn to acquire functional motor skills.
THE ROLES OF MOTION AND PHYSICAL AGENTS IN CONNECTIVE TISSUE REHABILITA TION
Enwemeka, Chukuka S., P.T., Ph.D., FACSM, Department ofPhysical Therapy, University ofKansas Medicai Center,
3901 Rainbow Boulevard, Kansas City, KS 66160-7601- USA
Unlike most soft tissues that require 7-10 days to heal, primary healing of tendons takes at least six weeks during
which they are protected in immobilization casts. Such long periods of immobilization impair motor rehabilitation and
predispose a multitude of complications including, muscle atrophy, trophic neural changes, osteoarthritis, skin necrosis,
infection, tendo-cutaneous adhesion, re-rupture, and thrombophlebitis. If healing can be quickened, then, the duration of cast
immobilization can be reduced to minimize the deleterious effects of immobilization. In separate studies, we tested the
hypothesis that early weight-bearing, ultrasound, He-Ne laser, and Ga-As laser, when used singly or in combination,
accelerate the healing process of experimentally tenotomized and repaired rabbit Achilles tendons as evidenced by
biochemical, biomechanical, and morphological índices of healing. Our results warrant the conclusions that: (1) appropriate
doses of each modality, i.e., early weight-bearing, ultrasound, He-Ne and Ga-As laser therapy augment collagen synthesis,
modulate maturation of newly synthesized collagen, and overall, enhance the biomechanical characteristics of the repaired
tendons. (2) Compared to the physical agents, i.e., ultrasound, and laser therapy, early weight-bearing offers the most potent
stimulus for accelerating the healing process of repaired tendons. (3) Combinations of either of the two lasers with early
weight-bearing and either ultrasound or electrical stimulation further promote collagen synthesis when compared to early
weight-bearing alone. However, the biomechanical effects measured in tendons receiving the multi-modality therapy were
similar, i.e., not better than the earlier single modality trials. Although healing of repaired human tendons may differ from
healing of the rabbit Achilles tendon, these findings suggest that human cases of Achilles tendon repair may benefit from
appropriate doses of early weight-bearing, ultrasound, He-Ne laser, and Ga-As laser therapy when used singly or in
combination with one another. Furthermore, our findings warrant the suggestion that early weight-bearing alone may offer
sufficient stimulus to optimize healing o f repaired tendons.
Funded by The NIH-NCMRR, The NIDRR, and VA-RR&D.
SUMMARY KNOWLEDGE OF RESULTS (KR) AND DELAYED PRESENTATI ON SCHEDULES OF KR WITH
ELECTROMY OGRAPHIC BIOFEEDBAC K: A REPORT OF TWO EXPERIMENT S.
Gable, Clayton D., Ph.D., PT, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas, USA.
BACKGROUN D AND PURPOSE Electromyographic biofeedback is used clinically to provide augmented
feedback to person about their level of neuromuscular activity. Clinically, it is used to assist in neuromuscular reeducation
and to assist in relaxation training. In both cases, the common practice of biofeedback has been based upon principies of
behavior modification with the assumption that the feedback concerning an individual task needs to be closely associated
(temporally) with the task. Consequently, many commercially available biofeedback systems utilize these ideas of close
association in the design their circuitry and/or computer programs. In recent years the motor learning literature concerning
feedback has used paradigms of delaying the presentation of feedback in a number of different manners (e.g., summary KR,
relative frequency, trials delay, etc.). The conclusions of these studies have stated that provision of feedback in too close
proximity has a negative effect on retention performance of the task in question. The two experiments reported here utilize
common paradigms in motor Jearning research. Experiment #1 investigated the effect of two relative frequencies of
presentation of knowledge of results (KR: feedback) and the effect of summary KR presentation compared with immediate
KR. Experiment #2 investigated the relative effect of four different task-KR time intervals.
EXPERIMENT #1: Experiment #1 compared the effects of four different conditions of KR presentation on retention
performance on a motor performance task. Summary KR (presentation of KR for ali trials after a pre-determined number of
trials have been completed) and decreased relative frequency of KR (presentation of KR on every other trial or every fifth
trial, etc) demonstrate positive effects on retention performance of a task as compared to immediate KR (presentation of KR
related to a trial after every trial). This particular phenomenon has been explained in terms of the guidance hypothesis which
states that immediate KR presentation fosters a dependency upon the KR for accurate performance rather than promoting the
deeper cognitive processing necessary for learning. By its very design EMG biofeedback is immediate KR. EMG
biofeedback is typically provided either during the task or immediately following a cumulative measure for a specified
duration oftime (i.e., integrated EMG over a 100-1000 millisecond period). The task was to learn to produce a contraction of
20% of maximum voluntary contraction (MVC). The experimental groups consisted of the following: KRS 5 (summary KR
after every 5 trials); KRS 10 (summary KR after every 10 trials); KR 50 (KR after every other trial); KR 100 (KR after every
trial). Subjects were 39 male and female volunteers (age range of 55-85). Subjects was asked to perform an isometric
contraction of the right triceps with the elbow at 90 degrees flexion. Following the MVC, subjects were randomly assigned to
one of four testing groups. Measurements were made with an AC amplifier and collected to a microcomputer. Ali
measurements consisted of collection of raw surface EMG to the computer and then integration of the 5 second time period of
the task. Each subject performed 15 blocks of 10 trials on the task and received feedback in accordance with their assigned
11
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
condition. Feedback was provided visually (bar graph) via a custom written computer program and in terms of percent levei
of contraction deviation from the target value of 20% MVC. After a 10-Minute retention delay each subject engaged in a nofeedback test of their retention peformance of the task. Each subject then returned the next day for another retention test at
approximately 24 hours !ater. RESUL TS: Analysis of Absolute Constant Error (ACE) for the acquisition trials was
performed in a 2-way ANOVA for repeated measures of KR Condition (4) x Block (15) and failed to reveal a significant
main effect for KR Condition. There was a main effect for Block on ACE, F(14,490)=2.80, P<0.0001 which demonstrated
that the subjects improved across the acquisition trials. Analysis of Variable Error demonstrated significance for KR
Condition, F(3,35)= 3.50, p<.025 and Block, F(l4,490)=3.04, p<.0001. The 10-Minute Retention interval ACE and VE were
analyzed in a KR Condition (4) one-way ANOV A and failed significance. The 24-Hour Retention data was analyzed in a
one-way ANOV A for KR Condition on ACE, F(3,35)=3.513, p<.0251 and on VE, F(3,35)=2.856, p<.051. Duncan's New
Multiple Range Test indicated that the KR 50 condition (M =.1634) and KR 100 ( M=.l046) performed with the greatest
ACE compared with KRS 5 (M=.072) and the KRS 10 (M=.0367) (ali units are in percent ofMVC).
EXPERIMENT #2: Experimental conditions on #2 represented a manipulation of the time interval between the end of the
task and the presentation of KR. The time intervals evaluated were .5, 2, 5, and 10 seconds. Subjects included 48 male and
female volunteers (mean age: 31). Procedure and apparatus were the same as in Experiment #1 with the exception of 10
blocks of 15 trials each. RESULTS: Analysis of ACE and VE for the acquisition trials was performed in a 2-way ANOV A
for repeated measures of KR Condition (4) x Block (10) and failed significance for KR Condition. A Block main effect was
demonstrated for ACE, F(9,396)=5.30, p<.0001 and VE, F(9,396)=4.43, p<.0001 with subjects demonstrating steady
improvement across blocks of trials. For the 10-Minute Retention interval one-way ANOV A of ACE revealed a main effect
for KR Condition, F(3,47)=4.2883, p<.0097. Analysis of VE failed to demonstrate significance. For the 24-Hour Retention
interval the same trend of bias toward poor retention performance for the .5 second group was maintained but a one-way
ANOV A failed significance.
CONCLUSION: These experiments present evidence that many of the findings related to feedback presentation in other motor Jeaming
tasks may also apply to the realm of EMG biofeedback and impact the clinicai practice of biofeedback.
PARKINSON'S DISEASE: MOTOR DEFICITS AND INTERVENTION APPROACHES
Corcos, Daniel, University of Illinois of Chicago, USA
Parkinsons's disease is a progressive neurological disorder that is clinically characterized by bradykinesia, rigidity
and tremor. Patients can also have abnomal postura! reflexes. Over the last twenty years considerable progress has been
made in refining our understanding of the motor problems of Parkinson's disease. Deficits have been found in the
performance of a variety of movement tasks that range fr0m reduced muscle strength to higher order deficiencies in the
ability to generate movement sequences, especially when there are no externai stimuli available to guide the movement
sequence.
In addition to the progress in our understanding of the various movement deficits in Parkinson's disease, the
treatment of Parkinson's disease is progressing rapidly on three different fronts. First, there has been a considerable advance
in understanding of the role of the basal ganglia in the control of movement. Second, there are severa! destructive
neurosurgical treatments available for the treatment of PD. These include posteroventral pallidotomy and thalamotomy, as
well as implanting high frequency stimulators in the pallidum, sub thalamic nucleus and vim nucleus of the thalamus. Third,
restorative neurosurgery shows promise. Currently, there are investigative trials to evaluate the efficacy of implanting fetal
tissue and administering various neurotrophic factors.
The presentation will focus both on current conceptualizations o f the motor deficits o f Parkinson's disease as well as
how different neurosurgical interventions improve the motor performance of patients with Parkinson's disease.
RULE-BASED CONTROL FOR FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULA TION ASSISTED WALKING
Popovic, Dejan B. Faculty o f Electrical Engineering, University of Bel grade, Yugoslavia
Functional electrical stimulation (FES) can be used for restoration of standing and locomotion of humans with spinal
cord injury (SCI) with limited success. The most likely reason for limitations is the lack of an efficient controller. Existing
control algorithms typically use an analytical, dynamic model of the human body and methods of robotics. The body is
presented as a complex system o f rigid segments connected with rotational joints and powered by a set of joint actuators [e.g.,
Zajac, 1989]. However, even the most complicated model proposed is far from reality. Actuators implement visco-elastic,
Hill-based model with some variations which take into account specific characteristics of human musculo-skeletal system
[Winters, 1990]. There is no model for locomotion that takes into account the characteristics of the segmented spinal column,
upper body, neck and the head. The instrumental data needed for the design of a control algorithm, when using analytic
approach, is a trajectory. The goal is to design a control system for FES-assisted locomotion. The system will be used by
humans with SCI; thus, it is essential to: 1) take into account that substantial changes in the neuro-musculo-skeletal
characteristics will be caused by the injury; and 2) accept the fact that humans with paralysis will not be able to walk with a
pattern alike normal (e.g., using crutches or a walker, missing proprioception and decreased exteroception). These two
elements make the dynamic approach for control extremely unsuitable.
The alternative method for synthesizing bipedal gait of a human with SCI can be imagined as cloning of an ablebodied subject walking. Walking with a constant speed, over even terrain, with no or small perturbations is a cyclic activity,
which can be considered as a finite automaton. The automaton includes sensory inputs (propriception, exteroception, joint
12
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
receptors, etc.) and motor (muscle) outputs as reviewed in Prochazka [1993]. Implantable and externai sensors are now
getting available, and FES resolves major problems in getting muscles to work. However, neither sensors are replica, not FES
is ideal for completely replicating able-body functioning. The problem; thus, is that cloning of this kind is impossible since
the performances of a clone can not match the original. The task for cloning of able-bodied type of locomotion therefore
includes two phases: 1) using customized biomechanical model of a potential user of the assistive system and able-body gait
data to simulate the gait. Simulation will generate a matching map of muscle activity patterns and sensory data. The number
of muscles should be equal to the number of FES channels and the number of sensors to the number of transducers that would
be used in a practical FES system. The simulation deals with the reduced model; thus, the results match the eventual assistive
system functioning [Popovic et ai., 1998]; and 2) determining the matching between the inputs and outputs. The matching
process is de facto designing of a finite automaton. The matching in this study is exclusively based on machine learning
[Jonic et ai., 1998].
Various procedures for designing finite automata are described in literature [Tomovic et a!., 1995]. Those rules can be either:
1) heuristically defined, which is known as "hand-crafted system", or 2) automatically generated using artificial intelligence
tools, such as neural networks. In the "hand-crafting" approach the researcher based on his or her previous experience and
intuition defines contrai rules.
Such a system is then implemented to real FES-assisted locomotion application and the quality of the resulting gait
is assessed, necessary adjustments are completed and the process is repeated again until a satisfactory gait is achieved
[Kobetic and Marsolais, 1994]. This "trial and error" method is very time consuming and complex. The biggest disadvantage
of this method is that the performance of the resulting contrai system depends on the experts' ability to express the acquired
knowledge explicitly in form of states and rules.
Fast development of artificial and computational intelligence techniques, such as artificial neural networks, adaptive logic
networks, fuzzy logic brings new approach to the control system design problem formulation and solution. Following the early
work ofMichie and Chambers [1968] on an algorithm known as "boxes" implemented in the "pole balancing" paradigm.
Inductive learning technique to contrai of FES-aided walking of subjects with incomplete spinal cord injury was
implemented [Heller et ai., 1993]. The control rules were extracted by cloning skills of a subject with SCI when manually
controlling a simple two-channel-per-leg FES-system and for the swing-through walking. Veltink et ai. [1992] used a
backpropagation multi-layer perceptron network for reconstructing muscle activation patterns in the walking cycle on the
basis of signals recorded from externai sensors (goniometers and foot-switches). Kostov et a!., [1994] used adaptive logic
networks to clone manual triggered walking of an incomplete tetraplegic walking.
The most important question of a generalization from machine learning technique training to a real-time contrai
application remained unanswered in most of the works described above. After preliminary results demonstrated possibility of
using neural networks for designing contrai rules for FES-assisted walking of subjects with incomplete SCI [Kostov et ai., 1994;
Nikolic and Popovic, 1996], a similar approach was adopted as the basis for this study [Jonic et ai., 1998; Jonic and Popovic,
1998].
Machine learning algorithms are compared for their ability to reconstruct muscle activation patterns (output) from
preceding sensory data (input). Three algorithms are presented here: 1) symbolic, based on minimization of entropy called
inductive learning- IL;
2) connectionist, radial basis functions type of artificial neural network (ANN) with radial-basis functions (RBF); and 3) their
combination.
A rule-based IL estimation is explicit, easy to implement, computationally simpler, and easy to comprehend, compared
to ANN, although there are methods which extract approximate classification rules from trained ANN, and they contribute to
giving readability to the ANN. A rule-based estimation does not work well enough for estimation of the muscle activity levei,
and ANN does not work well enough for estimation of the muscle timing. ANN gives a continuous output, whereas rule-based
leaming gives a discrete output. One solution isto combine rule-based and ANN methods to get the best from both approaches.
We found that this combination gives the best results for the mapping.
The work on this project was partly supported by the Serbian Ministry of Science and Technology, Belgrade, Yugoslavia; the Miami
Project to Cure Paralysis, University of Miami, Miami, Florida, USA; The Medicai Research Council of Canada, Ottawa, Ontario,
Canada, and the Alberta Heritage Foundation for Medicai Research, Edmonton, Alberta, Canada. I would like to acknowledge the
contributions of Aleksandar Kostov, Ph.D., Zoran Nikolic, Ph.D. and Slavica Jonic, MS while working towards their degrees at the
University of Alberta, University of Miami and University of Belgrade
A VALIAÇÃO MUSCULAR RESPIRATÓRIA
Costa, Dirceu, Prof Dr., Coordenador de Pesquisa e Capacitação, Depto. de Fisioterapia da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da UFSCAR
Os músculos respiratórios do ser humano, apesar de não perderem a característica de músculo estriado esquelético,
apresentam aspectos funcionais e mecânicas diferenciados tendo em vista sua atuaçf.o constante e ininterrupta, durante todo o
ciclo da vida. Tal fato faz com que ao avaliar esses músculos, seja introduzido elementos de medida que considerem de forma
cuidadosa, o produto do trabalho mecânico, dentre tantos outros elementos normalmente mensurados. Dentro deste contexto,
torna-se indispensável a combinação e/ou complementação das ferramentas de trabalho, bem como a maior variação possível
dos elementos de procedência do indivíduo e do tipo de movimento ou de padrões de respiração.
13
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Técnicas de medidas como a Eletromiografia e as Pressões Respiratórias Máximas (Pimás e PEmáx), têm sido
empregadas nesta avaliação, com o objetivo específico de se conhecer a Força e a Endurance envolvidas no trabalho muscular
respiratório.
As medidas Antropométricas e Espirométricas, por sua vez, tem sido muito útil neste processo de avaliação, tanto
nos indivíduos sadios como em pneumopatas e, quando associadas ao teste de esforço, em atletas ou em indivíduos
submetidos a treinamento físico regular. A avaliação muscular respiratória, quando realizada com critérios fisiológicos e
mecânicos e, considerando-se um conjunto de informações sobre procedência, modalidade de movimento, etc., constitui num
importante mecanismo esclarecedor de dados indispensáveis na saúde respiratória do ser humano.
DIVERSIFICAÇÃO E COMPLEXIDADE NO COMPORTAM ENTO MOTOR ADAPTADO
Manoel, Edison de J., USP, São Paulo.
O processo de desenvolvimento motor há duas classes de mudanças. Primeiro, há o ganho em diversificação do
comportamento em função do aumento no número de elementos. Inicialmente, há o acoplamento entre intenção e a realização
de algum objetivo no ambiente. Os meios para alcançar o objetivo não estão claros e o comportamento caracteriza-se por
grande inconsistência. Com a definição dos meios mais adequados para a solução há um ganho de consistência seguido por
um aumento gradual de variabilidade devida à exploração de meios alternativos para a realização do objetivo. Essa
diversificação implicará em melhoria na adaptabilidade do comportamento, bem como poderá levar ao surgimento de novos
meios para atingir o mesmo fim (por exemplo, a locomoção que era realizada pelo andar ereto passa a ser efetuada pelo
correr). A segunda classe de mudanças refere-se ao ganho em complexidade do comportamento caracterizado pelo aumento
nas interações entre os elementos. Os padrões de movimento diversificados, passam a ser integrados em padrões mais
complexos. Por exemplo, o correr e o arremessar podem ser gradualmente combinados em uma habilidade mais complexa e
específtca até ao nível daquelas habilidades observadas em modalidades esportivas (por exemplo, no basquetebol ou
handebol). O ganho em complexidade não implica apenas executar em seqüência dois padrões, ele implica em modificações
na organização espacial e temporal de cada padrão de acordo com a meta geral da habilidade complexa.
Diversificação e complexidade são classes gerais de descrição das mudanças no desenvolvimento do comportamento
motor. Entretanto, é possível gerar hipóteses explicativas a partir delas como será discutido nesta apresentação. Atenção
especial será dada à análise do comportamento de pessoas portadoras de deficiência mental. As soluções motoras encontradas
por esses indivíduos, bem como o curso do desenvolvimento apresentado, não são deficientes mas diferentes. A
caracterização e explicação do comportamento e desenvolvimento motor adaptado podem beneficiar-se da consideração das
duas classes de mudanças mencionadas. Para a discussão de questões referentes à diversificação serão apresentados dados
referentes ao padrão de arremessar e para as questões referentes à complexidade serão apresentados dados da combinação de
padrões de correr e arremessar. Em ambos casos, com pessoas portadoras de deficiência mental ou neurológica.
MECANISMOS DE CONTROLE MOTOR EM UMA ATIVIDADE FUNCIONAL: O MOVIMENTO DE
SEDESTAÇÃO À BIPEDESTAÇÃO.
Goulart, Fátima R. de Paula, Departamento de Fisioterapia, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil e Josep Valls-Solé,
Unidad de EMG y Contra! Motor, Hospital Clinico, Barcelona, Espaíia
O movimento de sedestação à bipedestação (mSD-BP) é uma atividade motora complexa que envolve a ativação de
músculos posturais e de músculos que são os principais responsáveis pela execução do movimento. O principal objetivo deste
estudo foi caracterizar a fisiologia e, especialmente, os mecanismos de controle usados pelo sistema nervoso central (SNC)
para a realização do mSD-BP.
O estudo que será apresentado foi realizado com 40 sujeitos sadios e foi dividido em três partes. Na primeira parte
foi feita uma análise da atividade eletromiográfica (EMG) de músculos envolvidos no mSD-BP. A segunda parte foi
destinada a caracterizar as mudanças de excitabilidade da via motora descendente e do circuito reflexo segmentário durante a
execução do movimento e, na terceira parte, examinou-se a excitabilidade dos motoneuronios lombares a partir de impulsos
descendentes e dos aferentes periféricos nas duas posturas extremas: sentado e de pé. A metodologia utilizada foi o registro
EMG, a ativação das vias descendentes através da estimulação magnética cortical e a ativação do circuito reflexo segmentário
por estimulação elétrica do nervo tibial posterior na fossa poplítea (reflexo H).
Os resultados mostraram que: 1. O mSD-BP é gerado pela ativação de um programa motor que envolve os músculos
paravertebral, quadríceps e isquiotibial. A ativação de tais músculos segue a ativação de músculos envolvidos em ajustes
posturais que são específicos para a posição inicial ou estratégia motora utilizada para a realização do movimento. Tibial
anterior, soleo, abdominal, esternocleidomastoide e trapézio são exemplos de músculos com função postura!. 2. O sistema
efetor modifica sua excitabilidade antes do início do mSD-BP. Existe um amplo aumento na excitabilidade da via motora
descendente em músculos do tronco e da perna, enquanto que a excitabilidade motoneuronal aos impulsos aferentes
periféricos apresentam um padrão de inibição recíproca entre músculos agonista e antagonista. 3. O mecanismo de inibição
pré-sináptica dos impulsos aferentes musculares primários está ativo no músculo soleo e tibial anterior na postura de pé. O
controle de tal mecanismo pelo SNC é provavelmente um requerimento para a estabilidade postura! em bipedestação.
14
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
AN AUTOMATIC ADAPTIVE NMES CONTROL SYSTEM FOR GAIT SWING RESTORATIO N IN SUBJECTS
WITH SEVERE SPINAL CORD LESION
Sepulveda, F, A, Biomedical Engineering Dept. UNICAMP, Brazil , M.H. Granat e A. Cliquet Jr*Bioengineeri ng Unit,
University of Strathclyde, Glasgow, UK
Introduction: Control systems for gait restoration in spinal cord injured (SCI) subjects must be closed-loop and adaptive. To
this end, Sepulveda et al. (1997) recently presented an artificial neural system which was useful but relied on hurnan intervention for
activation of the on-line learning scheme. This work presents an automatic on-line learning strategy for the latter system. Methods: A
three-layer artificial neural network was used for adaptive control of gait swing generated by neuromuscular electrical stimulation
(NMES) in a spinal cord injured subject. Network inputs consisted of knee and ankle goniometer signals. Output values were
proportional to changes in the NMES Pulse Width (PW) applied to the femoral and common peroneal nerves, respectively. On-line
learning was activated in automatic mode. When the generated step correlated well with normal trajectories, an enhanced supervised
backpropagation scheme was applied with desired outputs corresponding to leaving PW values unchanged. However, when the
generated angles did not correlate well with normal trajectories, Punishment was applied. Correlation coefficients were calculated by
comparing measured angles with angular data from an average normal male. For testing purposes thus far, PW changes produced by
the on-line learning scheme were compared to those generated by a neural network trained only off-Iine. Results: In a sample test, after
a good step was generated with ch1=895 JJS and ch2=894 JJS, the off-line system predicted changes in PW equal to -152 JJS and +6551-1-s
for ch1 and ch2, respectively. This led to a poor step being generated after the good one. On the other hand, the latter PW changes were
-37 JJS for ch1 and +5 JJS for ch2 in a simulation with the automatic on-line scheme, thus maintaining the PW values near those which
had led to a good step. In general, the automatic on-line learning scheme behaved better than the off-line system only when punishment
was needed. Conclusions: According to tests, the automatic on-line learning strategy presented here is an improvement over the
original, human-activated system. The strategy is prornising and should soon be submitted to clinicai tests for a further evaluation.
Bibliography: F. Sepulveda, M.H. Granat, A. Cliquet Jr. (1997). 'Two artificial neural systems for generation of gait swing
by means of neuromuscular electrical stimulation'. Medica[ Engineering and Physics, V oi. 19(1) in press.
The authors wish to thank Brazil's FAPESP and CNPq, and UNICAMP's FAEP for suporting this research
CONSIDERING THE FUNCTIONAL ROLE OF THE STRETCH REFLEX: DEVELOPME NT, NORMAL
FUNCTION AND PATHOLOGY
Gottlieb, Gerald L., Boston University e Barbara M. Myklebust, The George Washington University
The stretch reflex has a played a large, long and controversial role in the study of motor control. While its role in the
maintenance of normal posture is relatively well accepted, some also argue for its fundamental participation in the general
task of controlling voluntary movements. In this talk, we will review findings of the last 15 years that suggest that the stretch
refi ex plays a broad, excitatory role within the spinal cord of the normal neonate. One of the achievements of normal
development isto reduce and focus that excitation into appropriate channels. We will show that this reduction and focussing
does not occur in children with spastic cerebral palsy and some other motor disorders andas a result, may be one contributor
to movement deficit. We will also show that in normal movement, the stretch reflex plays a modest and non-stereotypical
role. We will show that segmenta! stretch reflex mechanisms are not the static, stereotyped "negative feedback" system that
they are traditionally described as but an evolving, adjustable system.
ROBOT-AIDED NEUROREHA BILITATION: TWO YEAR FOLLOW-UP
1 3
2
2
Krebs, H.I. 1; Aisen, M.L. ; Volpe, B.T. ; Hogan, N. '
1
Massachusetts Institute of Technology, Mechanical Engineering Department, Newman Laboratory
2
Cornell University Medicai College, Department Neurology and Neuroscience, Burke Institute of Medica! Research
3
Massachusetts Institute o f Technology, Brain and Cognitive Sciences Department
Our goal is to apply robotics and information technology to assist, enhance, quantify, and document rehabilitation
following neurological injury and in particular, stroke. Recent reports showed that stroke patients treated daily with additional
robot-aided therapy during acute rehabilitation had improved outcome in motor activity at hospital discharge, when compared
to a control group that received only standard acute rehabilitation treatment. Outcome improvement was limited to the muscle
groups trained in the robot-aided therapy (Aisen et ai, Arch Neurology, 54:443-446, 1997; Krebs et ai, IEEE-Transactio ns on
Rehabilitation Engineering, 6:1:75-87, 1998).
To test if this improved outcome was sustainable, we are recalling the twenty patients enrolled in that study two
years (approximately) since they were discharged. The same standard assessment procedure (of the initial study) was
administered by the same "blinded" therapist. Table I summarizes preliminary results from 9 patients recalled so far (5
experimentais, 4 controls).
15
Rev. Bras. Fisiot.
Patient
Group
Ex per
Control
Suplemento Especial
Fugl-Meyer
(out of 66)
Motor Power
shoulder & elbow
(out of 20)
Motor Status Score,
shoulder & elbow
(out of 40)
Motor Status Score,
wrist & finger
(out of 42)
~1
~2
~3
M
~2
~3
~1
~2
~3
M
~2
~3
16.4
8
4.8
18.75
21.2
26.75
4.9
0.95
3.9
5.35
8.8
6.3
12.75
-1.25
9
14.5
21.75
13.25
6.25
5.5
9
12.25
15.25
17.75
T ABLE I. Motor recovery of 9 patients approximately 2 years after discharge as measured by severa! standard clinicai
instruments. ~1 denotes the change between admission and discharge; ~2 denotes the change between 2 years after discharge
and at discharge; ~3 denotes the change between 2 years after discharge and at admission. Patients in the experimental group
received robot training; those in the contrai group did not.
These preliminary data should be interpreted with care due to the small number of subjects. Nevertheless, it is
striking that seven out of nine patients continued to improve substantially in the period following discharge. lf this finding is
borne out in further study, it would challenge the common perception that patients stop improving after about 11 weeks poststroke (see, e.g., Jorgensen et ai, Arch Phys Med Rehab, 76:5:399-405 and 76:5:406-412- The Copenhagen Stroke Study)
and suggest that there may be an opportunity to further improve the motor recovery of stroke patients by continuing therapy
in the out-patient phase, for example, using the technology that is the focus of our project.
Note further that, comparing the overall recovery (between admission and 2 years after discharge) the MSS for
shoulder and elbow (which were the focus of robot training) of the experimental group improved twice as much as the control
group, whereas the MSS of wrist and fingers (which were not trained) improved by essentially the same amount for both
groups. These preliminary results in a two year follow-up corroborate our in-patients studies, indicating that the benefits of
robot-training (and training in general) are specific to the muscle groups or limb segments exercised.
MUSCLE ACTIVATION PATTERNS IN UPPER LIMB MOTOR TASKS PERFORMED BY INDIVIDUALS
WITH DOWN SYNDROME
Anson, J. Greg, Rachei Lockie, Trish Gorely, Grant Mawston, School of Physical Education ,University o f Otago, New
Zealand
When initiating fast, discrete arm movements, individuais with Down syndrome (DS) present a distal-to-proximal
pattern of muscle activation. For example, in a task that required participants to hit a target as fast as possible with the index
finger, extensor indicis activation preceded that of anterior deltoid. Chronologically age-matched, non DS individuais
demonstrated a predicted proximal-to-distal activation pattern. The reasons for a difference in DS activation patterns are not
clear but they do not appear to include: dependence on visual feedback; nerve conduction velocity; or specificity of task
instruction. We have now quantified severa! characteristics associate with the electromyograms (EMG) of selected muscles in
individuais with DS, and likewise, in chronologically age-matched contrai subjects. For contrai subjects, EMG profiles
indicate a triphasic response in ali three agonist-antagonist pairs of muscles (anterior deltoid!posterior deltoid; biceps/triceps;
extensor indicislflexor digitorum superficialis). Reaction time (RT) occurs within the duration of the first agonist burst. In
DS, triphasic responses were infrequent. Most DS EMG profiles revealed cocontraction between agonist-antagonist pairs of
muscles.
Furthermore, EMG in the agonist muscles of DS participants was often characterized by a series of bursts of EMG that
increased in magnitude during the response, diminishing just before target contact occurred. The failure to dissociate agonist
and antagonist muscle activation could be one explanation for the altered pattern observed in individuais with DS during
performance of discrete, rapid aiming movements.
COORDENAÇÃO INTRA-MEMBROS NA PASSADA DO ANDAR EM HEMIPLÉGICOS
Barela, J.A., Departamento de Educação Física, IB, UNESP, Rio Claro.
A ocorrência de um acidente vascular cerebral (A VC), muitas vezes, provoca danos aos neurônios motores em um
dos hemisférios cerebrais e, consequentemente, deficiência no controle da musculatura de um lado do corpo. Esta dificuldade
unilateral em controlar movimentos voluntários é denominada de hemiplegia e acarreta inúmeras mudanças na capacidade de
locomoção. Por exemplo, após um A VC, as pessoas andam consideravelmente mais devagar, com uma assimetria temporal
entre a ação dos membros inferiores e com padrões de ativação muscular muito diferentes dos verificados em pessoas
normais. Apesar destas diferenças terem sido extensamente estudadas, muito pouco é conhecido sobre o relacionamento entre
os segmentos dos membros inferiores na medida que eles realizam a passada do andar. Qual é o relacionamento do segmento
da perna e da coxa em uma passada realizada por um hemiplégico? Este relacionamento é diferente de uma passada realizada
por pessoas normais? Neste estudo, respostas a estas questões são buscadas a partir de um referencial baseado na perspectiva
dos sistemas dinâmicos. Clark e colegas (p. ex., Clark & Phillips, 1993) sugeriram que a fase relativa constitui uma variável
coletiva que representa o padrão de coordenação entre os segmentos perna e a coxa no ciclo da passada em pessoas normais.
16
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
A identificação de uma variável coletiva permite verificar como a coordenação entre os segmentos muda durante um
ciclo da passada ou durante um período de tempo. No caso de pessoas que sofreram AVC, esta abordagem tem o potencial de
identificar mudanças no processo de reabilitação decorrentes de intervenção terapêutica. Desta forma, o objetivo deste estudo
foi de descrever o comportamento dos segmentos perna e coxa e investigar o relacionamento entre eles, coordenação intramembros, durante o andar em pessoas hemiplégicas.
Seis sujeitos hemiplégicos crônicos e seis sujeitos normais foram filmados (60Hz), a partir de uma vista lateral com
marcas em pontos articulares específicos, andando com velocidade preferida. Três ciclos do andar para cada lado do corpo
dos sujeitos hemiplégicos (afetado e não afetado), e três ciclos para o lado direito do corpo dos sujeitos normais foram
digitalizados, utilizando o sistema Peak Performance. Os dados cinemáticos, posição e velocidade angular, foram calculados
e os retratos de fase, descrevendo o comportamento de cada segmento, e os ângulos de fase foram obtidos para os segmentos
da perna e da coxa. A fase relativa, entre estes dois segmentos, foi calculada subtraindo o ângulo de fase da perna do ângulo
de fase da coxa. Os valores da fase relativa, em pontos específicos do ciclo, referentes ao lado afetado, não afetado e normal
foram comparados através de MANOV AS. A descrição do comportamento da perna e da coxa, através dos retratos de fase,
indicou diferenças entre os lados afetado e não afetado e entre estes dois e o normal. A fase relativa entre a perna e coxa
revelou que o relacionamento entre estes segmentos é diferente na maior parte do ciclo da passada entre os lados afetado e
não afetado. Apenas no início do ciclo (próximo do toque do pé no solo) os lados afetado e não afetado não diferem um do
outro. Comparados com o ciclo normal, os lados afetado e não afetado apresentam diferenças significativas antes e durante a
fase de balanço. Estas diferenças são decorrentes principalmente da dificuldade em produzir força contra o solo por parte do
lado afetado para iniciar a fase de balanço. Isto afeta apenas este lado, mas faz também que o lado não afetado tenha que
compensar sua ação, neste período do ciclo. Isto sugere que a coordenação entre a perna e coxa é alterada em pessoas
hemiplégicas devido a inabilidade de aplicar uma força no chão para propiciar o início da fase de balanço na perna afetada.
PHSYSIOLOGICAL BASIS OF RISKS VERSUS BENEFITS OF EXERCISE TRAINING IN CARDIOV ASCULAR
DISEASES
Gallo Jr.., Lourenço, Divisão de Cardiologia, Depto. de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP.
Physical exercises, a common and spontaneous activity of everyday life, is one of the most complex physiological
processes know. Moreover, no other physiological activity can overload the biological systems to a comparable extent. In
particular, this applies to cardiorespiratory function when dynamic exercise is performed at high intensity workloads.
Muscle contraction for more than a few seconds needs the support of severa) biological systems for the entire
organism to cope with the energy demand required by the exercising muscles. In this situation, the efficiency of the
cardiorespiratory system is controlled by a highly hierarchical centers located in the central nervous system, the so-called
autonomic nervous system (ANS). Depending on the type and characteristics of exercise, one of two mechanisms may play a
major role: 1) the central command starting from the cerebral cortex, or 2) peripheral modulation arising from the mechano-or
chemoreceptors located in the heart, vessels and active muscles that transmit informations to the nucleus of the tractus
solitarius in the medulla oblongata.
The cardiorespiratory and metabolic responses of the variables during exercise depend on an interplay of severa!
implies that research studies related to exercise must take ali ali of these into consideration. lt should be
This
factors.
emphasized that the magnitude pf these variables strongly depends on the type of exercise, i.e., dynamic (isotonic) or static
(isometric) exercise.
EFFECTS OF MUSCLE STRENGTHENING AND PHYSICAL CONDITIONING IN REDUCING IMPAIRMENT
AND DISABILITY IN CHRONIC STROKE SURVIVORS
Teixeira-Salmela, Luci Fuscaldi, Ph.D., PT; Sandra Jean Olney, Ph.D.,PT; Sylvie Nadeau, Ph.D., PT, and Ian McBride,
M.Sc.
The purpose of this study was to investigate the impact of a combined program of muscle strengthening and physical
conditioning in reducing impairment and disability in subjects with chronic stroke. A pre- and post-test control group design
was employed with subjects stratified according to their walking speed, prior to randomization. Subjects were randomly
assigned to control (n=7) and treatment (n=6) groups. The program was conducted for 10 weeks, three times weekly,
immediately after baseline tests. After 10 weeks ali subjects were retested. The training program consisted of supervised
exercise sessions with each session including a 5-10 minute warm-up, aerobic exercises such as graded walking, stepping, or
cycling performed at a target heart rate of 70% of the maximal heart rate attained at the exercise testing, strengthening
training exercises for the major muscle groups of the paretic lower limb, and a cool-down period. The effects of the
intervention, as measured by the Human Activity Profile (HAP), the Nottingham Health Profile (NHP), and comfortable
walking speed, were positive. Subsequently, after the second baseline measure, the control group underwent the same 10week training program and were retested after intervention, in order to get a better estimation of the treatment effects. In
addition to previous variables, measures of rate of stairclimbing, isokinetic strength of the major muscle groups of the
affected lower limb, and spasticity of the knee and ankle joints were obtained. Full gait analyses were also employed to
obtain temporal/distance, kinematic, and kinetic measures of the lower limbs. While the treatment and control groups did not
differ at baseline, results of ANOV A showed significant improvements in ali selected variables only for the treatment group.
In terms of overall treatment effects, the 13 subjects demonstrated increases in the isokinetic peak torque generated by the
major muscle groups of the affected lower limb (42%), in functional performance, as determined by improvements in HAP
17
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
scores (39%), comfortable walking speed (8 o/o), and rate stairclimbing (37%), as well as improvements of 78% in quality
of
life as determined by the NHP were observed without concomitant changes in either quadriceps anci/or ankle plantarflexor
spasticity (p<0.007). In addition, significant improvements in walking pattern were observed, as determined by increases
in
selected kinematic measures and in joint moments. Furthermore, the subjects were able to generate higher leveis of power
after training and demonstrated increases in positive work performed by the ankle plantarflexor and hip flexor/extens
or
muscles. In summary, a combined program of muscle strengthening and physical conditioning was shown to be beneficiai
for
subjects with chronic stroke. Participation in the exercise program.appeared to improve self-confidence and perceived
abilities in chronic stroke subjects, and thus may be of value in maintaining independence in activities of daily living.
AN APPROACH TO CEREBRAL PALSY BASED ON THE FAMILY
Braga, Lúcia Willadino, Ass. das Pioneiras Sociais da Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor, Brasília.
The SARAR Network of Hospitais for the locomotor System, in the late 1970s, developed a methodology for
treating children with cerebral palsy. This approach is based on family training. A treatment program elaborated by
a
multidisciplinary team, based on a prognostic objective evaluation with realistic goals to be achieved, is developd with
the
aim of incorporating the family's participation into every levei of the rehabilitation process. The method includes a great
number of educational strategies, part of wich aim to teach the familyabout the pathology. Knowledgeabout the disease
contributes towards rendering the family capable of possibility working with the child on the development of his/her motor,
cognitive, and communication skills. The parent's training schedule and itinerary are structured to facilitate the learning
process; among their activities are instructional meetings on the technical pathology onformation, daily activities with
the
child, and support groups with members of the multi-disciplinary team.
This method has been improved and consolidated over the course of the last 18 years. Today it has extensive
instrctional material including manuais and vídeos. The team employs computerized protocols, a gait analysis laboratory
and
a neuropsychology laboratory wich permit an even better oblective evaluation. Thus, the definition of goaals and program
treatment are more clearly established in accordance with each patient's needs and capabilities.
With the aim of evaluating the resultats of this method, two groups of children were studied. The first group (group
A) partook of the method-oriented program, working in family participation; the second (group B) consisted of having
the
children submitted to treatment and stimulation by specialized professionals only (no family involvement). Each group
consisted of children diagnosed with cerebral palsy, aged 1 to 6 years old.
The motor and cognitive development of the children was carefully monitored and followed upon during throughout
one year. The comparison between the two groups was conducted using qui-square and ultiple regression statistic tests. The
resultats showed that the group which had worked with the family experienced better evolution in their motor and cognitive
development, while the group that worked exclusively with professionals failed to present equally successful outcomes
(p<O.OOl).
On the other hand, exercise training causes adaptations in ali biological systems. The nature and the extent of these
adaptations depend on the characteristics of the training (type, frequency, intensity and duration) and of the physiological
conditions o f the subjects submitted to this procedure.
The physiological basis of risks and benefits of this procedure, as an approach for prevention and treatment of
cardiovascular diseases, will be the object of this presentation.
ANÁLISE DE MOVIMEN TO COMO INSTRUME NTO DE AVALIAÇÃ O DE RESULTAD OS EM
REABILITA ÇÃO MOTORA
Saad, Marcelo ; Linamara Rizzo Battistella; Danilo Masiero
1 -Divisão de Medicina de Reabilitação do HC-FMUSP
2- Disciplina de Fisiatria do DOT-UNIFESP-EPM, Centro de Reabilitação Lar Escola S. Francisco
O movimento humano, em especial a marcha, é uma seqüência de fenômenos rápidos e complexos. É extremamente
difícil, à observação clínica, analisar e quantificar seus desvios da normalidade. Tal situação levou à criação dos chamados
Laboratórios de Movimento, que são estruturas equipadas para registro e análise interpretativa.
A análise de movimento tem papel fundamental no tratamento das patologias do aparelho locomotor. Suas
aplicações incluem: a-) identificação dos mecanismos causadores de padrões patológicos; b-) quantificação do afastamento
da
normalidade; c-) planejamento e direcionamento terapêutico (fisioterapia; bloqueios neuro-musculares; cirurgia, etc.);
d-)
comparação pré e pós-tratamento; e-) prescrição e adequação de órteses, próteses e auxiliares de locomoção;
f-)
documentação médico-legal
Os campos da análise de movimento são: cinemática (estudo do movimento em si); cinética (estudos das forças
envolvidas com o movimento); eletromiografia dinâmica (estudo do instante e da intensidade da contração muscular); gasto
energético (avaliação do desempenho e eficiência do movimento). Para estudos nestes campos do conhecimento, a análise
de
movimento pode se valer de diversos recursos. Estes podem variar desde instrumentação simples como cronômetro,
até
sofisticados sistemas computadorizados de rastreamento automático do movimento.
Em nosso país, a análise de movimento ainda é uma atividade de grandes centros tecnológicos, exercida por uma
elite de pesquisadores. Porém, a literatura médica estrangeira tem documentado a importância deste exame para evitar maus
resultados. Atualmente, muitas decisões terapêuticas (fisioterapia, ortetização I protetização, bloqueios químicos
18
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
neuromusculares, cirurgias) são tomadas baseadas em informações empmcas. Nos países desenvolvidos, os dados do
Laboratório de Movimento tem papel importante e definitivo na tomada de decisões terapêuticas que envolvem a locomoção.
Evidentemente, um Serviço de Saúde que conte com tal estrutura poderá oferecer um tratamento muito mais racional
para patologias do aparelho locomotor, baseado em evidências mais concretas. Tal tratamento racional tem potencial de
diminuir maus resultados, ocasionados em outras condições menos favoráveis. Um tratamento mau sucedido tem custos
financeiros, sociais e humanos. Os dados do exame de movimento são informações a mais, que aumentam as chances de
sucesso de um tratamento.
NOVA ABORDAGEM NO TRATAMENT O DA LOMBALGIA - MÉTODO MCKENZIE DE DIAGNÓSTIC O E
TERAPIA MECÂNICA.
Masselli, Maria Rita, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente
Robin McKenzie é um médico osteopata que desenvolveu um método de diagnóstico e tratamento da coluna
Vertebral baseado no mecanismo de produção da dor - por acreditar que a grande maioria das disfunções da coluna são
mecânicas e por isso podem ser tratadas de maneira mecânica. Mais importante do que isso, uma vez que os princípios sejam
entendidos, a maioria dos tratamentos mecânicos podem ser realizados pelo próprio paciente. A base do método é combater
as posturar erradas que o corpo assume nas diferentes atividades do nosso cotidiano - em casa e no trabalho. Então, o ponto
principal do método é que o tratamento é responsabilidade do paciente e que será mais eficaz a longo prazo do que qualquer
outra forma de tratamento. Este, inclui exercícios criteriosamente escolhidos, mobilizações e manipulações. As duas últimas
técnicas só são utilizadas se e quando necessário. O método McKenzie vem suscitando grande interesse na comunidade
científica e muitos trabalhos, que questionam o método ou que o endossam, têem sido publicados. Eu venho trabalhando com
o método há 7 meses e os resultados são muito bons.
STRA TEGIES OF MOTOR REHABILITAT ION: THE ROLE OF ADAPTIVE CHANGES
Latash, Mark L., The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA
Issue of Normality in Movement Coordination. "Normality" is a misnomer commonly used in clinicai movement
studies. A person with a disorder of a subsystem involved in the production of voluntary movements may be expected to
display atypical patterns of motor coordination. In particular, differences in apparent motor goals may lead to the generation
of movements that may look clumsy to an observer who does not see the goals as they are seen by the actor's central nervous
system (CNS). These atypical patterns may be viewed as optimal with respect to a certain group of motor tasks which this
person considers important, if one takes into account the actual state of structures participating in movement production.
These atypical motor patterns can hardly be viewed as "wrong" or "pathological" because they have been elaborated by the
person's CNS based on its actual state and functional goals.
Motor Redundancy and Atypical Motor Patterns (for review see Latash, Anson, 1996). Motor redundancy may be
viewed as a source of complicated computational problems that the CNS needs to solve, or as a source of flexibility and
adaptability which, in particular, allows humans to switch to alternative, atypical motor coordination strategies with respect to
everyday motor tasks. So, probably we should start using "abundance" instead o f "redundancy". Although we do not know
the criteria used by the CNS to make selections of motor patterns, we may assume that such criteria exist and that they are
common for ali persons who belong to the general population and do not have highly specialized motor skills. These sets of
coordinative rules that make choice possible may be called "CNS priorities". One may expect them to change following a
major change (injury) of a subsystem participating in movement production or very specialized training.
Optimization in Voluntary Movements (for review see Kawato, 1996). Optimization has been used as a method of
solving the problem of redundancy in both robotics and motor control. A number of opmitization principies have been
suggested based on minimization of such factors as energy expenditure, movement time, joint wear, discomfort, change in
central command, etc. Ali these factors look rather artificial, however; it is more likely that movement optimization is based
on functionally important factors that may reflect the actual state of the system for movement production and be task-specific.
In this sense, crawling is an optimallocomot ion pattern in babies but not in grown-ups.
CNS Plasticity (see Merzenich et ai., 1984; Crepe) et ai., 1996). Plasticity is one of the most exciting and poorly
understood features of the CNS. If one studies projections of certain groups of neurons onto other group of neurons, "maps"
can be seen that are rather well reproducible across the general population. Recent studies have shown, however, that most, if
not all of these maps are flexible and able to demonstrate a quick, major reorganization following a major change in the
patterns of incoming signals. Such map modifications have been reported after specialized training or immobilization of
effectors, after stroke, and after amputation. Neuronal mechanisms of plasticity have been studied in such brain structures as
the hippocampus and the cerebellum and assumed to participate in processes underlying memory, in particular motor
memory. This amazing ability of the CNS to "rewire itself' is Iikely to contribute to adaptive changes in motor coordination.
Examples of Motor Pathologies
Amputation. Apparent immediate consequences of a limb amputation include changes in the limb biomechanics and
in reflex projections. Plastic changes have been shown to leads to changes in cortical maps of neuronal projections. Among
adaptive consequences documented in persons after leg amputation are changes in the role of muscle groups in the generation
and absorption of energy and changes in postura) adjustments.
Spinal Cord Injury . Apparent immediate consequences include blocked conduction along descending and ascending
pathways and destroyed segmenta) neuronal apparatus. It has been hypothesized that adaptive consequences to a spinal cord
19
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
injury resulting in spasticity may include an increase in the number and affinity of receptors sensitive to inhibitory mediators
(GABA). As a result, certain drugs (e.g., intrathecal baclofen) are highly effective in suppressing spasticity while voluntary
movements may not be further suppressed or may even be unmasked. These adaptive changes may also be the reasons for the
selective effects of baclofen on muscles of the left and right sides of the body in hemisyndromes.
Parkinson's Disease. (for review see Rothwell, 1995). Apparent direct consequences include the lack of dopamine
production by substantia nigra and malfunctioning of the cortex-basal ganglia-thalamus-cortex loop. One may speculate that
some of the apparently abnormal motor patterns actually represent results of adaptive changes. These speculations should be
viewed only as illustrations of the whole approach rather than viable hypotheses.
Down Syndrome.
No apparent neurological abnormality has been reported in persons with Down syndrome with the notable exception
of reports of cerebellar impairment. These persons are characterized by the slowness in making decisions and low IQ.
Adaptive consequence may include preference for safe motor patterns resulting in prolonged reaction time, long movement
time, and co-contraction patterns of muscle activation.
Implication for Rehabilitation. (for review see Latash, Anson, 1996). Patient's CNS is "aware" of the present status
of different subsystems and of available motor strategies. Two factors may prevent the CNS from finding an optimal solution:
Jacking predictive abilities and pain or discomfort. The therapist has an advantage of knowing possible long-term
consequences of different therapeutic strategies.
Different aspects in the role of a therapist can be emphasized:
Teaching a person who demonstrates atypical, clumsy movements "correct movement patterns", or
Providing assisting tools and directing adaptive processes so as to optimize functionally important behaviors.
MOTOR REEDUCATION IN STROKE: WHAT IS LEARNED WHEN MOVEMENT IS TAUGHT?
Levin, Mindy F. Rehabilitation Institute of Montreal, 6300 Darlington, Montreal, Quebec, Canada.
Motor function following a stroke progresses from paralysis to the appearance of abnormal movement synergies to
the ability to produce isolated movements of the limbs outside of the abnormal patterns of synergy. Sensorimotor function is
also characterized by the inability to activate appropriate muscles and to coordinate movements between adjacent joints.
Severa) mechanisms have been cited as leading to these motor impairments: decreased agonist muscle activation, lack of
antagonist inhibition, altered mechanical properties of motor units, muscle weakness, and improper spatial and temporal
muscle recruitment including inappropriate agonist/antagonist coactivation. Motor abnormalities are also related to deficits in
the organization of segmenta! reflex activity like reciproca! inhibition, stretch reflex threshold regulation and ·abnormal
postura) adjustments.
Throughout the recovery process, therapeutic interventions are aimed at decreasing abnormally increased muscle
tone and increasing the patient=s functional capacity. Although therapy stresses the importance of movement repetition over
days or weeks to improve performance, what aspects and by what mechanisms performance improves is unclear. lt is also
unclear whether improvement results from a 'normalization' or an 'adaptation' of motor output.
Traditional physiotherapeutic stroke treatments range from those based on the neuro-developmental approach in
which a hierarchically organized CNS is assumed, to behavioral approaches focussing on motor re-learning. In the latter
approach, missing components of the movement are practised following detailed task analysis. This Apractise= approach in
the rehabilitation of stroke patients is borrowed from the fundamental analysis of how healthy subjects acquire new motor
skills. However, although based on sound theoretical considerations, to date there is little evidence that motor learning occurs
in the same way in stroke patients as in healthy subjects.
It is also unclear what movement parameters improve when the task or movement is repeatedly practised. Does
practice lead to the restoration of the coordination patterns seen in healthy subjects or from the substitution of new
compensatory patterns. To understand this fundamental problem, our research addresses the following questions: What
specific characteristics of motor production are altered following CNS lesions? Do these characteristics change following
treatment? Do these changes Jead to measurable functional improvement? These questions are addressed by comparing the
characteristics of arm and trunk movements in hemiparetic subjects to those in healthy subjects and by analyzing the effects
of repeated practice of the motor task on these characteristics. This comprehensive approach may lead to a better understanding of the mechanisms underlying motor deficits and recovery and to the development of more effective treatment methods
for patients with movement disorders.
ESTABLISHMENT OF COORDINATED MOVEMENTS DURING NORMAL EMBRYONIC DEVELOPMENT
Bradley, Nina S., Ph.D., P.T., University of Southern California, Los Angeles.
The framework for coordinated movement is established even as spinal motor neurons begin to activate their target
muscles. One of the most frequently employed models for study of earliest motor behavior in vertebrates is the chick embryo.
Overt movement in the chick is first observed at embryonic day (E) 3.5 and progressively increases in intensity, duration,
ancl/or variety over the 21 days of development in ovo. First characterized by the eminent neurobiologist Viktor Hamburger,
the predominant motor behavior observed in chicks over the course of embryonic development is referred to as type I
motility. Type I motility is spontaneous and consists of activity sequences lasting a few seconds to 30 or more seconds.
Between E4 and E15, the total amount of motility progressively increases as a result of both an increase in the duration of
activity and a decrease in the duration of pauses interposed between the activity sequences. Beginning Ell, a second
20
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
behavior, type 11 motility is observed. Between E15 and E21, pauses between activity sequences increase and total amount of
activity decreases. Starting E17 a third behavior, type III motility, is observed as the embryo prepares for hatching. Until
recently it was believed that both types I and 11 motility were uncoordinated behaviors and type III motility was the first
coodinated behavior emerging during development.
For the past two decades investigators have speculated that the neural circuits within the spinal cord producing
embryonic motility may be the same neurons that will eventually form the central pattern generator (CPG) for locomotion
(for review see Bradley & Bekoff 1989). In large part this view was based on the findings that motor neuron output of
embryonic spinal circuits exhibited many of the features common to those of isolated spinal cord preparations for study of
locomotor generation in adult cat. Namely, at E9-El0, flexor and extensor motor neurons of the thoracolumbar spinal cord
produce repetitive, alternating bursts associated with flexion and extension of the legs for multiple cycles equivalent to one
activity sequence. Further, like the locomotor CPG, afferent and descending input are not required, for these alternating bursts
can be recorded from cut dorsal roots in reduced spinal preparations with only 3-4 spinal segments intact. The primary
difference between chick and cat spinal preparations is that the patterns recorded from the cat spinal cord include basic
temporal features resembling those of intact locomotion, such as the asymmetry of flexor and extensor burst durations and
linear scaling of extensor burst duration with cycle duration. In the chick embryo, the motor pattern recorded is generally a
symmetric alternation of flexor and extensor bursting and is also different from that observed during locomotion after
hatching.
The view that embryonic motility is produced by an embryonic version of the locomotor CPG has recently come
under question. Rather, it has been suggested that a transient spinal network produces spontaneous motility during initial
development. This view has emerged in part because of evidence that in embryonic spinal circuits, as in other regions of the
nervous system, inhibitory neurotransmitters initially have an excitatory effect. For example, glutamate-activated NMDA
receptors, a fundamental element in locomotor CPG circuits, depend on the initial binding of glutamate to neighboring
AMPA receptors for effective depolarizing of the neuron, but during early stages of development, the inhibitory transmitter,
GABA, binding to GABAA receptors, substitutes for the slower developing AMPA receptors. The transient role of GABA
may at least partially account for the spontaneous nature of embryonic motility. Inhibitory neural transmitters begin to exert
inhibitory effects on spinal neurons during the latter half of embryonic development, and likely account for the progressive
decline in amount of motility observed after E15.
Based on severa! behavioral studies of embryonic motility, it is my view or hypothesis that even if the initial spinal
circuitry in the embryo is transient, it is the foundation for development of coordinated movement. For example, multichannel EMG recordings indicate that flexor and extensor muscle synergies characterize type I motility at E9-El0 (Bradley &
Bekoff 1990, 1992). Additionally, kinematic data demonstrate that leg and wing excursions are orderly, not random as
previously believed, and the patterns of excursions are consistent with the muscle synergies obtained in EMG recordings
(Chambers et ai. 1995). More specific, the kinematics reveal that joint excursions covary closely within a limb for the
majority of cycles in an activity sequence at and concurrent excursions of the ipsilateral elbow and ankle are also loosely
coupled at E9. We've hypothesized that previous studies failed to detect coordinated movement because they used direct
visual observation methods. Because the embryo is buoyant up to approximately E15, there are insufficient reaction forces to
stabilize its posture as it moves, thus the movement situation may be too complex for visual detection of coordinated
movement. If amniotic fluid is removed to reduce the extent of buoyancy, coordination of movements is enhanced and more
readily apparent during direct observation (Chambers et ai. 1995). Collectively, the studies indicate that intralimb and
interlimb coordination are fundamental characteristics of movement within days after onset in the embryo.
Given the extent of coordinated early movements and previous conflicting reports as to the eventual regression of
type I motility, my lab has established methods for obtaining synchronized EMG and kinematic recordings for extended
periods of spontaneous motility at severa! ages. We have begun to quantitatively determine the normal transformations in
embryonic behavior leading to hatching at E21. Thus far we have analyzed data for comparisons of spontaneous motility at
E9, E12 and E15. Our initial findings indicate that motility consists of coordinated and reliable features at each age. Intralimb
coordination is progressively strengthened, where as interlimb coordination becomes more variable with increasing age as the
limbs begin to exhibit more frequent instances of isolated movement. In addition to an increasing amount of activity between
E9 and El5, there is a progressive decomposition in the timing of consecutive movements from the more regular repetitive
joint excursions at E9 to the more irregular, frequently abrupt and ballistic excursions generated at E15 (Bradley 1998, Rose
et ai. 1998).
We are also in the process of examining variables that may contribute to the transformations in motility. Currently,
we are testing whether the environment contributes to the behavioral transformations at one or more embryonic ages. To date,
we have manipulated the environment within the egg at 4 different ages to constrain motion by either reducing the extent of
buoyancy or by attaching an ankle splint. We selected to study the former test condition because buoyancy normally varies
dramatically over the embryonic period, from a state of complete buoyancy to non-buoyancy near hatching. Our results
suggest that a reduction in buoyancy, and increased exposure to gravitational and frictional forces can significantly alter the
timing and amplitude of limb excursions, altering both intralimb and interlimb coordination (Bradley 1997). For example, a
reduction in buoyancy increases co-variations for concurrent joint excursions within a limb (increased intralimb coordination)
and decreases co-variations for concurrent excursions of ipsilaterallimbs (decreased interlimb coordination). We selected the
second test condition because posture and joint motion are increasingly constrained as body size increases within the fixed
volume of the egg. At younger ages the leg is slightly extended and force-unloaded; at !ater ages the leg is flexed, the foot
21
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
rests against the shell wall, and Ioading forces are generated through the limb during motility as the embryo attempts to
extend from the cramped posture. Thus, we applied the ankle-foot orthosis to test whether generation of Ioading forces at ages
earlier than hatching can modify movement patterns. Preliminary analyses indicate that not only does the constraint alter
ankle motion, but atE 12, it also alters interlimb coordination o f the ipsilateral wing and Ieg. Thus, another current hypothesis
is that mechanical forces arising from movement in ovo may contribute to the normal transformations in behavior.
It is generally held that sensory information does not contribute significantly to the contrai of embryonic motility
until the onset of hatching. Nonetheless, the chick emerges from the egg with the ability to produce an array of adaptive
behaviors, such as walking, running, 1-leg stance, swimming, hopping, and scratching. Thus, our current efforts are directed
toward eventually determining if environment-dependent movement experiences during embryonic development contribute to
the establishment of adaptive posthatching behaviors and whether deviations in embryonic movement experience impact
normal development. The findings of such studies are expected to provide basic biological grounds for considering whether
movement-dependent sensory information during fetal development contributes to early human motor behaviors. The
potential implications of our work for rehabilitation of premature infants following Iesions of the central nervous system are
generally impossible to propose at this time. One might speculate, however that very early insults, those interrupting
neurogenesis, may prohibit the establishment of a foundation for coordinated movement, where as Iesions after neurogenesis
is basically complete may be more amenable to therapeutic interventions. Our ultimate goal is to assist rehabilitation
clinicians and scientists in the difficult task of determining if there are windows during early human development when
treatment interventions for movement disabilities are more likely to be effective.
REORGANIZAÇÃO TÔNICO-FÁSICA DA POSTURA: RESULTADOS PRELIMINARES
Durigon, Odete de Fátima Saiias; Costa, M.T.Z., Curso de Fisioterapia da Universidade de São Paulo
Com base no conhecimento produzido a partir do estudo das reações de equilíbrio ou "ao desequilíbrio" com auxílio
de plataformas móveis que permitem deslocamentos lineares nos sentidos antero-posterior e latero-Iateral bem como
deslocamentos angulares com registro eletromiográfico simultâneo dos grupos musculares envolvidos no controle da postura,
procedemos estudos no sentido de delinear um protocolo de intervenção terapêutica com a finalidade de
reorganização/correção da postura. A utilidade do desenvolvimento de um novo procedimento é respaldada pela constatação
de que os protocolos de intervenção com a finalidade corretiva baseiam-se e agem exclusivamente no sistema musculoesquelético desconsiderando o contexto neural de controle da postura e do equilíbrio que impõe aos músculos um padrão de
atividade que será determinante na expressão postura!. Conseqüentemente suas ações e efeitos são limitados. Com base no
que foi exposto estamos desenvolvendo protocolos de pesquisa clínica com o objetivo de delinear um programa de
intervenção terapêutica preventiva/corretiva que integre os sistemas controlador (neural) e o controlado (musculoesquelético).
A metodologia envolve duas etapas: I) organização da abordagem terapêutica baseada nos princípios descritos
acima levando em conta os pressupostos para a validade do constructo e 2) aplicação desse protocolo em indivíduos, faixa
etária 7 a 63 anos de ambos os sexos o que nos permitirá a longo prazo delinear a eficiência por faixa etária de 7 anos embora
os resultados preliminares refiram-se a 45 indivíduos de 15 a 49 anos. A intervenção fisioterápica inclui posicionamento
corretivo passivo/ativo progressivo no sentido distai-cranial com treino simultâneo de ajuste postura! tônico e fásico tanto em
sedestação como no ortostatismo; treinamento de força, resistência e elasticidade dos músculos deficitários na forma de
facilitação neuromuscular proprioceptiva e treino do equilíbrio através da utilização das estratégias de tornozelo, quadril e
passo nos três planos espaciais. A evolução é controlada a cada sessão através de método fotográfico padronizado para a
postura ortostática, nas vistas laterais, anterior e posterior com utilização de marcadores em pontos de referência anatômico
padronizados pela literatura. As imagens são analisadas quanto à simetria, alinhamento segmentar, alinhamento em relação a
linha de gravidade através de cálculos de ângulos e distâncias entre os pontos de referência os quais estão sendo analisados
com técnica estatística descritiva e de inferência (MANO V A) comparando-se os dados obtidos antes e após a intervenção. A
duração total da intervenção variou em função da complexidade das correções de cada indivíduo bem como do grau de
desequilíbrio muscular encontrado, contudo fixou-se como mínimo um número de 10 sessões. O controle fotográfico diário
nos permitirá estudar o padrão de evolução Os resultados preliminares indicaram melhora significativa (p<0,05) nos
parâmetros controlados. Além disso as alterações mostraram-se consistentes já nas primeiras sessões.
A NEW TECHNIQUE TO ASSESS MOTOR REHABILITATION AND DEVELOPMENT
Surburg, Paul R., Indiana University, USA.
This presentation will address the development and utilization of a neurological assessment technique which may be
used in rehabilitation settings and as a research tool. This technique is closely linked with the attainment of a developmental
milestone and involves an information paradigm. This milestone is midline crossing integration which usuaily is attained by
8 or 9 years of age (Stilwell, 1981). An inability to demonstrate this milestone is called midline crossing inhibition
(MCI).While MCI has been identified with brain dysfunction (Head, 1920) and other disabilities in children and young adults
(Wagner & Cisillo, 1968; Schofield, 1971), measurement procedures (Ayres, 1972) to identify MCI have been rudimentary in
nature. Early in this decade Eason and Surburg (1993) developed a technique to assess MCI which involved the customary
spatial factors but also included a temporal factor.
Initially studies with this new technique evaluated individuais with mental disabilities and identified MCI with these
developmentaiiy delayed subjects (Surburg,Johnston & Eason, 1994; Woodard & Surburg, 1994). At the time these studies
22
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
were published a new line of inquiry was initiated. Johnson and Surburg (1993) found that MCI is evident in persons 65
years and older.
A subsequent study identified MCI in persons with Huntington's disease which involves aging at a more rapid rate.
Both these studies incorporated a new application of the Eason and Surburg technique. Leg motions(Woodard,Lewis &
Surburg, 1996) were used to identify MCI with these two populations. To date all research and test batteries, related to
MCI,have used exclusively upper extremity movements. Lower extremity movements have been used to investigate
neurological integrity after anterior cruciate surgery. Initial work is being conducted on validating this protocol for assessing
different stages of Multiple Sclerosis. Finally the nuances of a new dependent measure, the MCI Index and recent advances,
will be addressed in this presentation.
REEDUCAÇÃO LOCOMOTORA
Souza, Pedro Américo de, Escola de Educação Física da UFMG
Após a alta médica e fisioterápica os portadores de comprometimentos locomotores, geralmente, apresentam marcha
com qualidade aquém de suas reais possibilidades. Partindo da hipótese de que seria possível melhorar a capacidade
locomotora de deficientes físicos nas condições expostas acima, há vinte anos SOUZA vem desenvolvendo e aplicando um
método baseado em teorias do treinamento esportivo. Essa metodologia é sistematizada segundo princípios e teorias, tais
como: periodização, estimulação proprioceptiva, sistema dinâmico de cargas, aplicação de tarefas motoras (educativos),
estimulação motivacional.
Visando a estruturação do programa de reeducação motora, foi estruturado, tanto um protocolo de avaliação quanto
um repertório de cento e cinquenta (150) tarefas motoras, as quais são selecionadas com base motivacional (potenciais) ou
com base nos objetivos de reeducação motora. Procura-se codificar padrões motores desejados e inibir padrões não desejados.
A análise dos resultados obtidos em vinte anos de desenvolvimento e aplicação do método, em casos de paresia
cerebral (hemiparesia, ataxia e atetose), nos permite conclusões como: a capacidade locomotora de deficientes físicos pode
ser melhorada significativamente após a alta médica e fisioterápica, mesmo após transcorridos váriso anos; o método é
adequado tanto para crianças capazes de seguir orientações verbais ou escritas quanto para adultos, podendo ser aplicado em
hospitais, residências, clínicas ou academias com atendimento especializado em Educação Física adaptada. O método deverá
dar sequência aos métodos Bobath, Kabat e Vojta, podendo ser aplicado concomitante aos mesmos. Seria desejável uma
aplicação mais disseminada dessa metodologia, além de um controle estatístico.
THE EFFECT OF EXERCISES ON HIP JOINT MOMENTS
1
2
13
Kirkwood, Renata Noce1.2, Ph.D.; Elsie Culham ' , Ph.D.; Patrick Costigan , Ph.D.; Department of Anatomy and Cell Biology ,
2
Clinicai Mechanics Group and School ofRehabilitation Therap/, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
PURPOSE: Fractures of the proximal femur are a result o f falls and low bone mass due to osteoporosis in the aging
population. Exercise is a non-invasive method of treatment that is proposed to be of benefit in prevention of hip fractures by
reducing bone loss. However, the appropriate exercise prescription has not been well established. It has been suggested that
both intensity and diversity of stress are important in influencing bone remodeling. The purpose of this experiment was to
measure the moments of force and rates of change in moments at the hip joint during thirteen selected exercises and compare
with those obtained during levei walking. Knowledge of the net mechanical effect of walking, stair climbing and other
exercises at the hip joint would allow the development of an exercise program designed to optimally increase femoral bone
mass. SUBJECTS: Thirty healthy subjects, 17 male and 13 female, ranging in age from 55 to 75 years (mean: 65.2 years),
participated in this study. The subjects had no history of osteoarthritis or pain at the knee and hip. METHODS AND
MA TERIALS: Data from the right test hip was collected. The gait and exercise patterns were obtained using a 3D gait
analysis system. The system includes an Optoelectronic motion tracking, a force plate, anthropometric information and
standardized x-rays to calculate 3D components of the hip and knee joints. An inverse dynamic approach was used based on
a co-ordinate system embedded in the proximal tíbia and femur along the posterior/anterior, lateral/media! and
distal/proximal axis. The unique characteristic of the system is the radiographic procedure that provides precise control of
subject positioning and correction of parallax error allowing a more accurate transformation from surface markers locations
to joint centres of rotation. The exercises investigated included weight bearing activities (climbing stairs, !unge, knee bend,
and single limb stance on the right limb while the left Iimb goes into flexion, extension and abduction) and non-weight
bearing activities (single limb stance on the left limb while the right limb goes into flexion, extension and abduction). All
subjects performed levei walking, 24 performed ascending stairs~ descending stairs and the remainder of the exercises was
randomly assigned such that each exercise was performed by a mlnimal of 8 subjects. ANALYSIS: A two-way analysis of
variance (ANOV A) with repeated measures on ali factors was carried out using the maximum peak moment and rate of
change in moments obtained at the hip during the activities under investigation. In case of a significant F ratio, a paired T test
was conducted to compare the mean difference between levei walking and each of the exercises in every plane. RESUL TS:
Descending stairs generated the highest hip moments of force (0.96Nrn/Kg) in th~ frontal plane, but not significantly higher
than levei walking (0.91Nrn/Kg). In the sagittal plane, levei walking generated the highest moment of ali the exercises. The
hip moments in the transverse plane obtained during ascending stairs (-0.21Nrn/kg/sec) was significantly higher than that
obtained during levei walking (-0.11Nrn/Kg) (p < 0.05). The rates of change in moments in the frontal and transverse planes
were higher during descending (0.111Nrn/Kg/sec) and ascending stairs (-0.020 Nrn/Kg/sec) respectively, but not significantly
higher than those obtained during levei walking. In the sagittal plane, levei walking generated the highest rate of change in
23
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
moments. CONCLUSION: Of the thirteen exercises investigated none generated higher hip moments and rates o f change in
moments than levei walking in ali three planes. Most of the exercises generated moments and rate of change in moments
similar to or significantly lower than levei walking. It was concluded that levei walking could be combined with the
exercises that generated moments and rate of change in moments comparable or greater than those obtained during gait in an
exercise program designed to maintain or increase bone mass at the hip. The incorporation of these exercises would add both
intensity and diversity of the stress, which are important for maximal increase in bone formation.
Acknowledgements: This work was supported by the Medicai Research Council of Canada, and CAPES, Brazilian
Scholarship.
NEW DIRECTIONS FOR REHABILIT A TION OF PERSONS WITH STROKE
Olney, Sandra J., School of Rehabilitation Therapy, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.
Stroke is the third leading cause of death and the primary cause of disability in the elderly in most industrialised
nations. Those who survive more than 18 months have life expectancies comparable to those of the general age and sexmatched population. Treatment that is aimed at reducing disability should not only result in better quality of life, but also can
be expected to reduce health care costs. A number of recent research findings have implications for treatment. Study of the
biomechanics of gait in stroke has resulted in the identification and quantification o f the work and power contributions of the
major muscle groups. This information has direct applications in physical therapy training methods, and has also been used
in computerised training.
Practitioners have frowned upon strengthening, as a method of reducing impairment for decades. However, recent
research has demonstrated not only that the muscle groups of chronic stroke subjects can be strengthened, but that these gains
are carried over into their gait. There is no evidence to date that strengthening is accompanied by changes in spasticity.
Aerobic conditioning has not been considered for persons with stroke. Recent research suggests that aerobic conditioning
and strength training combined, when carried out with appropriate screening, produces large improvements in health status
and reduction in disability.
RESTORA TION OF PROPRIOCEPTION AND NEUROMUSCULA R CONTROL IN THE UNSTABLE KNEE
AND SHOULDER OF A THLETES
Lephart, S., Neuromuscular Research Laboratory, Program of Sports Medicine, Department of Orthopaedic Surgery,
University o f Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Injury to capsuloligamentous structures of the knee and shoulder compromises both the static and dynamic
restraining mechanisms of joint. While the primary role of articular structures is to guide skeletal segments providing static
restraint, they contain mechanoreceptors which mediate the dynamic restraint of the rotator cuff muscles. As this articulation
is minimally constrained, such a coordinated dynamic mechanism about the joint is necessary for stability during arm motion.
Our series of studies (Lephart, et ai. J Shoulder Elbow Surgery, 3: 371-381, 1994) revealed that with shoulder instability from
cumulative injury to the capsuloligamentous structures there is a loss of proprioceptive feedback which may reduce the
reflexive muscular protection against excessive humeral head translation. Further theses studies demonstrated that following
surgical stabilization these deficits in proprioception were eliminated. This retensioning of the mechanical restraining
structures improved the sensory transmission from the joint and thus may provide a basis for normal kinematics and the
dynamic protective mechanism necessary for upper extremity activity. Reestablishing functional stability in the absence of
surgical stabilization necessitates rehabilitative techniques designed to produce adaptations is the sensitivity of peripheral
afferents (capsuloligamentous and tenomuscular) and facilitation of afferent pathways resulting in enhanced muscle
coactivation and restoration of discriminatory activation.
A DYNAMICAL APPROACH TO LOCOMOTION IN CHILDREN WITH HEMIPLEGIC SPASTIC CEREBRAL
PALSY
Fonseca, Sérgio T., Kenneth Holt, Linda Fetters and Elliot Saltzman, Depto. de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, UFMG.
Patterns of locomotion observed in children with spastic cerebral palsy have long been interpreted as a failure of
normal neural maturation. In contrast to this view, we propose that the atypical walking pattern in spastic cerebral palsy could
involve kinematic and morphological adaptations that allow these children to successfully accomplish the task. Analysis of
the dynamic resources available to these individuais might explain why children with spastic cerebral palsy do not develop
the typicallocomotor pattern of non disabled children.
Two studies were developed according to the dynamical systems theory. The observed walking patterns produced by
children with spastic cerebral palsy were interpreted as functional adaptations to the neurological impairment. In the first
study, locomotion was modeled as an inverted pendulum with springs and a phase dependent forcing function. The springs
represented the stiffness provided by muscles and connective tissue. A forcing function was included to represent the periodic
concentric muscular actions during the push-off phase of gait. This allowed us to relate the dynamics guided by Newtonian
equations of motion to the observed gait patterns. In the secorid study, we investigated how muscular forces and elastic
energy work to maintain locomotion in real musculoskeletal systems. The objective of the second study was to explore how
the dynamic requirements of the task and the dynamic action capabilities of the children with cerebral palsy relate to specific
kinematic and mechanical energy patterns o f their gait.
24
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Kinematic data of children with cerebral palsy and matched non-disabled children were collected at five different
walking speeds. The data were related to the dynamic parameters of the modelos equation of motion. Results indicated that
the model was successful in describing locomotion, showing that both children with cerebral palsy and non-disabled children
conform to the dynamics of escapement driven pendulum mass spring system. In addition, group and within subject leg
differences in terms of system stiffness, forcing function, vertical stiffi.ess, landing angle of the center of mass about the
ankle joint, and mechanical energy parameters of the center of mass indicated that children with spastic hemiplegic cerebral
palsy assumed a gait dynamics similar to a composite inverted pendulum on the non affected limb and a pogo stick on the
affected limb.
It was concluded that the kinematic details and functional adaptations observed in children with cerebral palsy
during walking resulted from the interplay between the dynamical capabilities of the individual and task requirements. When
learning to walk, children with cerebral palsy will make use of available dynamic capabilities in order to produce the desired
action. Lack of one or more parameters, such as strength, may lead to atypical pattern organization.
VOLUNTARY MOVEMENT AS A PERTURBATION TO BALANCE: POSTURO-KINETI C CAPACITY IN THE
ABLE-BODIED AND THE DISABLED
Bouisset, Simon, Laboratoire de Physiologie du Movement, Université de Paris-Sud
Antecipatory postura! adjustments (APA) assocated with intentional movement have been studied in both bilateral
and unilateral upper limb flexions, performed without and with an added inertia. Three methods were used simultaneously
(electromyography, accelerometry, force platform).
The results have shown that APA are specific to the characteristics of the forthcoming intentional movement. Their
finality has been argued on the basis of a simple biomechanical analysis: they tend to create inertial forces which, when the
time comes, will counterbalance the disturbance ofbalance dueto the forthcoming intentional movement.
In this context, the inteentional movement is considered as a perturbation to balance. The concept of dynamic
asymmetriy has been proposed to characterize this factor, which depends not only on the parameters of movement (such as its
velocity), but also on its location with respect to the body's axes of symmetry. Moreover, in order to take into account the
ability to react efficiently to the forthcoming perturbation, the concept of posturo-kinetic capacity (PKC) has been proposed.
PKC has been supposed to depend on the actual state of the sensori-motor system, for example on impairments in trauma or
disease.
With the aim to check this hypothesis, PKC has been assessed in parkinsonians and in paraplegics, with reference to
able-bodied subjects. In paraplegics (T4 levei, fully rehabilitated patients), AP A were almost doubled, whereas movement
velocity was significantly decreases. In parkinsonians (patients with severe tremor aand marked L-Dopa-induced dyskinesia
were excluded), there were neither APA nor specificity, and movement velocity was drastically slower.
Velocity reduction in both impairments can be explained by the patients inability to counterbalance the perturbing
forces which would have been associated with faster movements. Possible biomechanical and neurophysiological causes of
PKC lessening are discussed.
ROLE OF THE AGONIST AND ANTAGONIST MUSCLES IN RAPID MOVEMENT PERFORMANCE
Jaric, Slobodan, Institute for Medicai Research, Bel grade, Yugoslavia e Motor Control Laboratory, University of Campinas,
Brazil
The agonist muscles are usually considered responsible for kinematics of the movement they initiate. It has been
often reported that an increase in the agonists' strength, or power caused by either athletic training or therapeutic procedure
improves the performance of the movement they perform (Jelusic et ai. 1992; Kramer et ai. 1993). However, a number of
studies have shown that the antagonist muscles also demonstrate a prominent EMG activity, particularly while performing
rapid, self-terminating movements (Mustard & Lee, 1987; Gottlieb et ai. 1989). The temporal pattern of the recorded activity
also suggested an important role of the agonist and antagonist muscles in providing acceleration and deceleration torque,
respectively. As a consequence, it could be assumed that, in addition to agonists, the ability of antagonists to exert force could
also be of importance for performance o f rapid, discrete movements.
In order to assess the role of agonists and antagonists in movement performance we applied severa! experimental
factors assumed to affect muscles' ability to exert force (Jaric et ai. 1995, 1997, 1998a, 1998b). Specifically, subjects
performed rapid, consecutive elbow flexion and extension movements between two targets prior to and after (i) strengthening
elbow extensors, (ii) fatiguing elbow flexors, and (iii) fatiguing elbow extensors. In addition, some movements were
performed with an externai torque applied in a way to either assist or resist the tested movements. The results generally
demonstrated similar velocity of flexion end extension movements despite the large difference in the strengths of elbow
flexors and extensors. Movement velocity was also similarly affected when the experimental factors (i.e., strengthening or
fatiguing procedure) were applied on agonists and antagonists. Fatiguing of agonists and antagonists was associated with a
decrease in net muscle torque during the acceleration and deceleration phase, respectively (see Fig. 1). Finally, the results
also demonstrated consistent changes in the symmetry ratio (i.e., acceleration time divided by deceleration time). Namely,
movement time was redistributed in a way to provide more time for action of the muscle group with relatively reduced ability
to exert the force dueto the applied experimental factor (i.e., strengthening, fatiguing, or applying an externai torque).
Taken together, the results obtained (i) stress the importance of action of both the agonist and antagonist muscles,
and (ii) particularly emphasize their mechanical role in limb acceleration and deceleration, respectively, while performing
25
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
rapid, discrete movements. Although the applied approach does not let us to discern roles o f the central and peripheral factors
in the studied phenomenon (c.f., Enoka, 1994), as well as to assess particular roles of potentially important muscle
mechanical properties (e.g., muscle strength, power, rate of force development; c.f., Wilson & Murphy, 1996), the results
obtained could be of importance for application in physical therapy, physical education, and other kinesiologically related
disciplines. For example, the application of standardized mono-articular tests of the agonist muscles in order to asses
movement performance have been often questioned (Mero et ai. 1981; Jaric et ai 1989; Baker et ai. 1994). We believe that an
involvement of the antagonist muscles (in addition to agonists) could improve both the validity and the predictional power of
this approach. In addition, either training or therapeutic procedures applied on antagonists could be associated with an
improvement in movement performance in a similar way as the same procedures applied on the agonist muscles.
Acknowledgements: This work was supported by a grant of Serbian Research Foundation and by a grant of FAPESP
(97\03144-9), Brazil.
HOW SHOULD NEW TREA TMENTS BE CRITIQUED FOR SCIENTIFIC MERIT?
Harris, Susan R., PhD, PT, FAPTA; Professor, School ofRehabilitation Sciences, University ofBritish Columbia,
Vancouver, B.C., V6T 2B5, CANADA.
PURPOSE: Like many other health professionals, physical therapists and other rehabilitation providers often have a
tendency to adopt, and sometimes to enthusiastically embrace, new treatment approaches that have not been subjected to
adequate scientific scrutiny. Many recent therapy approaches are extremely controversial and offer little, if any, theoretical
or empírica) support for their effectiveness. Goals ofthis presentation are: 1) to introduce participants to characteristics which
typify "non-standard" or controversial therapies; and 2) to provide specific criteria for evaluating a new (or existing)
treatment approach. RELEVANCE: This presentation will provide specific objective cri teria that can be used to guide
rehabilitation professionals in judging the effectiveness and scientific credibility of the services that they provide.
DESCRIPTION: Eight characteristics that typify "non-standard" therapies, as outlined by Golden (1980), will be presented
first. These include, for example, "lack of confirmation by well-designed, randomized, controlled studies", "rapid, uncritical
acceptance by the public", and "no harmful side effects" (Golden, 1980). Each characteristic will be accompanied by
examples of controversial treatments that have been described in the non-professional rehabilitation literature. Secondly, six
specific criteria for evaluating the scientific merit of a new treatment approach will be described. Participants will be advised
to apply these criteria when contemplating whether or not to use a new treatment with their clients or when deciding whether
or not to enroll in a treatment-oriented continuing education course based on a new approach. And finally, eight objective
criteria for evaluating the efficacy of a new (or existing) treatment will be presented. These criteria are modified from
guidelines developed by the U.S. Federal Drug Administration for evaluating the efficacy of new drugs. OBSERVA TIONS:
This paper was initially presented at the First Annual Catherine Worthingham Fellows Forum in 1993 at the APTA Annual
Conference in Cincinnati, Ohio. The topic engendered some lively debate and comments from the audience and resulted in a
number of requests from physical therapy faculty and clinicians to obtain the written script for the presentation. Portions of
the paper were also presented as part of a 90-minute presentation at the CP AI APTA Congress in Toronto in J une, 1994. The
paper was subsequently published as an article in Physical Therapy in February, 1996*. CONCLUSIONS: The scientific
credibility of both new and existing treatment approaches is a topic that should be of paramount importance to ali
rehabilitation professionals. As health care providers, we have an ethical responsibility to our clients to provide treatments
that are theoretically-sound and that are supported by well-controlled, randomized clinicai trials. Likewise, the proponents of
new (and existing) treatment approaches are responsible for scientifically documenting the efficacy of those treatments. It is
hoped that this presentation will foster such scrutiny among rehabilitation practitioners and will provide them with objective
cri teria for evaluating the validity of new and existing therapy interventions.
*Harris SR. How should treatments be critiqued for scientific merit? Physical Therapy. 1996;76:175-181.
DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL MOTOR SCALE FOR INFANTS BASED ON CONTEMPORARY
MOTOR CONTROL THEORY
Campbell, Suzann K., PhD, PT, FAPTA, Depart ofPhysical Therapy, University ofiiiinois at Chicago, Chicago, IL, USA
Although most therapists and many physicians believe that intervention begun early for infants with deviant motor
performance is more effective than !ater treatment, early identification of children who might benefit from intervention
suffers from lack o f valid diagnostic and functional motor scales.
Although a new assessment of General Movement developed by Prechtl and colleagues shows promise as a
diagnostic tool, no functional motor scale exists for use by physical therapists and occupational therapists for identifying
delayed development, planning treatment, and documenting outcomes. In this presentation, a new motor performance scale,
the Test of Infant Motor Development (TIMP), is described which is based on 1) clinicai knowledge and results of qualitative
research on postura) and selective control of movement needed for functional activities in infants from 32 weeks
postconceptional age through 4 months post-term, and 2) a contemporary model of motor control and development which
emphasizes the role of multiple interacting subsystems and constraints in the person, as well as the role of the environment
and task characteristics, in performance of functional motor skills. Functional skills are defined to be those movements
which infants use to react to the demands of handling by caregivers and to initiate postura! adjustments or self-comforting,
exploration of the environment, or social interaction. Research on the test has been conductect on more than 200 infants.
26
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
The TIMP consists of 59 items organized into 2 scales, the Observed Scale (28 dichotomously rated items scored on
the basis of spontaneous movements of the infant) and the Elicited Scale (31 items rated on 5-, 6- or 7-point hierarchical
scales) which captures infants' responses to movement
"problems" posed by the examiner. The Observed Scale contains items reflecting important qualitative aspects of movement
that may be diagnostic of conditions such as cerebral palsy, as well as selective contrai of individual joints, head centering,
and antigravity control of the body and limbs. The Elicited Scale is based on assessment of the infant's response to being
placed in a variety of positions in space and being presented with challenges to postura! contrai such as rotation of a body
part, presentation of visual or auditory stimuli, or being moved in space, including elicitation of lateral righting reactions of
the head, body, and limbs. ltems on the Elicited Scale have been shown to be similar to movement challenges posed by
caregivers during typical interactions such as bathing, dressing, and play. Item reliability, test-retest reliability, and rater
scoring reliability are each above 0.90. Test scores increase significantly with increasing chronological age and decrease in
the presence of greater numbers of medicai complications reflecting risk for developmental disability. Longitudinal
assessment o f more than 30 infants from the age at which they became medically stable enough to be tested through 4 months
adjusted age demonstrated linearly increasing scores, and infants ranging in age from 32 weeks postconceptional age through
4 months post-term can be divided into 5 distinct leveis of ability. Current research is investigating the predictive validity of
the TIMP to 6-, 9- and 12-month performance on the Alberta Infant Motor Scale and the test's discriminative ability for
documenting differences in longitudinal developmental curves of children with brain insults, chronic lung disease, extreme or
moderate prematurity, and those born full-term with no medicai complications. Future plans include a study to develop
norms for performance at various ages which can be used to identify children with delayed gross motor development. When
complete, the TIMP will be useful for therapists as well as for physicians and nurses implementing and studying a variety of
interventions aimed at improving the outcomes of infants at high risk for developmental disabilities.
THE INFLUENCE OF SUPPORT INSTABILITY ON POSTURAL REACTIONS TO MUSCLE VIBRA TION
T ALIS V.L., IV ANENKO Y.P., KAZENNIKOV O. V., Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia.
lt is known that the vibration of Achilles tendons elicits backward movement of the body. This effect was considered
a result of muscle shortening dueto an "error signal" about muscle length to CNS. But the error signal of muscle length didn't
explain why neck muscle vibration induced forward whole-body inclination. Many studies of last decades testified to the
evidence of context dependent nature of vibratory reactions, emphasising the functional role of muscle being stimulated. Here
we studied the influence of support instability on postura! responses to muscle vibration in healthy humans. The vibration of
neck dorsal muscles and Achilles tendons was applied during equilibrium maintenance on movable rocking supports (seesaw)
of different curvatures capable of performing a translational-rotational movement (rolling) in a sagittal direction. The
directional dependence of vibration-induced reactions was the same as on the rigid floor: backward body displacement during
Achilles tendon vibration and forward body displacement during neck muscle vibration. Neck muscle vibration on the
movable support provoked a quick initial forward body sway. This initial quick response was absent on the rigid floor. The
decrease of support stability (dueto the increasing of seesaw curvature) diminished significantly the effect of Achilles tendon
vibration and in a lesser extent the effect of neck muscle vibration. The results suggest that postura! responses to muscle
vibration reflect peculiarities of participation o f different postura! muscles in the control o f human upright posture and depend
on the state of the system of equilibrium maintenance. The difference in the magnitude and in the initial component of
reactions could indica te a functional meaning of proprioceptive input. During balancing on the movable support the vestibular
system plays a particularly important role in the equilibrium maintenance. This is consistent with neurological reports to the
data that patients with absent vestibular function cannot keep balance on seesaws. Specific features of postura! responses to
neck muscle vibration during unstable posture support the hypothesis that the interpretation of proprioceptive signals from the
neck occurs in the context of vestibular signals of head movement.
Supported by Russian Foundation ofBasic Research, grant #97-04-48775
ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA: QUANDO COMPREENDER O 'DIFERENTE' FAZ A DIFERENÇA.
Pedrinelli, Verena Junghahnel, Prof. Ms., Departamento de Educação Física, Universidade São Judas Tadeu
Atender as necessidades individuais e assegurar o sucesso é antiga premissa na atuação profissional que envolve os
programas de atividades motoras. Compreender o potencial de desenvolvimento do portador de (d)eficiências constitui fator
preponderante para o ótimo desempenho na relação profissional-participante. A abrangência de conhecimentos é vasta e é
necessária competência para analisar, sintetizar e relacionar os conhecimentos para estruturar as atividades levando em
consideração as limitações motoras da clientela envolvida. As últimas décadas têm, mais do que nunca, revolucionado em
termos dos conhecimentos produzidos e a velocidade de acesso às informações provoca mudanças de comportamento dos
profissionais para garantir a atualização e compreensão dos fenômenos. Baseados nesta perspectiva, o objetivo da presente
proposta é destacar que estudos recentes (Latash & Anson, 1996; Manoel, 1997) evidenciam que o desenvolvimento da
pessoa portadora de (d)eficiência não é atrasado, limitado ou inexistente, mas é diferente. A partir da questão "Enfim, o que
está por trás de rebater uma bola", serão (a) apontados os conhecimentos relevantes para a formação de profissionais em
educação física adaptada I atividade motora adaptada; e (b) destacados alguns aspectos relevantes do processo ensinoaprendizagem na deficiência mental, considerando aspectos do desenvolvimento cognitivo e da percepção; e (c) apresentada a
27
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
proposta de aprendizagem baseada nos problemas como uma possib !idade metodológica na formação e preparação
profissional em atividade motora adaptada.
INVOLUNTARY AIR-STEPPING INDUCED BY MUSCLE VIBRA 1 'ION: EVIDENCE FOR CPG IN HUMANS
Gurfinkel V.S., Levik Yu.S., Kazennikov O.V., Selionov V.A., Institute fo · Information Transmission Problems, Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russia.
Now it is universally accepted that animal locomotion is con manded by a Central Pattern Generator (CPG),
however, as concerns humans, there are no sufficient reasons to believe th lt their Iocomotion is also controlled by CPG. The
contradictions in the existing data at our opinion could be explained by th ·~ supposition that in humans also the possibility of
triggering the CPG to a large extent is determined by a state of tonogenic s ructures.
We attempted to evoke locomotory movements in healthy human by means which could increase the levei of tonic
readiness. Muscular vibration was chosen as such means.
In 7 out of 16 subjects vibration of different leg muscles produced cyclic movements of suspended leg and reciproca!
EMG bursting in corresponding flexor and extensor muscles. Rhythm.c movement was observed during simultaneous
vibration of two agonist as well as antagonist muscles. lt was possible to < voke rhythmic movement by vibration of muscles
that did not participate in air-stepping and even by vibration of the contra ateral Ieg muscles. The kinematics and the EMG
activity during evoked movement and the voluntary air-stepping did not dii fer.
Cyclic movements could outlasts the vibratory stimulus by fe '' cycles. As a rule the vibration evoked cyclic
movements in hip and knee joints. Stable movements in ankle joint did 1 ot occur. The mean values of the cycle duration
were in range of 1.6-3.1 seconds and weakly depended on the musc ! under vibration and vibration frequency. The
continuous vibration could elicit the movement similar to both the forward md backward locomotion.
In these experiments movements were Iimited to one leg susp nded in horizontal position. However, rhythmic
movements of two legs also could be elicited. For this purpose a subject ' 'as seated at the highly elevated bicycle saddle so
that his legs did not reach the ground. Under these conditions belateral vii ;ration of Achilles tendons evoked locomotor-like
movements of both Iegs.
We suppose that these movements are a result of activation of >PG. This assumption is supported by following
arguments: 1) The kinematics and EMG patterns of evoked and self-ger !rated stepping movements were similar. 2) The
duration of step cycle was largely independent of location and frequency ,f vibration. 3) Air-stepping could be initiated by
vibration of contralateralleg. 4) Cyclic movements may outlast the vibratOJ 1 stimulation.
We hope that these arguments can serve as an evidence for the exi: tence of CPG in humans.
MECHANISMS FOR DISTURBED MOVEMENT COORDINATION lN HEMIPARETIC STROKE
Rymer, W.Z., MD., Ph.D., Rehabilitation Institute of Chicago, USA
Following stroke induced damage to motor cortex or to related e ferent motor pathways, patients exhibit a typical
pattern o f motor impairment, including hemiparesis, spasticity, and di ,turbances of posture and voluntary movement
coordination. This presentation will address some of the mechanisms wl ich could be responsible for the disturbances in
posture and in voluntary movement in paretic limbs o f hemiparetic subjects
The abnormalities in movement coordination are not simply attribt table to muscular weakness or to spasticity alone.
This is because weakness may be absent in many patients, and spastici y may also vary naturally, or be reduced with
treatment, yet disturbances of voluntary movement persist. lt is evident, ti en, that these disturbances in motor coordination
are attributable to different mechanisms.
The mechanisms for abnormal movement coordination appear to 'e linked to abnormal muscle "synergies" which
are defined as abnormal couplings between muscle activities at different oints within the same Iimb. These "synergies",
which have been described extensively in the clinicai literature, are assoei tted with stereotypic movements and postures in
which there is persistent activation of muscles in rigidly constrained patterr :.
This presentation will review some o f the mechanisms that might b ~ responsible for these abnormal muscle patterns.
The first possible mechanism is that these patterns emerge beca tse damage to major cortical efferent pathways
requires that other "primitive" bulbospinal systems assume descending ~ontrol of spinal segmenta! pathways. These
descending systems could include reticulospinal, vestibulospinal, and tectos •inal pathways, each of which may produce more
widespread patterns of muscle co-activation than is the case for corticospin. I pathways. At present, the evidence concerning
this hypothesis is relatively limited. The prevailing information, however, is that these pathways are probably incapable of
exerting sufficient excitatory synaptic action to induce strong coupling patte ns between widely separated muscle groups.
The second mechanism is that the abnormal muscle activation pattt: ns are induced by the enhancement of segmenta!
reflex pathways especially the flexion withdrawal response. In this hyr )thesis, interneurons and motoneurons that are
normally regulated by descending inhibitory pathways are released by ; 1e cerebral damage, causing augmented reflex
responses from skin and other deep tissues. In the presence of partially dai tage to descending pathways, segmenta! reflexes
may be able to drive motoneurons to a state of excitability closer to their tt ·eshold and, therefore, more readily activated by
residual descending input. The evidence in support of this particular h) )Othesis is quite strong, in that the patterns of
coactivation of muscles recorded during flexion withdrawal are quite simil: r to those seen during voluntary isometric force
generation.
28
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
The final mechanism is that damage to cortex could induce substantial cortical reorganization which may impose
certain constraints on voluntary movement. For example, thrombotic or embolic lesions of the middle cerebral artery damage
regions of motor cortex controlling hand and arm musculature. Under these conditions, it appears that adjacent regions
controlling shoulder muscles begin to assume control responsibility for muscles previously innervated from those regions. It
follows that cortical reorganization may require that a particular region of cortex assume control of new sets of muscles even
as there is still a requirement to control the original muscle groups. In this way, cortical reorganization might give rise to
partia! restoration of movement in the previously paralyzed limb, while imposing new constraints, or "synergies".
TRATAMENTO CONSERVADOR DAS INSTABILIDADES PATELOFEMORAIS COM EXERCÍCIOS DE
CADEIA CINÉTICA FECHADA
Alves Jr., Wilson Mello, Centro Médico de Campinas, S.P., Brasil
As instabilidades do aparelho extensor são entidades clínicas de dificil tratamento. Os tratamentos conservadores
convencionais são monótonos e pouco eficientes para o paciente. O tratamento cirúrgico é difícil, tem grande potencial
iatrogênico e eficiência discutível a longo prazo. Este estudo avalia 17 pacientes com luxação recidivante de patela, tratados
com um programa de reabilitação baseado em exercícios de cadeia cinética fechada. Este tipo de tratamento conservador
possui a vantagem de poder ser realizado em casa ou academias de ginástica, além de representar uma atividade física
agradável e estimulante para o paciente. Na avaliação final, com 2 anos e 8 meses após o início do tratamento, 15 pacientes
apresentavam-se sem dor ou com dor eventual, 14 não sofreram episódio de reluxação, 16 consideraram seu joelho
funcionalmente excelente ou bom, e nenhuma das pacientes aceitaria tratamento cirúrgico. Baseados nestes resultados,
concluímos que este método de tratamento é seguro e eficiente no controle das instabilidades patelofemorais, pois
proporciona um bom nível funcional do joelho e um alto grau de satisfação, com pequeno potencial de complicações.
Sumary: From 1992 to 1997 seventeenfemale patient were treated conservatively with closed kinetic chain exercises
for recurrent dislocation of the patella. The average age was 24 years old ( 12 to 46 years) . The average follow-up was 32
months and at the evaluation, 15 patients had no pain or occasional pain, 14 patients had no redislocation, 16 patients
considered their knee excellent o r good. Nane of the patients would accept cirurgical treatment.at follow up. We concluded
that the treatment of recurrent dislocation of the patella with closed kinetic chain exercises is safe and effective with less
complications
CHANGING INTERPRETATIONS OF THE RESPONSE OF THE HUMAN ARM TO MECHANICAL
PERTURBA TION.
Hasan, Ziaul, University o f Illinois at Chicago, USA
I will begin with a historical introduction to the interpretation of the short- and long-latency stretch-reflex responses,
citing the work of Sherrington, Lombard, Hammond, Merton, and Gottlieb & Agarwal. I will then turn to more recent
findings, going beyond single muscles and joints, which question the classical interpretation. For this, I will cite the work of
Gielen, Soechting, Lacquaniti, Prochazka, and some of our own work, in addition to observations on other animais that
establish the importance of "assistance reflexes" on par with "resistance reflexes". Finally, I will attempt to justify the notion
that the role of reflexes in a multijoint context is not to resist externai perturbations, but rather to support excitation of
whichever motoneurons happen to be selected currently for voluntary movement or posture.
29
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
-
S~E/Ç'AO
DE
POSTER~·
01 - Interface entre Teoria e Prática
02 - Reabilitação
03 - Abordagens
04 - Avaliação da Eficácia da Reabilitação Motora
30
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
01 - Interface entre Teoria e Prática
Poster 01.01
PADRÕES POSTURAIS DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO ESPÁSTICA COM IDADE DE
OA3ANOS.
RODRIGUES, C., SCARFON, L. M., INOVE, M. M. E. A, BARRILE, S. R.
Universidade do Sagrado Coração- Bauru- S.P.
Introdução: O termo Paralisia Cerebral surgiu no ano de 1843, tendo como definição distúrbio motor qualitativo
persistente causado por interferência não progressiva no desenvolvimento do cérebro, devido à influência que tal lesão
exerce na maturação neurológica. As causas desta patologia podem ser devido às afecções pré, peri e pós-natal. Na Paralisia
Cerebral do tipo espástica ocorre um comprometimento do motoneurônio superior no córtex ou nas vias que terminam na
medula espinhal, onde as manifestações clínicas são observadas desde o nascimento e vai se agravando à medida que a
criança vai ficando mais velha. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar o desenvolvimento motor de crianças
com Paralisia Cerebral do tipo espástica e tônus muscular comparando com o desenvolvimento motor normal, de acordo com
Gesell. Indivíduos e métodos: Participaram deste trabalho 6 crianças com diagnostico de Paralisia Cerebral de 10 meses a 2
anos e 9 meses atendidas na Clínica Escola da Universidade do Sagrado Coração de Bauru (SP). Foi utilizada para análise do
tônus muscular a escala de Ashworth, e na avaliação dos padrões posturais verificou-se a capacidade motora básica, em
ambos os procedimentos houve acordo entre observadores. Resultados: Foi analisado o grau de espasticidade que se
distribuiu nos membros superiores e inferiores entre 2 e 5 graus e classificamos este grupo em leve, moderado grave e
heterogêneo, e em que fase estas crianças se enquadravam no desenvolvimento motor. Constatou-se assim, que todas as
crianças estavam com atraso no desenvolvimento motor, mas nem sempre isto ocorreu devido ao grau de espasticidade.
Poster 01.02
DESENVOLVIMENTO MOTOR E REFLEXOS PRIMITIVOS EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
DO TIPO ESPASTICA.
VIOLA, S. R. L., LIMA, D. F., BARRILE, S. R., INOVE, M. M. E. A.
Universidade do Sagrado Coração- Bauru- S.P.
Muitas são as crianças que procuram o serviço fisioterápico na Clínica-Escola da Universidade do Sagrado Coração
na cidade de Bauru e, a grande maioria é diagnosticada como Paralisia Cerebral. Assim, com o intuito de iniciar a
sistematização de avaliações que auxiliem o programa terapêutico, realizamos exame de tônus muscular verificando grau de
hipertonia segundo a Escala de Ashworth, presença de reflexos e o padrão postura! que a criança possui comparando-o com o
desenvolvimento motor normal segundo Gesell. Das doze crianças avaliadas, pudemos dividi-las em dois grupos: grupo 1 que
possui marcha; grupo 2 que não alcançou a marcha, observando os padrões posturais básicos no grupo 2 desde o rolar até o
arrastar. Todas as crianças apresentaram hipertonia variando de 2 a 3 graus. Pudemos observar que na maioria das crianças
estavam presentes reflexos primitivos, sendo o mais comum a Reação Positiva de Suporte; além de outros reflexos sendo que
o sinal de Babinski era o mais observado. As crianças pertencentes ao grupo 1, representando 50% da amostra estudada,
ainda apresentaram reações reflexas que deveriam estar integradas, embora realizem a marcha, a qual foi alcançada
tardiamente, do que é esperado para a idade. Para elaborar os programas terapêuticos dessas crianças faz -se necessário
direcionar o tratamento, não só em função dos padrões posturais que se quer alcançar, mas também, elaboração de
movimentos mais precisos. Tendo como proposta a identificação da utilização dos reflexos em movimentos executados por
essas crianças.
Poster 01.03
REFLEXOS PRIMITIVOS DE CRIANÇAS COM ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA COMPARADA AOS
GRAUS DE HIPERTONIA MUSCULAR.
SCARFON, L.M., RODRIGUES, C., BARRILE, S. R., INOVE, M. M. E. A.
Universidade do Sagrado Coração- Bauru- S.P.
A Encefalopatia não progressiva é definida como sendo uma lesão do cérebro ao nascimento com diferentes
manifestações motoras como ataxia, atetose e espasticidade. O comprometimento dos membros pode caracterizar em
quadriplegia, diplegia, hemiplegia. Foi avaliado o tônus muscular nos membros superiores e inferiores de 15 crianças com
diagnóstico de Encefalopatia não-progressiva, utilizando a Escala de Ashworth, de graduação da hipertonia muscular. Assim,
foram classificadas as crianças em três grupos: hipertonia leve (grau 2), hipertonia moderada (grau 3), hipertonia grave (graus
4 e 5). Para a avaliação dos reflexos foram elaborados quadros contendo os reflexos a serem testados nas diferentes posturas
em prono, supino, sentado e em pé. Para executar esses procedimentos foi requerido o acordo entre observadores. Foram
analisados os resultados das avaliações comparando o grupo que apresentou tônus muscular leve, com o grupo moderado e
grave, e observou-se menor incidência de reflexos no grupo leve. O grupo moderado apresentou alguns reflexos primitivos
em maior incidência que o grupo leve, caracterizado pelas avaliações nas diferentes posturas. O grupo grave demonstrou uma
maior permanência de reflexos primitivos. Embora este grupo tivesse apresentado maior permanência de reflexos primitivos,
coincidindo com um grupo de mais hipertonia muscular, ainda assim, não foi possível traçar uma linearidade
31
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.04
HIPPOTERAPIA
]ULIANA APARECIDA CASTRO SILVEIRA
Docente do Departamento de Fisioterapia da UFRN (Univ. Fed. Do Ri 1 Grande do Norte) e doutoranda do programa de
Psicologia escolar e desenvolvimento humano da USP.
Pesquisa financiada pela CAPES-PICDT, sob orientação da Dr" Cláudia I tvis
A Hippoterapia é um tema pouco divulgado, relativamente novo que envolve diretamente o trabalho de uma equipe
multidisciplinar no tratamento de pacientes com deficiência física e/ou m :ntal. A Hippoterapia inclui o cavalo como recurso
terapêutico. À medida que o cavalo se desloca, ele transmite para o pacie1 te um movimento tridimensional semelhante ao da
marcha humana. O paciente capta este movimento através dos receptores. ·roprioceptivos e estas informações vão estabelecer
a ativação de novos esquemas motores para adaptar o corpo à esse desloc, mento. A adaptação do paciente ao ritmo do passo
do cavalo exige uma contração/ descontração simultânea dos músculos ag1 nicos e antagônicos , buscando um equilíbrio entre
eles. De forma geral , essa terapia trabalha à nível do controle das sinet ~ias globais, do alinhamento corporal e equilíbrio
estático e dinâmico , constituindo-se numa técnica muito eficaz de 1 :educação neuromuscular. Além de informações
proprioceptivas , a Hippoterapia proporciona também informações exten ceptivas como as cutâneas , visuais , auditivas e
olfativas que juntas irão estabelecer todo o esquema corporal do indivíd to. Esta terapia é indicada para tratar disfunções
neuropsicomotoras, tais como: Quadriplegia, Hemiplegia, Diplegia, P. raplegia, Monoplegia, incoordenação, atraso do
desenvolvimento e Síndrome de Down, entre outras. Os benefícios ne 1romotores e neuropsicológicos são evidenciadas
através da normalização do tônus muscular; mobilização da pélvis; dt: ;envolvimento do controle cervical e de tronco;
desenvolvimento de reações posturais normais (Endireitamento, Equilíbri ,, Proteção); simetria; alongamento; coordenação;
organização do esquema corporal; transferências de peso; dissociaçê :s de movimentos; estimulação sensorial, tátil,
proprioceptiva, vestibular e orientação espacial. A Hippoterapia també1 1 proporciona melhora da capacidade executiva,
aumento do tempo de atenção e concentração, auto-domínio e autoconfi mça. A Hippoterapia não substitui a Fisioterapia
convencional, apenas a complementa pois a criança estará sendo trabalha< 1 numa sessão de Fisioterapia ao ar livre , fora do
consultório e dos aparelhos habituais o que torna a terapia muito m< s agradável principalmente para pacientes com
deficiência física e/ou mental de longa data, cansados da monotonia de eu tratamento habitual. Finalmente, este trabalho
procura esclarecer aos profissionais da área de saúde sobre o que é a l üppoterapia, seus objetivos, seus benefícios, seu
método de trabalho e principalmente a atuação da Fisioterapia neste proces o de reabilitação.
Poster 01.05
ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 11 (INTERMEDIÁRIA E TIPO III (KUGELBERG WELANDER).
EVOLUÇÃO DE 50 PACIENTES COM FISIOTERAPIA E HIDROT ·:RAPIA EM PISCINA AQUECIDA.
CUNHA, M.C.B.; LABRONICI, R.H.D.D.; OLIVEIRA, ASB; GABBAI, lA.
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM, Escola Paulista de M dicina)
Objetivo: Após a caracterização clínica e laboratorial, nosso obje ivo foi de realizar o seguimento clínico e analisar
os possíveis benefícios da hidroterapia em piscina aquecida, como mét do terapêutico complementar para os pacientes
portadores de Atrofia Muscular Espinhal Tipos 11 (Intermediária) e III (K gelberg Welander). Material e Métodos: Foram
tratados 50 pacientes com Atrofia Muscular Espinhal tipo 11 (Intermediár a) e III (kugelberg Welander). O diagnóstico foi
clínico e laboratorial, com realização de Eletroneuromiografia e Biopsi t Muscular em todos os pacientes. Haviam 30
pacientes do Tipo 11 ( 17 sexo masculino e 13 do feminino) e 20 do Tipo I [ ( 11 do sexo masculino e 09 do feminino). Para
os pacientes do Tipo II a idade variou de 01 a 10 anos e para o Tipo III a dade variou de 16 a 40 anos. Os pacientes foram
tratados num período de 02 anos com fisioterapia uma vez por semana e hidroterapia duas vezes por semana, em piscina
aquecida , numa temperatura de aproximadamente 30°C. Os parâme .-os de avaliação incluíram: deformidades das
articulações, desenvolvimento de Escoliose, evolução de força musculat (M.M.T. - Manual Muscular Test), atividades
motoras e "Escala de Barthel" (atividades de vida diária). Resultados: Hou ·e aumento das deformidades de quadril, joelho e
pés durante esses dois anos de estudo; os graus da Escoliose foram maior :s nos pacientes do Tipo 11 que nos do Tipo 111;
houve aumento de força muscular nos pacientes do Tipo Ill (não foi possí el testar a força muscular nos pacientes Tipo 11,
pois eram crianças); houve melhora nas atividades motoras; segundo a E: ~ala de Barthel todos os pacientes apresentaram
melhora em relação às atividades de vida diária. Conclusão: a Hidroterapi •. foi introduzida como uma forma de tratamento
complementar, pois trouxe benefícios físicos e psicológicos aos pacientes cc n Atrofia Muscular Espinhal tipos 11 e III.
Poster 01.08
POLIOMIOSITE: HIDROTERAPIA - EFEITO DOS EXERCÍCIOS \QUÁ TICOS NAS ATIVIDADES DE VIDA
DIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE UM CASO.
CUNHA, M.C.B.; VERNILO, P.T.; FILONI, E.; ROMERO, ].R.; PORTC E.F.
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos (UNG).
Poliomiosite refere-se a uma Miopatia Inflamatória de causa i definida, ou seja, doença que apresenta uma
inflamação muscular. Clinicamente caracteriza-se por fraqueza muscular si nétrica de predomínio proximal em membros e
tronco, de inicio subagudo, sem lesões cutâneas. Há em 30% dos casos fraq teza dos músculos da deglutição. A fraqueza do
pescoço é comum e não há comprometimento da motricidade ocular. A de · muscular está presente em 15% dos casos. Os
reflexos tendinosos estão hipoativos e a sensibilidade é normal. A CPK es á elevada em quase todos os casos e a Biopsia
32
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Muscular mostra um padrão miopático com intensa regeneração de fibras e um infiltrado intersticial e/ou perivascular de
células inflamatórias.O tratamento é feito com predinisona (Meticorten) 1,5 mg/Kg VO ao dia por cerca de 3 semanas.
Havendo boa melhora do quadro, diminui-se a dose gradativamente. Objetivo: demonstrar os benefícios dos exercícios
aquáticos para esta paciente e relacioná-los às melhoras de suas atividades de vida diária. Material e Métodos : será descrita
uma paciente diagnosticada clinicamente com quadro de Poliomiosite e que realizava tratamento fisioterápico há vários anos.
Há seis meses ela iniciou o tratamento hidroterapêutico na Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos. Ela
realizou Fisioterapia individual uma vez por semana e hidroterapia duas vezes. Métodos: Hidroterapia - foram realizadas
técnicas de "Halliwick", "Bad Ragaz", que serão descritas posteriormente na apresentação. Resultados: houve melhora da
força muscular, principalmente em membros inferiores; aumento das amplitudes de movimento em membros superiores;
aumento da capacidade respiratória; maior facilidade ao deambular. Hoje ela realiza com maior facilidade suas atividades de
vida diária, especialmente o vestuário e higiene pessoal, já conseguindo pentear o cabelo sozinha e colocar sua roupa.
Conclusão: os exercícios aquáticos em piscina aquecida têm beneficiado esta paciente, tornado-a mais independente.
Portanto, a Hidroterapia tem se mostrado como um método de tratamento eficaz para este tipo de doença, colaborando para a
melhora da qualidade de vida desta paciente.
Poster 01.09
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA VISÃO DE FISIOTERAPEUTAS PEDIÁTRICOS
PONTES, JAQUELINE FERNANDES
Este trabalho envolveu a pesquisa e o estudo das concepções de aprendizagem e desenvolvimento de seis
fisioterapeutas que atuam na área neuropediátrica em duas regiões brasileiras distintas, a região nordeste e a região sudeste.
A pergunta direta sobre o que a fisioterapeuta entendia por aprendizagem e por desenvolvimento, bem como questões sobre
sua atividade profissional nos permitiram perceber a articulação que fazem entre tais concepções na relação diária com a
criança portadora de paralisia cerebral, com vistas à aquisição da marcha. Nossa pesquisa (Dissertação de Mestrado em
Psicologia da Educação- PUC- SP 1997) nos mostrou que as fisioterapeutas apresentam uma concepção maturacionista de
desenvolvimento e uma concepção empiricista de aprendizagem. Em face à dificuldade de se articular desenvolvimento e
aprendizagem em perspectivas tão diferentes, sugerimos a abordagem psicológica proposta por Vygotsky, na crença de que
ela pode esclarecer e auxiliar os fisioterapeutas a compreenderem melhor seu papel.
Pesquisa financiada pela CAPES-PICDT, sob orientação da DI" Cláudia Davis.(DELETAR)
Poster 01.10
THE EFFECT OF HIP JOINT CENTER LOCA TION ON MOMENTS OF FORCE AND ANGLES DURING GAIT
RENATA NOCE KIRKWOOD1,2, PH.D.; ELSIE CULHAM1,3, PH.D.; PATRJCK COSTJGAN2, PH.D.
DEPARTMENT OF ANATOMY AND CELL BIOLOGYJ, CLINICAL MECHANICS GROUP2 AND SCHOOL OF
REHABILITATJON THERAPY3, QUEEN'S UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, CANADA.
BACKGROUND AND PURPOSE: Estimating the location of the hip center (HC) from the position of externai
markers is important in the accurate calculation of the moments of force and in the quantification of the angles at the hip joint
during gait. In the calculation of externai moments of force, the lever arm of the force or the distance from the axis of
rotation or joint center to the segments center of mass must be determined in three-dimensions. In the quantification of the
angular motion during gait using the floating axis system, the externai markers have to be moved internally to the joint
centers to accurately represent the true axis of rotation. Therefore, errors in estimating the location of the joint centers would
introduce errar in the calculation of the moments and hip angles. Severa! non-invasive methods have been used to determine
the location of the hip joint center. Most of these methods are based on distances between points located at the pelvis. It is
not known which of the severa! non-invasive methods available for location of the hip center is most accurate. Radiographs
have also been used to determine the location of the joint centers, however, planar films are prone to errors of parallax and
poor control of subject positioning. The QUESTOR Precision Radiography (QPR) system was developed to control these
sources of error. The QPR provides frontal views of the hip and knee joints and sagittal views of the knee corrected for
parallax errors. The hip correction vectors in the medial/lateral and vertical directions are computed from the radiographs.
Although costly and involving x-ray exposure, the QPR is accurate in estimating the hip joint center of rotation.
OBJECTIVES: The first objective of this study was to compare the moments of force and angles at the hip in levei walking
obtained using four non-invasive methods of adjusting the location of the externai marker to the hip center of rotation, to
those obtained using the QPR, which is considered the gold standard. The second objective was to determine the sensitivity
of the moments and angles measured at the hip joint to errors in estimating the hip center. The hip center obtained from the
QPR was perturbed in steps of +1- 5 and -/+ IOcm in each plane and the. hip angles and moments recomputed. METHODS
AND MATERIAL: Hip center location was determined using standardized x-rays and four non-invasive methods which
utilized measured distances between pelvic bony landmarks in 10 healthy subjects. Hip moments and angles during gait were
obtained from Optotrak, force plate and anthropometric data. RESUL TS: Hip moments and angles comparison between the
QPR and the four non-invasive methods showed that the most accurate non-invasive method of locating the hip center was by
taking the midpoint of a line connecting the right antero-superior iliac spine and the symphysis pubis and moving inferiorly 2
em. Using this approach the hip center was located 0.7 em mediai and 0.8 em superior to its true location determined using
the standardized x-rays. Moments: The 95% confidence interval of the maximum error difference in moments measured
between this method and the standardized x-rays ranged from -0.15 to 0.4Nm/kg in the frontal plane, -0.03 to 0.07 Nm/kg in
33
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
the sagittal plane and -0.05 to -0.03Nm/kg in the transverse plane. Thf sensitivity analysis demonstrated that errors in
estimating the hip joint center location medially and laterally had a major e fect on the frontal and transverse plane moments.
Errors in estimating the hip joint center location anteriorly and posterio1 ly affected the sagittal and transverse moments
measured. Errors in estimating the hip center location superiorly and inferi< rly caused changes in the hip moments measured
in the frontal and sagittal plane. Angles: The 95% confidence interval of t te maximum error difference in angles measured
between this method and the QPR ranged from 0.1 to 2.7° in the frontal pl: ne, 1.5° to 2.8° in the sagittal plane and -2.1° to
0.7° in the transverse plane. The sensitivity analysis demonstrated that • rrors in estimating the hip joint center location
medially and laterally had a small effect on the transverse plane measure: and a major effect on the frontal plane angles.
Errors in estimating the hip joint center location anteriorly and posteriorly : ffected the frontal, sagittal and transverse angles
measured. The sagittal plane angles were affected to the greatest exter, . Errors in estimating the hip center location
superiorly and inferiorly caused no changes in the hip angles measured in a ty plane. CONCLUSION: The results indicated
that locating the hip center based on the distance between the antero supen )f iliac spine and the symphysis pubis is a valid
technique for estimating the hip center in routine gait analysis. Utilization of a non-invasive method of hip center location
eliminates the need for x-rays, lowering costs and time in gait analysis studi s as well as unnecessary exposure of subjects to
radiation.
Poster 01.11
ANÁLISE E INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA NA MARCH1 DE UMA POPULAÇÃO DE IDOSO
INSTITUCIONALIZADOS
LEANI S.M. PEREIRA; ]ULIANA F. MAGALHÃES*; LUCIANA M. MJ: RQUES*; VÂNIA F. FIGUEIREDO*
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais
Introdução: Segundo Siebens e cols em 1990, uma combinação entre equilíbrio, flexibilidade e força muscular,
fornece os ajustes posturais necessários para uma marcha eficiente. Err idosos hígidos, as alterações fisiológicas do
envelhecimento resultam em mudanças características nos padrões de ma1 ;ha. Se condições patológicas são somadas às
alterações citadas, outras anormalidades podem ser encontradas durante a marcha. A detecção precoce de problemas de
mobilidade pode identificar situações de queda e indicar pacientes de ris• o para outros problemas. Objetivo: A valiar e
analisar, através de protocolos específicos, a flexibilidade da cadeia musc1 lar posterior, o equilíbrio, a marcha e a força
muscular dos principais grupos musculares envolvidos na marcha de uma pof 1lação idosa asilada. A partir dos dados obtidos,
realizar sugestões de intervenções terapêuticas, que possam melhorar ou té mesmo reverter as alterações identificadas.
Metodologia: Trinta e nove idosos participaram do estudo. A marcha foi avaliada através das medidas dos parâmetros
mensuráveis propostos por Hoppenfeld, 1987. A avaliação funcional da n rrcha e do equilíbrio, seguiram os protocolos
propostos por Tinetti e cols, 1993. A flexibilidade da cadeia posterior foi av; liada segundo o protocolo de Pollock, 1993 e a
força muscular dos principais grupos musculares atuantes durante a marcha c< nforme o protocolo de Kendall, 1987. A análise
estatística foi feita com base no percentil simples, considerando-se como esta isticamente significativos os dados com valores
de p<0.05. Resultados: Observando os resultados dos parâmetros funcionais da análise de marcha, observamos que 59,09%
dos idosos avaliados apresentaram alterações na altura e no comprimento dos 1assos, 40,91% na estabilidade do tronco e 50%
na capacidade de mudar de direção. No teste de flexibilidade da cadeia mt scular posterior, 21% dos idosos testados não
conseguiram atingir os parâmetros mínimos do teste e 53,57% obtiveram un resultado considerado abaixo da média para a
idade. Quanto aos resultados percentuais relativos à análise de força muscula , 32,14% não conseguiram realizar o teste para
adutores de quadril e 53,57% para o glúteo máximo. Na análise funcional do ·quilíbrio, 50% dos indivíduos testados tiveram
uma resposta adaptativa para a tarefa de realizar um giro de 360°, 60,71% pa a a rotação de pescoço e 50% para a tarefa de
assentar. Segundo a análise dos parâmetros mensuráveis da marcha, 59% de ; idosos avaliados apresentaram a extensão da
base aumentada. A partir dos resultados encontrados, foram efetuadas interve1 ~ões fisioterápicas, tais como, treino funcional,
de marcha e de equilíbrio, cinesioterapia, prescrição e treinamento de auxíli 1s para deambulação. Conclusão: Concluímos
que os idosos participantes do estudo apresentam grandes alterações de m trcha, equilíbrio e flexibilidade, levando-os à
acidentes e quedas. Apesar dos protocolos e testes utilizados já terem sido re' alidados para a população idosa, observamos
que alguns deles podem não ter sido apropriados para a população avaliada.
* Bolsitas da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG
Poster 01.12
PROPOSTA DE CINESIOTERAPIA PARA AS ALTERAÇÕES FISIOL lGICAS DO EQUILÍBRIO EM IDOSOS.
PEREIRA, LM; GARCIA, DG; TA VEIRA, RF.
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Introdução: A estabilidade estática e dinâmica de um indivíduo, o e< uilíbrio, é uma tarefa complexa que envolve a
participação de vários órgãos e sistemas (Nashner 1993,1989; Baloh, 1996). As alterações fisiológicas do envelhecimento
sem estarem associadas a patologias, resultam em mudanças características fm ;;ionais e anatômicas no controle do equilíbrio
( Baloh, 1996, Whiple, 1989)A intervenção cinesioterápica precoce pode con tituir-se em um dos fatores importantes para
prevenção de quedas e suas complicações nessa faixa etária (Tinetti, 1986; Me; ns et at, 1996). Objetivos: Estudar, através de
revisão bibliográfica, a neurofisiologia, biomecânica e os métodos de avaliaçí ) do equilíbrio, suas alterações e implicações
em decorrência do processo do envelhecimento. Propor uma avaliação fisiote ápica prática englobando os itens que devam
ser observados no controle do equilíbrio de idosos hígidos. Sugerir alguns exe cícios que estimulem o controle do equilíbrio
34
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
em idosos.Resultados e Conclusões: Vários métodos de avaliação e treinamento do equilíbrio são propostos pela literatura.
Entretanto, observamos que a intervenção cinesioterápica e os instrumentos de avaliação são difíceis de serem aplicados em
idosos. Concluímos que os idosos devem ser avaliados e submetidos a intervenções cinesioterápicas que sejam adaptadas às
alterações ocasionadas pelo processo do envelhecimento fisiológico.
Poster 01.13
A PERSISTÊNCIA DO REFLEXO TÔNICO CERVICAL ASSIMÉTRICO NA QUADRIPLEGIA ESPÁSTICA
MODERADA E GRAVE E SUAS REPERCUSSÕES NA COLUNA VERTEBRAL
BADARÓ, ANA FÁTIMA2; RODRIGUES, ANALU I, REAL, JANAÍNA; TREVISAN, CLAUDIA 2; BERSCH, RITA 3
1 Fisioterapeutas; 2 Docente do Depto de Fisioterapia e Reabilitação- Centro de Ciências da Saúde- Universidade Federal de
Santa Maria- RS; 3 Diretora do CEDIIPOA- RS
A quadriplegia espástica moderada e grave apresenta uma grande possibilidade de desenvolver contraturas e
deformidades devido a associação de hipertonia com atividade reflexa postura! anormal (BOBATH,1984). O objetivo deste
estudo foi investigar a relação entre a escoliose e o reflexo tônico cervical assimétrico persistente em crianças vegetativas,
com paralisia cerebral do tipo quadriplegia espástica moderada e grave. Caracterizou-se como uma pesquisa causalcomparativa, cuja população constitui-se nas crianças portadoras de necessidades especiais, internadas na Casa do
Excepcional Santa Rita de Cássia - Porto Alegre/RS e a amostra foram 10 crianças com paralisia cerebral do tipo quadriplegia
espástica moderada e grave, com reflexo tônico cervical assimétrico persistente, na faixa etária entre 06 e 15 anos de idade.
Como instrumento de medida utilizamos a Ficha de Avaliação dos Padrões Motores - Bobath, para identificar o tipo de
paralisia cerebral a Escala de Owestry , para graduar a espasticidade apresentada pela criança; a Ficha de Kisner, fotos e o
Exame radiológico em AP, para identificar as alterações na coluna vertebral e o Protocolo de Finnie, para identificar e
analisar as atividades de vida diária realizadas. Os dados foram analisados através de tratamento estatístico descritivo e
correlação não-paramétrica. Os resultados encontrados demonstram que em nosso grupo amostrai 100% são dependentes nas
atividades de vida diária (higiene, alimentação e vestuário); 50% apresentou o reflexo tônico cervical assimétrico à direita;
70% apresentaram escoliose em S e destes 50% com escoliose moderada; em 60% dos casos de escoliose em S encontramos
relação entre o lado do reflexo tônico cervical assimétrico e a convexidade da curva, o que é relatado pela literatura.
Concluímos que, em nosso grupo amostrai, ocorreu uma estreita relação entre o aparecimento da escoliose e persistência do
reflexo tônico cervical assimétrico a direita, com permanência em uma ou duas posturas fixas nas atividades de vida diária o
que poderia ter contribuído para a manifestação das alterações na coluna vertebral.
Poster 01.14
ESTUDO COMPARATIVO RELACIONADO A LER EM GRUPOS DE FUNCIONARIOS AFASTADOS E
ATIVOS EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL.
CARVALHO, R. L. ;LOURENÇO, G. C. D; RUBlO, M. E. A.; WALSH, I. A. P.(CO); COURY, H.]. C. G (0).
Uma alta incidência de lesões por esforços repetitivos (LER) tem ocorrido em diferentes países do mundo. O brasil
segue esta tendência principalmente após as mudanças de sua economia nos anos 80. Essas lesões são complexas, de origem
reconhecidamente multi-determinadas e de difícil controle. Dentre uma série de medidas criadas para o controle de casos de
LER em uma indústria de material escolar, foram montados grupos de atendimento no setor Fisioterápico de Assistência
Preventiva. Nesses grupos são realizadas sessões de relaxamento, conscientização corporal, reeducação postura! e controle da
lesão através de diferentes formas de expressão do movimento. O objetivo do presente trabalho foi comparar um grupo de
funcionários sintomáticos afastados e um grupo de funcionários sintomáticos ativos com relação aos níveis de desconforto,
disposição geral para atividades de vida diária e evolução dos estágios da LER. Os funcionários sintomáticos ativos, os quais
ainda não haviam sido afastados ou que haviam recém retornado de afastamentos, trabalhavam em um posto de readaptação
funcional, onde realizavam atividades mais variadas em relação às linhas de produção, em ritmo menor e em condições
físicas mais planejadas. Cento e onze funcionários, sendo 53 afastados e 56 em função, participaram deste estudo. Estes
funcionários foram submetidos a uma avaliação clínica para a caracterização dos estágios da LER, e responderam a um
questionário que visava avaliar a percepção dos sintomas físicos e níveis de indisposição para as atividades de vida diária.
Essas percepções eram assinaladas em escalas que variavam de O (indisposição e desconforto máximo) a 10. Os resultados
mostraram que não houve diferença significativa entre os estágios da LER para os funcionários afastados e os ativos
(p=0,519), que foram classificados principalmente nos estágios 2 e 3. Já para a percepção dos sintomas e níveis de
indisposição ocorreram diferenças significativas entre os dois grupo. O grupo dos afastados percebia sintomas mais
freqüentes e intensos do que o grupo dos ativos. Essa diferença ocorreu de maneira significativa para o punho esquerdo (p<
0,05), para o braço esquerdo (p< 0,05) e para região cervical(p< 0,01). Este grupo também indicou menor disposição para
atividades gerais do dia-a-dia (p< 0,01), menor disposição para as atividades em grupo (p< 0,05) e maior impacto da LER
sobre a vida pessoal (p< 0,01). É de se esperar que os indivíduos afastados apresentem mais sintomas que seus colegas ativos,
por estarem possivelmente em estágio mais avançado da doença, no entanto, esta diferença não se confirmou na prática. Os
resultados disponíveis não permitem discriminar se o impacto do afastamento foi negativo para o grupo de afastados ou se a
participação no Posto de Readaptação Funcional é que foi positiva para os ativos. No entanto, é necessário afirmar que é
importante que o funcionário lesado seja removido de seu posto de trabalho mas sem necessariamente ser afastado da
empresa, sendo apoiado por assistência preventiva.
35
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.15
OS EFEITOS DA HIDROTERAPIA PARA UMA PACIENTE QUE i PRESENTA "ESCLEROSE MÚLTIPLA".
CUNHA, M.C.B; FILONI, E; PORTO, E.F.; ROMERO, ].R
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos (UNG)
INTRODUÇÃO: A Esclerose Múltipla é uma doença desmi :Iinizante central, de caráter cromco usualmente
progressiva. O seu comportamento clínico é de forma tipo surto-rer üssão (caráter benigno), remissão completa ou
incompleta, podendo levar o paciente a apresentar deficts neurológicos. 1 . maior incidência é na faixa etária entre a 2° e 4°
década. OBJETIVO: Através de exercícios hidrocinesioterapêuticos, : valiar os benefícios da hidroterapia em piscina
aquecida, oferecendo aos portadores de Esclerose Múltipla melhor qua r.dade de vida. MATERIAL E MÉTODO: Foi
selecionada uma paciente, 19 anos, com diagnóstico clínico de Esd rose Múltipla. Ela não deambula há 02 anos,
apresentando fraqueza muscular generalizada, dificuldade para realizar ts atividades motoras de rolar e sentar sozinha,
movimentos atáxicos de extremidades, dificuldades ao realizar suas ativid: jes de vida diária. As sessões foram realizadas na
piscina aquecida da Clínica de Fisioterapia da Universidade Guarulhos, nu na temperatura de aproximadamente 30°C. Para o
tratamento utilizamos algumas técnicas dos métodos Halliwick e Bad R ,gaz, e para avaliação o teste de força muscular
(M.M.T.) e a Escala de Barthel, que mensura as atividades de vida diári:. RESULTADO: Após quatro meses de terapias
realizadas duas vezes por semana, houve diminuição dos movimentos ; táxicos das extremidades, maior facilidade para
realizar as atividades de vida diária (AVD's), aumento da força muscular, maior facilidade nas transferências da cadeira de
rodas. CONCLUSÃO: A piscina terapêutica e os exercícios hidrocinesios erapêuticos beneficiaram esta paciente portadora
de Esclerose Múltipla, proporcionando-lhe maior independência e melhorar jo sua qualidade de vida.
Poster 01.17
INFLUÊNCIA DOS RECURSOS TERAPÊUTICOS CALOR S JPERFICIAL E FRIO NO GANHO DE
FLEXIBILIDADE MUSCULAR
FIGUEIREDO E. M.; ANGÉLICA RODRIGUES DE ARAÚJO; VÂNIA FERREIRA DE FIGUEIREDO
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais I Departamento de Fisiot 'rapia
A flexibilidade é considerada um componente importante da aptidão física e da boa saúde. Exercícios de
alongamento são preconizados como forma eficaz para promover ganho dr flexibilidade. Características neurofisiológicas e
biomecânicas da unidade músculo-tendínea têm sido consideradas come importantes parâmentros a serem manipulados
durante os exercícios de alongamento. A associação de recursos termote ápicos aos exercícios de alongamento tem sido
sugerida com o intuito de potencializar os efeitos desses sobre o gani J de flexibilidade. Acredita-se que a aplicação
terapêutica de calor superficial ou frio possa melhorar a eficácia dos exercÍ< ios de alongamento por ambos reduzirem a dor e
promoverem maior relaxamento muscular. Além disso, a aplicação de tem1 eraturas mais elevadas sobre a unidade músculotendínea promove o aumento da extensibilidade do tecido conjuntivo, atr vés da redução de sua viscosidade, favorecendo
assim o ganho de flexibilidade. Em contrapartida, o uso do frio como a! ;:nte facilitador do alongamento ainda se mostra
incerto. Estudos relatando os efeitos da crioterapia sobre a flexibilidade i1 dicam resultados tanto positivos, decorrentes do
aumento do limiar de dor e da diminuição da velocidade de condução nerv ·Sa, quanto negativos, decorrentes da diminuição
da extensibilidade do tecido conectivo. Tendo em vista a importância da fi, xibilidade para o desenvolvimento de atividades
motoras, os resultados conflitantes das pesquisas sobre o uso de modalid. des termoterápicas associadas aos exercícios de
alongamento e a frequente utilização dessa associação na prática clínica, o p opósito deste estudo foi verificar se a associação
de modalidades termoterápicas (calor superficial e frio) ao alongamen J estático é efetiva para promover ganho da
flexibilidade do músculo ísquio-tibial. Foram recrutados 27 voluntários (lO .omens e 17 mulheres) com idades entre 19 a 26
anos, saudáveis, sedentários e com encurtamento adaptativo do músculo í: 1uio-tibial, goniometricamente registrado. Estes
indivíduos foram aleatoriamente divididos em três grupos: 1) alongamer o estático; 2) calor superficial + alongamento
estático; 3) gelo + alongamento estático. As intervenções foram realizadas jurante quatro semanas, três vezes por semana,
totalizando doze sessões. As medidas das ADM de extensão de joelho foram feitas, sempre pelo mesmo examinador, com um
goniômetro universal. Os dados foram analizados pelo teste one way anális{ de variância (ANOV A) e os resultados indicam
que houve um ganho significativo de flexibilidade do músculo isquio-tibial as três intervenções propostas, e que, as médias
finais do ganho de flexibilidade diferem significativamente entre si (F(2, ~4) = 7,54, p = 0,0029), sendo maior o ganho
quando aplicado calor + alongamento, seguido de gelo + alongamento e m nor ganho de flexibilidade evidenciado quando
aplica-se somente alongamento. A análise através do Post Hoc Scheffé inc icou que o ganho médio final de flexibilidade
produzido pela associação entre calor superficial e alongamento foi signific ttivamente maior que o ganho promovido pelas
demais intervenções (p < 0,05); esse ganho foi evidenciado a partir da nona ;essão de intervenção. Conclui-se portanto que
as três formas de intervenção são efetivas para promover ganho de flexib !idade do músculo ísquio-tibial em indivíduos
saudáveis; que a aplicação de calor superficial associado ao alongamento e . tático é um método clinicamente superior para
promover ganho de flexibilidade, quando comparado à realização de alon~ tmento estático. São discutidas ainda questões
referentes a influência de fatores biomecânicos e neurofisiológicos sobre o ga tho de flexibilidade.
36
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.18
A IMPORTÂNCI A DO ESPORTE PARA O PORTADOR DE LIMITAÇÃO FÍSICA
LABRONICI, R.H.D.D.; CUNHA, M.C.B.; OLIVEIRA, ASB; GABBAI, AA.
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM) Escola Paulista de Medicina
Objetivos: Utilizar o esporte como método de reabilitação e analisar os aspectos físicos, psíquicos e social dos
portadores de limitação física, especialmente naqueles pacientes com enfermidade crônica e que já não se encontravam em
programa de reabilitação. Material e Métodos: Foram avaliados 30 portadores de limitação física: 16 sequelas de
Poliomielite, 05 Lesados Medulares, 03 amputados, 02 sequelas de Paralisia Cerebral, 02 Atrofias Musculares Espinhais, 01
Miastenia Gravis e 01 Luxação Congênita de Quadril. Quinze foram iniciados em basquetebol e os outros 15 à natação, de
acordo com a preferência específica de cada paciente ou decorrente do grau e do tipo de limitação física. Foram utilizadas as
seguintes avaliações: avaliação clínica, exames laboratoriais, avaliação fisioterapêutica, aplicação da escala de atividade de
vida diária ("Barthel") e da escala de habilidade motora ("Rivermead"), do perfil psicológico ("POMS") e de treinos de
basquetebol e natação. Para a análise comparativa 15 outros pacientes de limitação física, decorrentes de diversas causas, não
praticantes de esporte, em programa de reabilitação em unidades especializadas (Lar Escola São Francisco, EPM, Sport
Station), foram avaliados. Os treinamentos foram coordenados por profissionais especializados em Esporte Adaptado e
realizados de 3 a 4 vezes por semana. Resultados: nos atletas foram encontrados valores máximos nas Escalas de Barthel e
Rivermead e no POMS com presença de aumento nítido de vigor. Já nos não atletas foram encontrados valores variáveis e
baixos nas Escalas de Barthel e Rivermead e no POMS com presença de depressão. Conclusão : A atividade esportiva
permitiu para os pacientes portadores de limitação física uma melhora nas atividades de vida diária e, especialmente, na sua
sociabilização.
Poster 01.19
EFEITOS DA SENILIDADE SOBRE AS FIBRAS MUSCULARE S ESQUELÉTICA S. ANÁLISE DA POPULAÇÃO
LOCAL.
MATTIELLO-S VERZUT ACl, MOURA MSA2, TEIXEIRA S3, CHIMELLI IA.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP
O efeito progressivo da idade sobre as fibras musculares esqueléticas do músculo bíceps braquial, foi estudado em
indivíduos de ambos os sexos da região de Ribeirão Preto (SP) a partir de amostras obtidas de biópsias e de autópsias.
Biópsias musculares foram selecionadas de pacientes acompanhados no HCFMRP-USP e que apresentaram laudo histológico
e histoenzimológico normal, afastando hipóteses clínicas previamente suspeitadas. Amostras de músculo dos cadáveres foram
obtidas no Serviço de Patologia do HCFMRP e no Serviço de Verificação de Óbitos do Interior (SVOI) daqueles indivíduos
cuja doença de base e causa de morte não desencadearam comprometimento do sistema neuromuscular. O estudo
morfológico e morfométrico das fibras musculares foi realizado através da congelação das amostras, em nitrogênio líquido, e
processamento para coloração pela Hematoxilina & Eosina (HE) e para identificação da enzima miosina ATPase (ATPase).
As fibras foram analisadas quanto à área e diâmetro menor através de um Sistema Analisador de Imagens da Kontron KS300, Carl Zeiss conectado a um microcomputador IBM-PC. Foram obtidos 25 casos de biópsias e 47 casos de autópsias,
cujo intervalo de tempo entre o óbito e a colheita da amostra variou entre 3 e 9 horas; as idades variaram entre 13 e 84 anos.
A análise morfológica das amostras dos indivíduos jovens indicou a presença de fibras poliédricas e um padrão de mosaico.
Cerca de 50% dos casos apresentaram certo predomínio na expressão de determinado tipo de fibra [fibra tipo 2 (FT2) para
homens; fibra tipo 1 (FT 1) para mulheres]. A presença de grupamento de fibras foi mais precocemente observada nos casos
de biópsia, a partir da quarta década de vida para ambos os sexos, representando cerca de 50% destes. No grupo autópsias,
esta alteração foi observada a partir da sexta década de vida em três indivíduos (25% dos casos), alcançando 100% deles na
oitava e nona décadas, sem distinção de sexo. Fibras anguladas e atróficas, principalmente as FT2, foram observadas a partir
da sexta e sétima décadas de vida, respectivamente, dos casos autopsiados. Os dados morfométricos indicaram que (1) existe
estreita correlação entre área e diâmetro menor, para FT1 e FT2 (r=0.94; r=0.97, respectivamente) e através de análise de
regressão que (2) existe similaridade estatística entre os valores obtidos para os grupos biópsia e autópsia, num mesmo sexo;
(3) houve diferença estatisticamente significativa entre as médias obtidas para as FT2 entre homens e mulheres; (4) para o
sexo masculino houve uma tendência a atrofia das FT1 e FT2 a partir dos 75 anos. Os valores médios obtidos para o sexo2
2
2
feminino foram, área=2707 J.lm (SD=739 J.lm ), diâmetro=48.13 J.lm (SD=6.49 J.lm); para o sexo masculino, área=3618 J.lm
2
(SD=1247J.lm ), diâmetro=55.05 J.lm (SD=8.82 J.lm). Concluímos que, (a) os dados morfométricos para área e diâmetro de
ambos os sexos estão contidos naquele estabelecido pela literatura; (b) indicativos de processos de neurogênicos foram
observados inicialmente nos casos de biópsia; (c) existe correlação entre os achados qualitativos e quantitativos dos idosos,
principalmente para o sexo masculino. A partir dos dados anteriormente descritos, é notória a importância que deve ser
atribuída à identificação de um perfil que descreva as alterações estruturais e conseqüentemente fisiopatológicas, da
população que vai ser submetida a um tratamento reabilitador. O sucesso do tratamento é dependente da instrumentação
terapêutica porém, a eleição desta deve estar fundamentada em conhecimentos básicos. Este estudo foi integralmente
aprovado pela Comissão de Ética Médica do HCFMRP.
Suporte financeiro: CAPES
4
1
Pós-graduanda, 3Bióloga!Histotécnica, Professora Titular do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Patologia da
2
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), USP; Professora Assistente do Departamento de Estatística da
Universidade Federal de São Carlos.
37
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.20
ATIVIDADE MOTORA ADEQUADA PARA ADULTOS ASMÁTICO~- UM ESTUDO DE CASO
MOISÉS. MARCIA PERIDES, DUARTE, EDISON
Este estudo foi realizado com 8 alunos adultos, sendo 6 portadores !e asma brônquica, 1 com bronquiectasia e 1 com
enfisema pulmonar, entre 23 e 70 anos de idade, que freqüentam 2 aulas ;emanais de atividades físicas adaptadas às suas
necessidades e características, no Centro Recreativo Esportivo Especial ": ,uiz Bonício" da Secretaria de Esportes de São
Bernardo do Campo, que desenvolve este tipo de trabalho desde 1983. A êr fase deste trabalho está na adequação das
estratégias para a aplicação das atividades motoras, às condições aprese: 1tadas pelos alunos, direcionando os conteúdos
específicos às suas necessidades especiais. O desenvolvimento do trabalho< companha as pesquisas encontradas na literatura
existente, além de ser respaldada pela própria vivência pedagógica e metodológica e convivência próxima com as
situações/problemas dos alunos e seus familiares. Os objetivos do curso o ntemplam aspectos do desenvolvimento motor,
cognitivo e sócio-emocional , em se tratando de uma doença multifatorial 1 complexa, que acomete a pessoa de maneira a
interferir em sua qualidade de vida. Este programa consta de itens rele' antes e fundamentais: consciência e controle
respiratório durante a respiração normal, a respiração alterada dun 11te um esforço e a respiração alterada por
motivo de broncoespasmo. O treinamento em aula enfatiza exercícios de re axamento muscular da região do tórax, pescoço
e ombros, exercícios respiratórios diafragmáticos conscientes e exercícios dt mobilidade articular da caixa torácica, além de
exercícios de percepção das sensações da respiração com relação aos exercí. ios citados e ao esforço. Este estudo intenciona
apresentar a opinião dos alunos com relação ao aproveitamento do curso e su 10stas alterações depois de seu início, utilizando
elementos que representam, pelos autores, os que denotam níveis de qualid de de vida. Foi utilizado um questionário com
perguntas abertas e fechadas. Foram 15 questões que classificaram os alunc ;; apontaram nível de informação fundamental;
nível de execução de treinamento específico e as opiniões sobre aspectos notores, emocionais e de relacionamentos. Os
alunos portadores de asma grave, que tiveram uma freqüência de 1 mê; ~3 alunos), 3 meses(2) e 1 ano de curso(3),
apresentaram considerações positivas com relação às opiniões, demonstrand 1 níveis subjetivos de melhora da tolerância ao
esforço físico, de maior controle sobre o medo da crise de asma e a tensão ' ausada pela crise, de maior confiança e calma,
maior sensação de bem estar e melhor desempenho no trabalho. Acredita-se q te as atividades motoras adaptadas para adultos
asmáticos favorecem a aquisição de melhores condições de saúde geral, de m< 1eira consciente, preventiva e regular.
1
Poster 01.21
COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO P, RA HABILITAÇÃO DE CRIANÇAS
DEFICIENTES VISUAIS EM INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS.
NA VARRO, ANDRÉIA SANCHES. SISSY VELOSO FONTES, MARCIA 1! 'AIUMI FUKUJIMA
Universidade Bandeirante de São Paulo
Atualmente estima-se que pelo menos 38 milhões de pessoas seja n cegas e que um adicional de 110 milhões
possuam a visão severamente prejudicada, totalizando cerca de 150 milhões e pessoas visualmente inválidas no mundo. A
Organização Mundial da Saúde estima que até o ano de 2020 este nú1 1ero dobrará. Para que a criança tenha um
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) normal faz-se necessário que t 1dos os sentidos estejam íntegros. A criança
deficiente visual (DV) possui seu sentido da visão prejudicado, portanto 1os primeiros anos de vida, a integração, a
sintetização e a interpretação das informações geradas por outros canais pt ·ceptivos devem ser amplamente explorados.
Segundo a literatura, a forma mais utilizada de intervenção dos profissionais. a habilitação de deficientes visuais através da
exploração desses canais perceptivos é uma intervenção terapêutica educacion. I e social denominada "Estimulação Precoce".
Esta intervenção é utilizada em crianças DV congênita ou com a visão sevt ·amente prejudicada na idade de O a 6 anos;
podendo ser ministrada de diferentes formas e devendo ser ministrada por equ Je multidisciplinar, dentre eles principalmente
o profisional "fisioterapeuta". Objetivo: comparar as principais estratégia da intervenção de "Estimulação Precoce"
utilizada em diferentes instituições especializadas neste tipo de atendimento. l\ étodos: foi realizada uma pesquisa de campo
em algumas das principais instituições no Brasil que atuam neste tipo de a-. !ndimento, dentre elas: "Dorina Nowill para
cegos" - São Paulo, "Laramara Associação de Assistência ao Deficiente Visu I" - São Paulo, "Centro Eva Lindsted" - São
Paulo, Centro de Estudos e Pesquisa em Reabilitação (CEPRE)- Campinas. At :1vés da aphcação de um questionário dirigido
foram entrevistados diversos profissionais especializados no atendimento de :rianças DV destas instituições. Resultados:
Todas as instituições pesquisadas apesar de diferirem quanto aos profisionais ue compõe suas equipes multidisciplinares e
também quanto as estratégias empregadas na habilitação da criança DV, estas baseiam-se no mesmo tipo de intervenção: a
"Estimulação Precoce". A elaboração de nossa proposta de protocolo de trata nento baseou-se na comparação das diversas
estratégias observadas nas diferentes instituições especializadas visitadas e interrogadas. Os profissionais interrogados
baseiam-se nos mesmos princípios para a habilitação destes deficientes, porém 1 tilizam estratégias diversas, ou seja, baseiamse na importância de gerar estímulos adequados nos primeiros anos de vic 1 com a finalidade de garantir a criança o
desenvolvimento neuropsicomotor tão normal quanto possível; pois sem a ' ~stimulação Precoce" a criança D. V. sofre
retardo no seu DNPM atrasando as fases de padrões de movimentos norm is que podem ser agrupadas em: imitação,
desenvolvimento da preensão, coordenação ouvido-mão, exploração do an ~iente e objetos e coordenação bimanual.
Conclusão: a elaboração de um protocolo básico faz-se necessário, para qu' possamos chegar a uma padronização das
diferentes estratégias já utilizadas, afim de propiciarmos cada vez mais um ateJ dimento especializado a este grande número
de DV que almejam, juntamente com seus familiares uma qualidade de vida mel 10r.
38
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.22
OS FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DOS IDOSOS APÓS REPARO
.
CIRÚRGICO DAS FRATURAS DE QUADRIL
PEREIRA, L.S.M.; AUGUSTO V.G.; SILVA F.M.P.
Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais
Introdução e Objetivos: O aumento gradual do número de idosos no Brasil tem levado a uma maior incidência de
fraturas de quadril (Ramos,1993; IBGE, 1997). As fraturas de quadril em idosos frequentemente provocam uma perda da
independência funcional no pós-operatório acarretando uma diminuição da qualidade de vida e do tempo de sobrevivência
(Barnes et ai. 1987). A literatura tem descrito diversos fatores que podem afetar a capacidade funcional dos pacientes, após
fraturas de quadril e submetidos a cirurgia ortopédica (Koval et ai. 1995; Hoenig et ai. 1997; Bonar et ai. 1990; Sikorski et ai.
1993; Perez et ai. 1994; Zuckerman et ai. 1993). Após uma revisão bibliográfica, realizamos uma avaliação funcional de
pacientes idosos após reparo cirúrgico de fratura de quadril, com o objetivo de verificar. os possíveis fatores que podem
interferir na recuperação funcional destes pacientes. Metodologia: Participaram do estudo 23 indivíduos com idade acima de
60 anos, que foram submetidos a reparo cirúrgico de fratura de quadril no período compreendido entre 6 meses a 1,5 anos
anterior ao estudo. Estes pacientes foram escolhidos aleatoriamente, através dos prontuários de vários hospitais de Belo
Horizonte e Divinópolis. Foram excluídos os sujeitos que apresentavam demência ou outras patologias psiquiátricas.
Embasadas nos estutos de Guccione et ai. (1996) e Fox et ai. (1996), foi desenvolvido um protocolo de avaliação para
caracterizar a recuperação funcional do idoso após correção cirúrgica de fratura de quadril. O tratamento estatístico utilizado
foi análise de regressão logística e uma porcentagem simples para descrever as características dos pacientes, sendo
considerado significativo os fatores que apresentavam p~0.05. Resultados Verificamos que, de acordo com a classificação
funcional utilizada, a maioria dos pacientes avaliados deambulava sem auxílio de outra pessoa (95,65%) no período préfratura e 78.26% voltaram a deambular sem auxílio no período pós-fratura. Em nosso estudo, encontramos também que
30.43% dos pacientes avaliados voltaram ao mesmo estado funcional anterior à fratura. Após o tratamento estatístico
efetuado, verificamos que os fatores que interferiram negativamente na recuperação funcional dos idosos foram os seguintes:
fratura na região subtrocantérica, maior número de complicações pós-cirúrgicas e menor número de sessões de fisioterapia ao
qual o paciente foi submetido após reparo cirúrgico. Conclusão Nossos resultados coincidiram com a literatura pesquisada,
pois diversos autores também encontraram em seus estudos alta relevância desses fatores na recuperação dos pacientes.
Ressaltamos a importância da orientação encaminhamento e da abordagem precoce e da frequência suficiente dos tratamentos
fisioterápicos propostos; bem como a extensão do serviço de reabilitação à toda população sem discriminação.
Poster 01.23
APLICAÇÃO DO ULTRA-SOM TERAPÊUTICO NA CARTILAGEM DE CRESCIMENTO PROXIMAL DE
TÍBIA DE COELHO
PESSINA ANDRÉA LICRE, RIBEIRÃO PRETO
O ultra-som tem sido utilizado em larga escala no tratamento das diversas condições clínicas como desordens
músculo-esqueléticas agudas e crônicas, cicatrização de úlceras, reparo ósseo, aumento da circulação sanguínea em tecidos
isquêmicos, processos patológicos ortopédicos diversos e como recurso antiinflamatório. No entanto existe grande receio na
aplicação deste recurso em crianças e adolescentes, especialmente em áreas próximas ao disco epifisário. Quando, na criança,
o processo inflamatório se localiza nas adjacências da cartilagem de crescimento (como freqüentemente acontece) há na
fisioterapia, consenso de que a aplicação de ultra-som esteja contra-indicado por temer-se que haja danos às células da
cartilagem de crescimento. Com efeito, não há na literatura, trabalho, quer experimental, quer clínico que tenha demonstrado
efeito lesivo ou benéfico do ultra-som na cartilagem de crescimento.Uma possível influência da aplicação do ultra-som
pulsado na cartilagem de crescimento, principalmente do ponto de vista morfológico ( microscópico ), foi pesquisado
experimentalmente. Este trabalho teve por objetivo o estudo qualitativo e quantitativo das respostas apresentadas pela
cartilagem de crescimento de tíbia de coelho sob a influência de estimulação com ondas ultra-sônicas, buscando identificar a
existência ou não de alterações morfológicas na mesma. O animal receptor da estimulação ultra-sônica foi o coelho de 1 Kg
de peso, fêmea, daTaça Nova Zelândia. Estes animais, foram agrupados em três grupos experimentais de dez coelhas cada. A
face mediai da região proximal da perna direita, onde a tíbia é de localização subcutânea, foi estimulada, por cinco minutos,
durante dez dias consecutivos. A perna esquerda do animal foi utilizada como lado controle do experimento. A forma de
ultra-som utilizada foi a pulsada, com freqüência de 1 mHz, pulso de 2:8 (ciclo de trabalho 20% pulsado), com intensidade de
535 mWcm 2 . Após os dez dias de estimulação, os animais de dois grupos foram sacrificados, suas tíbias retiradas e o material
processado para obtenção de lâminas histológicas. Os animais do terceiro grupo foram mantidos vivos até o término do
crescimento esquelético e, depois retirado suas tíbias. Com a histologia de luz comum, não foram observadas alterações
qualitativas, especialmente quanto as características morfológicas da cartilagem de crescimento, disposição das camadas,
aspecto das células e características da substância intercelular. Para a comprovação destesresultados, o material foi submetido
à análise quantitativa com técnica de fluorescência óssea, medindo o espaço corr .:spondente à neoformacão óssea. Foi feito,
também, coleta de dados quantitativos com morfometria microscópica referentes a área total da cartilagem de crescimento,
área de cada camada da cartilagem de crescimento e espessura da cartilagem de crescimento e, ainda, contagem de células
correspondentes a cada camada da placa de crescimento e morfometria macroscópica, medindo o comprimento, largura e
espessura dos ossos após o término do crescimento. Estes resultados foram submetidos a teste estatísticos, que não
39
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
registraram alterações significativas para quaisquer que fossem os dados q tantitativos. Como resultado final, não observamos
diferenças entre o lado tratado e não tratado para quaisquer que fossem os Jarâmetros analisados.
Poster 01.24
ESTUDOS DOS FATORES DE RISCO QUE GERAM A INSTABILIDADE FÊMURO-PATETA R.
CARLOS H. F. BORTOLUCI, FT.
Universidade do Sagrado Coração- USC- Bauru.
Orientador : Prof. Mestrando Luis Henrique Simionato
A articulação do joelho é a mais complexa de todo o sistema articular, e esta é freqüentemente acometida por
disfunções geradas por diversos fatores de risco. O objetivo deste trabalhe foi identificar os fatores de risco da instabilidade
femuro-patelar em estudantes universitários. Foram sujeitos deste trabalho 41 alunos de ambos os sexos, graduando do curso
de fisioterapia da USC, matriculados no ano de 1996. Os fatores de risco avaliados foram. anteversão femural, aumento do
ângulo "Q", rotação tibíal, pro nação subtalar e retrações musculares. Dos f< cores de risco avaliados, os de maiores incidências
foram as retrações musculares de quadriceps 100 %, isquio-tibiais 100( ' e gastrocnêmio 46,4 %, seguida pela anteversão
femural bilateral 61 %, aumento do ângulo "Q" 34,1 %, rotação tibial 7,2 ~ e pronação subtalar 4,8 %. Diante dos resultados
obtidos, conclui-se que é elevado a freqüência dos fatores de risco nesta po ulação.
Poster 01.26
HIDROTERAPIA E NATAÇÃO TERAPÊUTICA COMO FORMA1 COMPLEMENTAR ES DE TRATAMENTO
PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE ENCJ FALOPATIA CRÔNICA INFANTIL NÃO
EVOLUTIVA, EM ADULTOS JOVENS. APRESENTAÇÃO DE UM t 'ASO.
CUNHA, M.C.B.; VERNILO, P.T.; BORBA, A; ROMERO, ].R.; FILON. E.
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos (UNG)
Objetivo: Verificar a efetividade da Hidroterapia e da nataçã( terapêutica para pacientes adultos jovens que
apresentam Encefalopatia Crônica Infantil não evolutiva. Material: apre~ ~ntaremos o caso de um paciente diagnosticado
clinicamente (F.P., 25 anos), apresentando incoordenação motora e dese uilíbrio, principalmente na marcha. O paciente
iniciou tratamento fisioterapêutico aos 6 meses de idade, permanecendo et t terapia durante 24 anos, e a hidroterapia só foi
introduzida posteriormente. Métodos: foi utilizado para tratamento fisiote apêutico o método Bobath e na hidroterapia foi
enfatizado o nado de costas e o estilo Crawl ( Ft Terezinha Shibuta, 199~ . Atualmente o paciente está sendo atendido na
piscina aquecida da UNG e estamos utilizando para tratamento os métoó >s Bad Ragaz e Halliwick. Resultados: após a
realização da hidroterapia durante 04 meses na UNG, com freqüência de ' uas vezes por semana, observamos melhora em
relação à coordenação e equilíbrio; prevenção de deformidades; aumento da: ADM (Amplitudes de Movimento); manutenção
e aumento da força muscular, e melhora da capacidade respiratória. Condu :ão: os exercícios aquáticos em piscina aquecida
beneficiaram este paciente durante todos esses anos, facilitando sua ma ~ha e realização das atividade de vida diária,
promovendo assim maior independência e melhora da qualidade de vida.
Poster 01.27
TRATAMENTO HIDROTERAPÊUT ICO PARA DISTENSÃO Ml SCULAR GRAU 11 EM ATLETAS DE
FUTEBOL.
CUNHA, M.C.B.; MANRIQUE, C.C.D.; FILONI, E.; MARCONI, A.; SOl ZA, G.C
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos (UNG)
OBJETIVO: Avaliar os benefícios da hidroterapia como recurso c >mplementar precoce na reabilitação de atletas
esporádicos com distensão muscular de bíceps femoral. MATERIAL E MÍ TODO: Estudo de caso de um atleta de futebol
esporádico, de 30 anos com diagnóstico clínico de distensão grau 11 do bícep~ femoral. Foi realizado três (3) sessões semanais
de hidroterapia durante duas semanas como recurso fisioterapêutico comç ementar. Este estudo foi realizado no setor de
hidroterapia da Universidade Guarulhos. Utilizamos exercícios hidrocinesiov rapêuticos e reprodução movimentos de chute e
cabeceio praticado pelo atleta. RESULTADO: Após duas semanas submeti lo ao tratamento hidroterapêutico, constatamos
integridade do músculo bíceps femoral, e o atleta retornou a pratica esportiv . após este período. CONCLUSÃO: Após este
estudo concluímos que os exercícios hidrocinesioterapêuticos associado a novimentos específicos praticados pelo atleta.
através dos recursos físicos da água, intensificam a reabilitação das lesões mu culares.
40
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.28
PROPOSTA DE TRATAMENTO HIDROTERAPÊUT ICO EM GRUPO PARA PACIENTES PORTADORES DE
LOMBALGIA E LOMBOCIATALG IA
CUNHA, M.C.B.; MANRIQUE, C.C.D; FILONI, E; PORTO, F.E, FURLATO, ].
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Guarulhos (UNG)
OBJETIVO: A valiar os benefícios do tratamento hidroterapêutico em grupo, utilizando-o como um recurso no
tratamento de pacientes portadores de Lombalgia e Lombociatalgia. MATERIAL E MÉTODO: Foram selecionados dois
grupos (08 casos) de pacientes com diagnóstico clínico de Lombalgia e/ou Lombociatalgia que não necessariamente se
submeteram a sessões de fisioterapia convencional. Os pacientes eram de ambos os sexos com faixa etária variando de 40 a
60 anos. O nosso estudo foi realizado nas dependências da Clínica de Fisioterapia da Universidade Guarulhos. Foi utilizada a
Escala de Barthel para mensurar as atividades de vida diária. Não preconizamos nenhuma técnica específica de hidroterapia, e
sim exercícios hidrocinesioterapêuticos associados aos métodos Bad Ragaz e Halliwick. RESULTADOS: Após 4 (quatro)
meses de tratamento hidroterapêutico, realizado duas vezes por semana, os pacientes relataram melhora do quadro álgico,
conseguindo realizar atividades físicas de intensidades moderadas. Em relação às atividades de vida diária os pacientes já
conseguem realizar tarefas domésticas com uma redução significativa dos sinais e sintomas. CONCLUSÃO: O tratamento
hidroterapêutico em grupo trouxe benefícios físicos e psicológicos a estes pacientes, apresentando melhora significativa em
relação ao quadro álgico e às atividades de vida diária, especialmente no item do vestuário.
Poster 01.29
GROUND REACTION FORCES IN GAIT ANALYSIS AND SENSITIVE CRONAXIE THRESHOLD OF
DIABETIC PA TIENTS.
I.C.N. SACCOJ, A.C. AMADIO.
1
Biomechanics Laboratory o f the School of Physical Education and Sport of the University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil.
Biomechanical evaluation of ground reaction forces (GRF) and its parameters during gait, besides neurologic and
vascular tests, seem to be the most appropriate to identify patients with evolutive risk to develop diabetic peripheral
neuropathy, and avoid its further chronic complications. This study have investigated electrophysiological parameters related to
diabetic neuropathy and biomechanical parameters during gait, by systernatized methodology, as possible interfering factors on the gait
evaluation of diabetic patients. Within these parameters, we searched for defined gait patterns in peripheral neuropathic diabetic
patients, as well as in diabetic patients without neuropathy, to intervene in a more complex description and interpretation of
the disease. Voluntary adults ofboth sex were assigned to one of the following three groups: diabetic group (DG) with no diagnosed
neuropathy (n=12, 51.9, sd 13.9 yr); diabetic neuropathic group (DNG) (n=12, 57.3, sd 12.8yr); control group (CG) (n=12, 36.8, sd 8.7yr). The
experimental procedure approved by the Ethical Committee of the Universitary Hospital were fully explained to the subjects, and their written
consent was obtained. Evaluation of sensitive cronaxie on the plantar surface in four established areas: AI mediai metatarsal heads
(mediai plantar n.); Ali lateral metatarsal heads (lateral plantar n.); AIII midlefoot (principal ramification of lat. plantar n.);
AIV heel (calcaneous n.); and vertical GRF parameters (first and second peak and minimum force) during gait were analyzed. Using a
dedicated system for measuring plantar pressure, dynamic variables were collected and sampled at 50 Hz for periods of 4 s. A
non-parametric statistical analysis was done using SAS v.6.11 and SPSS v.6.0. Comparisons inter-groups of each dynamic
and electrophysiological variables were done using Kruskal-Wallis and Wilcoxom matched pairs for intra-subject and intergroup analysis. Sensitive cronaxie threshold of DNG were significantly higher than CG in ali plantar areas indicating the
presence of peripheral nervous injury, and DG presented their threshold higher than CG in areas AIR and IV, which
demonstrate that these patients might have some kind of peripheral injuries on plantar surface due to the progressive
evolution of diabetes and its effects in nervous fibers (table 1).
p
DNG
DG
CG
Diff.
GC e GD; GC e GDN
0.002
0.33
0.28
0.18
AIR
GCeGDN
0.001
0.40
0.20
0.30
AIL
GCeGDN
0.001
0.48
0.25
0.15
AIIR
GCeGDN
0.021
0.25
0.40
0.20
AIIL
GCeGDN
0.001
0.68
0.30
Ali IR 0.18
GCeGDN
0.005
0.68
0.25
AIIIL 0.20
0.001
GC e GD; GC e GDN
0.35
1.90
AIVR 0.18
0.004
GC e GD; GC e GDN
0.35
1.80
AIVL 0.20
Table 1- Sensitive cronax1e threshold med1ans (mA) of nght (R) and left (L) feet of CG, DG and DNG; their p value and
different groups.
A gradual and hierarchic raise of values of electrodiagnostic responses was observed in ali plantar areas going from
CG to DG and DNG. lt could be attributed to the probability of occurrence a peripheric nervous injury due to the
development of diabetes and its further chronic complications. Coefficient of variation of electrophysiological responses were
stressed for DNG in most of plantar areas (from 25,44% in AIL to 266,20 % in AIIIL), indicating higher amplitude of
variation what is probably a characteristic of the neuropathy. Considering GRF parameters, there were significantly
differences between CG and DNG for the minimum force during gait (p<0,014) and between CG and DG for the first peak
(p<0.035), indicating a possible alteration in locomotor apparatus capacity to reduce loads after heel strike, which are
41
Rev. Bras. Fisiot.
probably caused by diminished contralateral leg articular moments durin:
stance phase in order to decrease loads on the human body (Winter, 1991) ..
no difference between feet were found for peak pressure and it could
compensatory dynamic mechanisms to compensate sensibility and propri
Electrophysiological responses may have been also adjusted bilaterally pr
sensorial deficit.
Winter, D. The biomechanics and motor contra! of the human gait: normal,
Waterloo, 1991.
This study was supported by FAPESP. process # 96/0266-2.
Suplemento Especial
swing phase and reduced knee flexion during
,íkewise occurred in electrodiagnostic responses,
be due to the need of generation of bilateral
ception alterations due to diabetic neuropathy.
1bably because the need for adapt gait to these
elderly and pathological. Ontario, University o f
Poster 01.30
ESPASTICIDADE NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL- REVIS ~O DAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS.
JULIANA ZOPPELLO FERNANDES, SISSY VELOSO FONTES, MARC rA MAIUMI FUKUJIMA
Instituição: Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN.
Desde a década de 50, a espasticidade, bem como os possíveis mét< dos preventivos e de tratamento, tem sido tema
polêmico e conseqüentemente de grande interesse entre os profissionais que rabalham com a recuperação física de pacientes
seqüelados por acidente vascular cerebral (AVC); estes, através de observ: ções e relatos da prática do tratamento físico,
apontam este sintoma clínico, na maioria das vezes, como um dos principais ·atores prejudiciais na recuperação de atividades
motoras funcionais de forma a comprometer significativamente a reabilitação física dos mesmos. Atualmente, apesar das
inúmeras pesquisas e dos avanços científicos na área, este tema permanec ~ controverso, fazendo-se necessários novos e
contínuos estudos sobre o tema. Objetivo: Este trabalho tem como objeti '0 realizar uma análise crítica das abordagens
terapêuticas da espasticidade, enfatizando os principais métodos fisioterápico; que possam intervir na prevenção, modulação
ou tratamento da mesma. Métodos: Este trabalho consiste em uma revisão b bliográfica em bancos de dados de instituições
de ensino e pesquisa localizados no Brasil e Exterior. Resultados: As 1 rincipais abordagens terapêuticas, sejam elas
fisioterápicas, clínicas ou cirúrgicas podem ser ministradas de maneira iso ada ou conjuntamente. Os principais métodos
fisioterápicos de tratamento são subdivididos em: métodos neurofisiológi :os como o Conceito Bobath, a Técnica de
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva - Kabat, a Técnica de Rood e ' Técnica de Johstone; métodos de teorias de
aprendizado como a Técnica de Educação Condutiva de Peti:i e os métodm que utilizam instrumentos e técnicas como a
Técnica de Retroalimentação "Biofeedback", a Estimulação Elétrica Fw cional - "FES", a crioterapia, Técnicas de
cinesioterpia em meio aquoso "Hidroterapia" e o uso de órteses "splints". ~s intervenções farmacológicas consistem na
utilização dos seguintes medicamentos de ação sistêmica: Baclofen, Diazepa1 1, Dantrolene Sádico, Tizanidine, Clonidinem,
Fenotiazines e Morfina intratecal. Os medicamentos de ação localizada atravé~ do bloqueio nervoso periférico como a Toxina
Botulínica e o Feno!. As intervenções cirúrgicas consistem em proct: limentos cirúrgicos ortopédicos e também
neurocirúrgicos. Conclusões: Os mecanismos fisiopatológicos da espasticida .e são complexos e controversos e apesar dos
importantes avanços obtidos no conhecimento da regulação tônica e na an tomofisiologia da contração muscular, ainda
existem divergências entre os autores. Mesmo com teorias controversas a n üoria enfoca um déficit na regulação do ato
motor como causa desse sintoma. São poucas as técnicas existentes para m1 r1surar a espasticidade entre elas a Escala de
Asworth. A avaliação exata do grau e local de instalação toma-se difícil, pri cipalmente pela individualidade biológica de
cada paciente, prejudicando a escolha do tratamento ideal. As abordager : terapêuticas vão das menos invasivas, os
tratamentos fisioterápicos, até as mais invasivas, os tratamentos cirúrgico: estes merecem ser discutidos pela equipe
multiprofissional envolvida e preferncialmente ministrados conjuntamente. Qu nto aos métodos fisioterápicos de tratamento,
estes podem atuar minimizando as manifestações da espasticidade já instalada ou frenando o seu aparecimento no processo
de reorganização plástica em um nível funcional, se sua fisiopatologia J 1r bem conhecida. Não foi comprovado a
superioridade de nenhum deles sobre outro, e cabe ao fisioterapeuta utilizar um )U mais métodos adequados, de acordo com a
avaliação e necessidade do paciente, proporcionando maior independência e fur :ionalidade.
Poster 01.31
EVOLUÇÃO DA AQUISIÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FUNCION ,L EM PACIENTES
LESADOS
MEDULARES: ANÁLISE DE ALGUMAS VARIÁVEIS
SILVA, FLORIPES FONSECA DA; CASIMIRO, L.C.; NUNES, L.G.N.;
Introdução: A escala de medida de independência funcional (Functi na! Independence Measure - FIM) avalia a
capacidade do paciente lesado medular com o auto-cuidado, o controle vési< )-intestinal, a mobilidade, a locomoção e a
percepção social. Não há descrição na literatura sobre a evolução temporal de~ :es pacientes avaliada com os itens da escala
FIM para cada nível neurológico. O objetivo do nosso trabalho, utilizandc essa escala, foi determinar a evolução da
independência funcional de pacientes lesados medulares em reabilitação, de ac 1rdo com os níveis da lesão, e relacionar os
pontos obtidos durante a internação para reabilitação, com o sexo, a idade, o nív l ASIA e o período decorrido entre a data da
lesão e data de início da reabilitação. Material e Métodos: Estudamos prospect vamente todos os 92 pacientes admitidos no
Programa do Lesado Medular do Hospital Sarah-BSB, no período de 01 de ab il a 30 de setembro de 1997. Excluímos 21
pacientes que interromperam a reabilitação por motivos cirúrgicos, clínicos ou p 1r apresentarem lesão com nível neurológico
indefinido. Avalíamos os outros 71 pacientes por ocasião da admissão e quim :nalmente, durante o período de internação,
tendo como instrumento de trabalho a escala FIM. Os dados coletados foram ·atados estatisticamente através de testes de
42
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
hipóteses para diferenças de médias entre grupos (análise de variância, teste de Welch e Brown-Forsythe) e de análise
multivariada (regressão múltipla). Resultados:A média de idade foi de 31 anos (17 a 72 anos); avaliamos 50 pacientes do
sexo masculino e 21 do sexo feminino; 29 deles tinham lesões cervicais, 34 torácicas e 8 lombares; os níveis de lesão ASIA
classificados como A, B, C e D tiveram, respectivamente, 31, 12, 13 e 6 pacientes; 8 pacientes apresentavam lesão medular
não traumática; a média de pontos da escala FIM na admissão foi 66 pontos (39 a 120 pontos); o tempo médio de lesão à
época da admissão foi de 8 meses (5dias a 6 anos); o tempo médio de internação foi 57 dias (15 a 110 dias); o ganho médio
do FIM na primeira quinzena foi de 8.7, reduzindo-se o ritmo de evolução, nas quinzenas subsequentes, para 6, 5, 3.4, 3.3 e
3.2 pontos. Conclusão: l-Aqueles pacientes com nível de lesão mais alto ficaram mais tempo internados e tiveram menor
pontuação no FIM; 2-0s pacientes com maior pontuação FIM na admissão ficaram menos tempo internados para a
reabilitação e ganharam a maioria das suas aquisições nas 3 primeiras quinzenas; 3-0s pacientes com maior tempo de lesão
apresentaram maior pontuação inicial do FIM, porém, o seu ganho total na aquisição funcional foi menor. A maior
pontuação foi obtida, principalmente, durante a primeira quinzena de reabilitação; 4-0s pacientes com mais idade
permaneceram mais tempo internados.
Poster 01.32
ESTUDO EVOLUTIVO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO E DE
TERMO.
ELIANE M. GAETANl, M. VALERJANA L. MOURA-RIBEIR02
12
1
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil ; Universidade-Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil '
OBJETIVOS: Avaliar as características evolutivas até os 3 meses de idade de um grupo de 10 crianças: 8 Recémnascidos pré-termo (RNPT) e 2 Recém-nascidos a termo (RNT) do ponto de vista do amadurecimento do controle postura!
precoce para as habilidades em supino, em prono e no sentar, comparando os nossos resultados entre si e com os de Pountney
e cols. (1990) e Green e cols. (1995). METODOLOGIA: O estudo piloto consistiu de estudo longitudinal observacional para
investigar a sequência do desenvolvimento motor durante os três primeiros meses de vida em RNPT e RNT. Para os RNPT a
idade gestacional foi corrigida para 40 semanas. Foi utilizado os procedimentos metodológicos de Pountney e cols. (1990) e
Green e cols. (1995) obedecendo escala para os níveis de habilidades, identificados de 1 a 6 para os decúbitos prono e supino
e 1 a 7 para as habilidades de sentar. Em cada nível foram catalogadas as mudanças na posição e movimentos das cinturas
escapular e pélvica, cabeça e membros e sua relação com mudanças na descarga de peso. A avaliação em mesa com tampo de
acrílico e espelho angulado embaixo dele, pode confirmar onde a criança estava descarregando o peso quando em supino e
prono. Para documentar a pesquisa todas as crianças foram fotografadas e vídeo-registradas durante as avaliações. Foram
excluídas do estudo as crianças com Malformação congênita, Encefalopatia-hipóxico-isquêmica e Doenças infecciosas.
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Em nossos casos, os RNPT e os RNT demonstraram evolução do controle postura!
precoce até os 3 meses de vida, de forma sequencial. A comparação evolutiva dos RNPT com os RNT revelou no referente as
habilidades em prono e supino que aos 3 meses de vida, encontravam-se em nível inferior 6 RNPT, em dois níveis inferiores
um RNPT e no mesmo nível àquele dos RNT um RNPT. A comparação dos nossos resultados com os de Pountney e Green,
demonstraram que aos 3 meses de idade as 10 crianças estavam nas idades, identificadas nos respectivos níveis estabelecidos
pelos referidos autores Em relação a habilidade de sentar, todas as crianças se identificavam ao nível 2, aos 3 meses de idade,
nível este, inferior aos das habilidades de prono e supino. Foram identificados 2 RNPT no nível 1 para a habilidade sentado,
que segundo Pountney e Green, não foi identificado em crianças normais.
AVALIAÇÕES
15d
pron. sup. sent.
n
i.g.
1
26/27s 2
2
2
29s
1
lm
pron. sup.
2
2
sent.
2
2
2
2
2
2
2
2m
pron. sup.
2
2
3
3
2
2
3
2
4
30s
2
2
2
2
3
2
5
31s5d
1
2
2
2
2
2
3
7
8
33sld
2
9
41sld
1
10 41sld
sent.
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
4
4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4
4
2
3
2
2
3
2
3
3
2
4
4
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
29s
33s
33sld
3m
pron. sup.
2
3
6
sent.
Tabela: Níveis de Habilidades
43
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 01.33
ESTUDO DO CONTROLE MOTOR NA SÍNDROME DO LIGAMEJITO CRUZADO ANTERIOR
FATARELLI, I.F.C.*; MELLO, W.**; ALMEIDA, G. L.,*
*Laboratório de Controle Motor. Departamento de Fisiologia e Biofísica< ) lnst. de Biologia da UNICAMP.
**Centro Médico de Campinas
Funcionalmente, distinguem-se dois grupos de indivíduos com ro npimento do ligamento cruzado anterior (LCA). O
primeiro, chamado de LCA deficiente (LCAd) apresenta sintomas clínic' s como falseios constantes, edema e dor (Noyes,
Mooar, Matthews, & Butler, 1983). O segundo grupo não manifesta c ; sintomas clínicos, sendo denominado de LCA
adaptado (LCAa). Quando os sintomas são exacerbados, com prejuízc para as atividades motoras da locomoção, fato
característico nos LCAd, evidencia-se a disfunção motora (Amatuzzi, l )92) (Noyes, et ai., 1983). Neste caso pode ser
indicada a reconstrução cirúrgica do LCA (Paulos, Butler, Noyes, & Groo i, 1983), a fim de restaurar a estabilidade articular
(Fu, Harner, Johnson, Miller, & Woo, 1993) e prevenir o deslocamento : nterior da tíbia em relação ao fêmur (Lane, Irby,
Rangger, & Daniel, 1994). Normalmente, as rupturas do LCA originam- :e em atividades esportivas (Fatarelli, 1997) e na
maioria das vezes limitam ou impedem a prática das mesmas (Abdalla, Co 1en, & Gorios, 1995); (Hernandez, Rezende, Góis,
& Grisende, 1996). Numa revisão da literatura identificamos várias altera< ões no mecanismo de controle motor, geralmente
associadas com a lesão do LCA. A questão básica então é explicar os fator :s responsáveis pela adaptação (indivíduos LCAa)
ou não (indivíduos LCAd) à lesão do ligamento. Entre os possíveis faton s responsáveis por esta diferença na adaptação à
lesão do ligamento cruzado anterior identificamos: 1) mudanças propriO< eptivas, 2) deficiência no mecanismo de rotação
automático do joelho, 3) aumento no tempo de reação neuro-muscular, 4) mudanças no padrão e na quantidade de ativação
muscular. Da análise destes dados concluímos que a diferença em ada11tabilidade não seria provocada pelas alterações
proprioceptivas como argumentam alguns autores (Beard, Kyberd, Ferguss• m, & Dodd, 1993) (Corrigan, Cashman, & Brady,
1992) (Jennings & Seedhom, 1994). As mudanças proprioceptivas seriam: s mesmas para o grupo LCAa e LCAd e portanto
não determinariam as diferenças em adaptabilidade à lesão observadas entn: estes grupos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abdalla, R. J., Cohen, M., & Gorios, C. (1995). Lesão parcial do LCA. I arte 11 - Classificação e história natural. Revista
Brasileira de Ortopedia, 30(8), 547-554.
Amatuzzi, M. M. (1992). Patologia do Joelho. São Paulo: FCM USP.
Beard, D. J., Kyberd, P. J., Fergusson, C. M., & Dodd, C. A. (1993). Prc prioception after rupture of the anterior cruciate
ligament. The Journal of Bone and Joint Surgery, 75-B(2), 311-315.
Corrigan, J. P., Cashman, W. F., & Brady, M. P. (1992). Proprioception in the cruciate deficient knee. The Journal of Bone
and Joint Surgery, 74-B(2), 247-250.
Fatarelli, I. F. C. (1997) A Síndrome do Ligamento Cruzado Anterior Defic ente. Relacionada à Pratica Esportiva. Mestrado,
EEF- USP.
Fu, F. H., Harner, C. D., Johnson, D. L., Miller, M. D., & Woo, S. L. (1993) Biomechanics ofknee ligaments. The Journal of
Bone and Joint Surgery, 75-A(11), 1716-1727.
Hernandez, A. J., Rezende, M. U., Góis, S. L., & Grisende, S. C. (1996). i valiação funcional e do nível de atividade física
nas reconstruções do ligamento cruzado anterior. Revista Brasileira de Orto~ :dia, J.l(12), 990-994.
Jennings, A. G., & Seedhom, B. B. (1994). Proprioception in the knee and 1 :flex hamstring contraction latency. The Journal
ofBone and Joint Surgery, 76-B(3), 491-494.
Lane, J. G., Irby, S. E., Rangger, C., & Daniel, D. M. (1994). The anterior CJ 1ciate ligament in controlling axial rotation. The
American Journal of Sports Medicine, 22(2), 289-93.
Noyes, F. R., Mooar, P. A., Matthews, D. S., & Butler, D. L. (1983). The syr ptomatic anterior cruciate-deficient knee. PartI:
The long-term functional disability in athletically active individuais. The 1< 1rnal of Bone and Joint Surgery, 65-A(2), 154162.
Paulos, L. E., Butler, D. L., Noyes, F. R., & Grood, E. S. (1983). Intra-ar1 cular cruciate reconstruction: replacement with
vascularized patellar tendon. Clinicai Orthopaedics and Related Research( 17: ), 78-84.
Este trabalho é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado d( São Paulo- FAPESP, São Paulo- Brasil (Grant
w 95/9608-1; 97/097 44-8)
Poster 01.34
REABILITAÇÃO EM AMIOTROFIA ESPINAL PROGRESSIVA INF1 NTIL TIPO 11
GOULART, B. LUCIANA; HORI, S.F. E HOSKEN, M.,T.P.
O presente trabalho analisa o caso de uma criança de dois anos de idade, com diagnóstico de Amiotrofia Espinal
Progressiva Tipo 11, feito através de biópsia após a muscular, quando esta pos uía um ano e dois meses de idade. A indicação
para a Fisioterapia Motora ocorreu logo após o diagnóstico laboratorial. A Fi ioterapia foi iniciada imediatamente, devido ao
fato da criança já ter apresentado acentuada perda da função motora ao nível las cinturas escapular e pélvica, de acordo com
o curso da doença. O tratamento Fisioterápico segue as etapas do desenvolvin !nto sensório-motor normal da criança a fim de
prevenir encurtamento muscular, promover fortalecimento muscular, levar à aquisição de imagem corporal e espacial,
evitando-se o retardo mental secundário. Salienta-se o posicionamento ade 1uado das articulações, o uso de órteses para
membros inferiores e o auxílio à marcha. A patologia enfatizada neste estw o, leva a com um prognóstico degenerativo e
44
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
progressivo. Entretanto, pode-se obter ganho significativo de movimentos, em curto período de tempo, o que garante a
criança, que na maioria dos casos possui sua percepção íntegra, a realização de atividades com alguma independência e
melhor qualidade de vida.
02- REABILITAÇÃO
Poster 02.02
ATUAÇÃO FISIOTERÁPICA NA FASE AGUDA DO TRAUMA RAQUI-MEDULAR: EXPERIÊNCIA DO
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
ALOUCHE, SR; GOBBI, FCM; SOUSA, JA; HAIBI, DR; RONCATI, VL
Universidade de São Paulo
O trauma raqui-medular é um evento inesperado que produz um impacto irreversível do ponto de vista funcional,
médico, psicológico e econômico sobre a pessoa lesada. Entre 1992 e 1997 foram admitidos 27 pacientes com trauma raquimedular no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Corroborando os dados da literatura, 63%
destes pacientes eram do sexo masculino, com idade mediana de 27 anos (variando entre 17 e 70 anos). 6% dos casos
apresentavam traumatismo cranio-encefálico associado. A ênfase na atuação fisioterápica na fase aguda do trauma raquimedular é dada na avaliação do nível e extensão da lesão, que traduzem a seqüela funcional esperada. A partir daí são
traçados os objetivos a curto e longo prazo pela equipe multidisciplinar que têm como base a prevenção do agravamento da
lesão inicial e do desenvolvimento de lesões secundárias e a independência funcional do paciente. Estes objetivos são
utilizados como parâmetros evolutivos para a equipe, pacientes e familiares e servem como indicador qualitativo e
quantitativo da terapia em uso. A avaliação dos parâmetros respiratórios tais como a pressão inspiratória máxima, capacidade
vital e padrão respiratório indicam a necessidade de ventilação mecânica (utilizada em 34,4% dos pacientes internados) seja
invasiva ou não-invasiva e de recursos específicos, tais como eletroestimulação diafragmática e treinamento dos músculos
respiratórios. A fisioterapia motora tem início assim que for afastado o risco de lesão secundária decorrente da mobilização.
Visa-se a potencialização precoce das funções motoras remanescentes e utiliza-se recursos auxiliares diversos já na Unidade
de Terapia Intensiva. Um plano educacional de enfoque transdisciplinar para pacientes e familiares é desenvolvido,
enfatizando o auto-cuidado. A transferência precoce para um centro de reabilitação é preconizada o que leva à menores custos
no tratamento, menor freqüência de reinternação, maior sobrevida e ida precoce para o domicílio. O tempo médio de
permanência dos pacientes na UTI foi de 7,6 dias e de internação hospitalar total de 29,4 dias. O futuro Centro de
Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein permitirá a continuidade da reabilitação do paciente com trauma raquimedular até sua independência funcional e profissional.
Poster 02.03
EFEITO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL NOS MÚSCULOS DORSI-FLEXORES E EVERSORES
NA MARCHA DO HEMIPARÉTICO.
BARALDI, K.F., ANDRADE, P.H., BARALDI, I.
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA, SÃO PAULO.
Objetivos: O objetivo deste trabalho foi verificar a efetividade da Estimulação Elétrica Funcional (EEF) na
facilitação da marchà dos hemiparéticos.Métodos: A EEF dos músculos dorsi-flexores e eversores do membro acometido foi
realizada em 5 pacientes hemiparéticos, com características e tipos de sequelas semelhantes, utilizando um Gerador Universal
de Pulsos, DUALPEX (QUARK). A corrente elétrica foi padronizada em freqüência de 2500Hz, modulada em 50Hz e a
EEF aplicada em 18 sessões, por 20 minutos. Os pacientes foram submetidos a avaliação goniométrica nos movimentos
ativos da articulaçao do tornozelo e a uma avaliação subjetiva através do vídeo tape, seguindo uma Ficha de Análise de
Marcha antes e após a EEF. Os dados foram estatisticamente calculados pelo teste t Student em nível de 5% de significância
comparando as médias das Amplitudes de Movimento (ADM). Resultados: A análise subjetiva mostrou modificações no
padrão da marcha. A estatística revelou que a ADM da dorsi-flexão foi significativamente maior após a EEF (antes: X =
= 11,6±5,5°), enquanto que, no movimento de eversão do pé a diferença não foi estatisticamente
6,8±5,3°, após
significante. Conclusões: Os resultados desta pesquisa sugerem que a EEF pode aumentar a ADM articular ativa e promover
uma marcha mais funcional.
x
45
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.04
CONDUTAS TERAPÊUTICAS E RESPOSTAS DE RECÉM-NASCl ()OS COM ANÓXIA PERINATAL EM UM
ATENDIMENTO DOMICILIAR: ANÁLISES PRELIMINARES.
PATRÍCIA FERRAZ BRAZ, PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 1 DUCAÇÃO ESPECIAL, UFSCARJSP;
MARIA LUISA G. EMMEL,
DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL, UFSCAR/SP. FINAl fCIAMENTO: CNPQ.
Um dos maiores riscos ao bebê, segundo diversos autores, é
Anóxia, processo progressivo potencialmente
reversível nas etapas iniciais, de maneira espontânea, se a causa for removid . Entretanto, uma vez progredindo, esta reversão
espontânea torna-se difícil, em grande parte, devido às alterações ci culatórias, metabólicas e neurológicas que a
acompanham. podendo levar a vários níveis de comprometimento er seu desenvolvimento. Existem condutas da
maternidade, no período perinatal, que podem detectar algum risco de alt1 ração no desenvolvimento. Sob o risco de uma
deficiência é necessário que haja um encaminhamento do bebê para ini :iar uma intervenção o mais precoce possível,
evitando-se futuras deficiências e/ou recuperação daquelas já instaladas. Bas ~ando-se nos pressupostos acima, conduziu-se os
objetivos desta pesquisa que pretende avaliar os efeitos de uma intervençã•' precoce e domiciliar em bebês com quadro de
anóxia perinatal, a partir do seu décimo quinto dia de vida até aproximadam nte 24 semanas. O método propõe a presença de
dois grupos: (a) um grupo experimental, composto por bebês de risco, ':om quadro de anóxia perinatal, detectados na
maternidade. Estes bebês, além de terem se submetido a avaliações do l >NPM; estão participando de um programa de
intervenção, do 15° dia até a 12" semana de vida; (b) um grupo controle, com Josto por bebês que sofreram de anóxia perinatal
ao nascer, entre O e 24 meses, selecionados em locais de atendimento esp( ,:ializado. Os bebês deste grupo só estão sendo
submetidos a avaliações no DNPM, nas faixas etárias semelhantes aos d 1 grupo experimental, sem se participarem do
programa de estimulação. O local escolhido para a intervenção foi o próprio domicílio do bebê. O procedimento consta de 3
etapas: 1) entrevista com as mães, com o objetivo de conhecer a rotina do I ~bê; 2) uma avaliação do seu DNPM, realizada
aos 15 dias, 8" semana e 12" semana, 16" semana, 20" e 24" semana de vida ., 3) estimulação global do bebê duas vezes por
semana, dos 20 dias de vida até a 12" semana. Serão apresentados alg ns resultados parciais relativos a: (a) análise
longitudinal do desenvolvimento dos bebês com quadro de anóxia perinatal ao longo do tempo de intervenção (da 2" a 24"
semana de vida); (b) comparação do desenvolvimento dos bebês do grupo ex 'erimental com os do grupo controle; (c) análise
da programação proposta, em relação a: orientações fornecidas à mãe, condut s da pesquisadora e respostas do bebê.
Poster 02.05
EQUOTERAPIA: NOVA PROPOSTA DE REABILITAÇÃO MOTORA.
CAMARGO RATTO E.F.E, RATTO E.R, APRILE S.A.G.
Centro de Equitação Ranchos das Colinas, CAMPINAS, S.P
A terapia através do cavalo (Equus + Therapeia), hoje reconhecida p lo Conselho Federal de Medicina no Parecer n°
06/97 como Método terapêutico de Reabilitação motora de pessoas portador .s de deficiências, é uma terapia complementar
que utiliza o cavalo como instrumento biomecânico reeducativo em danos r otores e sensoriais, dentro de uma abordagem
multidisciplinar. Suas bases científicas se sustentam em dois grandes efeitos:
O movimento no dorso do cavalo transferido ao cavaleiro.
O vínculo emocional desencadeado por esta prática.
Ao se deslocar ao passo o cavalo realiza um movimento tridimensio. ai em seu dorso que se assemelha a marcha do
homem. O deslocamento longitudinal - para frente e para trás, o transversal - 'ara direita e para a esquerda e o vertical - para
cima e para baixo, desloca o centro de gravidade do cavaleiro proporcio ando um movimento com cadência, ritmo e
trajetória similares ao movimento pélvico observados na deambulação hum rla. A cada passo do cavalo a linha média do
cavaleiro é defletida, estimulando as reações do equilíbrio através de contraçi es reflexas agonistas e antagonistas. O sistema
vestibular é assim repetidamente solicitado, estimulando de modo contínuo su .s conexões entre os canais semicirculares com
o cerebelo, córtex cerebral, medula e nervos periféricos, em ambos os sentid< ;;, ascendentes e descendentes. O ajuste tônico
ritmado determinará uma mobilização osteo-articular que interessa as arti1 1lações coxo femurais, todas as articulações
vertebrais e as da cintura escapular, determinando um grande número de infon 1ações proprioceptivas permitindo a criação de
esquemas motores novos. A posição de montaria alongando os adultores :lo quadril, o calor do corpo do animal, os
movimentos lentos de flexo extensão da cabeça, tronco e membros, contrib1 ~m para o relaxamento do tônus muscular de
todo o corpo.Trinta a quarenta minutos de cavalgada proporciona dois mil d( ;locamentos que atuarão como estímulos num
mecanismo de biofeedback de reações neuromusculares. A terapia através le um animal de grande porte, o sentimento
ambivalente de medo e coragem e a afetividade, faz nascer a auto estin l e a auto confiança. Diferente de terapias
tradicionais, o paciente da Equoterapia torna-se o protagonista. Esta inversão !e papéis somados com o local a céu aberto e
junto à natureza, num processo de cooperação mútua na parceria homem/ca alo e o prazer da atividade, são responsáveis
pela grande motivação, talvez a principal responsável pelos grandes progn ;;sos e melhorias. A prática de Equoterapia,
aplicada em casos de lesões neuro motoras (cerebral e medular), distúrbios . volutivos e/ou comportamentais, deficiências
sensoriais (áudio-fono-visual) e patologias ortopédicas (congênitas ou acident< s), pode melhorar o tônus muscular, diminuir
a espasticidade, estimular o equilíbrio e coordenação, controle de cabeça e tronco, melhorar a postura e simetria, inibir
reflexos posturais tônicos, proporcionar um relaxamento e levar a um sentimer o de liberdade/independência, auto-controle e
socialização. O cavalo de uma forma geral conduz o indivíduo a uma mudan :a psíquica e corporal, produzindo resultados
sempre positivos na habilitação e reabilitação bio-psico-social.
46
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.06
AQUISIÇÃO DA DEAMBULAÇÃO NO PORTADOR DE MIELOMENINGOCELE LOMBOSSACRAL: RELATO
DE CASO
CORRÊA, STELLA MARIS PEREIRA; LAMARI, NEUSELI MAR/NO
Setor de Fisioterapia - Hospital de Base - SJRP
A mielomeningocele é definida como falta de fechamento do canal vertebral, em virtude de um defeito no
desenvolvimento das vértebras que se combina com a presença de um saco formado pela pele, pelas meninges ou a própria
medula espinal sobrepondo-se a falha da coluna vertebral. A utilização da fisioterapia precoce tem como objetivo evitar
deformidade e proporcionar todas as etapas do desenvolvimento neuropsicomotor até a deambulação. Relata-se um caso sexo
feminino, 2 meses de idade, portador de mielomeningocele lombossacral, com perda significativa da motricidade e
sensibilidade no nível e abaixo da lesão. A conduta utilizada foi a estimulação precoce do desenvolvimento neuropsicomotor
e cinesioterapia passiva, ativo assistida e contra resistida conforme a evolução motora. Utilizou-se órteses nos membros
inferiores desde o início do tratamento. O seguimento foi de 24 meses. Todas as etapas do desenvolvimento foram obtidas
próximas ao normal e sem deformidades articulares, apenas com "atraso" no equilíbrio estático e na marcha que se
concretizaram aos 24 meses, restando pequenos padrões posturais nos pés, o que necessitou da manipulação de tutor curto
para perfeita estabilização. A precocidade da fisioterapia, a persistência do terapeuta e a credibilidade dos familiares foram
relevantes.
Poster 02.07
CONDICIONAMENTO CARDIORRESPIRA TÓRIO EM INDIVÍDUOS COM LESÃO MEDULAR: UMA
REVISÃO LITERÁRIA COM ÊNFASE NO TREINAMENTO ATRAVÉS DA ELETROESTIMULAÇÃO
FUNCIONAL
FIGUEIREDO E. M.; JULIANA FERREIRA DE MAGALHÃES;LUCIANA MORENO MARQUES
Universidade Federal de Minas Gerais I Departamento de Fisioterapia
Após a lesão medular, ocorrem súbitas e drásticas mudanças no estilo de vida do indivíduo,que levam à perda de
saúde, da aptidão física e aumento do risco de doenças cardirrespiratórias secundárias. De acordo com o nível da lesão
medular, pode haver perda do controle suprasegmentar sobre o sistema nervoso simpático que, associado à limitada massa
muscular disponível para a atividade, é responsável por um baixo condicionamento cardiorrespiratório e por respostas
alteradas ao exercício físico. Esse quadro reduz a capacidade funcional do indivíduo, favorecendo desajustes psicológicos e
sociais. Entretanto, lesados medulares podem se adaptar à insuficiência cardiovascular e o exercício físico pode trazer
benefícios fundamentais, reduzindo os riscos de complicações secundárias à inatividade. O objetivo deste trabalho é levantar
fundamentações científicas para o treinamento cardiorrespiratório destes pacientes, sensibilizando os profissionais de
reabilitação para a importância de se oferecer técnicas efetivas de condicionamento a esta população. Dentro deste contexto
será enfatizado o uso da eletroestimulação funcional (FES) por se tratar de modalidade emergente em nosso meio e de alta
tecnologia. Para lesados medulares a avaliação cardiorrespiratória envolve testes de aptidão física, de força muscular e
antropométricos, específicos para cada modalidade de treinamento. A prescrição dos exercícios deve incluir parâmentros de
intensidade, duração, frequencia e protocolos e equipaqmentos apropriados. Para o treinamento cardiorrespiratório de lesados
medulares, três modalidades de exercícios têm sido propostas: exercícios ativos com os membros superiores, exercícios com
os membros inferiores utilizando FES e exercício híbrido que combina as duas modalidades anteriores. Para os exercícios
voluntários com os membros superiores, podem ser utilizados o ergômetro de membros superiores, o ergômetro de cadeira de
rodas, a cadeira de rodas e a marcha de balanço completo. Esta forma de exercício pode melhorar a capacidade de locomoção
e a aptidão física do indivíduo, mas a literatura aponta algumas limitações para esta forma de treinamento, principalmente no
que diz respeito a sua baixa capacidade de estressar o sistema cardiorespiratório devido a pequena quantidade de massa
muscular envolvida. A aplicação da FES com o objetivo de treinamento cardiorrespiratório de lesados medulares consiste em
três modalidades de exercício: treinamento de quadríceps, FES-bicicleta ergométrica estacionária (FES-BE) e FES-órtese
para deambulação. O treinamento de quadríceps parece não ser efetivo para estressar os sistemas respiratório e
cardiovascular, no entanto são imprescindíveis na preparação para o treinamento com a FES-BE. As respostas fisiológicas
encontradas através do treinamento com FES-BE indicam que esta forma de exercício pode permitir que uma grande
quantidade de massa muscular seja incorporada ao treinamento, favorecendo maiores efeitos hemodinâmicos centrais que os
exercícios com membros superiores, determinando portanto, maior eficiência para condicionar fisicamente indivíduos com
lesão medular. Esses efeitos favorecem uma boa relação custo-benefício para tal modalidade de treinamento. No entanto é
necessário esclarecer se o treinamento com a FES-BE poderia favorecer destrezas funcionais como a locomoção e as
atividades de vida diária.
A FES-Órtese tem sido usada principalmente com objetivos funcionais. São necessárias mais pesquisas para
efeito sobre as variáveis cardiopulmonares.
seu
verificar
Devido às altas respostas fisiológicas atingidas por quadriplégicos num programa de exercícios híbridos, esta
modalidade pode ser uma alternativa eficaz para o condicionamento destes indivíduos.
Esta revisão mostra que é possível e efetivo promover maior independêcia e consequente qualidade de vida para
indivíduos com lesão medular, através do condicionamento cardiorrespiratório.
47
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.08
"MÉTODO McKENZIE VERSUS TRATAMENTO CONVENCIONAL PARA PROBLEMAS DA COLUNA
VERTEBRAL".
HARA GARCIA N., P.S., MASSELLI M.R.- DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE.
O tratamento da lombalgia continua tão controvertido hoje como era há cinquenta anos atrás. Ao longo dos anos tem
ido utilizada uma ampla variedade de tratamentos, tais como calor ou frio, repouso ou exercício, flexão ou extensão,
mobilização ou imobilização, manipulação ou tração. Quase todas as drogas foram prescritas, mesmo quando o distúrbio era
de causa puramente mecânica. Surpreendentemente, a maioria dos pacientes se recuperavam, muito frequentemente apesar do
tratamento mais do que por causa dele. O diagnóstico e a terapia mecânica da coluna vertebral de McKenzie é baseado nos
mecanismos de produção da dor, considerando que a grande maioria dos distúrbios é de origem mecânica e então pode ser
tratada de maneira mecânica. No tratamento Convencional de lombalgia e cervicalgia utiliza-se de técnicas associadas como:
eletro e termoterapia, mecano e cinesioterapia. Porém o número de pessoas acometidas continua crescendo, significando que
este tratamento é pouco eficaz. Por outro lado, no método McKenzie a responsabilidade do tratamento é principalmente do
paciente e por isso, pode ser mais eficaz a longo prazo do que qualquer outra forma de tratamento. O objetivo do nosso
trabalho foi comparar a eficácia terapêutica do método McKenzie com o tratamento Convencional. Os pacientes portadores
de lombalgia e/ou cervicalgia admitidos noAmbulatório de Fisioterapia da F.C.T. foram aleatoriamente encaminhados para
tratamento ou pelo método McKenzie ou Convencional. Decorridos 10 meses (em média) do final do tratamento, os pacientes
foram entrevistados através de um questionário que abordou basicamente se houve recidiva da dor neste período. Observouse, em dez pacientes (de cada método) entrevistados até o momento, que em cinco deles houve recidiva da dor. No entanto,
enquanto os pacientes tratados pelo convencional buscaram alívio em medicamentos analgésicos e repouso, os pacientes
tratados pelo método McKenzie resolveram o problema retomando o programa de exercícios realizados durante o tratamento.
Poster 02.09
IDENTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS MOTORES AQUÁTICOS PRIMORDIAIS PARA ADAPTAÇÃO
DO LESADO MEDULAR NA ÁGUA.
ISRAEL, VL. (DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIAIPUC-PR, PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO ESPECIAUUFSCAR/SP, BRASIL); PARDO,M.B.L. (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA, PPGEES/UFSCAR/SP).
A reabilitação motora do lesado medular evoluiu basicamente seguindo três modelos de paradigmas: o primeiro
baseado no modelo de reeducação muscular, o segundo nos anos 50 tendo a facilitação neuroterapêutica como fundamento, e
o terceiro modelo com ênfase em funcionalidade a partir dos anos 80. Desta forma a Fisioterapia atualmente procura
desenvolver os recursos terapêuticos aproveitando as qualidades de cada modelo. A Hidroterapia como meio auxiliar da
reabilitação neurológica procura facilitar a aquisição prévia de habilidades motoras do lesado medular na água. Este estudo
identificou os comportamentos motores básicos que são essenciais para o lesado medular desenvolver seu potencial motor no
meio líquido. A identificação dos comportamentos motores aquáticos foi baseada na análise da prática profissional de uina
fisioterapeuta durante 14 anos atendendo pacientes de lesão medular (paraplégicos e tetraplégicos) em uma piscina térmica,
na cidade de Curitiba/Paraná. A piscina térmica tem como características: 5x6m, profundidade de lm, 32 a 34 graus
Celsius.Os principais resultados foram: identificação de 26 comportamentos motores que abrangem desde a entrada na
piscina até formas de locomoção no meio aquático. Estes comportamentos motores aquáticos são utilizados para ampliar a
eficiência do tratamento hidroterápico desenvolvido por fisioterapeutas.Os comportamentos foram categorizados pelas
iniciais "C" e com os números de 1 a 26. As categorias comportamentais podem ser exemplificadas: Cl=entra na piscina;
C2= coloca o rosto na água; Cl5= rola livremente na água; C23= nada costas adaptado. Conclui-se que as categorias
comportamentais identificadas neste estudo possibilitam acompanhar um procedimento de ensino desenvolvido com os
lesados medulares e desenvolver habilidades motoras aquáticas essenciais para a neuroterapia através da Hidroterapia.
Poster 02.10
A MEDIDA DAS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA EM INDIVÍDUOS HEMIPARÉTICOS EM UM PROGRAMA
DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA
MAGALHÃES A. T., COIMBRA L.C.M., CHAGAS E.F.
Derrames, acidentes vasculares cerebrais_ (AV C), apoplexia e choque são termos genéricos para descrever uma
repentina deterioração da função cerebral devido a um comprometimento vascular. Vários fatores podem desencadear um
AVC, inclusive a diabetes mellitus, doenças cardíacas e hipertensão, podendo o AVC ter como conseqüências: hemiparesia
ou hemiplegia; alterações de tônus; reações associadas; perturbações sensoriais; perda de movimento seletivo; perda das
reações de equilíbrio; dificuldade de comunicação e comprometimento mental e intelectual. Todo este quadro pode afetar, em
maior ou menor grau, as atividades funcionais do hemiplégico. A reabilitação pode melhorar a habilidade funcional em
pacientes com déficit neurológicos e funcionais após AVC, com o intuito de que o paciente desenvolva uma condição de
independência em casa e na comunidade. As escalas de Atividade de Vida Diária (A VD) proporcionam uma visão desta
condição e detecta incapacidades, estabelecem prioridades e mensuram, de forma clara e objetiva, os resultados obtidos.
Neste trabalho ministramos um programa de atividades motoras adaptadas às características de um grupo de 7 hemiparéticos
48
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
no ginásio de esportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente. Foram realizadas 15 sessões,
2 vezes por semana, com pacientes com mais de seis meses de lesão e que já haviam passado pelo atendimento ambulatorial.
Os indivíduos foram avaliados antes e depois do programa, pelo Índice de Barthel ( 1-B) e pela escala de Atividade de Vida
Diária Instrumental (A VD-1). Os resultados estão sendo analisados e serão demonstrados através de leitura estatística, sendo
que os dados estão sendo comparados entre os resultados obtidos pelas escalas, de forma individual, no momento anterior e
posterior ao programa. Em uma análise parcial, comparando as escalas: AVD-1 e 1-B, aplicadas antes e depois do programa
de atividades motoras adaptadas foram verificadas melhoras significativas nos indivíduos hemiparéticos espásticos.
Poster 02.11
ESTUDO SOBRE O EQUILÍBRIO EM DIFERENTES POSTURAS ERETAS.
MOCHIZUKI, Ll.; ÁVILA, A.O. V.2; AMADIO, A.CI.
1 -Escola de Educação Física e Esporte USP; 2- Centro de Educação Física e Desportos, UDESC.
INTRODUÇÃO. O controle de uma postura é uma tarefa complexa que lida com um fenômeno em grande escala,
com variáveis não lineares e dependentes no tempo dentro de um sistema cujas respostas são redundantes e cujos movimentos
estão associados com a mudança de atividade de músculos do corpo humano. Neste estudo, buscamos avaliar o controle do
equilíbrio em 5 posturas diferentes para indivíduos descalços: ortostática, unipodal, tandem, apoio com os pés em 45° (PEQ)
e prancha facial. MA TERIA L E MÉTODOS. A amostra foi composta por 6 indivíduos do sexo feminino ( 11 ,3±2,3 anos de
idade, 34,1±17,3 kg de massa; 148,8±7,0 em de estatura) voluntárias participantes a pelo menos 2 anos em um programa de
treinamento de ginástica olímpica, sem nenhum histórico de deficiência no aparelho locomotor relacionado ao controle do
equilíbrio postura], com prévia autorização dos responsáveis e acompanhamento dos respectivos técnicos. Nas posturas
citadas, cada indivíduo manteve os membros superiores junto ao tronco e buscou minimizar as oscilações do corpo durante a
medição. O intervalo de medição foi de 100 s para as posturas de duplo apoio e de 35s as de um apoio. Foi utilizado o sistema
Peak Performance (software Motus 3.1) para a aquisição e controle do aparato experimental, o qual foi composto por 4
câmeras de vídeo, cada uma operando a 60 Hz sincronizadas com 2 plataformas baseadas em sensores de células de carga,
que também operaram a 60Hz. Os sinais da plataforma tiveram um ganho de 4000 e foi utilizado um conversor AD de 12
bits. Posteriormente estes sinais foram filtrados com um filtro Butterworth de 6° ordem, permitindo passar freqüências
menores que 10Hz. A variável analisada foi o deslocamento do centro de pressão (COP) na direção ântero-posterior (AP) e
médio-lateral (ML) para cada apoio, descritas a partir da sua oscilação máxima (OM), amplitude máxima (AM), amplitude
média (AMed) e seu desvio padrão (SD). Também foram aplicados 3 tipos de teste de equilíbrio cujos resultados serão
reportados em outro estudo. RESULTADOS E DISCUSSÃO. O grupo analisado pertence a um grupo de indivíduos que
realizam tarefas motoras específicas da ginástica olímpica, e desta forma, tem a necessidade de um controle postura! capaz de
manter o corpo estável em situações adversas como em mudanças no ambiente (posturas na trave e outros aparelhos), a
finalização de exercícios ou mesmo a manutenção de posturas estáticas. Desta forma, a pouca alteração da amplitude de
oscilação nas diversas posturas é um importante indicador dessa requerida habilidade postura!. O deslocamento do COP é um
importante indicador da oscilação do corpo (WINTER, 1995). Assim, é esperado que maiores deslocamentos do COP
indiquem maiores balanços do corpo durante a manutenção da estabilidade postura! e possam identificar diferenciações entre
as posturas estudadas. Quando comparamos os máximos deslocamentos OM dos resultados obtidos, no entanto, não ficaram
caracterizadas diferenças entre as diferentes posturas analisadas. Verificou-se que na situação de olhos abertos (OA), as
posturas (exceto a tandem) apresentaram AMed e SD menores do que nas posturas de olhos fechados (OF) (p<0,05). A maior
variabilidade de SD em OF é um indicador do aumento da instabilidade postura! quando tal informação sensorial é suprimida,
mesmo na amostra estudada, com já indicado em diversos estudos com indivíduos normais (MASSION, 1992). Ao avaliar
AM, nas posturas de duplo apoio tandem e PEQ, verificou-se que o apoio anterior apresentou os maiores valores da direção
AP (p<0,05), tanto para a OA quanto OF, enquanto que no apoio posterior os maiores valores foram em ML (p<0,05). Tal
diferenciação sugere diferentes papéis regulatórios para os apoios anterior e posterior na postura ereta. Os maiores valores de
AM para todas as posturas foram verificados na prancha facial tanto para OA ou OF. A estabilidade postura!, entre diferentes
fatores, depende da área da base de apoio. A partir da comparação do tamanho das bases de apoio de cada um das posturas
analisadas neste estudo, podemos propor uma sequência de posturas mais estáveis até as menos está'\eis, ou seja, PEQ,
ortostática, tandem, unipodal e prancha facial. Contudo, a postura que menos variações na posição do COP em OA foi na
postura ortostática. A estabilidade na postura ortostática advém do seu contínuo uso diário. Por outro lado, a PEQ apresentou
um aumento do deslocamento do COP de OA para a OF. Por ser uma postura menos usual que a ortostática para ser mantida
durante um intervalo de tempo e que apresenta o uso de diferentes estratégias posturais (WINTER, 1995) nos leva a inferir
que a estabilidade de uma postura depende de conjunto de propriedades físicas do sistema, sua interação com as informações
sensoriais disponíveis no momento e o nível de prática da postura.
49
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.12
AQUISIÇÃO DE MARCHA EM PACIENTE HEMIPARÉTI CO COM OSSIFICAÇÃO HETEROTÓPI CA
BILATERAL DE JOELHOS PÓS TRAUMATISM O CRÂNIO ENCEFÁLICO - RELATO DE CASO.
BARALDI- PASSY, I. ; BARALDI, K. F.; ANDRADE, P.H.
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - UNIMEP, PIRACICABA- SP.
Objetivo: Osteogênese metaplástica em tecidos moles é uma complicação que ocorre em paciente com agressões
neurológicas tais como lesões medulares, acidentes vasculares cerebrais, poliomielite e traumatismo craniano; sua causa é
desconhecida. A formação de osso ectópico se desenvolve em um período de semanas e sua localização é geralmente
adjacente às grandes articulações tais como o quadril, joelho, ombro e cotovelo. A formação óssea heterotópica é sempre
extra-articular e extra-capsular. Pode ocorrer em tendões, no tecido conjutivo intermuscular, no tecido das aponeuroses, ou
nos aspectos periféricos dos músculos. Aproximadamente 20% dos pacientes com formação de osso ectópico progride para
anquilose articular. O manejo de formação de osso ectópico enfoca a terapia com medicamentos, amplitude de movimento
(ADM) passiva e ativa, e, como último recurso, cirurgia. Tem havido controvérsia considerável quanto a saber se a
mobilização passiva e ativa na ADM contribui ou ajuda a impedir a formação de osso ectópico. Diante de tais controvérsias e
conhecendo os efeitos terapêuticos e fisiológicos do ultra-som (US) fisioterápico e do gelo, tivemos como objetivo neste
trabalho, verificar a eficácia do uso desses recursos terapêuticos e da mobilização passiva e ativa no aumento da ADM em 1
caso com ossificação heterotópica bilateral de joelhos. Métodos e Resultados: O paciente J. F. M. , 20 anos, portador de
hemiparesia espástica à E, devido traumatismo crânio encefálico (TCE), apresentou como complicação do seu quadro,
formação de osso ectópico nos joelhos De E , o que resultou em grande limitação na ADM destas articulações, levando-o a
assumir padrão de semi-flexão dos joelhos, que no início do tratamento mantinha - 45o de extensão para o joelho D e -40° de
extensão para o joelho E e apresentava dor à mobilização passiva. Foi adotada a conduta de utilização do US contínuo (
0,7W/cm3 ) por 5 minutos em cada joelho, 3 vezes por semana em dias alternados; gelo por 20 minutos, 2 vezes por semana,
nos dias em que não se utilizava o US; alongamento da musculatura flexora dos joelhos com a técnica de máxima
contração/máximo relaxamento. Seis meses após, a ADM para extensão do joelho D era de -40° e para o joelho E era de 28°. Um ano após o início do tratamento a ADM para extensão de ambos joelhos era de -20°. E com vinte meses de
tratamento a ADM para extensão do joelho Dera -6° e para o joelho E era -4°.0 que já permitia extensão dos joelhos para
ortostatismo e marcha, neste mesmo período o paciente foi submetido a aplicação de toxina botulínica na musculatura da
panturrilha E e iniciou treino de marcha. O controle radiológico durante o período de tratamento, não demonstrou aumento
na formação de osso ectópico. Conclusão: Os resultados obtidos neste caso sugerem que o uso do US, gelo e alongamento da
musculatura adjacente à ossificação heterotópica pode ser uma medida terapêutica eficaz para ganho da ADM e consequente
ganho funcional em pacientes que apresentam tal complicação.
Poster 02.13
CONSIDERAÇ ÕES ACERCA DO PROGNÓSTIC O MOTOR NO TRAUMATISM O CRANIO-ENC EFÁLICO:
RELATO DE CASO
WOLFFE.].
HOSPITAL DO APARELHO LOCOMOTOR-SALVADOR.
O traumatismo cranio-encefálico (TCE) é a causa mais comum de deficiência adquirida na infância. Vários estudos
procuraram avaliar não só a evolução dos pacientes após o traumatismo, mas também identificar fatores que poderiam
auxiliar na determinação de um prognóstico. Elementos como a natureza da lesão cerebral, presença de complicações clínicas
associadas, gravidade do trauma (tempo de permanência em coma) são citados como aspectos importantes no
estabelecimento do prognóstico. Algumas pesquisas também apontam que as melhoras mais expressivas são observadas
dentro do período de 6 meses a 1 ano. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de F.C., 10 anos, vítima de
traumatismo cranio-encefálico por atropelamento em 29/09/95. A criança permaneceu 20 dias em estado de coma e não fez
qualquer tratamento fisioterápico após a alta hospitalar. Foi admitida no programa de reabilitação do Hospital Sarah do
Aparelho Locomotor-Salvador por equipe interdisciplinar (pediatra, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeira e professora
hospitalar) 11 meses após a lesão. À admissão, a criança apresentava comprometimento nos quatro membros com presença de
espasticidade e ataxia, tinha equilíbrio cervical precário, realizava preensão voluntária precária à esquerda e era totalmente
dependente para as atividades de vida diária (AVD's). Após 1 ano e 9 meses de acompanhamento, observava-se espasticidade
no dimídio esquerdo e ataxia global. A paciente apresentou uma melhora significativa em relação ao quadro motor. Realizava
marcha domiciliar com auxílio de andador, tinha boa preensão voluntária à esquerda e, apesar de permanecer dependente para
as AVD's. A evolução apresentada pela paciente superou o prognóstico inicial, estabelecido a partir de critérios referidos na
literatura como, por exemplo, o período de permanência em coma e o tempo decorrido após a lesão além do grau de
comprometimento motor. Assim, estudos de caso desta natureza são importantes na medida em que relatam experiências,
propiciam a revisão teórica do assunto e fomentam a realização de novas pesquisas sobre o tema.
50
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.14
EXPERIÊNCIA DE REABILITAÇÃO PLENA DE UMA SEQUELA GRAVE DE QUEIMADURA ELÉTRICA EM
MEMBROS SUPERIORES: RELATO DE CASO
ANDREIA GUSHIKEM, FISIOTERAPEUTA
Trabalho desenvolvido no Hospital do Aparelho Locomotor SARAR- Brasília, setor de reabilitação Ortopedia Adulto
Este relato de caso descreve as etapas do processo de reabilitação de um adulto jovem de 25 anos, destro, procedente
do Distrito Federal, vítima de queimadura elétrica grave em membros superiores, 3600 Volts, enquanto arrumava uma antena
de televisão. Serão descritos os procedimentos cirúrgicos e fisioterápicos realizados em três anos de acompanhamento. Este
paciente foi encaminhado ao Hospital do Aparelho Locomotor Sarah de Brasília, aos cuidados da equipe de cirurgia plástica,
após alta da unidade de queimados de um hospital local, onde foi submetido a três cirurgias para debridamento e
descompressão dos membros superiores. Seu exame inicial mostrava extenso acometimento do terço distai dos membros
superiores: lesão de pele, tecido subcutâneo e todos os tendões e nervos bilateralmente, exposição da articulação do punho
direito e ausência dos terceiro, quarto e quinto quirodáctilos a esquerda. Após discussão de caso a equipe decidiu pela
amputação do terço médio do antebraço esquerdo e pelo salvamento do antebraço direito, propondo realizar primeiramente a
fixação do punho e posteriormente as enxertias nervosas e tendinosas a direita. Em um período de dez meses, três tempos
cirúrgicos foram realizados: amputação do terço médio do antebraço esquerdo, artrodese de punho a direita e cobertura do
punho direito com retalho ulnar retrógrado e enxerto de pele total; enxerto de nervo sural para os nervos mediano e ulnar e
colocação de espassadores de tendão para os flexores a direita; capsulotomia das metacarpofalangeanas do polegar, quarto e
quinto quirodáctilos a direita. O acompanhamento fisioterápico foi iniciado após o primeiro tempo cirúrgico e vem sendo
mantido durante os três anos do processo de reabilitação. As metas do tratamento foram estabelecidas e modificadas de
acordo com os tempos cirúrgicos, a evolução do quadro clínico e as expectativas do paciente. Inicialmente o programa de
tratamento objetivava a manutenção e melhora das amplitudes de movimento e força muscular residual, além da preparação
do coto de amputação para protetização. Posteriormente objetivou o treino funcional com prótese de gancho a esquerda e o
de escrita com um clip palmar simples a direita. Clinicamente o paciente evoluiu com recuperação dos movimentos de
abdução e extensão do polegar e alguma recuperação sensitiva em mão direita. Funcionalmente tornou-se parcialmente
independente com o gancho a esquerda, com dificuldade para a realização de algumas atividades bimanuais. Uma nova
discussão de caso foi realizada dois anos após o início do tratamento, e a equipe contra-indicou a enxertia tendinosa, pois
seria muito difícil equilibrar as funções extensora e flexora em mão direita. Foi então decidido pela confecção de uma órtese
para preensão a direita, que atualmente está em fase de teste e aperfeiçoamento. No início do processo de reabilitação o
paciente encontrava-se totalmente dependente para realizar as suas atividade de vida diária. Após os procedimentos cirúrgicos
e de reabilitação, o paciente tornou-se independente e atualmente está trabalhando. O objetivo estabelecido inicialmente de
recuperação funcional foi alcançado. Este caso foi escolhido para apresentação devido à sua complexidade, pois apesar da
decisão de não amputar o membro superior direito implicar em um maior número de procedimentos cirúrgicos e
acompanhamento fisioterápico prolongado, os resultados atingidos foram favoráveis com relação a ganhos funcionais. A
integração da equipe multidisciplinar e a participação do paciente no processo de reabilitação foram de fundamental
importância para a obtenção destes resultados.
Futuramente este paciente será o piloto para o teste de uma prótese mioelétrica.
Poster 02.15
DISTROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA: ADAPTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS
MAESTRELLI, B;PALHARES, Z. A.
Setor de Reabilitação Infantil - Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Brasília - DF.
As distrofias musculares são doenças geneticamente determinadas, que se caracterizam por perda progressiva da
força muscular, contraturas articulares e deterioração da função respiratória. Apesar dos esforços durante o tratamento,
através do uso de órteses e exercícios, a instalação das deformidades é inevitável. Observamos que na prática, após a criança
perder a marcha, as deformidades de coluna se acentuam de maneira importante, restringindo a participação da mesma nas
atividades sociais e escolares. Diante destes aspectos, há uma crescente preocupação no que diz respeito às adaptações em
cadeira de rodas, as quais têm proporcionado uma distribuição mais homogênea do peso do tronco sobre a pelve, com
conseqüente melhora do equilíbrio. O objetivo deste trabalho é mostrar nossa experiência quanto as adaptações que estão
sendo mais utilizadas em nosso serviço, para adequar o posicionamento da criança com distrofia muscular em cadeira de
rodas, promovendo uma melhora significativa na qualidade de vida.
Poster 02.16
COMUNICAÇÃO VERBAL EM VENTILAÇÃO MECÂNICA-VÁLVULA UNIDIRECIONAL COMO
DISPOSITIVO.
CELINA GARGIULO DE SOUZA.
HOSPITAL DO APARELHO LOCOMOTOR- SARAR-BRASÍLIA
Lesão medular é definida como trauma ou doença que altera a função medular produzindo, como conseqüencia,
além de déficits sensitivos e motores, alterações viscerais, sexuais e tróficas Com lesão cervical completa acima de C4 há
falência de musculatura de abdominais, intercostais e do diafragma , sendo nesse caso necessário o uso da ventilação
mecânica. P.I.S. , 22 anos de idade, solteira, natural e procedente de São Paulo-SP, ex-funcionária de empresa de transporte
51
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
aéreo. Sofreu traumatismo raqui-medular por projétil de arma de fogo em 13/09/97, com nível sensitivo-motor C2
bilateralmente e ASIA"A"(ausência de sensibilidade e motricidade abaixo do nível da lesão, incluindo segmentos sacrais ). É
dependente de ventilação mecânica desde a data do acidente , em modalidade controlada. Foi tferida de São Paulo para o
Hospital Sarah-Brasília em 10/12/97, proveniente de uma UTI. Permaneceu no setor de alto risco, que é uma unidade
semelhante a uma UTI, desde a data da internação até 11/02/98, devido a algumas complicações: drenagem torácica por
derrame pleural, investigação de febre contínua e adaptação em ventilador Life Care. Recebeu alta desse setor para a
enfermaria, iniciando o programa de reabilitação que consistiria basicamente de treinamento familiar. Devido ao nível de
comprometimento neurológico a paciente é dependente para todas as atividades de vida diária, transferências e locomoção,
permanecendo sentada em cadeira de rodas com apoio cefálico.Propomos o treino com adaptação cefálica para teclado e
passador de folhas de livro , pintura com a boca , mas a paciente se recusou, relatando sentir-se diminuída com isso.
Comunicava-se por leitura labial, mas tinha como grande expectativa a possibilidade de voltar a falar . Frente ao seu desejo,
iniciamos com a alternativa de colocar a "Vocalaide'', uma traqueostomia com dispositivo acima do cuff que permite, ao ser
acoplada ao cilindro de ar comprimido , que o ar entre em contato com cordas vocais , lábios e nariz , permitindo então a voz.
A comunicação foi satisfatória , porém a técnica é pouco funcional , necessitando de terceiros para conectá-la ao cilindro. A
próxima alternativa foi o uso de uma válvula unidirecional acoplada ao circuito do ventilador, seguindo os princípios de
Passy-Muir, que permite a entrada do ar aos pulmões na fase inspiratória e redirecione quando exalado para as cordas vocais
, lábios e nariz ,possibilitando a comunicação em todo ciclo respiratório. A técnica requer o cuff desinsuflado , aumento em
média de 50% do volume corrente e ajuste dos demais parâmetros do ventilador : como frequencia respiratória e fluxo de ar
permitindo que a relação i:e seja fisiológica e a pressão inspiratória não seja elevada. Iniciou-se o treinamento e durante o
mesmo a paciente foi monitorada com oximetria de pulso e verificação dos gases sangüíneos. Não houve queda de saturação
de 02 , a gasometria permaneceu em níveis normais e sem alterações clínicas ou hemodinâmicas. Um outro dado importante
de salientar é que diminuiu muito a frequencia de sucções tráqueo-brônquicas, anteriormente com média de duas vezes ao
dia e atualmente apenas uma vez a cada dez dias, devido ao carreamento da secreção pulmonar para vias aéreas superiores
possibilitando a eliminação oral. Na primeira semana, a válvula permaneceu somente no período diurno e a partir da segunda
semana o uso foi por período integral e a paciente manteve-se estável. Há mais de um mês, P.I.S. está comunicando-se
verbalmente, sem alterações clínicas ou hemodinâmicas, com parâmetros gasométricos normais. Observa-se interação muito
maior da paciente com a equipe , familiares e outros pacientes. Aceitou a adaptação cefálica para telefone Ela relata ter muito
mais alegria em viver, "que a melhora foi de 70%" e nota-se também uma postura mais ativa em relação aos seus cuidados e
a sua vida de uma maneira geral.
Poster 02.17
A UTILIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PERFORMANCE (FEEDBACK VISUAL EM INDIVIDUOS COM
PARALISIA CEREBRAL) VISANDO A CORREÇÃO DA MARCHA CRUZADA
CLAUDIO OLAVO DE ALMEIDA CORDOVA, PROF. (BRASÍLIA) ,PROF. LUIZ CEZAR DOS SANTOS (UNBBRASÍLIA)
Trata-se de um estudo piloto de um encefalopata do sexo masculino com cognitivo preservado. Utilizando-se a àgua
como meio facilitador e dispondo de um circuito de TV em posição estratégica, foram administradas diferentes abordagens
metodologicas com o objetivo de analisar a influência do conhecimento de resultados na realização da marcha. Foi bastante
evidente a redução de padrões cruzados, quando o indivíduo contava com feedbacks visuais frequentes. A análise qualitativa
mostrou que a utilização de feedback visual durante a realização do movimento contribuiu significativamente para o controle
dos movimentos.
Poster 02.18
O EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO COMO TERAPÊUTICA NÃO FARMACOLÓGICA DA HIPERTENSÃO
ARTERIAL
I SILVA, E.; 1 CATAI, A. M.; 2 FERREIRA FILHO, P.; 3 GALLO JÚNIOR, L.
!.Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular, Depto. de Fisioterapia, UFSCar, São Carlos, SP. Brasil; 2 Departamento de
Estatística, UFSCar; 3 Divisão de Cardiologia, Depto. de Clínica Méd. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, SP,
Brasil.
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica é um dos problemas crônicos mais comuns de saúde publica e um
dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. O exercício físico têm sido utilizado na terapêutica da
hipertensão arterial isoladamente ou em associação a terapêutica medicamentosa. OBJETIVO: No presente estudo
objetivou-se verificar o efeito do treinamento físico aeróbio sobre a pressão arterial de 16 indivíduos hipertensos de grau leve,
sendo 10 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com idade média (em anos) de 55 ± 12 e 44 ± 7 respectivamente, nas
condições de repouso antes e após cada sessão de treinamento, bem como, após o período de 16 semanas de treinamento.
MATERIAL E MÉTODOS: Os voluntários foram submetidos a testes de esforço físico dinâmico do tipo degrau contínuo
em bicicleta ergométrica de frenagem eletromagnética (Quinton Corival 400), com variação de potência de 25 em 25 watts
até que se atingisse a exaustão física e/ou apresentasse sinais ou sintomas de intolerância ao esforço, nas condições antes
(AT) e após (PT) o período de tratamento com exercício físico dinâmico. A intensidade do treinamento físico aeróbio foi
prescrita entre 70 a 85% da freqüência cardíaca máxima atingida no teste ergométrico. Cada sessão tinha uma duração de 60
minutos, 3 vezes por semana, ao longo de 16 semanas. O programa de treinamento aeróbio foi elaborado de forma a utilizar
52
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
grandes grupos musculares (caminhada, trote, exerciCIOS dinâmicos livres e localizados e em bicicleta ergométrica).
RESULTADOS: a) reduções significativas da pressão arterial sistólica após cada sessão de treinamento para os indivíduos
do sexo masculino na maioria das semanas. Já a pressão arterial diastólica apresentou reduções significativas em três semanas
(p < 0,05); e para os do sexo feminino houve redução significativa da sistólica e da diastólica somente em uma das semanas
(11" semana); b) após o período de treinamento, em relação a antes ocorreram reduções significativas (p < 0,05) da pressão
arterial sistólica para os indivíduos de ambos os sexos e da diastólica para os indivíduos do sexo masculino. CONCLUSÃO:
Estes resultados sugerem que o protocolo de treinamento físico utilizado neste estudo induziu alterações na pressão arterial
sistêmica.
Apoio Financeiro: CNPq. Proc. No. 520.686/95-0.
Poster 02.19
TREINAMENTO DA MUSCULATURA VENTILA TÓRIA NA TERCEIRA IDADE
MACAGNAN, F. E.; PIENIZ, M. G.; MATTE, D. L.
Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ
Este estudo teve por finalidade verificar se um programa fisioterápico com aparelhos com carga inspiratória e
expiratória aumentam a força muscular ventilatória e, se este programa de treinamento modifica dados espirométricos em
idosos. Nesta pesquisa foram utilizados dois grupos: um grupo controle e outro experimental, compostos por mulheres, com
idade entre 55 e 73 anos e com 07 indivíduos em cada grupo. Sendo que os dois grupos foram, inicialmente, submetidos a
uma pré-avaliação com o manovacuômetro para avaliar a Pi Máx. e Pe Máx. e com o espirômetro para avaliar a CVF e VEFl.
Porém somente um dos grupos (experimental) foi submetido a um programa fisioterápico de treinamento muscular
ventilatório de 20 sessões, com intensidade e duração de treinamento progressivos, porém com carga fixa de 30% da Pi Máx.
e 30% da Pe Máx. para ambos os aparelhos utilizados; os quais foram o Threshold para fortalecimento dos músculos
inspiratórios e o Retardo Expiratório, com uma resistência expiratória dada por uma coluna d'água, para fortalecimento dos
músculos expiratórios. Após o programa de treinamento, os grupos, tanto o experimental como o controle, foram submetidos
a uma pós-avaliação, a fim de verificar possíveis mudanças. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e teste
"t'' de student para grupos dependentes ao nível de p 0,05 e 0,01. Os resultados para as variáveis CVF e VEFl foram
estatisticamente insignificantes. Porém para a variável Pi Máx. e Pe Máx. demonstraram diferença estatisticamente
significativa. Enfim, após avaliar e aplicar um programa fisioterápico de fortalecimento da musculatura ventilatória chegouse a conclusão que o programa fisioterápico de treinamento da musculatura ventilatória de idosos, com o uso do threshold e
do retardo expiratório dado por uma coluna d'água aumentam significativamente a força muscular ventilatória quando esta for
avaliada através da Pi Máx e da Pe Máx. Porém este programa não proporcionou alterações significativas em relação aos
dados esprirométricos como a CVF e o VEFl.
Poster 02.20
ELETRO ESTIMULAÇÃO FUNCIONAL EM HEMIPLEGIA
JULIANA MENDES YULE VICENTE
A pesquisa procurou identificar os aspectos e viabilizar a associação da terapia convencional com a eletro
estimulação funcional -FES. Avaliados pacientes hemiplégicos es'pásticos, com alteração sensitiva-motora, coordenação
manual, submetidos ao protocolo proposto, sendo este dividido em duas etapas de tratmento, 15 minutos de letero
estimulação funcional- FES e os 15 minutos finais de terapia com bases nas técnicas Bobath. Os pacientes submetidos foram
avaliados através das sensibilidades superficial, profunda, movimentação ativa e passiva no membro acometido (punho e
dedos)e tônus muscular (método Centro Cleveland e eletrodignóstico). Os resultados indicaram que mesmo em uma
apliacação restrita e de pouco tempo a terapia com FES mostrou que os pacientes obtiveram melhora da movimentação ativa,
passiva e dolorosa às mobilizações passivas, melhora na sensibilidade superficial e/ou profunda, com melhora na auto-estima,
mas permaneceram com heperreflexia. Conclui-se que a associação da estimulação elétrica funcional - FES às técnicas
convencionais de terapia manual são um meio efiocaz de melhorar a função motora de pacientes hemiplégicos com
movimentação voluncária parcialmente preservada.
Poster 02.21
R.P.G. E OSTEOPATIA: APLICAÇÃO NAS SÍNDROMES DO IMPACTO DO OMBRO
MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS - UNAERP
Este trabalho se propôs a avaliar os resultados da aplicação da técnica de R.P.G. assim como da osteopatia
combinada ao R.P.G. em pacientes apresentando síndrome do impacto do ombro. O trabalho foi realizado em pacientes
encaminhados à clínica de fisioterapia da Unaerp, comdiagnóstico médico de síndrome do impacto do ombro, sendo 6
homens e 8 mulheres, com idades variando de 32 a 68 anos, obtendo uma média de aproximadamente 51 anos. Segundo
avaliação do projeto, todos os pacientes já haviam realizado algum tipo de tratamento, e apresentaram, segundo classifição de
Neer, sindrome de impacto nos estágios 2 ou },representando tendinite, espessamento da bolsa e fibrose ou rompimento
parcial do tendão, respectivamente. Os pacientes foram atendidos com o seguinte critério: !)Pacientes diagnosticados com
síndrome do impacto do ombro. 2) Realização de 10 sessões no máximo, ou até o desaparecimento dos sintomas, quando
antes das 10 sessões. 3) Ao término das 10 sessões, mesmo não referindo melhora, o paciente recebeu alta. Antes do início
do tratamento e ao término do mesmo, os pacientes responderam um questionamento com respeito a sensação dolorosa, este
53
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
contendo 6 níveis para a dor. Foram também tomadas as medidas de amplitude de movimento ao início e ao término da
tratamento e para teste estatísco foi adotada a medida de elevação do ombro. Os 14 pacientes foram divididos em 2 grupos, o
primeiro grupo, com 8 pacientes, recebeu tratamento com a técnica de R.P.G. e o segundo grupo, com 6 pacientes, recebeu o
tratamento com R.P.G. e Osteopatia. Os critérios de avaliação e tratamento foram os mesmos. Os grupos foram avaliados
separadamente pelo teste estatístico de Wilcoxon, comparando o questionamento e a A.D.M. inicial e o final, O resultado do
grupo 1, para a dor, foi p=0,027 e o do grupo 2 p=0,043, ambos apresentando diferenças significantes. Comparou-se também
os resultados do grupo 1 com os resultados do grupo 2, através do teste estatístico de Mann-Whitey, resultando p=0,79, não
houve diferença significante. No levantamento estatístico da amplitude de movimento os resultados foram similares. Os
resultados mostram, que com até 10 sessões de tratamento, realizado na síndrome do impacto do tipo 2 e 3, seja ele com
R.P.G. ou R.P.G. e osteopatia, houve melhora da dor e ganho de amplitude articular, entre o início e o diferença entre os
pacientes tratados somente com o método R.P.G. e os pacientes tratados com R.P.G. e Osteopatia.
Poster 02.22
A AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA DE PACIENTES CRÔNICOS ATRAVÉS DE UM TESTE DE
CAMINHADA DE SEIS MINUTOS
PLENTZ, R.D.M.; MOREIRA, P. R.; BARROS, E.; MATTE, D. L.; VALLE, P. H.; AGUIRRE, M.C..
Universidade de Cruz Alta, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
O objetivo desse trabalho foi determinar qual o teste de caminhada é mais adequado na avaliação de pacientes com
Insuficiência Renal Crônica, comparando o desempenho destes com pessoas normais em uma população brasileira. Trata-se
de um estudo transversal de uma população constituída de 51 pacientes portadores de insuficiência renal crônica, em
tratamento de hemodiálise, há pelo menos 90 dias, no período de março a junho de 1996, nas unidades renais do Hospital
Santa Lúcia de Cruz Alta, Hospital de Caridade de Santo Ângelo e Hospital Dom Bosco, Santa Rosa, RS. Os serviços são
associados com qualidade de tratamento similares. Os pacientes realizavam hemodiálise três vezes por semana, 4 horas cada
sessão, com banho de bicarbonato. A idade média foi de 37 ± 12 anos variando entre 18 e 61 anos, sendo 26 pacientes do
sexo feminino e 25 do sexo masculino. Um grupo de 51 indivíduos normais, pareados por sexo e idade, serviu como grupo
controle. O teste de caminhada foi feito durante 6 minutos e 12 minutos, numa pista, tipo circuito, delimitada em cada metro,
tendo 91 metros no seu total. Mediu-se a TA, FR e FC antes da caminhada e durante a caminhada a FC foi medida com um
cardiotacômetro de pulso. O paciente foi incentivado pelos avaliadores a caminhar o mais rápido possível. Ao final da
caminhada, o paciente avaliava o esforço realizado, a partir da escala de percepção do esforço de BORO. O teste
ergométrico realizado segundo a metodologia do American College of Sports Medicine e o Consenso Nacional de
Ergometria, sendo limitado por sintomas, em esteira rolante, com o protocolo deBruce modificado. Os pacientes, submetidos
ao teste de caminhada de 6 e 12 minutos, tiveram um desempenho, significativamente inferior do que os controle normais
(511±140 e 780 ±165, para o de 6 minutos, 1070± 268 e 1397 ± 165 para o de 12 minutos respectivamente). Os homens,
tanto pacientes como os controles, tiveram um desempenho estatísticamente superior as mulheres no teste de caminhada de 6
min . A diferença não foi significativamente maior para o teste de 12 minutos, em favor dos homens, tanto pacientes como
normais. No teste de caminhada de 12 minutos, os pacientes alcançaram uma distância média de 1070± 268 metros, superior
a descrita por McGavin e col 1976 e Butland e co! 1982 para pacientes bronquíticos crônicos que foram 891± 286 e 774±
229, respectivamente. Lipkin e col 1986, encontraram para pacientes com insuficiência cardíaca classe li (NYHA) valores
médios de 562 metros, com o teste de caminhada de 6 minutos, semelhantes aos resultados obtidos por nós e por Fitts e
Guthrie 1995 em urêmicos que foram 511 e 599 metros, respectivamente. O teste de caminhada de 6 min apresentou uma
alta correlação (r= 0.83; p < 0.001) com o teste de caminhada de 12 min, confirmando a observação de Butland e col. que
o teste de caminhada de 6 min é confiável e mais prático do que o original de 12 minutos. Além disto, em nossos pacientes, o
teste de caminhada de 6 min mostrou uma correlação muito boa (r = 0.71; p < 0.05) com o consumo de oxigênio (V02).
Enquanto a correlação para o teste de caminhada de 12 min com o V02 foi de r= 0.55. Guyatt e col 1985 encontraram uma
correlação r= 0.58 entre o teste de 6 minutos e o desempenho no teste cicloergométrico. Quando analisamos o desempenho
do grupo controle no teste de 12 minutos, percebemos que na segunda metade do teste, a distância percorrida foi em média
78% da primeira metade. Esta queda no desempenho parece ser devida a falta de motivação dos indivíduos menos do que ao
cansaço. Já os pacientes tiveram um desempenho na segunda metade do teste, superior a primeira. Como a correlação com o
V02 é melhor no teste de 6 minutos, concluímos que este é o mais adequado para a avaliação do desempenho aeróbico.
54
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.23
AVALIAÇÃO DO COMPO~ENTE RESISTIVO RESPIRA TÓRIO P~LA T~CNICA DE OSCILAÇÃO FORÇADA
EM PACIENTE TETRAPLEGICO, COM ESTENOSE DE TRAQUEIA POS TRAQUEOSTOMIA . RELATO DE
CASO.
MA TEUS, S.R., ARAUJO, L.M.L., HORAN, T.A., BERALDO, P.S.S.
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Rede SARAR de Hospitais do Aparelho Locomotor, Brasília/DF/Brasil
Trata-se do relato de uma situação clínica pouco freqüente, consistindo do paciente tetraplégico, que na fase inicial
do atendimento hospitalar sofre intervenções invasivas para assistência ventilatória, envolvendo traqueostomia e ventilação
mecânica com pressão positiva. Superada esta fase, em pleno processo de reabilitação, surge com queixas de dispnéia,
associado a cornagem. A broncoscopia confirma a estenose e iniciam-se seções de dilatação. No presente caso relata-se, de
inusitado, a utilização de um novo método de investigação pulmonar não invasivo, conhecido por técnica de oscilação
forçada (TOF), que contribuiu no diagnóstico preciso do distúrbio e seu acompanhamento. O paciente em pauta tem 16 anos,
masculino, vítima de lesão medular traumática incompleta nível C7 (ASIA B), por mergulho em águas rasas, com 2 meses de
evolução, por ocasião da admissão no SARAH/Brasília. Inicialmente foi atendido em outro hospital, onde, após uma semana,
foi intubado e no dia seguinte traqueostomizado, permanecendo sob assistência ventilatória mecânica por 15 dias. No total
ficou traqueostomizado por 30 dias. Chegando ao SARAH foi submetido a broncofibroscopia, considerando a história prévia,
não tendo sido detectadas anormalidades. Dois meses após, há 4 meses do acidente, o paciente iniciou com quadro de
dispnéia e cornagem. Nesta ocasião foi submetido a espirometria convencional e estudo pela TOF (oscilometria de impulso),
seguida de seção de broncoscopia rígida, com dilatação, já que fora constatada uma estenose de traquéia da ordem de 4 mm, 2
em abaixo da cicatriz da traqueostomia. Após esta seção o paciente foi submetido a mais três, apresentando melhora
progressiva. Em duas destas seções foi estudado antes e após com a TOF. Na comparação entre os exames, foi evidente a
melhora dos parâmetros de mecânica respiratória de desobstrução, notadamente da freqüência de ressonância (~% -70,5 e 61,1), da impedância total a 5 Hz (~% -68,4 e -9,5) e reactância a 5, 20 e 35 Hz, com ~% variando de 54,2 a 900,0.
Presentemente o paciente apresenta uma capacidade vital lenta de 2,4 litros (53% do predito), com vital forçada de 2,3 I,
FEV1 de 1,6 I (44,1% do predito) e um índice FEV1/CVF (x 100) de 68,9%. Recentemente a técnica de oscilação forçada
vem sendo cada vez mais utilizada na investigação pulmonar de crianças e grandes incapacitados, por tratar-se de método não
inv::>.sivo, dispensando a compreensão e colaboração ativa do paciente. Consiste na adaptação de um alto-falante ao
pneumotacógrafo, que emite impulsos nas freqüências de 5 a 35 Hz, durante a respiração espontânea. O comportamento da
variação do fluxo e pressão, nestas condições, e' estudado pelo método de análise espectral (Forrier), permitindo o cálculo da
impedância e reactância do sistema respiratório. Estamos utilizado o equipamento da Erich Jaeger de oscilometria de impulso
(lOS), com o paciente em posição semirecumbente, sem a utilização de colares cervical ou torácico, com clip nasal e
compressão manual dos bucinadores, em respiração espontânea, por 30 segundos, conforme recomendações da Commission
of European Communities (1994). Importante destacar que a espirometria convencional apresenta sérias limitações nestes
pacientes, considerando a importante restrição não parenquimatosa, invariavelmente presente, o que impossibilita a detecção
de processos obstrutivos, seja central ou periférico. Nestas condições frequentemente se indicam a realização de exames mais
sofisticados de imagem ou invasivos, no caso, a broncoscopia. Naturalmente, como toda nova técnica, impõem-se estudos de
validação, comparados com padrões bem definidos, além de estudos populacionais, estabelecendo perfis de normalidade.
Poster 02.24
ESTUDO DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA PELA TÉCNICA DE OSCILAÇÃO FORÇADA EM PACIENTES
TETRAPLÉGICOS TRAUMÁTICOS. RESULTADOS PRELIMINARES.
MATEUS, S.R., HORAN, T.A., BERALDO, P.S.S.
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor, Brasília/DF/Brasil
A lesão medular cervical, na dependência do nível, intensidade e duração, apresenta repercussões clínicas relevantes,
com óbvias implicações do ponto de vista de reabilitação, notadamente na esfera do aparelho respiratório. Neste sentido, é
notória a importante síndrome restritiva, não parenquimatosa, exibida por estes pacientes. No entanto, à espirometria
convencional, pelo comprometimento da musculatura expiratória, fica difícil avaliar a presença de um componente obstrutivo
associado, seja central ou periférico. Recentemente, a técnica de oscilação forçada (TOF) vem sendo cada vez mais utilizada
na investigação pulmonar de crianças e grandes incapacitados, por tratar-se de método não invasivo, dispensando a
colaboração ativa do paciente. A presente comunicação vem trazer os nossos resultados preliminares com a utilização deste
equipamento em pacientes tetraplégicos. Foram estudados 10 pacientes masculinos, com trauma medular, nível C4 a C7
(ASIA A, B e D, respectivamente, 6, 3 e 1 paciente), com idade mediana de 23 anos (variando de 15 a 50) e tempo de lesão
entre 1 dia a 41,7 meses, por ocasião da internação hospitalar (mediana de 2,3 meses), estáveis do ponto de vista clínico. Foi
utilizado o equipamento da Erich Jaeger de oscilação forçada (oscilometria de impulso, lOS), com o paciente em posição
semirecumbente, sem a utilização de colares cervical ou torácico, com clip nasal e compressão manual dos bucinadores, em
respiração espontânea, por 30 segundos, conforme recomendações da Commission of European Communities (1994). Em
todos, com exceção de um, foi realizada espirometria convencional prévia. Para efeito de comparação, foram também
estudados 10 indivíduos normais, também masculinos, sem história de tabagismo ou doença pulmonar prévia. Os resultados
foram confrontados, considerando os valores percentuais de predição para idade, peso e altura, fornecidos pelo fabricante.
Quando pertinente, os resultados entre os dois grupos foram confrontados, utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis, com
55
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
p<0,05 para considerar significância estatística. A mediana da capacidade vital (CV) lenta entre os pacientes tetraplégicos foi
de 2,5 litros (1,3 a 3,2), correspondendo a uma mediana de 53,2% do valor predito (39 a 77). Entre os indivíduos hígidos
estas cifras foram, respectivamente, de 4,9 litros (3,8 a 5,9) e 99,4% (86,8 a 110,4). Para a manobra de CV forçada (CVF) a
mesma discrepância foi observada entre os dois grupos, porém com uma relação VEFl/CVF (x 100), semelhante, ou seja,
medianas de 71,1 o/o (56,3 a 96,7) e 83,9% (75,4 a 87,4), respectivamente, entre tetraplégicos e controles. Tais resultados
confirmam os dados contidos na literatura, indicando a presença de um componente restritivo, característico destes pacientes.
No geral a impedância total do sistema (Zrespir, KPa/1/s), a 5 Hz, foi maior no grupo tetraplégico, em relação ao controle,
respectivamente, 0,53±0,24 e 0,33±0,08, porém sem distinção quando corrigido para os valores preditos. A freqüência de
ressonância também mostrou-se semelhante entre os dois grupos. Sumariamente, as diferenças tanto nos valores médios
bruto, como em o/o do predito, mostraram-se maiores no grupo tetraplégico, para impedância (R) a 5, 20 e 35 Hz, e para
reactância a 5 Hz (este somente em relação ao o/o predito). Também no geral, o grupo tetraplégico mostrou valores de
resistência central e periférico mais elevados que os do grupo controle. É digno de nota destacar que, na maioria dos
parâmetros analisados, incluindo os resultados da espirometria, o desvio padrão dos pacientes superou ao dos indivíduos
normais, denotando a heterogeneidade do grupo. Estes resultados, ainda que preliminares, indicam que nos pacientes
tetraplégicos, além da importante síndrome restritiva, frequentemente associa-se um componente obstrutivo, central e ou
periférico. Tais achados poderiam denotar a resultante de vários fatores atuantes sobre o sistema de condução aérea do
aparelho respiratório, tais como desbalanço do controle autonômico, acúmulo de secreções, microatelectasias, dentre outros.
Poster 02.25
VEÍCULO ELÉTRICO PARA AUMENTO DA INDEPENDÊNCIA DE CRIANÇA COM FOCOMIELIA
COMPLETA EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES
SUZANA G. DA COSTA, JOSÉ HAROLDO DE A. CAVALCANTE, WILLIAM G. DIAS, HENRY M. MACÁR/0
Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor- Brasília -DF- Brazil
Pacientes com agenesia de quatro membros encontram grande dificuldade na adaptação de próteses e, especialmente
para independência funcional. Recentemente recebemos um paciente com Focomielia Completa nos quatro membros, se
encontrando em uma idade, 4 anos, em que a exploração do espaço com o máximo de independência é essencial para o
desenvolvimento psicomotor e social. Nas mãos apresenta somente movimentos de musculatura intrínseca com preensão
interdigital, possibilitando manuseio de pequenos objetos. Locomove-se através do rolar com agilidade. A idéia inicial foi
posicioná-lo na postura vertical em um cesto bivalvado pelvicotorácico com apoio isquiático que serviria em uma segunda
etapa de suporte para locomoção. Neste cesto foi acoplado uma base de madeira possibilitando a adaptação de uma mesa,
com objetivo de treiná-lo nas atividades de alimentação e escrita. A partir daí a idéia evoluiu para a concepção de um
carrinho motorizado que pudesse ser conduzido pela própria criança. Foi desenvolvido o projeto de um carrinho pequeno e
leve, fácil de operar e conduzir. O projeto alia robusteza e simplicidade, oferecendo baixa necessidade de manutenção. Foram
ainda levados em conta o conforto e uma apresentação atraente e lúdica, que facilitasse sua a aceitação tanto pelo usuário
quanto pelo meio social. O carrinho foi construído com um chassi de alumínio e carenagem de madeira. Dois pequenos
motores elétricos foram conectados às rodas traseiras. A alimentação foi obtida de uma bateria recarregável de 12V. Para o
controle de direção foi desenvolvido um circuito digital, acionado por um comando do tipo usado em videogames, fixado em
uma haste ajustável para se conseguir a posição ideal para seu acionamento manual pelo paciente. O carrinho é dotado ainda
de buzina, luz indicadora de funcionamento e de uma mesa destacável. O paciente foi treinado no manuseio do carrinho,
encontrando certa independência para suas atividades, possibilitando planos de escolarização. Atualmente vem usando o
carrinho continuamente, participando ativa e efetivamente das atividades da família. A partir desta, novas unidades foram
construídas, com novo design, carenagem em fibra de vidro e com acionamento adaptado de acordo com a capacidade de
cada paciente.
Poster 02.26
AVALIAÇÃO DA MARCHA DE PACIENTES COM OSTEOARTROSE DE JOELHO ANTES E APÓS O
TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO
A.C.M. ALVES,]. NATOUR, A.M. JONES, M. SAAD, L.M. OLIVEIRA.
Disciplina de Reumatologia- Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil
INTRODUÇÃO: a osteoartrose de joelho é uma situação que leva à limitações funcionais na marcha, com grande
impacto sócio-econômico. O tratamento de reabilitação é freqüentemente utilizado nestes pacientes. OBJETIVO: o objetivo
deste trabalho é avaliar o impacto de um determinado tipo de fisioterapia na marcha destes pacientes. PACIENTES E
MÉTODOS: foram selecionados 31 doentes com diagnóstico clínico e radiológico de osteoartrose unilateral de joelhos. Estes
pacientes foram avaliados no momento da seleção (TO), um mês após a seleção (T1) e 3 meses após a seleção (T2). Entre TO
e T1 os pacientes não sofrerem qualquer intervenção e entre T1 e T2 os pacientes foram submetidos ao tratamento de
fisioterapia, que consistia de turbilhão para membros inferiores, exercícios isométricos para fortalecimento de quadríceps,
gastrocnemios e glúteos, exercícios de alongamento e exercícios de propriocepção e equilíbrio. As avaliações constaram de
goniometria, escala visuais de dor em repouso e na marcha, teste de equilíbrio (Romberg) e avaliação da marcha onde foi
verificado velocidade, cadência e consumo de energia. Vinte e nove pacientes completaram o estudo. RESULTADOS: todos
os parâmetros avaliados apresentaram melhora estatisticamente significante (p < 0.05) considerando-se as 3 avaliações, escala
56
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
visual de dor a marcha p<0,0001, escala visual de dor no repouso p<0,0001, velocidade p=0,028, "physical cost index"
p=0,023, cadencia p<0,0001, ciclo da marcha p<0,0001, flexão de joelho p<0,0001,extensão de joelho p=O,Oll. Entre TO e
T1 não ocorreram alterações estatisticamente significantes em todos os parâmetros observados a exceção do ciclo da marcha
e da escala visual de dor a marcha que haviam piorado no Tl. CONCLUSÃO: o método de reabilitação utilizado melhorou a
marcha de pacientes com osteoartrose unilateral de joelhos em relação a dor, goniometria, cadência e consumo de energia.
Poster 02.27
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A FISIOTERAPIA DOMICILIAR E A FISIOTERAPIA AMBULATORIAL
NO TRATAMENTO DAS LESÕES DO MANGUITO ROTADOR
S.M. ME/RELES, L.S. ASSIS, L.M. OLIVEIRA, P.M.P. ARAUJO, J. NATOUR
Disciplina de Reumatologia- Universidade Federal de São Paulo, São Paulo- Brasil
Introdução: a lesão dos músculos do manguito rotador (síndrome do impacto) é causa de dor e incapacidade funcional,
levando muitos pacientes a tratamento fisioterápico. Objetivo: comparar a eficácia da fisioterapia domiciliar em relação à
fisioterapia ambulatorial na síndrome do impacto (SI). Pacientes e Métodos: trinta pacientes com diagnóstico de SI foram
selecionados consecutivamente e randomizados em dois grupos de tratamento: 1) oGrupo Ambulatorial (GA) recebeu
tratamento cinesioterápico supervisionado por um fisioterapeuta. 2) o Grupo Domiciliar (GD) onde os pacientes foram
orientados por um fisioterapeuta a realizar os mesmos exercícios em sua residência. Todos os pacientes foram avaliados por
observador cego no início do tratamento e após dois meses. Os parâmetros avaliados foram dor, atividades da vida diária e
gonimetria. Resultados: os resultados não mostraram diferença estatísticamente significante nos parâmetros avaliados.
Conclusão: o tratamento domiciliar pode ser adotado para a síndrome do impacto, sobretudo para as pessoas com dificuldade
de se locomover até o centro de reabilitação
Poster 02.28
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA ESCOLA DE COLUNA NO TRATAMENTO DAS LOMBALGIAS
KARINA SANTAELLA DA FONSECA, JAMIL NATOUR, LEDA MAGALHÃES OLIVEIRA, POLA MARIA POLI DE
ARAÚJO
Disciplina de Reumatologia- Universidade Federal de São Paulo- São Paulo- SP- Brasil
Introdução: a lombalgia é um dos sintomas mais comuns e um dos maiores responsáveis pela falta ao trabalho no
mundo. Objetivo: devido à freqüência com que ocorrem as lombalgias e tendo em vista a multiplicidade de tratamentos
existentes, testamos os benefícios do tratamento da lombalgia através de nossa Escola de Coluna (Back - School). Pacientes e
Métodos: trinta pacientes portadores de lombalgia mecânico-postura!, com média de idade de 60 anos foram selecionados no
Ambulatório de Coluna Vertebral da Disciplina de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina- UNIFESP e freqüentaram
a Escola de Coluna do nosso serviço. Foram avaliados no momento da seleção (To), 2 meses após a seleção (antes do
tratamento) (T1), 2 meses após o tratamento (T2) e 6 meses após o final do tratamento na Escola de Coluna (T3). Para as
avaliações foram utilizados o questionário de incapacidade de Roland-Morris, cuja nota máxima é 24 e uma escala visual de
dor, que varia de O a 10. O tratamento constituiu-se de uma escola de coluna com duração de 1 mês (4 sessões), na qual foram
realizadas 2 sessões teóricas com informações de proteção articular, conservação de energia e informações básicas sobre a
anatomia da coluna vertebral, e 2 sessões práticas com exercícios de fortalecimento de musculatura abdominal e relaxamento
de musculatura paravertebral. Resultados: a nota média dada pelos pacientes na escala visual de dor foi de 5,7 no To, 6,4 no
Tl, 4,4 no T2 e 3,98 no T3. Não houve diferença estatística entre To e T1 (p = 0,18) e houve diferença estatisticamente
significante entre T1, T2 e T3 (p = 0,002). A nota média do questionário e incapacidade de Roland- Morris foi de 13,5 no
To, 13,5 no T1, 9,3 no T2 e 10,8 no T3. Não houve diferença estatística entre To e T1 (p = 1,0) e houve diferença
estatisticamente significante entre TO, T1, T2 e T3 (p = 0,047). Conclusão: podemos concluir que após o tratamento na
Escola de Coluna os pacientes melhoraram da lombalgia, sendo necessário agora o seguimento de mais longo tempo.
Poster 02.29
AVALIAÇÃO DA FORÇA DE PINÇAS NAS MÃOS DE NORMAIS E PESSOAS COM ARTRITE REUMATÓIDE
J. NATOUR, P.M.P. ARAUJO, L.M. OLIVEIRA, T. GERMANO
Disciplina de Reumatologia, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo- Brasil
Introdução: a artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória, sistêmica e que frequentemente causa poliartrite
crônica nas articulações das mãos. Objetivos: nosso objetivo era avaliar a repercussão da doença sôbre as diferentes pinças
das mãos de pacientes comparados a controles normais. Pacientes e Métodos: nos estudamos 30 pacientes com diagnóstico de
AR, de acordo com os critérios do "American College of Rheumatology", e 30 controles normais (NL). A idade média dos
pacientes era 51,5 anos, e o tempo de doença médio era 9,2 anos. Os parâmetros de avaliação foram: pinça lateral (chave)
direita (D) e esquerda (E); pinça trípode (D eE); e pinça polpa-polpa (D e E).As medidas foram feitas com um aparelho
"pinch gauge" e a leitura feita em quilogramas-força. Resultados: a média dos resultados obtidos (em Kgf) dos grupos de
pacientes AR e NL foram respectivamente: pinça lateral D AR=4,46 e NL=7,55 (p< 0,0001) e E AR=3,85 e NL=7,03
(p<0,0001); pinça trípode D AR=3,22 e NL=6,88 (p< 0,0001) e E AR=2,86 e NL=6,61 (p< 0,0001); pinça polpa-polpa D
AR=2,96 e NL=5,24 (p<0,0001) e E AR=2,65 e NL=5,01 (p<0,0001). Conclusão: não houve diferença estatísticamente
significante em relação à lateralidade entre pacientes e normais. Entretanto nossos resultados mostram uma diferença
estatísticamente significante entre os grupos de pacientes e os normais para as diferentes pinças
57
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Poster 02.30
EQUOTERAPIA NA ESTIMULAÇÃO MOTORA E SENSORIAL.
RESENDE, M.M, SILVIA, P.F.,CARDOS, V.C.
F.U.N.C.E.F
Objetivo: Propõem-se com a Equoterapia, reabilitar o paciente, promovendo o máximo de uma autonomia, física
psíquica e social, através do movimento tridimensional realizado pelo animal "o cavalo ", durante o passo viabilizando a
simulação do movimento pélvico durante a marcha normal do ser humano. Esse movimento facilita as aquisições de
conscientização corporal, sensibilização cinestésica, normalização do tônus, equilíbrio, exploração do corpo no espaço,
autoconfiança e auto estima, essenciais para a reinserção no meio social Metodologia: O trabalho desenvolveu-se num
período de 5 meses, sendo as sessões realizadas uma vez na semana, com duração de 30 minutos cada. Buscou-se nas
atividades práticas uma maior interação da criança com o ambiente e com o instrumento de reabilitação, sensibilizando-a,
envolvendo-a ao processo de consciência de seu corpo no espaço e na interação ao meio social. O programa constituiu na
descrição de um único caso, do sexo feminino com idade cronológica de 9 anos, portadora de seqüelas motoras e sensoriais
em decorrência a traumatismo crânio encefálico (T.C.E). As atividades foram desenvolvidas na área de realização de
atividades eqüestres no Parque de Exposição Brumado dos Pavões -Patrocínio MG. Resultado: A retirada da criança do
ambiente rotineiro para um período intenso de vivência com o meio ambiente, proporcionou alterações em sua vivência
social. Caracterizando esses resultados, junto à cliente envolvida na pesquisa, fidedigna-se através das avaliações,
reavaliações e filmagens, executadas durante o período de trabalho prático. Conclusão: Procurou-se trabalhar uma visão
diferente em relação as atividades de reabilitação que a criança já havia sido submetida e construir uma práxis que envolva
mente/corpo realizando a ruptura de padrões rotineiros de reabilitação a qual era submetida. Encontrou-se na terapia através
do animal "o cavalo" a construção de uma consciência frente às tentativas para beneficiar o portador de deficiência física.
Poster 02.31
MIELITE TRANSVERSA POR ESQUISTOSSOMOSE
WELLMAX BEZERRA NASCIMENTO,
HOSPITAL GERAL DE P AUDALHO - PE
Mielite Transversa por Esquistossomose é uma doença produzida pelo helminto trematóide Schistosoma mansoni.
Estudos têm demonstrado que o comprometimento do Sistema Nervoso é mais freqüente do que se supunha. O mecanismo
pelo qual alcançariam os ovos o tecido nervoso, para uns através da circulação sistêmica, para outros por capilares venosos
próximo ao Sistema Nervoso com uma desova ectópica ou ainda pelas conexões porto-cava e o plexo perivertebral
empurrados pela pressão intra-abdominal. O trabalho visa analisar o quadro fisiopatológico para obter informações concisas e
assim traçar um tratamento de reabilitação motora eficiente. O estudo está sendo desenvolvido no Hospital Geral de
Paudalho-PE, apresentando um caso de um paciente com Mielite Transversa por Esquistossomose que inicialmente
apresentou um quadro de paraparesia de membros inferiores e déficit de marcha, diagnosticada através de ressonância
magnética e exame L.C.R. No decorrer do tratamento o paciente está apresentando uma evolução satisfatória, realizando
treino de marcha com uso de muletas e uma melhora significativa no que diz respeito à sensibilidade.
Poster 02.32
ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO DE PADRÕES
REABILITAÇÃO
GONÇALVES, M ;BERTOCHI, M. O ;.BÉRZIN, F.
UNESP, Rio Claro
DE
MOVIMENTO
DO
MÉTODO
KABAT
DE
Os padrões de movimento do Método Kabat de reabilitação estão fundamentados nos conhecimentos sobre a
facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) as quais estão cada vez mais sendo utilizadas tanto com o intuito reabilitação
como de treinamento desportivo; isto por seus efeitos no desenvolvimento da amplitude de movimento, na aquisição de força,
de velocidade, no desenvolvimento do tempo de reação, no equilíbrio e coordenação. As técnicas de facilitação
neuromuscular proprioceptiva podem ser definidas como um método para promover a reação do organismo neuromuscular
através de estimulação dos proprioceptores. Segundo VOSS, IONTA & MYERS (1987) o Método de Facilitação
Neuromuscular proprioceptiva foi iniciado por Herman Kabat como um meio de restaurar a função da estrutura
neuromuscular, fundamentando-se no desenvolvimento motor, no sistema de ação e reflexos habituais, nos proprioceptores e
no controle cortical do movimento e, verificando a eficácia da resistência máxima e estiramento em facilitar a resposta de um
músculo distai fraco pela irradiação de um músculo proximal mais forte e identificou padrões de movimento em massa de
característica espiral e diagonal. No desenvolvimento de técnicas de Facilitação Neuromusular Proprioceptiva a maior ênfase
está na aplicação da resistência máxima na área dos movimentos, usando muitas combinações de movimentos que estavam
relacionados aos padrões primitivos e ao emprego de reflexos de postura e endireitamento. O uso de polias de parede, os
quais produzem mecanismos de resistência tem provado serem de valiosa ajuda para terapeutas físicos e têm sido
reconhecidos pela terapia física na reabilitação neuromuscular, sendo assim o presente trabalho teve como objetivo analisar a
ação do quadríceps durante os padrões de movimento do membro inferior segundo o Método Kabat contra resistência
mecânica através do sistema de polias em diferentes concentrações de carga através da eletromiografia. Foram submetidos ao
58
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
teste 10 voluntários, homens, sem história de alterações músculo-esquelética, na faixa etária de 17 a 21 anos. Utilizou-se um
eletromiógrafo de 4 canais e software específico para aquisição e análise dos sinais. Os padrôes de movimento analisados a
partir da posição sentada, foram: Diagonal I = Flexão, abdução e rotação media! do quadril com extensão do joelho, flexão
dorsal e eversão do tornozelo, com extensão e abdução dos dedos. Diagonal li = Flexão, adução e rotação lateral do quadril,
com extensão do joelho, flexão dorsal com inversão do tornozelo, extensão e abdução dos dedos. Após análise estatística não
paramétrica para p::0::0,05 e discussão dos resultados, concluiu-se que o músculo reto da coxa apresentou maior atividade
seguido pelos músculos vasto mediai e vasto lateral na diagonal I e li, sendo que todos os músculos apresentaram maior
atividade na fase final do movimento.
Poster 02.33
UTILIZAÇÃO DA ESCALA FIM EM AUXÍLIO AO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DO LESADO MEDULAR
SILVA, FLORIPES FONSECA DA; FURLAN, E.L.S; NUNES, L.G.N.; BARROSO, C.R.B.B.
Introdução: O tratamento adequado da lesão medular requer o empenho de uma equipe multidisciplinar, que deve
ter por objetivo reabilitar as funções motoras, sensoriais e psicossociais restantes após a ocorrência da lesão. A equipe deve
ainda racionalizar o atendimento, otimizando o processo de reabilitação e desenvolvendo melhores modelos de assistência.
Uma importante ferramenta de apoio às tarefas da equipe é a escala de avaliação Functional Independence Measure (FIM),
desenvolvida pelo Unifonn Data System for Medicai Rehabilitation - State University of New Yrok at Buffalo. O FIM é
composto por 18 itens para avaliação funcional que em conjunto expressam o resultado do trabalho de toda a equipe de
reabilitação, a qualidade do tratamento relacionado às condições de higiene, de nutrição, de cuidados de enfermagem, da
terapêutica, da fisioterapia, do processo educativo e do processo decisório médico. O FIM assume, para cada item avaliado,
valores no intervalo de 1, assistência total, a 7, independência completa; cada unidade acrescida na escala implica em um
ganho significativo no nível de independência para a realização das tarefas descritas nos itens do escore. Os resultados do
tratamento analisados através da escala FIM proporcionam uma avaliação numérica e sintética de toda a assistência prestada
ao paciente em reabilitação. Material e Método: No período de maio de 1996 a abril de 1997, 134 pacientes, internados para
reabilitação no Hospital do Aparelho Locomotor - Sarah de Brasília, foram avaliados pela equipe de tratamento do lesado
medular na época da admissão e da alta hospitalar, utilizando-se a escala FIM. Foram coletadas variáveis epidemiológicas,
sendo os pacientes divididos em dois grupos, tetraplégicos e paraplégicos. Calcularam-se, dentre outros, os indicadores
"média de pontos FIM na admissão e alta", "ganhos durante o período de internação" e "índice de eficiência". Neste último
divide-se a média de pontos ganhos pela média do tempo de permanência, e esse quociente reflete a eficiência do programa
de reabilitação em pontos FIM. Resultados: Dos pacientes avaliados, 109 eram do sexo masculino, 84 eram paraplégicos e
50 tetraplégicos. Avaliação média do FIM na admissão para o paciente paraplégico foi de 76 pontos e para o tetraplégico foi
55. Na alta as avaliações foram respectivamente para paraplégico e tetraplégico 102 e 65 pontos. O tempo médio de
permanência foi de 51 dias para o paraplégico e 60 dias para o tetraplégico. O índice de eficiência do programa foi de 0,5
pontos FIM/dia para o paraplégico e de 0,2 para o tetraplégico. Conclusões: A escala FIM foi implantada no Programa do
Lesado Medular do Sarah Brasília a partir de maio de 1996, desde então tornou a avaliação funcional dos pacientes
padronizada, objetiva e prática. As avaliações permitem que se verifique objetivamente o resultado do tratamento de
reabilitação, possibilitando o planejamento para melhoramento do trabalho da equipe, e a elaboração de metas, através de
avaliações intermediárias, para o prosseguimento do processo de reabilitação dos pacientes.
Poster 02.34
UMA EXPERIÊNCIA COM ESTÁGIO DE TERAPIA OCUPACIONAL NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
REABILITAÇÃO.
CHRISTINA DUTRA BAPTISTA OLIVEIRA.
Este trabalho tem por objetivo apresentar o processo de interação, Universidade Federal de Minas Gerais Associação Mineira de Reabilitação e sua contribuição na formação profissional dos estagiários de Terapia Ocupacional.
Com consequente implicação na evolução de crianças com sequela motora decorrente de comprometimento neurológico
associados ou não a outros déficits, em tratamento. Com início em fevereiro de 1997, o trabalho desenvolvido na AMR pelos
estagiários de Terapia Ocupacional; partiu de um contrato entre a Universidade Federal de Minas Gerais (Departamento de
TO) e Associação Mineira de Reabilitação tendo como supervisara a então professora da UFMG, Christina Dutra Baptista
Oliveira. Em fevereiro de 1998 o estágio passou a ser incorporado à instituição e coordenado pela terapeuta ocupacional
anteriormente citada. A incorporação do estágio à instituição parte de um trabalho inovador, atualizado, com possibilidade de
trocas de conhecimentos teóricos coerentes com a prática entre estagiários-profissionais permitindo reciclagem científica
pois, o que se observava era a existência de uma "lacuna" entre produção do "saber" das universidades e sua incorporação na
prática clínica, que já vem sendo sanadas com experiências variadas como esta. No ano de 1998, a partir do momento em que
o estágio passa a ser da instituição e vigorar sob seus moldes, ganha força em tratamentos e reconhecimentos do setor de
Neuropediatria. O estagiário passa atuar nos serviços de atendimento contínuo e de orientação periódica realizando visitas
domiciliares e escolares; confecção e·instalação de mobiliários e adaptações; indicação de adaptações, mobiliários e splints;
confecção de splints; desenvolvimento de trabalho e/ou indicação em comunicação alternativa; discussão de casos clínicos
junto à equipe interdisciplinar; busca de estabelecimento de diagnósticos; encaminhamentos profissionais; pesquisas teóricopráticas; palestra para pais; orientações quanto a intervenções domiciliares; elaboração de projetos e monografias; publicação
em revista científica; participação em reuniões clínicas e administrativas; apresentação de trabalho em congressos, cursos,
59
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
seminários e aulas. São utilizados os seguintes modelos conceituais (conjunto organizados de pressupostos teóricos que
explicam algum f~nômeno de interesse prático): Modelo biomecânico (Pedretti, Trombly); Modelo de incapacidade cognitiva
(Allen); Modelo cognitivo perceptual (Abreu & Toglia); Modelo de trabalho de grupo (Howe & Schwartzberg); Modelo da
ocupação humana (keilhofner); Modelo de controle motor (Bobath, Rood ... ); Modelo de Integração Sensorial (Ayres);
Modelo de adaptação espaço temporal (gilfoyle, Grady & Moore); Modelos brasileiros (Chamone, Benetton ... ). Os métodos
em Terapia Ocupacional constam de atividades terapêuticas e adaptações com objetivos centrados na função ocupacional da
criança em tratamento ou seja, atividades de vida diária e atividades de vida prática (incluindo escolaridade, socialização e o
brincar). Neste ano a instituição (AMR) contava com 2 estagiários atendendo 12 crianças, 2 vezes na semana em sessões de
30 minutos e 4 crianças em atendimentos quinzenais e mensais, num total de 32 crianças em tratamento, baseados em
modelos práticos com fundamentação teórica clara, métodos de avaliação e intervenção explícitos, sendo tais modelos
valiados por pesquisas consistentes. A busca de desenvolvimento e aprimoramento do tratamento Terapia Ocupacional em
Neuropediatria, a experiência com estagiários e investimentos destes no tratamento procurando explicações teóricas para suas
investidas, pesquisas estas repassadas à equipe interdisciplinar, levou à necessidade de demonstração do processo vivenciado
em habilitação e reabilitação motora, experiência positiva de trocas entre profissionais institucionais e estagiários.
Poster 02.35
O EFEITO DO TREINAMENTO ISOCINÉTICO TARDIO NA PERFORMANCE MUSCULAR DO JOELHO
APÓS MENISECTOMIA MEDIAL PARCIAL- ESTUDO DE UM CASO.
M. I. GUARATINI1,2; T. O. GONZALEZI; A. S. OLIVEIRA1,2; C. E. S. CASTRO!.
1
UFSCar- São Carlos - SP;
2
UNIP- Ribeirão Preto- SP.
OBJETIVO: O propósito deste estudo foi avaliar o efeito do treinamento isocinético tardio sobre a performance
(Pico de Torque, PT; Trabalho, T; Potência, P) dos músculos da coxa (m. quadríceps e m. isquiotibiais) de um sujeito após 1
ano de menisectomia artroscópica do menisco mediai. MÉTODOS E RESULTADOS: Um sujeito, do sexo feminino, 22
anos, após 1 ano da realização de uma menisectomia artroscópica parcial do menisco mediai do joelho direito e após
terminado o tratamento fisioterápico convencional e retornado as suas atividades normais, foi submetido a avaliação
isocinética com as seguintes etapas: Aquecimento: no qual o sujeito realizou alongamentos para os músculos dos membros
inferiores (músculos quadríceps femoral, isquiotibiais e tríceps sural) e 5 minutos em bicicleta ergométrica sem carga e à
velocidade de 25Km/h. O sujeito foi então posicionado na cadeira do dinamômetro isocinético da marca BIODEX, modelo
Multi-Joint System 2, e estabilizado na posição sentada pelos cintos de fixação no tronco, pelve e coxa do membro a ser
testado. Avaliação Prévia: composta de 3 medidas em dias alternados e realizada bilateralmente. Foram avaliados o PT, Te
P, em três velocidades isocinéticas ( 60, 180, 300°/seg.) de O a 90° de amplitude de movimento (ADM). Treinamento:
realizado em 18 sessões, sendo realizadas 3 sessões semanais em dias alternados, cada uma composta por 8 séries de 5
repetições na velocidade de 60°/seg. e 8 séries de 10 repetições na velocidade de 180°/seg. de O a 90° de ADM e intervalos de
10 segundos entre as séries, com protocolo contínuo recíproco de flexão e extensão do joelho. Somente o membro operado foi
treinado. Avaliação posterior: realizada após a intervenção, da mesma maneira que a avaliação prévia. Em todas as etapas o
sujeito foi encorajado verbalmente a realizar esforço máximo. Foi utilizado o Teste-t de Student para a análise dos dados, com
nível de significância de p$0,05. Em uma análise geral, o protocolo desenvolvido pelo sujeito apresentou um ganho em todos
os valores da performance muscular dos extensores e nenhum ganho na performance dos flexores do joelho, porém as
variações se apresentaram como não significativas estatisticamente. As únicas alterações de significância estatística foram
uma diminuição do Trabalho dos flexores do joelho (m. isquiotibiais) e, um aumento da Potência dos extensores do joelho
(m. quadríceps) a velocidade de 60°/seg. CONCLUSÃO: Um déficit de força muscular é frequentemente encontrado em
sujeitos que sofreram lesão meniscal mesmo após longo período de recuperação (HAMBERG et ai., 1983; ARVIDSSON et
ai., 1981; DURAND et ai., 1991), este quadro clínico muitas vezes se torna a causa de recidivas de lesões articulares
(DURAND et ai., 1991). No presente estudo, as alterações encontradas, na sua maioria, apresentaram-se como não
significativas na análise estatística. Em uma análise mais especifica podemos observar uma diminuição estatisticamente
significativa (p$0,049) nos valores de Trabalho dos músculos flexores do joelho a velocidade de 60°/seg. e, um aumento
estatisticamente significativo (p$0,028) nos valores da Potência dos músculos extensores a velocidade de 60°/seg. Estudos
posteriores com um número maior de sujeitos, de sessões e velocidades isocinéticas diferentes são necessários para que se
possa confirmar a eficiência deste protocolo de treinamento isocinético para reduzir o déficit da performance muscular em
treinamentos tardios.
60
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 02.36
UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE IMEDIATA EM APUTAÇÃO TRANSBITIAL UNILATERAL
JERÔNIMO RAFAEL SKAU, FT, CO-AUTOR: DR. ANDRt PEDRINELLI, CO-AUTOR: DR. AURO MITSUO
OKAMOTO, CO-AUTOR: FT. CARLOS ALBERTO M. BARREIROS.
Este trabalho refere-se ao estudo da utilização de prótese imediata em amputação transtibial unilateral. De acordo
com estatísticas realizadas no período de 1992 a 1997 no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo referentes às cirurgias de amputação, 54% de um total de 430
amputações foram realizadas no membro inferior. Destas, a maioria delas, 25.81%, foram em nível transtibial. As causas
mais comuns são vasculares, traumáticas, tumorais, infecciosas e congênitas, respectivamente, de acordo com a literatura
internacional. Prótese imediata consiste num curativo rígido fixo a uma haste metálica ou tubo plástico conectado com o pé
protético. Essa prótese é aplicada imediatamente na sala de operação, logo após a cirurgia de amputação. Esse procedimento
foi primeiramente defendido por Muirhed Little, durante a Primeira Guerra Mundial; foi reintroduzido por Berlemont, em
1961, e modificado por Weiss, em 1963. Berlemont teve grande colaboração no estudo da prótese imediata e seus estudos
serviram como base para os seguintes. No Brasil, esse tema é pouco estudado e não há muitos trabalhos publicados a esse
respeito. Quanto mais precoce o início da reabilitação, maior o potencial de sucesso e maior a taxa de utilização da prótese.
Quanto maior o retardo mais provavelmente haverá o desenvolvimento de complicações secundárias, como contraturas
musculares, principalmente as que ocorrem em flexão nos casos da amputação transtibial, deformidades articulares e um
estado psicológico depressivo. Com a colocação do curativo rígido, a contratura em flexão de joelho é prevenida. A ferida é
protegida contra um possível trauma e a formação do edema é limitada. Estabilizar o paciente na posição vertical e a
capacidade de contrair isometricamente os músculos são fatores essenciais na prevenção da atrofia e estase venosa. Estes
elementos ajudam a melhorar o suprimento vascular do coto e a cicatrização da ferida pós-operatória. Isto é admitido pela
maioria dos autores interessados no assunto. A utilização da prótese imediata é importante porque pode restabelecer o modo
de vida funcional num tempo mais curto. Por se tratar de um procedimento de uso logo após a cirurgia, não deixa de ser um
método com alguns riscos como necrose dos tecidos ou infecções no coto de amputação. É fundamental que todos os
integrantes da equipe multiprofissional conheçam as técnicas integralmente. A presente pesquisa é um estudo de caso,
realizada em um paciente do sexo masculino, que foi submetido a amputação transtibial unilateral, de causa vascular,
realizada no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo. O curativo rígido foi colocado no pós-operatório (P.O.) imediato, após o curativo cirúrgico. Por cima do algodão
cirúrgico passou-se atadura gessada elástica em toda superfície do coto, estendendo-se até 1/3 médio de coxa. Assim que o
gesso endureceu, foi colocada a prótese (com tíbia e pé integrados), passando novamente outra atadura gessada para fixação.
O sujeito está sendo acompanhado durante a fase hospitalar, que durará 7 dias. No sétimo de P.O. serão dadas orientações
quanto ao uso e cuidados quando, então, o sujeito receberá alta. Após alta, o sujeito retornará ao hospital duas vezes por
semana para serem feitas avaliações, treinamentos para deambulação e troca do curativo rígido. O período de estudo
compreende 6 semanas da data da cirurgia. A cada troca do curativo cirúrgico, o edema no coto será medido com uma fita
métrica. Além disso, serão observadas manifestações de dor e será seguido o protocolo de deambulação baseado na literatura
internacional. Espera-se que a evolução do paciente seja gradativa até a deambulação completa sem auxílio. A cicatrização da
ferida cirúrgica é observada pelo médico responsável pela cirurgia, seguindo seus critérios. Esta pesquisa tem por objetivo
estudar e discutir o uso da prótese imediata em associação com o treino de deambulação precoce na recuperação pós cirúrgica
de um paciente com amputação transtibial unilateral. Com este procedimento espera-se a redução do tempo de protetização, o
início precoce da deambulação, a melhora da cicatrização da ferida cirúrgica e controle do edema pós operatório. Logo nos
primeiros dias de P.O. o paciente já é capaz de levantar-se do leito e está sendo treinado para deambulação, que será realizada
gradativamente até o término dessa fase hospitalar e nos retornos seguintes. Este método de tratamento é importante para o
paciente manter sua percepção dos movimentos normais e não adquirir posturas incorretas ou quaisquer outros tipos de
alterações, tanto musculares quanto articulares, que possam vir a ocorrer, em virtude de um longo período sem uso de uma
prótese.
Poster 02.37
PROCESSO DE REABILITAÇÃO EM LESÃO MEDULAR CERVICAL ALTA -RELATO DE CASO
CAMPOS DA PAZ, A.; LORENTZ, M.; BORIGATO E. V. M.; COELHO, A. O. S. P.
INTRODUÇÃO: A sobrevida de pacientes com lesão cervical alta tem aumentado. A melhora da qualidade de vida
destes indivíduos vem sendo obtida com a utilização de avanços tecnológicos como ventiladores portáteis, estimulação
elétrica diafragmática, cadeiras de rodas especiais e instrumento de comunicação alternativa. O caso que será apresentado
exemplifica esta abordagem e reforça o processo de reabilitação como sendo contínuo e exigindo um trabalho de equipe,
inteiramente voltado para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. DESCRIÇÃO DO CASO: L.M.F.A, sexo feminino,
19 anos, tetraplegia traumática, nível sensitivo-motor C2/C3 ASIA-A, lesada por acidente automobilístico ocorrido em
13/04/90. Foi transferida do interior de São Paulo para o Hospital do Aparelho Locomotor SARAH -Brasília em 04/05/90.
Paciente foi admitida lúcida, hidratada, traqueostomizada, em ventilação mecânica controlada, clinicamente estável.
Apresentava amplitudes de movimento livres e movimentos ativos preservados apenas em musculatura de pescoço. No
período de 1990 a 1994 permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva. Foram realizados acompanhamento clínico
intensivo, mobilização passiva de membros superiores e membros inferiores, exercícios respiratórios,- exercícios ativos
assistidos para musculatura do pescoço. A paciente permanecia o maior tempo no leito, recusava-se a sentar em cadeira de
61
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
rodas. Quando o fazia, utilizava cadeira de rodas com encosto reclinável e apoio para a cabeça, na posição semi-sentada (a
40°), por pouco tempo. A seguir foi iniciada a tentativa de desmame do ventilador. Em 1993, chegou a permanecer em média
até 6 horas diárias sem o mesmo, quando necessitou ser hiperventilada várias vezes. Nesta ocasião, foi realizada
eletroneuromiografia do nervo frênico, sendo contra-indicada a implantação de marcapasso diafragmático. A paciente recebia
acompanhamento escolar e realizava treino para manuseio de computador com adaptação para a boca. Em abril de 95 foi
transferida da Unidade de Terapia Intensiva para a Enfermaria de Reabilitação Infantil em uso do ventilador portátil. A
paciente apresentou quadros de dificuldade respiratória, com períodos de retorno à Terapia Intensiva. Foi obtida a adequação
postura! em cadeira de rodas com encosto reclinável e apoio para a cabeça. Esta modificação permitiu que a paciente sentasse
a 100°. Ainda assim, permanecia estática próxima ao leito devido ao uso do respirador, não adaptado à cadeira de rodas. Para
sair a passeio, era conduzida por terceiros, que também realizavam a ventilação com ambú. Passou a freqüentar o centro de
atividades para realizar pinturas com a boca. Em novembro de 96 foi reaalizada nova tentativa de desmame do ventilador
com biofeedback (oxímetro de pulso) sem êxito. Uma cadeira de rodas motorizada, com controle cefálico foi adaptada para o
seu uso. Realizou- se o primeiro treino com a mesma em agosto de 97. Após dois meses, a paciente já se locomovia em
ambientes externos ao Hospital com bom desempenho. Atualmente, permanece sentada até 10 horas por dia, com intervalos
para descanso. Não tem problemas com a pele. Freqüenta escola pública, no 1o ano do segundo grau, acompanhada de um
profissional. Tem permanecido no leito apenas no período noturno e algumas horas para descanso, durante o dia. Há
aproximadamente 12 meses está com o seu quadro respiratório estável, com aspirações menos freqüentes. Tem saído
regularmente para passeios ao shopping, parque da cidade e festas em casa de amigos. DISCUSSÃO: As ações voltadas para
esta paciente foram se implementando, acompanhando os avanços tecnológicos disponíveis. A motivação da paciente foi
fundamental para o seu processo de reabilitação. Toda a equipe teve participação ativa neste processo. No atual estágio, a
cadeira de rodas motorizada representa para a paciente inteira liberdade de locomoção, permitindo sua reinserção
comunitária. A possibilidade de locomoção independente na posição sentada modificou significativamente seu estado clínico
geral, com menor freqüência de complicações respiratórias. Ela se encontra bem mais confiante e muito mais ativa.
Poster 02.38
ESTIMULAÇÃO SENSÓRIO
BERÇÁRIO PATOLÓGICO
MOTORA
EM
NEONATOS
COM
PERMANÊNCIA
HOSPITALAR
EM
ALINE COSTA FERRAZ,
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, C.GRANDE, MS
O aconchego da vida intra-uterina contrasta com os obstáculos a serem vencidos no pós-parto, especialmente para os
neonatos com permanência hospitalar, onde o habitat agora é agressivo, fornecendo estímulos nocivos e desfavoráveis ao
desenvolvimento ideal do bebê. Acredita-se que a estimulação sensório-motora favorece o esquema organizacional e o
desenvolvimento da criança, melhorando a sua qualidade de vida. Mediante revisão bibliográfica e observação cuidadosa do
recém-nascido em berçário patológico, percebeu-se a importância deste período da vida da criança e a carência da
estimulação adequada, justificando-se o interesse para a adequação destes ambientes que pouco ou nada contribuem para o
desenvolvimento sensório-motor da criança. Diante disto, o objetivo é propor aos profissionais de equipes multidisciplinares
o protocolo utilizado na elaboração deste trabalho de conclusão de curso, subsidiando estudos sobre sua eficácia na
estimulação sensório-motora de crianças com permanência hospitalar. O modelo da estimulação é aquele realizado no
intervalo entre as mamadas, com duração de vinte minutos, uma vez ao dia. Inicialmente aconselha-se a realização de
contatos sociais, nos quais, a relação terapeuta/bebê é estabelecida de um modo bastante agradável. Segue-se com manobras
de relaxamento e mobilização nos diversos decúbitos e, simultaneamente, estímulos táteis, visuais, auditivos, olfativos e
vestibulares são oferecidos à criança. Realizaram-se estudos comparativos e percebeu-se a influência da estimulação na
prevenção ou minimização dos déficits comuns a crianças e a contribuição no seu desenvolvimento. Pelas próprias condições
de instabilidade do recém-nascido internado, como presença de cateteres, sondas, drenos, tubos oro/nasotraqueais, muitas
vezes é impossível seguir o protocolo proposto integralmente. Entretanto, sugere-se a adaptação de tal protocolo às condições
da criança, na certeza de que um mínimo de estimulação pode ser oferecido, para a recuperação global do bebê.
62
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
03 - Abordagens
Poster 03.01
CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA ANA TO MIA E ELETROFISIOLOGIA DOS NERVOS MEDIANO E ULNAR
NO ANTEBRAÇO (ANASTOMOSE DE MARTIN-GRUBER).
ALMEIDA, JORGE ANTONIO DE
Foram dissecados e estudados 40 antebraços de cadáveres humanos. Em 12,5% ( 5 casos ) foi encontrada a
anastomose de MARTIN-GRUBER ( AMG. ), sendo 2 no lado direito e 3 no lado esquerdo. Do total de 5 casos, duas
destas anastomoses ocorreram entre os ramos destinados ao músculo flexor profundo dos dedos, uma do ramos do nervo
interósseo anterior e duas diretas do tronco do nervo mediano para o nervo ulnar. Com relação ao estudo eletrofisiológico,
foram estudados 128 antebraços de adultos normais e 20 ( 15,6% ) mostraram evidências da anastomose de MARTINGRUBER. Desses 20 antebraços de 15 indivíduos, 5 ( 33,3%) apresentaram a anastomose de MARTIN-GRUBER bilateral
e 10 ( 67,7% ), unilateral. Nesse estudo a anastomose de MARTIN-GRUBER foi encontrada de acordo com os percentuais
da literatura. O desenvolvimento das cirurgias do Sistema Nervoso Periférico e ampliação das técnicas de reparo nervoso,
acentuaram ainda mais a importâncias deste tipo de anastomose. O objetivo deste trabalho é de apresentar mais subsídios
referentes ao tema, com vista a ampliar e enriquecer os conhecimentos dos profissionais da área da saúde.
Poster 03.02
DIFERENTES
EMVOLVENDO
TAREFAS
EM
INTERLA TERAIS
MOTORAS
ASSIMETRIAS
COMPLEXIDADES E CONDIÇÕES DE RESPOSTA
ALOUCHE, SR; RIBEIRO-DO-VALLE, LE
USP São Paulo
Assimetrias interlaterais em movimentos dos membros superiores foram estudadas. Os fatores que podem
influenciar tais assimetrias foram examinados. Os sujeitos foram testados em três tarefas. Cada uma delas envolvia uma
diferente seqüência de submovimentos, representando um certo grau de complexidade. Estas seqüências foram apresentadas
visualmente por meio de diodos de emissão de luz (LEDs) e deviam ser reproduzidas através de movimentos do dedo médio
(condição distai) ou de todo o membro superior (condição proximal) que ativavam chaves ópticas. Estes movimentos foram
realizados com o membro superior direito, com o membro superior esquerdo ou com ambos, simultaneamente. Um LED
central servia como indicador do momento da resposta. O tempo de reação, tempo pré-motor, tempo de reação motor bem
como o tempo de movimento, foram medidos. A iniciação do movimento foi geralmente mais rápida do lado esquerdo e esta
diferença era principalmente relacionada ao tempo de reação motor. Diferenças interlaterais também ocorreram para o tempo
de movimento. Neste caso, o lado direito foi mais rápido. Tais diferenças no tempo de movimento se reduziram durante o
movimento bilateral, mostrando uma tendência à sincronização dos submovimentos. O tempo de reação (tempo pré-motor e
tempo de reação motor) foram mais longos para as duas seqüências mais complexas do que para a mais simples,
demonstrando que a complexidade da tarefa interfere no tempo para sua programação. O tempo pré-motor foi mais longo
Estes
para os movimentos distais enquanto o tempo de reação motor foi mais longo para os movimentos proximais.
dos
movimentos
dos
execução
e
iniciação
de
tempos
nos
direita-esquerda
assimetria
significante
uma
mostram
achados
membros superiores. Tal assimetria está possivelmente relacionada às diferentes complexidades dos mecanismos de controle
motor envolvendo os dois hemisférios cerebrais.
Poster 03.03
AQUISIÇÃO PRECOCE DA MARCHA EM PACIENTES COM MIELOMENINGOCEL
ALMEIDA, VANESSA E HABIB, EMILY SOBREIRA
Este trabalho tem por objetivo mostrar: 1- A marcha em pacientes com diferentes níveis de má formações medulares
congênitas. 2- O uso precoce de órteses possibilita o ortostatismo e minimiza as deformidades ortopédicas, consequente às
paralisias musculares. 3- O ortostatismo precoce antecipa a aquisição da marcha. 4- A marcha adquirida precoce e
corretamente promove maior independência. 5- A independência precoce favorece maior desenvolvimento cognitivo-social.
Os dados foram coletados no período de 1990 a 1998, no Ambulatório Affonso Silviano Brandão da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no serviço de Fisioterapia, que atende à comunidade de baixa renda. Foi
realizado um estudo retrospectivo em pacientes com seqüela de mielomeningoceles. Foram considerados os níveis de lesão
tóraco-lombar, lombar-alta e lombar-baixa, os distúrbios associados neurológicos, ortopédicos e renais, o início e tipo de
programa de reabilitação utilizado. A idade da aquisição da marcha em 90% dos casos foi entre 3 a 4 anos e todos estão em
escolas regulares com bom acompanhamento. Este resultado encontrado demostra que a idade e a eficiência da marcha
desenvolvida está diretamente relacionada com a utilização de um programa de reabilitação voltado para a preparação do
ortostatismo precoce.
63
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.04
CONSISTÊNCIA DOS RESULTADOS DO TESTE DE CORRIDA EM ZIG-ZAG DE BARROW (MODIFICADO)
EM JOGADORES DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
BELAS CO JUNIOR, D. *; SILVA; A. C. **
*UNIFESP-Universidade Federal de São Paulo, UNIB-Universidade Ibirapuera e UNISA-Universidade de Santo Amaro;**
UNIFESP-Universidade Federal de São Paulo
Atualmente é crescente o número de praticantes de esportes coletivos para portadores de deficiência física, sendo o
basquetebol em cadeira de rodas (BCR) um dos mais populares. A agilidade é um dos componentes da aptidão física
necessária para a prática do BCR. Na literatura há uma lacuna em estudos sobre a agilidade em esportes adaptados à cadeira
de rodas. O objetivo desta investigação foi verificar a consistência dos resultados do teste de agilidade de Barrow (Research
Quart 25:253-260, 1954), modificado para cadeira de rodas. A amostra constou de 11 atletas de BCR, com idade entre 19-40
anos, com seqüelas de poliomielite (n=S), lesão medular (n=2) e amputação (n=l). Estes jogadores foram submetidos a
execuções do teste de corrida em zig-zag de Barrow, com dimensões adaptadas de 6m X 9m, em duas sessões (intervalo de 7
dias), executando 3 repetições em cada sessão precedidas de um treinamento prévio, sendo utilizadas para as análises o menor
tempo em cada dia. A comparação dos melhores resultados em cada sessão foi feita através de teste t para amostras
dependentes e correlação de Pearson (p<0,05). Resultados: Testei= 15,91±1,35s e Teste2= 15.56±1.37s. As diferenças entre
os testes não foram significantes (p<0,05), além de terem sido altamente associadas (r=0,95). Os resultados sugerem que o
teste aplicado é capaz de discriminar a agilidade em jogadores de BCR, sendo de importância fundamental sessões de
aprendizado do mesmo antes da execução do teste propriamente dito.Formato do Teste de Barrow modificado
Poster 03.05
UM POSSÍVEL MODELO DO COMPORTAMENT O DE ADERÊNCIA À FISIOTERAPIA DE PACIENTES
COMPROMETIDO S POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.
BERNARDES, A. A.; INOVE, M. M. E. A.
:Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru-SP.
O Acidente Vascular Cerebral (A VC), popularmente "derrame", é um termo usado para designar um quadro clínico
de disfunção neurológica aguda decorrente de uma lesão vascular sobre uma determinada área do cerebro. É uma doença de
maior incidência nos países onde há problemas de saneamento básico e de alta mortalidade. As seqüelas decorrentes de um
AVC podem ser distúrbios de consciência e fala, paralisia, paresia (perda parcial motora e sensorial), espasticidade, disfunção
cognitiva, instabilidade emocional entre outros. Sabemos que a reabilitação motora envolve a reaprendizagem de atividades
de vida diária, capacidade de raciocínio, habilidades sociais e não apenas a realização de exercícios. Para que ocorra uma
melhor reabilitação, a relação entre terapeuta-paciente deve ter confiança, calor humano, autenticidade, respeito à sua
individualidade e empatia. O paciente sentir-se-á motivado quando se sentir consciente e encorajado em seu tratamento.
Diante do avanço médico-tecnológico há uma maior expectativa de vida das pessoas, assim, temos um maior número de
indivíduos idosos e mais sobreviventes após um AVC, por isso a padronização do nível salarial e a melhora no entendimento
de fatores psicológicos são importantes na reabilitação do indivíduo com AVC, e consequentemente em sua qualidade de
vida. Neste estudo apresentamos conceitos de aderência, como um comportamento de adesão do inglês "compliance" como
um processo consciente do paciente para o cumprimento de recomendações e de ter um papel ativo diante da fisioterapia e
integrá-la ao seu hábito de vida. Oito pacientes com AVC divididos em dois grupos institucionalizados e nãoinstitucionalizados em atendimento fisioterápico fizeram parte da pesquisa com o objetivo de elaborar um possível modelo do
comportamento de aderência e não-aderência dos pacientes ao processo de reabilitação física. O instrumento utilizado para a
coleta de dados foi um questionário que os pacientes responderam proporcionando a formação de algumas categorias, como:
freqüência 'a terapia, importância da fisioterapia, relação terapeuta-paciente, dificuldades do paciente, perspectivas futuras,
satisfação, percepção de suas capacidades motoras. Estas categorias formadas demonstram os fatores de influência no
comportamento de aderência. Dessa forma, analisando os resultados observamos que os participantes da pesquisa em geral
possuem uma adesão à terapia física, frequentando as sessões quatro ou três vezes por semana, quando faltam é devido a um
resfriado, mal-estar, e outros motivos, como depressão, relatado como "nervoso". A maioria está satisfeita com sua
fisioterapia, mas um participante não. Também percebemos que os pacientes não-institucionalizados desejam receber alta o
quanto antes do tratamento, enquanto os institucionalizados desejam continuar com a fisioterapia. Todos consideram a
fisioterapia importante, estão satisfeitos com o terapeuta, com exceção de um. As dificuldades em relação à fisioterapia
concernem ao oferecimento do serviço a todos _de maneira regular, que nem sempre é possível. Para a maioria, sua capacidade
motora melhorou comparada ao início do tratamento, mas sentem que querem melhorar ainda mais. Concluimos que mais
estudos são necessários para que se evidencie o significado do comportamento "aderente" à fisioterapia no sentido de
identificar as variáveis que compõem tal comportamento, buscando um modelo próximo do real, respeitando a
individualidade de cada paciente e ao mesmo tempo havendo uma harmonia da fisioterapia em sua vida como parte de sua
rotina para manutenção ou melhora de sua qualidade de vida.
BERNARDES, A. A. é aluna de graduação do curso de fisioterapia da USC- Bauru
INOVE, M. M. E. A. professora deste curso e orientadora desse trabalho de conclusão de curso.
64
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.06
A INTEGRAÇÃO ENTRE A FISIOTERAPIA E A ORTODONTIA NAS DESORDENS CRANIOMANDIBULARES
D. A. BIASOTTO; F. C. M. ANTUNES; A. C. B. A. ORTEGA; T. O. GONZALEZ; F. BÉRZIN.
FOP- UNICAMP- Piracicaba- SP.
Objetivo: Buscou-se no presente trabalho revisar alguns elementos conceituais referentes à articulação
temporomandibular (ATM), e estudar as etiologias das Desordens Craniomandibulares (DCM). Métodos e Resultados Foi
analisado o caso de um paciente, sexo feminino, 33 anos, portadora de DCM bilateral, tipificada com formações aderenciais,
localizadas no compartimento articular superior, com indicações de tratamento ortodôntico e fisioterápico, apresentando um
padrão respiratório parcialmente bucal, oclusão classe 11, ausência de alguns dentes e comprometimento postura! típico de
pacientes com DCM. Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos foram adotados a partir de análise clínica e exames
complementares (Eletromiografia (EMG), Radiografias das ATMs, Radiografia Panorâmica e Ressonância Magnética), pelo
ortodontista em conjunto com a fisioterapeuta, obtendo-se diminuição da aderência articular, equilíbrio da musculatura
mastigatória, aumento da abertura bucal, alívio da dor e correção da postura viciosa. Os procedimentos terapeuticos adotados
foram placa estabilizadora, aparelhos ortodônticos fixos (técnica "STRAIGHT - WIRE"), eletroterapia, termoterapia,
cinésioterapia, massoterapia. Discussão: Segundo BELL(1989), depois das odontalgias, a DCM é identificada como o
principal fator causal das dores orofaciais, sendo uma sub-classificação das doenças músculo-esqueléticas. A etiologia das
DCMs é considerada multifatorial (OKESON, 1998). Além disso não há consenso entre autores e clínicos quanto aos sinais e
sintomas precisos, que caracterizam as DCMs. Da mesma forma, OKESON (1992) observou uma grande variação na
frequência e intensidade destas manifestações. Por todos esses fatores torna-se necessária uma abordagem interdisciplinar. Os
bons resultados terapêuticos obtidos com a paciente comprovam a eficácia de um trabalho integrado entre a ortodontia e a
fisioterapia mesmo para casos mais graves de DCM, como os de aderências intracapsulares crônicas.
Referências Bibliográficas
01- Bell W.E.: Orofacial Pains. Classification. Diagnosis. Management. Chicago, Year Book Medicai Publisher, 1989.
02- Okeson J. P.: Fundamentos de Oclusão e Desordens Temporo-Mandibulares. São Paulo. Artes Médicas.1992.
03 - Okeson J.P. ed. : Dor Orofacial, Guia de Avaliação, Diagnóstico e Tratamento (The American Academy of Orofacial
Pain). São Paulo. Quintessence Eidora Ltda., 1998.
Poster 03.07
MÚSCULOS PARA VERTEBRAIS E O MOVIMENTO DA COLUNA VERTEBRAL
BOJADSEN, THAIS WEBER DE ALENCAR I*, ERASMO SIMÃO DA SILVA2, ALDO JUNQUEIRA RODRIGUES
JR2, ALBERTO CARLOS AMADIOI.
2
1
Laboratório de Biomecânica, Escola de Educação Física e Esportes, USP, Departamento de Cirurgia, Faculdade de
Medicina, USP
INTRODUÇÃO: Os músculos que formam a massa paravertebral tem sua função naturalmente atribuída a
estabilização e ao movimento intervertebrar (MOORE, 1994). Na tentativa de melhor compreender como estes músculos
realizam estas funções, este trabalho se propõe a anali.sar os músculos paravertebrais através da dissecção de cadáveres frescos.
METODOLOGIA: O estudo anatômico dos músculos paravertebrais foi realizado no Serviço de Verificação de Obtos (SVO)
do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foram dissecados 12 cadáveres frescos,
com tempo de óbto inferior a 12 horas. Com técnica cirúrgica foram realizadas incisões medianas sobre os processos espinhosos
da região sacra! até a cervical. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através das dissecções realizadas é possível observar que a
musculatura paravertebral apresenta adaptações conforme a região que atravessa. Na região lombar, onde as maiores amplitudes
de movimento correspondem à flexo-extensão (WHITE & PANJABI, 1990), há um predomínio de feixes posicionados
verticalmente em relação ao eixo central da coluna (Mm. ílio-costal e dorsal longo). O M. Transverso espinhal, formado por
músculos oblíquos e responsáveis pela rotação axial, neste segmento é representado exclusivamente pelos Mm. multífidos cujos
feixes apresentam-se posicionados próximos a vertical. Entre L5 e Sl, articulação com maior amplitude de flexão e extensão na
coluna lombar, os Mm.multífidos apresentam-se completamente verticalizados em relação ao eixo central da coluna. Nas
vértebras torácicas inferiores, onde a amplitude de flexão é semelhante a de L5-Sl, observamos mais uma vez feixes
verticalizados dos Mm. multífidos. Acima de TlO, onde as articulações passam a apresentar menor amplitude de flexão e
progressivamente maior amplitude de rotação axial o M. transverso espinhal passa a ser representado pelos Mm. rotadores, semiespinhal e multífidos, sendo que este último apresenta-se progressivamente mais oblíquo a medida que se torna mais proximal.
Na coluna cervical inferior, as articulações apresentam as maiores amplitudes de toda a coluna para a inclinação lateral e para a
flexo-extensão, além de apresentarem amplitude de rotação próxima a observada na coluna torácica. Neste segmento podemos
observar que os Mm.multífidos e rotadores encontram-se praticamente horizontalizados em relação a coluna e são recobertos por
músculos cuja posição em relação à coluna alterna-se da seguinte forma: M. semi-espinhal do pescoço (oblíquo), M. semiespinhal da cabeça (vertical), M. longo da cabeça (vertical) e esplênio da cabeça (oblíquo). Considerando que quanto mais
vertical é um músculo em relação a articulação mais ele se relaciona com a flexo-extensão e quanto mais oblíqua sua posição,
maior seu papel na rotação da articulação (GARDNER, 1971) podemos inferir que os músculos que formam a massa
paravertebral parecem apresentar adaptações específicas ao longo da coluna vertebral de acordo com as características de
movimento de cada segmento da coluna vertebral. Acreditamos que estas adaptações devem ser levadas em consideração para a
prescrição de exercícios dentro de um programa de reabilitação.
65
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GARNDER, E.; GRA Y, J. D.; O'RAHILLY, D. Anatomia-Estudo Regional do Corpo Humano. Guanabara Koogan 3 ed, RJ,
1971.
MOORE, K. R. Anatomia Orientada para a Prática. Guanabara Koogan, RJ, 1994.
WHITE, A. A.; PANJABI, M.M. Clinicai Biomechanics ofthe Spine. J. B. LIPPINCOTT Company, Philadelphia, 1990.
Poster 03.08
ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO, POR MEIO DE FOTOGRAMETRIA COMPUTADORIZA DA, EM
INDIVÍDUOS DEFICIENTE VISUAIS
LÍGIA MARIA PRESUMIDO BRACCIALLI*, MÁRIO ANTÔNIO BARAÚNA**, ROSIMEIRE SIMPRINI***
Unesp Marília
A literatura relata que os inputs proprioceptivos tem menor importância na manutenção do equilíbrio, que as
informações visuais, pois após a completa destruição do aparelho vestibular e a perda da informação proprioceptiva do corpo,
o indivíduo consegue manter o equilíbrio por meio dos mecanismos visuais. Mesmo pequenos movimentos lineares ou
angulares do corpo desviam as imagens visuais sobre a retina. Desta forma a informação é enviada aos centros superiores do
equilíbrio, onde respostas adaptativas são elaboradas e transmitidas aos órgãos efetores. Baseado nessas informações a
deficiência na acuidade visual estaria correlacionada com o aumento dos movimentos oscilatórios do corpo em uma
superfície de apoio e com o aumento no número de quedas durante situações de desequilíbrio. O propósito deste trabalho foi
analisar o equilíbrio estático de indivíduos deficientes visuais, quantificar o grau de oscilação anterior e posterior na postura
estática e comparar com o grau de oscilação em indivíduos normais. Foram sujeitos do trabalho 4 indivíduos deficientes
visuais, congênitos ou adquiridos, faixa etária entre 31 e 41 anos, de ambos os sexos. Analisou-se quantitati vamente, por
meio de registro fotogramétrico, o grau de deslocamento da oscilação anterior e posterior do corpo em uma superfície de
apoio e comparou-se com o grau de movimentos oscilatórios existentes em indivíduos normais. Posteriormente realizou-se a
análise de dados e o tratamento estatístico. Os resultados encontrados sugerem que a acuidade visual é um importante
mecanismo de controle postura! e que a sua falência seria responsável pelo aumento no grau de deslocamento da oscilação
anterior e posterior do corpo em um superfície de apoio, estando, portanto, correlacionado com o aumento de quedas em
indivíduos com deficiência visual.
*Professora do Departamento de Educação Especial - UNESP - Marília
Doutoranda em Educação Física- UNICAMP - Campinas
**Doutor em Motricidade Humana - Lisboa- Portugal
Coordenador de Pesquisa da FIT- MG.
***Aluna do 4"ano do curso de graduação em Fisioterapia na Universidade de Marília
Estagiária extra-curricular do Centro de Orientação Educacional - UNESP - Marília
Poster 03.09
PROPOSTA DE UM MANUAL PARA AVALIAÇÃO E ESTIMULAÇÃO DE BEBÊS DE RISCO A SER
UTILIZADO POR MÃES EM PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS.
BREDARIOL, ANA CLAUDIA P.; DIAS, TÁRCIA R. S
(Centro de Educação Especial Egydio Pedreschi - Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação de Ribeirão Preto I Programa
de Pós Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, Brasil)
A exposição deste trabalho fundamenta-se na experiência com grupos de mães de bebês de risco realizado desde
outubro de 1995 até os dias atuais pelo Programa de Educação Preventiva (PEP) no município de Ribeirão Preto, São Paulo,
Brasil. O programa está embasado em práticas neuroevolutivas de intervenção precoce aplicadas através de uma orientação
adequada prestada desde os primeiros meses de vida ás famílias, mais precisamente à mãe, principalmente nos cuidados
diários destinados ao bebê de risco. A prática deste trabalho, com bebês de risco, tem caráter preventivo e permite acesso a
todos os recém nascidos de risco do município e região. Para o acompanhamento sistemático mãe-bebê, o programa elaborou
um manual destinado a avaliação e seguimento, com instruções para atividades a serem realizadas pelas mães com seus
bebês. O manual se configura como um guia ilustrado das aquisições psicomotoras em cada área e etapa do desenvolvimento
do bebê de O a 12 meses. A utilização deste instrumento oferece condições para o acompanhamento das mães no que se refere
a evolução e aplicação de estratégias de estimulação do bebê; permite a avaliação e seguimento do bebê de risco através de
procedimentos simples executados pelas mães; possibilita a identificação de aquisições e dificuldades específicas que o bebê
possa vir a apresentar. A aplicação do manual se dá em grupos de mães-bebês de risco coordenados por profissionais de
Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Esses grupos de mães-bebês tem retornos mensais, onde um
acompanhamento é feito através da observação das aquisições ou dificuldades apresentadas por cada bebê. Essa observação é
conduzida pelos profissionais e registrada pela mãe no manual ilustrado. Dependendo do desempenho do bebê os
profissionais indicam estratégias, recursos e atividades a serem realizadas pelas mães para facilitar o desenvolvimento das
áreas defasadas e avançar nas áreas já conquistadas. Através da aplicação sistemática do material pode-se atingir e
sensibilizar as mães quanto a importância da estimulação para um desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Observou-se
ainda que com o material, mães com níveis de instrução baixo e até não alfabetizadas conseguiram acompanhar o
desenvolvimento do seu bebê assim como aplicar-lhes atividades específicas para seu nível de desenvolvimento, avaliando as
condições neuropsicomotoras de seu filho. Portanto, usando esse manual, o profissional atua no sentido de guiar a mãe para
66
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
que a mesma seja agente no processo de estimulação do bebê de risco, tornando-a capaz de avaliar seu bebê para
posteriormente determinar qual o tipo de atividade e/ou estímulo que o mesmo venha necessitar. Conclui-se, ainda, que a
estruturação de um modelo de manual para pais, vem emiquecer os programas de estimulação /intervenção precoce
reforçando a tendência dos modelos integrativos de atuação, onde existe a relação direta da equipe de profissionais com ·a
família no processo de diagnóstico e intervenção com o bebê de risco.
Poster 03.10
ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DOS MÚSCULOS VASTO MEDIAL OBLÍQUO E VASTO LATERAL
LONGO DURANTE EXERCÍCIOS REALIZADOS NO LEG-PRESS VARIANDO AS ROTAÇÕES DA TÍBIA
CABRAL CRISTINA MARIA NUNES*; FÁBIO VIADANNA SERRÃO**; FAUSTO BÉRZIN***; RODRIGO JOSÉ
BENEDITO GARDELIM****; IVANA A. GIL***; DÉBORA BEVILAQUA- GROSSO***; VANESSA MONTEIROPEDRO**.
*Laboratório de Avaliação e Intervenção em Ortopedia e Traumatologia - Universidade Federal de São Carlos;
**Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal de São Carlos; ***FOP/ Universidade Estadual de Campinas. São
Paulo- Brasil; ****Departamento de Estatística- Universidade Federal de São Carlos.
OBJETIVO: Este estudo teve como proposta a avaliação da atividade eletromiográfica dos músculos vasto mediai
oblíquo (VMO) e vasto lateral longo (VLL) durante exercícios de contração isométrica com resistência máxima (CIRM) a 90°
realizados no Leg-Press horizontal (VIT ALLY), variando a posição da tíbia em rotação neutra e rotação mediai.
MÉTODOS: A atividade eletromiográfica dos músculos VMO e VLL foi investigada em 12 indivíduos não sedentários com
idade variando de 18 a 23 anos (X= 21.9; ±= 1.16) sem qualquer história de lesão no membro inferior esquerdo, usando um
Conversor Analógico-Digital de 16 canais com programa de Aquisição de Dados (CAD 12/36- 60K- AqDados 4.7- LYNX
Tecnologia Eletrônica Ltda) e eletrodos de superfície diferenciais (DELSYS Inc.).O exercício realizado foi o de CIRM de
extensão do joelho com as articulações do quadril e joelho flexionadas a 90° e a tíbia em rotação neutra e mediai. Os registros
eletromiográficos foram mensurados pela raiz quadrada da média (RMS) expressos em jlV e normalizados como
porcentagem da contração isométrica voluntária máxima (CIVM) de extensão do joelho com quadril e joelho flexionados a
90° realizada no Leg-Press. A análise estatística empregada foi o teste t de Sudent em nível de 5% de significância.
RESULTADOS: Os resultados mostraram que a atividade eletromiográfica do músculo VLL apresentou uma diferença
estatisticamente significativa (p= 0,019) no exercício de CIRM a 90° realizado em rotação mediai quando comparado com a
rotação neutra. Por outro lado, o músculo VMO não apresentou diferença significativa (p= 0,13) na atividade
eletrorniográfica tanto em rotação interna quanto na neutra. CONCLUSÕES: Estes achados, dentro das condições
experimentais utilizadas, sugerem que o músculo VLL - enquanto componente do músculo quadríceps e estabilizador-lateral
do joelho- poderia ser recuperado funcionalmente com os exercícios de CIRM a 90° com a tíbia em rotação mediai. Nossos
dados sugerem ainda que a variação da tíbia no exercício de CIRM a 90° para o músculo VMO não o recupera seletivamente.
Esta pesquisa foi conduzida de acordo com o Conselho Nacional de Saúde (Resolução N° 196/96).
APOIO FINANCEIRO: !C- Projeto Integrado de Pesquisa W524-190!96-8- CNPq.
Poster 03.11
PROPRIOCEPÇÃO ARTIFICIAL EM PACIENTES LESADOS MEDULARES
CASTRO. MARIA CLAUDIA F.; PETERSON V. MOREIRA; HENRIQUE L. CARVALHO & ALBERTO CLIQUET
JR.
DEBIFEECIUNICAMP
Introdução: As lesões medulares não afetam somente as funções motoras mas também as funções proprioceptivas.
Um programa de reabilitação motora baseado em Estimulação Elétrica Neuromuscular deve também prever a restauração da
sensação do movimento produzido artificialmente. A sensação tátil, devidamente codificada, pode servir como um canal de
entrada sensorial alternativo. Quando dois estímulos elétricos são aplicados na pele simultaneamente e em locais adjacentes
eles são percebidos como uma sensação única em uma região intermediária, denominada sensação fantasma. Estendendo esse
conceito é possível evocar uma imagem composta em movimento quando a intensidade dos estímulos variam de forma
complementar. Essa imagem, decorrente do Fenômeno Phi Táctil, aparece então, como um método promissor em aplicações
que envolvam realimentação sensorial. Metodologia: O sistema proposto compõe-se de um estimulador de tensão baseado no
Fenômeno Phi Tactil comandado por um Notebook . O estimulador possui três canais de saída independentes gerando pulsos
de largura e frequência fixas (100 • s, 100Hz) modulados em amplitude por um sinal de envoltória elíptica com frequência
de 1 Hz. Para a evocação da imagem composta em movimento é necessário uma defasagem de 180° entre canais adjacentes.
O sistema possui entradas para sensores que serão utilizados como elos de realimentação. Para membros inferiores, propõe-se
a codificação da fase de balanço da marcha através da utilização de uma palmilha instrumentalizada. Quando o pé do paciente
deixa o solo uma imagem composta é evocada na região de seu ombro de maneira a eliminar a necessidade do paciente ficar
olhando para os seus pés. No caso de membros superiores, a força de preensão foi codificada através de uma luva
instrumentalizada. Nesse caso, a resposta dos sensores definem a amplitude relativa do sinal de cada um dos canais. O ombro
foi a região selecionada uma vez que a maioria dos pacientes lesados medulares (a partir de CS) mantém a sensibilidade
preservada nesta região. Os experimentos foram realizados em voluntários normais para se verificar a eficácia e viabilidade
de aplicação do sistema. Resultados: O aumento gradativo da intensidade do estímulo possibilitou verificar diferentes
percepções iniciando com pontos localizados, passando a uma reta sendo desenhada sobre a pele até o desenho de uma elipse.
67
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Os voluntários descreveram a sensação como sendo de pressão movendo-se sobre a pele desenhando a figura. Com níveis de
carga mais elevados a sensação de pressão sentida tornou-se mais profunda, passando a uma sensação desconfortável até
atingir o chamado limiar de dor. Para intensidades diferentes em cada um dos canais as sensações descritas variaram desde a
interrupção da elipse, na região correspondente ao canal cujo estímulo atingiu níveis sub-limiares até uma pressão maior na
região correspondente ao canal de maior intensidade. A segunda fase correspondeu à codificação das informações
transmitidas pela palmilha e pela luva. No primeiro caso uma única imagem era evocada logo no início da fase de balanço,
quando o pé deixava o solo e cessava quando o calcanhar tocava o chão. A codificação da força de preensão baseou-se na
variação da intensidade do estímulo de cada canal a partir da resposta individual de cada um dos sensores. Os voluntários
relataram a possibilidade de perceber qual o dedo que exercia a maior força e uma interrupção do traçado da elipse quando
um dos dedos deixava de exercer força contra o objeto. Conclusões: O sistema desenvolvido possibilitou a obtenção da
imagem composta em movimento e variações de intensidade de sensação e tamanho da imagem evocada em função dos
parâmetros utilizados. Além disto, a codificação da informação sensorial mostrou ser de fácil interpretação e fiel ao
movimento o qual estava descrevendo. Baseado nos resultados apresentados pode-se então dizer que o método utilizado é
eficiente quanto ao fornecimento de realimentação sensorial sendo viável a sua aplicação em sistemas de reabilitação de
lesados medulares
Poster 03.12
AVALIAÇÃO DA PREENSÃO DE TETRAPLÉGICOS SOB ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NEUROMUSCULAR
CASTRO MARIA CLAUDIA F. & ALBERTO CLIQUET JR.
DEB!FEECIUNICAMP,
Introdução: A função mais importante dos membros superiores está relacionada a preensão e manipulação de
objetos. A Estimulação Elétrica Neuromuscular é um método eficiente na restauração de movimentos de membros
paralizados. Contudo, para o controle efetivo do movimento o sistema deve regular a atividade muscular sob diferentes
condições de comprimento, carga e fadiga. Com esse propósito a avaliação em tempo real do movimento obtido
artificialmente é necessária. Esse trabalho apresenta uma aplicação da Estimulação Elétrica Neuromuscular na reabilitação de
membros superiores e introduz um método para a avaliação em tempo real da variação da força de preensão. Metodologia: O
sistema utilizado compõe-se de um estimulador de tensão de oito canais controlado por um notebook. O sistema é muito
versátil a medida que permite alteração dos parâmetros de estimulação (largura de pulso, amplitude, frequência, número de
pulsos por burst) e da sequência temporal de ativação muscular. A amplitude foi ajustada individualmente para cada músculo.
O voluntário que realizou os testes apresenta lesão medular aos níveis C5-C6. Mantém preservada a função do ombro e
cotovelo e um certo nível de extensão de punho residual. Os grupos musculares selecionados para preensão cilíndrica foram:
Extensor Radial do Carpo, Extensor Comum dos Dedos, Flexor Superficial dos Dedos, Lumbricais, Abdutor Curto e
Oponente do Polegar. Uma sequência tempo-espacial foi definida a partir da divisão do movimento em sub-fases (abertura,
posicionamento, preensão e liberação) possibilitando a coordenação do movimento. A avaliação da força de preensão durante
a manipulação do objeto foi realizada com a utilização de uma luva com sensores na região palmar da falange mediai dos
dedos indicador e médio e na face lateral interna da falange distai do polegar. Resultados: A sequência proposta permitiu ao
paciente demonstrar sua habilidade em pegar, manipular e liberar os objetos apresentados através de um movimento suave. O
objeto manteve-se firme e estável na mão do voluntário durante a manipulação (Figura 1). A aplicação do sistema de
realimentação de força de preensão resultou num padrão estável diferente do obtido anteriormente com sujeitos normais
(Figura 2).
···--··· ...
Médio:
~
..
!::!'
o
4
Polegar .
u..
Tempo(s)
Figura 1 - Preensão Cilíndrica
"
Figura 2 - Força de Preensão.
Conclusões: A sequência proposta viabilizou a preensão de objetos cilíndricos de diferentes tamanhos, além de
possibilitar um movimento suave. A luva instrumentalizada mostrou-se versátil para a aplicação de preensão cilíndrica mas
para outros padrões de preensão novos sensores deverão ser adicionados a fim de se manter contato com o objeto. De
qualquer modo, a luva instrumentalizada conferiu uma fiel representação da força de preensão podendo portanto ser utilizada
como elo de realimentação para sistemas de controle.
68
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.13
INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBIO NAS RESPOSTAS DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA E DA
PRESSÃO ARTERIAL EM HIPERTENSOS
1 CATAI; A. M.,l SILVA; E., 2 FERREIRA FILHO, P., 2 BERETA, E.M.P., 3 GALLO JÚNIOR, L.
!.Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular, Depto. de Fisioterapia, UFSCar, São Carlos, SP. Brasil; 2 Depto. de Estatística,
UFSCar. 3Divisão de Cardiologia, Depto. de Clínica Med. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, SP, Brasil.
INTRODUÇÃO: Estudos epidemiológicos realizados nos últimos anos apontam a hipertensão arterial sistêmica,
associada a outros fatores de risco, como responsável pela elevada taxa de morbidade e mortalidade atribuída à doença
cardiovascular. A literatura refere que o exercício físico têm importante papel na terapêutica da hipertensão arterial.
OBJETIVO: O propósito deste estudo foi de verificar as adaptações da freqüência cardíaca (FC) e da pressão arterial (P A)
sistêmica de hipertensos submetidos a treinamento físico aeróbio de baixa intensidade e longa duração. MA TERIA L E
MÉTODOS: Foram estudados 10 voluntários portadores de hipertensão arterial essencial de grau leve, com padrão de vida
sedentário, sendo 5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idade média de 45 anos. Os voluntários foram submetidos a
2 testes de esforço físico dinâmico em bicicleta ergométrica de frenagem eletromagnética (Quinton Corival 400) sendo: a)
protocolo degrau contínuo com variação de potência de 25 em 25 watts (W) até que atingissem a exaustão física e/ou
apresentassem sinais ou sintomas de intolerância ao esforço; b) protocolo descontínuo com variações de potência de 25 em 25
W durante 4 min em cada nível de esforço, nas condições antes (AT) e após (PT) o período de tratamento com exercício
físico dinâmico. A P A foi medida nas condições controle e nos 30 s finais de cada nível de esforço. O ECG foi registrado
continuamente durante cada nível de esforço. Foram calculados os valores médios de FC, a cada 5 s, a partir dos intervalos RR do ECG. A intensidade do treinamento físico aeróbio foi prescrita entre 70 a 85% da FC máxima atingida no teste de
protocolo contínuo. Cada sessão teve uma duração de 60 min, 3 vezes por semana, ao longo de 24 semanas. O programa de
treinamento aeróbio constou de exercícios dinâmicos livres, localizados, em bicicleta ergométrica, bem como trotes e
caminhadas. RESULTADOS: Os resultados obtidos, expressos em mediana, durante o repouso foram: a) bradicardia de
repouso foi maior nos homens que nas mulheres; b) diminuição da PAS e PAD em ambos os grupos, porém foi maior para os
homens. Durante o esforço físico verificou-se: a) o incremento rápido de freqüência cardíaca (O - 10 s), vago dependente,
aumentou no PT apenas para o grupo dos homens; b) o incremento lento da FC (1 - 4 min), simpático dependente, para
ambos os sexos foi menor no PT do que no AT; c) diminuição significativa do delta total da FC (O- 4 min) para ambos os
sexos nas potências de 25, 50 e 75 watts (p < 0,05); d) redução significativa da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) para ambos os sexos, nas potências de O, 25 e 50 W (p < 0,05); e) nenhuma alteração da PAS e PAD nas potências de
75 e 100 W. CONCLUSÃO: Estes resultados sugerem que o treinamento físico de baixa intensidade e longa duração induziu
alterações nas variáveis estudadas.
Apoio Financeiro: CNPq. Proc. No. 520.686/95-0.
Poster 03.14
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM COORDENAÇÃO MOTORA DE BEZIÉRS EM PACIENTES COM
SÍNDROME DO RESPIRADOR BUCAL
COSTA, JECILENE ROSANA, USP
Síndrome do Respirador Bucal (SRB) caracteriza-se por diversas alterações no organismo decorrentes da falta total
ou parcial da respiração nasal. Visando demonstrar a importância da atuação fisioterápica integrada à equipe multidisciplinar
no tratamento adequado da SRB foi desenvolvido, em dois pacientes portadores de maloclusão do tipo classe 11 divisão 1" de
Angle e SRB, o tratamento fisioterápico através da técnica de correção postura! por cadeias musculares de Leopold Busquet,
bem como através da técnica de coordenação motora de Beziérs e Piret para, simultaneamente ao tratamento ortodôntico,
corrigir as alterações descritas nesta Síndrome. Como resultado final obteve-se melhora satisfatória no padrão respiratório,
na musculatura e mímica facial. Quanto ao aspecto postura!, as técnicas empregadas não foram eficazes para reverter todas as
alterações observadas: verificou-se diminuição da cifose dorsal e da hiperlordose lombar, não se alterando porém, a escoliose.
Poster 03.15
"0 'EU CORPORAL' EM TERAPIA MORFOANALÍTICA"
DIEFENBACH NEIDE, UFRGS
Esta investigação teve como tema vivências corporais sustentadas no método da Terapia Morfoanalítica submetido
ao programa de mestrado em Ciências do Movimento Humano. Uma proposta de formação continuada para aqueles que tem
o corpo em contato direto com o "outro", seja ele educacional e/ou terapêutico, priorizando o contato consigo mesmo para
entender o sentido existencial da abordagem corporal. Onde o problema foi reconhecer os significados e influências do "eu
corporal" em Terapia Morfoanalítica? E os objetivos, Investigar sobre as vivências corporais, registrar e reconhecer as
implicações do trabalho na conduta pessoal e profissional, identificar os elementos essenciais do quadro terapêutico e a
verdade do eu corporal no processo psicocorporal. A metodologia contemplou as características da pesquisa qualitativa de
nível exploratória descritiva, a coleta de informações foi através de entrevistas, observações, desenhos e análise dos
documentos, referenciados pelos próprios voluntários na sua expressão e linguagem corporal.. A fundamentação teórica foi
baseada no método da Terapia Morfoanalítica (Peyrot), com os aspectos psicofísicos do ser humano (Sarkissof), na
consciência corporal (Beziers, Visnhivetz), imagem corporal (Schindler, Dolto) e integração da imagem e ação (Lapierre,
Negrine). As discussões e resultados dimensionaram a complexidade global e analítica do corpo humano nas vivência
69
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
corporal, revelando as vias de acesso ao ser humano, a priori o corpo real, vivenciado, emocional e relaciona!, com
verbalizações e expressões profundos do "eu", enquanto consciência e imagem corporal nas relações consigo mesmo e com o
outro. O estimulo proprioceptivo foi elemento de contato com o conteúdo que pôde ser vivenciado e expressado e
comunicado por intermédio da vivência corporal dando lugar a uma forma mais reencontrada em si mesmo. O corpo
encontrou no chão o apoio, no toque a realidade e na palavra o convite ao contato com a verdade e a manifestação mais
autêntica do "eu" .
Poster 03.16
O EFEITO DO ULTRA-SOM TERAPÊUTICO NA VASCULARIZAÇÃO PÓS LESÃO MUSCULAR
EXPERIMENTAL EM COELHOS.
DIONÍSIO, V. C.**, VOLPON J.B.,
Professor de Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Traumatologia da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP e Aluno do
Programa de pós-graduação Interunidades Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos e Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Objetivos: Muitos efeitos tem sido atribuídos ao ultra-som terapêutico, dentre os quais, a angiogênese. A escassez
de trabalhos, somado ao fato de que as informações disponíveis sobre o tema, baseiam-se em lesões cutâneas, este trabalho
teve por objetivo, investigar o efeito do ultra-som terapêutico na reparação da lesão muscular experimental em coelhos,
mediante análise da vascularização. Métodos e Resultados: Foram utilizados 10 coelhos da raça Nova Zelândia. Os animais
foram submetidos à lesão muscular, sendo esta por esmagamento do músculo reto femoral. A localização, extensão,
intensidade e orientação da lesão foram padronizadas. O mesmo procedimento foi realizado na coxa oposta (controle). Após
24 horas da lesão, os animais foram submetidos ao tratamento com ultra-som terapêutico por 10 dias consecutivos, na
freqüência de 1 mHz, no modo pulsado a 50%, intensidade de 0,5 W/cm 2 , por de 5 minutos de duração. Ao completar 48
hor5as após o período de tratamento, os animais foram sacrificados. Foi feita a lavagem do sistema vascular com solução
fisiológica e depois feita injeção de uma solução de sulfato de bário e tinta da China. A peça foi fixada em formo! 10% por 2
dias e, depois os músculos foram submetidos ao processo de diafanização. Assim que as peças ficaram transparentes, foram
examinadas por microscópio cirúrgico. Ao examinar as peças observou-se intensa trama vascular, com o mesmo padrão
vascular tanto no lado tratado como no lado não tratado. Conclusão: Os resultados sugerem que o ultra-som terapêutico não
provocou mudanças no padrão vascular (arterial e arteriolar) após lesão muscular, com os parâmetros ultra-sônicos e
metodologia empregados.
Poster 03.17
ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO DOS MÚSCULOS ERETOR DA ESPINHA, RETO DO ABDOME, GLÚTEO
MÁXIMO E RETO DA COXA NA POSIÇÃO EM PÉ, COM CARGA NOS MEMBROS INFERIORES
FARIA, C. R. S., BÉRZIN, F.
Unesp Presidente Prudente
O estudo eletromiográfico dos músculos eretor da espinha, reto do abdome, glúteo máximo e reto da coxa, foi
realizado 20 em voluntários do sexo feminino na faixa etária de 18 a 27 anos previamente selecionados. A atividade elétrica
dos músculos foi captada com eletrodos de superfície, durante a postura em pé e estática, com os membros superiores
paralelos e horizontais com carga nas mãos. Foi dada ao voluntário uma carga equivalente a 5% e 10% do seu peso corporal e
foi modificada a posição dos membros superiores. Os voluntários permaneceram primeiramente com os cotovelos em
extensão total depois foram mantidos a 90° com semi-flexão da articulação glenoumeral e, posteriormente, flexão total da
articulação glenoumeral e dos cotovelos posicionando a carga junto ao corpo. Para o estudo estatístico, foi utilizada uma
análise de variância para experimentos casualisados em blocos com esquema fatorial, e complementado com o teste de Tukey
e estudo de correlação de Pearson, sendo adotado, em todos os testes, o nível de significância de até 5%. De acordo com os
resultados, a atividade elétrica dos músculos eretor da espinha e glúteo máximo foi estatisticamente maiores do que os demais
músculos estudados, na posição que a carga estava a uma distância horizontal maior do corpo, ou seja, quando os membros
superiores estavam paralelos na altura dos ombros e com os cotovelos em extensão total. Os músculos reto do abdome e o
reto da coxa apresentaram uma atividade elétrica menor e, estatisticamente, significante. Portanto, foi observado que é
vantajoso sustentar as cargas o mais próximo do corpo possível, tendo como objetivo diminuir fadigas e evitar as lesões na
região lombar, que são freqüentes em várias profissões. Neste estudo foi claramente observada a influência que a carga e a
distância exercem sobre a musculatura estudada, associada com a postura em pé e ereto.
70
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.18
ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA DO RETO DO ABDOME E OBLÍQUO EXTERNO DURANTE A
APLICAÇÃO DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA NAS VIAS AÉREAS.
FORTI, ELI MARIA PAZZIANOTTO- *,FAUSTO BÉRZIN **, VANESSA MONTEIRO-PEDRO***
*Depto de Fisioterapia da UNIMEP, mestranda do Curso de Biologia e Patologia Buco Dental da Faculdade de Odontologia
de Piracicaba-FOP-UNICAMP.
**Depto de Morfologia da FOP-UNICAMP.
***Depto de Fisioterapia da UFSCar.
OBJETIVO: A proposta deste estudo foi analisar bilateralmente a atividade eletromiográfica do Reto do Abdome e
Oblíquo Externo durante a aplicação de Pressão Positiva Expiratória nas vias aéreas (EPAP) com diferentes resistências.
MATERIAL E MÉTODOS: A atividade eletromiográfica do Reto do Abdome direito (RAD), Reto do Abdome esquerdo
(RAE), Oblíquo Externo direito (OED) e Oblíquo Externo esquerdo (OEE) foi medida em 10 sujeitos entre 20 e 29 anos (X=
23,4 +1- 3,30), sedentários, sem história de patologia Cárdio-Pulmonar, não fumantes, e sem alterações posturais importantes
durante a aplicação de EPAP com resistência de 05, 10 e 15cm de H20. Os sujeitos foram orientados a inspirar
profundamente e expirar ativamente através de máscara facial e a ordem das resistências aplicadas foi definida
aleatoriamente. A atividade eletromiográfica foi medida por meio de um sistema de aquisição de sinal eletromiográfico de 16
canais ( CAD 12/36- 60 K- LYNX Tecnologia LTDA) e captada por eletrodos diferenciais de superfície (DELSYS Inc). A
amplitude do sinal eletromiográfico foi quantificado pela Raíz Quadrada da Média (RMS) , expressos em microvolts e
normalizado como porcentagem da Prova de Força Muscular Manual dos Retos do Abdome e dos Oblíquos Externos . As
análises estatísticas empregadas foram a análise de Variância (ANOV A) e o teste de Tuckey em nível de 5% de
significância. RESULTADOS: nossos resultados mostraram que a atividade eletromiográfica dos Oblíquos Externos direito
e esquerdo foi significativamente maior ( alfa=0.05%) quando comparada com a dos Retos do Abdome direito e esquerdo.
Por outro lado, as diferenças encontradas entre os dois lados de um mesmo músculo e entre as resistências aplicadas não
foram estatísticamente significativas. CONCLUSÕES: Os dados desta pesquisa, dentro das condições experimentais
utilizadas, evidenciaram que a aplicação de EPAP influenciou na atividade eletromiográfica do músculo Oblíquo Externo
sugerindo que sua aplicação pode ser empregada na recuperação funcional deste músculo independente da resistência
imposta.Esta pesquisa foi conduzida de acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
Poster 03.19
"0 USO DO 'VÍDEO TAPE' COMO RECURSO AUXILIAR EM PROGRAMA DE TREINAMENTO PARA MÃES
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA"
FRÔNIO ,JAQUELINE DA SILVA,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
O banho de crianças portadoras de paralisia cerebral espástica pode representar um momento de estresse e
preocupação para as mães. Para que isto não ocorra, vários programas de treinamento são elaborados com o propósito de
amenizar este quadro e contam com a orientação de profissionais da área de saúde. Neste intuito e acreditando nos
princípios básicos do construtivismo, foi elaborado um programa de treinamento para mães de crianças portadoras de
paralisia cerebral espástica durante o banhar onde estas participam ativamente do processo de identificação dos pontos de
maior dificuldade para ela e para a criança na situação do banho. Para tornar este processo mais fácil e eficaz, pensou-se que
a utilização do "vídeo tape" (V.T.) poderia ser benéfica já que possibilitaria ao sujeito observar-se na situação que seria
trabalhada (no caso, o banho). Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar se o uso do V.T. poderia auxiliar ou
não no processo de identificação de situações que representam problema (para a mãe e para a criança), durante o banho de
crianças portadoras de paralisia cerebral espástica. Os dados foram obtidos através da realização de um banho em situação
natural (com a sua filmagem em V.T.), onde a mãe citou os problemas por ela sentidos em dois momentos distintos: um logo
após a realização do banho (sem o uso do V.T.) e outro ao mesmo tempo em que assistia o V.T. da filmagem realizada no
banho. Os pontos de dificuldades identificados nessas duas situações foram comparados e analisados de forma quantitativa e
qualitativa. Para o primeiro momento (sem a utilização do V.T.) foram citados sete pontos que representavam aspectos gerais
dos problemas (por exemplo: tirar a roupa). Para o segundo momento foram citados dezenove pontos que representavam
aspectos mais claros e específicos dos problemas sentidos pela mãe (por exemplo: levantar o braço da criança para tirar a
roupa). Isto representa um acréscimo de 171% no número de pontos de dificuldades identificados pela mãe com a utilização
do V.T .. Os pontos identificados enquadravam-se em seis categorias de problemas: 1) Relativos ao transporte e mudanças
de posturas da criança; 2) Relativos à manutenção de uma postura da criança; 3) Relativos à movimentação de partes do
corpo da criança; 4) Relativos à sentimentos da mãe; 5) Relativos à condições e alterações físicas da mãe; e 6) Relativos à
atitudes tomadas pela mãe durante o banho. Os dados sugerem que o "vídeo tape" pode ser um recurso eficiente para auxiliar
nesse processo de identificação e análise de problemas em programas de treinamento para mães durante o manuseio nas
atividades de vida diária de crianças portadoras de paralisia cerebral espástica.
71
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.20
"DETECÇÃO DA PARALISIA CEREBRAL: UMA ANÁLISE DO PROCESSO E DAS CONDUTAS POSTERIORES"
FRÔNIO, JAQUELINE DA SILVA; ZÉLIA MARIA M. BIASOLI-ALVES, UFJF
A incidência da Paralisia Cerebral aumentou nos últimos anos em decorrência da maior sobrevivência de bebês de
alto risco para alterações no desenvolvimento e isto tem levado ao aparecimento de um grande número de pesquisas sobre o
tema. Entretanto, um dos grandes problemas que a envolve é a sua detecção, pois ainda existem alguns pontos obscuros e
polêmicos. Com esta preocupação, o objetivo do presente trabalho foi o de caracterizar como a identificação da paralisia
cerebral (PC) acontece, segundo os médicos, em termos dos critérios considerados, tempo de "tolerância" após o
aparecimento de algum sinal e ações posteriores. Foram realizadas 13 entrevistas com médicos pediatras, neuropediatras e
neurologistas que atuam na cidade de São Carlos e os dados foram analisados qualitativamente segundo o modelo proposto
por Biasoli-Alves e Dias da Silva (1992). Os resultados indicaram que existem muitos fatores que estão interferindo
negativamente no processo de detecção da PC sendo que alguns merecem destaque: 1- Estaria havendo um despreparo
técnico e/ou emocional das duas especialidades, envolvidas neste estudo, para trabalhar com a PC; 2- Os pediatras mostramse pouco seguros no atendimento à crianças com a suspeita de PC; 3- Os participantes não têm claro quais são os critérios
para o fechamento do diagnóstico da PC nos primeiros meses de vida; 4- Os profissionais sentem falta de um trabalho
interdisciplinar; 5- Os médicos pediatras e neurologistas parecem estar desmotivados para trabalhar com estas crianças pois
consideram que não podem contribuir muito para a melhora do seu quadro. Desta forma, o presente trabalho inicia uma
discussão sobre medidas que poderiam auxiliar na melhora do quadro atual tais como a realização de cursos de atualização
e/ou a abordagem dos conhecimentos atuais sobre o tema na graduação ou residência, a adoção de uma política de
rastreamento e acompanhamento a crianças de alto risco para a PC, bem como de um trabalho e uma postura interdisciplinar
em cima destes casos.
Poster 03.21
REEDUCAÇÃO PERÍNEO ESFINCTERIANA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE
ESFORÇO (I.U.E.).
GAMEIRO, MOO (I); AMARO, JL (2).
(1) Fisioterapeuta Supervisor do Setor de Reabilitação do H.C. de Botucatu
(2) Médico Urologista do Departamento de Urologia da Faculdade de M
Com o objetivo de se avaliar uma nova abordagem não cirúrgica para o tratamento de incontinência urinária de
esforço, foram estudadas 22 pacientes no Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina da Unesp - Botucatu, os quais
foram divididas em dois grupos: grupo 1 (G 1) - 10 pacientes com insuficiência intrínseca do esfíncter, e grupo 2 (G2) - 12
pacientes com hipermobilidade do colo vesical. A média de idade variou no G 1 - de 44 a 81 anos, e no G2 - de 46 a 71 anos.
O tempo médio de seguimento no G 1 - 22 meses e no G2 - 8 meses. Os critérios de seleção foram baseados na história
clínica, avaliação da musculatura perineal com graduação da força muscular e estudo urodinâmico. O protocolo de tratamento
constou de 3 sessões semanais de eletroestimulação com aparelho Empi-sistema de estimulação intravaginal (INNOV A)
durante 14 semanas, sendo que nas duas primeiras semanas foram utilizados 5 segundos de estímulos com 10 segundos de
repouso (5110) durante 15 minutos. Na 3• e 4• semana foram utilizados 5 segundos de estímulos e 5 segundos de repouso
(5/5) com duração de 15 minutos. Na 5" e 6• semana 5 segundos de estímulos e 10 segundos de repouso (5/10) com duração
de 30 minutos. A partir da 7• semana efetuados 5 segundos de estímulos e 5 segundos de repouso (5/5) com duração de 30
minutos até completar 14 semanas. A partir da 5" semana foi iniciada a cinesioterapia concomitante a eletroestimulação endo
vaginal, tendo como objetivo o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico uma vez que esteja resgatada sua
capacidade de contrair-se através da eletroestimulação. Os resultados obtidos foram baseados no número de forros usados
antes e após o tratamento, sendo que no G 1 houve cura em 44% dos casos, melhora acentuada em 12% e insucesso em 44%,
e 1 abandono de tratamento; no G2 houve cura em 60% dos casos, melhora acentuada em 25% e insucesso em 15%.
Concluímos portanto que a reeducação períneo esfincteriana é uma opção em casos selecionados de incontinência urinária de
esforço que exige disponibilidade e motivação do médico, do fisioterapeuta e sobretudo das pacientes, podendo obter
resultados satisfatórios quando estas pacientes não quiserem ser submetidas a procedimentos cirúrgicos, seja por motivos
pessoais, clínicos ou após insucessos cirúrgicos anteriores.
Poster 03.22
MODULARIZAÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE SÍNDROME DE
DOWN
GIMENEZ, ROBERTO; OLIVEIRA, DALTON LUSTOSA DE; MOREIRA, CÁSSIA REGINA PALERMO
ORIENTADOR: Manoel, Edison de Jesus
USP. São Paulo
Considerando a aprendizagem motora como um processo contínuo que conduz a um aumento da complexidade do
comportamento motor, entendemos que habilidades motoras, uma vez adquiridas, são reorganizadas em novas, ou ainda,
podem ser combinadas para formar outras mais complexas. Modularização é o processo pelo qual se supõe que programas de
ação adquiridos podem se tornar componentes de programas mais complexos. Em geral, testes sobre a hipótese da
modularização são escassos, provavelmente devido à falta de uma noção mais clara sobre a natureza da unidade modular. A
formação desta unidade depende do aumento de sua consistência e de sua padronização, que vêm a contribuir para a sua
72
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
estabilização. Outra característica importante é a variabilidade da unidade, tendo em vista que a padronização e a consistência
não são exclusivas, havendo uma combinação com outros elementos, o que implica num grau de flexibilidade. Um programa
de ação é organizado em dois níveis: macro e micro. O nível macro é representado por uma estrutura consistente em função
de um dado padrão de interação dos elementos, e o nível micro é variável em função dos graus de liberdade do
comportamento individual desses elementos. No presente trabalho, a hipótese é de que a macro-estrutura do programa da
unidade não será perturbada ou então, será pouco perturbada quando essa unidade se tornar parte de um programa mais
complexo. Estudos realizados em adultos e crianças sugerem que a hipótese da modularização é efetiva. Esta é uma questão
que merece ser investigada junto a indivíduos portadores de deficiência mental, mais especificamente os portadores de
síndrome de down, uma vez que uma série de estudos sugere uma dificuldade por parte desta população na formação de
programas de ação. Seis indivíduos portadores de síndrome de down praticaram um padrão gráfico (fase de aquisição 100
tentativas), que faria parte de um outro mais complexo a ser praticado posteriormente (fase de transferência 20 tentativas, das
quais 10 foram utilizadas como retenção). A tarefa foi efetuada sobre uma mesa digitalizadora "Quora Cordless" que
possibilitou o registro de dados referentes a: (1) Desempenho Global: tempo total de movimento e tempo total de pausa; (2)
Macro-estrutura: desvio padrão do timing relativo e do tempo de pausa relativo, moda e variabilidade do seqüenciamento; (3)
Micro-estrutura: desvio padrão do tempo total de movimento e do tempo total de pausa. As análises preliminares indicam que
a hipótese da modularização também se aplica ao comportamento motor dos indivíduos portadores de Síndrome de Down.
Poster 03.23
EFEITOS DO DESENVOLVIMENTO DA SENSITIVIDADE AO CONTRASTE NAS ESTRATÉGIAS
LOCOMOTORAS EM TERRENOS IRREGULARES.
GOBBI LILIAN TERESA BUCKEN 1,2 E AFTAB E. PATLA2
1
Laboratório de Estudos de Postura e da Locomoção/DEF/UNESP/Rio Claro
2
Neural Control Lab/Deparment of Kinesiology/University of Waterloo/Canadá
O sinal visual é crucial para finamente modular o padrão locomotor de acordo com o ambiente. O siste-ma visual
apresenta um rápido progresso no primeiro ano de vida em humanos. Os cones e bastonetes, células sensitivas à luz no olho
humano, estão localizadas na retina. Na retina do recém-nascido, os bastonetes estão quase maturas enquanto que os cones
estão distribuídos em uma ampla área e não alongados ainda. A migração dos cones para a fóvea ocorre em um período de
três anos (Chandna, 1991). Acuidade visual, as propriedades espaciais da performance visual, inclui a sensitividade ao
contraste, ou seja, a habilidade de discriminar diferen-tes níveis na mesma cor (Morrone et al., 1993). Níveis semelhantes aos
adultos, tanto para resolução espacial como para sensitividade ao contraste, são atingidos durante os primeiros cinco anos de
vida (Movshon et al., 1988). Adoh e Woodhouse (1994) estimaram a acuidade visual de crianças entre 12 e 36 meses de
idade e demonstraram uma melhora linear na acuidade visual de acordo com a idade. É importante observar que, durante o
primeiro ano de vida, os bebês têm oportunidades para vivenciar formas locomotoras rudimentares, como engatinhar e andar
com apoio. A coincidência temporal da maturação da fóvea e a emergência da locomoção independente pode afetar as
estratégias locomotoras em terrenos irregulares. Com o objetivo de verificar os efei-tos da sensitividade ao contraste nas
estratégias locomotoras em crianças, dois experimentos foram realizados. No primeiro estudo, 25 crianças de 12 a 70 meses
de idade foram convidadas a andar sobre um tapete passando por cima de um obstáculo com alto grau de contraste entre
ambos. Houve combinação entre duas alturas e duas larguras dos obstáculos, personalizadas de acordo com as características
antropométricas dos participantes. Sete marcadores (diodos emissores de luz infravermelho) foram afixados em pontos
anatômicos específicos (quadris direito e esquerdo, hálux direito e esquerdo, joelho, tornozelo e calcanhar direitos) e seus
sinais foram coletados utilizando o sistema de análise de movimento OPTOTRAK (Northern Digital, Canadá). A partir do
deslocamen- to dos marcadores do momento em que o pé da frente deixava o solo antes do obstáculo até o contato do pé de
trás com o solo após o obstáculo, duas variáveis depende.ntes foram obtidas: distância pé-obstáculo e a distância horizontal
do pé da frente antes do obstáculo. Os resultados evidenciaram que a altura do obstáculo influenciou a distância pé-obstáculo
e que crianças mais jovens tendem a aproximar mais a distância horizontal do pé da frente antes do obstáculo. No segundo
estudo, 20 crianças de 15 a 73 meses de idade, repetiram o mesmo protocolo do primeiro estudo, com manipulação apenas
da altura do obstáculo e a diminuição do contraste entre os obstáculos e o tapete. A análise cinemática foi realizada nos
deslocamentos de dois marcadores (hálux direito e esquerdo) para obter parâmetros da passada. Os resultados demonstraram
que tanto a distância pé-obstáculo como a distância horizontal do pé da frente antes do obstáculo são influenciadas pela altura
do obstáculo. Houve também efeito principal da distância pé-obstáculo na distância horizontal do pé da frente antes do
obstáculo. Com alto contraste entre o obstáculo e o tapete, as crianças aproximaram-se mais do obstáculo e elevaram mais a
perna para ultrapassá-lo. Quando o contraste entre o obstáculo e o tapete era baixo, as crianças ficaram mais longe do
obstáculo e elevaram menos a perna durante a ultrapassagem. Este resultado evidencia que as crianças foram capazes de
distinguir o obstáculo demonstrando que a maturação do sistema visual para sensitividade ao contraste já havia sido atingida.
A estratégia empregada na situação de alto contraste é ineficiente, pois coloca em risco a estabilidade do sistema e aumenta
o gasto energético.
Apoio: CAPES/Brasil e NSERC/Canadá
73
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Poster 03.24
EFEITO DO ULTRA-SOM DE 1 MHz NA REGENERAÇÃO DO MÚSCULO TIBIALIS ANTERIOR DO RATO.
JGRAZZIANO, C. R.**; I GOMES, A.C.**; JSTEMPFLE, C.*; I RIBEIRO, K.R. *; 2SELISTRE DE ARAUJO, H.S.;
2SOUZA, D.H.F.; 3BUCALON, A.].; 4SILVA, O.L.; JSALVINI, T.F.
1
Laboratório de Neurociências- DeFisio, 2DCF- UFSCar, 3 UNESP/Rio Claro, 4Bioengenharia-USP/São Carlos.
Introdução e Objetivo: O ultra-som é um recurso terapêutico muito utilizado na clínica fisioterápica no tratamento
de diversos tecidos biológicos. O efeito do ultra-som têm sido estudado na osteoartrite (Huang e col., 1997), reparação de
tendão (Enwemeka e col., 1989 e 1990), reparação óssea (Dyson e Brookes, 1983; Tsai e col., 1992), ativação de macrófagos
(Young e Dyson, 1990) e fibroblastos (Mortimer e Dyson, 1988). A lesão muscular está presente em grande parte das lesões
traumáticas esportivas, às vezes levando à perda da atividade funcional motora. Embora o ultra-som seja comumente
utilizado no tratamento das lesões musculares, raros trabalhos básicos são observados na literatura que comprovem seu efeito
nas diferentes fases da regeneração muscular. O presente trabalho foi delineado para avaliar o papel do ultra-som na
regeneração do músculo Tibialis anterior do rato, lesado pela toxina hemorrágica ACL Tipo I, extraída do veneno total da
serpenteAgkistrodon contortrix laticinctus (Broad-Banded Copperhead). Essa toxina produz mionecrose isquêmica (Ownby,
1990). Método e Resultados: Quatro ratos (Wistar) receberam em ambos os músculos Tibialis anterior direito e esquerdo,
uma dose intramuscular de toxina hemorrágica ( 1 mg/Kg de peso corporal). Em seguida as pernas dos animais foram
aleatorizadas e enquanto uma recebeu aplicação efetiva de ultra-som, a contralateral recebeu placebo. A aplicação foi
realizada em toda a extensão muscular, enquanto os animais eram mantidos em gaiolas de contenção com os membros
inferiores posicionados a 90° de flexão nas articulações do joelho e do tornozelo. A terapia constituiu de uma aplicação
diária de 5 minutos, nos primeiros 5 dias, sendo a primeira realizada 10 minutos após a injeção da toxina, seguidos por
aplicações em dias alternados até o 21 o dia pós-lesão. Foi usado um equipamento ultrasônico de lMHz, com cabeçote de 0,2
cm 2 de área geométrica, pulsado no regime 1:5 ( 100Hz, 2 ms on e 8 ms off- 20%) e intensidade de 0,5 W/cm 2 SATA
(Spatial average temporal average). Trinta dias após a injeção de toxina, os músculos foram removidos e cortes histológicos
seriados .foram obtidos da região média. O padrão morfológico de regeneração muscular foi similar quando comparados os
músculos estimulados com ultra-som e o placebo. Ambos foram caracterizados pela presença de fibras com pequeno
diâmetro, fibras musculares fragmentadas, presença de núcleos centralizado e áreas com fibrose. Foram analisadas a área
média das fibras de cada músculo e a distribuição do percentual médio da área das fibras entre O e 4000 )..lm 2 • Sabe-se que
fibras recentemente regeneradas possuem menor área quando comparadas às normais.
"'
~
""u:
"'"'
"O
o
..,'Õ
::;:
30
25
20
15
-;;;
c"
"
!e
a.
"
10
A----·
- • - Estimulado
-t>.-
Placebo
"'~
j ~,
/.
"
500
1000
1500
2000
2500
3000
Área das Fibras Musculares ()..lm
3500
4000
2
)
Os músculos estimulados apresentaram 33,3 % de fibras com área entre 0-500 )..lm2 , enquanto que nos placebos este
percentual foi de 45,6 %. Pode-se observar também que os músculos estimulados apresentaram maior percentual de fibras
com área entre 500-4000 )..lm 2 . Conclusão: Embora os sinais morfológicos de regeneração sejam similares, as fibras dos
músculos estimulados apresentaram maior área em relação as fibras dos músculos placebo. Assim, pode-se sugerir que a
terapia ultrasônica esteja contribuindo para um melhor padrão de regeneração do tecido muscular esquelético.
Apoio Financeiro: FAPESP; CAPES**; PIBIC-CNPq*.
Poster 03.25
EFEITO DA METFORMINA E DA ELETROESTIMULAÇÃO SOBRE AS RESERVAS DE GLICOGÊNIO DOS
MÚSCULOS SÓLEO E GASTROCNÊMIO DESNERVADOS. ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS.
2GUIRRO, R.; I SILVA, C.A, JPOLACOW, M.L.O, I CAMPOS, M.R., 3TANNO, A.P, 3SILVA, H. C, 3PARO, D.;
3BORGES, J.P.; 3SOUZA, L.A. JDEPTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
2
Depto de Fisioterapia; 3Bolsistas de Iniciação Científica- UNIMEP- S.P.
INTRODUÇÃO: Após a interrupção completa da inervação motora observa-se modificações nas propriedades
mecânicas, elétricas, bioquímicas e morfológicas das fibras. Com relação a interface junção mioneural/metabolismo dos
carboidratos, sabe-se que a desnervação promove a redução na população dos receptores de insulina, na expressão gênica dos
transportadores de glicose, na captação de glicose e na atividade das enzimas glicoliticas e glicogênicas, desencadeando a
atrofia. Tais comprometimentos observados em músculos desnervados também são observados no diabetes tipo 11; neste caso,
a administração de metformina promove um aumento na capt~ção e utilização de glicose por tecidos periféricos auxiliando na
74
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
redução da glicemia. A eletroestimulação é uma terapia utilizada visando manter a homeostasia do músculo desnervado, pois
se utilizada de forma apropriada pode prevenir a ocorrência das alterações associadas a desnervação. OBJETIVO: Neste
trabalho foi avaliado o efeito da metformina e da eletroestimulação sobre as reservas de glicogênio (RG) dos músculos sóleo
(S) e gastocnêmio (G) normais (N) ou desnervados (D). Avaliamos também a concentração plasmática de glicose e lactato.
Métodos Utilizou-se ratos albinos Wistar machos(± 4 meses). A desnervação ocorreu pela secção do nervo ciático unilateral
1
após anestesia com pentobarbital sádico (40 mg/Kg, i.p). Os grupos tratados receberam metformina (1.4 mg.mr ) diluída na
água disponível para beber. A eletroestimulação foi realizada dentro dos seguintes parâmetros: 10Hz, 3 ms, onda quadratica
bifásica, por um período de 20' durante 15 dias. O glicogênio (G) foi avaliado colorimetricamente (J. Apll. Physiol. 28(2):
234-236, 1970) e as concentrações de glicose, lactato determinadas através de kits de uso laboratorial. A análise estatística foi
realizada através de análise de variância seguido do teste de Tukey. RESULTADOS e DISCUSSÃO: A desnervação
induziu uma redução nas RG sendo de 61% (P<0,05) no S e 31% (P<0,05) no G. Estes dados mostram que as vias de
captação e metabolismo da glicose foram comprometidas pela secção da junção neuromuscular. Metformina promoveu uma
generalizada elevação nas RG musculares (287%, P<0,05 no S normal e 333%, P<0,05 no S desnervado), no gastrocnêmio
observou-se elevação de 409% (P<0,05) no G normal e 118% (P<0,05) no G desnervado. Os dados mostram que a biguanida
tem a capacidade de elevar a captação de glicose e a síntese de glicogênio tanto em músculos normais quanto nos
desnervados. A eletroestimulação também foi eficaz em promover um aumento no conteúdo de glicogênio dos músculos
desnervados sendo observado elevação nas RG do S em 82% (P<0,05) e de 59% no G (P<0,05). O efeito da
eletroestimulação se deve a translocação do GLUT4 independente da insulina associado a elevação na captação tecidual de
glicose e formação da RG. Os tratamentos não promoveram hipoglicemia nem hiperlactatemia. Por sua vez, a desnervação
promoveu uma redução de 49% (P<0,05) na massa muscular do sóleo, degradação esta que foi diminuída para 20% (P<0,05)
na presença de metformina, sugerindo um efeito protedor da degeneração das fibras. CONCLUSÃO: Os tratamentos com
metformina e eletroestimulação foram eficazes em manter parcialmente a homeostasia das vias responsáveis pela formação
das RG nos músculos desnervados e podem contribuir para a manutenção das condições energéticas das fibràs.
Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq-UNIMEP
Agradecimento: QUARK- Equipamentos médicos
Poster 03.26
ASSOCIAÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM TRAUMAS DO JOELHO.
JOSÉ, FÁBIO RODRIGUES; VALENTE; CARVALHARES; TRESCA; MONTEIRO; REGAZZO
Este trabalho se constitui no estudo de um caso onde um indivíduo do sexo feminino de 20 anos, 1,84 metros e 81
Kg, sofreu a ação de forças mecânicas sobre o joelho direito, lesionando o ligamento colateral mediai, a cápsula articular e
ocorrendo a soltura do menisco mediai. A intervenção cirúrgica necessária foi efetuada 4 dias após o acidente, sendo que,
nestas 96 horas a paciente permaneceu imobilizada. O ato cirúrgico consistiu numa reinserção do ligamento colateral mediai,
sutura da cápsula articular e a retirada de fragmentos meniscais. Após a cirurgia, a paciente ficou imobilizada durante 45 dias
e, segundo seu ortopedista, o tempo estimado de recuperação deste tipo de lesão seria de 6 meses. Após a retirada da tala de
gesso iniciou-se tratamento fisioterapêutico com objetivo de ganho de amplitude de movimento(ADM), fortalecimento e
alongamento muscular, mais especificamente dos grupos musculares quadríceps, isquiotibiais e tríceps sural. Em princípio a
paciente realizou 8 semanas de cinesioterapia, três vezes por semana, totalizando 24 sessões .Após este período, foi
aconselhada pelo seu fisioterapeuta, que realizasse exercícios de hidroterapia, associados as sessões de cinesioterapia. A
paciente procurou então uma academia, onde passou a frequentar aulas de hidroginástica adaptadas as suas necessidades e
com fins terapêuticos, duas vezes por semana, 45min/cada aula, totalizando 16 sessões ao final de 8 semanas. Durante as
últimas 8 semanas de procedimentos associados, notou-se uma grande e rápida evolução da ADM, fortalecimento muscular e
obtenção de auto suficiência na sua caminhada, culminando com alta de seu fisioterapeuta após essas 16 semanas a partir do
início de seu tratamento. Numa análise qualitativa observou-se uma grande redução no tempo estimado de recuperação em
função da utilização em conjunto de procedimentos fisioterapêuticos, influindo também na parte psicológica da paciente,
quanto a sua auto-confiança. Pode-se concluir que a utilização interdiciplinar de procedimentos, sem desconsiderar a força de
vontade e a fé da paciente em seu próprio reestabelecimento, nem tão pouco o tratamento medicamentoso, abreviaram o
tempo de recuperação estimado para este tipo de lesão, de 6 para 4 meses.
Poster 03.27
FORTALER E RELAXAR OS MÚSCULOS DA COLUNA VERTEBRAL- O TRABALHO EM MEIO LÍQUIDO:
ESTUDO DE CASO EM CADETE AVIADOR
KUBE, MS LUCIENE CONTE
SEF - CORPO DE CADETES - ACADEMIA DA FORÇA AÉREA - PIRASSUNUNGA
Nesse estudo de caso as ações objetivam um aprofundamento de estudos referentes a questão do fortalecimento e
relaxamento da musculatura da coluna vertebral lombar e dorsal superior (cervical) utilizando o meio líquido. Como
professora de Natação do Corpo de Cadetes da Aeronáutica iniciei um trabalho de prevenção e reparação de problemas
posturais através, principalmente, da utilização de exercícios aquáticos e também séries de alongamentos e fortalecimento
muscular do cadete F (19 anos, 72Kg), que apresentava acentuada lordose, com presença de dores e desconforto corporal para
75
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
algumas tarefas. Foram prescritos exercícios aquáticos realizados três vezes por semana na piscina da AFA, alguns com a
utilização de um cinturão de flutuação aquática. Os exercícios de alongamento e mobilidade da coluna enfatizavam a flexão e
extensão da coluna, caminhada na água, flutuação em decúbito ventral e decúbito dorsal, rotação lateral do tronco e flexão
lateral do tronco. Batimentos de pernas e exercícios de braços também eram realizados. Para alongamento em meio seco,
realizados de duas a três vezes por semana e alguns antes de cada vôo formam uma série de 12 (doze) exercícios enfatizando
a musculatura lombar, abdominal, isquiotibiais e músculos flexores do quadril. Após 4 meses de trabalho, observou-se
sensível melhora nas condições de disposição corporal para o vôo, conforme relato do cadete F e diminuição ou ausência da
dor na coluna lombar durante o vôo, principalmente, quando a manobra exigia um incremento do fator de carga "G"
(aceleração corporal) chegando a 3 ou 4 G (3 x 72Kg). O trabalho aquático foi descrito como relaxante, mesmo tendo esses
exercícios a função de fortalecimento muscular através do aproveitamento das propriedades de resistência da água.
Descreveu-se um relaxamento psicotônico benéfico. O cadete F relata que ao fazer uma pequena série de alongamentos antes
do vôo, sente-se mais relaxado e a dor não aparece. A tarefa de voar fora facilitada, mesmo nas manobras que mais exigem do
organismo como um todo. Sabe-se que o ato de pilotar uma aeronave, principalmente em treinamento (aprendizagem e
aperfeiçoamento) não é uma tarefa fácil. O piloto está sob estresse emocional e forte estresse corporal, traduzido muitas vezes
por desconforto geral. Existem trabalhos que visam a modificação e aperfeiçoamento das aeronaves e equipamentos. Como
profissional da área da Motricidade Humana, minha preocupação recai sobre a performance humana, o desempenho do corpo
em vôo. Prevenir problemas posturais, reparando a consciência corporal e postura! e fisicamente trabalhando o relaxamento,
seguido de fortalecimento de grupos musculares, são objetivos que se pretende estender a outros pilotos, através de
programas regulares e especiais, que envolvam atividades utilizando as propriedades do meio líquido.
Poster 03.28
"ESTUDO DE CARACTERÍSTICAS DE MOVIMENTOS DO PUNHO EM TAREFAS OCUPACIONAIS
MANUAIS E AUTOMATIZADAS"
LÉO, JORGE A. *, HELENICE J.C. GIL COURY*, JORGE 0/SHI**
Universidade Federal de São Carlos, Depto. de Fisioterapia*, Depto. de Estatística**
Projeto financiado pela FAPESP- Processo N°. 97/04765-7
O número de lesões músculo - esqueléticas que acometem os membros superiores da população economicamente
ativa tem aumento no Brasil e no mundo. Essas lesões são reconhecidamente de origem multivariada. Dentre os principais
fatores de risco para a ocorrência dessas lesões estão os fatores físicos e biomecânicos, organizacionais e individuais. O
aumento expressivo dessas lesões nos últimos anos foi acompanhada também de uma alteração importante da forma e ritmo
de produção. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo analisar a influência de níveis progressivos de automatização sobre
características dos movimentos do punho, avaliando comparativamente as amplitudes de movimento e tempo na realização da
tarefa de empacotamento em setores de produção manual, semi - automatizado e automatizado em uma indústria de material
escolar. Quatro funcionárias altamente treinadas, com idade variando de 21 a 32 anos, participaram deste estudo. Os
movimentos do punho foram registrados por eletrogoniômetros e torsiômetros da Biometrics, bilateral e sincronizadamente.
Os sinais foram registrados em freqüência de 1000 registros por segundo por dois Data - Loggers, cujos registros foram
transferidos posteriormente para um microcomputador Pentium 200 Pró, carregado com o software V.3X para o
processamento e análise preliminar dos dados. Os sujeitos foram preparados no próprio local de trabalho e o sistema
calibrado conforme instruções do fabricante. Vários ciclos sucessivos de trabalho foram registrados para cada funcionária por
tarefa. Para as análises descritas no trabalho foi selecionado um minuto de tempo representativo da tarefa realizada, por
sujeito e por setor. Foram realizadas análises das amplitudes máximas por movimento por setor, da porcentagem de tempo
gasta em diferentes faixas de amplitudes, do número de movimentos e do número de inversões no sentido dos movimentos.
Resultados preliminares mostraram que a duração média dos ciclos foi de 7,11 segundos para o setor manual, 0,97 segundos
para o setor semi -automatizado e 14,35 segundos para o automatizado, com produção bastante diferenciada para cada setor,
pelo mesmo período de tempo. A análise das amplitudes máximas de movimento mostrou que para o desvio ulnar e a
pronação foram registradas grandes amplitudes nos três setores de trabalho. No setor manual houve predomínio das
amplitudes do movimento de extensão (até 66°) e no setor automático da flexão (até 56°). O número de movimentos
registrados em um minuto, de acordo com a contagem adotada, foi maior para o setor semi -automático em 45% comparado
ao setor automático e 61% comparado ao manual. O estudo da porcentagem de tempo gasta em faixas de amplitudes mais
extremas (~ 10° para os desvios ulnar e radial; ~.30° para flexo - extensão e prono - supinação) mostrou elevado tempo de
permanência em desvio ulnar (93,7% em média no setor semi - automático e 56,5% no manual) e pronação (63,3% no setor
automático e 56,8% no semi - automático). O número de variações no sentido do movimento foi extremamente alto,
ultrapassando 600 variações por minuto nos três setores. No entanto, ocorreram diferenças estatisticamente significativas por
movimento entre os setores (p :-::; 0,005). A variabilidade individual inter - sujeitos foi mais alta no setor manual. Nos setores
semi - automático e automático o padrão do movimento era mais similar, sobretudo no semi - automático. Os resultados
analisados até o presente indicam claramente a presença de riscos associados a posturas extremas, repetitividade e alta
duração de exposição nos três setores analisados, cabendo um destaque para o ritmo pronunciado e a estereotipia do
movimento no setor semi- automático. Análises posteriores deverão complementar os resultados atuais.
76
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.29
COMPORTAMENTO DO LACTATO NOS PACIENTES RENAIS CRÔNICOS
MACAGNAN, A. E.; FETT, F. H.; PLENTZ, R. D. M.; MOREIRA, P. R.
Universidade de Cruz Alta -UNICRUZ
Para investigar a concentração de lactato [La] em pacientes renais crônicos, dez pacientes urêmicos submetidos a
hemodiálise foram divididos em dois grupos: Grupo I - formado por cinco pacientes (3 homens e 2 mulheres) que realizam
fisioterapia regularmente, com média de hemoglobina igual a 8,77 g/dl; Grupo II- formando por cinco pacientes (3 homens e
2 mulheres) que não realizam fisioterapia, apresentando média de hemoglobina 8,47 g/dl. O grupo III formado por quatro
indivíduos saudáveis e sedentários (2 homens e 2 mulheres), também foram submetidos a mesma investigação à Hb = 14.8
g/dl. Para a determinação da concentração de lactato, aplicou-se teste isquêmico para antebraço proposto por Nakao (1982),
sendo que as amostras foram coletadas no repouso(@ 20 minutos), no lo e 3° minuto após o teste. Nos pacientes urêmicos o
teste isquêmico para antebraço foi realizado no período pós diálise, porém a concentração de lactato no período pré diálise
também foi determinada. Os valores de repouso (pós-diálise) obtidos foram no G I- 1.76 ± 0.53 mmol/1, G II -1.58 ± 0.13
mmol/1 e controle - 0.97 ± 0.60 mmol/1. Através do teste "t" constatou-se que os grupos I e II não apresentaram diferença
estatística entre eles, entretanto, esta diferença pode ser observada quando comparados com o grupo controle, para uma
significância de p < 0,05. Uma nova constatação foi feita quando os grupos investigados foram submetidos ao teste
isquêmico, sendo que apenas o grupo I apresentou aumento significativo (p < 0.1) quando comparado com o grupo controle.
Numa análise linear, o grupo II e controle, apresentaram aumento estatístico significativo das concentrações de lactato nos
dois estágios do teste, o mesmo não pode ser observado para o grupo I. Em relação a pré e pós diálise, ambos os grupos
obtiveram aumento nos níveis de lactato, tendo maior significância para o grupo II (p < 0,01) em contraste com o grupo I (p <
0,1). Que vai de encontro ao descrito por Nakao (1982), que observou um aumento da [La] após diálise de 6 horas.
Entretanto, os resultados obtidos neste estudo discordam de alguns autores, que relatam que pacientes urêmicos com anemia
renal reagem mesmo a exercícios físicos leves com pronunciada hipóxia do tecido (8,12, 17, 30, 34), o que não ocorreu nas
respostas ao teste quando comparados os grupos entre si.
Poster 03.30
ESTUDO DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA CARDÍACA NA DETECÇÃO DO LIMIAR DE
ANAEROBIOSE DURANTE DIFERENTES PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO FÍSICO DINÂMICO EM HOMENS
JOVENS E DE MEIA-IDADE.
MARÃES, V.R.F.S. I E 2; SILVA, E. 2; PETTO, ]. 2; CATAI, A.M. 2; OLIVEIRA, L 2.; MOURA, M.S.A. 3;
TREVELIN, L. C. 4; GALLO JR., L. 5;
1
Depto de Fisiologia e Biofísica/ UNICAMP/Campinas; 2Lab. de Fisioterapia Cardiovascular, DEFisio/UFSCar/São Carlos;
3
Depto. de Estatística!UFSCar/São Carlos; 4Depto. de Computação!UFSCar/São Carlos; 5Depto. de Clín. Med./FMRPUSP/Ribeirão Preto - São Paulo - Brasil.
INTRODUÇÃO: O limiar de anaerobiose (LA) pode ser designado como a potência submáxima na qual começa a
ser ativado, a nível muscular, o mecanismo anaeróbio de formação de adenosina-trifosfato (ATP) com resultante produção de
ácido Jáctico. Durante o exercício físico dinâmico o LA constitui um importante marcador fisiológico, uma vez que nas
potências próximas ao LA ocorre uma acentuada diminuição da variabilidade da freqüência cardíaca. OBJETIVO: O
presente trabalho teve como objetivo verificar os padrões da variabilidade freqüência cardíaca (VFC), através do ajuste dos
modelos autoregressivos de médias móveis (ARIMA), para determinação do LA, durante a execução de diferentes protocolos
de exercício físico dinâmico em homens jovens e de meia-idade. MATERIAL E MÉTODOS: Foram estudados 10 homens,
sendo 05 com idade média em anos de 22,2 ± 1,72 (grupo jovem) e 05 com 42,2 ± 1,94 (grupo de meia-idade), considerados
sadios. Foram submetidos a uma avaliação clínica e a três testes de esforço físico dinâmico em cicloergômetro "Quinton
Corival- 400" na posição sentada. Protocolo I: teste de esforço físico dinâmico com degraus contínuos (degraus de 25 Watts)
até exaustão física ou sintoma limitante. Protocolo II: teste de esforço físico dinâmico em degraus descontínuos (TEFDD-D)
com potências progressivas e incrementos de 10 Watts; protocolo III: TEFDD-D utilizando as mesmas potências do protocolo
II, aplicadas de forma alternada. O protocolo I foi realizado com finalidade diagnóstica e os protocolos 11 e 111 com finalidade
de detectar o LA através da VFC. A FC foi registrada e armazenada batimento a batimento em repouso (registro controle) nas
posições deitada supina e sentada e durante a realização dos TEFDD-Ds. Os dados de FC foram analisados segundo a
metodologia de Box-Jenkins (1970), através dos modelos ARIMA, isto permitiu encontrar para cada indivíduo a partir de
qual potência de esforço físico a FC apresentava tendência (inclinação), o que sugeria a potência do LA. Para análise de
significância foi utilizado o teste de amostras pareadas de Wilcoxon. Este trabalho está em concordância e aprovação da
Comissão de Ética da UNICAMP, n° 405/97. RESULTADOS: A potência de esforço físico, em que o comportamento da FC
apresentou tendência (refletindo o LA) expresso em mediana, foi semelhante (75Watts) em ambos protocolos e grupos
estudados (p >0,05). CONCLUSÕES: A partir da analise da variabilidade da FC durante os TEFDD-Ds, pelo método
ARIMA, pode-se estimar de forma não invasiva a potência de esforço físico do LA. Os dados analisados sugerem que não há
diferenças do nível do LA nos dois grupos estudados e nos diferentes protocolos de TEFD-D.
Apoio financeiro: FAPESP- processo n°. 97/0195-1; CNPq-processo n°. 520686/95-0
77
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.31
ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E DA EFICIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO
VISUAL EM PREMATUROS NORMAIS: RESULTADOS PRELIMINARES
MAZZITELLI, C.; FA VALE, T:C., SOUZA, C.A.; MAIORAL, M.R.; GARCIA, ].M.; DURIGON, O.F.S.
Curso de Fisioterapia - USP
Com o crescente desenvolvimento na área de neonatologia, especialmente no que se refere aos cuidados intensivos
neonatais, temos aumentadas as probabilidades de sobrevida de RN de baixas idades gestacionais (lg) e muito baixo peso
(MBP). Estas crianças, do ponto de vista orgânico apresentam-se imaturas ao nascimento, correndo um maior risco para
complicações pós-natais, demandando cuidados especiais e maior tempo de internação hospitalar. Por estes motivos, estas
crianças constituem um grupo de alto risco clínico e sob o ponto de vista de desenvolvimento neuropsicomotor já que o
último trimestre de gestação é marcado por profundo desenvolvimento do sistema nervoso fetal. As seqüelas decorrentes da
associação prematuridade mais complicações pós-natais expressam-se sob formas muito variadas podendo ir desde sinais
leves que incluem em maior proporção alteração do equilíbrio e coordenação motora, à atrasos do desenvolvimento
neuromotor (DNM), e em casos mais graves a Paralisia Cerebral (PC) desde suas formas mais brandas (mono/hemiparesia),
como mais severas (dilquadriplegia) sendo que, dentre os casos de PC, com maior frequência associa-se ao nascimento
prematuro, quadros de diplegia. Assim sendo, entendemos que seja de fundamental importância: a) acompanhar o DNM
destas crianças nos primeiros anos da infância, possibilitando que possíveis alterações em geral de manifestação muito lenta e
sutil, sejam detectadas precocemente e b) promover a estimulação do seu desenvolvimento, a fim de prevenir e/ou minorar os
déficits de que poderão vir a ser portadoras. Desta forma este trabalho foi conduzido com o objetivo de estudar ambas as
situações.Para tal, foram avaliados trinta e sete recém-nascidos normais e com idade gestacional inferior a 37 semanas,
nascidos no Hospital Universitário da USP, tendo sido obtida autorização da família e aprovação da comissão de ética para o
desenvolvimento do estudo. As crianças foram separadas em grupo experimental e controle, sendo que este último foi
constituído por aquelas que por algum motivo não puderam participar do programa de intervenção. Ao primeiro grupo foi
aplicado um programa de estimulação, o qual constou de estímulos visuais; enquanto que ao segundo nenhuma forma de
intervenção sistemática foi realizada. Ambos os grupos foram avaliados mensalmente através das provas comportamentais
específicas para cada faixa etária descritas na literatura por GESELL até o quarto mês de idade corrigida, sendo estas
consideradas como sucesso ao se obter o padrão descrito na literatura e insucesso, quando obteve-se um padrão distinto
daquele esperado como normal. A partir desta idade, ambos os grupos foram reavaliados ao 6°, 8°, 10° e 12° meses de idade
corrigida, também de acordo com as provas comportamentais descritas na literatura. O acompanhamento das crianças
estudadas, nos permitiu observar atraso em seu DNM nos primeiros 12 meses de vida em relação ao esperado para a faixa
etária. No decorrer do programa alguns sinais de patologia neural se manifestaram em duas crianças participantes do estudo
entre o 10° - 12° meses de idade corrigida, tendo sido ambas excluídas do protocolo e encaminhadas para tratamento
específico. Comparando-se a porcentagem de sucessos obtida pelo grupo experimental em relação ao grupo controle,
observamos superioridade de sucessos para o grupo experimental, principalmente no que se refere aos itens motricidade
voluntária e coordenação motora. Embora não tenha ainda sido possível a comparação do desenvolvimento destas crianças no
oitavo, décimo e décimo segundo meses de idade corrigida, uma vez que nenhuma criança do grupo controle foi reavaliada
nestas idades, observamos que as crianças do grupo experimental reavaliadas ao décimo segundo mês de idade corrigida,
obtiveram porcentagem máxima de sucessos (100%) para as provas comportamentais específicas para esta idade, descritas na
literatura. A análise destes dados, nos leva a inferir que prematuros podem evoluir com manifestação de alteração no DNM, e
que as crianças submetidas ao programa de estimulação proposto, nos primeiros meses após o nascimento, puderam se
beneficiar das atividades, obtendo desempenho motor superior do que aquelas não submetidas à estimulação, e portanto mais
próximo do esperado para a faixa etária.
Poster 03.32
ORIENTAÇÃO EDUCATIVA - ABORDAGEM TERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO DO PORTADOR DE
TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR.
MELO, FRANCISCO; RICARDO LINS VIEIRA; MOEMA BRITO BARBOSA DE LIMA; JOSÉ HENRIQUE
AMOEDO; ÊNIO WALKER AZEVEDO; GLEIDSON FRANCIEL R. DE MEDEIROS; VERA MARIA DA ROCHA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Fisioterapia
A agressão traumática da medula espinhal pode resultar em alterações da função normal motora, sensitiva e
autonômica. A melhor compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da lesão, a sistematização da abordagem terapêutica na
fase aguda e na fase tardia da doença e o tratamento adequado das complicações urinárias, deformidades osteoarticulares e
úlceras de pressão possibilitaram maior tempo de sobrevida e melhor qualidade de vida. A abordagem terapêutica neste tipo
de paciente requer uma equipe multidisciplinar competente e especializada, com conhecimentos na área de reabilitação, cuja
intervenção imediata estabelece a necessidade de se instituir cuidados precoces de prevenção das complicações. Diante do
exposto, o presente estudo propõe-se a apresentar os resultados da orientação educativa a lesados medulares realizados por
uma equipe multidisciplinar, como parte do processo terapêutivo. Utilizando-se uma metodologia descritiva - interpretativa,
analisou-se o conhecimento inicial e final de pacientes portadores de traumatismo raquimedular, na faixa etária de 15 a 50
anos, de ambos os sexos, e seus familiares inscritos no Programa de Reabilitação em Lesão Medular do Serviço de
Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre Lopes, no período compreendido entre 1996 a 1998. O instrumento utilizado
para a coleta de dados foi um formulário e entrevista semi-estruturada constituída de questões abertas e fechadas acerca do
78
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
conhecimento do paciente e seu familiar sobre a lesão medular e suas complicações. Participaram do estudo 25 pacientes e 19
familiares, onde constatou-se os seguintes resultados: a idade de maior concentração de pacientes foi entre 18 e 25 anos
(44%). Houve predominância do sexo masculino (84%); a etiologia mais freqüente foi traumática (68%), sendo que o
ferimento por arma de fogo a principal causa (48%). Dentre as complicações as mais freqüentes foram: escaras (25%), dor
(22,2%), infecção urinária (16,6%). Em relação ao conhecimento inicial 85% dos pacientes e familiares não possuíam
conhecimento sobre a enfermidade e suas complicações. As complicações, de uma forma geral, eram relacionadas à paralisia
presente. Ao término de dois anos de aplicação e pesquisa sobre a importância da orientação educativa multidisciplinar como
abordagem terapêutica na reabilitação do portador de traumatismo raquimedular, podemos concluir que a educação em saúde,
junto aos pacientes e familiares, é fator fundamental, dentro do processo terapêutico; não apenas para evitar complicações,
mas principalmente, na manutenção do seu estado de saúde e qualidade de vida. Além disso, permitiu aos profissionais uma
reflexão de sua intervenção junto a esses pacientes, no sentido de perceberem a importância, indispensável, da prevenção
dentro do tratamento dessa clientela. Concluí-se, portanto, que o processo de reabilitação só poderá ocorrer paralelamente ao
processo educativo, através de técnicas educativas próprias e com linguagem acessível. Tanto na reabilitação quanto na
educação deve haver a integração entre pacientes, familiares e profissionais. (UFRN-PPPg).
Poster 03.33
EFEITOS DO ENVELHECIMENTO E DE RESTRIÇÃO NA TAREFA DE LOCOMOÇÃO'
MORAES, RENATO DE E ELIANE MAUERBERG-DECASTRO
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- RIO CLARO
Tradicionalmente, estudos sobre locomoção em idosos analisam habilidades funcionais (andar para frente),
entretanto pouco ou quase nada se sabe sofre os aspectos de adaptação dos idosos frente a alterações na tarefa de locomoção.
O presente trabalho teve por objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente (através de análise cinemática) a topologia
do movimento do andar para frente (AF) e para trás (AT) de indivíduos idosos e compará-la com a dos adultos jovens. Nove
sujeitos idosos (GI) com média de idade de 64.2 anos (± 3.6) e 9 sujeitos jovens (GJ) com média de idade de 21.8 anos (±
1.5) foram convidados a participar deste estudo. Os sujeitos foram filmados no plano sagital enquanto andavam para frente e
para trás. Através da filmagem análise cinemática foi conduzida com o propósito de medir as seguintes variáveis:
comprimento relativo da passada (CRP), duração da passada (DP), velocidade da passada (VP), amplitude de movimento
(AM) e pico de velocidade (PV) e também posição e velocidade angulares dos segmentos perna e coxa e da articulação
joelho. Com os dados de posição e velocidade angulares foi possível construir os retratos de fase da perna, coxa e joelho.
Além disso, da derivação dos dados de posição e velocidade angulares foi possível calcular o ângulo de fase para os
segmentos perna e coxa. Análise de variância foi conduzida para comparar possíveis diferenças de desempenho entre os dois
grupos Uovens e idosos) nas duas condições de tarefa (AF e AT). Os resultados foram os seguintes: o CRP foi
significativamente maior para os jovens em comparação com os idosos (p<.05) e foi também maior no AF em comparação ao
AT (p<.Ol). A DP foi a mesma para os dois grupos nas duas condições e a VP não diferiu entre os grupos, mas diferiu entre
as condições sendo maior no AF em comparação ao andar para trás (p<.Ol). A AM do segmento perna foi significativamente
maior para os jovens em comparação aos idosos (p<.05) porém, para o segmento coxa o inverso foi observado (p<.05). A AM
para ambos segmentos foi significativamente maior para o AF em comparação ao AT para os dois grupos ·(p<.Ol). Os PVs
dos segmentos perna e coxa foram significativamente maiores para os idosos em comparação aos jovens no AF (p<.lü) e
significativamente maiores para os jovens em comparação aos idosos no AT (p<.lO). A análise dos retratos de fase indicou
que o padrão de coordenação entre os sujeitos dos dois grupos foi praticamente o mesmo tanto para coxa quanto para a perna
no AF e no AT. A ausência de inflexão durante a fase de suporte para alguns sujeitos dos dois grupos tanto no AF quanto no
AT causou ausência de loop interno no retrato de fase do joelho. A presença do loop interno no retrato de fase do joelho é
característico da locomoção para frente. Quanto maior o tamanho do loop interno maior amortecimento ocorre ao nível desta
articulação. Esta ausência do loop interno no joelho refletiu-se no ângulo de fase da coxa e da perna através de um
relacionamento predominantemente em fase durante todo o ciclo entre os dois segmentos. Através da análise quantitativa dos
resultados, conclui-se que os idosos exibiram maiores alterações no seu comportamento na tarefa de AT do que o GJ. A
análise qualitativa via retratos de fase e ângulos de fase permitiram concluir que no AT a atividade do joelho é reduzida para
a maior parte dos sujeitos jovens e idosos em decorrência da ausência de loop interno. Isto significa que o amortecimento
normalmente observado nesta articulação no AF não se repete no AT e o organismo provavelmente desenvolve uma outra
estratégia de amortecimento do movimento quando do toque do pé no chão.
1
Apoio FAPESP
Poster 03.34
ESTUDO DO PLANEJAMENTO DE UMA TAREFA MOTORA MANIPULATIVA EM PORTADORES DE
SÍNDROME DE DOWN
MOREIRA, CÁSSIA REGINA PALERMO; GIMENEZ, ROBERTO
ORIENTADOR: Manoel, Edison de Jesus, USP
A função manual compõe grande parte das atividades do dia-a-dia que envolvem alcançar, apreender, explorar e
manipular objetos. Em geral, a literatura sobre o desenvolvimento da função manual visa examinar o processo de alcançar e
apreender objetos (Newell & McDonald, 1997), em detrimento da exploração e da manipulação (Manoel & Connolly, 1998).
Ao mesmo tempo, a investigação de como ações motoras são planejadas tem sido restrita à análise de trajetórias de um
79
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
segmento, sendo portanto mais relativas a etapas referentes à computação do movimento (Rosenbaum, 1991). No presente
estudo, nosso enfoque será o planejamento envolvido no manuseio de objetos para atingir metas determinadas. Mais
especificamente, este estudo tem por objetivo investigar o planejamento de uma tarefa manipulativa de encaixar, em pessoas
portadoras de Sindrome de Down. Essa população é considerada como sendo limitada na capacidade de planejar ações,
entretanto, pouco tem sido feito para entender até que ponto tal planejamento é limitado. A tarefa consiste da inserção de uma
barra no orifício de uma caixa, e apresenta dois níveis distintos de dificuldade, em função do formato da extremidade da barra
a ser encaixado. A condição de baixa restrição (extremidade circular) requer apenas localização e posicionamento adequados
da barra para ocorrer o encaixe, enquanto a condição de alta restrição (extremidade semi-circular) requer - além de
localização e posicionamento - a orientação adequada da barra. Apesar de haver mais de uma possibilidade de execução da
tarefa, para cada condição existe uma solução que é considerada a "mais econômica", de acordo com dois critérios: (a) menor
número de articalções envolvidas; (b) menor ângulo articular. Para fins de análise, a manipulação da barra foi divida em três
componentes (ou fases): preensão, transporte e inserção. Considera-se que houve planejamento avançado quando o indivíduo
demonstra um alto nível de acoplamento entre os componentes do programa, como nas seguintes situações: (a) o modo como
a pessoa apreende a barra conduz à solução mais econômica para efetuar a inserção; (b) ocorrem movimentos de
posicionamento e orientação da barra durante as fases de transporte; (c) a inserção é direta (a barra é inserida sem erro de
posicionamento ou orientação ao final da fase de transporte). As categorias comportamentais observadas foram "leve" e
"moderado". Cada sujeito realizou vinte tentativas, sendo dez na condição de baixa restrição e dez na condição de alta
restrição. Para análise dos dados utilizou-se a moda como variável dependente. Os resultados parciais mostraram que os
indivíduos "leves" apresentaram soluções mais econômicas do que os indivíduos "moderados". Por outro lado, houve
diferenças intra-grupos, mais notoriamente marcantes em indivíduos "moderados", como demora na execução, desistência da
tarefa, não resolução da tarefa, entre outras.;
Poster 03.35
LESÃO E REGENERAÇÃO DOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS TIBIALIS ANTERIOR, SOLEUS E
GASTROCNEMIUS DE CAMUNDONGO APÓS INJEÇÃO INTRAMUSCULAR DE ACL MIOTOXINA.
JMORINI, C. C**.; 2SELISTRE DE ARAUJO, H. S.; 30WNBY, C. L.; JSALVINI, T. F.
1
Laboratório de Neurociências, Dep. de Fisioterapia, 2Dep. de Ciências Fisiológicas, UFSCar, SP. 3Dep. Of anatomy, OK,
USA.
Objetivos: Sabe-se que uma dose de 0.5 mg/kg de peso corporal de ACL miotoxina com aplicação subcutânea causa
lesão nos músculos soleus e gastrocnemius. O objetivo deste trabalho foi avaliar o padrão de lesão e a regeneração dos
músculos tibialis anterior, soleus e gastrocnemius do camundongo após injeção intramuscular ACLMT. Métodos e
Resultados: 5 animais receberam uma injeção intramuscular de ACL (0.5 mg/kg/peso corporal) na região do ventre muscular
do soleus e do gastrocnemius da pata direita e uma injeção de solução salina na mesma região da pata esquerda. Outros 5
animais receberam o mesmo procedimento com uma injeção de ACL no tibialis anterior da pata esquerda e uma injeção de
salina na mesma região da pata direita. Os animais foram sacrificados 21 dias após a injeção e os músculos retirados e
congelados. Foram feitos cortes seriados em Micrótomo Criostato (lO).lm de espessura), corados com Azul de Toluidina ou
realizadas as reações para Fosfatase Ácida (FA) e Acetilcolinesterase (AChE). O músculo tibialis anterior apresentou apenas
sinais crônicos de lesão no grupo ACL , este achado foi confirmado pela reação negativa da FA. A reação de AChE se
mostrou positiva em fibras fragmentadas. O grupo salina também apresentou sinais crônicos de lesão que podem ter
acontecido devido a introdução da agulha no músculo. O músculo soleus apresentou as mesmas características do tibialis
anterior tanto nas injeções de ACL quanto nas de solução salina, apesar de a quantidade de sinais crônicos de lesão no grupo
ACL ter sido maior do que no grupo salina. No músculo gastrocnemius a quantidade de sinais crônicos no grupo ACL
também foi maior do que no grupo salina. Foi observado também no gastrocnemius sinais agudos de lesão no grupo ACL
confirmados com a reação positiva da FA, e ainda, a reação de Ache se mostrou novamente positiva em fibras fragmentadas
no músculo gastrocnemius. Conclusão: A regeneração muscular é mais intensa e provavelmente mais lenta quando se utiliza
injeção intramuscular, quando comparado à resultados prévios com injeção subcutânea. A reação positiva de AChE em fibras
de pequeno diâmetro ou fragmentadas indicam remodelamento axonal.
Apoio Financeiro: FAPESP
Poster 03.36
TEMPORIZAÇÃO DO REFLEXO DO TENDÃO PATELAR EM INDIVÍDUOS NORMAIS
MOTA, Y. L.l; MOCHIZUKI, L.l; HERNANDES A.]. 2; DUARTE M.l; AMADIO A. C.l
1. Escola de Educação Física e Esporte USP. 2. Faculdade de Medicina USP.
INTRODUÇÃO. Danos no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) influenciam os mecanismos funcionais da
articulação do joelho, pelo aumento da instabilidade do mesmo. Contudo, é possível compensar dinamicamente a
instabilidade do joelho por substituição muscular completa. Essa substituição muscular se comporta como um mecanismo de
proteção que no caso dos indivíduos com deficiência do LCA é chamado "quadriceps avoidance" (ANDRIACHI, 1990), que
consiste na não ativação ou na diminuição da atividade elétrica do músculo quadríceps femural em atividade a qual deveria
estar ativo. Entre os estudos acerca deste mecanismo de proteção, ANDRIACHI (1993) relata, em seu estudo funcional da
marcha em pacientes com deficiência do LCA, uma tendência em anular ou reduzir a demanda do músculo quadriceps
durante a fase de apoio da marcha. Logo, podemos então perguntar qual o comportamento do reflexo do tendão patelar,
80
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
nestes indivíduos com deficiência do LCA, já que existe uma alteração da atividade elétrica deste músculo durante o
movimento. O teste reflexo do tendão patelar consiste em desencadear o reflexo miotático pela simples percussão do tendão
patelar com um martelo de reflexo, o qual provoca um estiramento do tendão patelar levando a um movimento da parte
inferior da perna para frente.OBJETIVO. Nossos objetivos foram quantificar o tempo de latência do reflexo do tendão
patelar em indivíduos normais e discutir a confiabilidade da metodologia empregada para posteriormente comparar os
resultados obtidos entre sujeitos normais e deficientes do LCA. MATERIAIS E MÉTODOS. O sistema de medida consistiu
de um martelo de análise clínica, com um trigger adaptado em uma de suas pontas, e um eletromiógrafo (Bagnoli 2 EMG
System da DELSYS) com eletrodos de superfície ativos bipolares com amplificador próprio dedicado em cada canal com um
ganho de 1000, utilizados para quantificar a atividade elétrica dos músculos vasto lateral, vasto media[ e reto femural. O
eletromiógrafo e o trigger estavam conectados a um mesmo conversor AD de 12 bits e gerenciados pelo software Bioware da
Kistler. Os sinais foram coletados com uma freqüência de 1004 Hz. Foi utilizado um filtro passa-banda de 2Hz a 500Hz para
os sinais EMG. Nossa amostra constituiu-se de 6 sujeitos adultos voluntários (24,3±3,1 anos de idade, 1,69±7 em de estura,
69,7±15,8 kg de massa), que aceitaram a participação do estudo através de um termo de consentimento informado e que não
apresentavam alteração músculo-esquelética ou neurológica. Os indivíduos permaneciam na posição sentada com o joelho
fletido a 90 graus, e aplicavamos uma percussão no tendão patelar do membro inferior dominante dos mesmos. A latência foi
medida a partir do início da ativação do trigger até o início da atividade elétrica de cada músculo. Os eletrodos de superfície
foram colocados sobre o ponto motor de cada músculo. Para a determinação do ponto motor foi utilizado um gerador de
pulsos elétricos (Omini Pulsi-901 Quark) e dois eletrodos de estimulação: um passivo, em forma de placa, colocado na região
posterior da coxa e um ativo em forma de caneta, utilizado para a busca do ponto motor. DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS. A partir das medidas dos sujeitos testados obtivemos valores do tempo de latência do reflexo do tendão
patelar de 25±1 ms, 29±6 ms, 21±3 ms para os músculos vasto lateral, vasto media[ e reto femural, respectivamente. Os
resultados estão em concordância com os resultados de KURUOGLU (1993), que obteve, com uma metodologia semelhante,
17 ,2±2 ms para a latência do m. reto femural. Não observamos diferença significativa nas latências das porções musculares
do quadríceps femural. Podemos atribuir este resultado a diferença entre o tempo de recrutamento e o tempo de ativação
destas porções estar diretamente relacionado ao ângulo que as fibras se mantém com o eixo longitudinal do segmento durante
o movimento (MAQUET, P. 0.,1984), que no caso eram semelhantes. Concluímos que a metodologia empregada mostrou-se
confiável e sensível para detectar possíveis alterações na latência do reflexo do tendão patelar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRIACCHI, TP Dynamics of Pathological Motion: Applied to the Anterior Cruciate Deficient Knee. J. Biomech
23(Suppl): 99-105, 1990.
ANDRIACCHI, TP Funcional Testing in the Anterior Cruciate Ligament - Deficient Knee. Clin. Orthop.Related Res. 288,
1993.
KURUOGLU R. Quantitation of tendon reflexes in normal volunters. Eletromyogr. Clin. Neurophysiol. 1993.
MAQUET, PG Biomechanics ofthe Knee. Berlin-Heidelberg-New York: Springer verlag, 1984.
Poster 03.37
A EFETIVIDADE DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM SÍNDROME DE DOWN
PROF'. DR. FRANCISCO ROSA NETO
LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO I UDESC
Todas as crianças que correm o risco de serem afetadas no curso de seu desenvolvimento por causas de origem prénatal, perinatal e pós-natal devem ser assistidos de um programa de estimulação precoce, onde destacamos como principais
objetivos : elevar o máximo dos progressos da criança para conseguir sua independência nas distintas áreas de
desenvolvimento, manter a criança no contexto familiar, proporcionando apoio e assistência aos pais e a toda família em
esclarecimento psicológico no que fazer na vida cotidiana, empenhar nas estratégias de intervenção de uma forma
biologicamente relevante. Se elegeu as crianças portadoras de Síndrome de Down devido a motivos de que a Síndrome de
Down é um tipo de deficiência mais freqüente, pode ser detectada desde o nascimento, essas crianças formam um grupo
etiologicamente homogêneo, mesmo que sejam heterogêneos quanto ao seu desenvolvimento evolutivo e, não apresentam
importantes alterações comportamentais. Este estudo sobre a efetividade da estimulação precoce em Síndrome de Down está
sendo realizado através do Centro de Educação Física e Fisioterapia- CEFID, Universidade do Estado de Santa CatarinaUDESC, contemplado com duas bolsas pelo programa de iniciação científica - CNPQ, no período compreendido de
novembro de 1997 a junho de 1998 (oito meses), onde a amostra foi divida em dois estratos um experimental e outro
controle. Foram realizadas três avaliações em cada estrato a fim de caracterizar em que fase do desenvolvimento a criança se
encontra através da "Escala de Desenvolvimento Neuropsicomotor da Primeira Infância de Brunet- Lézine", onde consta de
um conjunto de provas de forma que se oferece para a criança procurando explorar minuciosamente diferentes áreas de
desenvolvimento (postura!, óculo-motriz, linguagem e social). É feito um cálculo do quociente de desenvolvimento
relacionado com cada área citada, ou seja dentro quatro áreas mais especificamente e a partir destes cálculos verifica-se a
média que resulta no cálculo do quociente de desenvolvimento global . De acordo com os resultados obtidos: a criança
apresentava na I'. avaliação um QD=68; com ( QD1= 71, QD2 = 71, QD3= 58, QD4= 71). Após a primeira avaliação, o
programa de estimulação precoce teve como ponto de partida comum o desempenho nos currículos que são modelos descritos
na idade de desenvolvimento comparado com a sua idade cronológica , onde são trabalhadas quatro áreas distintas : postura!
, óculo- motriz, linguagem e social. Trabalha-se nos atendimentos enfatizando mais nas áreas que a criança possui maior
81
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
déficit procurando sempre respeitar suas limitações e, foi aplicado de uma forma rígida e uniforme, onde o serviço prestado é
a domicílio e um membro da equipe profissional segue duas vezes na semana ao domicílio familiar, dando orientações aos
pais, principalmente a mãe que sempre está presente durante o atendimento, o aspecto importante do ambiente físico facilitou
a mãe nesta tarefa com a intenção de que as atividades propostas devem ser simplesmente rotinas e jogos próprios entre a
interação e afetividade da mãe e a criança , após quatro meses da aplicação do programa fez uma i avaliação (QD= 73,
QD1= 77, QD2=81, QD3 = 68, QD4 = 68), continuou-se o programa e após quatro meses, fez a 3' avaliação onde (QD= 79,
QD1= 78, QD2= 97, QD3 = 65, QD4= 75), notou-se que o quociente de desenvolvimento (QD) da criança se elevou
passando do estágio considerado de atraso de desenvolvimento ( < 70 ) para o limite de desenvolvimento ( 70 - 84);
percebe-se que a criança alcançou um grande êxito principalmente na área óculo-motriz onde seu QD passou de 71 para 97.
Grupo controle, resultados obtidos: a criança na i' avaliação apresentava seu (QD= 48, QD1= 49, QD2= 48, QD3=48,
QD4=48), após quatro meses a i avaliação seu (QD= 53, QD1= 54, QD2= 52, QD3= 52, QD4= 54), após oito meses da I'
fez a 3' avaliação seu QD= 55, ( QD1= 60, QD2= 60, QD3= 50, QD4= 50), notou-se que o quociente de desenvolvimento da
criança que não recebeu estimulação precoce permaneceu inalterado caracterizando sempre como um atraso de
desenvolvimento ( < 70), nas três etapas de avaliação. A amostra foi considerada pequena e o tempo de duração também,
mas a pesquisa terá continuidade a fim de obter dados estatísticos mais significativos, porém ambos os estratos partiram do
princípio de idades cronológicas semelhantes, onde a situação sócio-econômica de ambos eram a mesma, e as comparações
através do quociente de desenvolvimento serviram para verificar a efetividade da estimulação precoce não só no âmbito do
desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mas em relação aos fatores que podem influenciar na adaptação de uma família
tais como as características da criança, a personalidade dos pais, e principalmente a qualidade das relações entre profissional,
mãe e filho.
Poster 03.38
As-Ga LASER EFFECT IN THE REGENERA TION PROCESS OF TIBIALIS ANTERIOR MUSCLE OF MICE.
lOLIVEIRA, N.M.L. **; lZAITUNE, C.R. *; 20/SHI, J.; lPARIZOTTO, N.A.; 3SELISTRE DE ARAUJO, H.S.;
lSALVINI, T.F.
1
Laboratório de Neurociências, Departamento de Fisioterapia, UFSCar, SP. 2Departamento de Estatística, UFSCar, SP.
3
Departamento de Ciências Fisiológicas, UFSCar, SP.
INTRODUCTION: Low intensity lasers can modulated some kinds of biological sistems 1. Some studies showed a
beneficiai effect of laser in the muscle regeneration process3' 4 '5' 6 . Ali of these works used invasive procedures with direct
application and high doses of laser irradiation in the skeletal muscles. It is know that the As-Ga laser has a deeper penetration
than the He-Ne laser. The objective of this work was to evaluate the effectiveness of the Ga-As laser in the regeneration
process of Tibialis anterior (TA) muscle of mice using an analogous clinicai protocol. TA muscles were injured by ACL
myotoxin 7 and treated by Ga-As 904 nm infrared laser. PROCEDURES: Eight male mice (white Swiss), weighing 35-40g
were used. Animais were anesthetized, the hind limb were waxed. Both right and left TAs received a single intramuscular
injection of ACL myotoxin (0,5mg/Kg of body weigth). ACL myotoxin (ACLMT) was extracted from the total venom of
Agkistrodon contortrix laticintus. The As-Ga laser treatment (infrared pulsed mode, wavelenght of 904 nm) consisted of a
single daily application (dose of 3 J/cm2 and 1,5 mW) on the TA skin, during 5 days. The control paw received only sham
treatment. The first Laser application was made 2 hours after the ACLMT injection. Twenty-one days after ACLMT
injection, all animais were killed and TA muscles were removed, weighed, freezing and submitted to histological procedures.
Body and muscle weights and also the mean of fiber areas were analyzed by Student T-test (significant when p • 0.05).
RESUL TS: Both right and left TAs showed acute and chronic signs o f muscle regeneration in different regions o f the muscle
fibers. There were not difference in the morphological aspects between AS-Ga laser and sham muscles. Similar results were
also observed in the TA muscle weight (As-Ga laser 0.10 ± 0.01 g versus sham group 0.10 ± 0.02g) and in the area of muscle
fibers ( AS-Ga laser 2494 ± 2515j..lm2 versus sham group 2563 ±1410j..tm2). DISCUSSION: These results suggest that, using
clinicai procedures, the Ga-As infrared laser did not improve the TA muscle regeneration of mice. Previous report showed
fast muscle regeneration using AS-Ga laser 5 , but the experimental conditions were different of the used here. Using a noninvasive method, the laser radiation have to cross over the skin and it is possible that the energy was not enough to stimulate
the specific chromophores and induce changes in the muscle regeneration. It is also possible that the muscle fibers
chromophores have not absorption in the infrared spectral band. CONCLUSION: Non-invasive As-Ga laser treatment, used
to treat skeletal muscle damage of mice induced by myotoxin, was not effective to improve the regeneration process.
ACKNOWLEDGEMENTS: Oliveira, N.M.L is a Master Fellow of CAPES. Financiai support: FAPESP and CNPq. Dr. A.
J. Bucalon (Bioset Co) give us the As-Ga laser used in the research. We thanks T. F. F. Piassi for technical assistance.
REFERENCES: 1- Belkin M, Zaturunsky B, Schwartz M (1988) A criticai review of low energy laser bioeffects. Lasers
Light Opthalmol2:63-71
3- Weiss N, Oron U (1992) Enhaancement of muscle regeneration in the rat gastrocnemius muscle by Iow-energy laser
irradiation. Anat Embryol 186: 497-503
4- Bibikova A, Oron U (1993) Promotion of muscle regeneration in the toad (Bufo viridis) gastrocnemius muscle by low
energy laser irradiation. Anat Rec 3: 374 380
5- Bibikova A, Oron U (1994) Attenuation of the process of muscle regeneration in the toad gastrocnemius muscle by Iow
energy laser irradiation. Lasers Surg Med 14: 355-361
82
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
6- Amaral A. C., Parizotto N. A., Salvini T. F (1998) He-Ne Laser action in the regeneration of the tibialis anterior muscle of
mice. Faseb-USA
7- Morini C. C., Pereira E. C. L., Selistre de Araújo H. S.,Owby C., Salvini, T.F. (1998) Injury and recovery of fast and slow
skeletal muscle fibers affected by ACL myotoxin isolated from Agkistrodon contortrix laticintus (Broad-Banded Copperhead)
venon. Toxicon (in press)
Poster 03.39
LESÃO POR ESTIRAMENTO DO MÚSCULO SOLEUS: ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS.
PACHIONI, C. A. S. DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA- FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, UNESP- CAMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
A lesão muscular por estiramento é reconhecida como uma das mais freqüentes no esporte, sendo uma lesão indireta
provocada por uma força excessiva ou por "stress" no músculo; freqüentemente decorre de contrações potentes combinadas
com alongamento forçado do músculo. A fibra muscular lesada geralmente apresenta necrose segmentar, observando-se
ausência de organização miofibrilar e de organelas citoplasmáticas, o que compromete sua capacidade funcional. Para este
trabalho, foram utilizados vinte e quatro ratos machos da raça Wistar, com peso médio de 245 gr. Os vinte e quatro animais
foram distribuídos em três grupos experimentais (A, B e C), de acordo com o tipo de experimento realizado, sendo cinco no
grupo A (controle), onze no grupo B (tetanização seguida de estiramento) e oito no grupo C (somente tetanização). Após três
dias do experimento, os animais eram sacrificados por inalação de éter anestésico. Uma vez retirado, o músculo era cortado
em três fragmentos (região proximal, mediai e distai) e mergulhados em nitrogênio líquido por 45 segundos para congelação.
Cortes histológicos transversais seriados de 8 J.lm de espessura foram obtidos dos três fragmentos de cada músculo, em
micrótomo criostato. Cortes alternados eram corados, respectivamente pela técnica histológica de azul de toluidina e pelo
método histoquímico da reação enzimática para a fosfatase ácida. A análise dos cortes corados era realizada em microscópio
óptico e fotomicrogradados com filme Kodack Ektar (Asa 25). A análise quantitativa da fibra muscular com sinais de lesão,
ou seja, a contagem do número de fibras em regeneração, do número de fibras com núcleo centralizado ou fragmentadas e do
número total das fibras lesadas foi realizada nas regiões proximal, mediai e distai do músculo soleus dos animais dos grupos
controle, tetanização seguida de estiramento e somente tetanização. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o
número de fibras lesadas foi maior no grupo tetanização seguida de estiramento, em relação aos demais grupos, nas três
regiões estudadas. Outro achado interessante foi que em uma mesma secção transversal do músculo observavam-se,
concomitantemente, feixes de fibras lesadas circundados por fibras musculares de aspecto normal, caracterizando
heterogeneidade e segmentação das lesões ao longo dos músculos, o que provavelmente significa que as tensões transmitidas
ao músculo pelo método empregado não se distribuem igualmente por todas as fibras, havendo maior concentração em alguns
locais. Onde as tensões foram maiores ocorria a lesão. Os resultados globais obtidos neste trabalho reforçam a idéia de que o
estiramento do músculo soleus do rato enquanto contraído provoca lesão focal ou segmentar de modo semelhante ao que se
observa nas lesões decorrentes de atividades esportivas, em humanos.
Poster 03.40
ELECTROMYOGRAPHIC ACTIVITY OF THE VASTUS MEDIALIS OBLIQUE AND VASTUS LATERALIS
LONGUS MM. DURING OPEN AND CLOSED KINETIC CHAIN EXERCISES
PEDRO, VANESSA MONTEIRO-; FAUSTO BÉRZIN; DÉBORA BEVILAQUA- GROSSO; IVANA A. GIL; FÁBIO
VIADANNA SERRÃO; CRISTINA M. NUNES CABRAL; RODRIGO ].B. GARDELIN; MATHIAS VITTI.
DEPTO DE FISIOTERAPIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS AND FOP/ UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS. SÃO PAULO - BRAZIL.
Introduction: The purpose of this study was to analyze the electromyographic activity of the vastus medialis
oblique (VMO) and vastus Jateralis Iongus (VLL) muscles during knee extension in open kinetic chain exercise, using a knee
extension table, and in closed kinetic chain exercise, using a horizontal leg-press (VIT ALLY). Methods: The
electromyographic activity of the VMO and VLL muscles was measured in 12 subjects, aged 18 to 23 years (X=21.9;
SD=l.16), without prior hip, knee, and ankle pathologies, during exercises of Maximal Isometric Contraction (MIC) at 90
degrees of hip and knee flexion. A 16-Channel EMG System (CAD 12/36- 60 K LYNX Ltda) and differential surface
electrodes (DELSYS Inc.) were used to obtain the EMG activity. The signal of the VMO and VLL muscles was recorded in
Root Mean Square (RMS) and expressed in J.!V. The statistical analysis employed was the Student's t-test at 5% levei of
significance. Results: The results showed that the electromyographic activity of the VMO muscle was significantly greater
than that of the VLL muscle during open (p=0.0001) and closed (p= 0.0002) kinetic chain exercises. Conclusions: The data
of this work, within the experimental conditions used, suggest that the VMO muscle can be recover functionally by exercises
of MCI at 90 degrees of hip and knee flexion during open kinetic chain exerci se, using an extension table, and also in closed
kinetic chain exercise, using a horizontal leg-press.
This research was conducted in accordance with the National Council of Health (Resolution 196/96).
Supported by CNPq/ Process (W 524190196-8)
83
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.41
OS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA NA ESPASTICIDADE
SECUNDÁRIA AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
PEREIRA L. G., SEGALLA A F. L., ALMEIDA A L. ]. DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - UNESP - PRESIDENTE
PRUDENTE.
No acidente vascular cerebral (AVC) um dos sinais ou sintomas mais freqüentes é a espasticidade que, na maioria
das vezes, interfere na evolução motora do paciente durante o processo de reabilitação, limitando sua independência nas
atividades de vida diária (AVD). Alguns autores afirmam que a espasticidade é atribuída a ocorrência de um desequilíbrio de
inibição e excitação nos motoneurônios da medula espinhal. Estudos indicam que a estimulação elétrica nervosa transcutânea
(TENS), quando aplicada em pacientes com hemiparesia espástica, produz um decréscimo estatisticamente significante no
torque de resistência. Estes resultados mantiveram-se até aproximadamente 45 minutos após o final da aplicação da TENS.
Segundo a literatura, um dos mecanismos prováveis de atuação da TENS na redução da espasticidade é o aumento da
inibição pré-sináptica dos músculos espásticos. Neste estudo procurou-se confirmar a hipótese de que a TENS de baixa
intensidade e alta freqüência promove o efeito supressivo da espasticidade e melhora as funções motoras em indivíduos
portadores de hemiparesia espástica. Tendo como referência os dados da literatura, foi realizado um estudo de caso onde os
eletrodos de estimulação foram colocados no músculo bíceps braquial do membro hemiparético espástico. Foram utilizados
impulsos com a freqüência de 100 Hz, por um período de 20 minutos de aplicação com intensidade suficiente para provocar
uma contração mínima visível. Nas sessões de aplicação foi observado, por meio de uma avaliação subjetiva (palpação), uma
redução do tônus muscular. Após a obtenção destes resultados notou-se a necessidade de uma avaliação quantitativa e
qualitativa do tônus pré e pós a aplicação da corrente elétrica. Este instrumento de avaliação encontra-se em fase de
elaboração para posterior aplicação em um estudo com uma maior população.
Poster 03.42
ANÁLISE DAS INFLUÊNCIAS DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR
RODRIGUES DELAINE, UNIMEP
Objetivo: A pesquisa em questão visou verificar as influências das condições de trabalho sobre a saúde do
trabalhador, existentes no 3o e 5° Ofício - Cíveis do Fórum de Piracicaba, avaliando as incidências de patologias que
acometem a coluna vertebral dos seus funcionários.Metodologia: A metodologia desta pesquisa se fundamentou na
observação sistemática do ambiente de trabalho, com o objetivo de analisar o espaço físico , condições ergonômicas,
organograma e materiais utilizados. Associado realizou-se a observação das posturas adotadas durante a jornada de trabalho
e entrevista. Resultados: Verificou-se que dos 21 funcionários entrevistados ,66,7 % eram do sexo feminino, com idade
entre 23 a 47 anos, 33,3% apresentavam tempo de serviço entre 4 e 6 anos, 85,7% assumiam posição sentada durante a maior
parte do dia, a presença de dor foi confirmada em 85,7% , sendo que 33,3% tinham como local exclusivo da dor a coluna
lombar, 22,1% apresentavam a cervicalgia associada a lombalgia, em 50% dos funcionários que sentiam dor o seu período
de ocorrência era no final da tarde e em 66,1% dos trabalhadores que sentiam dor não houve procura pôr assistência médica
e/ou fisioterápica. Conclusão: O déficit ergonômico oferecido pelo ambiente de trabalho influiu sobre a saúde do trabalhador
, afetando inexoravelmente a sua coluna de forma gradativa. Portanto é necessário promover a Educação Sanitária a fim de
que modifiquem as atitudes e comportamentos do indivíduo frente as condições laborativas.
Poster 03.43
INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA NA MOTRICIDADE DE MEMBROS SUPERIORES DE CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL.
SÁ, CSC.; CARBONARIO, F.
Curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Crianças com Paralisia Cerebral apresentam distúrbios do controle motor de intensidade variável. Geralmente os
membros superiores são acometidos de maneira importante em conseqüência de alterações do tono muscular associadas às
deficiências do controle voluntário da motricidade, contribuindo para a pobreza de movimentos e incoordenação dos mesmos,
sendo que os movimentos distais e mais refinados como a preensão estão gravemente prejudicados. Embora exista esse
grande acometimento do membros superiores, normalmente não há uma intervenção fisioterápica enfatizando este prejuízo.
Dessa forma este estudo visa avaliar e quantificar a possível melhora da motricidade dos membros superiores após a
intervenção fisioterápica empregando-se facilitação neuromuscular proprioceptiva. Foram avaliadas e tratadas 2 crianças com
Paralisia Cerebral espástica diplégica, do sexo masculino, com 5 e 7 anos de idade. Inicialmente as crianças foram submetidas
a uma avaliação do tono muscular, das atividades funcionais e das atividades manuais, sendo esta última analisada através de
filmagem. Após a primeira avaliação as crianças foram submetidas a intervenção fisioterápica 2 vezes por semana, durante 1
hora por 9 semanas. A intervenção consistiu na utilização das diagonais (DI e D2) de membros superiores e diagonais de
tronco da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, e de exercícios específicos enfatizando-se os princípios de
tração, resistência, reflexo de estiramento e movimentos em diagonal da mesma técnica para punho e mão, incluindo-se o
movimento de oponência do polegar. Ao término das 9 semanas (18sessões), as crianças foram reavaliadas e os dados
comparados, através da escala do tono muscular (Durigon, Piemonte, 1993) e da escala das atividades funcionais (Durigon,
Sá, Sita, 1996), e a ainda comparou-se o tempo de movimento das atividades manuais Os resultados demonstram que não
84
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
houve alteração do tono muscular nas 2 crianças, mas sim alteração das atividades funcionais, referentes a sedestação,
quadrupedia, ajoelhado e no deslocamento a partir da quadrupedia, isto revela melhora do controle de tronco e dos ajustes
posturais estáticos e dinâmicos, obtidos através da aplicação das diagonais de tronco. Com relação as atividades manuais
observamos para ambas as crianças uma diminuição no tempo de movimento em todas as atividades propostas, exceto numa
determinada atividade, a qual envolvia encaixes, que houve aumento do tempo de movimento, não indicando uma piora mas
sim um ganho no controle da motricidade fina, pois segundo a literatura quanto mais preciso o movimento maior o tempo de
execução. Com base nos nossos resultados, embora a amostra seja pequena, podemos avaliar e quantificar a melhora da
motricidade de membros superiores a partir da intervenção fisioterápica empregando-se a facilitação neuromuscular
proprioceptiva, sendo esta técnica uma opção terapêutica eficaz no tratamento de crianças com distúrbios neurológicos.
Poster 03.44
A IMPORTÂNCIA DA OFICINA TERAPÊUTICA DENTRO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO: RELATO DE
UMA EXPERIÊNCIA
SACRAMENTO, ANGELA MARIA
HOSPITAL SARAR DO APARELHO LOCOMOTOR- SALVADOR
Quando um indivíduo participa de um programa de reabilitação, ele deve ser abordado nos aspectos clínico,
psicológico, motor e ocupacional. O processo de reabilitação é concretizado na medida em que o paciente alcança
independência (dentro das suas possibilidades), integra-se em sua família ou grupo social e, principalmente, exerce alguma
atividade produtiva. O objetivo final não busca a remuneração econômica propriamente dita mas a satisfação e a
oportunidade de transformar através da sua ação. Assim, a implementação de uma Oficina Terapêutica pode contribuir
significativamente para o sucesso do programa de reabilitação. Ela propicia ao paciente a vivência de atividades que estão
presentes no seu cotidiano e estimula a sua participação durante as mesmas através de etapas como planejamento,
organização, execução e encerramento das atividades. Este trabalho tem como objetivo descrever o processo de
implementação de uma Oficina Terapêutica desenvolvida pelo Programa de Reabilitação do Lesado Cerebral Adulto do
Hospital Sarah do Aparelho Locomotor- Salvador. A Oficina aborda o tema "Culinária" e nela podem participar pacientes
portadores de sequelas por lesão cerebral decorrentes de AVC, tumor, TCE, etc. que demonstrem interesse. Os atendimentos
são realizados em grupo (8 pessoas), com frequência semanal e duração de uma hora e trinta minutos. Cada paciente participa
da oficina por 2 meses (8 encontros). Em cada encontro são realizados o planejamento de cada atividade, a compra do
material, organização do local, execução da receita e avaliação da atividade. A Oficina é coordenada por uma terapeuta
ocupacional e uma professora que atuam conjuntamente na estimulação cognitiva e motora dos pacientes, orientação de
adaptações (que poderão ser utilizadas pelo paciente no seu domicílio), prevenção de acidentes além da estimulação de
atividades de vida prática (AVP's). Ainda, são reforçados esclarecimentos sobre a dieta previamente orientada por
nutricionista a fim de melhorar a adesão após alta. A nossa experiência tem mostrado que a Oficina Terapêutica atua
diretamente sobre a auto-estima do paciente, possibilita o uso funcional da capacidade motora remanescente, contribuiu para
o estabelecimento de relações interpessoais e permite a reeducação de habilidades cognitivas importantes para a realização da
atividade.
Poster 03.45
ESTUDO DA FORÇA FUNCIONAL E MÁXIMA DE PREENSÃO EM FUNCIONÁRIOS SINTOMÁTICOS E
NÃO-SINTOMÁTICOS.
SANDE, L.A.P.; COURY, H.].G.; OISHI, ].
DEPTO. DE FISIOTERAPIA- UNIVERSIDADE FEDERAL DE S. CARLOS - UFSCAR
O uso excessivo de força tem sido reconhecido como um importante fator de risco para lesões do sistema músculoesquelético em ambientes ocupacionais. Quando o uso de força associa-se a algumas posturas e movimentos, como por
exemplo o movimento de preensão da mão, parece existir uma potencialização ainda maior destes riscos. O objetivo deste
estudo foi analisar comparativamente o comportamento da força em indivíduos assintomáticos e em indivíduos acometidos
por distúrbios músculo-esqueléticos (LER) em estágios iniciais e tardios da lesão. A força funcional, ou seja, aquela
habitualmente empregada durante a atividade ocupacional e, a força máxima, exercidas neste tipo específico de preensão
(palmar aberta), foram analisadas em situação ocupacional com o intuito de compreender como a combinação dos fatores
força e uso de preensão se manifesta em casos patológicos e não-patológicos. Trinta sujeitos do sexo feminino, funcionárias
de uma indústria de material escolar foram recrutadas para este estudo por utilizarem com freqüência um tipo específico de
preensão funcional em seu trabalho. Três grupos de sujeitos foram formados após uma cuidadosa avaliação clínica: I)
indivíduos saudáveis, assintomáticos, que estão trabalhando na função usual; 11) indivíduos portadores de lesão por esforço
repetitivo (LER) em estágios iniciais da lesão e, III) indivíduos em estágios mais avançados da lesão. Um dispositivo especial
foi construído para a mensuração da força funcional e máxima dos sujeitos. O dispositivo reproduzia um agrupamento de 15
tabuínhas (empunhadura de 8,5 em), número de unidades usualmente manuseado pelas trabalhadoras. Essas tabuínhas foram
fixadas umas às outras através de duas hastes parafusadas. As tabuínhas foram recortadas de forma a embutir um
dinamômetro de pinça fina da Biometrics. A calibração do dispositivo foi realizada previamente utilizando-se do
dinamômetro Jamar. Cada sujeito foi orientado com relação aos objetivos do trabalho e assinou um termo de ciência e
concordância. As medidas foram realizadas com os sujeitos adotando duas posturas diferentes: postura ergonômica e postura
funcional - estabelecida a partir de filmagem e análise cinesiológica. Cada sujeito realizou em cada postura três movimentos
85
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
de preensão simulando a força usualmente empregada na atividade ocupacional e três movimentos de preensão empregando
sua força máxima. As contrações foram mantidas por quatro segundos e seguidas por um intervalo de repouso de no mínimo
2 minutos entre eles. Os resultados foram analisados utilizando-se estatística descritiva, ANOV A, Duncan post hoc para se
conhecer a interação entre os fatores que influenciam na força aplicada. Foi também utilizada uma análise de regressão linear
entre os dois tipos de força. Com relação a caracterização das desordens, os sujeitos do grupo 11 apresentaram sinais e
sintomas na musculatura do antebraço, seguido por síndrome do túnel do carpo (relacionada ao punho) e De Quervain
(polegar). No entanto, no grupo Ill, aumentaram as áreas afetadas e predominaram as regiões do braço, ombro e polegar (De
Quervain), refletindo a inespecificidade do território anatômico que surge com a progressão da lesão. Houve também uma
presença marcante de alterações na região da mão e dedos que não existiu no grupo Il. A ANOV A mostrou que os resultados
das forças (funcional e máxima) foram significativamente diferentes, sendo que esta diferença ocorreu também entre os
grupos. As diferenças entre as forças foram significativamente afetadas pelos grupos mas não pelas posturas. A força
funcional encontrada na postura funcional representou 50.2% da força máxima para os sujeitos do grupo I, 67.8% para os
sujeitos do grupo 11 e, 80.4% para aqueles do grupo III. E, na postura ergonômica, os valores foram: 59,2 %no grupo I; 69,9
% no 11 e, 88% no III. Isto reflete a diminuição da força máxima e permanência dos valores de força funcional, com a
progressão da lesão. As demais variáveis analisadas (idade, peso, altura, tempo de serviço e medidas da mão), não
influenciaram significativamente a força gerada. Os resultados do teste de Duncan revelaram que a força máxima obtida para
o grupo I foi estatisticamente diferente de todos os demais resultados, assim como a força máxima da força funcional no
grupo 11. O teste também mostrou que as diferenças entre força máxima e funcional foram altamente significativas no grupo I
(p<0,0001), foram também significativas no grupo 11 (p<0,05) mas não foram significativas no grupo 111. A regressão linear
mostrou que os três grupos apresentaram um pequeno desvio com relação a média. Porém a maior correlação foi encontrada
entre os valores do grupo III (R=0,82); seguida pelo grupo 11 (R=0,79) e por último o grupo I (R=0,73). O grupo I
caracteiizou-se por valores mais distantes da média, indicando uma maior variabilidade na força gerada pelos diferentes
sujeitos. Por outro lado, no grupo III os valores obtidos foram mais próximos à reta de tendência média o que parece mostrar
uma tendência na qual os sujeitos com lesão apresentariam valores· menos variáveis entre si. O grupo Ill apresentou um
coeficiente angular muito próximo a 1 (1,02) indicando serem as força máximas muito similares as forças funcionais. Os
resultados indicaram que os níveis de força foram influenciados pela LER, ocorrendo uma aproximação entre as duas forças
com a progressão da lesão por perda de força máxima enquanto a funcional alterou-se pouco, provavelmente pelo fato de a
demanda física do trabalho ter sido mantida constante.
Agradecimento: FAPESP (Proc. N. 97/04765-7); CAPES
Poster 03.46
FIDEDIGNIDADE DAS MEDIDAS INTER E INTRA TESTES COM GONIÔMETROS UNIVERSAL E
FLEXÔMETRO DE LEIGHTON.
SANTOS, HELEODÓRIO HONORATO DOS JERÔNIMO FARIAS DE ALENCAR*, JOSÉ JAMACY DE A.
FERREIRA*, LUCIANA KARLA V. BARROSO**, DANIELA NEVES AMARAL**, RAQUEL F. C. CÂMARA**, E
TATIANA C. C. GUEDES**.
A goniometria é a conduta de aferição da amplitude de movimento articular (ADM) mais utilizada na fisioterapia.
Vários são os instrumentos de medição, dentre os quais, o goniômetro universal e o magnético, tipo bússola, são de grande
uso para medir as linhas básicas das limitações do movimento, e assim decidir sobre as intervenções terapêuticas apropriadas.
Objetiv!lmos neste trabalho verificar a fidedignidade nas mensurações da ADM nas articulações do joelho e cotovelo entre os
investigadores e entre os instrumentos, goniômetro universal e flexômetro de Leighton. Foram selecionados até o momento
60 indivíduos saudáveis, de ambos os sexos (35 homens e 25 mulheres), numa faixa etária entre 20 e 25 anos. Estes foram
submetidos a uma avaliação clínica sintética constando de: teste de força muscular, amplitude de movimento e cinestesia,
onde cada investigador realizou, com cada um dos instrumentos, 3 aferições extraindo-se uma média entre elas. bs dados
foram digitalizados em uma planilha eletrônica e analisados com um pacote estatístico (SPSS), onde as técnicas utilizadas
foram: análise de variância (ANOV A) com dois fatores, diagrama de caixa (box-plot) e algumas medidas estatísticas
descritivas. Através da análise de variância chegou-se a conclusão de que há diferença significativa (a nível de 5%) entre as
médias obtidas com o flexômetro de Leighton e goniômetro universal para as articulações do joelho e do cotovelo. O
diagrama de caixa mostra que as medidas obtidas com o goniômetro universal são mais homogêneas e possuem uma maior
simetria mostrando-se em concordância com a literatura internacional.
86
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.47
EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO NO APARELHO LEG PRESS NA ATIVIDADE ELÉTRICA
DOS MÚSCULOS VASTO MEDIAL OBLÍQUO E VASTO LATERAL LONGO.
SERRÃO, FÁBIO VIADANNA *;CRISTINA M. NUNES CABRAL**; FAUSTO BÉRZIN***; RODRIGO ].B.
GARDELIM****; IVANA A. GIL***; DÉBORA BEVILAQUA- GROSSO***; VANESSA MONTEIRO- PEDRO**.
*Departamento de Fisioterapia - Universidade Metodista de Piracicaba e Mestrando em Ciências da Reabilitação Universidade Federal de São Carlos; **Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal de São Carlos; ***FOP/
Universidade Estadual de Campinas. São Paulo - Brasil; ****Departamento de Estatística - Universidade Federal de São
Carlos.
Objetivo: A proposta deste estudo foi analisar a efetividade de um programa de treinamento de exercícios em cadeia
cinética fechada (CCF), no aparelho Leg Press Horizontal (VIT ALL Y), por meio da avaliação eletromiográfica dos músculos
vasto mediai oblíquo (VMO) e vasto lateral longo (VLL). Material e Método: Participaram desta pesquisa 10 sujeitos de
ambos os sexos, com idades entre 18 e 23 anos (X= 21,9 ± 1,19) sem história de lesão osteomioarticular no membro inferior
esquerdo. O programa de treinamento no aparelho Leg Press Horizontal foi realizado duas vezes por semana durante um
período de 4 semanas, e constou de 3 séries de 10 contrações isotônicas com resistência máxima em uma amplitude de
movimento de 120 o à oo de flexão de joelho com a tíbia em rotação neutra, rotação mediai e rotação lateral. A atividade
elétrica dos músculos VMO e VLL do membro inferior esquerdo foi mensurada durante a contração isométrica com
resistência máxima (CIRM) à 90° e 45o de flexão de joelho e com tíbia em rotação neutra, no aparelho Leg Press Horizontal.
Utilizou-se um sistema de aquisição de sinal eletromiográfico de 16 canais com programa de aquisição de dados Aqdados 4.7
(CAD 12/36-60K-LINX TECNOLOGIA Ltda) e eletrodos de superfície diferenciais (DELSYS Inc). Os sinais captados
foram quantificados pela raiz quadrada da média (RMS) e normalizados pela contração isométrica voluntária máxima
(CIVM) de extensão do joelho com o quadril e joelho à 90° de flexão, no aparelho Leg Press Horizontal. O método estatístico
empregado foi o teste de Wilcoxon em nível de 5% de significância. Resultados: Os resultados evidenciaram que não houve
diferença significativa na atividade elétrica do músculo VLL antes e após o treinamento, nos ângulos de 90° e 45° (p=0,949 e
p=0,207, respectivamente) e também do músculo VMO para os mesmos ângulos (p=0,997 e p=0,620, respectivamente).
Conclusões: Os resultados deste trabalho, dentro das condições experimentais utilizadas, sugerem que o programa de
treinamento de exercício em CCF proposto no aparelho Leg Press Horizontal não recupera seletivamente os músculos VMO
eVLL.
Esta pesquisa foi conduzida de acordo com o Conselho Nacional de Saúde (Resolução No 196196).
Apoio Financeiro: CNPq (Projeto integrado de Pesquisa N° 524-190/96-8). CAPES: Bolsa Nível Mestrado
Poster 03.48
ANÁLISE DAS ADAPTAÇÕES DA POSTURA ESTÁTICA EM INDIVÍDUOS CEGOS
SIMPRINI ROSIMEIRE *;LÍGIA MARIA PRESUMIDO BRACCIALLI**
Unesp, Marília
A manutenção da postura corporal só é possível devido a sincronização no funcionamento, a integração e a
integridade dos sistemas músculo esquelético, nervoso periférico, visual, vestibular, somato sensorial e nervoso central.
Estudos existentes sugerem que a acuidade visual teria fundamental importância nesse controle e que a falência desse sistema
seria responsável pelo desencadeamento de diversas adaptações posturais. Dessa forma, o propósito do presente estudo
consistiu em verificar a existência de adaptações posturais em indivíduos deficientes visuais e analisar possíveis correlações
entre as adaptações e a época da perda visual. Nossa amostragem foi composta por 8 indivíduos diagnosticados como cegos,
congênitos ou adquiridos, na faixa etária entre 30 e 41 anos, com média de idade de 35 anos e 25 meses, de ambos os sexos.
Foram excluídos os sujeitos que apresentavam alguma outra alteração motora, sensorial ou mental associada, as quais
poderiam interferir nos resultados encontrados. Todos os sujeitos foram submetidos a uma análise qualitativa realizada por
meio de uma avaliação clínica com auxílio de uma ficha de registros posturais e filmagens da postura estática. Dessa forma,
obteve-se dados relevantes ao estudo, como: idade, sexo, etiologia, época da perda visual, resíduo visual, obliqüidade pélvica
e de ombros, alteração no ângulo de tales, presença de cifose, lordose, escoliose, e:r1curtamentos e força muscular. Os dados
coletados foram tabulados e analisados estatisticamente. Os resultados encontrados mostram a presença de escolioses (75%),
aumento da cifose dorsal (75%), exacerbação da lordose lombar (75%), encurtamento de ísquio-tibial (37,5%), tríceps sural
(75,%), adutores (87,5%) e ilio-psoas (87,5%), rotação e inclinação da cabeça para um dos lados (100%), ptose abdominal
(100%), fraqueza de reto abdominal e paravertebrais (75%), alteração na consciência corporal (100%). Os resultados
encontrados sugerem que indivíduos com deficiência visual apresentam, principalmente, adaptações posturais no
posicionamento da cabeça decorrentes, talvez, de ajustes necessários para atingirem uma melhor percepção auditiva, dando
sempre preferência a um dos ouvidos. Verifica-se que, nos sujeitos estudados, existiu uma correlação entre a época da perda e
o resíduo visual com o agravamento das alterações posturais. Quanto mais precoce a época da perda e menor o resíduo visual,
maior o comprometimento da postura estática, associado a uma maior dificuldade de posicionamento e consciência corporal.
*Aluna do curso de graduação de Fisioterapia na Universidade de Marília
Estágiaria extracurricular do Centro de Orientação Educacional- UNESP - Marília
**Professora do Departamento de Educação Especial-UNES?- Marília
Doutoranda em Educação Física - UNJCAMP - Campinas
87
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.49
ATIVIDADE ELÉTRICA DO MÚSCULO ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO EM INDIVÍDUOS CLINICAMENTE
NORMAIS E DISFÔNICOS EM SITUAÇÕES DE FALA
* SILVERIO KELLY C. A.; **FAUSTO BÉRZIN; ***SUSANA FERES; ****VANESSA MONTEIRO-PEDRO
*Departamento de Fonoaudiologia -Universidade Metodista de Piracicaba, Mestranda do Curso de Biologia e Patologia
Buco-dental- Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP ; ** Departamento de Morfologia - Faculdade de
Odontologia de Piracicaba -UNICAMP; ***Fonoaudióloga Clínica; ****Departamento de Fisioterapia - Universidade
Federal de São Carlos.
Objetivo: A proposta deste trabalho foi avaliar, bilateralmente, a atividade elétrica do músculo
esternocleidomastoideo (ECM), em indivíduos clinicamente normais e disfônicos, em situações de repouso e fala. Métodos:
A atividade elétrica dos músculos Esternocleidomastoideo Esquerdo (ECME) e Esternocleidomastoideo Direito (ECMD) foi
estudada em 20 indivíduos do sexo feminino, subdivididos em dois grupos. Um grupo com 10 indivíduos, na faixa etária de
17 a 42 anos (X 28,8 ± 7,2) sem história de alteração vocal (Grupo Controle) e 10 indivíduos com idade de 21 a 47 anos (
X 25,7 ± 7,3 ), disfônicos, com queixa de rouquidão e presença de nódulos bilaterais e fenda nas pregas vocais, evidenciados
por exame otorrinolaringológico- nasofibroscopia (Grupo Disfônico). As situações avaliadas foram: Repouso, Emissão da
vogal I a/, Emissão da fricativa I z I e Emissão de fala encadeada- dias da semana. A atividade eletromiográfica foi obtida
por meio de um sistema de aquisição de sinal eletromiográfico ( CAD12/36 60K - LYNX Tecnologia Ltda ) e eletrodo
diferencial de superfície
(DELSYS Inc. ). A amplitude do sinal eletromiográfico foi mensurada pela Raiz Quadrada da
Média (RMS) em microvolts e normalizada como porcentagem da Contração Isométrica Voluntária Máxima (CIVM) do
músculo ECM. A análise estatística empregada foi Teste-t de Student, em nível de 5% de significância. Resultados: Os
resultados deste estudo mostraram que a atividade eletromiográfica dos músculos ECME e ECMD foi significativamente
maior (p= 0.034 e p= 0.024, respectivamente) no Grupo Disfônico quando comparado com o Grupo Controle durante a
emissão da vogal I a/. Por outro lado, a diferença encontrada na atividade eletromiográfica dos músculos ECME e ECMD
durante a situação de repouso e de emissão da fricativa I z I não foi estatisticamente significativa entre os dois grupos. Já na
situação de fala encadeada- dias da semana, a atividade eletromiográfica foi significativamente maior (p= 0.049) no Grupo
Disfônico, apenas no músculo ECME. Conclusões: Os dados desta pesquisa, nas condições experimentais utilizadas,
sugerem que os indivíduos disfônicos apresentam um padrão de atividade eletromiográfica diferente dos indivíduos normais
utilizando mais a musculatura acessória da inspiração, durante algumas situações de fala.
Este trabalho foi conduzido de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Suporte Financeiro: CNPq. -Bolsa Nível Mestrado
Poster 03.50
"A VISÃO DO DESENVOLVIMENTO SENSÓRIO-MOTOR EM CRIANÇAS DE ORFANATO DE O A 6 ANOS".
TRA VASSOS A.C.G.L.; l.M.SQUARCINO; T.C.BOFI.
Fisioterapia (Departamento de Fisioterapia- Faculdade de CiêncOias e Tecnologia -Campus de Presidente Prudente).
A estimulação sensório-motora à criança institucionalizada de O a 6 anos é fundamental para a prevenção de retardos
e/ou anulações de fases do seu desenvolvimento. A questão do vínculo afetivo é enfatizada por ser inerente às relações
humanas, sendo um fator básico para a criação de um ambiente estimulante. Portanto, o objetivo deste trabalho é
conscientizar e instruir as pessoas responsáveis pela assistência integral à criança, sobre a importância em estimulá-la desde a
sua entrada à instituição. Para isto, avaliamos o conhecimento dos profissionais da "Associação Civil Lar dos Meninos", de
Presidente Prudente, através de um questionário acerca do desenvolvimento sensório-motor dessas crianças. Observamos que
apenas 27% da questões foram respondidas com acerto, demonstrando a necessidade em intervirmos com informações
teóricas e práticas para melhorar a formação do profissional em questão. O método constitui da elaboração de um manual
teórico e prático de estimulação, assim como de palesteras informativas e demonstrativas sobre formas de estimulação. Por
tratar-se de uma pesquisa em andamento, esperamos como resultados, que os profissionais absorvam as informações
transmitidas, assim como a relevância da estimulação à criança de forma que esta possa tornar-se mais feliz e integrada na
sociedade, pela sua maior aptidão e relacionamento com o ambiente.
Poster 03.51
"A VALI;\ÇÃO DA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE A TENDEM À CLIENTELA DE REABILITAÇÃO NO
MUNICIPIO DE CAMPINAS"
TOLDRÁ, ROSÉ COLOM(l); MARCIA APARECIDA PICCOLOTO MOTTA(2); MARA ALICE B. CONTI
TAKAHASHI(3); MARCO ANTONIO GOMES PÉREZ(4)
1. Coordenadora e Professora Titular do Departamento de Terapia Ocupacional- FCM- PUC-Campinas
2. Fisioterapeuta/Chefe do Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - HCIUNICAMP
3. Socióloga!Mestranda do Departamento de Medicina Social e Preventiva- FCM/UNICAMP
4. Médico do Trabalho/Secretaria Municipal de Saúde- Prefeitura Municipal de Campinas - SP
O impacto das ações em reabilitação sobre a eficácia dos serviços depende, em parte, da organização das mesmas.
Por esta razão o presente trabalho tem por objetivo discutir a importância de um plano integrado de ação em reabilitação para
os serviços públicos de Campinas. Este estudo pretende, numa primeira etapa, fazer um amplo diagnóstico situaciona~ destes
serviços, no que se refere à caracterização da clientela, a demanda reprimida, a formação dos profissionais envolvidos, os
88
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
programas e/ou atividades terapêuticas, os recursos humanos e tecnológicos e as principais dificuldades encontradas na área.
Como metodologia foram aplicados quatro tipos de questionários, de acordo com a qualificação dos profissionais (22
coordenadores de serviços especializados, 10 coordenadores de Unidades Básicas, 143 profissionais de diversas categorias
qu_e atu~m na área de reabilitação e 71 médicos) abrangendo questões quantitativas e qualitativas, referentes aos aspectos
acima Citados. Os resultados estão demonstrando uma falta de investimento de recursos e carência de desenvolvimento de
novas alternativas racionalizadoras para a área, assim como uma desarticulação entre as unidades e outros setores sociais, que
prestam serviços para a cobertura da população alvo. Com a pesquisa, está sendo indicada a necessidade da construção de um
modelo hierarquizado de rede de serviços na área de reabilitação, para uma melhor articulação entre as instituições que
desenvolvem ações voltadas à atenção do portador de deficiência. O estudo deverá subsidiar a definição de diretrizes nesta
área e a realização de diferentes eventos, com a participação das instituições e da clientela, a fim de se viabilizar uma
proposta que contemple melhor as necessidades apontadas.
Poster 03.52
A VALIAÇÃO SOBRE O TEMPO DA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM CRIANÇAS COM FRATURAS DE
COTOVELO PÓS TRATAMENTO ORTOPÉDICO, NA INTERVENÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL
VOLPI, SCP (1); ALMEIDA, SRMA (2); NEIFE, EP (3); VOLPI, MS (4).
Unesp, Botucatu
Pouco se relata na literatura sobre o tempo de recuperação funcional após tratamento ortopédico das fraturas de
cotovelos em crianças. Além disso existe controvérsias sobre a segurança e eficácia de terapia nestes casos. No nosso meio,
temos observado poucos casos encaminhados para tratamento de reabilitação. Para avaliar a eficácia e segurança da terapia
ocupacional na recuperação funcional destes casos, planejamos este estudo prospectivo controlado. Estudamos 33 crianças no
período de 1992 a janeiro de 1995 dividido em grupos A e B. No grupo A formado de 18 crianças submetidas à terapia
semanal no Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP - Hospital das Clínicas. O grupo B é
formado por 15 crianças que serviram como grupo controle comparativos, não podiam se submeter ao tratamento
ambulatorial intensivos, e eram apenas feitas as mensurações iniciais e finais sendo orientados para exercícios em casa. Das
18 crianças do grupo A em relação com as 15 crianças do grupo B, obtivemos predomínio do sexo masculino, média de idade
dos dois grupos A e B 7 anos, predomínio da fratura supracondiliana nos dois grupos; recuperação funcional de 100% para o
grupo A em 12 casos, no grupo B apenas 1 caso com 100% de recuperação funcional, tempo médio de tratamento grupo A foi
de 93 dias e no grupo B de 130 dias. Concluímos após 8 meses de seguimento médio que os caso tratados atualmente com
terapia ocupacional evoluem significativamente mais rápido que o grupo controle na recuperação funcional.
(1) Terapeuta Ocupacional do Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP
(2) Terapeuta Ocupacional do Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP
(3) Terapeuta Ocupacional do Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
(4) Auxiliar Ensino do Departamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP
Poster 03.53
ESTUDO DA INTERVENÇÃO PRECOCE EM RNS PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO E A RELAÇÃO
COM O PROGNÓSTICO NEUROPSICOMO TOR
VOLPI, SCP (1); PINHEIRO, J (2).
Unesp, Botucatu
Tradicionalmente, o peso ao nascimento e a idade gestacional tem sido os maiores determinantes de risco para os
recém nascidos (Sehnai, 1989). Geralmente quanto mais baixo for o peso ao nascimento e menor a idade gestacional, maior
será o risco de um resultado abaixo do normal no neurodesenvolvimento, aumentando-se também a incidência de Paralisia
Cerebral (PC), portanto a proposta do trabalho é de uma avaliação detalhada de cada marco motor, durante o 1° ano de vida,
mais o desaparecimento dos reflexos primitivos e a evolução das reações posturais para formular o prognóstico locomotor da
criança que recebe tratamento de intervenção precoce. Para o presente estudo foram selecionados 21 bebês prematuros de
muito baixo peso (< 1500g) no período de 1995 a 1996 submetidos a intervenção precoce no Setor de Terapia Infantil do
H.C. da Faculdade de Medicina de Botucatu, avaliações mensais escala de Gessel (1940) que mensura os padrões motores e
psico-social, realizada por um único examinador. Tratamento através do Método Bobath e Samarão Brandão. Os dados
estatísticos submetidos a uma análise de correlação linear de Pearson que evidenciou correlações positivas e significativas
entre o peso ao nascer X Capurro; ortostatismo X Idade de Intervenção; marcha X Idade de Intervenção; sustentação do peso
nas pernas X Idade de Intervenção; ortostatismo X Posição sentada X Marcha; Ortostatismo X Pés Primitivos; Marcha X Pés
Primitivos. As mães apresentaram idade média de 27 anos ± 7,8 anos, 81 o/o delas com doenças durante a gravidez; dos bebês
analisados 76,2% eram meninos, peso nascimento 750 a 1500g. A finalidade do estudo foi demonstrar que a estimulação
sensório-motora em bebês prematuro de muito baixo peso, é fundamental para aquisição do marco motor dos padrões
esperado para um bebê de termo.
(1) Terapeuta Ocupacional do Setor de Reabilitação da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP
(2) Fisioterapeuta
89
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Poster 03.54
ASSOCIAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO MOTOR E EMOCIONAL DE PARTURIENTES
E A AVALIAÇÃO DO OBSTETRA DURANTE O PERÍODO
DO TRABALHO DE PARTO
CASSOL, E.G.M.l; CANFJELD, ].T.2; MORAIS, E.N.3
O objetivo deste estudo foi verificar a associação entre o comportamento motor, comportamento emocional e tempo
de duração do 2o período do trabalho de parto (TP), com a avaliação feita pelo obstetra , neste período, como uma forma de
verificar se essas variáveis foram consideradas pelos mesmos. A população abrangida por este estudo, constituiu-se de
gestantes em trabalho de parto, admitidas no Centro Obstétrico do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), nos meses
de outubro a dezembro de 1996. A amostra foi composta por 105 parturientes consideradas clinicamente normais, com
gestação·igual ou superior a 34 semanas, com partos vaginais conduzidos pelo obstetra e observados pelo fisioterapeuta,
quanto ao aspecto motor e emocional. Utilizou-se como instrumento um protocolo de pesquisa, onde registraram-se os dados
da observação do parto e a avaliação feita pelo obstetra. Considerou-se como comportamento motor a prensa abdominal
voluntária (P A), presente ou ausente e as condições do períneo, se relaxado ou tenso. O comportamento emocional foi
categorizado como calma, agitada, muito agitada ou outro comportamento. O tempo do 2° período do TP foi considerado
menor do que 30 minutos ou maior do que 30 minutos. A avaliação solicitada ao obstetra referia-se a participação,
colaboração e eficiência do esforço expulsivo da parturiente. Utilizou-se um escore aleatório compreendido entre 1 e 10
pontos, sendo que o escore 10 significou desempenho ótimo, entre 8 e 9 muito bom, 7 bom, 5 e 6 regular e entre 1 e 4 mau.
Apesar da referida avaliação ter um caráter subjetivo, a proposta de um critério quantitativo para a mesma, possibilitou a
análise estatística dos resultados. Verificou-se a média, desvio padrão e a diferença entre as médias (teste t de Student), ao
relacionar-se a P A, condições do períneo, tempo de duração do 2o período do TP e comportamento emocional com a
avaliação, quanto ao desempenho das parturientes, atribuído pelo médico. Entre as parturientes que realizaram a P A,
observou-se que em 96,5% o desempenho atribuído foi ótimo. Entre as que tiveram mau desempenho, 100% não realizaram
P A. Quando o períneo apresentava-se relaxado, o desempenho ótimo foi 100%. Entre as parturientes com desempenho mau,
em 80% dos casos o períneo estava tenso. O tempo do período expulsivo foi menor do que 30 minutos em 89,7% das
parturientes com desempenho ótimo, enquanto que em 40% das que obtiveram desempenho mau o tempo esteve maior ou
igual a 30 minutos. Estes resultados mostraram associação significante (p<0,01) entre as variáveis estudadas. Quanto ao
comportamento emocional, observou-se que dentre as parturientes calmas 79,3% obtiveram escore 10, enquanto 80% das
agitadas e muito agitadas obtiveram escore entre 1 e 4. Os resultados nos permitem concluir que na avaliação do obstetra, as
variáveis prensa abdominal, condições do períneo e tempo de duração do período expulsivo, associaram-se com o
comportamento motor observado. Também houve relação entre o escore atribuído e o comportamento emocional da
parturiente. Esta conclusão permite-nos ainda considerar que, na avaliação do médico as parturientes têm um ótimo
desempenho no parto quando realizam prensa abdominal associada aos puxos, quando têm períneo relaxado, comportamento
calmo e consequentemente, um parto rápido. Porém, para que este tipo de desempenho ocorra com maior frequência, torna-se
necessária uma mudança na atitude dos profissionais que acompanham a gestante, incluindo, na assistência pré-natal, um
programa de preparo para o parto.
1
Prof' Assistente do Dept de Fisioterapia e Reabilitação da Universidade Federal de Santa Maria- RS.
2
Prof. Titular-Doutor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria -RS
3
Prof. Titular-Doutor do Depto de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Maria- RS.
zo
0
Poster 03.55
O DESEMPENHO MOTOR E EMOCIONAL DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NA PRÁTICA DA
NATAÇÃO:
MATTOS, E.* **E FONTES, D. M. M. F.**
* Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo- Departamento. de Esporte
** Grupo de Estudos em Esporte para Pessoas Portadores de Deficiência da Escola de Educação Física e Esporte da
Universidade de São Paulo.
No atendimento ao portador de deficiência física (PDF) é comum a participação de uma equipe interdisciplinar, onde
médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, psicomotricistas,
professores de educação física entre outros, atuam em cooperação. O profissional da Educação Física, neste processo, tem
participado mais freqüentemente, pois a atividade motora possibilita benefícios nos domínios: motor, cognitivo, afetivo e
social. A equipe envolvida no atendimento ao PDF costuma solicitar do profissional de Educação Física, a exploração de
atividades que possam compensar problemas dos mais variados (BURKHARDT & ESCOBAR, 1985). Neste sentido, a
natação propicia condições para o desenvolvimento integral de tarefas solicitadas por esta equipe. O objetivo deste trabalho é
avaliar a relação entre o desempenho motor e emocional dos portadores de deficiência física que participam do programa de
natação especial. Uma amostra de 07 alunos iniciantes do curso de natação para pessoas portadoras de deficiências da Escola
de Educação Física da Universidade de São Paulo foi acompanhada durante o período de um ano. Foi utilizada uma lista de
checagem de habilidades aquáticas básicas (adaptada de Wilke, 1982), questionário para os próprios alunos e seus
responsáveis. Os dados qualitativos foram transformados em qualitativos e foi feita estatística descritiva dos dados Os
resultados nos mostram que a melhora no desempenho emocional foi significativamente superior ao progresso apresentado no
desempenho motor, sugerindo que os ganhos motores para o grupo avaliado teve um peso maior na auto-estima e auto-
90
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
confiança que o esperado. A partir de então, os esforços empregados nos programas de reabilitação motora passam a ser
executados com maior dedicação e prazer, por parte do portador de deficiência física. O meio aquático oferece ao PDF
possibilidades de explorar, descobrir e realizar movimentos ainda desconhecidos ou que para ele são impossíveis de serem
executados em terra (NETTO, 1996). A adaptação ao meio líquido propicia sensação de liberdade e autonomia, favorecendo
o desenvolvimento da auto-estima, auto-segurança e autoconfiança, que por sua vez tem grande influência tanto na
aprendizagem como na performance motora (VELASCO, 1994, MANOEL,1995). Com uma base emocional satisfatória, os
profissionais da reabilitação poderão conseguir um melhor desempenho do indivíduo (CAMARGO, 1995). Neste sentido, o
profissional da Educação Física tem um papel importante no desenvolvimento e manutenção da autoconfiança e na autoestima dos alunos, auxiliando na adaptação à água, contribuindo para o seu bem estar físico e psicológico (MANOEL, 1995),
e consequentemente no processo de reabilitação da equipe interdisciplinar.
Poster 03.56
USO DE ADAPTAÇÃO PARA ESCRITA NA SÍNDROME DO ESCRIVAO
LUCIANE NUNES LOTUFO, FISIOTERAPEUTA
Trabalho desenvolvido no Hospital do Aparelho Locomotor - SARAH - Brasília
A Síndrome do Escrivão é uma forma de distonia focal que afeta progressivamente a capacidade da escrita,
envolvendo igualmente ambos os sexos, iniciando-se geralmente na vida adulta, com um pico entre a terceira e a quinta
década de vida. A clínica baseia-se em uma dificuldade para a escrita que é evidenciada tão logo o indivíduo inicie tal
atividade. Caracteriza-se por contrações musculares involuntárias, que foram descritas como co-contrações entre agonistas e
antagonistas e que levam a posturas anormais de dedos, e algumas vezes de punho e antebraço, sendo necessário suspender o
ato da escrita, devido à dor ou ao desconforto relatado. Publicações dos últimos 5 anos ressaltam a ineficácia da terapia
medicamentosa, sendo que nos últimos anos tem-se tentado tratamento com injeção de toxina butolínica nos músculos
afetados, sendo esta ainda uma opção limitada, uma vez que é necessária a manutenção das aplicações. A literatura cita como
outras opções terapêuticas a troca da dominância, modificações na técnica de escrita e uso de alguns dispositivos que
proporcionem alteração na biomecânica da escrita, porém as publicações são escassas em relação aos resultados obtidos. No
Hospital SARAR-Brasília temos utilizado adaptações para escrita confeccionadas na oficina ortopédica, sendo estas:
engrossador de caneta, clip palmar fixado com dispositivo para caneta, e anel polegar-indicador. Os objetivos deste estudo
são traçar o perfil epidemiológico do paciente portador da Síndrome do Escrivão atendido no Hospital SARAH - Brasília, e
avaliar os resultados do tratamento com uso de adaptações para escrita. Foi realizado um estudo retrospectivo dos prontuários
de pacientes portadores da Síndrome do Escrivão, atendidos no Hospital SARAH- Brasília, de 1976 a 1998, totalizando 31
pacientes. Eles foram caracterizados segundo idade, sexo, ocupação, procedência, lateralidade/membro acometido, início dos
sintomas, tipo de tratamento instituído, tipo de adaptação utilizada. Dez pacientes fizeram uso de adaptações para escrita,
sendo contactados e convidados a participar de uma reavaliação, visando à análise do desempenho da escrita com e sem a
adaptação, e à verificação do grau de satisfação com o uso da mesma. Entre os 31 pacientes analisados, houve uma
predominância do sexo masculino (58%) em relação ao feminino entre os portadores da síndrome. A média de idade foi de 38
anos, sendo que a grande maioria dos pacientes (88%) era procedente do Distrito Federal. A maioria dos pacientes (31%)
iniciou os sintomas há cerca de 1 ano antes da data de admissão no Hospital SARAR-Brasília, sendo que a média de tempo
foi de 4 anos e 7 meses com desvio padrão de 4 anos e 4 meses. Quanto à lateralidade, apenas um paciente era sinistro, os 30
pacientes restantes eram todos destros. Não houve grande predominância de determinadas profissões, observando-se que as
ocupações de agente adminstrativo e professor corresponderam a 20% do total. As condutas mais recomendadas no Hospital
SARAR-Brasília foram medicação (27% ), uso de adaptação (21% ), tratamento psicológico (17% ), exercícios de relaxamento
(13%) e troca de dominância (8%). Até o momento foram analisados 4 pacientes que utilizaram adaptações, sendo que 2
fizeram uso de clip palmar com dispositivo para caneta, 1 utilizou anel polegar-indicador e 1 fez uso de engrossador de
caneta. Neste grupo, nenhum paciente desencadeou a distonia quando em uso das adaptações, sendo que todos referiram
satisfação com a terapêutica instituída. O paciente que utilizou o engrossador de caneta referiu fadiga muscular após uso
prolongado. Mesmo sendo um distúrbio motor localizado e na maioria das vezes restrito apenas à atividade de escrita, a
síndrome do escrivão causa ao indivíduo limitações importantes no dia-a-dia principalmente nas atividades laborativas e de
estudo. As adaptações para escrita são uma alternativa terapêutica que tem demonstrado bons resultados na abordagem de
portadores da Síndrome do Escrivão, uma vez que até o momento todos os pacientes que as utilizaram não desencadearam os
sintomas durante a escrita. Estes resultados são valorizados, uma vez que as outras opções de tratamento têm falhado na
tentativa de controle da distonia ou na reabilitação destes indivíduos. Para que possamos obter resultados conclusivos em
relação aos dispositivos que estão sendo propostos, será necessário o acompanhamento destes pacientes durante alguns anos,
bem como estudos da biomecânica da escrita na Síndrome do Escrivão, através de análises a serem realizadas no Laboratório
de Movimento.
91
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Poster 03.57
CONFIABILIDADE INTRA-EQUIPAMENTO PARA TESTE-RETESTE NO DINAMÔMETRO ISOCINÉTICO
BIODEX
M.I. GUARATINI1,2; V. MONTEIRO PEDROl
1
Departamento de Fisioterapia, UFSCar- SP; 2Universidade Paulista, UNIP - SP
Objetivo: Avaliar a confiabilidade intra-equipamento do Dinamômetro Isocinético marca Biodex, modelo Bíodex
Multi-Joint System 2 da BIODEX Medícal Systems, Inc. para Pico de Torque (PT) em contrações isocinéticas concêntricas de
flexão e extensão do joelho, em velocidades angulares de 60, 180 e 300 °/seg. Métodos e Resultados: Foram avaliados 30
sujeitos, selecionados de forma aleatória (14 homens, 16 mulheres) com idade de 18 a 31 anos (22,43 ± 2,84), sem história
prévia de cirurgia ou patologia de joelho. O procedimento constou da avaliação bilateral dos membros inferiores dos
voluntários de forma aleatória. Os dados foram coletados duas vezes, com intervalo de 7 dias entre cada medida. Os dados
foram coletados para cada sujeito para contrações isocinéticas concêntricas em extensão e flexão do joelho em velocidades
angulares de 60, 180 e 300 °/seg., aleatoriamente. Em cada velocidade angular os sujeitos realizaram 5 contrações
concêntricas submáximas recíprocas. Após estas contrações concêntricas submáximas, 5 contrações concêntricas máximas
foram realizadas e os dados foram coletados via software- Biodex Advantage v.4.5. Os dados foram analisados utilizando a
Correlação de Pearson. Os resultados obtidos através da Correlação de Pearson É mostrado na Tabela 1.
TABELA 1. Resultados da Correlação de Pearson aplicada aos valores de Pico de Torque dos membros dominante e não
dommante,
•
•
de extensao e fl ex ao.
nas ve1OCI'dades de 60 180 e 300 °/seg. nos movimentos
Correlação
para
Extensão
Correlação
para
Flexão
Velocidade
Dominante
Não Dominante
Dominante
Não Dominante
600/seg
0,98
0,97
0,98
0,97
0,98
0,98
0,95
0,94
180"/~
0,97
0,97
0,94
0,96
3003/.~g
.
Conclusão: De acordo com os resultados obtidos, Correlações de Pearson maiores que 0,90 sugerem alta confiabilidade para
o Dinamômetro Isocinético marca Biodex Multi-Joint System 2 da BIODEX Medicai Systems, Inc.
Referências Bibliográficas
FEIRING, K. ELLENBECKER, T., DERSCHEID, G. Test-retest reliability of the Biodex isokinetic dynamometer. J,
Orthop. Sports Phys Ther., 11:298-300, 1990.
GREENFIELD, B.H., CATLIN, P.A., GEORGE, T.W., HASTINGS, B., MEES, K. Intra- and inter-rater reliability of
reciproca!, isokinetic contractions o f the quadriceps and hamstrings as measured by the MERA C. Isokin. Exec. Sei., 1: 207215, 1991.
GROSS, M.T., HUFFMAN, G.M., PHILIPS, C.N., WRAY, J. lntramachine and intermachine reliability of the Biodex and
Cybes 11 for knee flexion and extension peak torque and angular work. J, Orthop. Sports Phys. Ther., 13: 329-335, 1991.
KOV ALESKI, J.E., INGERSOLL, C.D., KNIGHT, K.L., MAHAR, C.P. Rehability of the BTE Dynatrac isotonic
dynamometer. lsocinetic Exerc. Sei., 6: 41-43, 1996.
Rehabil., 75: 1315-1321, 1994.
TAYLOR, N.A.S., SANDERS, R.H., HOWICK, E.l., STANDLEY, S.N. Static and dynamic assessment of the Biodex
dynamometer. Europ. J, Appl. Phys., 62:180-188, 1991.
THOMPSON, M.C., SHINGLETON, L.G., KEGERREIS, S.T. Comparision of values generated during testing of the knee
using the Cibex 11 Plus and Biodex Model b-2000 isokinetic dynamometers. J, Orthop. Sports Phys. Ther., 11; 108-115,
1989.
Apoio Financeiro: CNPq
Poster 03.58
ANÁLISE BIOMECÂNICA DE UM CASO DE PÉ TORTO CONGÊNITO
SANTOS, GILMAR M.; FRTIZEN, CRISTINA; MARTINS, LEANDRO K.; ÁVILA, ALUiSIO O. V.
Laboratorio de Biomecanica, Universidade do Estado de Santa Catarina
O objetivo deste estudo foi analisar um caso de· pé torto congênito unilateral direito com reconstrução cirúrgica,
verificando-se as possíveis alterações quanto a distribuição de pressão e aos padrões cinemáticos da marcha da paciente
A.S.S. 9 anos após um mês de tratamento fisioterapêutico. Justifica-se este estudo devido ao grande número de desordens na
marcha ocasionadas pelo pé torto congênito. Entre os dados analisados biomecânicamente após o tratamento fisioterápico
estão a antropometria (ângulo de dorsiflexão), a cinemetria (comprimento de passo e da passada, tempo de duplo apoio e
apoio unilateral), que foram mensurados através do sistema Peak Motus composto por quatro câmeras, marcadores articulares
e calibrador, com freqüência de coleta de dados de 60Hz, além de duas plataformas de força AMTI™. A verificação da
distribuição da pressão na superfície plantar foi mensurada através do sistema Paromed Datalloger™, contendo duas
palmilhas, uma unidade portátil e um controle remoto, com freqüência de coleta de dados de 200 Hz. O tratamento
fisioterápico foi realizado na Clínica de Fisioterapia e a análise biomecânica da marcha realizada no laboratório de
biomecânica, ambos localizados no Centro de Educação Física, Fisioterapia e Desportos (CEFID) da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC). Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Os dados referentes a
92
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
dorsiflexão plantar no pé direito foram de 15,5° e 14,43° na primeira e segunda avaliações respectivamente; no pé esquerdo
26,23° e 27 ' 07o Quanto as variáveis cinemáticas os resultados obtidos foram·
'
CINEMATICA
la AVALIAÇÃO
VARIAVEIS
2a AV ALIAÇÃO
Pé Direito
Pé Esquerdo
Pé Direito
Pé Esquerdo
Comprimento Passo
0,406m
0,545
0,413
0,466
Tempo Apoio Simples
0,30s
0,45s
0,36s
0,30s
Comprimento Passada
0,95lm
0,875m
Tempo Duplo Apoio
0,27s
0,12s
Em relação à d1stnbmção de pressão plantar, os dados são apresentados no quadro abaixo, sendo os valores expressos em
pasca.I
DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO
1a A V ALIAÇÃO
2a AV ALIAÇÃO
REGIÃO
Pé Direito
Pé Esquerdo
Pé Esquerdo
Pé Direito
Antepé
1,0
1,6
1,0
1,8
Metatarsos
2,5
1,0
3,7
1,8
Meio Pé
1,7
0,6
2,3
0,7
Calcanhar
0,5
2,5
0,9
0,7
Podemos conclmr após um mês de tratamento fisioterapêutJco, que a paciente A.S.S. desenvolveu sua marcha com melhor
equilíbrio dinâmico, distribuiu melhor seu peso entre os dois pés, garantiu uma marcha mais veloz com menos apoios
plantares, e conseguiu maior semelhança entre os dois comprimentos de passo. As variáveis em que os objetivos não foram
totalmente atingidos, correspondem a manutenção do ângulo de dorsiflexão, provavelmente devido às alterações cirúrgicas já
estabelecidas; e a obtenção da distribuição pressórica plantar parcial, devido o tratamento ser muito breve, implicando na falta
de ênfase ao trabalho de equilíbrio estático e proprioceptivo.
Poster 03.59
COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS À RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR COM O 1/3
CENTRAL DO LIGAMENTO PA TELA R 1
FATARELLI, I.F.C· 3 ,MELLO, W. 4 RODRIGUES, R.L. 5' PENTEADO, P.C.F. 4• & CERQUEIRA, P.H.]. 4
1 Dados adicionais relacionados à Dissertação de mestrado do primeiro autor. Esta foi desenvolvida na Escola de Educação
Física I USP.
2 Órgão Fomentador (Mestrado) - F APESP
3 Depto Fisiologia e Biofísica. Laboratório de Controle Motor- bolsista DRl - FAPESP
4 Cirurgião Ortopédico - Centro Médico de Campinas
5 Professor Dr. Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo- Depto de Esportes.
A reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) com o terço médio do tendão patelar é a cirurgia mais
frequentemente usada para a correção da instabilidade anterior do joelho. O princípio básico desta técnica, como o próprio
nome indica, é o uso do tendão patelar. O que vamos encontrar é uma grande variação da técnica com detalhes tais como o
método de fixação do enxerto usando-se parafusos corticais e arruelas ou parafusos de interferência bem como o uso ou não
da artroscopia para realização da cirurgia. Como em todos os procedimentos cirúrgicos, podem ocorrer complicações
relacionadas com falhas técnicas do ato cirúrgico e/ou com o processo de reabilitação. Este estudo tem por objetivo, analisar e
propor uma classificação das principais complicações desta cirurgia. A classificação é proposta a partir de um estudo
retrospectivo de 179 casos cirúrgicos de reconstrução do LCA, realizados pela mesma equipe cirúrgica, utilizando-se a
técnica artroscópica e fixação do enxerto com parafusos corticais e arruelas metálicas. Deste total 13 casos foram excluídos
devido a realização de cirurgia anterior no mesmo joelho por outra equipe ou por se tratar de lesão bilateral. Para avaliarmos
os resultados com maior objetividade, classificamos as complicações em dois grandes grupos:
MAIORES - frouxidão articular;
MENORESPermanentes: artrofibrose (perda dos últimos graus de extensão menor que 10 graus)
Temporárias :
tendinites (patelar e ísquio-tibiais)
bursite da pata de ganso
dor no parafuso
plica sinovial sintomática
nódulo anterior no enxerto ("cyclops lesion")
trombose venosa profunda
A importância em separar as complicações em maiores e menores (temporárias e permanentes) está em oferecer uma
abordagem mais objetiva na análise das mesmas e fundamentar uma criterização para futuras investigações.
Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP, São Paulo- Brasil
93
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
Poster 03.60
PROPOSTA EXPERIMENTAL PARA DETERMINAÇÃO DO PADRÃO ELETROMIOGRÁFICO NO ANDAR
EM AMBIENTE AQUÁTICO - RESULTADOS PRELIMINARES.
U.F. ERVILHA!, M. DUARTE, A.C. AMAD/0. LABORATÓRIO DE BIOMECÂNICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA E ESPORTE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
1. Bolsista Capes.
Objetivos: Este estudo tem por objetivo determinar o padrão Eletromiográfico (EMG) dos músculos m. vasto lateral, m.
bíceps femural, m.tibial anterior em. gastrocnêmio lateral durante a marcha em ambiente aquático.
Métodos: Para tanto, eletrodos diferenciais ativos de superfície foram acoplados sobre o ponto motor dos respectivos
músculos supra citados e sinais EMG referentes a catorze passadas realizadas com o sujeito submerso até a altura das cristas
ilíacas foram obtidos para a análise. O ciclo da passada foi determinado através dos sinais elétricos enviados por transdutores
resistivos acoplados sob o calcanhar direito do sujeito amostrai. Uma vez adquirido, o sinal EMG foi digitalizado (frequência
de aquisição de 1000Hz) via placa de conversão de sinal analógico em digital (de 32 bits) e retificado, filtrado (butterworf)de forma a obter-se a envoltória linear-, normalizado no tempo e por fim, normalizado em relação à amplitude; utilizando-se
o método de normalização pela média do sinal adquirido. A curva única representativa do padrão do sinal EMG do sujeito foi
obtida através da média dos valores de cada uma das catorze coletas realizadas com o mesmo indivíduo. O índice de
quantificação da variabilidade dos dados intra-sujeito adotado foi o coeficiente de variação (C.V.). Todo o procedimento de
coleta subaquático foi reproduzido em ambiente terrestre para comparação dos resultados. Resultados: Os coeficientes de
variação intra-sujeito, referentes a marcha em ambiente aquático, para os músculos estudados foram os seguintes: m. vasto
lateral (C.V.=47%), m. bíceps femural (C.V.=32%), m. tibial anterior (C.V.= 55%) em. gastrocnêmio lateral (C.V.= 46%).
Em ambiente terrestre, os valores encontrados foram os seguintes: m. vasto lateral (C.V.=26%), m. bíceps femural
(C.V.=40%), m. tibial anterior (C.V.= 30%) em. gastrocnêmio lateral (C.V.= 35%). A figura.1 mostra a curva representativa
do padrão do sinal EMG do m. vasto lateral e respectivos erros padrões para a marcha subaquática. A figura.2 mostra a curva
representativa e o erro padrão do sinal EMG do mesmo músculo durante a marcha realizada em ambiente terrestre. A figura.3
ilustra simultaneamente as curvas representativas do padrão do sinal EMG do m. vasto lateral adquirido em ambiente
a uático e em ambiente terrestre.
/\.
'
'·'
\
\
I
I
.
'
'
.
'
~--·-·---
.,
%da passada
%da pass11d8
%da passada
Fig. 1 Sinal EMG e erro padrão Fig. 2 Sinal EMG e erro padrão Fig. 3 Sinal EMG do m. Vasto
do m. Vasto lateral. Sinal do m. vasto lateral. Sinal lateral. Sinal retificado, filtrado
retificado, filtrado (envoltória retificado, filtrado (envoltória (envoltória linear), normalizado no
na
normalizado
e
linear), normalizado no tempo, e linear), normalizado no tempo, e tempo,
normalizado na amplitude (pela normalizado na amplitude (pela amplitude (pela média).
terrestre.
Marcha
subaquática. média).
Marcha
média).
C.V.=26%.
C.V.=47%.
Conclusões: A variabilidade do sinal EMG subaquático manteve-se nas mesmas proporções do sinal EMG coletado em
ambiente terrestre. As curvas representativas dos padrões do sinal EMG subaquático apontam para a existência de diferenças
em relação às curvas representativas dos padrões do sinal EMG adquirido em ambiente terrestre. Esta diferença não foi
quantificada no presente estudo.
Poster 03.61
TÍTULO: PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE CONSCIENTIZAÇÃO POSTURAL EM UNIVERSITÁRIOS:
UMA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES QUE PROMOVE SAÚDE
MARIA ANGÉLICA ZANII; JALILE AMIN NA VESI; PROF. MS. MARIA ANGELA L. PIOVESAN2; PROF. DR.
HELTON LUIZ A. DEFIN03
1. UNAERP, Fisioterapia, Ribeirão Preto; 2. CEFER- Campus USP, Ribeirão Preto; 3. Depto. de Cirurgia, Ortopedia e
Traumatologia da FMRP- campus USP, Ribeirão Preto.
Uma nova concepção de mundo e de homem vem despertando nas últimas décadas a chamada "concepção
holística". Esta concepção considera o universo como um sistema vivo, cujos fenômenos são interrelacionados e
interdependentes, não havendo como se compreender um elemento isoladamente. O interesse por informações globalizadas
que envolvem a atividade física bem como suas implicações nas áreas onde ela está interrelacionada também é igualmente
crescente. Isto se justifica na medida em que exercícios físicos devidamente prescritos venham desempenhar importante papel
na prevenção, conservação e melhoria da capacidade funcional das pessoas, e, por conseguinte, repercutir positivamente em
94
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
sua saúde (GUEDES, 1995). Neste contexto, a saúde deve ser vista como um processo permanente que reflete a resposta
criativa do organismo aos desafios do meio. Desta forma a promoção de saúde coloca a pessoa enquanto autor, sujeito de sua
própria vida. Não é um corpo de conhecimento elaborado racionalmente. Trata-se de um processo teórico-prático em
construção cotidiana, somado à contribuição das ciências naturais, sociais e do conhecimento comum através da vivência dos
seres humanos (MENDES, 1996). Constata-se como verdade universal, que a promoção da saúde e bom desempenho do
indivíduo, interrelaciona-se profundamente com a manutenção da postura correta, a cada atividade solicitada. De acordo com
BIENFAIT (1995), a postura corporal é uma composição dos sistemas osteoarticular de função estática e músculo
aponevrótico de função dinâmica, que mantém o alinhamento corporal e o equilíbrio das partes no espaço. Quando esse
equilíbrio é mantido com um mínimo de esforço, de sobrecarga e economia energética através de forças musculares
opositoras, é que se obtém a chamada postura ideal (KENDALL, McCREARY, 1987). Conforme SOUCHARD (1996), a
constante atividade dos músculos estáticos possui alguns inconvenientes, como seu encurtamento inevitável e conseqüentes
compressões articulares, progressivas deformidades do corpo, seguidas de diminuição da ADM. Esta depende da mobilidade
e flexibilidade dos tecidos moles que circundam as articulações e, a simples inatividade pode levá-la à uma diminuição. Neste
sentido, KISNER (1992) estabelece que o trabalho de manutenção da flexibilidade, através do alongamento se torna
imprescindível, visto que a medida que o músculo perde sua flexibilidade normal, ocorre uma alteração ml relação
comprimento - tensão, tornando-o incapaz de produzir a porcentagem máxima de contração. Com base nessas colocações
teóricas, o presente estudo tem como finalidade demonstrar com simplicidade e objetividade que é possível desenvolver um
trabalho sobre conscientização postura! em universitários, sem grandes aparatos tecnológicos. Através de testes e medidas
subjetivas, elaboração de um questionário específico e a utilização do simestógrafo, foi possível concretizar e viabilizar este
estudo. Seguindo esta linha de pensamento desenvolvemos um projeto multidisciplinar sobre "postura", envolvendo três áreas
de ensino: Educação Física, Fisioterapia e Medicina (ortopedia), objetivando aos acadêmicos do Campus, USP, Ribeirão
Preto, um trabalho de prevenção, recuperação e conscientização corporal, colocando-os informados sobre técnicas e
comportamentos que ajudam a promover opções de transformações no seu estilo de vida e propiciem consequentemente uma
melhora de qualidade de vida.
Poster 03.62
ANÁLISE DOS PARÂMETROS ISOCINÉTICOS EM INDIVÍDUOS COM RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR- FOLLOW-UP DE 2 ANOS.
M. I. GUARATINI1,2, A. S. OLIVEIRA1,2, A. T. O. GONZALEZ, G. E. SHIGUEMOT03, C. E. S. CASTRO I
1
2
. Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos; • Curso de Fisioterapia, Universidade Paulista,
3
Ribeirão Preto; • Curso de Fisioterapia, Universidade de Araraquara
OBJETIVO: O presente objetivou avaliar a perfomance muscular isocinética através dos seguintes parâmetros, Pico
de Torque (PT), Trabalho (T) e Potência (P) em indivíduos com reconstrução cirúrgica do LCA usando enxerto artificial do
tipo SCAFOLD de pelo menos anos e tratamento fisioterápico concluído. MATERIAL E MÉTODO: Dez sujeitos, todos do
sexo masculino, com idades entre 20 e 56 anos (32,14 ± 9,37), foram avaliados no dinamômetro isocinético BIODEX modelo
Multi-Joint System 2. seguindo as etapas de: (1) Aquecimento: alongamentos para os membros inferiores (mm .. quadríceps
femoral, mm. isquiotibiais, m. tríceps sural) e 5 minutos em bicicleta ergométrica sem carga à velocidade de 25 Km/h.; (2)
Avaliação: realizada bilateralmente avaliando o PT, Te P em três velocidades (60, 180, 300 °/seg.) de 90 a oo de amplitude de
movimento (ADM) e, com protocolo contínuo recíproco de flexão e extensão do joelho. Os dados foram coletados após 5
contrações concêntricas máximas em cada uma das velocidades testadas. Entre os testes de cada velocidade angular, um
intervalo de 1 minuto fois dado. O teste contou ainda com feedback visual e encorajamento verbal. Os resultados obtidos na
avaliação isocinética foram analisados estatisticamente usando o Teste-t de Student. Em todos os casos foi usado um nível de
significância menor que 0,05 (p~ 0,05). RESULTADOS: Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa dos
valores do PT (p~ 0.002) e P (p~ 0,0181) no movimento de extensão a 60°/seg, entre os membros envolvido e não envolvido.
Também verificou-se diferença significativa entre os membros para os valores de T no movimento de extensão na velocidade
300°/seg (p~ 0,008). Pelo menos 3 variáveis isocinéticas podem ser observadas para avaliar os déficits musculares após lesões
do LCA. Entre elas temos os parâmetros isocinéticos (PT, T e P), o tipo de técnica cirúrgica (LEPERART et ai., 1993),
relação entre a força da musculatura flexora e extensora da mesma extremidade (KANNUS, 1991), déficits diversos entre o
membro lesado e o não lesado (KHIRAKURA et ai., 1992; KANNUS et ai., 1992) e o comportamento muscular em
diferentes velocidades angulares e nas diferentes amplitudes de movimento (ADM) (LEPERART et ai., 1993; SHIRAKURA
et ai., 1992). Neste trabalho, os dados obtidos na avaliação isocinética permitem constatar um maior déficit muscular
extensor. Estes mesmos resultados também já foram observados por outros autores (TEGNER et ai., 1986 e BONAMO et ai.,
1990). Para KANNUS et ai. (1991), um déficit significativo de força dom. quadríceps evidenciado em baixas velocidades é
representativo das diferenças entre os membros. Isso foi constatado no movimento de extensão a 60°/seg. Isso acontece nas
deficiências crônicas completas e após diferentes tipos de cirurgias de joelho porque os extensores são menos solicitados que
os mm. isquiotibiais, que precisam manter uma tensão estática maior durante várias atividades, como por exemplo a marcha
(ARVIDSSON et ai., 1981 e KANNUS et ai., 1992). CONCLUSÃO: A avaliação isocinética fornece dados que são valiosos
para monitorar a perfomance muscular em indivíduos que apresentam algum tipo de défict de força muscular. Dessa forma,
os parâmetros musculares isocinéticos são muito utilizados para mensurar e qualificar o status muscular em indivíduos com
lesão do LCA. Os resultados deste trabalho mostram o déficit muscular do grupo extensor em indivíduos com reconstrução
cirúrgica do LCA de pelo menos 2 anos e tratamento fisioterápico concluído. Ao contrário do que muitos terapeutas e
95
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
pesquisadores pensam, o déficit maior após a lesão e/ou reconstrução do LCA se dá nos extensores do joelho. Assim uma
maior atenção deve ser dada para esses músculos após a lesão do LCA.
Poster 03.63
ELECTROESTIMULADORES TRANSCUTÁNEOS. APLICACIONES CLÍNICAS.
ING. LUIS BRICENO A., ING. MAURICIO ]OFRÉ, DRA. CARMEN G. PEIRANO N., DRA. KARIN ROTER P.,
Lic. Med. Ana M. Briceíio A., Segundo Painemal
Facultad de Medicina Escuela de Kinesiología y Servicio de Medicina Física y Rehabilitación,
Hospital Clínico Universidad de Chile, Rancagua 544, Santiago- Chile
Se presenta el disefío de Electroestimuladores Transcutáneos (EET), construidos en nuestros laboratorios desde 1974
a 1996, para ser usado en rehabilitación de sistemas músculo esqueléticos en seres humanos. Los efectos fisiológicos
dependen principalmente de la intensidad de corriente, duración de los pulsos, la frecuencia de ésta y la impedancia dei tejido
entre los electrodos. Disefíos: El primer EET fue implementado en base a un circuito multivibrador astable (MV A)
empleando transistores 2N-404, de germanio capaz degenerar pulsos rectangulares de 1Hz a 1KHz, con duraciones de pulsos
de 0.1 a 5 ms.y amplitudes de tensión variables entre O y 100 volts. En la salida se acopló un transformador permitiendo
tensiones de hasta 400 Vpp dei tipo farádicas semejante a los biopotenciales neuromusculares. Un segundo EET en base a un
MV A transistorizado genera un tren de pulsos rectangulares, los que son modulados en amplitud con sefíales exponenciales
obtenidas a partir de un multivibrador monoestable (MVM) diseiíado con un CI 555. El estimulador permite generar
contracciones musculares artificiales que graduan la intensidad de contracción desde un mínimo hasta un máximo en forma
automática. El tercer EET destinado a electroestimulación funcional de pacientes hemipléjicos y parapléjicos. Este EET
multifuncional se ha construido considerando los siguientes objetivos en el disefío: a) Ser un instrumento capaz de generar
frecuencias que permitan sus aplicación tanto en analgesia como en rehabilitación. b) Realizar las funciones de modulación
en frecuencia, ancho de pulso y amplitud por medio de sefíales senoidales, triangulares y exponenciales. c) Incluir sistemas
de seguridad para el paciente tales como: control sobre la intensidad de corriente aplicada, aislación dei paciente de la red e
interrumpir laestimulación en forma instantánea, por parte dei usuario o dei paciente. d) Disponer de medidas de seguridad
para el usuario, de fácil manejo, sistema de auto-protección frente a incompatibilidad de las múltiples funciones que
desarrolla. Aplicaciones Clínicas: Durante 1996-97, se aplicaron los electroestimuladores descritos, en un grupo de 28
pacientes con diagnóstico de STC uni o bilateral, con indicación quirúrgica por dicha patología, es decir, sin respuesta a
tratamiento farmacológico. Las pacientes eran todas de sexo femenino, con un rango de edad entre 39 y 70 afíos. El
tratamiento efectuado consistió en electroestimulación empleando electrodos de superfície cubiertos con gel conductor
analgésico (iontoforesis). Las pacientes fueron tratadas por un promedio de 20 horas cada una, con una frecuencia de dos a
tres sesiones semanales de duración variable, de 30 a 60 minutos. Las aplicaciones clínicas de los electroestimuladores
construidos, de acuerdo a los resultados obtenidos, avalan su efectividad. Encuesta a las pacientes, revelaron un 100% de
eliminación dei dolor en la totalidad de ellas y recuperación sensomotriz en nueve. En nueve de las pacientes fue posible
constatar mediante un segundo EMG, posterior a la electroestimulación, la normalización de los parámetros de Iatencia
nerviosa sensitivas y motoras, lo que demuestra una recuperación objetiva de la función nerviosa. Este trabajo se ha
presentado en dos etapas: Disefío y construcción de EET y aplicación clínica en pacientes (STC). Este último EET constituye
un prototipo útil para para estudiar los efectos y los parámetros de la estimulación en tejidos neuromusculares. Por construirse
con dispositivos de fácil adquisición en el comercio, permite reducir los castos en comparación con instrumentos importados.
En las aplicaciones a 28 pacientes, no existieron dafíos por sobre estimulación a causa de aumento de densidad de corriente
eléctrica cuando los electrodos se desprenden accidentalmente, existiendo tolerancia a los estímulos por parte de todas ellas.
Poster 03.64
ELECTROESTIMULACION FUNCIONAL (EEF): APLICACIONES DE ESTÍMULOS ELÉCTRICOS EN
PACIENTES CON LESIONES NEUROMUSCULARES
LUIS BRICENO A, SEGUNDO PAINEMAL. CRISTIAN AHUMADA, CARMEN G. PEIRANO, KARIN ROTER
Facultad de Medicina, Escuela de Kinesiología, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
Hospital Clínico Universidad de Chile, Rancagua 544, Santiago- Chile.
Se describe un proyecto en desarrollo destinado a lograr movimientos artificiales en pacientes lesionados medulares,
en base a un sistema de electroestimulación funcional multicanal controlado por computador. Se construyó un instrumento
que genera distintas formas de ondas de pulsos modulados en amplitud y en frecuencia a partir dei cual se reprodujeron 8
unidades para contrai computacional Se construyeron 8 amplificadores diferenciales los cuales tienen como objetivo Ia
captación de 4 pares de registros simultáneos de EMG de los principales músculos que participan en Ia postura de pie y
movimientos coordinados de las extremidades inferiores en personas normales. Este registro simultáneo permite medir los
tiempos de actividad y los instantes precisos en que se inicia y termina la acción de cada uno de los 8 músculos. Un preprocesamiento de los EMG se realiza por métodos analógicos o digitales. Consiste en determinar el valor rms de los EMG.
Este valor representa el nível de contracción muscular o envolvente c(t) que es equivalente a la demodulación de un EMG.
Una tarjeta conversora Análogo-Digital y Digital-Analógica de 16 canales respectivamente ha sido implementada para Ia
adquisición y procesamiento de las sefíales electromiográficas. Posee una resolución de 12 bits, para un tiempo de conversión
de 25 microsegundos con intensidad de corriente máxima de entrada de 0.4 mA. El sistema computacional consiste en un PC
DX2 486, con 8 MRAM , tarjeta de vídeo de 1MB y HD de 540MB. Se ha incorporado el software LABTECH NOTEBOOK
96
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
para adquisición de datos, monitoreo y control en tiempo real , que dispone de 100 bloques de cálculos, además de análisis de
seiiales con FFT y filtrado digital. El sistema en desarrollo está destinado a cumplir dos funciones básicas: A) Adquisición y
procesamiento de seiiales electromiográficas con el objeto de padronizar los siguiente movimientos articulares de
extremidades inferiores: a.1) Postura de pie y sentado. a.2) Movimientos de simulación de pedaleo de bicicleta. a.3)
Movimientos de marcha normal. B) Electro estimulación funcional :Estimulación programada en pacientes parapléjicos con
lesión medular completa. b.1 )Reacondicionamiento Muscular. En esta etapa los paciente son sometidos a EEF en posición
sentado en silla especial con apoyo de extremidades inferiores para flexiones en 90° de cadera y 45° en tobillos. Se estimulan
principalmente los músculos cuádriceps y glúteo medio contralateral , alternado entre ambas extremidades inferiores. Se
emplean cargas en tobillos las que se incrementan desde 0.5 Kg a 1 Kg ai final de 4 semanas . Duración dei tratamiento: 4
semanas , con 3 sesiones semanales de duraciones ascendentes desde 15 min hasta 60 min al final de Ia 4a semana.
b.2)Bipedestación. Se estimulan simultáneamente glúteos medios cuádriceps en ambas extremidades. Antes y después de
cada tratamiento, se controla presión, temperatura y frecuencia cardíaca. Equipo adicional es requerido tales como soporte
fijo para apoyo o barras paralelas y soporte móvil Duración: 3 sesiones semanales durante 12 semanas. b.3)Movimientos
coordinados. Ergometría de extremidades inferiores. Simulación de movimientos de bicicleta en ciclo-ergómetro con EEF de
cuádriceps, glúteo medio, isquiotibiales, durante 15 min. con reposo de 5 min. entre ciclos progresivos hasta alcanzar unas 35
rpm sin carga. Se analizan las posibles fatigas musculares. Tratamiento de 3 sesiones semanales durante 12 semanas. b.4)
Movimientos coordinados de marcha. En esta etapa se pondrá efectivamente a prueba el sistema de electroestimulación,
puesto que se requiere estimular un mayor número de músculos comprometidos en esta acción. La EEF se extiende a los
músculos gemelos y bíceps femoral. Las secuencias de EEF incluyendo sus duraciones y amplitudes, se obtienen de los
registros y procesamiento de las seiiales EMG almacenadas en memoria . C) Selección de pacientes: Parapléjicos de edades
comprendidas entre 18 y 50 anos, con lesiones medulares completas, estabilizados médicamente, con articulaciones estables,
sin espasmos flexores, emocionalmente estables, con análisis biomecánicos de extremidades inferiores para descartar
fracturas recientes u osteoporosis severa. En el desarrollo de este proyecto participa de un grupo multidisciplinario de
profesionales. El diseiio y puesta en marcha dei sistema está en manos de ingenieros electrónicos, médicos Fisiatras ,
Kinesiólogos. Las técnicas que se emplean tanto en registro como en EEF son no invasivas por medio de electrodos de
superfície.
Poster 03.65
CARACTERIZAÇÃO DA SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA DE BEBÊS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS:
OBSERVAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE PARÂMETROS TEMPORAIS.
ALVES, C. R. J.; TUDELLA, E. DEFISIO- UFSCAR.
Objetivos: O presente estudo teve como objetivo caracterizar a organização temporal da sucção não-nutritiva (SNN)
em bebês recém-nascidos prematuros normais, utilizando parâmetros de fácil mensuração como: número de sucções por
minuto (suc/min), sucções por segundo (suc/s), sucções por burst (suc/b),número de bursts por minuto (b/min), tempo de
pausa (tpausa), número de pausas (npausa) e número de sucções isoladas. Procurou-se evidenciar a existência ou não de um
padrão característico de organização temporal da SNN de acordo com a idade gestacional (lg) dos bebês observados.
Métodos e Resultados: Foram observados 14 bebês prematuros de ambos os sexos, considerados normais, com idades
gestacionais variando de 30 a 36 semanas (média= 33,2), Apgar de 8 no primeiro minuto e 9 no segundo minuto, peso médio
ao nascer de 1953 g. Os bebês foram distribuídos em grupos distintos definidos pela Ig. Assim, obteve-se o grupo A (n=4)
constituído por bebês de 30 a 31semanas de Ig; o grupo B (n=3) com bebês de 32 a 33 semanas de IG; o grupo C (n=3) com
bebês de 34 a 35 semanas de lg e; o grupo D (n= 4) formado por bebês de 36 semanas de IG. A avaliação foi realizada
durante as primeiras 24 horas de vida, com o auxílio de um cronômetro e um gravador microcassete para o registro dos
parâmetros temporais da SNN. Durante a mesma os bebês recebiam estímulos gustativos (solução a 12% de sacarose) e táteis
na região intra-oral através do dedo mínimo enluvado do pesquisador, a fim de eliciar o comportamento de SNN. Para a
análise dos dados foi aplicado o Teste da Mediana (ANOVA, não-paramétrica) e os valores médios das variáveis também
foram considerados. Os resultados indicaram que as variáveis suc/min, suc/b e npausa
apresentaram diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (p< 0.05). O número de sucções isoladas do grupo D apresentou um valor médio
mais baixo comparado aos demais, enquanto o grupo A mostrou o maior valor, embora estatisticamente não significante. O
CV da pausa, tpausa, suc/s e b/min não apresentaram diferença em seus valores, considerando os grupos de IG estudados.
Conclusões: A maioria dos parâmetros avaliados no estudo não demonstrou diferenças significativas entre os grupos, exceto
suc/min, suc/b e npausa. Os bebês pertencentes aos grupos de Ig maior desenvolveram as mais altas frequências de sucção
(suc/min) da amostra (grupo C=40 suc/min, grupo D= 46 suc/min), o que pode estar relacionado com o grau de maturação
dos mesmos. Estes grupos também apresentaram bursts de sucção mais longos, ou seja, exibem maior número de sucções por
burst. O número de sucções isoladas diminuído á medida que se avança na Ig é um achado correlacionado a um maior grau de
organização, evidenciando a emergência de um padrão alternado de bursts de sucção intercalados de pausas, típico do
comportamento estudado. Mas, a organização temporal da maior parte dos parâmetros da SNN parece não se diferenciar
muito entre as idades gestacionais, principalmente em bebês com menos de 34 semanas de lg. O CV da pausa, ao não
apresentar diferença entre os grupos, permite especular acerca de uma manutenção do ritmo nas diferentes faixas de Ig,
embora os valores médios desta variável para o grupo D sejam baixos comparados aos dos outros grupos. Os resultados
encontrados exibem valores próximos aos relatados na literatura, o que mostra uma coerência entre as mensurações, embora
as metodologias e instrumentos de análise utilizados tenham sido distintos.
97
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.66
REGENERAÇÃO DOS MÚSCULOS SOLEUS E GASTROCNEMIUS 8 MESES APÓS LESÃO PRODUZIDA PELA
ACL MIOTOXINA (extraída do veneno da Agkistrodon contortrix laticinctus).
JMORINI, C. C., 2SELISTRE DE ARAUJO, H. S., 30WNBY, C. L.; JSALVINI, T. F.
1
Laboratório de Neurociências, Dep. De Fisioterapia, 2Dep. de Ciências Fisiológicas, UFSCar, SP, 3Dep. Of Anatomy, OK,
USA.
Objetivos: Estudos prévios realizados em nosso laboratório apresentaram apenas sinais crônicos de lesão e mudança
dos tipos de fibras nos músculos soleus e gastrocnemius 21 dias após a injeção de ACLMT. O objetivo deste trabalho foi
avaliar as características das fibras musculares regeneradas a longo prazo (8 meses após lesão pela ACLMT no que diz
respeito a mudança na tipagem de fibras e também no diâmetro das mesmas. Métodos e Resultados: 8 animais receberam
uma injeção subcutânea de ACL (5.0 mg/kg de peso corporal) na região do tendão de Achilles da pata direita. A pata
esquerda não recebeu nenhum tipo de tratamento e foi utilizada como controle. Os animais foram sacrificados 8 meses após a
injeção e os músculos soleus e gastrocnemius das duas patas foram retiradas e congelados. Foram feitos cortes seriados em
Micrótomo Criostato (10J..tm de espessura), corados com Azul de Toluidina ou submetidos as reações de Acetilcolinesterase
(AChE), Succinato Desidrogenase (SDH) e ATPase miofibrilar acida (Ph 4.3) e alcalina (Ph 10.3). Todos os músculos
injetados com ACLMT apresentaram sinais crônicos de lesão muscular que foram caracterizados como núcleos centralizados
e fibras fragmentadas. No grupo controle o padrão das fibras musculares se apresentou normal. No músculo gastrocnemius
houve diminuição significativa na incidência de fibras do tipo 11 quando se comparou os músculos direito e esquerdo (78.9%
versus 90.4% p = 0.05) e aumento na incidência de fibras do tipo I (19.2% versus 9.2% p = 0.05. Observou-se também que
para ambos os tipos de fibras (I e 11) a área das fibras musculares foi maior nos animais controle do que nos animais
injetados. Conclusão: Embora tanto no soleus como no gastrocnemius tenha ocorrido regeneração muscular, oito meses após
lesão pela ACLMT, as fibras musculares ainda apresentam núcleos centralizados e diâmetro reduzido. Associado a isso, há
ainda alteração no percentual dos diferentes tipos de fibras quando comparados com o grupo controle.
Apoio Financeiro: FAPESP.
Poster 03.67
EFFECTS OF DIRECTION AND CURVA TURE ON THE VARIABLE ERROR PATTERN OF REACHING
MOVEMENTS
TORTOZA, cY, FATARELLI, l.F.C. 1, JARIC, sY· ALMEIDA, G.L. 1
1 Laboratório de Controle Motor. Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual
de Campinas- UNICAMP. 2 Programa de Motricidade Humana do Departamento de Ed. Física da Univ. Estadual PaulistaUNESP. 3 Institute for Medicai Research-Belgrade Yugoslavia
The pattern of the final position of the finger tip variability of the finger tip has been often studied in order to
provide an insight into different leveis of neuro-motor processing during the performance of reaching movements.
Particularly, the preservation of ellipses or ellipsoids orientation variability (for 2-D and 3-D movements, respectively) with
respect to specific origin (e.g., eyes, shoulder) has been taken into account. However, possible effects of movement kinematic
parameters has been often neglected. The present study tested the effects of movement direction and curvature on the pattern
of movement variable errors. Eight subjects with their eyes closed performed series of reaching movements over the same
distance towards the same target. Due to changes in either the starting position or applied obstacles, a series of movements
was performed in different directions and along the trajectories of different curvatures. The pattern of movement variable
errors was assessed by means of principal component analysis applied to the 2-D scatter of the movement final positions. The
results showed that the main axis of principal component was approximately oriented along the main movement direction.
This demonstrated a significant effect of movement direction on the variability of ellipses orientation. An increase in
curvature of movement pathway failed to change the orientation of the ellipses, but caused their variability (inter-subjects) to
increase. Therefore, we concluded that in addition to the previously studied effects, movement kinematics should also be
taken into account while interpreting a pattern of variable errors from the point of view of neural processes controlling human
movements. Our results support the idea that movement is controlled having hand orientation as the frame of reference for
movement planning. We also believe that the single target position applied in the present experiment could be responsible for
discrepancies between our results and results of some other studies.
This work was supported by Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP, São Paulo-Brazil (Grant
N° 97/3148-4; 97/03144-9; 97/03148-4; 97/09744-8; 97/02770-3)
98
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 03.68
DOENÇAS OCUPACIONAIS RELACIONADAS À PRÁTICA VIOLINÍSTICA
RITA DE CÁSSIA DOS REIS MOURA, SISSY VELOSO FONTES, MARCIA MA/UM/ FUKUJIMA.
Universidade Bandeirante de São Paulo- UNIBAN
Objetivos: O estudo do violino é desenvolvido, de forma geral, sem conhecimento das estruturas do corpo
envolvidas e de sua fisiologia, da demanda de trabalho muscular e dos possíveis problemas que podem aparecer. As poucas
estatísticas existentes relatam alto e alarmante índice de instrumentistas com problemas musculares. Os principais objetivos
desta pesquisa são: 1) realizar um levantamento bibliográfico nacional e internacional existente; 2) mapear possíveis
problemas que acometam os violinistas, com o objetivo de relacionar estruturas musculoesqueléticas envolvidas e seus
comprometimentos específicos; 3) propor, através de um guia básico, comportamentos de prevenção e conscientização
dirigidos especialmente ao público-alvo, neste caso, os instrumentistas, dada a especificidade dos movimentos envolvidos.
Métodos: 1. Pesquisa bibliográfica em bancos de dados de instituições de ensino e pesquisa localizados no Brasil e Exterior.
Este levantamento será efetuado em duas vias: a) BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde, tendo já sido feito cadastramento nesta entidade para pesquisa em seu banco de dados. b) contatos
realizados com algumas instituições estrangeiras via INTERNET, tais como University ofNorth Texas, Nebraska UniversityLincoln, Canadian Network for Health in the Arts, The Classical Music Department of the WWW Virtual Library,
Department of Dental Radiology, University of Helsinki. 2. A partir de pesquisas e dados levantados em trabalhos anteriores
serão analisados e correlacionados os resultados obtidos em função dos objetivos dessa pesquisa. Resultados: No Brasil não
se tem nenhum tipo de estatística, mas segundo pesquisas realizadas nos EUA, Europa e Austrália pode-se classificar 3
principais grupos de lesões: desordens musculoesqueléticas (62%), compressão neurológica (18%) e disfunção motora (lO%);
dentre os músicos que já experimentaram distúrbios 34% relataram perda do rendimento, procurando ajuda com médicos ou
professores e tentando métodos tradicionais de tratamento. Outros estudos mostram resultados diferentes, porém próximos convém salientar que os métodos aplicados são mais delimitantes, caracterizando horas de atividades semanais e anos de
profissão; assim, o percentual encontrado de músicos que apresentaram lesões musculoesqueléticas foi de 56.8% e o de
músicos que requisitaram atendimento médico foi de 36.8%. Entre os tratamentos utilizados o fisioterápico obtém ótimos
resultados, alcançando índices de reabilitação que variam de 65 a 85% (dependendo do tipo de lesão, grau de severidade,
fatores individuais, técnica utilizada etc.). Outras pesquisas relatam que tratamentos preventivos ou mesmo um preparo físico
adequado também resultam em importantes benefícios para a melhoria das condições gerais de saúde e no desempenho
profissional. Conclusões: Não encontramos, nas fontes pesquisadas, dados específicos sobre doenças inerentes à prática do
violino, sendo ele um dos instrumentos potencialmente mais prejudiciais ao musicista; dessa forma, não está exatamente
quantificado o desgaste físico a que o violinista está sujeito. Além disso, as bases de pesquisa não oferecem contextualização
adequada : primeiramente por não se tratar de pesquisas com músicos brasileiros e em segundo lugar por serem realizadas a
partir de relatos de músicos que ainda estavam em atividade - não foram localizadas pesquisas sobre instrumentistas que
interromperam suas carreiras por adquirirem algum tipo de doença relacionada à ocupação. Acreditamos que o número de
músicos que sofrem de desconfortos durante as atividades musicais seja até maior que o constatado até o momento; o
conhecimento das possíveis lesões, o levantamento de estatísticas no meio musical brasileiro, a proposição de medidas de
prevenção e reconhecimento precoce das doenças são princípios básicos para o controle e diminuição das ocorrências.
Concluímos, finalmente, observando que as éondições de estudo e performance podem ser muito prejudicadas em função da
grande demanda física exigida por esta atividade. As estatísticas são significativas o suficiente para despertar a atenção da
área de saúde e os resultados após tratamentos preventivos e fisioterápicos são relevantes, justificando o início de trabalhos de
pesquisa, esclarecimento e conscientização da classe musical (instrumentistas, professores e estudantes).
Poster 03.69
REABILITAÇÃO MOTORA: ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR A COLABORAÇÃO INFANTIL- RELATO DE
EXPERIÊNCIA.
REGIANI GOBBI*,ADRIANA C.P. KOUTSANDRÊOU**, BEATRIZ P.M. SHAYER***
A Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor tem como principal característica a reabilitação de pacientes
grande incapacitados. O Centro de Reabilitação Infantil da unidade Sarah-Salvador atende a crianças de O a 16 anos
portadoras de desordens do movimento ocasionadas por etiologias diversas, congênitas ou adquiridas. Conta com uma equipe
interdisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos e professores visando oferecer uma
abordagem que considere o processo de desenvolvimento global de cada criança. O programa de reabilitação motora envolve
atividades de estimulação ao desenvolvimento motor e às atividades funcionais a depender de fatores como a natureza da
patologia, o grau de acometimento, e a etapa de desenvolvimento na qual o paciente se encontra. Os marcos do
desenvolvimento motor e as aquisições funcionais servem de parâmetros para a avaliação da criança e estabelecimento do
programa de tratamento. Alguns dos princípios que norteiam o programa consistem em (a) considerar a criança, antes de
paciente, como uma criança, (b) considerar a criança como agente de seu próprio processo de reabilitação e (c) envolver a
família no processo de tratamento uma vez que esta controla o contexto no qual a criança se desenvolve. Nas atividades
específicas de reabilitação motora estes princípios se traduzem na promoção do interesse, motivação, envolvimento e
participação ativa da criança e da família. Conseguir, entretanto, a cooperação de crianças de idades diferentes e que se
encontram em etapas diversas do desenvolvimento motor, cognitivo e sócio afetivo nem sempre é uma tarefa simples. Sendo
assim, os fisioterapeutas buscaram junto aos psicólogos conhecimentos sobre desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo e
99
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
estratégias que facilitassem seu trabalho. Dentre as estratégias utilizadas podemos citar o uso de recursos lúdicos como
motivadores e/ou reforçadores das atividades de fisioterapia; rearranjo ambiental, adaptando e otimizando os recursos
disponíveis; estabelecimento de esquemas de reforçamento; adaptação do regime de tratamento, reduzindo ao máximo a
complexidade das ações envolvidas; uso e orientações à família sobre as técnicas de manejo comportamental; intervenções
educacionais, informando ao paciente/família sobre o diagnóstico, prognóstico, objetivos e características do tratamento
proposto. Embora não tenhamos uma avaliação formal da metodologia de trabalho utilizada, pudemos, a partir das
observações dos profissionais, levantar alguns resultados encorajadores: a integração da equipe através da troca de
experiências, a capacitação da família favorecendo a continuidade do tratamento fora da unidade hospitalar, o favorecimento
de uma melhor interação paciente-profissional e o desenvolvimento de ambiente agradável e motivador tanto para o paciente
e sua família quanto para os profissionais.
* Fisioterapeuta, Hospital SARAR-Salvador
**Psicóloga, Hospital SARAR-Salvador
***Psicóloga, Hospital SARAR-Salvador, Mestre em Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento pela Universidade de
Brasília
Poster 03.70
DESENVOLVIMENTO MOTOR: COMPARAÇÃO ENTRE CRIANÇAS PREMATURAS E CRIANÇAS
NASCIDAS À TERMO
MARIA LÚCIA PAIXÃO, FISIOTERAPEUTA; TATIANA TEIXEIRA SILVA, BOLSISTA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA; MARISA COTTA MANCINI, SCD, TERAPEUTA OCUPACIONAL; LÍVIA DE CASTRO
MAGALHÃES, PHD, TERAPEUTA OCUPACIONAL; VANÊSSA MAZIERO BARBOSA, MSC, TERAPEUTA
OCUPACIONAL; ANA PAULA B. GONTIJO, FISIOTERAPEUTA
Departamentos de Fisioterapia e de Teràpia Ocupacional, Escola de Educação Física, UFMG
Crianças prematuras nascidas na maternidade do Hospital das Clínicas (HC) são acompanhadas e avaliadas
sistematicamente no Ambulatório de Acompanhamento do Recém-Nascido de Alto Risco (AARNAR) deste hospital. Este
projeto é composto por equipe interdisciplinar de follow-up que vem dando assistência especializada a crianças que
apresentaram fatores de risco no período perinatal, há mais de oito anos. O objetivo deste trabalho foi verificar o
desenvolvimento neuromotor destas crianças comparando-o com normas de crianças nascidas a termo. Dados do teste de
Desenvolvimento de Denver aos 12, 18 e 24 meses de idade corrigida de uma amostragem de 162 crianças prematuras foram
analisados. Estes dados foram comparados com dados normativos descritos no manual do teste, nos aspectos motor-fino
adaptativo e motor-grosso. Para análise estatística foi utilizando o teste Qui -quadrado (1 2), onde o desempenho em cada ítem
foi investigado comparando-se a distribuição de frequência esperada (dados normativos) e frequência observada (dados das
crianças prematuras). Os resultados obtidos revelam que dos 29 ítens motores analisados, 16 (55%) apresentaram diferença
significativa entre prematuros e crianças nascidas a termo. Esta diferença aponta para uma melhor performance das crianças
prematuras em relação ao grupo normativo. Os resultados são discutidos considerando-se o impacto da correção da idade
gestacional e da experiência extrauterina no desenvolvimento de crianças prematuras.
Poster 03.71
EFFECTS OF DISPLACEMENT AND TRAJECTORY LENGTH ON THE FINAL POSITION VARIABILITY OF
REACHING MOVEMENTS
FERREIRA, S.M.S. *1, TORTOZA, C.* 1, MARCONI, N.F. *2,3, JARIC, S.*, **2, ALMEIDA, G.L*2
*Laboratório de Controle Motor, Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de
Campinas- UNICAMP. **lnstitute for Medicai Research- Belgrade Yugoslavia.
1 Depto de Ed. Física da UNESP. Bolsista MS-I FAPESP.
2 Depto de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia- UNICAMP.
3 Bolsista MS-I FAPESP.
The present study has been designed to test separately the effects of displacement (i.e., the distance between the
initial and final position) and trajectory length on 2-D variable errors of multi-joint movements. Nine subjects with their eyes
closed performed series of fast and accurate reaching movements from the initial positions displaced vertically 15, 30, and 60
em below the target. In some series the movements were unconstrained and, therefore, approximately straight. In others, an
obstacle was positioned in arder to increase trajectory length due to increased movement curvature. The movement variable
errors were assessed by surface of the ellipses of variability calculated by means of principal component analysis applied to
the scatter of the movement final positions. The lengths of the ellipses' long and short axes were scaled with respect to the
final position variability in direction of the principal component main axes and in the orthogonal direction, respectively. The
results demonstrated that variable errors increased with an increase in movement displacement. However, with the exception
of the task performed with an excessive curvature (i.e., the trajectory resembled more to a reversal movement), even an
insignificant increase in variable errors was not associated with an increase in trajectory length. Therefore, we concluded that
movement displacement, rather then trajectory length, could be considered as an important factor affecting variable errors
and, consequently, the accuracy of multi-joint movements. lt was concluded that the lack of trajectory length effects on the
movement variable error could not be in agreement with some contemporary motor contrai models and theories. We suggest
that the single target position used in the present experiment could be an important methodological factor affecting the results
100
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
obtained. We also conclude that the results obtained could generally emphasize importance of the final position
representation in motor programs of multi-joint reaching movements.
This work was supported by Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP, São Paulo- Brazil (Grant
w 9713148-4; 97103144-9; 97103148-4; 97102770-3; 97102771-0; 97/02769-5)
Poster 03.72
MUSCLE TORQUE COVARIANCE IN NEUROLOGICALLY NORMAL AND DOWN SYNDROME
INDIVIDUALS: THE EFFECT OF ANGULAR, LINEAR DISPLACEMENT AND SPATIAL ORIENTATION.
MARCONI, N.F; ALMEIDA, G.L.;TORTOZA, C.; FERREIRA, S.M.S.
Laboratório de Controle Motor- Depto. de Fisiologia e Biofísica- Inst. de Biologia- UNICAMP
We have identified a principal of linear co-variance in which the muscle torque at the non-focal joint was very close
to linearly proportional to that at the focal-joint throughout the movement. Elbow and shoulder torques differed by a linear
scaling constant and went through extreme and zero crossings almost simultaneously. These findings were also observed
during planar human movements. Compared with neurologically normal subjects, Down syndrome individuais use
proportionally more distai than proximal muscle torque while performing reversal movements. This difference in strategy in
the coordination of muscle torques may contribute to the movement clumsiness observed in the movements of these
individuais. Here we studied the effect of angular, linear displacement, and spatial orientation on the linear co-variance
between elbow and shoulder torques of DS and NN individuais. These individuais performed a planar reversal movements
into four spatial orientation. In each spatial orientation they performed tasks into three different angular excursion (18, 36 and
54°), and into three different linear displacement (30, 45 and 60% of the forearm length). Subjects did not have any visual
feedback of the elbow joint for the angular excursion tasks, but they have visual feedback of the fingertip for the linear
displacement task. They were instructed to move "as fast as possible", from the initial to the target position, reversal the
movement and return to the initial position. A set of light were turned off, in front of the subjects, signalling the angular
displacement required during the angular excursion task. For the linear displacement task the target was fixed at the position
with a mark. The results showed that there is no group difference in the linear co-variance between angular excursion and
linear displacement tasks. However, the preliminary results indicate that there was a change in the linear co-variance with
change in spatial orientation. These findings were the same across the group of subjects. However, the individuais with Down
syndrome used more elbow muscle torque than shoulder muscle torque. Also, the coupling between these two torques was
less efficient for the Down syndrome group as compared with the NN individuais. Our findings support the idea that there is a
subtle differences in the way DS individuais control their movement that could be related with their movement clumsiness.
This work is supported by FAPESP, Grant n. 95/9608-1, 97/02770-3, 97/02771-0 e 97/02769-5, State of São Paulo, Brazil.
04 - Avaliação da Eficácia da Reabilitação Motora
Poster 04.01
"ESCOLA DE POSTURA" - UM PROJETO PILOTO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP- CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE"
AZEVEDO M. F., BERBEL M. A., L/RANÇO P. M., FREITAS M. R., CARVALHO C. A.
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA- FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA- CÂMPUS DE
PRESIDENTE PRUDENTE.
Os indivíduos tem o conceito de uma boa postura dentro de si, mas uma inadequada manipulação deste corpo levará
a adaptações e modificações dessa consciência corporal. Músculos retraídos podem levar a uma amplitude articular limitada e
para se obter a diminuição destas retrações utiliza-se técnicas que visam aumentar o relaxamento e alongamento destes
músculos, aumentando a amplitude de movimento. A dor na coluna lombar é a desordem músculo-esquelética mais comum
nas sociedades industrializadas e a maior parte dos indivíduos sofrem pelo menos uma vez, dor na coluna, em algum estágio
durante sua vida. Em termos econômicos e segundo estimativas, as doenças relacionadas à coluna causam um enorme
prejuízo em dias/horas de trabalhos. Isso aumenta se considerarmos não só os dias perdidos de trabalhos, mas também os
gastos com medicamentos, fisioterapia, perda de produção. As queixas dolorosas relacionadas com a coluna vertebral são
muito freqüentes na práticaclínica, correspondendo a 30% do total de pacientes. Fatores básicos funcionam como prevenção
para problemas de coluna, começando pela manutenção da atividade física, evitar obesidade, evitar esforços físicos
inadequados, praticar exercícios que ajudam a coluna em sua função de sustentação do corpo, e os exercícios de alongamento
para evitar a tensão muscular. O objetivo deste trabalho foi estruturar e realizar um projeto piloto teórico e prático de uma
Escola de Postura, com intuito de reeducar educar postura e hábitos adequados nas atividades de vida diária, prevenir ou
melhorar afeções da coluna vertebral de indivíduos pertencentes à comunidade da UNESP de Presidente Prudente /SP.
Analisamos 30 indivíduos dispostos em dois grupos, sendo 15 indivíduos no grupo controle (indivíduos foram avaliados e
não submetidos a terapia em grupo ou as aulas teóricas) e 15 no grupo experimental, ambos submetidos à duas avaliações
físicas e sintomatológica em um período no três meses. Um questionário composto de 18 perguntas que objetivavam analisar
o comportamento, foi aplicado em ambos os grupos juntamente com a avaliação física, sendo o primeiro realizado antes das
aulas práticas e novamente após o término destas. Anteriormente à realização das aulas práticas de postura foram realizadas
101
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
duas aulas teóricas de postura. Após a realização da "Escola de Postura" durante 3 meses, foi evidente a melhora de dos
indivíduos submetidos ao tratamento. Através da análise estatística da avaliação em forma de questionário aplicada ao grupo
experimental nota-se que houveram diferenças significativas em algumas questões quando comparadas as respostas antes e
após o tratamento, demonstrando a melhora no quadro álgico deste grupo.
Poster 04.02
ANÁLISE EVOLUTIVA DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA DE PACIENTES COM ESCOLIOSE E
CIFOESCOLIOSE
BADARÓ, ANA FÁTIMA*; TREVISAN, MARIA ELAINE *; GRASSER, TATIANA **·
* Docente do Depto de Fisioterapia e Reabilitação, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Maria UFSM
**Discente do Curso de Fisioterapia- UFSM
Com o objetivo de avaliar a evolução ventilatória de pacientes com escoliose idiopática leve e cifoescoliose em
tratamento fisioterápico, realizou-se um estudo retrospectivo entre os pacientes atendidos no Serviço de Fisioterapia do
Hospital Universitário de Santa Maria- HUSM, da Universidade Federal de Santa Maria, no período de março de 1996 à
junho de 1998. Delimitou-se a amostra nos seguintes aspectos: faixa etária inferior a 35 anos, apresentar curvaturas
escolióticas superiores a 5° Coob para as cifoescolioses e 10° Coob para as escolioses, não apresentarem doença respiratória
e não ser tabagistas, e ter realizado tratamento fisioterápico com enfoque na cinesioterapia motora e respiratória por um
período mínimo de 6 meses, com freqüência média de 2 atendimentos semanais. A função respiratória foi avaliada através da
espirometria. Os volumes, capacidades pulmonares e fluxos aéreos foram medidos através do expirômetro Vitatrace VT 130,
na posição sentada, comparando-se as porcentagens obtidas com os valores previstos na tabela normalidade de Gaensler.
Após um período mínimo de 3 meses de tratamento, os pacientes foram submetidos à uma reavaliação respiratória, seguindose os mesmos parâmetros da avaliação inicial. A amostra configurou-se em 10 pacientes, 6 pacientes com escoliose, sendo 5
do sexo feminino e 1 do sexo masculino e 4 com cifoescoliose, sendo 1 do sexo feminino e 3 do sexo masculino,
encontrando-se na faixa etária dos 12 aos 34 anos, com prevalência entre 15 e 20 anos. A curvatura escoliótica principal
apresentou variações entre 6° e 22o Coob, com predominância entre 11 o e 15° Coob, e, em sua maioria localizada na região
toracolombar. As cifoses variaram entre 35° e 70° Coob. Analisando os parâmetros espirométricos da avaliação inicial,
encontrou-se 6 pacientes com função ventilatória normal, 1 com distúrbio obstrutivo leve, 1 com distúrbio restritivo leve, 1
com distúrbio obstrutivo grave restritivo leve e 1 distúrbio obstrutivo e restritivo combinado leve. Na reavaliação apenas 1
paciente apresentou redução de fluxo (FEF 25 . 75 %). O enfoque da cinesioterapia motora e respiratória demonstra uma melhora
generalizada da função pulmonar na maioria dos pacientes estudados. Entre os que encontravam-se nos padrões de
normalidade, observou-se melhora da CVF, da VEF~> da FEF 25. 75 % e da VVM em 60% dos pacientes e da IT em 40 %.
Constata-se que a cinesioterapia, nestes casos, apresenta importância fundamental para a melhora dos padrões ventilatórios,
mas que esta não ocorre de forma linear, variando sua evolução entre os parâmetros, o tempo de tratamento e o
comprometimento músculo-esquelético apresentado.
Poster 04.03
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS: A DOENÇA PARA O INDIVÍDUO
MÔNICA TRAIS SIMÕES MATSUKURA BERNARDINO- INSTITUTO DE SAÚDE- SESISP
Fernando Lefévre -Faculdade de Saúde Pública- Universidade de São Paulo
As Lesões por Esforços Repetitivos (L.E.R.), tem se apresentado como um importante problema de Saúde
Ocupacional, tanto por sua alta e crescente incidência entre os trabalhadores das mais diversas categorias profissionais, como
pela dificuldade de abordagem da mesma a nível de prevenção, tratamento e reabilitação. Neste trabalho, que tem como
objeto as L.E.R., procuramos descrever o "ponto de vista" do adoecido sobre sua doença e as relações estabelecidas a partir
da constatação da mesma. Discute-se a importância de definir este ponto de vista como uma contribuição para aumentar a
abrangência do conhecimento sobre a problemática das L.E.R., uma vez que somente o adoecido pode informar o que
significa experenciar a situação geradora da lesão, a doença em si e suas conseqüências. Para se atingir os objetivos do
trabalho, utilizamos a metodologia qualitativa. A partir da coleta de 10 depoimentos, referentes a história de vida desse
período de adoecimento, de bancárias de uma instituição estatal, sua transcrição integral e análise temática, construímos o
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). NO DSC uma adoecida síntese descreve sua relação com a doença e suas diversas
implicações. Aponta-se especificamente em relação ao tratamento e reabilitação desta disfunção motora, que seus resultados
são difíceis e limitados. Neste discurso representativo da categoria de sujeitos abordada, descreve-se a importância do
tratamento multidisciplinar (como o único com possibilidade de apresentar resultados positivos), a pouca eficácia do
tratamento e reabilitação fisioterápica clássica isolada, a diminuição da esperança na possibilidade da cura e finalmente a
ausência de um processo de reabilitação profissional, tanto por parte da empresa, como do Centro de Reabilitação
Profissional (CRP) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Discute-se a necessidade de maiores estudos que possam
colaborar na melhora da qualidade do tratamento e da reabilitação das L.E.R., uma vez que o número de adoecidos tem
aumentado e se esta atenção não é adequada a doença progride e a incapacidade se instala.
Bolsa de mestrado CAPES/CNPq
102
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 04.04
SISTEMA DE ANÁLISE GRÁFICA PROGRESSIVA PARA TREINAMENTO PROTÉTICO DE AMPUTADOS DE
MEMBRO INFERIOR
CARVALHO G. A.
U.C.B.- Universidade Católica de Brasília- Curso de Fisioterapia
Traçar os objetivos propostos ao treinamento do amputado e alcançá-los de forma plena, requer uma estratégia
metodológica, que deve ser aplicada a cada caso com precisão prévia de metas e técnicas bem definidas a fim de atingir-se o
sucesso pretendido. O objetivo deste trabalho é propor uma forma de sistematização progressiva das etapas de treinamento
protético de amputados de membros inferiores na qual o protocolo a ser utilizado pelo profissional reabilitador possa
demonstrar visualmente o treinamento de forma gráfica e objetiva, possibilitando a rápida identificação das propostas (tempo
e metas), evolução , intercorrências e suas causas e análises comparativas do processo de treinamento, a fim de existir um
controle preciso entre a fase inicial e terminal da reabilitação do amputado. A apresentação desta sistematização progressiva,
através deste trabalho de argumento teórico, está direcionada a pacientes com amputações de membros inferiores nos seus
diversos níveis, tipos de prótese, idade e causas de amputação uni ou bilateralmente. Isto somente é possível porque para cada
necessidade poderá ser criado um programa de treinamento peculiar e específico para o paciente, ou seja, o protocolo em si
poderá ser definido de acordo com a experiência do profissional reabilitador e as peculiaridades de cada caso, aplicando-o ao
Sistema Progressivo proposto. Esta proposta de sistematização do tratamento poderá ser transcrita diretamente para a ficha e
anexada ao prontuário do paciente ou mesmo os dados armazenados em um computador para posterior análise comparativa.
A construção do Sistema Gráfico Progressivo (S.A.G.P.) , nos moldes propostos, nos oferece gráficos de curvas padrões que
auxiliam bastante a visualização imediata da situação do paciente a ser tratado, dos objetivos propostos, a evolução e a
estagnação ou involução sofrida pelo paciente (com rápida identificação de quando e por que isto ocorreu) demonstrando se o
treinamento do indivíduo que está sendo protetizado está correspondendo às expectativas traçadas, orientando o profissional
de reabilitação na sua abordagem. Diversos erros metodológicos poderão ser evitados e as técnicas pré estabelecidas para
determinada finalidade e tempo, poderão auxiliar o tratamento em relação à objetividade e ao seu sucesso maior. Acreditamos
que este Sistema Gráfico Progressivo de Treinamento Protético de Amputados de Membro Inferior venha a contribuir neste
aspecto, direcionando melhor os objetivos e condutas daqueles que se dedicam ao tratamento reabilitador de amputados e sua
validade externa contribuirá de forma significativa à vários pacientes.
Poster 04.05
O ÍNDICE DE BARTHEL COMO AVALIAÇÃO E META DA FISIOTERAPIA EM INDIVÍDUOS PORTADORES
DE HEMIPARESIA E HEMIPLEGIA NAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA.
T. GAIAD, P. OLIVEIRA, C. P. CHAGAS.E. F.
Unesp Presidente Prudente
As atividades da vida (AVDs) são aquelas atividades físicas básicas realizadas diariamente e necessárias para viver,
tais como deambulação, cuidado pessoal e transferência. Indivíduos portadores de hemiplegia e hemiparesia podem possuir
uma série de deficiências que os impossibilitam de realizá-las. Assim, acreditamos na necessidade de uma avaliação
complementar para verificarmos e quantificarmos as AVDs e acompanhar a evolução do estado funcional destes pacientes. A
realização das AVDs para um portador de hemiplegia ou hemiparesia é de grande importância uma vez que está relacionada
com sua independência funcional e melhora na sua qualidade de vida. Existem várias escalas de valorização funcional que
têm como propósito mensurar as limitações e capacidades do indivíduo nos planos sociais, físico e mental. No entanto, elas
não têm sido utilizadas de maneira freqüente nas avaliações clínicas, o que prejudica o direcionamento da terapia quando se
busca a melhora da qualidade de vida do indivíduo através da independência funcional. Neste trabalho utilizamos como
instrumento o Índice de Barthel (IB), o qual avalia o estado físico do paciente sendo dirigida à observação das AVDs,
ajustando-se assim aos nossos objetivos de recuperação das atividades básicas do paciente. Portadores de hemiplegia e
hemiparesia que já realizam fisioterapia no ambulatório da FCT-UNESP, entre 45 e 60 anos, foram avaliados em três
momentos, com intervalo de um mês entre uma avaliação e outra. Os resultados estão sendo analisados e comparados entre as
avaliações realizadas neste período. Os dados estão sendo compilados e serão descritos posteriormente, considerando o tempo
de lesão, tempo de realização de Fisioterapia, idade, entre outras variáveis. No entanto, em resultados parciais, pudemos
verificar uma evolução significativa na escala, principalmente dos indivíduos que tiveram lesão em um período inferior a três
meses e com IB acima de 30 pontos.
Poster 04.06
O LÚDICO E A REABILITAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO.
INOVE, M. M. E. A.; EMERIQUE, P. S.:
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA- UNESP, RIO CLARO-SP
No Brasil, se considerarmos uma população de aproximadamente 130 milhões de pessoas, 13 milhões são portadoras
de algum tipo de deficiência (física, psíquica, visual, auditiva, ou múltipla), ou seja 10% da população e segundo dados da
ONU, pouco mais de 4 milhões de pessoas recebem algum tipo de atendimento. É preciso que nasça uma atitude nova diante
de tal fato proporcionando serviços de reabilitação a todos. A reabilitação signifca trazer o indivíduo ao seu ótimo estado
buscando também a integração, ou reintegração no ambiente familiar, de trabalho. Assim, as atividades dos profissionais da
reabilitação devem estar voltadas aos vários aspectos do ser humano, como educacionais, de saúde, e de ocupação. Essa é um
103
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
complexo processo, de aplicação integrada de vários procedimentos para atingir a recuperação do indivíduo, levando-o para
uma condição funcional no lar e na comunidade, utilizando de todas as capacidades residuais que o paciente permite. Diante
desta importante tarefa de reabilitar é preciso que haja uma atuação interdisciplinar para contemplar os diversos aspectos da
vida dos deficientes. Além disso, esses profissionais devem ter uma atitude positiva diante das crianças, ou seja, ter um
relacionamento de total integração, mesmo que estes convivam com situações de medo, dor, choro, insegurança, a falta do
movimento corporal, das experiências sensoriais e outros problemas familiares, econômicos. Somente com atuação conjunta,
colaborativa entre uma equipe é que encontrar-se-á os meios de compartilhar e solucinar os problemas decorrentes da
deficiência. Este estudo propõe a abordagem lúdica "play therapy" para estas crianças e também pressupõe que os
profissionais devem vivenciar o lúdico no trabalho, em equipe interdisciplinar e sobretudo em suas vidas, permitindo-se ao
brincar para poder desvendar, ou evidenciar um potencial das crianças e não propriamente os problemas. A deficiência não
deveria ser vista como um problema intransponível e sim como uma possibilidade de adaptação do ser humano em viver com
a sua própria diversidade. Assim, realizamos reuniões (vivências lúdicas) com uma equipe multidisciplinar composta por
quinze profissionais, das diferentes atuações como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, neuropediatria,
pedagogia, fonoaudiologia de um centro de reabilitação infantil e por meio de roteiro de entrevista analisamos o discurso das
profissionais buscando a seu entendimento do significado do lúdico, o uso de seu tempo livre, formação para o lúdico, os
recursos e procedimentos lúdicos utilizados com a criança no trabalho e como se utiliza deles, e finalmente sobre o
aproveitamento das vivências. Os resultados da pesquisa apontaram para a necessidade do conhecimento sobre o lúdico nos
cursos de graduação, com exceção da psicologia; a equipe deseja utilizar mais do lúdico como um instrumento potente de
atuação nas diversas condições da criança e também concorda que é preciso haver uma permissão de cada profissional no
sentido de vivenciar mais o lúdico e isto proporcionará mais interação durante a terapia com uma atitude nova, mais lúdica
onde profissional e paciente se tornem mais satisfeitos com o tratamento.
AGRADECIMENTOS: Ao Centro de Habilitação Infantil Princesa Victória em Rio Claro no estado de São Paulo, ao CNPQ
pelo apoio financeiro.
Inoue, M. M. E. A. mestranda no Programa de Ciências da Motricidade na UNESP, campus de Rio Claro.
Emerique, P. S. Professor orientador, Departamento de Educação da UNESP, campus de Rio Claro.
Poster 04.07
AVALIAÇÃO FÍSICO - FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À TRANSFERÊNCIA TENDINOSA
APÓS SEQÜELA DA LESÃO DO NERVO RADIAL- ESTUDO RETROSPECTIVO DE 1986 A 1996.
MATTAR*,FL; FONSECA **,MCR; ELUI***, VMC; MAZZER****,N & BARBIERI****,CH.-HCFMRP- USP.
As lesões nervosas periféricas do membro superior comprometem de certa forma a função da mão,
independentemente do seu grau, nível ou do número de raízes acometidas. Nos casos de seqüela de lesão do nervo radial
resultante de trauma, a transferência tendinosa tem sido feita pelo Grupo Cirurgia do Membro Superior, Mão e Microcirurgia
do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HCFMRP-USP, com intuito de restabelecer o equilíbrio muscular de mão e
punho, permitindo a realização de atividades de vida diária e funcionais. Este estudo teve por objetivo a análise quantitativa
da função da mão e da força muscular de preensões cilíndrica, pulpar, pulpo - lateral e tridigital em indivíduos submetidos à
transferência tendinosa do pronador redondo para o extensor radial curto do carpo; do palmar longo para o extensor longo do
polegar e do flexor ulnar do carpo para o extensor comum dos dedos, de janeiro de 1986 a dezembro de 1996; tendo sido
tratados no Seção de Reabilitação Neuromuscular do HCFMRP - USP nos períodos pré e pós - cirúrgicos. Fez-se uma
avaliação físico - funcional, baseada num questionário acerca de causa e tipo do trauma; intercorrências que impediram a
realização de enxertia de nervo ou que determinaram o seu insucesso; idade, profissões atual e anterior; "hobbies";
dominância e membro lesado; e opinião do paciente a respeito de sua recuperação funcional expressa em porcentagem.
Fizeram-se a mensuração da força muscular através dos dinamômetros Jamar e Pinch Gauge e a avaliação funcional de
CARAZZATO (1978) que permitiu a obtenção do índice funcional expresso em porcentagem. Do total de 10 indivíduos
estudados, 9 (sexo masculino), desempenhando atividades braçais até a data do trauma. Apenas 2 indivíduos haviam lesado
seu membro superior dominante. Houve trauma direto do radial em 8 casos. A média de idade, dos indivíduos na época do
trauma, foi de 31,5 anos. Na dinamometria com instrumento Jamar- nível 2 de preensão - a média aritmética dos valores
obtidos foi de 16,6 Kgf, com 2 resultados superiores a 50% da força do membro contralateral. Na dinamometria de pinça
pulpar, a média aritmética dos valores obtidos foi de 4,6 Kgf, com 2 resultados inferiores a 50% do membro contralateral. Na
dinamometria de pinça pulpo - lateral, a média dos valores foi de 6,5 Kgf, com penas 1 valor abaixo de 50%. Na
dinamometria tridigital a média encontrada foi de 5,3 Kgf, com 4 valores inferiores a 50%. Quanto ao índice funcional todos
os valores encontrados foram superiores a 50%- variando de 65,8% a 100%. Ao questionamento sobre o resultado funcional,
8 indivíduos responderam que a melhora havia sido superior ou igual a 50%. Houve 1 resposta de 30%, apesar do seu índice
funcional ter sido de 77,2%- corresponde à lesão por estiramento quando essa pessoa tinha apenas 2 anos e 8 meses de idade.
Houve uma resposta zero, apesar do índice funcional de 94,3%. Concluiu-se que apesar da relativa perda de força muscular
de preensão cilíndrica, o objetivo da cirurgia e do protocolo de reabilitação aplicado foi atingido, uma vez que se restabeleceu
o equilíbrio muscular de punho e mão, propiciando a realização de atividades funcionais leves sem o uso de órteses estáticas
ou dinâmicas. O efeito tenodese conseguido através da cirurgia e enfatizado pelo protocolo de reabilitação aplicado ficou
evidente a partir dos resultados para as pinças de precisão. A avaliação funcional proposta mostrou-se viável como forma de
análise quantitativa do processo de reabilitação, por ser de fácil compreensão e aplicação e sobretudo por proporcionar
resultados confiáveis e independentes de qualquer influência de caráter subjetivo.
104
R,ev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
*Bolsista da FUNDAP - Programa de Aprimoramento de Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, 1996.
**Fisioterapeuta encarregada da Seção de Reabilitação Neuromuscular do HCFMRP- USP.
***Terapeuta Ocupacional da Seção de Reabilitação Neuromuscular do HCFMRP - USP.
****Prof.Doutor do Depto. Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia - Serviço Cirurgia do Membro Superior, Mão e
Microcirurgia do HCFMRP-USP.
Poster 04.08
ATIVIDADES MOTORAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE SEQÜELA DE AVC - EFEITOS NA
QUALIDADE DE VIDA DIÁRIA
MOISÉS, MARCIA P. , CLÉLIA, MARIA R. ROCHA
Associação Paulista de Educaçqo e Cultura
Este estudo foi feito com alunos adultos portadores de seqüela de Acidente Vascular Cerebral(A VC), que
desenvolvem um programa de Atividades Físicas Adaptadas às suas particularidades, no Centro Recreativo Esportivo
Especial "Luiz Bonício", promovido pela Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, desde abril de 1994. Com o
apoio do médico fisiatra da Secretaria da Saúde e atentos aos cuidados em relação às articulações e musculatura do portador
de seqüela de AVC, este programa consta de aulas de 60 minutos, com freqüência de 2 vezes por semana, compreendendo: a)
exercícios respiratórios e de relaxamento; b) de mobilização das articulações; c) de mobilização passiva do membro
comprometido através do auxílio do membro preservado; d) exercícios localizados e de alongamen•o dos grandes grupos
musculares; e) exercícios de deambulação; f) de estabilização e g) jogos que propiciam a experimentateão de diferentes
habilidades motoras. Os objetivos do programa contemplam aspectos motores(aumentar as possibilidades ôe movimentos),
socio-emocionais(aumentar as possibilidades de sociabilização), cognitivos(maior consciência corporal e de suas
potencialidades) e orgânicos(aumentar as condições resistência cardiovascular e respiratória), proporcionando-lhes a
possibilidade de readaptação ao meio, reconstrução da auto-estima e melhora do conceito de participação. Este estudo foi
feito com 20 alunos, entre 17 e 78 anos de idade, sendo que 9 tem entre 51 e 58 anos de idade, que freqüentaram entre 6
meses e 1 ano e meio de curso. O questionário utilizado foi composto de 12 questões abertas e fechadas, que identificaram,
classificaram e apresentaram opiniões dos alunos, referentes à aspectos coerentes com elementos que denotam níveis de
qualidade de vida diária, considerados após o início do curso. Os resultados subjetivos apresentaram impressões positivas
com relação à aspectos motores e psicossociais, apontando melhoria na deambulação, amplitude de movimentos, também dos
membros comprometidos, equilíbrio dinâmico, maior ânimo, mais calma, menor tensão emocional, maior autonomia, melhor
relacionamento social. Subjetivamente pôde-se observar boa participação, interesse e motivação por parte dos alunos, maior
autonomia e confiança na movimentação, além de verificar um reconhecimento e confiabilidade da classe médica envolvida.
Poster 04.09
ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO PLANTAR DE SUJEITOS NORMAIS
NASCIMENTO, ADRIANA G. P E CHRISTIANE, M. C. MACHADO
Escola Paulista de Medicina
Com o objetivo de traçar o padrão normal do pé de indivíduos adultos, os autores avaliaram 58 pés de 29 indivíduos
normais voluntários, sendo 20 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, com idade variando entre 16 a 64 anos (média 29.86),
peso corporal variando entre 42 a 95 kg (média 64.86), altura variando entre 149 a 187 em (média 164.79). Este estudo foi
realizado no Laboratório de Biomecânica da Disciplina de Fisiatria do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da
Universidade Federal de São Paulo -Escola Paulista de Medicina. Todos os indivíduos foram submetidos a coleta de dados
pessoais, a avaliação antropométrica e postura! além da avaliação baropodométrica. Para avaliação baropodométrica foi
utilizado o sistema ACP Buratto acoplado a um computador Pentium 166, constando de análise estática do pé (distância do
centro de apoio do pé a projeção do centro de gravidade do corpo, superfície plantar, força e pressão exercidas pelo pé sobre
o solo e porcentagem da carga) e análise dinâmica do pé (pico de pressão, velocidade, tempo de contato com o solo e
superfície). Este trabalho vem suprir a necessidade de determinar as pressões exercidas pelo pé durante o ortostatismo (exame
estático) e a marcha de indivíduos adultos normais permitindo comparar com alterações neuromusculares e/ou deformidades
músculo-esqueléticas do aparelho locomotor que venham a afetar a biomecânica do tornozelo e/ou do pé.
Poster 04.10
AVALIAÇÃO FUNCIONAL E PROPRIOCEPTIV A EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À RECONSTRUÇÃO DO
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO
NEGRÃO FARIA RÚBEN F/LH0(2) CRISTINA /URI OKA WA(l); FT.TÂNIA SASASAK/(1); PROF. MS.; DR.
JÚLIO JOSÉ DE ANDRADE QU/ALHE/R0(3)
UNESP Presidente Prudente
No decorrer das últimas décadas o tema avaliação funcional e proprioceptiva tem sido alvo muito frequente de
estudos sobre sua função e importância em avaliar o sucesso ou não da reabilitação nas ligamentoplastias da articulação do
joelho. Entretanto, em que pese o uso quase rotineiro de protocolos de tratamentos bem elaborados, completos e abrangentes
para a reabilitação das lesões do LCA, verifica-se a falta na rotina fisioterápica de um esquema capaz de avaliar e mensurar a
funcionabilidade e a propriocepção dos pacientes reabilitados. Portanto, o objetivo deste estudo foi aplicar o protocolo de
105
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
avaliação, constituído da escala de Lysholm, teste de performance e avaliação proprioceptiva no sentido de avaliar as
condições funcionais dos indivíduos submetidos à cirurgia de reconstrução ligamento cruzado anterior e verificar a
importância da propriocepção no processo de reabilitação. Participaram deste estudo 4 (quatro) pacientes, do sexo masculino,
com idades média de 21.8 anos, e que sofreram completa substituição do LCA pelo enxerto do tendão patelar, sendo realizada
pelo mesmo cirurgião. Os pacientes foram submetidos ao protocolo de avaliação 3 dias antes da cirurgia e 12 a 14 meses
após, sempre condicionada à avaliação medica das condições do enxerto ligamentar. Os dados das avaliações funcionais
(escala de Lysholm e teste de performance) e proprioceptivas dos quatro indivíduos foram analisados na forma de estudo de
caso e também de forma conjunta, confrontando os valores obtidos nos três testes (escala de Lyshom, teste de performance e
o teste proprioceptivo) antes da cirurgia e após o período de reabilitação. Os resultados deste estudo permite concluir que os
testes são capazes de avaliar as condições funcionais, mostrando que os resultados satisfatórios foram obtidos pelos pacientes
que realizaram tratamento completo; e que o teste proprioceptivo, embora deva ser submetido a um processo de
aperfeiçoamento, mostrou-se capaz de mensurar a importância da propriocepção na reabilitação de pacientes submetidos à
cirurgia de reconstrução do LCA.
(*) (1) Fisioterapeutas formados pela Universidade Estadual Paulista- UNESP - Campus de Presidente Prudente, no ano de
1997. (2) Professor na disciplina de Eletroterapia do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual Paulista - UNESP Campus de Presidente Prudente, Rua Roberto Simonsen no 300, Te!. (018) 221 5388, Fax (018) 222 2227, Cep 19060-900,
São Paulo, Brasil. (3) Médico Ortopedista e Traumatologista da Clínica Nossa Senhora Aparecida S/C Ltda. em Presidente
Prudente, Rua Heitor Graça no 966, Te!. (018) 222 0488, Cep 19013-360, São Paulo, Brasil.
Poster 04.11
VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE IMAGENS UTILIZADO EM LABORATÓRIO DE MOVIMENTO
OKAI,LIRJA AKIE li, JOSÉ AUGUSTO FERNANDES LOPES2; JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE BARROS
MORAES3
1
Bolsista do CNPq no Programa de Pós graduação em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP
2
Bolsista da CAPES no Programa de Pós graduação em Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP
3
Professor/Pesquisador do Laboratório de Engenharia Biomédica da Escola Politécnica da USP
Objetivo: A avaliação da marcha é um dos principais tópicos estudados na reabilitação motora de pacientes. Vários
são os equipamentos capazes de fornecer dados quantitativos ao terapeuta, ressaltando-se as palmilhas sensorizadas,
plataformas de força, eletromiógrafos, eletrogoniômetros e Sistema de imagens. Existe uma quantidade muito grande de
Laboratórios que analisam a marcha em todo o mundo. Apesar de ainda ser restrita a possibilidade de utilizar altas
tecnologias, como um Sistema de Imagens, devido ao seu alto custo e pelas dificuldades encontradas na interface softwareoperador, este tipo de Sistema está sendo utilizado em grandes Centros, integrado a outros equipamentos, para avaliar
pacientes pré e pós tratamentos e até mesmo indicando cirurgias. O objetivo deste trabalho é validar o Sistema de Imagens
utilizado no Laboratório de Movimento da Divisão de Medicina e Reabilitação do HC/FMUSP, de forma a verificar tanto a
sua confiabilidade como a sua funcionalidade no auxílio aos profissionais da área da Saúde. Métodos utilizados: O Sistema
de Imagens é um Sistema integrado de hardware e software da Motion Analisys Corporation® que utiliza seis câmeras de
vídeo da marca COHU, com frequência de aquisição de 60Hz. As câmeras são ligadas à uma placa de aquisição de vídeo
instalada em um microcomputador integrado à uma estação Sun onde os dados são processados. Marcadores passivos são
utilizados nos pacientes durante as avaliações clínicas, de forma a determinar extremidades ósseas relevantes para o cálculo
de características temporais e espaciais, estáticas e dinâmicas, tais como variações angulares das articulações envolvidas
durante a realização do movimento desejado. Os ensaios devem ser feitos na mesma localização em que é normalmente
realizado um exame típico, pois alterações no ambiente e o próprio transporte dos equipamentos podem gerar alterações
indesejáveis nos resultados. Para avaliar se o equipamento fornece as coordenadas corretas dos marcadores e suas dinâmicas,
foram utilizados um cubo de calibração, uma haste de 526 mm, e cinco marcadores de aproximadamente 1 polegada de
diâmetro medidas com padrões secundários. O primeiro passo dos ensaios foi validar os padrões secundários utilizados,
através de medições realizadas com equipamentos de precisão aferidos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
Posteriormente realizou-se ensaios para verificar especificações metrológicas relacionadas com as coordenadas dos pontos de
referência, a velocidade calculada pelo software, a região de maior concentração de erros dentro do volume de aquisição de
imagens, a repetibilidade e a fidelidade do Sistema. Os resultados foram obtidos através de arquivos no formato ASCII e
posteriormente processados através de rotinas no software MatLab. Resultados Obtidos: As coordenadas obtidas através do
Sistema apresentaram uma boa coincidência em relação aos padrões secundários. No entanto, determinadas regiões dentro do
volume de aquisição dos dados apresentaram maiores erros. A frequência de aquisição das câmeras apresentou uma boa
fidelidade, demonstrando que as velocidades calculadas no decorrer do processamento dos dados estão corretas. No entanto,
durante os ensaios com a haste paralela ao eixo vertical os resultados demonstraram-se exatos mas pouco precisos com um
espalhamento maior em relação aos resultados referentes aos outros eixos. Conclusões: Os erros encontrados durante alguns
ensaios em certas regiões do volume de aquisição podem ter ocorrido devido às dimensões inadequadas da sala em relação ao
posicionamento das câmeras de aquisição de imagens. Durante a instalação do Sistema, as lentes dessas câmeras foram
alteradas de forma a compensar essa inadequação. No entanto, os erros encontrados estão exatamente na região coberta por
essa câmeras, fortalecendo a hipótese de inadequação da sala e diminuição da precisão devido às lentes corretivas que
ampliam o campo de visão, mas distorcem a imagem. Os ensaios demonstraram que o Sistema é preciso mas não é exato,
principalmente em relação ao eixo vertical, devido a um maior espalhamento encontrado numa análise estatística supondo
106
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
comportamento gaussiano. No entanto, não apresenta grandes alterações nos resultados globais obtidos com pacientes, uma
vez que as variações angulares são calculadas a partir das coordenadas nos três eixos (X,Y e Z). Apesar dos particulares erros
encontrados, pode-se concluir que o Sistema apresenta uma boa repetibilidade, é fidedigno e, portanto, confiável e funcional.
Poster 04.12
ANÁLISE COMPUTADORIZADA DA MARCHA EM AMPUTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE
AMPUTAÇÃO
TONONJ, S. C; A VILA2, A. O. V; BORGES2; N.G; MANF/03, E.F.
Este estudo analisou as características da marcha de quatro indivíduos com os seguintes níveis de amputação: um
amputado bilateral de pernas ( Indivíduo A), dois desarticulados de joelho esquerdo (Indivíduos B e C ) e um amputado de
perna esquerda ( indivíduo D ). Os quatro indivíduos usavam próteses modulares com os componentes da marca OTTO
BOCK. Utilizou-se para análise da marcha, uma esteira instrumentada com duas plataformas de força KISTLER
acompanhada do software Gaitway, versão 1.07. O estudo buscou conhecer ainda, informações acerca da etiologia da
amputação, os principais problemas no pós-cirúrgico, o processo de reabilitação protética, dentre outros aspectos. Observouse que a etiologia da amputação para os quatro indivíduos foi traumática, três dos quatro indivíduos tiveram sua amputação
causada por acidente automobilístico. Os problemas decorrentes da cirurgia de amputação estiveram relacionados com a
protetização mais tardia na amostra deste estudo. A sensação fantasma foi mais comum que a dor fantasma para os quatro
indivíduos. Os ajustes e trocas das próteses estiveram relacionados com a busca de maior conforto e modernidade dos
componentes protéticos e com o crescimento do indivíduo, já que, as amputações ocorreram em uma idade média de 17.7
anos. As maiores dificuldades destacadas pelos indivíduos unilaterais na realização de suas atividades de vida diária (A VDs)
foram o tomar banho, subir escadas e descer rampas. Em relação a análise da marcha, a velocidade média dos indivíduos
unilaterais foi de 2.6 Km/h caracterizando uma marcha mais lenta quando comparada aos padrões de indivíduos normais. O
Indivíduo A_ (amputado bilateral) desenvolveu uma velocidade de 4.1 Km/h, velocidade de caminhada dentro dos padrões de
indivíduos normais. É válido ressaltar que este indivíduo colocou suas próteses definitivas em apenas 45 dias após a cirurgia
possuindo um tempo de protetização total de 4 anos. Além disso, realizava atividades físicas periódicas, não apresentando
dificuldades na realização de suas AVDs. Comparando-se o Primeiro Pico de Força com o Segundo Pico de Força do lado
da prótese dos Indivíduos B, C e D observou-se que o Primeiro Pico de Força foi 1.03 vezes maior que o Segundo Pico de
Força, caracterizando uma maior força de reação da prótese durante o choque do calcanhar comparado ao impulso da mesma.
O indivíduo bilateral também apresentou para ambas as próteses valores mais altos para o Primeiro Pico de Força. Em
relação ao Tempo de Contato houve predominância do membro intacto para os indivíduos unilaterais quando comparado ao
membro com prótese. O bilateral assegurou maior Tempo de Contato na prótese esquerda. Concluímos assim, que torna-se
essencial a elaboração de um programa de reabilitação para indivíduos amputados logo após a cirurgia de amputação. Este
programa deve prosseguir afim de proporcionar um condicionamento adequado do membro residual e do membro intacto
para que a marcha se desenvolva com maior estabilidade do membro com prótese.
1 Acadêmica 8• fase Curso de Fisioterapia da UDESC
2 Professores da Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC
3 Doutoranda da UFSM
Poster 04.13
INTERVENÇÃO PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS PORTADORES DE PARALISIA
CEREBRAL.
TUDELLA, E. I; SILVA, V. F. 2
1DeFisio-UFSCar- São Carlos; 2universidade Gama Filho- Rio de Janeiro.
Objetivo: A proposta deste estudo foi investigar o desenvolvimento neurosensorimotor de bebês portadores de
Paralisia Cerebral (PC). Método e Resultados: Participaram do estudo 17 crianças de ambos os sexos, portadores de PC
espástica, atetósica, e atetose com espasticidade. Quanto ao comprometimento topográfico, os bebês apresentavam
quadriplegia e diplegia. Os bebês foram distribuídos em 2 grupos: a) grupo de intervenção precoce (GIP) do qual
participaram 11 bebês (2 espásticos e 9 atetósicos), com idade variando entre 1,6 a 4,6 meses (média de 3,6); b) grupo de
intervenção tardia (GIT) do qual participaram 6 bebês (2 espásticos, 3 atetósicos e 1 atetóse com espasticidade), com idade
variando entre 5,8 a 11 meses (média de 8,2). A maioria dos bebês era prematuro, nascidos de parto normal e apresentaram
problemas ao nascimento (sofrimento fetal, icterícia, hemorragia intra-craniana). O atendimento desses bebês foi realizado na
Associação Beneficiente do Instituto Brasileiro de Reeducação Motora (IBRM), na cidade do Rio de Janeiro. Determinou-se
um período de até 12 meses de tratamento globalizado pelo método evolutivo neuropsicomotor Samarão Brandão
(motricidade, comunicação e inteligência). O programa constou de 5 atendimentos por semana, com sessões de
aproximadamente 2 horas de duração. Para se verificar a efetividade do tratamento, coletou-se os dados relativos à primeira e
última avaliação de cada bebê em 2 distintas fichas: ficha de evolução tônica postura!, e (2) ficha de coordenações sensóriomotoras primárias. Os dados obtidos permitiram identificar a postura e o movimento que cada bebê apresentava e,
conseqüentemente, inferir o estágio de desenvolvimento motor em que ele se encontrava. A ficha de evolução do tônus
postura! recebeu uma pontuação de zero a 56 pontos para o período correspondente de 1 a 15 meses de idade e em cada
postura, seguindo-se uma progressão aritmética de 4 pontos em cada mês. A ficha das coordenações sensório-motoras
também foi quantificada (de 2 a 6 pontos para os 5 primeiros meses) de modo que ao final do 1° mês o bebê poderia receber
107
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
uma pontuação de até 20 pontos e no inicio do 5° mês uma pontuação de até 132 pontos. Através do índice relativo (IR),
pode-se verificar a evolução de cada bebê, para cada variável estudada, em relação ao tempo de tratamento. Assim, quanto
maior o IR melhor a evolução do bebê. Os resultados indicaram que o GIP obteve melhor evolução nas variáveis tônus
postura! e coordenações sensório-motoras primárias (média do IR de 25,02 e 18,98, respectivamente) com o tratamento
quando comparado ao GIT (média do IR de 7,50 e 5,82). Ademais, a análise estatística por meio do teste t de Sudent mostrou
que a evolução do GIP foi significativamente maior em ambas as variáveis analisadas quando comparadas ao GIT (p<0,05).
Conclusão: Os dados deste trabalho sugerem que a intervenção precoce (primeiros 4 meses de vida), realizada pelo método
evolutivo neuropsicomotor Samarão Brandão favorece o desenvolvimento neurosensorimotor de bebês portadores de
Paralisia Cerebral.
Apoio Financeiro: Capes
Poster 04.14
AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA NO LESADO MEDULAR CERVICAL, ANTES E APÓS TREINAMENTO
MUSCULAR INSPIRA TÓRIO
CELINA GARGIULO DE SOUZA, FISIOTERAPEUTA,
Hospital do Aparelho Locomotor -SARAH- Brasília-DF
Lesão medular cervical completa implica em falência da musculatura abdominal que é a principal força geradora da
tosse,e da musculatura intercostal interna e externa,que complementa a tosse e também a inspiração. Somente o diafragma e
musculatura acessória da respiração permanecerão inervados. Com essa alteração muscular ocorre desajuste na mecânica
respiratória e conseqüentemente queda nos volumes pulmonares e pressões torácicas. Esse trabalho tem como proposta a
avaliação das pressões: inspiratória máxima (Pimáx) e expiratória máxima (Pemáx), capacidade vital (CV) e volume corrente
(VC), antes e após treinamento muscular inspiratório linear pressórico e exercícios reexpansivos com incentivadores
inspiratórios de indivíduos do sexo masculino, com lesão medular cervical ASIA A, comparados a um grupo controle de
mesma faixa etária e sexo. MATERIAIS E MÉTODOS:-60 indivíduos com lesão medular cervical C4-C8, ASIA -A,sexo
masculino,faixa etária média de 24 anos de idade, sem complicações respiratórias ou clínicas, não- fumantes, todos liberados
para iniciar programa de reabilitação. Divididos em dois subgrupos: um com 30 pacientes até seis meses de lesão e outro com
30 pacientes após seis meses de lesão. Todos internados no Programa de Reabilitação do Lesado Medular-Hospital SarahBrasília.
-30 indivíduos, de mesma faixa etária do grupo de pacientes, sexo masculino, não- fumantes, sem complicações clínicas ou
doenças respiratórias, todos funcionários do Hospital Sarah-BSB ou acompanhantes dos pacientes internados na unidade
supracitada, como grupo controle.
-Os pacientes e o grupo controle foram avaliados sentados, sem cinta abdominal.
- Manuvacuômetro da marca Criticalmed para avaliar a Pimáx e Pemáx.
-Ventilômetro da marca Ferraris Medica!, para mensurar o VC e CV.
-Triflo e Voldyne, como incentivadores inspiratórios a fluxo e volume, consecutivamente.
-Threshold para treinamento muscular inspiratório com carga linear pressórica.
-Treinamento realizado quatro vezes ao dia, com carga de 40% da Pimáx, com revisões quinzenais para reajustes.
-Tabela de Rodford, para determinação de VC predito em homem adulto.
-Equação preditiva para volumes pulmonares em adultos, segundo a Acta Med, Scand, 173-179-1963.
-Foi utilizado o teste "T" para dados pareados na comparação dos indivíduos
no momento do teste, antes e após treinamento muscular inspiratório.
CONCLUSÃO: Com o treinamento muscular inspiratório, houve melhora dos volumes e pressões em todos os grupos. No
grupo até seis meses de lesão observa-se aumento mais significativo da Pimáx e VC, apesar de ter tido aumento também no
grupo após seis meses, sendo que ambos aproximam-se da normalidade, comparados ao grupo controle. A CV e a Pemáx
apresentaram valores próximos de 50% do valor normal, o que pode ser justificado pela ausência de contração muscular
abdominal. Quanto à resposta ser maior no grupo até seis meses de lesão, justifica-se por ter a média muito baixa dos valores
ao iniciar o treinamento.O segundo grupo já está apresentando ajustes mecânicos na respiração como a espasticidade
abdominal e intercostal, além da tosse reflexa. Observa-se também que o primeiro grupo permanece mais tempo acamado por
intercorrências próprias da lesão. Além disso o grau de dependência física é maior nos pacientes até seis meses de lesão.
108
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 04.15
CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SUJEITOS NORMAIS E PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL
UTILIZANDO REDE NEURAL ARTIFICIAL
JOSÉ HAROLDO DE ASSIS CAVALCANTE
Laboratório de Movimento- Rede SARAH de Hospitais do Aparelho Locomotor- Brasília-DF
Redes Neurais (RN) são sistemas de Inteligência Artificial que podem ser treinadas para realizar classificação de
padrões. Este trabalho descreve a implementação e teste de uma Rede Neural do tipo Perceptron Multicamadas, com a
finalidade de classificar sinais cinemáticos obtidos a partir da Análise Tridimensional de Marcha de sujeitos normais e
portadores de Paralisia Cerebral, mostrando ser possível a utilização com sucesso de RNs na avaliação de patologias do
aparelho locomotor.
Poster 04.16
AVALIAÇÃO COMPUTADORIZADA DO CONTROLE POSTURAL EM EXAME DE EQUILÍBRIO ESTÁTICO
CAVALCANTE, JOSÉ HAROLDO DE ASSIS E DENUCCI, SHEILA MARQUES
Rede Sarah de Hospitais do Aparelho Locomotor- Laboratório de Movimento - Brasília-DF
A manutenção do equilíbrio corporal é realizado por um complexo sistema de controle postura!, que inclui desde as
estruturas do sistema nervoso central, como córtex motor e cerebelo, até as vias de transmissão nervosa e o sistema músculoesquelético. O comprometimento de qualquer destes elementos poderá resultar em perdas e alterações do equilíbrio. A
avaliação do controle postura! pode ser feita por métodos qualitativos simples; no entanto, a utilização de tecnologia
apropriada permite uma avaliação quantitativa extremamente precisa, produzindo dados impossíveis de serem percebidos ou
registrados de outra forma. Foi desenvolvido, no Laboratório de Movimento, um programa de computador capaz de realizar
esta quantificação a partir de sinais gerados por uma placa de força, instrumento que mede os esforços mecânicos exercidos
sobre ela. No exame de Equilíbrio Estático realizado no Laboratório de Movimento o sujeito a ser avaliado é posicionado
sobre a placa de força, devendo manter-se imóvel por um tempo pré-estabelecido. Por meio de algoritmos estatísticos e de
processamento digital de sinais (DSP), o programa calcula e analisa o movimento de oscilação do corpo do paciente,
produzido na tentativa de se manter uma postura constante. O programa determina, com grande sensibilidade e precisão,
vários parâmetros numéricos que caracterizam quantitativamente este movimento. A saída do programa apresenta o resultado
das análises em forma de gráficos e dados numéricos, a partir dos quais várias conclusões podem ser alcançadas a respeito do
controle postura! do paciente. O programa possui uma interface amigável em que recursos interativos estão disponíveis, como
a visualização dos gráficos em "zoom" e a inclusão de anotações. Atualmente, o programa está sendo utilizado no
estabelecimento dos padrões normais de equilíbrio estático em crianças, adultos jovens e idosos. Tem sido igualmente
utilizado na avaliação de pacientes com paralisia cerebral, acidentes vasculares cerebrais e com suspeita de patologias com
regressão motora, que supostamente apresentem perda de equilíbrio, bem como na avaliação da resposta a programas de
tratamento de estimulação do controle postura!.
Poster 04.17
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE EQUILÍBRIO EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
UTILIZANDO PLACA DE FORÇA
SHEILA MARQUES DENUCCI, PT; ELIANE CATANHO, PT; JOSÉ HAROLDO CAVALCANTE, ENG; SAURIA
MIRANDA BURNETT, MD
Hospital SARAH, SMHS Quadra 501 Conj. A, Brasília-DF, 70330-150
Introdução: Deficiência em mecanismos posturais, assim como a espasticidade, são responsáveis pelas alterações
na marcha da criança com lesão cerebral. Em conseqüência, muitos programas de fisioterapia desenvolvidos para criança com
Paralisia Cerebral (PC) têm como objetivo o ganho de equilíbrio assim com melhora de outras funções. Entretanto, a
avaliação da eficácia do tratamento representa um desafio para o profissional que lida com PC.
Objetivo: Apresentar um método mais preciso para avaliação de equilíbrio estático em criança com Paralisia Cerebral com o
objetivo de determinar eficácia de tratamento. Método: Um programa de computador que realiza a avaliação quantitativa de
equilíbrio através do processamento de sinais emitidos pela placa de força foi desenvolvido. A placa de força utilizada no
Laboratório de Movimento do SARAH faz parte de um sistema de análise de marcha que digitaliza os sinais de força e
arquiva a informação. Mudanças na posição do centro de pressão do corpo pelo tempo e parâmetros relacionados ao seu
deslocamento como a amplitude, desvio padrão, excursão total e velocidade são calculados. Os resultados e o gráfico da
trajetória do centro de pressão do corpo sobre a placa de força são representados e todas as informações numéricas podem ser
transferidas para um programa estatístico a onde podem ser analisados em grupo. Para testar o programa, foram selecionadas
cinco crianças com Paralisia Cerebral diagnosticadas como ataxia pura ou ataxia associada a sinais piramidais. As crianças
foram acompanhadas por um período de seis meses. Resultados pré e pós-tratamento são apresentados. Conclusão: O método
descrito pode ser usado para avaliação quantitativa do equilíbrio estático em crianças com Paralisia Cerebral com o propósito
de determinar a eficácia de tratamento. O método de avaliação pode provar ser útil como exame complementar em pacientes
com regressão neurológica em observação.
109
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
Poster 04.18
COMPOSIÇÃO CORPORAL ESTIMADA PELO MÉTODO DA IMPEDÂNCIA BIOELÉTRICA EM PACIENTES
LESADOS MEDULARES
BITTENCOURT GL, HERALDO PSS.
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Rede Sarah de Hosp. do Aparelho Locomotor, Brasília-DF.
A análise de impedância bioelétrica (BIA) é um método confiável, rápido e não invasivo para análise da composição
corporal através da medida das propriedades condutoras dos tecidos orgânicos (água, massa magra e gordura). Entretanto a
aplicação desse método em lesados medulares ainda não é muito explorada. Neste estudo, 19 portadores de lesão medular
foram submetidos à BIA e comparados a 8 pacientes não lesados e não portadores de doenças crônico degenerativas, com o
objetivo de analisar a composição corporal. Todos lesados medulares eram tetraplégicos traumáticos do sexo masculino, com
média de idade de 31 anos, os pacientes do grupo controle também eram do sexo masculino, com média de idade de 35 anos.
Todos foram submetidos à BIA durante a internação no Hospital Sarah- Brasília entre maio e junho de 1998. O procedimento
obedeceu rigorosamente à critérios pré estabelecidos e fatores como repouso, jejum para alimentos e líquidos e esvaziamento
vesical. O peso corporal foi aferido em balança tipo guindaste e a altura com antropômetro. O índice de massa corporal
(IMC) foi calculado. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para analisar a significância das diferenças entre os grupos. O
percentual de água corporal e massa magra foi significativamente maior no grupo de pacientes tetraplégicos, assim como a
relação Massa Magra/Gordura (água corporal controle== 54%, água corporal lesados == 59%; massa magra controle == 74%,
massa magra lesados== 81 %; massa magra/gordura controle== 3, massa magra/gordura lesados == 5). No grupo controle o
valor médio de peso corporal total e o percentual de gordura foi maior em relação aos lesados medulares (peso controle == 80
kg, peso lesados == 65 kg; gordura controle == 26%, gordura lesados == 19%), embora não se tenha observado diferença
significativa no IMC entre os grupos (IMC controle== 25 kg/m2, IMC lesados== 21 kg/ m2). Através dos resultados obtidos
com o BIA pode-se observar alterações corporais significantes entre os lesados e não lesados, compatíveis com a fase aguda
em que os pacientes foram avaliados.
Poster 04.19
TRAINING DELA YED ISOKINETICS IN THE SURGICAL RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR
CRUCIA TE LIGAMENT: A CASE STUDY
M.I. GUARATINI1,2, A.S. OLIVEIRA1,2, T.O. GONZALEZ, C.E.S. CASTRO/,
2
1
Departamento de Fisioterapia- Universidade Federal de São Carlos; UNIP-Universidade Paulista.
The purpose of this work is to study the effect of training isokinetics on the PT of the femoral quadriceps and
hamstrings muscles three years after surgical reconstruction of ACL.Methods and Procedures: The subject, a 23-year-old,
male, non-sedentary, was given 2 bilateral concentric isokinetic reciprocate evaluations, one before and the other after
training at speeds of 60, 180 and 300°/s. Before participating in this study, the subject signed an informed consent form in
accordance with guidelines established by the University's Human Subjects Research Committee (Resolution 196/96). Only
the right lower limb was trained (surgical reconstruction of ACL), 3 times a week during 4 weeks. Each training session
consisted of warming-up (a period of five minutes on stationary bike without load and general stretching), followed by
isokinetic training in the Isokinetic Dynamometer BIODEX - Multi Joint System 2-Medical Systems. The subject was
properly positioned in the dynamometer, stabilized in the chair of the Biodex by x-straps placed across the chest, pelvis, and
midthigh. He was instructed to cross the arms over the chest during testing. The subject was instructed to perform 3
concentric submaximal isokinetic contractions followed by 12 sets of 5 extensions and flexions of the knee at the angular
speed of 60°/s (O to 90° range of motion), with an interval of 10 seconds between sets. The isokinetic values (PT) were
collected utilizing Biodex 4.5 Software. The analysis of the data was done using a Student's t- Test. In ali tests an alpha levei
less than 0.05 (p < 0.05) was considered as significant. The results o f PT are given as a mean ± standard deviation throughout
the study. Results and Discussion: The results of the paired t-test revealed non-significant differences of the mean values of
the PT between limbs, at the different tested speeds. A statistically significant increase was verified in the values o f the PT o f
the limb involved in the extension movement at the trained speed of 60°/s (p <0.02) and at the non-trained speed of 180°/s (p
<0.04). At 300°/s, non-significant differences for the extension movement were detected. There were no significant
differences concerning flexion movement at any of the tested speeds. The values of PT obtained in the pre-training isokinetic
evaluation were in agreement with the normative values suggested by FREEDSON et ai. (1993). However, for KANNUS et
ai. (1991), a significant deficit of force of the quadriceps muscle evidenced at low speed is representative of differences
between the limbs. That was verified at extension movement at 60°/S. We still verified a larger deficit of PT in the femoral
quadriceps muscle than in the hamstrings. Other authors (TEGNER et ai., 1986 and BONAMO et a!., 1990) also found a
larger deficit of the quadriceps muscle than in the hamstrings in long-term tears of ACL. For ARVIDSSON et ai. (1981) and
KANNUS et ai. (1992), that occurs in the complete chronic deficiencies of ACL and after different types of knee surgeries,
because the hamstrings muscles need to maintain an additional static tension during walking, standing, and especially in
during activities at high speed. The effectiveness of the training was observed by the significant increase (p< 0.02) at
extension PT of 60°/s for the trained limb. Moreover, we verified a significant increase (p< 0.04) of the extension PT at the
non-trained speed of 180°/S. These results were satisfactory, considering the reduced number of training sessions (in a total of
10). The protocols more frequently found in the literature use 8 weeks of training. Although not statistically significant, the
gains in the non-involved limb (non-trained) were observed at almost ali speeds tested and in both extension and flexion
110
Suplemento Especial
Rev. Bras. Fisiot.
movements. Additional studies to understand the gain in non-trained contralateral limb are necessary. Conclusion: The
isokinetic training was effective for the increase in the PT of the right lower limb knee extensors. There was also an increase
in PT at 180°/s ofthe right lower limb extensor that had not been trained.
Poster 04.20
ESTUDO DA PROPRIOCEPÇÃO E CINESTESIA EM SUJEITOS COM LESÃO UNILATERAL DO
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
M. I. GUARATINI1,2; I. C. TOLEDOJ; A. L. P. MARTINSJ; A. S. OLIVEIRA1,2; G. E. SHIGUEMOT03; T. O.
GONZALEZ; C. E. S. CASTROJ.
1 UFSCar- SP; 2 UNIP- SP; 3 UNIARA- SP.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a propriocepção e a cinestesia em sujeitos com lesão unilateral
do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Métodos e Resultados: Foram avaliados 10 sujeitos, atletas amadores do sexo
masculino, com idade entre 20 e 29 anos (25,3 ± 2,98), todos submetidos a tratamento conservador. Foi realizada uma
avaliação física constando de: realização ou não de artroscopia, medida da perimetria, tempo de lesão e dominância do
membro lesado. Foi usado o procedimento padrão do Advantage Software v.4.5 do dinamômetro isocinético BIODEX Mult
Joint System 2, para avaliar a propriocepção e a cinestesia, dos membros não lesado e lesado, respectivamente. A
propriocepção foi medida a partir da diferença em graus entre o ângulo alvo pré-determinado (45°) e o ângulo escolhido pelo
sujeito. O teste consistiu de três etapas para cada membro: posicionamento ativo, passivo e cinestesia, com 3 repetições em
cada etapa, iniciando-se pelo membro não lesado. Foi utilizado o Teste-f de Student para a análise dos dados, com nível de
significância de p::;;0,05. Em uma análise geral, os resultados foram estatisticamente não significativos entre os valores de
posicionamento ativo, passivo e cinestesia dos membros não lesado e lesado (Tabela 1).
TABELA 1: Correlação e Teste-t de Student dos valores médios encontrados nos posicionamentos ativo, passivo e cinestesia
dos membros não lesado e lesado (n=10)
Membro Lesado
Correlação*
Valor de p**
Posicionamento
Membro Não Lesado
10,17 ± 8,27
0,74
0,83
9,77 ± 6,74
Ativo
6,97 ± 3,97
0,28
0,98
7,00 ± 3,60
Passivo
0,17
0,47 ± 0,36
0,13
0,67 ± 0,27
Cinestesia
Os valores são dados em média e desvio padrão; *A correlação usada é a de Pearson; **p::;; 0,05.
A amostra foi dividida em 3 grupos para uma melhor análise estatística dos resultados. As relações como realização ou não de
artroscopia e dominância do membro lesado, foram estatisticamente não significativas. A única diferença estatisticamente
significativa foi encontrada na etapa de cinestesia no grupo crônico/agudo (Tabela 2).
TABELA2 CorreIa -ao e T este-t de stu dent dos va ores me IOS encontrados no grupo cromcoI agu do na cmestes1 a.
Correlação*
Valor de p**
Membro Não Lesado
Membro Lesado
0,50± 0,20
0,75 ± 0,32
0,91
0,06
ICrônico (n=4)
0,76
0,001 ***
0,28 ± 0,25
0,78 ± 0,27
I Agudo (n=6)
Os valores são dados em média e desvio padrão; *A correlação usada é a de Pearson; **p::;; 0,05; ***Diferença
estatisticamente significativa encontrada na cinestesia em sujeitos com lesão aguda.
Conclusão: A redução da propriocepção em sujeitos com lesão do LCA vem sendo sugerida por alguns autores
(BARRACK et ai., 1989; BARRET, 1991; SKINNER & BARRACK, 1991; CORRIGAN et ai., 1992; BEARD et ai., 1993).
Entretanto, neste estudo, as alterações encontradas foram estatisticamente não significativas na análise geral. Em uma análise
específica, a cinestesia em sujeitos com lesão aguda mostrou uma diferença estatisticamente significativa.
A
•
Poster 04.21
AVALIAÇÃO DO PROCESSO TERAPÊUTICO ATRAVÉS DA A VALIAÇÃO DA INTENSIDADE DA DOR EM
CRIANÇAS DE 3 A 10 ANOS.
MEDEIROS. M.REGINA COELI ROTTA
Objetivos do trabalho: Oferecer instrumentos padronizados que possibilitem expressar a intensidade da dor da criança, de 3 a
10 anos de forma a facilitar a comunicação entre o profissional e o paciente, através de uma ficha associado ao lúdico, onde a
criança expressa a sua dor utilizando-se de cores num ambiente de descontração, calma e relaxamento. Levar, ainda, a criança
a participar do processo de avaliação, como coadjuvante do processo terapêutico e ao mesmo tempo avaliar o processo do
trabalho do fisioterapeuta. Descrição sucinta dos métodos utilizados: Foi realizada uma pesquisa de cores que simbolizassem
a dor em 160 crianças de 3 a 15 anos de idade, alunos da pré-escola e 1°. Grau de duas escolas estaduais e uma particular. A
pesquisa foi feita em situações normais de sala de aula, sem a existência de dor. Foi dada às crianças a responsabilidade de
participarem de uma pesquisa científica e explicado o objetivo do trabalho. Todos consentiram em participar, mostrando
interesse e responsabilidade. Para iniciar o trabalho com as crianças houve uma dinâmica de sensibilização. A cada criança
foi dada uma ficha onde foram feitas as seguintes perguntas:
1 -Qual a cor que voce usaria para expressar a dor?
A- sem dor
111
Rev. Bras. Fisiot.
Suplemento Especial
B - com puca dor
C - com muita dor
D - com muita, muita dor.
Após pintarem com a cor que expressasse melhor a sua dor, mostraram interesse em conhecer quais as cores que
apareceriam em cada situação, querendo conhecer a ficha depois de pronta.
Em seguida foi calculada a frequência
percentual e elaborado os gráficos. A partir da maior frequência foi elaborada a ficha de avaliação.
A Síntese dos resultados:
Sem dor: branco 36,25%
Com pouca dor: amarelo 25%
Com muita dor : vermelho 34,37%
Com muita, muita dor: preto 38,12%
Conclusão: A partir dos resultados obtidos foi elaborada a ficha de avaliação com a qual as crianças trabalharão
através de uma situação lúdica, o processo do tratamento terapêutico. Os resultados quanto ao trabalho das crianças com as
fichas de avaliação está sendo desenvolvida e ainda não temos uma conclusão.
Poster 04.22
AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS E DE PROCESSO VERSÃO ESCOLAR: DESENVOLVENDO
UMA MEDIDA DE DESEMPENHO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS
LÍVIA C. MAGALHÃES
Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Terapia Ocupacional
Este trabalho tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento da versão escolar da Avaliação das
Habilidades Motoras e de Processo (AHMP). A AHMP foi criada por Anne Fisher, terapeuta ocupacional, para avaliar o
desempenho funcional de adultos em atividades de vida diária, sendo um instrumento desenvolvido especialmente para medir
progresso de pacientes e comparar níveis de independência em tarefas domésticas. A avaliação consiste na observação direta
do desempenho, sendo o escore baseado em duas taxonomias de verbos de ação que podem ser usados para descrever
aspectos motores e o grau de organização do desempenho em qualquer tipo de atividade. Como a AHMP é um instrumento
inovador de validade comprovada, decidimos adaptá-lo para avaliação infantil. Terapeutas ocupacionais vem trabalhando
com crianças em escolas, havendo uma grande necessidade de medidas objetivas dos resultados da intervenção. Muitas
crianças são encaminhadas para terapia ocupacional devido a dificuldades motoras e problemas na organização do
comportamento, sendo importante contar com um instrumento que permita avaliar o impacto de tais problemas no
desempenho funcional na sala de aula. Neste estudo apresentamos os resultados de duas etapas de validação do instrumento.
Toda análise estatística foi baseada no método de análise Rasch, que é específico para desenvolvimento de testes. A primeira
etapa consistiu na adaptação do instrumento para uso infantil. Foram avaliadas 44 crianças brasileiras e 48 crianças norte
americanas, numa amostragem que incluiu crianças normais e crianças que apresentavam distúrbio de aprendizagem e
problemas de coordenação motora. As avaliações foram feitas através de observação naturalística na sala de aula, sendo
selecionadas três tarefas para observação - escrita, desenho e recorte com tesoura - sendo que cada criança foi observada
executando um destas tarefas. Os resultados indicam a validade do instrumento apenas para crianças com problemas de
aprendizagem, havendo indícios de que as habilidade motoras são mais estáveis, já as habilidades de processo parecem ser
mais dependentes do contexto de desempenho ou grau de organização da sala de aula. Foi recomendada a revisão de alguns
itens e a inclusão de crianças mais comprometidas em outros estudos de validação do instrumento. Com base nestes
resultados a AHMP passou por uma revisão, sendo também acrescentadas novas tarefas para observação, chegando a um total
de 16 tarefas típicas de sala de aula. Foi feita outra coleta de dados envolvendo 27 crianças brasileiras apresentando retardo
mental e distúrbios motores leve e moderado, sendo que desta vez cada criança foi observada executando um mínimo de duas
tarefas escolares. Os resultados dão suporte à validade do instrumento, indicando que a AHMP tem bom potencial como
medida de desempenho funcional de crianças na sala de aula. As implicações clínicas dos resultados são discutidas, bem
como recomendações para continuidade do processo de validação do instrumento.
Download