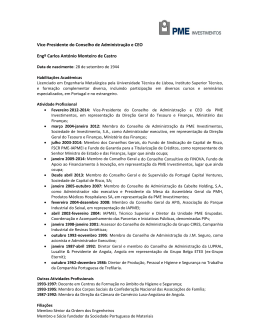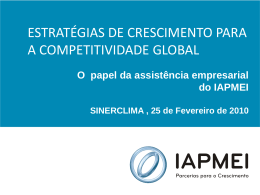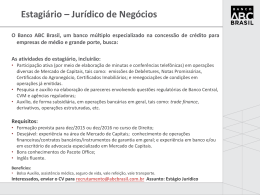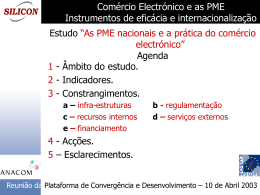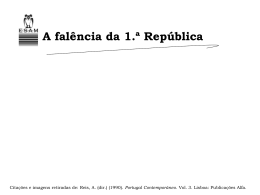O financiamento das empresas portuguesas 1. Um dos efeitos colaterais da crise financeira ainda em curso foi o aumento da relevância do financiamento das empresas pelo mercado em detrimento do crédito bancário que, por razões conhecidas, foi objecto de alguma contenção. A expansão de formas alternativas de financiamento trouxe de novo para a discussão nos fora de regulação internacionais o tema do impropriamente chamado “shadow banking”, para alguns designando todas as entidades financeiras que não são bancos. Acontece que muitas dessas entidades são pelo menos tão transparentes como os bancos e são estritamente reguladas (como é o caso dos fundos de investimento). Por isso, a verdadeira dicotomia é entre financiamento bancário e financiamento de mercado. O que não significa que não subsista ainda a questão da existência de actividades não reguladas ou insuficientemente reguladas, algumas das quais desenvolvidas pelos próprios bancos. Esses “gaps” regulatórios têm, obviamente de ser colmatados. E o financiamento de mercado precisa de ser desenvolvido, particularmente nas jurisdições – como a maioria das da Europa continental - onde tem tido um papel mais subalterno face ao financiamento bancário. No entanto, o financiamento no mercado não deve ser sinónimo de tomada excessiva de riscos, fenómeno que efectivamente se tem verificado nos anos mais recentes, fruto da enorme criação de liquidez induzida pelas políticas monetárias adoptadas. A busca de rendimentos mais elevados, num contexto de muito baixas taxas de juro, tem levado muitos investidores a aplicações em títulos de dívida de risco e prazos elevados, numa combinação de riscos de crédito e taxas de juro que poderão conduzir a perdas muito expressivas quando o actual pendor da política monetária mudar, como inevitavelmente acontecerá, só não sendo possível antecipar o momento. Esta tomada excessiva de riscos tem ido de par – como também já ocorreu no período anterior ao desencadear da actual crise financeira – com uma não adequada discriminação do preço em função do risco, levando a que devedores de risco elevado se financiem a preços próximos dos devedores de melhor risco. E que os preços das obrigações (sejam de empresas sejam de dívida pública) tenham conhecido uma subida forte e generalizada, configurando aquilo que dificilmente poderá deixar de se considerar como uma verdadeira “bolha”. E tudo isto surge num contexto em que – ao contrário das recomendações dos primeiros tempos da crise – a alavancagem das economias não tem cessado de aumentar, quer no sector público quer no sector privado. Entre 2007 e 2013, a soma da dívida pública e da dívida privada em % do PIB nas chamadas economias desenvolvidas terá aumentado cerca de 50 pontos percentuais, situando-se em média em valores próximos dos 300% do PIB. Também o rácio de alavancagem dos Hedge Funds aumentou de 1.9 em 2008 para 2.6 em 2013. Assistimos ainda a uma alavancagem crescente das empresas não financeiras, acompanhada em algumas economias (sobretudo as europeias mais débeis) por rácios crescentes de créditos em incumprimento. Este fenómeno não se tem verificado todavia nos mercados obrigacionistas – apesar das políticas de assumpção de riscos atrás referidas – o que encontra explicação em boa medida no facto de os reembolsos terem sido sistematicamente diferidos para anos vindouros. Apesar do ganho de preponderância do financiamento de mercado um pouco por todo o mundo, a situação em Portugal é, desse ponto de vista, decepcionante. A dimensão do mercado de capitais tem vindo a reduzir-se acentuadamente, não dando sinais de reversão desta tendência. O quadro seguinte mostra a dimensão do mercado acionista comparada com outras economias no final de 2013. Com os desenvolvimentos observados em 2014, a situação actual só poderá ser pior. País Capitalização bolsista em %PIB (31-12-2013) Portugal 35% Espanha 79% França 82% Alemanha 51% Reino Unido 176% Japão 93% Austrália 88% EUA 143% Brasil 21% China 34% As razões que conduziram a esta situação são de vária ordem. Para além das mais tradicionais, relacionadas com a cultura empresarial e do sistema financeiro e a própria estrutura deste último, bem como os desincentivos de natureza fiscal, várias situações do passado recente agravaram a situação. Desde logo, os “casos” com algumas das maiores capitalizações do nosso pequeno mercado muito contribuíram para abalar a confiança e o interesse dos investidores. Depois, as fortes perdas accionistas fruto de valorizações demasiado ambiciosas nas ofertas iniciais de algumas empresas criaram um cepticismo e uma resistência crescentes à introdução de novas empresas em bolsa. Outro factor foi, em meu entender, a dificuldade de concretizar operações de mercado, como foram os casos das OPA que não chegaram ao mercado por força das restrições estatutárias e/ou da acção dos accionistas de controlo, incluindo o Estado. As falhas no governo societário e o menor respeito pelos direitos dos accionistas minoritários fora igualmente factores que minaram a credibilidade do mercado. Credibilidade e confiança que sofreram o efeito devastador do caso BES/PT. Finalmente, alguma irracionalidade e volatilidade inexplicada dos preços não terão igualmente ajudado ao interesse e à estabilidade do investimento no mercado português. E, no entanto, Portugal tem um mercado moderno; regulação desenvolvida no quadro europeu; regras de “corporate governance” avançadas; e uma reforma regulatória profunda nos últimos 10 anos. E, no entanto, Portugal necessita criticamente de um mercado mais desenvolvido, com empresas carentes de recapitalização um programa de privatizações ainda em curso e um sistema bancário com dificuldades de resposta às necessidades globais das empresas. 2. A questão essencial para as empresas portuguesas é que já registam níveis de endividamento bancário excessivos e precisam antes de fontes alternativas de financiamento, especialmente de capital. Essa é também uma condição crucial para que possam encetar um novo período de investimento que lhes permita crescer, modernizar-se e, assim, concorrer com as congéneres estrangeiras que com elas disputam quer o mercado interno quer os mercados externos. Note-se que, embora a exportação seja apontada como o caminho do crescimento, o volume de negócios relacionado com a exportação representa apenas cerca de 22% do total. O que não difere significativamente da própria dimensão do sector de bens transacionáveis em termos de contributo para o valor acrescentado nacional e mostra espaço de crescimento deste sector numa pequena economia aberta como a portuguesa. Alguns indicadores selecionados reflectem bem as actuais condições de crédito das empresas portuguesas: Em 2012 a taxa média de um empréstimo em Portugal andaria acima dos 6%, em Espanha à volta de 5% e na Alemanha em cerca de 3.5% (e que estas diferenças têm vindo a alargar-se); Mas também é verdade que a taxa de crédito em incumprimento das empresas não financeiras era cerca de 11% em Portugal, 7% em Espanha e 3.5% na Alemanha; Em meados de 2014, o rácio de crédito vencido para as empresas não financeiras, situava-se já na ordem dos 15%, vido de 4% em 2009; Além disso, os níveis de autonomia financeira das PME portuguesas são baixos (em média cerca de 30% em 2014 de acordo com dados da Central de Balanços do Banco de Portugal; segundo dados do IAPMEI relativos a 2012, no quartil inferior seria cerca de 5%); Além disso, a % de empresas com EBITDA negativo era 36% em 2013; A rentabilidade dos capitais próprios das PME era negativa em 2012 e apenas de 3% em 2013. Destes indicadores parece legítimo inferir que a penalização principal das PME em Portugal decorre do seu maior risco revelado, embora o mais elevado custo de “funding” dos bancos portugueses acresça a esse factor. Questão diferente é a de saber se em cada país – e no nosso em particular – existe uma discriminação adequada do preço do crédito em função do risco das empresas. Uma condição essencial da redução do risco de crédito é o reforço dos capitais próprios das PME e a recolocação dos seus rácios de autonomia financeira em níveis semelhantes aos verificados noutros mercados. Para além dos indicadores de autonomia financeira já apontados, de acordo com dados referidos no relatório de Estabilidade Financeira do FMI referente a 2013: A dívida financeira das empresas não financeiras em % do PIB situa-se entre as mais altas da União Europeia (120% do PIB, com a nova classificação); Numa amostra de empresas de um conjunto de países (Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos) a percentagem de dívida de empresas portuguesas com elevada alavancagem e cobertura de juros pelo EBITDA inferior a 2 corresponde a 16% do total da amostra, contra cerca de 12% de empresas irlandesas, 10% de espanholas, 2% de norteamericanas e italianas e valores residuais para o Reino Unido, a Alemanha e a França; Cerca de 45% das empresas (valor dos activos) com elevada alavancagem e “Free cash-flow” líquido negativo (média das projecções 2013/2018) são portuguesas, contra cerca de 35% espanholas, 17% italianas, cerca de 10% francesas, 5% dos Estados Unidos e valores residuais para alemãs, irlandesas e inglesas. Estes números ilustram bem o maior desequilíbrio financeiro das empresas portuguesas. Se a tudo o que foi dito juntarmos os factos de 38% das empresas apresentarem um EBITDA inferior aos juros que pagam, 29% terem capitais próprios negativos e de os juros – mesmo num quadro de taxas de juro muito baixas – absorverem em média cerca de 1/3 do EBITDA, creio que é cristalina a conclusão de que as empresas portuguesas não precisam de mais crédito, mas de mais capital. 3. Tudo o que foi referido aconselha a adopção de um extenso programa de recapitalização das PME portuguesas, preferencialmente do sector transacionável. Este poderá ser um poderoso instrumento de políticas económicas no sentido de fomentar o investimento produtivo e consequentemente o aumento da competitividade e do produto potencial. Tal programa passaria pela identificação das PME economicamente saudáveis mas com insuficiência de capitais permanentes (baixa autonomia financeira e/ou excesso de dívida de curto prazo); pela concepção de soluções de reforço dos capitais permanentes preferencialmente baseadas em instrumentos de mercado e com suporte dos fundos estruturais da UE; pela negociação dessas soluções e da forma da sua execução com os bancos financiadores das PME e com as próprias. Temos aqui uma extensa cadeia de valor, com uma multiplicidade de intervenientes – empresas, instituições financeiras públicas e privadas e o mercado português gerido pela Euronext – cuja conjugação e sintomia de esforços será essencial. Os instrumentos de capitalização a adoptar devem ser adequados às necessidades das empresas e às especificidades do mercado de capitais português. Sendo certo que, em termos realistas, apenas um número restrito de empresas pode aspirar a ter acções cotadas num prazo relativamente curto, haverá que garantir o seu acesso ao mercado muitas vezes por via indirecta. Para além do capital de risco (o “verdadeiro”), instrumento particularmente apropriado às características do tecido empresarial português, a aquisição de acções/obrigações por Fundos de Investimento, Fundos de Capital de Risco ou Sociedades de Investimento em Valores Mobiliários, cujas unidades de participação dos Fundos ou das acções da SIMO sejam cotadas no mercado Euronext poderá ser uma via adequada de acesso indirecto ao mercado. Idealmente, deveria contemplar-se um regime fiscal mais favorável para o investimento nestes títulos. Para o conjunto de PME (essencialmente médias empresas) que possam aceder directamente aos mercados, estão disponíveis os instrumentos tradicionais, quer de capital (acções) quer de quase capital (por exemplo, obrigações participantes e obrigações convertíveis em acções). 4. Criaram-se alguns mitos e fantasmas que têm contribuído para adiar sucessivamente a mudança indispensável na forma de financiamento das empresas portuguesas. O primeiro tem que ver com a falta do “bom momento” para ir ao mercado. Os últimos anos foram férteis no uso deste argumento de imobilismo. E, no entanto, por todo o mundo os IPO têm proliferado e assumido grande expressão. Em Portugal, não foram os bem sucedidos IPO correspondente à privatização dos CTT e da Espírito Santo Saúde e continuar-se-ia a dizer que o momento não era bom …. O mito final é o dos custos – monetários e de informação – que a presença no mercado de capitais implica. O primeiro – o dos custos monetários não resiste a um cálculo objectivo, embora eu defenda a introdução de um benefício fiscal que os atenue para as PME. O segundo tem conseguido certa popularidade e há mesmo pressões no sentido de aliviar as obrigações informativas das PME. Este não é, em meu entender, o melhor caminho. Primeiro porque as obrigações de informação não são certamente mais extensas do que as que normalmente deverão ser exigidas por um banco que conceda um crédito de médio prazo e faça uma análise de risco e um acompanhamento do crédito diligentes e competentes. Segundo porque um dos factores de agravamento da percepção de risco das PME é precisamente a falta de informação adequada sobre as suas características, as suas pessoas e os seus negócios. A maior transparência será um elemento essencial de um acesso em melhores condições não só ao mercado de capitais mas ao próprio financiamento bancário. E podem todos estar seguros de que a CMVM tem para com todos os emitentes uma postura cooperativa e de bom senso, não impondo custos que sejam dispensáveis. A verdade é que o mercado português tem respondido bem às empresas (mesmo de média dimensão) que o têm procurado. Se exceptuarmos as empresas cujas acções cotadas resultaram de privatizações, encontramos no nosso mercado várias empresas que cresceram com o apoio dos fundos que levantaram no mercado e que, sem ele, não teriam certamente tido o mesmo desenvolvimento. Como já foi apontado num exame da OCDE, temos um mercado moderno e bem regulado. É claro que subsiste um desincentivo fiscal ao financiamento por capitais próprios, traduzido no ainda mais favorável tratamento fiscal dos juros da dívida das empresas, discriminação que deveria ser eliminada ou, de preferência, transformada numa discriminação positiva (temporária) dos capitais próprios. De resto, o fraco papel do financiamento de mercado, decorre largamente de barreiras culturais e comportamentais das empresas, do sistema financeiro e dos investidores institucionais. Em particular, é essencial que o sistema financeiro encontre formas (incluindo institucionais) de prestar às PME portuguesas serviços de aconselhamento financeiro, de análise de risco de médio e longo prazo e de apoio ao acesso a fontes alternativas de financiamento que permitam um significativo reforço dos seus capitais permanentes. Penso que o passado recente trouxe algumas lições que devem ser apreendidas pelos diversos agentes e que podem contribuir para a mudança cultural e comportamental necessária. Porque ter PME financeiramente saudáveis é certamente do seu interesse mas igualmente das instituições que as financiam. Creio que as organizações empresariais poderão e deverão também contribuir para essa mudança. Mudança que inclui pôr de lado os fantasmas e os mitos e ver a realidade como ela é, sem ceder ao argumento fácil de que é assim porque sempre foi assim.
Baixar