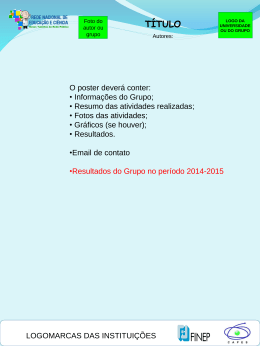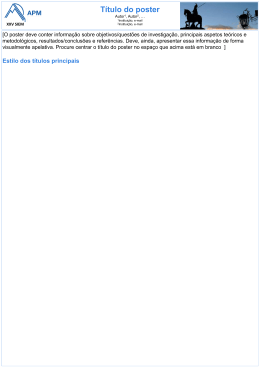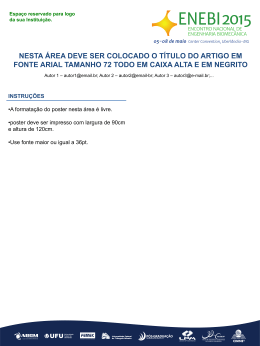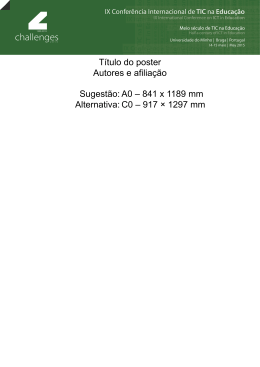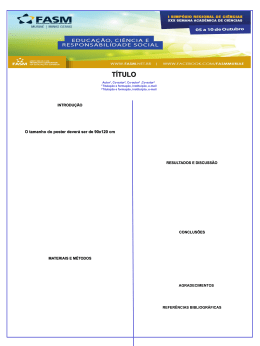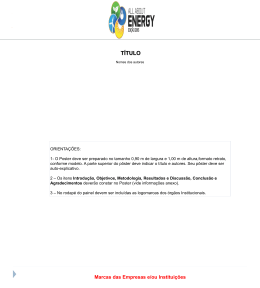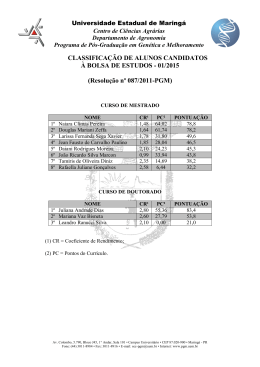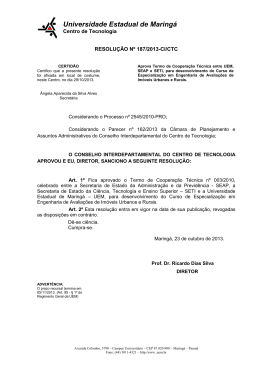VI SEMINAR ON ENZYMATIC HYDROLYSIS OF BIOMASS 6 - 10/December/1999 VENUE: Hotel Deville Av. Herval, 26 REALIZED BY: Universidade Estadual de Maringá/Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia Química ORGANIZING COMMITEE: Profª. Dr.ª Gisella Maria Zanin Prof. Flávio Faria de Moraes, Ph.D. Prof. Dr. Ivo Neitzel SECRETARIAT: Marilza S. K. Nery Sueleni M. Batista Edival de Oliveira Letícia Rodrigues Bueno Claudemir de Souza ADDRESS: Departamento de Engenharia Química/CTC Universidade Estadual de Maringá Av. Colombo, 5790 - Bloco E46 - Sala 09 87020-900 - Maringá - PR - Brasil CONFERENCE CHAIR: Professora Dr.ª Gisella Maria Zanin Professor Flávio Faria de Moraes, Ph.D. Telefone/Phone: (00 55) 44 263 2652 Fax: (00 55) 44 261 4447; 263 3440 E-mail: [email protected]; [email protected] E-mail: [email protected] 2 SCIENTIFIC COMMITTEE: Dr. Alfredo E. Maiorano (IPT) Dr. Antonio Bonomi (IPT) Dr. Carlos R. Soccol (DEQ/UFPR) Dr.ª Célia R. G. Tavares (DEQ/FUEM) Dr. Cesar Costapinto Santana (FEQ/UNICAMP) Dr.ª Elba P. S. Bon (IQ/UFRJ) Dr. Geraldo L. Sant'Anna Junior (COPPE/UFRJ) Dr.ª Heizir F. de Castro (FAENQUIL) Dr. José D. Fontana (DB/UFPR) Dr. Luiz P. Ramos (DQ/UFPR) Dr.ª Maria Helena A. Santana (FEQ/UNICAMP) Dr.ª Maristella O. Azevedo (UnB) Dr. Nelson Durán (IQ/UNICAMP) Dr. Yong K. Park (FEA/UNICAMP) Dr. Willibaldo Schmidell Netto (EPUSP) SUPPORT: We would like to express our deepest gratitude to the University Sectors, the Financing Agencies and Business Companies for the support received, which made it possible for us to realize this Seminar. The Organizing Committee UNIVERSITY SECTORS . Diretoria de Finanças e Orçamento . Pró-Reitoria de Extensão e Cultura . Centro de Tecnologia . Departamento de Engenharia Química . Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química FINANCING AGENCIES and BUSINESS COMPANIES . CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico . NREL – National Renewable Energy Laboratory/DOE/CO-USA . Hotel Deville . Ícaro Viagens e Turismo . Cobra Coral . Analitica . Hipperquímica . NATRONTEC . Livraria e Papelaria BOM LIVRO . INDUSLAB . STEVIAFARMA INDUSTRIAL S.A. 3 WELCOME We would like to express our great pleasure in receiving you at the "VI Seminar on Enzymatic Hydrolysis of Biomass" that we now realize. We wish that your stay in Maringá will be enjoyable and profitable. The Organizing Committee SCIENTIFIC PROGRAM The scientific Program includes lectures contributed by invited speakers and technical papers to be presented in oral sessions and posters. CULTURAL AND SOCIAL ACTIVITIES Cultural and social activities include musical sessions, a cocktail and fraternizing dinners (costs to be shared by participants). 4 PROGRAM 06/12/99 MONDAY 07/12/99 TUESDAY 8h15min – Session I – Screening of Microorganisms of Industrial Applications 10h30min - Coffee Break 10h45min – Poster Session I - 08/12/949 09/12/99 WEDNESDAY THURSDAY 8h15min – Session III – 8h15min – Session VI – Biopulping Enzyme Production and Applications – Part 1 10h45min - Coffee Break 9h40min – Coffee Break 11h – Poster Session III 10h – Session VI – Part 2 11h20min – Poster Session V 12h – Lunch 12h15 – Lunch 12h15min – Lunch 13h45min –Session II – 13h45min – Session IV – 13h45min- Session VII – Modified Starches and Modeling, Simulation and Solid State Fermentation Sucrose Derivatives Control of Biotechnological Process 15h45min - Coffee Break 15h25min - Coffee Break 16h05min - Coffee Break 16h – Poster Session II 15h40min – Session V 16h20min – Poster Session Biocatalysis and Bioreactors VI 15h – Registration Poster set up 19h30min Registration 20h – Opening Session 10/12/99 FRIDAY 8h20min - Session VIII Ethanol from Biomass – Part 1 9h40min - Coffee Break 10h – Session VIII – Part 2 11h10min – Lunch 13h45min - Session IX Downstream Processing 15h30min - Coffee Break 15h50min – Session X Biological Treatment of Effluents – 17h30min – Closing for the 17h – Poster Session IV 17h30min - Closing for the 17h10min – Closing Poster Session II 18h15min - Closing for the Poster Session VI Session and Announcement Poster Session IV 1 of VII SHEB, December 2002 18h30min - Happy hour 18h30min – Cutural Session 18h30min - Happy hour 17h30min – Cultural Session 20h30min – Dinner - Aldo 20h30min – Dinner – Monte 20h30min - Dinner - Hotel 20h30min - Dinner O Restaurant (Costs to be shared Libano Restaurant (Costs to Deville Restaurant (Costs to Casarão (Costs to be by participants) be shared by participants) be shared by participants) shared by participants) VI SEMINAR ON ENZYMATIC HIDROLYSIS OF BIOMASS Maringá, December 06th-10th, 1999 PROGRAMMED ACTIVITIES Monday, December 6 15 - 18h - Registration and Setup Posters at the location assigned 19h30min - Registration 20h - Welcome and Introduction to the Seminar 20h45min – Cobra Coral 21h15min - Cocktail Party (Get Togheter) 5 Tuesday Morning, December 7 08h15min - Session I - " Screening of Microorganisms of Industrial Applications” . Chair: Prof. Dr. José Domingos Fontana - DB/UFPR. . Cochair: Profª. Dr.ª Rosane Marina Peralta - DBQ/UEM . Lecture I: "An Overview of Successful Metabolic Engineering of Saccharomyces Yeasts for Effective Cofermentation of Glucose and Xylose from Renewable Cellulosic Biomass". . Professor Nancy W. Y. Ho – Purdue University – West Lafayette, IN - USA. 08h55min - Discussion 09h10min – Oral 1: "Utilização de Mutano Produzido por Cepa Padrão de Streptococcus mutans (ATCC 25175) na Seleção de Fungos Produtores de Glucan- α-D(1→ 3)Glicosidases e Glucan-α-D-(1→ )-Glicosidases”. Maria do Amparo C. Pacheco e Josely E. Umeda – DBQ/UEM 09h25min - Discussion 09h30min – Oral 2: “Enzimas Secretadas por Espécies Fúngicas Isoladas do Solo da Região Petrolífera de Urucum – AM. O. C. C. Fernandes; Maria Francisca S. Teixeira e A. Herrera – Depto. Parasitologia/UFAM. 09h45min - Discussion 09h50min – Oral 3: “Produção de Proteases por Bacillus subtilis e Streptomyces viridosporus”. L. M. F. Gottschalk; M. R. da Silva; E. M. M. Oliveira; Valéria F. Soares; V. S. Ferreira e Elba P. S. Bon. Instituo de Química/UFRJ; Rio de Janeiro – RJ. 10h05min - Discussion 10h10min – Oral 4: “Caracterização da Isoamilase de Flavobacterium sp – Clonagem e Expressão do Gene IAM em Escherichia coli”. Helia H. Sato; Yong K. Park; G. F. Barry and G. M. Kishore – FEA/UNICAMP. 10h25min – Discussion 10h30min – Coffee Break 10h45min – Poster Session I - Poster 1 to 40 . Chair: Profª. Dr.ª Gisella Maria Zanin – DEQ/UEM. A list of Poster titles is given at the end of this program. 12h00min - Lunch 6 Tuesday Afternoon, December 7 13h45min - Session II: " Modified Starches and Sucrose Derivatives”. . Chair: Dr. Alfredo Eduardo Maiorano – AB/DQ/IPT. . Cochair: Profª. Dr.ª Graciette Matioli - DFF/UEM. . Lecture II - "Selected Application of Starchy Products in the Pharmaceutical, Chemical, Fermentation and other Technical Industries". Dr. Roland Beck, Cerestar USA – Hammond, IN 14h15min - Discussion 14h25min – Oral 5 – “Immobilization of CGTase and Production of Cyclodextrins in a Fluidized-Bed Reactor”. Paulo W. Tardiolli; Gisella M. Zanin and Flávio Faria de Moraes – DEQ/UEM. 14h40min – Discussion 14h45min – Oral 6 - “Cassava Starch Maltodextrinization through Thermo-Pressurized Aqueous Phosphoric Acid Hydrolysis”. Prof. Dr. José Domingos Fontana; Maurício Passos; José Luiz F. Trindade and Luiz Pereira Ramos – DB/UFPR 15h00min – Discussion 15h05min – Oral 7 – “Produção de Polihidroxialcanoatos em Biorreator Tipo Airlift”. L. Z. Tavares e J. G. da Cruz Pradella – AB/DQ/IPT 15h20min – Discussion 15h25min – Oral 8 – “Hidrólise da Fécula de Mandioca 15 e 30% em Reatores Bifásico e Trifásico Utilizando Amiloglicosidase Imobilizada em Quitina”. Valéria F. Soares; Denise M. G. Freire e Elba P. S. Bon – IQ/UFRJ 15h40min – Discussion 15h45min – Coffee Break 16h00min – Poster Session II – Poster 1 to 40 . Chair: Profª. Dr.ª Gisella Maria Zanin - DEQ/UEM. A list of Poster titles is given at the end of this program. 17h30min – Closing for the Poster Session II 18h30min – Happy Hour Tuesday Evening, December 7 20h30min - Dinner - Aldo Restaurant (Italian Food) - (Costs to be shared by participants) 7 Wednesday Morning, December 8 08h15min - Session III - "Biopulping". . Chair: Prof. Dr. Geraldo Lippel Sant’Anna Jr. – COPPE/UFRJ . Cochair: Profª. Dr.ª Aneli de Melo Barbosa – DBQ/UEL . Lecture III - "Effect of Mono, Di and Tri-Deletion Mutants of Trichoderma Cellulases on the Chemistry and Degree of Polymerization of Cellulosic Fibers”. A. Zandoná Filho; José D. Fontana and Luiz Pereira Ramos – DQ/UFPR 08h45min - Discussion 09h00min – Oral 9 - "Kraft Pulp Biobleaching by Phenol Oxidases". Maria Eleonora A. de Carvalho; Milva C. Monteiro and Geraldo L. Sant’Anna Jr – DEBIQ/FAENQUIL 09h20min – Discussion 09h25min – Oral 10 – “Corn Steep Liquor for Laccase Production”. Maria Bernadete de Medeiros e Maria Eleonora A. de Carvalho – DEBIQ/FAENQUIL 09h40min – Discussion 09h45min – Oral 11 – “Detection of Hydroxamates and Cathecols Siderophores Secreted by Liquid Cultures of Wood-Rotting Fungi” D. A. S. Napoleão; A. H. Machuca and Adriane M. F. Milagres – DEBIQ/FAENQUIL 10h00min – Discussion 10h05min – Oral 12 – “Polpas Acetosolv de Bagaço de Cana Branqueadas por Xilanase: Classificação Usando FTRI e Análise por Componentes Principais”. Adilson R. Gonçalves e Denise S. Ruzene – DEBIQ/FAENQUIL 10h20min – Discussion 10h25min – Oral 13 – Influence of Temperature on the Growth and Xylanase and βXylosidase Production by Aspergillus fumigatus”. Nélio S. Girardo; Cinthia G. Boer; Cristina G,. M. de Souza and Rosane M. Peralta – DBQ/UEM. 10h40min – Discussion 10h45min - Coffee Break 11h00min – Poster Session III - Poster 41 to 80 . Chair: Profª. Dr.ª. Gisella Maria Zanin – DEQ/UEM 12h15min – Lunch 8 Wednesday Afternoon, December 8 13h45min - Session IV - "Modeling, Simulation and Control of Biotchnological Process". . Chair: Prof. Dr. Ivo Neitzel – DEQ/UEM. . Cochair: Prof. Dr. Pagandai Pannir Selvam - DEQ/UFRN . Lecture IV: "Modelling of Solid-State Fermentation Bioreactors". Dr. David A. Mitchell; Deidre M. Stuart and Penjit Sangsurasak – DEQ/UFPR 14h15min - Discussion 14h25min – Oral 14: "Modeling of Ruminococcus albus Growth on Mixed Substrates". Prof. Dr. Alexander D. Kroumov - DEQ/UEM. 14h40min – Discussion 14h45min – Oral 15 – “Utilização de Modelos Gaussianos na Representação da Cinética Microbiana”. Pedro Sérgio Pereiralima e Manuel F. Barral – IPT 15h00min – Discussion 15h05min – Oral 16 – “Modelagem Matemática do Crescimento de Células de Hibridoma para a Produção de Anticorpo Monoclonal”. Danidtza Suaréz; Elisabeth F. P. Augusto; Margarette S. Oliveira; Patrícia R. Vilaça e Antonio M. F. L. J. Bonomi – AB/DQ/IPT 15h20min – Discussion 15h25min – Oral 17 - Modelagem da Ultrafiltração do Suco de Acerola em Membrana Cerâmica. Sueli T. D. Barros; Elisabete S. Mendes; Cid. M. G. Andrade e Leila Peres. Departamento de Engenharia Química/UEM, Departamento de Tecnologia de Polímeros/UNICAMP . 15h40min – Discussion 15h45min - Coffee break 16h00min - Session V: "Biocatalysis and Bioreactors". . Chair: Profª. Dr.ª Elba P. S. Bon - IQ/UFRJ. . Cochair: Prof. Dr. José Eduardo Olivo - DEQ/UEM . Lecture V – “Fructose-Glucose Isomerization in a Continuous Vortex Flow Reactor (VFR)”. Profª. Dr.ª Raquel Lima C. Giordano; Roberto C. Giordano and Charles L. Cooney – DEQ/UFSCar 16h30min – Discussion 16h40min – Oral 18 – “Esterificação em Fase Gasosa Catalisada por Lipases Suportadas em Fase Sólida”. Victor Haber Pérez; Gustavo Paim Valença e Everson Alves Miranda – DPB/FEQ/UNICAMP 16h55min – Discussion 17h00min – Oral 19 – “Aplicação de um Biorreator AirLift com Circulação Externa em Fermentações com Ralstonia eutropha”. Márcia R. S. Pedrini; José A. R. de Souza; Gláucia M. F. Aragão e Agenor Furigo Jr. – DEQ/DEA/UFSC 17h15min – Discussion 17h20min – Poster Session IV – Poster 41 to 80 18h25min – Cultural Session – Grupo Folclórico Fogança. Wednesday Evening, December 8 20h30min - Dinner – Monte Libano Restaurant (Costs to be shared by participants) 9 Thursday Morning, December 9 08h15min - Session VI - "Enzyme Production and Applications ". – Part 1 . Chair: Prof. Dr. Yong K. Park – FEA/UNICAMP. . Cochair: Profª. Dr.ª Ângela Maria Moraes – DPB/FEQ/UNICAMP . Lecture VI – “Fermentation of Lignocellulosic Hydrolysates: Inhibition and Detoxification”. Dr. Eva Palmqvist and Bärbel Hahn Hägerdal – DANISCO Biotechnology, Copenhagen, DK 08h45min - Discussion. 09h00min – Oral 20 "Production of Transgalactosylated Oligosaccharides (TOS) by βGalactosyltransferase Activity from Penicillium simplicissimum”. Rubens Cruz; V. D. Cruz; J. G. Belote; M. O. Khnayfes; C. Dorta; L. H. O. Santos e C. R. Andriolo – DCB/UNESP - Assis 09h15min - Discussion. 09h20min – Oral 21- "Aspectos da Inibição do Crescimento e Repressão pela Glicose no Cultivo de A. awamori para a Produção de Glicoamilase”. Gorete R. Macedo; Maria Candida R. Facciotti e Willibaldo Schmidell – DEQ/UFRN e DEQ/EPUSP 09h35min - Discussion. 09h40min – Coffee Break 10h00min - Session VI - " Enzyme Production and Applications ". – Part 2 . Chair: Profª. Dr.ª Raquel Camargo de Lima Giordano – DEQ/UFSCar. . Cochair: Prof. Dr. Adalberto Pessoa Jr. - DF/USP. . Lecture VII – “Obtenção de Xilitol por Fermentação de Hidrolisados de Biomassa”. Dr. Sílvio Silvério da Silva – DEBIQ/FAENQUIL 10h30min – Discussion 10h40min – Oral 22– “Estudo da Influência da Substituição da Inulina Comercial por Extrato de Chicória na Produção de Endo-Inulinase”. Regina M. .M. Gern; Maria de Fátima Carvalho-Jonas; Jorge Ninow e Sandra A. Furlan – Universidade Da Região de Joinville. 10h55min - Discussion 11h00min – Oral 23– “Lipase Production by Penicillium restrictum Using Solid Waste of the Industrial Babassu Oil Production”. Márcia Brandão Palma; Andreas K. Gomber; Karina H. Seitz; Silvia C. Kivatinitz; Leda R. Castilho and Denise M. G. Freire – DEQ/FURB. 11h15min – Discussion 11h20min - Poster Session V – Poster 81 to 130 . Chair: Profª. Dr.ª Gisella Maria Zanin - DEQ/FUEM. 12h15min - Lunch. 10 Thursday Afternoon, December 9 13h45min - Session VII - "Solid State Fermentation". . Chair: Profª. Dr.ª Sônia Maria Alves Bueno - DPB/UNICAMP. . Cochair: Prof. Dr. Marcelino Luis Gimenes - DEQ/UEM. . Lecture VIII: “Novas Perspectivas da Fermentação no Estado Sólido na Produção de Metabólitos de Interesse Industrial.” Prof. Dr. Carlos Ricardo Soccol – DEQ/UFPR 14h15min - Discussion. 14h25min – Oral 24- "Otimização de Variáveis de um Sistema de Fermentação em Substrato Sólido em Colunas para a Produção de β-Galactosidase de Scopulariopsis sp". Rodrigo de Oliveira Moraes e Maria Helena Andrade Santana – DPB/UNICAMP 14h40min - Discussion. 14h45min – Oral 25– “Estudo de Diferentes Microrganismos na Produção de Pectinase por Fermentação Semi-Sólida”. Adriana B. Dartora; Telma E. Bertolin; Jorge Alberto V. Costa e Mauricio M. da Silveira - CEPA/UPF. 15h00min – Discussion 15h05min – Oral 26– “Important Parameters of the Continuous Fermentation of Sugar Cane Bagasse Hemicellulosic Hydrolysate for the Production of Xylitol”. Ernesto Acosta; Sílvio Silvério da Silva and Maria das Graças Felipe – DEBIQ/FAENQUIL. 15h20min – Discussion 15h25min – Oral 27– “Forma de Preservação do Microrganismo e sua Influência na Síntese de Glicoamilase por Aspergillus”. Ailto Merlo; Jesus M. Z. Aguero; Patrícia R. Vilaça; Celso R. D. Pamboukian; Alberto C. Badino; Aldo Tonso; Willibaldo Schmidell; Maria Cândida R. Facciotti – DEQ/EPUSP. 15h40min – Discussion 15h45min – Oral 28– “Influência da Composição do Meio de Cultivo em Fermentação SemiSólida de Aspergillus awamori NRRL 3112 com a Utilização de Vermiculita como Suporte Inerte”. Janice Casara; Willibaldo Schmidell; Alfedro E. Maiorano e Telma E. Bertolin – AB/DQ/IPT 16h00min – Discussion 16h05min - Coffee break. 16h20min - Poster Session VI – Poster Poster 81 to 130 . Chair: Profª. Dr.ª Gisella Maria Zanin - DEQ/UEM. 17h30min – Cultural Session or Happy Hour Thursday Evening, December 9 20h30min - Dinner - Hotel Deville Restaurant – Costs to be shared by participants 11 Friday Morning, December 10 08h15min - Session VIII - "Ethanol from Biomass" – Part 1 . Chair: Prof. Dr. Luiz Pereira Ramos – DQ/UFPR.. . Cochair: Profª. Dr.ª Teresa Cristina B. Paiva – DEBIQ/FAENQUIL . Lecture IX - "NREL Experience on the Production of Bioethanol from Lignocellulosic Materials ". Dr. James D. McMillan - Biotechnology Center for Fuels and Chemicals; National Renewable Energy Laboratory – Golden, CO, USA 08h45min - Discussion. 08h55min – Lecture X – “Fermentação Contínua por Levedura Floculante”. Dr. Carlos Coelho de Carvalho Neto – NATRONTEC – Estudos e Engenharia de Processos Ltda., Rio de Janeiro 09h25min – Discussion 09h35min – Lecture XI – “Experiência Industrial na Produção de Etanol a partir de Farinha Amilácea de Coco de Babaçu”. Edmond A. Baruque Filho; Maria da Graça Baruque e Geraldo Lippel Sant’Anna – TOBASA S/A. 10h05min – Discussion 10h10min - Coffee Break 10h30min – Session VIII - "Ethanol from Biomass" – Part 2 . Chair:. Profª. Dr.ª Inês Conceição Roberto – DEBIQ/FAENQUIL . Cochair: Prof. Dr. Jorge L. Ninow – DEQ/UFSC. . Oral 29- "Estudo da Pré-Viabilidade Técnica-Econômica da Hidrólise de Biomassa para a Obtenção do Etanol”. Alfredo Eduardo Maiorano; P. B. M. Azevedo e F. A. A. Russo – AB/IPT 10h55min – Discussion 11h00min – Oral 30 “Development of Integrated Enzyme-Based Process Technology for Ethanol Production from Biomass”. James D. McMillan; Nancy Dowe; Joseph D. Farmer; Jenny Hamilton; Robert Lyons; Ali Mohagheghi; Mildred M. Newman; Juan Carlos Sáez; Daniel J. Schell; David W. Templeton and Tholudur, A. – NREL/USA 11h15min - Discussion. 11h20min – Oral 31– “Desempenho de Pichia stipitis na Fermentação Alcoólica de Hidrolisado de Bagaço de Cana”. F. H. X. de Brito; L. C. Martins; M. L. M. Leal e Nei Pereira Jr – DEB/UFRJ. 11h35min – Discussion 11h40min – Lecture XII - “Influence of Cellulases on Indigo Backstaining During Stone Wash Processes”. Prof. Dr. Jürgen Andreaus; Rui Campos and Artur Cavaco-Paulo – DQ/FURB. 12h10min - Discussion 12h20min - Lunch 12 Friday Afternoon, December 10 13h45min - Session IX - "Downstream Processes”. . Chair: Dr. Paulo T. V. Rosa - DPB/UNICAMP. . Cochair: Profª. Dr.ª Rosângela Bergamasco - DEQ/FUEM. . Lecture XIII - "Purificação de Enzimas Intracelulares por Extração LíquidoLíquido”. Prof. Dr. Adalberto Pessoa Jr. – DF/USP 14h15min - Discussion. 14h25min – Oral 32- "Estudo da Dinâmica da Adsorção de Inulinases em Colunas”. César C. Santana e Fábio R. C. da Silva – DPB/UNICAMP. 14h45min - Discussion. 14h50min – Oral 33– “Estudo da Ação da β-Galactosidase na Hidrólise de Lactose”. A. M. D. Teixeira; Vicelma L. Cardoso e A. M. F. Xavier – DEQ/UFU 15h05min – Discussion 15h10min – Oral 34– “Recuperação de Aprotinina através de Afinidade por Quelato Metálico: Adsorção Via IMAC”. Rosana E. Tamagawa; Everson Alves Miranda e Mookambeswaran A. Vijayalakshmi – DPB/UNICAMP. 15h25min – Discussion 15h30min - Coffee break. 15h50min - Session X - "Biological Treatment of Effluents". . Chair: Prof. Dr. Adilson Roberto Gonçalves. - DEBIQ/FAENQUIL. . Cochair: Profª. Dr.ª Célia Regina G. Tavares. - DEQ/FUEM. . Lecture XIV - "Biofilter: A Consolidated Biological Waste Gas Treatment Technology”. Prof. Dr. Attilio Converti and Mario Zilli – Department of Chemical & Process Engineering, Genoa University, Italia. 16h20min - Discussion. 16h30min – Oral 35– “Minimização de Resíduos na Indústria do Couro”. Célia Regina G. Tavares e E. A. Almeida – DEQ/UEM. 16h45min - Discussion. 16h50min – Oral 36 "Adaptação de Biomassa para Concentrações Elevadas de Fenol e Nitrogênio Amoniacal Utilizando Lodos Ativados”. A. J. M. P. Costa; D. M. Morita; P. Alem Sobrinho e J. V. Leite – IPT. 17h05min – Discussion 17h10min - Closing Session. 17h30min – Cultural Session – Apresentação do Coral UEM. Friday Evening, December 10 20h30min - Dinner – O Casarão. 13 POSTER SESSION The purpose of this Session is to promote informal discussion. Thsese discussions may begin with a question from an interested person, or you may initiate the discussion by poionting out a particular feature of your work and allowing questions and answers to evolve from that point. Keep your presentation conversational, rather than a lecture or reading a summary of your report. Try not confine your attention to a single individual for an extended period of time. Instead, suggest additional discussions at the conclusion of the Session. Be at your location during most of the poster session time. Materials must remain posted during the entire Poster Session and until Thursday, December 9, 17h30min. Set up your Poster on December 7, before 8h30min. POSTER PRESENTATIONS Poster 1 – Efeito de Diferentes Carboidratos no Metabolismo de Células BHK-21. Patrícia R. Vilaça; Elisabeth F. P. Augusto e Margarette S. Oliveira. Agrupamento de Biotecnologia; Divisão de Química – IPT, SP. Poster 2 – Isolamento e Estudo de Bactéria Produtora de Biotensoativos. Maria Benincasa, Jonas Contiero e Iracema de Oliveira Moraes. Instituto de Química – UNESP/Araraquara – SP. Poster 3 – Evaluation of Growth of 15 Strains Isolated from New-Borns in Different Media in Relation with their Probiotic Activiyt. Maria Eugênia B. Tristão; K. Carmen Etsuko Higaskino and Carlos Ricardo Soccol – Laboratório de Processos Biotecnológicos/Departamento de Engenharia Química/ UFPR – Curitiba- PR. Poster 4 – Probiotic Action of Some Strains of the Human New Borns Intestinal Flora Against Enterotoxigenic Bacteria. K. Carmen Etsuko Higaskino; Maria Eugênia B. Tristão and Carlos Ricardo Soccol. Laboratório de Processos Biotecnológicos/Departamento de Engenharia Química/ UFPR – Curitiba- PR. Poster 5 – Scheme of Plate Screening that Help in Selecting new Bacterial Isolates that Produce CGTase with Higher Gamma-CD Selectivity. Graciette Matioli; Gisella Maria Zanin and Flávio Faria de Moraes. Departamentos de Farmácia e Farmacologia e Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 6 – Effect of the Source of Starch upon Cyclodextrin Yield and upon Selectivity for Producing Gamma-Cyclodextrin with Glycyrrhizin in the Reaction Medium. Graciette Matioli; Gisella Maria Zanin and Flávio Faria de Moraes. Departamentos de Farmácia e Farmacologia e Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. 14 Poster 7 – Determinação da Dextrose Equivalente de Amido de Milho que Proporcione maior Produção de Ciclodextrinas com a CGTase de Bacillus firmus. Regiane B. Mazzoni; Cristiane Moriwak; Gisella Maria Zanin; Flávio Faria de Moraes e Graciette Matioli. Departamentos de Farmácia e Farmacologia e Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 8 – Modelagem da Adsorção da Gama-Ciclodextrina por Cromatografia de Afinidade Bioespecífica com Glicirrizina Imobilizada. Ana Paula Miranda Sousa; Gisella Maria Zanin e Flávio Faria de Moraes. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 9 – Interferência de Íons Metálicos e Compostos Orgânicos na Produção de Ciclodextrinas. Monique Barbosa de Assis Marques; Gisella Maria Zanin e Flávio Faria de Moraes. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 10 – Produção de Ciclodextrinas com o Substrato Amido de Milho Contendo no Meio Reacional a Molécula Bioespecífica Glicirrizina. Monique Barbosa de Assis Marques; Gisella Maria Zanin e Flávio Faria de Moraes. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 11 – Atividade e Energia de Ativação da Enzima Ciclodextrina-Glicosil-Transferase Imobilizada em Sílica de Porosidade Controlada. Maria Beatriz G. L. Lorencini; Gisella Maria Zanin e Flávio Faria de Moraes. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 12 – Produção de Butirato de Butila Empregando Lipase Imobilizada em Sílica de Porosidade Controlada. Cleide Maria f. Soares; Heizir Ferreira de Castro; Maria Helena Andrade Santana e Gisella Maria Zanin. DEBIQ/FAENQUIL; DPB/UNICAMP e DEQ/UEM. Poster 13 – Análise de Componentes Principais (PCA) Aplicada na Determinação de Coeficientes de Conversão em Processos Biotecnológicos. Pedro Sérgio Pereiralima e Eduardo Aoun Tannuri. IPT/SP. Poster 14 – Modelagem de Acumulação de Poli- β-Hidroxibutirato por Alcaligenes eutrophus (DSM 545). Gláucia M. F. Aragão e Jean-Louis Uribelarrea. Departamento de Engenharia Química e Alimentos/UFSC e Départment de Génie Biochimique et Alimentaire/INSA, Toulose/França. Poster 15 – Simulação Dinâmica e Estudo Técnico Econômico de Bioconversão para CoGeração de Energia e Secagem Usando Simulador SUPERPRO DESIGNER. M. M. Bayer; J. Marinho Neto; P. Pannir Selvam e W. S. Novaes. Departamento de Engenharia Química/UFRN, Natal – RN. Poster 16 – Produção e Formulação de Produto Natural de Baixo Custo, Rico em Vitaminas e Proteínas, à Base de Microalga Spirulina e Vegetais. F. C. G. Souza; W. S. Novaes e P. Pannir Selvam. Departamento de Engenharia Química/UFRN, Natal – RN. Poster 17 – Modeling Cellobiose Hydrolysis by Cellobiase. Luiza P. V. Calsavara; Flávio Faria de Moraes e Gisella Maria Zanin. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. 15 Poster 18 – Modeling of Fluidized Bed Bioreactor at High Organic Loads. Alexander D. Kroumov; Marcelino L. Gimenes and Rosângela Bergamasco. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 19 – Biofilm Model of Fluidized Bed Bioreactor with Product Inhibition Kinetics. Alexander D. Kroumov and Marcelino L. Gimenes. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 20 – Aproveitamento de Subprodutos da Indústria Alcooleira na Formação de Ésteres Aromatizantes por Via Enzimática. Regina Y. Moriya; Ernandes B. Pereira e Heizir F. de Castro. Departamento de Engenharia Química/FAENQUIL; Lorena – SP. Poster 21 – Activity and Energy of Activation of Free and Immobilized Cellobiase Enzyme. Luiza P. V. Calsavara; Flávio Faria de Moraes e Gisella Maria Zanin. Departamento de Engenharia Química/ UEM; Maringá – PR. Poster 22 – Influência da Temperatura, Concentração de Catalisador e do Co-Solvente na Transformação Química de Biomoléculas. J. M. Carter; L. Marzorati; Alfredo Eduardo Maiorano; A. Craveiro; A. C. R. Severo e C. Matumoto. IPT/SP; IQ/USP e Vallée S/A. Poster 23 – Determination and Evaluation of the Stability and Kinetic Parameters of the Enzyme β-Xylosidase. Francislene A. Hasmann; R. R. P. Silva; Adalberto Pessoa Jr. e Inês C. Roberto. DEBIQ/FAENQUIL; Lorena – SP e FCF/USP; São Paulo – SP. Poster 24 – Analysis of a Taylor-Poiseuille Vortex Flow Reactor – I: Flow Patterns and Mass Transfer Characteristics. Roberto de Campos Giordano; Raquel de Lima C. Giordano; Duarte Miguel F. Prazeres and Charles L. Cooney. Departamento de Engenharia Química/UFScar; Centro de Engenharia Biologia e Química/Instituto Superior Técnico, Lisboa e Chemical Engineering Department/MIT. Poster 25 – Síntese de Enzimas Coagulantes por Fermentação com Mucor miehei. Guilherme G. Silveira; Rosana B. França; Euclides H. Araújo; Eloízio J. Ribeiro. Departamento de Engenharia Química/UFU; Uberlândia – MG. Poster 26 – Influence of K La on Hexokinase production by Saccharomyces cerevisiae. Daniel P. Silva; Adalberto Pessoa Jr. and Michele Vitolo. Biochemical and Pharmaceutical Technology Department/FCF/USP; São Paulo – SP. Poster 27 – Hidrólise de Lactose de Soro por Meio de β-Galactosidase Imobilizada. Marcela Panaro Mariotti; Erwing Paiva Bergamo; Henrique Celso Trevisan e Raeder Pinto. Departamento de Bioquímica e Química Tecnológica/IQ/UNESP; Araraquara – SP. Poster 28 – Effect of the Temperature in the Activity and Stability of Crude Extract of FPase of Aspergillus niger IZ-9. Claudio L. Aguiar and Tobias J. B. Menezes. Departamento de Agro-Indústria, Alimentos e Nutrição/ESALQ/USP, Piracicaba – SP. Poster 29 – Seleção de Fungos Celulolíticos”. Leda Isabel L. C. Valente e Pedro de Oliva-Neto – DCB/UNESP. 16 Poster 30 – Desenvolvimento de Meio para a Produção de Xilanases por Aspergillus awamori. M. F. E. Santana; M. F. S. Matos; M. C. A. Fontes; M. C. C. Fonseca; J. L. S. Lemos e Nei Pereira Jr. Departamento de Engenharia Bioquímica/EQ/UFRJ; Rio de Janeiro – RJ. Poster 31 – Purificação de uma Malato Desidrogenase de Origem Microbiana. Luiz Eduardo Thans Gomes; Hideko Yamanaka e Cecilia Laluce. Departamento de Química Analítica/IQ/UNESP, Araraquara – SP. Poster 32 – Caracterização Físico-Química da Pectina do Suco de Acerola. Elisabete Scolin Mendes; S. C. Costa; Sueli t. D. Barros e Larissa M. Fernandes. Departamentos de Engenharia Química e Bioquímica/ UEM; Maringá – PR. Poster 33 – Fatores Influenciando a Formação de Enzimas Xilanolíticas pela Arquebactéria Hipertermofílica Pyrodictium abyssi. Carolina M. Andrade; Maria Cristina Maia; Garo Antranikian e Nei Pereira Jr. Departamento de Engenharia Bioquímica/EQ/UFRJ; Rio de Janeiro – RJ. Poster 34 – Production of Amylases by Aspergillus tamarii. Francieli A. Lima; Sophia R. F. Pedrinho; Fabiana G. Moreira; Veridiana Lenartovicz; Cristina G. M. de Souza and Rosane M. Peralta. Departamento Bioquímica/UEM; Maringá – PR. Poster 35 – Estudo da Suplementação da Palha de Arroz e sua Influência nos Índices de Produção de Pleurotus sajor-caju. V. M. C. S. Santos; M. M. Mendonça e Sandra A. Furlan. PGB/MIP/UFSC e UNIVILLE/Joinville – SC. Poster 36 – Avaliação da Influência da Fração de Inóculo e da Suplementação da Palha de Bananeira nos Índices de Produção de Pleurotus sajor-caju. V. M. C. S. Santos; M. M. Mendonça e Sandra A. Furlan. PGB/MIP/UFSC e UNIVILLE/Joinville – SC. Poster 37 – The Influence of Salts and Organic Solvents on Laccase Activity from Pleurotus ostreatus str. Florida. Oldair D. Leite; Asae S. Endo; Bruna S. Bernardo; Suely M. Obara-Doi; Rafael C. Fonseca and Aneli M. Barbosa. Departamento de Bioquímica/UEL; Londrina – PR. Poster 38 – Low Molecular Weight Compounds Oxidative Activity Produced by WoodRotting Fungi. C. L. Medeiros; A. Machuca and Adriane M. F. Milagres. Departamemnto de Biotecnologia/FAENQUIL; Lorena – SP. Poster 39 – Crescimento de Aspergillus japonicus 586 em diferentes temperaturas e Produção de Enzimas Pectinolíticas. M. F. S. Teixeira; J. L. Lima Filho e N. Durán. Departamento de Parasitologia/UA e LIKA/UFPE. Poster 40 – Estudo Comparativo entre Penicilina G Acilases Produzidas por E. coli e B. megaterium 14945. Laura Marina Pinotti; Astréa F. Souza Silva; Rubens Monti e Raquel L. C. Giordano. Departamento de Engenharia Química/ UFSCar, São Carlos – SP. Poster 41 – Purification and Multipoint Immobilization of Penicillin G Acylase Produced by Bacillus megaterium ATCC 14945. Laura Marina Pinotti; Astréa F. Souza Silva; Rubens Monti and Raquel L. C. Giordano. Departamento de Engenharia Química/UFSCar, São Carlos – SP. 17 Poster 42 – Imobilização de Lipase Microbiana em Quitosana e Caracterização de suas Propriedades Hidrolíticas. Ernandes B. Pereira; Heizir ferreira de Castro e Gisella Maria Zanin. Departamento de Engenharia Química/UEM e FAENQUIL, Maringá – PR. Poster 43 – Production of Lactooligosaccharides from Lactose using β-Galactosidase. Alexandre B. Azevedo; Flávio Faria de Moraes and Gisella Maria Zanin. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 44 – Influência do Tratamento Enzimático nos Sucos de Acerola e Abacaxi. M. C. de Avelar; Sandra P. Almeida; Elisabete S. Mendes; Gisella Maria Zanin e Sueli Teresa D. de Barros. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 45 – Sucrolytic and Ureolytic Activities in the Carotenogenic Pink-Orange Yeast Phaffia rhodozyma. Daniele S. Persike; Maria H. R. Santos; Marileusa D. Chiarello and José Domingos Fontana. Departamento de Bioquímica/UFPR, Curitiba – PR. Poster 46 - Production of High-Gravity Beer: an Alternative to the Traditional Process. Roberto Barbosa de Almeida; João Batista de Almeida e Silva; Urgel de Almeida Lima and Adilson Nicanor de Assis. Departamento de Biotecnologia/FAENQUIL, Lorena – SP. Poster 47 – Adição de Maltose na Produção de Glicoamilase pelos Sistemas Batelada e Batelada Alimentada por Fermentação Semi-Sólida. Gean Delise Leal Pasquali; Telma Elita Bertolin e Jorge Alberto V. Costa. Centro de Pesquisa em Alimentação/UFP e Departamento de Engenharia Química/FURG, Passo Fundo – RS. Poster 48 – Avaliação da Produção de Goma Xantana em Soro de Leite. Marcia Nitschke e Vanessa Rodrigues. ICB/UPF, Passo Fundo – RS. Poster 49 – Isolation and Physiological Study of Lactic Acid Bacteria as Probiotics for Chiken. Elizete F. Reque; Carlos Ricardo Soccol and Sebastião G. Franco. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 50 – Characterization of the Fruity Aroma Compounds Produced by Ceratocystis fimbriata in Solid State Fermentation of Coffee Husk. Marlene Soares; Carlos Ricardo Soccol; Pierre Christen; Ashok Pandey and Maurice Raimbault. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 51 – Aroma Production by Kluyveromyces marxianus in Solid State Fermentation of Cassava Bagasse. Adriane B. P. Medeiros; Carlos Ricardo Soccol ; Ashok Pandey and Pierre Christen. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 52 – Citric Acid Production by Aspergillus niger in Solid State Fermentation using Agro-Industrial Wastes. Luciana P. S. Vandenberghe; Carlos Ricardo Soccol; Ashok Pandey and Jean-Michel Lebault. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 53 – Production of Edible Mushroom Pleurotus ostreatus on Coffee Husk. Fan Leifa; Carlos Ricardo Soccol and Ashok Pandey. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. 18 Poster 54 – New Beverage with Probiotic Activity for Human use from Cow Milk Whey and Cassava Starch. Maria C. R. D. Santos; Carlos Ricardo Soccol and Gisele M. Buczenko Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 55 – Nutricional Factors for the Production of Gibberelic Acid by Solid State Fermentation of Coffee Husk. C. M. M. Machado; Carlos Ricardo Soccol; B. H. Oliveira and Ashok Pandey. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 56 – Biological Detoxification of Coffee Husk by Aspergillus niger using a Solid State Fermentation System. Débora Brand; Fernando Kawata; Ashok Pandey and Carlos Ricardo Soccol. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 57 – Production of Substrates for Biotechonological Processes from Hydrolysis of Coffee Husk. Adenise L. Woiciechowski; Carlos Ricardo Soccol; Ashok Pandey and E. Busato. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 58 – Studies on Extraction of Extra-Cellular Protease from Solid Cultures of Penicillium citricum. Sandro Germano; Valeria M. G. Lima; Maria L. Fernandes; Carlos R. Soccol; Ashok Pandey and Nadia Krieger. Departamento de Engenharia Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 59 – Sugarcane Bagasse Hydrolysate as a Source of Carbon for Microbiological Xylitol Production. Rita C. L. B. Rodrigues; Maria da Graça A. Felipe; Silvio Silvério da Silva; Ismael M. Mancilha and Michele Vitolo. Departamento de Biotecnologia/FAENQUIL, Lorena – SP. Poster 60 – Hidrolisado Hemicelulósico de Bagaço de Cana-deAçúcar como Substrato para a Produção de Xilitol em Diferentes Taxas de Aeração. T. A. Morita e Silvio Silvério da Silva. Departamento de Biotecnologia/FAENQUIL, Lorena – SP. Poster 61 – Evaluation of the use of Immobilized Whole Cells on Xylitol Production from Sugarcane Bagasse Acid Hydrolysate. Walter de Carvalho, Sílvio Silvério da Silva; Michele Vitolo e Ismael M. de Mancilha. Departamento de Biotecnologia/FAENQUIL, Lorena – SP. Poster 62 – Estudo do Crescimento de Pseudomonas putida IPT-046 com Vistas à Produção de Polihidroxialcanoatos de Cadeia Média. S. C. Diniz; J. G. C. Gomez; L. F. da Silva; M. da Costa; M. K. Taciro; S. R. da Silva e J. G. C. Pradella. IPT/SP. Poster 63 - Produção de Elastômeros Biodegradáveis a partir de Óleos Vegetais. S. R. Silva, J. G. C. Gomez; M. Costa; M. K. Taciro; L. F. Silva; A. L. Santos e J. G. C. Pradella. IPT/SP. Poster 64 – Tratamento de Água Residual de Petróleo em Guamaré/RN: Simulação de Processo de Tratamento Biológico e Análise Econômica Comparativa. R. S. Bittelbrunn e P. Pannir Selvam. Departamento de Engenharia Química/UFRN, Natal – RN. Poster 65 – Estudo Comparativo entre duas Cepas de Saccharomyces cerevisiae CCT 1530 e CCT 1531 para a Produção de Proteínas Uniceclulares a partir de Hidrolisado de Amido de Mandioca. Rita de Cássia S. Curto; Agenor Furigo Jr. e Jorge L. Ninow. Departamento de Engenharia Química/UFSC, Florianópolis – SC. 19 Poster 66 – Estudo do Crescimento de Três Leveduras do Vinho Produtoras de Aromas Alimenatres. Denise E. Moritz; Jorge L. Ninow e Agenor Furigo Jr. Departamento de Engenharia Química/UFSC, Florianópolis – SC. Poster 67 – Experimental Design for the Production of Ethyl Esters from Soybean Oil. G. Zagonel; P. P. Zamora and Luiz Pereira Ramos. Departamento de Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 68 – Acid-Catalyzed Steam Treatment (Steam-Explosion) of Eucalyptus grandis Wood Chips. A. Emmel; A. L. Mathias; F. Wypych and Luiz Pereira Ramos. Departamento de Química/UFPR, Curitiba – PR. Poster 69 – Estudo do Processo de Secagem de Leveduras Residuais da Indústria de Álcool por Secador Spray. Marcelino L. Gimenes; Karina B. Rodrigues e Helder V. Roma. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 70 – Utilização de Zeólita na Purificação da Dextrana: Efeito da Troca Iônica. Classius Ferreira da Silva; Nádia Regina C. Fernandes e Francisco Maugeri Filho. Departamentos de Engenharia Química/UEM e UINOESTE, Maringá – PR. Poster 71 – Purification of the Extract of Stevia rebaudiana Bertoni through Adsorption in Modified Zeolites. Élida de Paula Moraes and Nádia Regina C. Fernandes Machado. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 72 – Analysis of the Performance of Modified Zeolites Separation Glucose-Fructose Mixture. Ana Luisa Martinelli; Nádia Regina C. Fernandes Machado and Gisella M. Zanin. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 73 – Study of the Influences of pH and Temperature on the Recovery of β-Xylosidases by BDBAC Reversed Micelles. Francislene A. Hasmann; R. R. P. Silva; Adalberto Pessoa Jr. and Inês C. Roberto. DEBIQ/FAENQUIL: e FCF/USP. Poster 74 – Remoção de Auto-Anticorpos de Pacientes com Doenças Auto-Imunes através de Filtração em Membranas de Afinidade. R. C. A. Ventura; R. L. Zollner; C. Legallais; M. A. Vijayalakshmi e Sônia M. A. Bueno. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 75 – Purificação de Imunoglobulina G a partir do Plasma Humano Utilizando Cromatografia de Afinidade com Íons Metálicos Imobilzados-IMAC. Sandra Vançan e Sônia M. A. Bueno. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 76 – Membranas de Poli(Etersulfona)/Ppoli(vinilpirrolidona) Aplicadas em Processos de Ultrafiltração. F. S. Paiva, A. M. F. Xavier e Vicelma L. Cardoso. Departamento de Engenharia Química/UFU, Uberlândia – MG. Poster 77 – Lipase Production by Penicillium restrictum using Solid Waste of the Industrial Babassu Oil Production. Márcia Brandão Palma; Andreas K. Gombert; Karina H. Seitz; Sílvia C. Kivatinitz; Leda R. Castilho e Denise M. G. Freire. Departamentos de Engenharia Química/FURB, USP, UFMar del Plata, Departamento de Bioquímica/ UFCordoba, Faculdade de Farmácia/UFRJ. Poster 78 – Protein Extraction in a Pulsed Bell-Shaped Meshes Micro-Column. Joseane Rodrigues Moro; Ana Paula B. Rabelo e Elias B. Tambourgi. Departamento de Engenharia de Sistemas/UNICAMP, Campinas – SP. 20 Poster 79 – Influence of Agitation on Hesokinase and Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Extraction by Aqueous Two-Phases Systems. Marcela Z. Ribeiro; Maria A. Souza; Adalberto Pessoa Jr. and Michele Vitolo. Departamento de Bioquímica e Farmácia Tecnológica/USP, São Paulo – SP. Poster 80 – Método de Extração e Determinação da Massa Molecular de Polihidrobutirato Produzido por Alcaligenes eutrophus DSM 545. Elda S. Silva; Rosane A. R. M. Piccoli e Antonio M. F. J. Bonomi. Agrupamento de Biotecnologia/IPT, São Paulo – SP. Poster 81 – Utilização do Tratamento Térmico no Estudo da Viabilidade de Alcaligenes eutrophus DSM 545 – Inativação Enzimática e Coalescência de Grânulos. Marisa Zuccolo; R. C. P. Alli e J. G. C. Pradella. Agrupamento de Biotecnologia/IPT, São Paulo – SP. Poster 82 – Remoção de Auto-Anticorpos por Adsorção Seletiva: Estudo Comparativo entre Dois Sistemas de Afinidade Pseudobioespecífica. L. C. L. Aquino; Paulo T. V. Rosa; M. A. Vijayalakshmi e Sônia M. A. Bueno. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 83 – Adsorção de Fibrinogênio e Albumina do Soro Humano na Superfície de Vidro, Policarbonato e Policloreto de Vinila (PVC). Paulo T. V. Rosa; Antônio C. Arruda e Cesar C. Santana. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 84 – Recovery of Aprotinin from Industrial Effluent by Adsorption onto Immobilized Chymotrypsin. Ana Carolina Barros de Genaro and Everson Alves Miranda. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 85 – Clarificação do Suco de Acerola Despectinizado por Processo com Membrana. Larissa M. Fernandes; Elisabete S. Mendes; S. C. Costa e Sueli T. D. Barros. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 86 – Modelagem da Ultrafiltração do Suco de Acerola em Membrana Cerâmica. Sueli T. D. Barros; Elisabete S. Mendes; Cid. M. G. Andrade e Leila Peres. Departamento de Engenharia Química/UEM, Departamento de Tecnologia de Polímeros/UNICAMP. Poster 87 – Ultrafiltration/Diafiltration of Steviarebaudiana Bertoni Leaves Extract by Polisulphone Membranes. Silvana R. M. Moreschi; Rosângela Bergamasco and Marcelino L. Gimenes. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 88 – Purification and Concentration of Stevia reabudiana Bertoni by Microporous Membranes. Silvana R. M. Moreschi; Rosângela Bergamasco; Marcelino L. Gimenes; M. H. M. Reis and A. C. Di Pietro. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 89 – Estudo da Miscibilidade e Morfologia da Blenda PHB/PLLA. Mirella Vanin; Cesar C. Santana e E. R. Duek. Departaemnto de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 90 – Evaluation of the Performance of an Airlift Reactor for Treatment of TCF Bleaching Effluent with Free and Immobilized Cells of Lentinus edodes. Teresa Cristina B. Paiva; M. C. Bertolini; L. A. B. A. Castro; S. C. Oliveira and N. Durán. Departamento de Biotecnologia/ FAENQUIL, Lorena – SP. 21 Poster 91 – Biological Removal of Residual Aromatic Compounds from Pulp and Paper Effluents after Flocculation and Coagulation. Claudenice Rodrigues; Hélio G. Filho; Edson M. dos Reis and Jorge Nozaki. Departamento de Química/UEM, Maringá – PR. Poster 92 – Chrome Shavings Hydrolysis using Alcalase and Characterization of Soluble Proteins. Andréa Renata Malagutti; Alexandre Tadeu Paulino; Juliane Dametto; Cláudia C. M. Kimura; Eurica M. Nogami and Jorge Nozaki. Departamento de Química/UEM, Maringá – PR. Poster 93 – Avaliações Preliminares do Estado Trófico (Parâmetros Físicos versus Biomassa) do Rio que Abastece a Cidade de Toledo (Parte I). K. R. Freitas; M. T. Veit e Márcia R. S. Fagundes. Departamento de Engenharia Química/UNIOESTE, Toledo – PR. Poster 94 - Avaliações Preliminares do Estado Trófico (Nutrientes versus Biomassa) do Rio que Abastece a Cidade de Toledo (Parte II). M. T. Veit; K. R. Freitas e Márcia R. S. Fagundes. Departamento de Engenharia Química/UNIOESTE, Toledo – PR. Poster 95 – Influence of pH, Temperature, and Carbon Source on Methanogenic Activity of an Anaerobic Reactor of Gelatin Industry. Rosângela Bergamasco; A. M. S. Vieira; Celia R. G. Tavares and B. P. Dias Filho. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 96 – Estudo da Cinética da Degradação Biológica de Efluente da Indústria de Laticínios. Edson R. Rodrigues; Marcelino L. Gimenes; Rosângela Bergamasco; Alexander D. Kroumov e B. P. B. Filho. . Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 97 – Utilização do Reator Seqüencial para o Tratamento de Efluentes da Indústria de Papel e Celulose. A. N. M. Rodrigues; Rosângela Bergamasco; Célia R. G. Tavares; Elenice. T. Abreu e Marcelino L. Gimenes. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 98 – Estudo do Reagente Fenton para a Degradação de Águas Residuárias da Indústria de Papel Celulose. A. N. M. Rodrigues; Rosângela Bergamasco; Célia R. G. Tavares; Elenice. T. Abreu e Marcelino L. Gimenes. Departamento de Engenharia Química/UEM, Maringá – PR. Poster 99 – Produção de β-Ciclodextrina e Aplicação no Encapsulamento de Drogas de Primeiro Tratamento da Tuberculose: Um Trabalho Multidisciplinar. H. O. S. Lima; G. M. Zanin; F. F. de Moraes; A.M. Moraes; L. M. A Pinto; E. de Paula; M. C. B Villares e M. H. A. Santana. DPB/UNICAMP; DEQ/UEM; ICB/UNICAMP; FCM/UNICAMP. Poster 100 – Encapsulamento de Medicamentos em Lipossomas para a Terapia Primária de Tuberculose por Inalação. Oselys R. Justo; Maria Helena A. Santana e Ângela M. Moraes. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 101 – Utilização de Recobrimento com Fosfolipídios para a Hemocompatibilização de PVC. Paula R. Marreco; Giuliana P. Alves; Maria Helena A. Santana e Ângela M. Moraes. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 102 – Encapsulamento de Vitamina C em Lipossomas para a Aplicação em Preparações Dermatológicas. Marcelo Simioni Pontes e Ângela Maria Moraes. Departamento de Processos Biotecnológicos/UNICAMP, Campinas – SP. 22 Poster 103 – Reaproveitamento do Rejeito de uma Unidade Produtora de Polpa de Acerola para a Produção de Vinagre. C. F. A. Silva; V. Trindade; S. G. F. Leite e M. A. Z. Coelho. Departamento de Engenharia Bioquímica/ UFRJ, Rio de Janeiro – RJ. Poster 104 – Influência das Características da Membrana sobre a Atividade da Enzima Imobilizada na Hidrólise de Óleo de Babaçu em reator com Membrana. Fábio Merçon; Geraldo Lippel Sant’Anna Jr e Ronaldo Nobrega. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro – RJ. Poster 105 – Evaluacion de Las Condiciones de Hidrolisis Enzimática del Bagacillo de Canã en un Biorreactor de Membrana. Oscar García-Kircher; Guadalupe I. García G.; Norberto Pérez S.; Emilio R. Rangel P.; Guillermo Reyes H. e Víctor Rodriguez V. Departamento de Bioprocesos/UPIBI, Ticomán, México. Poster 106 – Eficiência da Imobilização de HRP usando Diferentes PANI’s. Kátia Flávia F. Silva; J. G. A. Freitas; J. S. Neto; V. C. Fernandes; C. L. Araújo; F. G. Pereira; J. L. Silva; M. C. Cardoso e C. H. Collins. IQ/UNICAMP, Campinas – SP. Poster 107 – Estudo da Velocidade de Crescimento de Colônias de Fungos em Placas de Petri, com Meio Ágar Farelo de Arroz. Antenor F. Costa; Jorge A. V. Costa e C. S. Costa. FURG, Rio Grande – RS. Poster 108 – Influência da Fonte de Nitrogênio no Crescimento da Cianobactéria Spirulina platensis. Karla L. Cozza; Jorge A. V. Costa; G. Magagnin; L. S. Arrieche e L. Oliveira. FURG, Rio Grande – RS. Poster 109 – Análise da Fermentação de Maltotriose por Saccharomyces cerevisiae. Claudio Zastrow e Boris Stambuk. Departamento de Bioquímica/UFSC, Florianópolis – SC. Poster 110 – Produção de Pectinases de Penicillium italicum em Embalagens de Polipropileno. Marcia L. Rizzatto; E. Gomes e R. M. Alegre. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. Poster 111 – Produção de Xilanase Termoestável por Bacillus SP 77-2 Alcalofílico em Farelo de Trigo e Estabilidade Enzimática em Temperatura Ambiente. Valquíria B. Tavares; D. A. Bocchini; M. M. C. N. Soares; E. Gomes e R. da Silva. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. .Poster 112 – Produção de Xilanase por Bacillus SP-1 em Fermentação Submersa Utilizandose Meio Nutriente Enriquecido com Diferentes Resíduos Agrícolas. Daniela A. Bocchini; V. B. Tavares; T. Iembo; E. Gomes e R. da Silva. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. Poster 113 – Caracterização da Exopoligalacturonases da Levedura RE-16 Produzida por Fermentação Semi-Sólida. Silvio J. F. Souza; Heloiza F. Alves; Eleni Gomes e Roberto da Silva. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. Poster 114 – Produção de Ciclodextrina Glicosiltransferase de Bacillus sp, E16 por Fermentação Semi-Sólida. Heloiza F. Alves; E. Gomes e Roberto da Silva. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. 23 Popster 115 – Análises Químicas da Fermentação em Bagaço de Cana-de-Açúcar pelo Fungo Humicola grisea var. termoidea. Edjan Heise de-Paula; Alexandre Emmel; Luiz Pereira Ramos e Maristella de O. Azevedo. Laboratório de Biologia Molecular/UNB, Brasília – DF. Poster 116 – Influência do Álcool Vertrílico na Produção de Lacases e de Corpos de Frutificação do Pleurotos ostreatus em Meio Sólido. Helio H. Suguimoto; Aneli M. Barbosa; A. Albanese e Raul J. H. Castro-Gómez. Engenharia de Alimentos/UNOPAR e Departamentos de Bioquímica e Tecnologia de Alimentos e Medicamentos/UEL, Londrina – PR. Poster 117 – Estudo de um Biorreator Tipo Tambor Rotativo para o Enriquecimento Protéico do Farelo de Arroz. R. Ogrodowski; R. Wendt; H. Treichel; C. P. Saraiva e Jorge V. A. Costa. FURG, Rio Grande – RS. Poster 118 – Produção de Xilitol por Candida guilliermondii IM/UFRJ 50088: Estimativa da Demanda Específica de Oxigênio. M. A. P. Gimenes; W. B. Aguiar Jr.; L. F. F. Faria; O. Q. F. Araújo e Nei Pereira Jr. Departamento de Engenharia Bioquímica/UFRJ. Poster 119 – Estudo Comparativo dos Processos de Separação e Encapsulação de Microalgas usando Polímeros Naturais e Derivados da Biomassa Residual do Mar. Osvaldo L. Palhares e P. V. Pannir Selvam. Departamento de Engenharia Química/UFRN, Natal – RN. Poster 120 – Lipase de Penicillium restrictum: Caracterização e Hidrólise de Triglicerídeos. Robson N. Branco; Geraldo Lippel Sant’Anna Jr. e Denise M. G. Freire. COPPE e Faculdade de Farmácia/UFRJ, Rio de Janeiro - RJ. Poster 121 – Seleção de Linhagens Bacterianas Produtoras de Pectinoliase e Caracterização das Enzimas. C. D. Poy; Marcia M. C. N. Soares; Roberto da Silva e E. Gomes. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. Poster 122 – Seleção de Linhagens Microbianas Produtoras de Poligalacturonase. Marcia M. C. N. Soares; Roberto da Silva e E. Gomes. Laboratório de Bioquímica dos Processos e Microbiologia Aplicada/UNESP, São José do Rio Prêto – SP. Poster 123 – Caracterização de Bagaço de Cana Pré-tratado por Explosão a Vapor: Separação de Carboidratos e Compostos Aromáticos. Hellen C. M. Cunha e Flávo T. da Silva. Departamento de Biotecnologia/FAENQUIL, Lorena – SP. Poster 124 – Clarificacion Enzimatica de Caldo de Fermentacion de Polisacarido Xantano. L. Aguillar; S. Pérez; G. Bueno; I. Goyre e M. López. Departamento Bioquimica/ICIDCA, La Habana – Cuba. 24 ABSTRACTS 25 LECTURE 26 AN OVERVIEW OF SUCCESSFUL METABOLIC ENGINEERING OF SACCHAROMYCES YEASTS FOR EFFECTIVE COFERMENTATION OF GLUCOSE AND XYLOSE FROM RENEWABLE CELLULOSIC BIOMASS Nancy W. Y. Ho* Laboratory of Renewable Resources Engineering (LORRE) Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907, USA Cellulosic biomass is renewable, available at low cost, and existent in great abundance all over the world, especially in Brazil and in the United States. Cellulosic biomass is therefore an attractive feedstock for the production of ethanol-fuel and numerous other industrial products by fermentation. However, one serious obstacle is that the major sugars derived from cellulosic biomass include not only glucose but also xylose with a ratio of glucose to xylose approximately 2 or 3 to 1. The Saccharomyces yeasts are unable to ferment xylose to ethanol or use it for growth. Since1980, scientists worldwide have actively been trying to develop metabolically engineered Saccharomyces yeasts to ferment xylose. In 1993, we succeeded in the development of the first metabolically engineered Saccharomyces yeasts, containing xylose metabolizing genes cloned on a high copy-number plasmid, that can effectively ferment xylose as well as glucose to ethanol. In 1995, we further succeeded in creating the super-stable highly-effective metabolically engineered glucose-xylose-cofermenting Saccharomyces yeasts, containing multiple copies of the same xylose-metabolizing genes stably integrated onto the yeast chromosomes. This stable yeast was created by a much more effective new method, which we invented, for integrating multiple copies of multiple genes into the yeast chromosomes. The uniqueness of our approach in the metabolic engineering of the Saccharomyces yeasts to ferment and utilize xylose for growth is that we have taken careful considerations in our design not just to metabolically engineer a yeast to ferment xylose but also to (1) effectively direct the metabolic flux towards the production of ethanol rather than the production of byproducts such as xylitol, (2) effectively coferment both glucose and xylose simultaneously so that the mixed sugars will be fermented as fast as possible, (3) use rich medium for growth and fermentation so as to make the engineered yeast grow and ferment sugars faster, (4) integrate all cloned genes, in multiple copies if necessary, into the yeast chromosome so that the resulting yeasts will be suitable for industrial use without requiring additional modifications. We were able to accomplish all these because we cloned into the Saccharomyces yeasts not only a functional xylose reductase gene (XR) and a functional xylitol dehydrogenase gene (XD) which are known to be missing in the yeast chromosome, but also a third gene, the xylulokinase gene (XK), even though all the Saccharomyces yeasts do contain a functional XK. Furthermore, we also replaced the signal sequences that control the expression of the three cloned genes with the sequences that control the expression of yeast glycolytic genes. Of equal importance was our successful development of a much more effective new method for integrating multiple copies of multiple genes into the yeast chromosomes. Recently, we have succeeded in developing more super-stable metabolically engineered Saccharomyces yeasts such as 259A(LNH-ST) and 424A(LNH-ST) with similar efficiencies in cofermenting glucose and xylose as our first super-stable engineered Saccharomyces yeast, 1400(LNH-ST). This proves our theory that most wild type Saccharomyces yeasts can be metabolically engineered for effective cofermentation of glucose and xylose with our technology. More importantly, these engineered new yeasts are free from any legal restraints and can be licensed through Purdue University to any company that plans to produce ethanol from cellulosic biomass. Another important recent finding is that our stable metabolically engineered yeasts can repeatedly coferment glucose and xylose (using pure sugars or sugars from cellulosic biomass hydrolysates) to ethanol with high efficiencies for numerous cycles requiring very little nutrients. The technology outlined above can easily be expanded to make yeast for the production of other important industrial products, using glucose and xylose derived from cellulosic biomass as the feedstock. 27 Selected Application of Starchy Products in the Pharmaceutical, Chemical, Fermentation and other Technical Industries Roland Beck Cerestar USA, 1100 Indianapolis Boulevard, Hammond, IN, 46320-1094, USA; phone (+1) 219 473-2000; Fax (+1) 219 473-6601 e-mail: [email protected] Starchy Products are used to almost 50% for non-food purposes, whereby the paper and corrugating industry consume more than half. About 20% of starchy products are used in the chemical, pharmaceutical, fermentation and other technical industries. In the fermentation industry starchy products face strong competition from molasses, sucrose and oil as carbon source. Corn steep liquor offers some additional advantages compared to inorganic nitrogen sources, e.g. vitamins and oligoelements. Glucose, however, not only serves as carbon source during fermentation processes, but in the case of acarbose and deoxynojirimycine production the chemical structure of glucose is an integral part of the products. In the pharmaceutical field starchy products are used essentially because of their nutritional value, and their food-grade nature. Purity criteria though are very severe and products need to comply with pharmacopoeial or FDA regulations. In the personal care industry polyols are the most important products in for instance tooth paste or mouthwashes, but also in cosmetic emulsions. The reactivity and stability of polyols is used in the polymer and resin industry, where sorbitol is used as polyol component in alkyd and melamine resins, as highly functional starter for polyetherpolyols for polyurethanes. Dianhydrosorbitol, with its rigid ring structure imparts higher stability to polyesters when incorporated as a co-monomer. Starch as polymeric material is used as a polymer in biodegradable materials, such as expanded packaging chips or films for garbage bags. Starch-based products for detergents have received considerable interest in the past years. Glucose-based surfactants, i.e. alkyl polyglucosides and glucamides, have been fast growing in the last 5 years and have found a distinct market segment. Future trends in non-food applications are very difficult to predict, since various factors lead to the failure or success for new products. Being a natural product is not a selling argument, unless combined with an at least equal performance at the right price. 28 MODELLING OF SOLID-STATE FERMENTATION EFFECT OF MONO, DI AND TRI-DELETION MUTANTS OF Trichoderma CELLULASES ON THE CHEMISTRY AND DEGREE OF POLYMERIZATION OF CELLULOSIC FIBERS Zandoná Filho, A.,1,3 Fontana, J. D.2 and Ramos, L. P.3 1 Tuiuti University, [email protected]; 2 LQBB – Biomass Chemo/Biotechnology Laboratory, Department of Biochemistry, UFPR – [email protected]; 3 Research Center in Applied Chemistry, Department of Chemistry, UFPR – [email protected] P.O. Box 19081 – Curitiba, PR, Brazil – 81531-990 The effect of mutant cellulase preparations on the degree of polymerization (DP) of three chemically defined cellulosic substrates was evaluated using high performance size exclusion chromatography (HPSEC) of the corresponding cellulose tricarbanilate derivatives. The enzymes used for hydrolysis were kindly provided by Röhm Enzyme Finland Oy and were obtained in a previous study by high frequency gene deletion of Trichoderma reesei strains (Suominen et al., Mol. Gen. Genet. 1993, 241, 523-530). As a result, the selective deletion of either one, two or three genes encoding for key components of the cellulase system was obtained, yielding 4 single (CBH I-, CBH II-, EG I-, EG II-), 2 double (EG I/II-, CBH I/II-) and 2 tri-deletion mutants (EG II-/CBH I/II-, CBH II-/EG I/II-). Reaction controls were carried out using Celluclast 1.5L and Novozym 188 (Novo Nordisk) and hydrolyses were performed at an enzyme loading of 40 mg protein/mg cellulose (Ramos et al., Enzyme Microb. Technol. 1999, 24, 371-380). Three distinct cellulosic substrates were chosen to carry out this study: a dewaxed cotton cellulose and two fully bleached kraft pulps (Klabin do Paraná, Telêmaco Borba, PR) derived from a hardwood (Eucalyptus grandis) and a softwood (Pinus taeda) species. These substrates had virtually no lignin and cellulose contents with distinct ranges of DPw: 4500 AnGlc units for cotton fibers, 3700 for eucalypt and 1220 for pine bleached kraft pulps. When cotton cellulose was used as a substrate, the highest shifts in cellulose DP were impaired by hydrolysis with monodeletion mutants. The amount of cellobiose accumulated in the reaction mixtures varied considerably among the enzymes and there was no evidence for short oligomers in any of the hydrolysis mixtures. On the other hand, hydrolysis of both bleached kraft pulps resulted in higher glucose yields and totally distinct GPC profiles: (a) the CBH I/II mutant released only 8% of soluble sugars from cotton fibers for a 6% decrease in DPw, whereas 12% of the hardwood kraft pulp was hydrolysed by this same enzyme with a much greater decrease of 54% in DPw, (b) deletion of CBH I had the greatest effect on hydrolysis yields but this was not necessarily reflected on changes in cellulose DP; (c) compared to CBH I, deletion of CBH II caused a relatively lower decrease in cellulose DP; and (d) the accessibility of both EG I and EG II appeared to be greatly associated with the chemistry (e.g., hemicellulose content) and/or supramolecular organization (e.g., pore volume, surface area and crystallinity) of cellulose. Changes of cellulose DP were quite useful to predict the mode of action of the enzymes but conclusions could only be drawn together with a strict evaluation of hydrolysis yields. Both double and three deletion mutants appear to have interesting properties for key applications in both textiles and pulp and paper industries and we are currently evaluating the effect of the enzyme treatment over the mechanical properties of cellulose fibers. (Supported by CNPq, PADCT-II, UFPR) 29 MODELLING OF SOLID-STATE FERMENTATION BIOREACTORS 1 David A. Mitchell; 2Deidre M. Stuart & 3Penjit Sangsurasak 1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Paraná, 81531-970, CURITIBA, PR, BRAZIL. 2 School of Natural Resource Sciences, Queenskand University of Technology, BRISBANE, 4001, AUSTRALIA. 3 Department of Chemical Engineering, Kasetsart University, Chatuchak, Chatuchack, BANGKOK 10900, THAILAND Solid-state fermentation (SSF) offers advantages over submerged liquid fermentation for the production of some microbiological products, but currently large scale applications are limited by the lack of rational scale-up criteria. This work describes the use of mathematical modelling as a tool to guide the design and operation of packed bed and rotating drum bioreactors. We have developed a mathematical model which describes heat transfer in both the axial and radial derections in a packed bed bioreactor. Such bioreactors are required for those processes in which the microorganism cannot tolerate the shear forces generated during mixing of the substrate bed. Model predictios suggest that a high superficial velocity of the air flowing through the bed is the most crucial factor in minizing the axial temperature gradients which are established in packed bed bioreactors. The height to diameter ratio is the most important design consideration, with the bed height being limited by the maximum temperature at which the microorganism still produces the product with na acceptable productivity. We have also developed a mathematical model of heat transfer in a rotating drum bioreactor. The model recognizes three systems – the substrate bed, the headspace gases and the bioreactor wall. Each of these systems is treated as a well-mixed system. This model has used to explore the scale-up of rotating drum bioreactors. The predictions suggest that, at a scale of several tonnes of substrate, aeration rates of the order or 200 bioreactor volumes of dry air per hour will be required in order to prevent overheating. Mathematical models describing growth kinetics and the major transport phenomena controlling growth are useful tools in the design and scale-up of SSF bioreactors. They enable a rational approach to scale-up, although the predictions have yet to be proven in large scale bioreactors. 30 FRUCTOSE-GLUCOSE ISOMERIZATION IN A CONTINUOUS VORTEX FLOW REACTOR (VFR) Raquel L. C. Giordano1*; Roberto de Campos Giordano1 , Charles L. Cooney2 1 Departamento de Engenharia Química-Universidade Federal de São Carlos-C.P. 676 CEP13565-905-São Carlos-SP-Brasil- e-mail: [email protected] 2 Chemical Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA This work focuses on the application of Taylor-Poiseuille flow in a heterogeneous enzymatic reactor. Two kinds of catalyst are employed: glucose isomerase, immobilized in gel carrier and in soluble form. Operational conditions are set to avoid intra- and extra-particle mass transfer effects when using gel particles. In this way, a wider range of rotation rates may be covered. Reactor geometry (radius ratio η = 0.677 and aspect ratio Γ = 18.30) and flow rates are chosen to be adequate for bio-processes applications as a reaction and/or adsorption system. Visualization with particles and injection of tracer confirm that, for the case studied here, an unusual flow pattern unfolds: vortex drift velocities decrease continuously with increasing rotation rates of the inner cylinder, until the vortices stop their translation in the axial direction. VFR performances are assessed and compared to ideal reactors, using the fructose-glucose isomerization as a model reaction. The conversion versus rotation rate curve for rotations above 200 rpm presents a point of minimum at 400 rpm, with performance lower than the perfectly mixed reactor. This behavior is analyzed in view of the flow characteristics. The vortex agitation is found to be very gentle, without any noticeable damage to shearsensitive particles. Keywords: vortex flow reactor, Taylor-Poiseuille flow, enzymatic reactor, glucose-fructose isomerization 31 FERMENTATION OF LIGNOCELLULOSIC HYDROLYSATES: INHIBITION AND DETOXIFICATION Eva Palmqvist1* and Bärbel Hahn Hägerdal2 1* Danisco Biotechnology, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K e-mail: g7eap @danisco.com 2 Department of Applied Microbiology, Lund University, S-22100 Lund, Sweden The ethanol yield and productivity obtained during fermentation of lignocellulosic hydrolysates is decreased due to the presence of inhibiting compounds, such as weak acids, furans and phenolic compounds produced during hydrolysis. Evaluation of the effect of various biological, physical and chemical detoxification treatments of lignocellulosic hydrolysates by fermentation assays using Saccharomyces cerevisiae was used to characterise inhibitors. Selected model compounds were then added to defined fermentations. Individual and interaction effects were elucidated and mechanisms of inhibition were proposed. By maintaining a high cellmass density in the fermentor, the process was less sensitive to inhibitors affecting growth and to fluctuations in fermentation pH, and in addition the depletion rate of bioconversible inhibitors was increased. A theoretical ethanol yield and high productivity was obtained in continuous fermentation of spruce hydrolysate when the cellmass concentration was maintained at a high level by applying cell recirculation. 32 PRODUCTION OF XYLITOL BY FERMENTATION OF BIOMASS HYDROLYSATES Sílvio Silvério da Silva Faculdade de Engenharia Química de Lorena, Departamento de Biotecnologia, Rod. Itajubá/Lorena, Km 74,5 - 12600-000 - Lorena - SP - Brazil E-mail: [email protected] Bioconversion processes have been developed for the utilization of renewable resources to produce useful chemicals and feedstocks. The use of renewable resources and, in particular, of lignocellulosic biomass, has broad environmental implications in today’s world. These materials, especially, agroindustrial residues are rich sources of carbohydrates that can be converted by biotechnological means into products of high value. In order to release the sugars from the hemicellulosic fraction, hydrolysis is carried out as the first stage of fermentative processes employing lignocellulosic biomass as the substrate. However, during hydrolysis, significant amounts of chemical compounds are produced, and for their removal the hydrolysate must be treated before the bioconversion process. After treatment, the hydrolysate can be fermented under selected enviromental conditions. Xylitol, a sugar-alcohol of high sweetening power and anticariogenic properties, can be produced from lignocellulosic biomass by biotechnological means. This compound has been successfully used by food, odontological and pharmaceutical industries in many products. Microbial production of xylitol from agroindustrial residues is an ecomomic and simple approach. For this study, xylitol was obtained by fermentation of D-xylose present in hemicellulosic hydrolysates by Candida guilliermondii FTI 20037. Some aspects of this fermentation are presented here successfully. 33 FERMENTAÇÃO CONTÍNUA POR LEVEDURA FLOCULANTE Carlos Coelho de Carvalho Netto NATRONTEC; Rua Dom Gerardo, 46, 10º andar, Centro; 20090-030 - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL; fones: (21)233-1471/516-3353 e-mail: [email protected] A NATRONTEC, buscando atender às necessidades do parque industrial alcooleiro, desenvolveu e está utilizando em escala industrial, um processo de fermentação, que dispensa o uso de centrífugas, pois utiliza, como agente fermentativo, levedura floculante do gênero Saccharomyces cerevisae. Atualmente, o processo está sendo utilizado nas seguintes unidades industriais: Destilaria CALIFÓRNIA (SP), Destilaria ALCOMAT (MT), Usina CUCAÚ (PE), Usina TRAPICHE (PE), Destilaria DISA (ES), Destilaria GIASA (PB) e Usina MARITUBA (Al). O processo com levedura floculante apresenta as seguintes vantagens principais: − Eficiência de fermentação 1 % a 2 % maior do que os demais processos; − Dispensa o uso de centrífugas; − Reduz os gastos com produtos químicos devido, principalmente, ao menor consumo de antiespumantes e dispersantes. Outros benefícios proporcionados pelo processo são: vinhos com maiores teores de álcool, menor custo operacional, operação mais simples, facilidade de automação, menor exigência de mão-de-obra (um operador por turno) e reduzido custo de manutenção. A utilização do processo permitiu às usinas e destilarias acima reduzir os seus custos de produção entre R$ 5,2 e R$ 13,5 por metro cúbico de álcool produzido. O processo baseia-se na realização da fermentação em regime contínuo, com separação do fermento em sedimentador. O fluxo de mosto é distribuído para as dornas, sendo o vinho enviado para o(s) sedimentador(es), onde a levedura é separada, por decantação. Esta é tratada numa cuba, retornando em seguida para a primeira dorna. O vinho delevurado flui pelo topo do(s) sedimentador(es) e é direcionado para a(s) dorna(s) volante(s). O sistema opera com uma concentração de açúcares redutores totais (ART) de até 20% (p/v), o que permite gerar vinhos com teores de etanol da ordem de 11º GL. O investimento necessário para a implantação do processo NATRONTEC é muito baixo, uma vez que a adaptação das atuais unidades (contínuas ou em batelada) exige, basicamente, a construção do sedimentador, que pode ser realizada através da simples adaptação de dorna de fermentação. Os benefícios proporcionados pelo processo permitem recuperar o investimento realizado em, no máximo, três meses de safra. 34 EXPERIÊNCIA INDUSTRIAL NA PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DA FARINHA AMILÁCEA DE COCO DE BABAÇU Edmond Aziz Baruque Filho1, 2*; Maria da Graça A. Baruque1, e Geraldo Lippel Sant'Anna Jr. 1 TOBASA - TOCANTINS BABAÇU S.A.; Rua Evaristo da Veiga, 35/1710; 20031-040 RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 2 COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, P.O. Box 68502; 21945-970 - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL Este trabalho descreve a experiência industrial da TOBASA na produção de etanol a partir da farinha amilácea obtida do processamento mecânico do mesocarpo de coco de babaçu. São enfatizados aspectos técnicos do processo, apresentando-se, em particular, resultados relativos ao efeito de variáveis de processo (tipo de gelatinização, quantidade específica de CaO e grau de cominuição da farinha) na eficiência de conversão de amido em glicose. Quando produzido em uma planta industrial de pequeno porte (5.000L de etanol/dia), o produto atinge um custo final de US$ 218/m3. O impacto dos custos de matérias-primas e de processamento no custo final de produção é também apresentado. O álcool de coco de babaçu pode ser produzido a baixo custo, quando comparado às matérias-primas amiláceas convencionais e à própria canade-açúcar. A lucratividade líquida da produção é de 40% para o babaçu contra 10% para a cana-de-açúcar. Estes resultados apontam para a viabilidade técnico-econômica da produção de etanol a partir da farinha de coco de babaçu, desde que - industrialmente - seja realizado o aproveitamento integral do fruto. 35 INFLUENCE OF CELLULASES ON INDIGO BACKSTAINING DURING STONE WASH PROCESSES Jürgen Andreaus1, 2, 3, Rui Campos1,2 and Artur Cavaco-Paulo2 1 2 Textil Alberto de Sousa, S.A., V. N. de Sande, 4802-Guimarães, Portugal Dept. de Eng. Têxtil, Universidade do Minho, 4800 Guimarães, Portugal 3 Dept. de Química, FURB, Blumenau, Brasil We studied the affinity of cellulases from different fungal origins to insoluble Indigo dye. Adsorption studies showed that “acid cellulases” from Trichoderma reesei have a higher affinity for Indigo dye than “neutral cellulases” of Humicola insolens. The particle size of Indigo dye agglomerates was found to be influenced by the cellulase origin and concentration. Non-polar residues present in higher percentage in neutral cellulases of H. insolens seem to play an important role in agglomeration of Indigo dye particles and probably in reducing backstaining. Furthermore the effects of different levels of mechanical action on adsorption of cellulases on undyed and Indigo dyed fabrics were studied. We studied Indigo backstaining in the presence of bacterial and fungal cellulases and investigated the influence of cellulose binding domains (CBD) of family I and II. Indigo backstaining was found to decrease with increasing concentrations of neutral cellulases with CBDs of family I, but seems to be quite independent of the concentration of active neutral cellulases with CBDs from family II. Truncated cellulases without CBDs cause less backstaining than the entire enzymes. Indigo backstaining has to be considered as the result of at least two different types of adsorption: The adsorption of Indigo to cotton and the adsorption of Indigo to cotton bound cellulases. To achieve a good contrast on the fabric and to reduce the undesired effect of Indigo backstaining the adsorbed Indigo has to be removed in a after washing step with high levels of mechanical action. Proteases were found to contribute to stain removal only under high mechanical action. After-washing experiments of Indigo stained cotton fabrics showed, that it is easier to remove Indigo adsorbed on cellulase over cotton than Indigo directly adsorbed to cotton. 36 BIOFILTER: A CONSOLIDATED BIOLOGICAL WASTE GAS TREATMENT TECHNOLOGY Attilio Converti Department of Chemical & Process Engineering «G.B. Bonino», Genoa University; Via Opera Pia, 15 – I-16145 Genoa, Italy Biofiltration is a well established air pollution control technology successfully applied in a wide variety of applications to control odors, volatile organic compounds (VOC) and air toxics. This article provides an overview of the developments, process parameters and principles of the technology as well as the main design and management criteria for biofilter operation. A comparison with other biological systems outlines that biofilters have the easier mode of operation and the widest application, due to lower capital and operating costs. A wide picture of the biofilter applications either at pilot-scale or full-scale with related pollutants which can be removed is given. The results reported show that removal efficiencies as higher as 90% are usually obtained for a wide range of common pollutants. The principal groups of microorganisms involved in biofilters as well as their respective main metabolic pathways are also presented and discussed. Economic analysis made on different basis demonstrates that biofiltration is by far the most convenient process particularly if applied to large volumes of air streams containing relatively low concentrations of easily biodegradable compounds (typically below 1,000 ppm). Finally, the experimental results of biofiltration of toluene vapors are presented and discussed as an example. 37 DEVELOPMENT OF BIOREACTORS FOR APPLICATION IN ENZYMATIC TECHNOLOGY (CELLULOSE SACCHARIFICATION) Arkady P. Sinitsyn*; Alexander V. Gusakov; Alejandro G. Berlin; Baltazar Gutierrez, Oscar Castellanos and Olga A. Sinitsyna Department of Chemistry; M. V. Lomonosov Moscow State University; Moscow 119899, Russia; phone (7-095) 939 5966; Fax (7-095) 939 0997 e-mail: [email protected] The effectiveness of bioconversion of cellulosic and lignocellulosic substrates (e.g. cellulosic wastes, wood, pulp and paper by-products) by cellulases into soluble sugars is hindered by the requirement of mechanical stress synergistic to the enzyme action, and hence - by the choice of bioreactor for cellulose saccharification. Three different types of reactors for enzymatic hydrolysis of cellulose were studied: reactor with impeller stirring, vibroreactor, and reactor with electromagnetic-field stirring. Cellolignin, an industrial residue obtained after the production of furfural from wood, and short-fiber cellulosic wastes from pulp and paper industry were used as substrates. Enzymatic cellulose saccharification was carried out using cellulase preparation from the fungus Penicillium verruculosum. The productivity of the first and second types of reactors was about the same (3.5-4.8 g/L/h based on the yield of reducing sugars). The productivity of the reactor with electromagneticfield stirring was 21-28 g/L/h. Much higher productivity of the last type of reactor was the result of sharp intensification of mass transfer processes in the heterogeneous system allowing to obtain the same concentration of reducing sugars (2-3%) after much less (6 times or more) hydrolysis time. 38 ORAL 39 UTILIZAÇÃO DE MUTANO PRODUZIDO POR CEPA PADRÃO DE STREPTOCOCCUS MUTANS (ATCC 25175) NA SELEÇÃO DE FUNGOS PRODUTORES DE GLUCAN-α-D-(1Õ 3)GLICOSIDASES E GLUCAN-αD(1→ 6)GLICOSIDASES Maria do Amparo Cunha Pacheco*; Josely Emiko Umeda UEM - Departamento de Bioquímica - Av. Colombo, 5790, 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRASIL e-mail:[email protected] O dextrano é um homopolissacarídeo composto por moléculas de glicose unidas principalmente por ligações glicosídicas do tipo α(1Õ 6), que perfazem aproximadamente 95% do total e por ligações do tipo α(1Õ 3). As ligações do tipo α(1Õ 3) estão presentes em ligações cruzadas e, assim como o peso molecular do dextrano, estão relacionadas com a solubilidade e a viscosidade do mesmo. Vários microorganismos produzem o dextrano a partir da sacarose, especialmente o Leuconostoc mesenteroides, utilizado na produção industrial e aplicado nas indústrias farmacêutica, de alimentos e de reagentes analíticos. A formação de dextrano também tem importância na indústria açucareira, pois a contaminação do caldo de cana por Leuconostoc ou microorganismos altera sua viscosidade, diminuindo a eficiência dos métodos de refino do açúcar. A produção comercial de dextranases iniciou-se praticamente ao mesmo tempo que a produção industrial do dextrano por ser o meio mais eficiente de reduzir o peso molecular do dextrano nativo. A dextranase é produzida por fungos de vários gêneros e dextrano de diferentes pesos moleculares é utilizado como indutor. As enzimas obtidas em geral são do tipo endo, promovendo uma hidrólise randômica do dextrano sendo necessários métodos posteriores de separação por peso molecular dos polímeros formados. Um tipo de dextrano bem mais insolúvel que o produto comercial é o polissacarídeo obtido pelo cultivo de bactérias da flora bucal, especialmente o Streptococcus mutans (mutano). O mutano é rico em ligações do tipo α(1Õ 3) e, no presente trabalho, foi utilizado como indutor da formação de mutanase. Cento e sessenta fungos foram coletados do ambiente ou alimentos contaminados, isolados em meio ágar-batata-glicose e, a seguir, inoculados em meio quimicamente definido contendo ágar e mutano produzido pelo cultivo de S. mutans (ATCC 25125) complexado com o corante Remazol Brilliant Blue. A formação de mutanase é evidenciada pelo descoramento das áreas de inóculo. Os fungos assim selecionados foram cultivados por 72 horas, a 30o C e com agitação de 180 rpm, em meio líquido quimicamente definido contendo mutano como indutor. Os extratos obtidos por centrifugação tiveram sua atividade mutanásica determinada pelo consumo de mutano e pelo método do DNS. Vinte entre esses fungos foram capazes de consumir mais de cinqüenta por cento do mutano inicialmente adicionado após 72 horas de cultivo e apenas seis produziram exoenzimas evidenciáveis através da formação de açúcares redutores. Os fungos selecionados estão sendo submetidos a testes de estabilidade em diversas condições. 40 ENZIMAS SECRETADAS POR ESPÉCIES FÚNGICAS ISOLADAS DO SOLO DA REGIÃO PETROLÍFERA DE URUCU-AM. Fernandes, O.C.C.*; Teixeira, M.F.S.; Herrera, A. *Lab. de Micologia/Depto. de Parasitologia/UFAM, Manaus-AM **Lab. de Química Biológica da UNICAMP, Campinas-SP. Analisou-se após 72 horas de crescimento a 28ºC, a produção de amilases, celulases, pectinases e fenoloxidases por espécies de Aspergillus spp., Gliocladium virens, Penicillium spp., Phomopsis hordei, Pseudallecheria boydii, Thielavia terrestris e Trichoderma spp., isoladas do solo da Região Petrolífera de Urucu-AM (Brasil). Determinou-se a atividade enzimática qualitativa em meio de cultura sólido adicionado de amido, carboximetilcelulose, pectina cítrica 1% e ácido tânico 0,5% (peso/volume). As placas foram incubadas a temperatura de 37º C, durante 18 horas. A reação enzimática foi observada através da formação de halo em volta de cada cup-plate, com ou sem adição de substância reveladora na superfície do ágar. O tamanho do halo foi determinado pelo reverso da placa de Petri. Os resultados demonstraram que, das 28 espécies analisadas, para cada enzima, 19 (67,86%) espécies demonstraram positividade para amilases; 28 (100%) para celulases; 27 (96,42%) para proteases e 23 (82%) para pectinases e fenoloxidases. Os maiores produtores das enzimas analisadas foram A. flavus e P. implicatum (amilases) P. janthinellum, P. expansum e P. glabrum (celulases), P. janthinellum e P. glabrum (pectinases), P. implicatum e P. rugulosum (proteases) e P. puberullum e P. janthinellum (fenoloxidases). Dentre os microfungos analisados, a maioria das espécies produz enzimas para aplicação industrial, embora seja necessário a realização de otimização dos diferentes processos de produção dessas enzimas. 41 42 CARACTERIZAÇÃO DA ISOAMILASE DE Flavobacterium sp CLONAGEM E EXPRESSÃO DO GENE IAM EM Escherichia coli. H. H. SATO, YONG K. PARK 1*, B. M. KROHN 2, G. F. BARRY 2, G. M. KISHORE 2 1* Depto de Ciência de Alimentos; Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas - Campinas-SP; fone (+55) 19 788 7055; fax (+55) 19 778 7890; e-mail [email protected]; ; 2 Ceregen Division-Monsanto Company - St.Louis, MO 63198, USA A enzima amilolítica desramificante isoamilase de Flavobacterium sp foi purificada em colunas de DEAE-celulose, DEAE-Sephadex A-50 e CM-celulose e caracterizada bioquímicamente quanto as condições de atividade ótima, estabilidade e ação sobre diferentes substratos . O gene que codifica a isoamilase foi clonado usando uma sonda PCR gerada de regiões altamente conservadas de enzimas amilolíticas. A isoamilase ativa foi expressa em fragmento Pst I de 4,9-kb em Escherichia coli e detectada em testes de placas de petri . A isoamilase purificada de Flavobacterium sp apresenta atividade ótima em pH 6,3 e a 40 oC . A enzima apresenta estabilidade na faixa de pH 6,0 a 10 . A isoamilase é termosensível sendo inativada após 1 hora de tratamento térmico, na ausência de substrato, em temperaturas superiores a 50 oC . A enzima amilolítica desramificante de Flavobacterium sp hidrolisa as ligações α-1,6 glicosídicas do amido e do glicogênio e oligossacarídeos derivados, porém não hidrolisa o pululano em maltotriose . A sequência de nucleotídeos do gene iam de 2334 nucleotídeos codifica 778 aminoácidos e apresenta conteúdo de CG de 69%. A análise da sequência sugere que o controle de transcrição do gene iam de Flavobacterium sp é mediado através do produto de um gene regulatório malT. A sequência de aminoácidos deduzida do iam contém um peptídeo sinal Nterminal de 32 aminoácidos que apresenta 61% de homologia da isoamilase de Pseudomonas amyloderamosa. A enzima cujo gene foi clonado e expresso em E.coli , foi purificada até homogeneidade e apresentou peso molecular de 83kDa e atividade ótima na faixa de pH 6,07,0. A isoamilase recombinante obtida apresentou alta atividade sobre as ligacões α-1,6 glicosídicas do glicogênio mas não hidrolisou o pululano. 43 IMMOBILIZATION OF CGTase AND PRODUCTION OF CYCLODEXTRINS IN A FLUIDIZED-BED REACTOR Paulo W. Tardioli, Gisella M. Zanin, and Flávio F. de Moraes * Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 – MARINGÁ-PR; fone (+55) 44 263 2652; fax (+55) 44 261 4447; e-mail: [email protected] Cyclodextrins (CDs) are cyclic oligosaccharides, formed by a variable number of glucose units, linked to each other by α – 1,4-linkages. The most common are constituted by 6, 7 and 8 glucose units and are denominated α-CD, β-CD and γ -CD, respectively. They are produced by the action of the enzyme Cyclodextrin Glycosyltransferase (CGTase) on starch previously liquefied. Owing to the fact that CDs have an apolar cavity, which favors the encapsulation of a great variety of organic molecules, they have countless applications in the pharmaceutical, food and cosmetics industries, among others. In this work, the main objective was to study the production of CDs in a fluidized bed reactor, as a function of the residence time of the substrate in the bed of particles. CGTase was immobilized into controlled-pore silica (CPS) particles having a mean diameter of the order of 0.42 mm. CGTase originally from Bacillus alkalophilic sp., and cloned in Escherichia coli, was supplied by WACKER, with 193.1 mg of protein/g of liofilized enzyme and specific activity of 63.1 µmols of β-CD/(min.mg of protein), determined at 50 oC and pH 8. The enzyme was purified by biospecific affinity chromatography, using Sepharose 6B as support and β-CD as the immobilized ligand. Afterwards, CGTase was immobilized into CPS by covalent bonding, using the silane-glutaraldehyde method. The purification showed a purification factor of 1.2 with an activity recovery of 72%. From the total protein submitted to purification, 94% was recovered, and 65.3% of this total corresponded to the enzyme CGTase. An enzymatic solution with 1.64 mg of protein/mL of solution was obtained with a specific activity of 73.8 µmols of β-CD/(min.mg of protein ). In the immobilization of CGTase, the yield of protein fixation was 28.9 %, producing an immobilized enzyme with 4.7 mg of protein/g of dry support and an activity of 8.6 µmols of β-CD/(min. gEI), which corresponds to an activity yield of 2.5%. The recovery of the total activity offered to immobilization was 28.7%. The production of CDs was made at 50 oC, varying the immobilized enzyme load inside the reactor and fixing the porosity of the liquid-solid fluidized bed at 0.5. The substrate used was a solution of dextrin 10 (FLUKA) 100 g/L, with tris-HCl buffer, pH 8, 0.01 M and calcium chloride 5 mM. Samples were collected at the effluent of the reactor and the concentrations of β-CD and γ -CD were determined by colorimetric methods using the dyes phenolphthalein and Bromocresol green, respectively. The maximum conversion of the dextrin to CDs, in the fluidized bed reactor, with immobilized CGTase, was about 17%, in which case the residence time was approximately 13 minutes. The production of β-CD was approximately four times superior to that of γ -CD, showing that this enzyme is a β-CGTase. The maximum production of β-CD was 11 mM, representing 80% of the total CD produced. With a residence time of approximately 4 minutes, the substrate conversion to CDs was around 15% (10.4 mM of βCD and 2.3 mM of γ -CD). The productivty of the fluidized-bed reactor in this condition, 52 and 13 g of β-and γ -CD/(L. min), is 6,500 times higher than that obtained with a batch process 44 with free enzyme, and 24 h of reaction time. This result demontrates the superior quality of the fluidized bed reactor with immobilized enzyme to produce cyclodextrins. CASSAVA STARCH MALTODEXTRINIZATION THROUGH THERMO-PRESSURIZED AQUEOUS PHOSPHORIC ACID HYDROLYSIS# José D. Fontana 1*, Mauricio Passos1, José Luiz F. Trindade2 and Luiz P. Ramos2 1* LQBB – Biomass Chemo/Biotechnology Laboratory. Department of Biochemistry, Biological Sciences Sector, UFPR – Federal University of Parana, PO Box 19046 – CURITIBA, PR, BRAZIL (81531l-990) – e-mail: [email protected] 2 CEPESQ – Research Center on Applied Chemistry, Department of Chemistry, UFPR – PO Box 19081 – CURITIBA, PR, BRAZIL (81531l-990) e-mail: [email protected] Classic mineral catalysts for phytobiomass polysaccharides depolymerization are sulphuric and hydrochloric acids. The last is the actual catalyst used for both maize (CPC, Balsa Nova PR) and cassava (INDEMIL, Paranavaí - PR), rendering concentrated glucose syrups from the respective starch components. Aqueous thermopressurized phosphoric acid (OPA) is a pioneering technology developed for the selective depolymerization of the hemicellulose fraction (heteroxylan) from sugarcane bagasse {Fontana et al., Bioeng. Biotechnol. Symp. 14 (1981) 175-196} producing a free xylose syrup along with a residual lignocellulose with improved digestibility for ruminant animals {Fontana et al., Appl. Biochem. Biotechnol., 51/52 (1995) 105-116}. This same catalyst was also employed by us for the monomerization of dahlia inulin to a fructose syrup and this was obtained under hydrolytic conditions milder than those usually used for xylans {Hauly et al.., ibidem, (1992) 34/35, 292-308}. In continuation to our preliminary work, kinetic conditions were established for the depolymerization of cassava starch regarding the production of maltodextrins and glucose syrups. TLC and HPLC analyses corroborated that the proper H3PO4 strength and thermopressurization range (e.g., > 150°C; > 3.7 atm) can be succesfully explored for such a purpose. Since phosphoric acid can be advantageously mantained in the hydrolyzate and generates, after controlled neutralization with ammonia, the strategic nutrient triplet for industrial fermentations (C, P, N), this pretreatment strategy can be easily recognized as a recommended technology for most plant polysaccharides. As compared to the classical catalysts, the mandatory desalting step (chloride removal by expensive anion exchange resin or sulphate precipitation as the calcium insoluble salt) can be avoided. Furthermore, phosphoric acid is well know as an allowable additive in several popular softdrinks like the “colas” since its acidic mouthfeel is compatible and/or sinergistic with both natural and artificial sweeteners. Glucose syrups from OPA-hydrolyzed cassava starch have also been upgraded to high-value SCP (Single Cell Protein) as the pigmented yeast biomass of Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous), whose astaxanthin (dihydroxy-diketo- β-carotene) content may reach 0.5-1.0 mg / g dry yeast cell. This is in fact an ideal complement for animal feeding as a natural staining for both fish farming (meat) and poultry (eggs). (#) patent request being addressed do INPI; Funding: CNPq-PADCT, PRPPG-UFPR. 45 PRODUÇÃO DE POLIHIDROXIALCANOATOS EM BIORREATOR TIPO AIRLIFT Tavares, L.Z *; Pradella, J. G da Cruz. Agrupamento de Biotecnologia/DQ - IPT; Cidade Universitária; Caixa Postal 0141; 01064-970 - SÃO PAULO - SP - BRASIL O presente trabalho tem por finalidade verificar a eficiência de biorreator tipo Airlift (1) na produção de polihidroxialcanoatos ( poli-3-hidroxibutirato e seu copolímero poli-3hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato), pela bactéria Alcaligenes eutrophus DSM 545(2), principalmente no que se refere à influência da taxa de aeração na síntese de produto. Os ensaios foram conduzidos em um biorreator tipo Airlift de bancada com capacidade de 10L de volume útil (modelo E10A da B.Braun, Alemanha). Foram determinados nos respectivos ensaios a biomassa residual, açúcares presentes no meio (glicose e frutose), quantidade de polímero produzido e nitrogênio residual. Análises de ácidos foram conduzidos em ensaios onde a limitação de oxigênio foi verificada. Pela análise dos resultados, foi possível verificar que o acúmulo de produto é extremamente prejudicado quando o sistema é aerado com 12 L/min de ar, ou seja, há uma limitação de oxigênio muito severa para a síntese de produto. Assim, a bactéria não consegue acumular a quantidade de polihidroxialcanoatos esperada. Para vazões de ar mais elevadas, não se verificou este tipo de comportamento. Além disso, a análise dos ensaios demonstra que provavelmente, pequenas quantidades de aporte de oxigênio não limitantes podem proporcionar um aumento da atividade de acúmulo da bactéria, fato que sugere a existência de um vazão de ar específica a ser empregada que maximiza a velocidade de síntese de produto no acúmulo. Os ensaios conduzidos em biorreator Airlift conseguiram proporcionar condições adequadas para que a bactéria crescesse com a sua velocidade específica máxima. Portanto, o biorreator Airlift parece ser uma alternativa viável à produção de polihidroxialcanoatos. (1) CHISTI, M. Y., 1989. “Airlift Bioreactors”. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York., 345p. (2) BYRON, D., (1990). “Industrial production of copolymers from Alcaligenes eutrophus”. In: Novel biodegradable microbial polymers. DAWES, E. A. (ed), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 113-117, 1990. 46 HIDRÓLISE DA FÉCULA DE MANDIOCA 15 E 30% EM REATORES BIFÁSICO E TRIFÁSICO UTILIZANDO AMILOGLICOSIDASE IMOBILIZADA EM QUITINA Soares, V.F.; Freire, D.M.G, e Bon, E.P.S. Laboratório de Tecnologia Enzimátiva, Instituto de Química, UFRJ, CT, Bloco A, Ilha do Fundão, 21949-900 - RIO DE JANEIRO - RJ E-MAIL: [email protected] Amiloglicosidase foi produzida no nosso laboratório utilizando uma cepa de Aspergillus awamori. A enzima foi purificada em Bio gel P-6 e foram determinados os seus parâmetros cinéticos e estabilidade ao pH e a temperatura. Para imobilização da glicoamilase em quitina procedeu-se segundo Bom, E.P.S. et al, tendo sido entretanto otimizada a relação enzima/suporte a partir de dados de atividade biocatalítica e a eficiência de imobilização. O biocatalisador imobilizado (IME) foi testado em dois tipos de reatores contínuos avaliando-se o seu desempenho quando carga de 54 g/L de IME e alimentação com fécula de mandioca 15 e 30% foi usada. Investigou-se o seu comportamento, através do acompanhamento de sua estabilidade em condições de operação contínua por 20 dias. No reatores trifásico a enzima imobilizada apresentou uma queda expressiva de atividade, enquanto que no reator bifásico a estabilidade manteve-se com tempo de meia vida estimado em cinco meses de operação contínua. 47 KRAFT PULP BIOBLEACHING BY PHENOL OXIDASES Maria Eleonora A. de Carvalho1*; Milva C. Monteiro2; Geraldo L. Sant’Anna Jr.2 1 Depto de Biotecnologia; Faculdade de Engenharia Química de Lorena; Rod. ItajubáLorena, Km 74,5; CP 116; CEP 12.600-000 - LORENA - SP; fone (+55) 12 553-3422; fax (+55) 12 553-3165; e-mail: [email protected] 2 Depto de Engenharia Química; COPPE; UFRJ; RIO DE JANEIRO - RJ Cellulosic pulp and paper productions yield millions of dollars every year. This sector is one of the most successful of the global economy. Millions of tons of pulp and paper are produced, market and consumed daily. On the other hand, the cellulosic and paper industry presents a great power of pollution. The use of chlorinated compounds, as the main bleaching reactant, is responsible for large quantities of polychlorinated organic compounds detected in the sludge from bleached Kraft pulp and paper mills. These chlororganics compounds include 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxina (TCDD), 2,3,7,8 tetrachlorodibenzofuran (TCDF) and others toxic compounds with molecular weights less than 1,000, that can be accumulated by the organisms. New technologies were developed to reduce and eliminate the use of chloro related compounds: use of anthraquinone in the Kraft pulping; substitution of conventional bleaching by elemental chlorine free (ECF) and total chlorine free (TCF) bleaching sequences; wood chips biodegradation by the white-rot fungi; pulps biobleaching by xylanase and phenol oxidase enzymes, and others. In these studies, the effects of enzymatic pretreatments associated to chemical bleaching sequences for biobleaching of eucalyptus Kraft pulps were investigated. The phenol oxidase enzymes were separately applied on pulps before ECF bleaching sequences. The kappa number of the pulps wasn’t reduced by pretreatment using lignin peroxidases (LiP) and manganese-dependent peroxidases (MnP) enzymes. However, the pulp viscosities were preservated and brightness values were compatible with the standard bleaching. Laccase biobleaching were performed using enzyme loads of 2 and 5 U laccase/g pulp basis, associated to the ECF bleaching sequences. The use of 2,2’-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6sulfonate) (ABTS) together with laccase increased the pulp delignification during the bleaching. However, the results showed that laccase can be applied on pulp pretreatments, without ABTS and at alkaline conditions, using a short time reaction. At these biobleaching conditions, the kappa number reduction was improved and brightness values of about 90% ISO were achieved. This biotreatment also made possible the ClO 2 load reduction. The results indicated that enzymatic bleaching can be used in either of the two strategic manners: to obtain an increase of the brigthness values or to reduce the kappa number. 48 CORN STEEP LIQUOR FOR LACCASE PRODUCTION Maria Bernadete de Medeiros * e Maria Eleonora A. de Carvalho Depto de Biotecnologia; Faculdade de Engenharia Química de Lorena; Rod. ItajubáLorena, Km 74,5; CP 116; CEP 12.600-000 - LORENA - SP; fone (+55) 12 553-3422; fax (+55) 12 553-3165; E-mail: [email protected] Laccase (EC 1.10.3.2) is a phenol oxidase. This enzymes is able to oxidize compounds containing phenolic hydroxyl groups, including lignin model compounds, and is thus considered to have a role in lignin biodegradation. Due its lignin depolymerization properties and its ability to agglutinate yours derived the laccase can be used in treatment of the effluents with phenolic compounds. However, to support the industrial microbiology market the laccase production needs to have its cost reduced. The white-rot fungus Pleurotus ostreatus URM 1513 produces about 1200 U.L -1 of laccase activity under proper nutrient conditions. Components of the medium, such as nitrogen source and amino acids influence laccase biosynthesis. Expensive yeast and peptone extracts have been used to provide these nutrients. Because the cost of the medium is one of the principal factors that determines the economic viability of the enzyme production, it is very important that low cost medium components supply all the nutritional requirements for good growth of fungi and enzyme activities. Corn steep liquor is a major byproduct of corn starch processing and is an inexpensive source of such nutrients. These studies showed that a low-cost medium containing corn steep liquor as single nutrient source and black liquor, from pulp bleaching, as inducer was similar in performance to a nutrient-rich medium. 49 DETECTION OF HYDROXAMATES AND CATHECOLS SIDEROPHORES SECRETED BY LIQUID CULTURES OF WOOD ROTTING FUNGI Napoleão, D.A.S, Machuca, A., Milagres, A . M.F.* Dept. of Biotechnology, Faculdade de Engenharia Química de Lorena – Faenquil; CP 116; 12600-000 - Lorena – SP - BRASIL Iron is necessary for microbial growth, however it exists in nature predominantly as the insoluble ferric form which is not readily available for assimilation. One mechanism, by which microorganisms may require iron is through the secretion and reabsorption of specific iron chelators, termed siderophores. Siderophores can be classified chemically into two major categories: the hydroxamic acids and the phenolates, with few exceptions, siderophores are produced by all aerobic and facultative anaerobic microorganisms. In despite of several studies related to siderophore production and molecular regulation by many fungi, little is known about siderophore production by wood-rotting fungi. Some studies have suggested that these chelators are involved in the initial phase of wood degradation. The purpose of this work was to describe the production of siderophore by two basidiomycetes degrades of wood: Wolphiporia cocos (brown-rot) and Trametes versicolor (white-rot). Fungi were cultivated in malt extract liquid medium during 30 days at 28 oC, in stationary conditions and samples were analyzed each 5 days. Culture supernatants were assayed for siderophores by the chrome azurol S (CAS) assay, a nonspecific assay for siderophore. The specific assay of Arnow was utilized for the detection of catechol-type siderophore and for detection of hydroxamate derivatives were used the Csaky and adapted method of Lowry. The supernatants of these cultures were ultrafiltrated using a membrane with 5 kDa molecular weight cut-off and the siderophores assays were also determined in the filtrates (< 5 kDa). W. cocos produced the highest CAS reaction simultaneously reducing the pH of the malt extract medium from 5.5 to 2.8. The pH decrease was attributed to the presence of oxalic acid, which could react to CAS and intensified the reaction. T. versicolor did not react to CAS; however, the presence of low molecular weight compounds (< 5 kDa) with oxidizing activity was detected in its extracellular extracts. W. cocos extract (< 5 kDa) reacted to all the methods for siderophore detection suggesting the presence of two types of siderophore: catechol and hydroxamate. T. versicolor ultrafiltrate reacted to Csaky’s and Lowry’s method suggesting the structure of a compound of the hydroxamate type. Acknowledgements: FAPESP, CNPq, SCT-FAENQUIL 50 51 52 INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE GROWTH AND XYLANASE AND β-XYLOSIDASE PRODUCTION BY Aspergillus fumigatus. Nélio S. Girardo; Cinthia G. Boer; Cristina G. M. de Souza and Rosane M. Peralta Depto. de Bioquímica; Universidade Estadual de Maringá; 87.020-900 - Maringá - PR BRASIL; fone/fax:55442614715; e-mail: [email protected] A variety of microorganisms including filamentous fungi have been reported to produce xylanolytic enzymes. The potential applications of xylanases with or without cellulase include the bioconversion of lignocelluloses to sugar, ethanol and other useful substances.. In recent years, interest has been growing in xylanases free of cellulases to remove xylan selectively from lignocellulose without affecting the cellulose fibre length. Efforts are under way to obtain either cellulase--free mutants or genetically engineered microorganisms or to develop an inexpensive procedure for the recovery of pure xylanase from the fermented mass. Alternatively the naturally occuring microrganisms able to producing cellulase-free xylanase may be attractive and may overcome many of the limiting conditions associated with the other approaches. The screening of microrganisms producer of thermostable xylanases make possible the use of enzymes at high temperatures over prolongued periods of time enhancing both the technical and economic feasibility of the hydrolysis process. The study of soil microorganism xylanases is particularly interesting because heat resistance has been demonstrated in different soil fungi. The genus Aspergillus is an efficient producer of such enzymes and many different species had been previously investigated. Then, the purpose of this study was to investigate the ability of Aspergillus fumigatus, a filamentous fungi isolated from soil, to produce xylanases under two different culture temperatures 30 o and 42o C. For production of the extracellular xylanolytic complex , Aspergillus fumigatus was grown in 250 ml Erlenmeyer flasks containing 50 ml of mineral medium and xylan at 1% or corn cob power at 3% as the carbon source. The cultures were incubated at 30 or 42ºC on a rotary shaker at 120 rpm and at periodic intervals, the mycelia were removed from the culture media by filtration. To determine the dry weight of the mycelia, they were dried overnight at 60o C. The filtrates were assayed for xylanase, β-xylosidase and proteolytic activities. At 42 o C, fungal growth appeared from the first hours of fermentation while at 30 o C there was a long lag phase retarding the growth in several hours. In both conditions however, the production of maximum xylanase activity was similar (about 100 U/ml). The production of extracellular βxylosidase activities by 42 o C cultures were about 4 times superior than those obtained from 30o C cultures. Low and similar levels of proteolytic activitiy were found in the culture filtrates developed under two temperature conditions. The culture filtrates were concentrated by acetone and analyzed by electrophoresis under nondenaturing conditions. In spite of different protein patterns have been obtained under the two different growth temperature, two xylanases and one β-xylosidase with similar electrophoretic mobilities were detected by using zymogram technique. The hydrolysis products of xylan after treatment with xylanolytic system obtained from two different culture conditions were analyzed by paper chromatography. It is interesting to notice that the main product was xylose, especially after treatment with 42 o C culture filtrate. Our results showed that the pattern of secretion of xylanolytic enzymes was affected by the growth temperature. Supported by: CNPq and UEM 53 MODELING OF RUMINOCOCCUS ALBUS GROWTH ON MIXED SUBSTRATES Alexander D. Kroumov1* 1* Dep. of Chemical Engineering; State University of Maringá; Colombo str., 5790; 87020-900 - MARINGÁ – PR – Brazil; phone (+55) 44 263 2652; Fax (+55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] A model was developed for mixed substrates (cellobiose and xylose) utilization by Ruminococcus albus B199. The model describes regulatory mechanisms of induction – repression processes taking into consideration the available knowledge of catabolic pathways and changes of the key enzyme activity which is considered to be rate-controlling step for the utilization of the non preferable substrate (xylose). Specific growth rate on mixed substrates was established as an additive function of growth rates on single substrate. Product formation rate of Ruminococcus albus B199 could be described as partially linked with specific growth rate or more precisely, linked with substrate utilization rate. By using material balances the kinetics of mixed substrates utilization, growth and product formation in batch and continuous processes were investigated. Different experiments (batch and pulse) were carried out for parametrical identification and proving validity of the chosen hypothesis. The developed model was a useful tool for microbial kinetic experimental design and biochemical study of key enzymes involved in metabolic regulation of Ruminucoccus albus B199. On the other hand, these results were successfully used for study on the molecular level of gene expression in term of strain modification. 54 UTILIZAÇÃO DE MODELOS GAUSSIANOS NA REPRESENTAÇÃO DA CINÉTICA MICROBIANA Pedro Sérgio Pereiralima* e Manuel Filgueira Barral Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.; Caixa Postal 0141; 01064-970 - SÃO PAULO - SP - BRASIL Os processos biotecnológicos, objetos deste estudo, são aqueles de conversão de substratos em produtos pelo metabolismo de microrganismos cultivados num reator homogêneo em condições determinadas via batelada alimentada. Genericamente, tais processos podem ser descritos pelas equações de conservação de massa acrescidas de expressões cinéticas que descrevem as velocidades específicas de conversão representando o comportamento do microrganismo. O conhecimento da cinética microbiana constitui a base para o projeto, operação, otimização e controle de bioreatores. Desde finais do século XIX, até o momento, vários modelos têm sido propostos para caracterizar o crescimento e formação de produtos segundo óticas distintas. Esses modelos são agrupados pela literatura em modelos estruturados, não estruturados, segregados e não segregados. Os modelos estruturados vêm sendo mais estudados nos últimos anos dada sua capacidade de descrição das condições transientes do metabolismo dos microrganismos durante o seu cultivo. No entanto, devido à sua complexidade de formulação, bem como à dificuldade na determinação de constantes cinéticas intrínsecas, esses modelos ainda apresentam pouca aplicação prática. Os modelos não estruturados, embora reconhecidamente não sejam adequados para representar o crescimento não balanceado, ou seja, condições de crescimento com mudança na composição e tamanho das células, vêm sendo propostos e utilizados para o projeto e controle de bioreatores. Estes apresentam formulações distintas mas podem ser genericamente agrupados como modificações do modelo de Monod, incluindo fenômenos como limitação por múltiplos substratos e/ou inibição por substrato e produto. Alternativamente a esses modelos cinéticos não estruturados clássicos propõe-se aqui modelos denominados gaussianos para a representação das cinéticas de crescimento e formação de produtos. A função gaussiana é comumente utilizada para indicar distribuição de eventos aleatórios. Em lugar de se usar o valor da concentração do substrato ou produto, toma-se o logaritmo neperiano do mesmo como argumento da função de Gauss. 55 MODELAGEM MATEMÁTICA DO CRESCIMENTO DE CÉLULAS DE HIBRIDOMA PARA PRODUÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL Danidtza Suárez*, Elisabeth F. P. Augusto, Margarette S. Oliveira, Patrícia. R. Vilaça, Antonio M. F. L. J. Bonomi* *Agrupamento de Biotecnologia da Divisão de Química; IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A; Caixa Postal: 0141; 01064-970 - São Paulo – SP - BRASIL; e-mail: [email protected] A eficiência dos processos de produção de anticorpos por células de hibridoma pode ser incrementada por estratégias de planejamento e controle baseadas em modelos matemáticos. Para tanto, é requerido um modelo cinético acurado que descreva o comportamento das variáveis características deste metabolismo celular. Neste trabalho foi desenvolvido um modelo matemático fenomenológico, não estruturado para representar adequadamente o crescimento de células de um tipo de hibridoma. Para formular o modelo proposto foi considerado o fato de que glicose e glutamina são substratos limitantes do crescimento destas células e que ácido láctico e amônio são subprodutos de metabolismo. O modelo proposto é composto por 6 variáveis de estado (concentrações de células vivas, células mortas, glicose, glutamina, ácido láctico e amônio), 15 parâmetros ajustáveis e 4 parâmetros fixos. Os ensaios utilizados para gerar os dados experimentais foram realizados em biorreator B. BRAUN MD de 2 L, a 37°C, pH = 7,2 e meio de cultura DMEM. As concentrações de células vivas e mortas foram determinadas em hemacitômetro com exclusão por Tripan Blue, glicose e ácido láctico foram dosados por HPLC e amônio por eletrodo específico. O ajuste dos parâmetros das equações diferenciais ordinárias ao conjunto de dados experimentais foi realizado por regressão não-linear aplicando o algoritmo de otimização do método de busca direta de “ordem zero” dos poliedros flexíveis (Nelder & Mead). Utilizando o modelo proposto conseguiu-se uma boa representação dos dados experimentais pelo modelo. 56 MODELAGEM DA ULTRAFILTRAÇÃO DO SUCO DE ACEROLA EM MEMBRANA CERÂMICA S. T. D. Barros 1*, E. S. Mendes 1 ,Cid M. G. Andrade 1 e L. Peres 2 1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900-MARINGÁ - PR; fone: (44)261 4323; fax: (44)261 3440;email:[email protected] 2 Departamento de Tecnologia de Polímeros, UNICAMP - SP O processo de separação por membranas, uma tecnologia relativamente nova, tem despertado grande interesse, tanto acadêmico como industrial. Apresenta vantagens e desvantagens quando comparada às outras tecnologias que podem desempenhar tarefas similares. Para uma avaliação disto, faz-se necessário estudos envolvendo modelos físicos e matemáticos. Neste trabalho apresentamos o modelamento matemático do processo de separação por membranas tipo cerâmica, onde a força motriz é a pressão, o fluxo permeado é cruzado em relação ao escoamento da solução e resistência ao escoamento do permeado estimada, experimentalmente, adota o modelo de resistência em série. Obteve-se, experimentalmente, a resistência intrínseca da membrana e a resistência do "fouling" sendo possível então a obtenção do fluxo permeado como função da pressão transmembrana. Obteve-se também a taxa de decaimento do fluxo permeado que caracteriza o regime transiente. 57 ESTERIFICAÇÃO EM FASE GASOSA CATALISADA POR LIPASES SUPORTADAS EM FASE SÓLIDA Victor Haber Pérez1*, Gustavo Paim Valença2, Everson Alves Miranda3 1* Depto. de Processos Biotecnológicos; Faculdade de Engenharia Química; Universidade Estadual de Campinas; Cidade Universitária “Zeferino Vaz”; Barão Geraldo s/n; CP 6066; Campinas – SP; fone (+55) 19 788 3970 e-mail:[email protected] 2 Depto. de Processos Químicos; Universidade Estadual de Campinas; Campinas – SP 3 Depto. de Processos Biotecnológicos;Universidade Estadual de Campinas;Campinas-SP A aplicação de enzimas suportadas em uma fase sólida catalisando reações com substratos e produtos em fase gasosa constitui um avanço recente na bioengenharia de processos devido às suas importantes aplicações tecnológicas. Este trabalho apresenta, os resultados experimentais do estudo cinético da reação de síntese em fase gasosa de ésteres a partir de álcoois e ácidos carboxílicos catalisada por lipases suportadas em óxidos mistos de SiO 2 e MgO, além de aspectos teóricos referentes a este tipo de biocatálise. A reação estudada é a síntese de acetato de etila por ser, além de uma reação relativamente simples, este composto um aroma importante na industria de alimentos. Inicialmente foi realizada uma seleção entre lipases de diversas origines. Somente aquelas que apresentaram melhor desempenho em função da sua atividade catalítica específica, de acordo com o método fotocolorimétrico da hidrólise de paranitrofenilpalmitato em ácido palmítico e paranitrofenol, foram escolhidas para o trabalho. As lipases selecionadas foram imobilizadas em suportes inorgânicos com diferentes graus de basicidade: sílica(SiO 2) e magnésia (MgO), além de óxidos mistos formados por combinações duas a duas destes óxidos puros, para avaliar o efeito do caráter ácido-base. Os suportes foram preparados de acordo com uma razão nominal MgO/ SiO 2 de 1:0; 1:1; 1:4; 4:1; 8:1 e 0:1, enquanto que as lipases foram imobilizadas em função do ponto úmido destes suportes. Estes suportes foram caracterizados por difração de raios X. A atividade do biocatalisador na formação de acetato de etila com o sistema gasoso foi avaliada em função da temperatura de reação em um reator tubular de vidro operando na forma diferencial. 58 APLICAÇÃO DE UM BIORREATOR AIRLIFT COM CIRCULAÇÃO EXTERNA EM FERMENTAÇÕES COM RALSTONIA EUTROPHA Márcia R. S. Pedrini; José A. R. de Souza; Gláucia M. F. Aragão e Agenor Furigo Jr.* Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos; Centro Tecnológico; Universidade Federal de Santa Catarina; Caixa Postal 476; 88040-900 FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; E-mail: [email protected] A bactéria Ralstonia eutropha (Alcaligenes eutrophus) é utilizada para a produção de poli-βhidroxibutirato (PHB) que é uma substância de reserva de carbono e energia acumulada no interior das células de diferentes microrganismos em condições de limitação nutricional. Este polímero apresenta propriedades termoplásticas próximas às apresentadas pelo polipropileno com a vantagem de ser biodegradável. O uso de fermentadores não convencionais do tipo airlift pode ser indicado para a produção do PHB por diminuir o atrito em relação ao provocado pelo dispositivo de agitação dos biorreatores convencionais. A agitação nos fermentadores convencionais pode provocar o rompimento das células dos microrganismos liberando o PHB intracelular para o meio de cultura, dificultando a recuperação do produto. Outro fator importante é que a otimização do processo produtivo do PHB passa pela realização de culturas de alta concentração celular, onde é necessário manter uma elevada transferência de oxigênio que pode ser favorecida em biorreatores do tipo airlift. Neste trabalho, é estudado a fase de crescimento de Ralstonia eutropha em glicose utilizando-se um biorreator airlift com circulação externa. Para comparar o desempenho deste processo em batelada com um processo realizado em biorreator convencional, foram utilizadas a velocidade específica crescimento da fase exponencial ( µM) e a conversão do substrato em biomassa (Y x/s). Os resultados da velocidade específica crescimento da fase exponencial ( µM) e do fator de conversão da glicose em biomassa (Y x/s) obtidos foram de, respectivamente, 0,16 h-1 e 0,46 g/g (em média), que correspondem ao valores encontrados no fermentador agitado clássico utilizando o mesmo microrganismo, meio de cultura e condições físico-químicas. Os resultados semelhantes indicam que, além de uma boa homogeneização do meio de cultivo, não houve limitação do crescimento do microrganismo em relação ao fornecimento de oxigênio. Conclui-se, então, que as condições de transferência de massa foram adequadas em fermentador airlift em escala laboratorial, onde as condições de agitação são inferiores às encontradas em fermentadores agitados clássicos de pequeno porte. 59 PRODUCTION OF TRANSGALACTOSYLATED OLIGOSACCHARIDES (TOS) BY β-GALACTOSYLTRANSFERASE ACTIVITY FROM Penicillium simplicissimum Cruz, R.*; Cruz, V. D.; Belote, J. G.; Khnayfes, M. O.; Dorta, C.; Santos, L. H. O. e Andriolo, C. R. Universidade Estadual Paulista – UNESP, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, Departamento de Ciências Biológicas; Av. Dom Antônio, 2100; CP 335; 19806-173 - Assis SP - Brazil. *Corresponding author. e-mail: [email protected] Ingestion of transgalactosylated oligosaccharides (TOS) and other non-digestible oligosaccharides (NDOs) induces a significant increase in Bifidobacterium, Lactobacillus and some desirable species of Streptococcus populations in the gut of human and other animals (prebiotic effect). This change in the intestinal flora is responsible for a several beneficial physiological effects such as a decrease of putrefactive products in the feces, lower blood cholesterol content, higher Ca 2+ absorption, a smaller loss of bone tissue in ovariotomized female rats and lower incidence of colon cancer. β-Galactosidase from Penicillium simplicissimum, a strain isolated from soil, showed high galactosyltransferase activity when incubated with a highly concentrated lactose solution. Optimum pH and temperature ranges for hydrolytic activity were 4.0-4.6 and 55-60°C, respectively, for a lactose concentration of 5.0% (w/v). Maximal galactosyltransferase activity was obtained at pH 6.5 and 50°C and TOS synthesis was positively associated with lactose concentration in the reaction medium. Thus, when 50 mL of a 60% (w/v) lactose solution was incubated with 26.6 U of β-galactosidase under the best pH and temperature conditions for transferase activity, a final product with 30.5% TOS (183 mg ml-1), 27.5 % residual lactose and 42.0% monosaccharides was obtained. 60 ASPECTOS DA INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO E REPRESSÃO PELA GLICOSE, NO CULTIVO DE A. AWAMORI PARA PRODUÇÃO DE GLICOAMILASE Macedo, G. R . 1*; Facciotti, M. C. R. 2; Schmidell, W.2 1 *(DEQ-UFRN) - Campus Universitário; 59.072-970 - NATAL - RN - BRASIL E-mail:[email protected] 2 (DEQ-EPUSP) Neste trabalho realizou-se o cultivo de Aspergillus awamori NRRL 3112 com o objetivo de produzir glicoamilase, utilizando-se meio à base de farinha de mandioca. Estudou-se aspectos relativos à inibição do crescimento e repressão pela glicose à produção da enzima, em ensaios realizados a partir de crescentes concentrações iniciais de polissacarídeo (S o). Acompanhamos a concentração de açúcares redutores (G), açúcares redutores totais (ART), células(X) e atividade enzimática(A). Verificou-se que a variação da concentração de polissacarídeo(ART), em função do tempo, para todas as condições estudadas, apresenta uma tendência linear e sugere um comportamento paralelo entre os perfis de cada ensaio, pois as equações das retas médias às quais se ajustam os pontos, apresentam um coeficiente angular em torno de 1,73gART/L.h, indicando uma velocidade média de consumo da fonte de carbono dS/dt, constante. Quanto ao perfil de “formação” e consumo de glicose (G) em função do tempo, para todas as condições ensaiadas, observou-se, igualmente, comportamento linear, tanto na fase de glicose crescente quanto na fase de glicose decrescente. Observou-se um comportamento crescente da concentração celular final (X f), em função do aumento de S o, ocorrendo no entanto um decréscimo na velocidade específica máxima ( µmáx). Observa-se também um decréscimo no fator de conversão de substrato a célula (Y x/s) e na produtividade em células (P x). Com relação à produção de glicoamilase, observou-se um aumento da atividade enzimática máxima (A máx) até um determinado valor de S o, na faixa estudada, ocorrendo decréscimo deste valor na situação de maior So adotada. Quanto à velocidade específica máxima de produção da enzima (µAmáx) não se observou um comportamento semelhante ao de µmáx, em função de S o. O fato de ser aproximadamente constante a velocidade média de consumo da fonte de carbono dS/dt, significa que o consumo específico médio deve cair à medida que se adota maiores concentrações de polissacarídeo S o, visto que, para um mesmo ensaio, obtém-se valores crescentes de X em função do tempo. Isto poderia ser a causa de um acúmulo de glicose no meio, chegando a níveis que provocam a inibição do crescimento, traduzidos no comportamento decrescente de µmáx, Yx/s e Px.. Avaliando-se pelos valores de A máx e µAmáx, parece indicar que a repressão à produção de glicoamilase pela presença da glicose é menos acentuada do que a inibição ao crescimento. 61 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA INULINA COMERCIAL POR EXTRATO DE CHICÓRIA NA PRODUÇÃO DE ENDO-INULINASE Regina M. M. Gern 1*; Maria de Fátima Carvalho-Jonas1; Jorge Ninow2; Sandra, A. Furlan1 1* Universidade da Região de Joinville - Campus Universitário s/no, Bom RetiroC.P.1361 - 89.201-972 - Joinville – SC – fone (0xx) 47 461 9034 email: [email protected] 2 Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis - SC As endo-inulinases são enzimas capazes de hidrolisar parcialmente a inulina, polímero de frutose com uma unidade terminal de glicose, produzindo fruto-oligossacarídeos (F n) e glicofruto-oligossacarídeos (GF n). Estes açúcares, denominados inulo-oligossacarídeos, possuem grande potencial de uso na indústria de alimentos devido às suas inúmeras propriedades funcionais, tais como baixo teor calórico, não cariogênico e regulador da flora intestinal, uma vez que estimulam a ação das Bifidobactérias ( VOGEL, 1993). Sendo a inulina comercial um substrato de alto custo para a produção industrial de endoinulinase, o comportamento do microrganismo isolado Paenibacilus sp. CDB 003 foi investigado em meio contendo extrato de chicória como fonte natural de inulina ( MANZONI & CAVAZZONI, 1988). Frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 50 mL de um meio mineral composto de 0,30% de Na2HPO4.2H2O, 0,14% de KH2PO4, 0,02% de MgSO 4.7H2O, 0,04% de CaCl 2.2H2O, 0,10% de (NH 4)2SO4, 0,10% de extrato de levedura, 0,2% de ácido succínico e 2 mL/L de elementos-traço, foram acrescidos de 50 mL de uma solução de extrato de chicória contendo 10 g/L de inulina e inoculados com 1 mL de uma suspensão de células do isolado CDB 003 incubadas “overnight”. Os frascos foram mantidos a 50 oC, em incubadora Certomat HK - B. Braun e agitados em agitador de movimento rotatório Certomat U - B. Braun, a 160 min -1, por 48 horas. Os resultados foram avaliados em termos de consumo de substrato, crescimento celular e produção de endo-inulinase, avaliada através da análise dos produtos da hidrólise da inulina pelo sobrenadante do caldo de fermentação, em cromatografia de camada delgada (TLC). A comparação dos resultados foi realizada em relação a um meio controle contendo inulina comercial. As curvas de crescimento celular e consumo de substrato nos meios de cultivo contendo inulina comercial e inulina proveniente do extrato de chicória, apresentaram a mesma tendência. Também a análise dos produtos da hidrólise da inulina pelo caldo enzimático mostrou que os resultados obtidos quando da utilização do extrato de chicória, foram similares àqueles observados no meio contendo inulina comercial. O extrato de chicória mostrou-se, então, apropriado para ser utilizado na produção de endoinulinase pelo microrganismo isolado Paenibacilus sp. CDB 003, por tratar-se de uma fonte natural de inulina, de custo inferior ao da inulina comercial. MANZONI, M. & CAVAZZONI, V. Extracellular Inulinase from Four Yeasts. Lebensm. Wiss. Technol., v.21, p.271-274, 1988. VOGEL, M. A Process for the Production of Inulin and its Hydrolysis Products from Plant Material, p65-75. In: FUCHS, A. (Ed.) Inulin and Inulin - containing Crops. Elsevier Science Publishers, 1993, 417 p. 62 LIPASE PRODUCTION BY Penicillium restrictum USING SOLID WASTE OF THE INDUSTRIAL BABASSU OIL PRODUCTION Márcia Brandão Palma1 ; Andreas K. Gombert 2 ; Karina H. Seitz3 ; Sílvia C. Kivatinitz4 ; Leda R. Castilho5 e Denise M. G. Freire 5* 1 Depto. de Enga. Química – Universidade Regional de Blumeau – BLUMENAU – SC 2 Depto. de Enga. Química – Universidade de São Paulo – SÃO PAULO – SP 3 Depto. de Enga. Química – Universidade Federal de Mar del Plata – ARGENTINA 4 Depto. de Bioquímica – Universidade Federal de Córdoba – ARGENTINA 5 Faculdade de Farmácia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Ilha do Fundão – 21944-910 – RIO DE JANEIRO– RJ – Fone: (+55) 21 260 9192 – Fax: (+55) 21 260 2299 e-mail: [email protected] Large amounts of industrial processes use SSF technology to obtain interesting products for the humanity such as foods, organic acids, enzymes and compostage of industrial and domestic waste. The main objective of the present work is to compare the production, in SSF, of lipases and another hydrolases by a strain of Penicillium restrictum by using different conditions of medium supplementation. A solid waste of industrial production of babassu oil, from which the strain used has been isolated, was employed as the nutrient source. This medium was inoculated with 1x10 6 spores per g of substrate and supplemented with peptona, olive oil or Tween 80 (1%w/v). The moisture of the different medium was 70%. Experiments were conducted for 63 h/30 oC under static conditions with forced aeration using humidified air. In all the medium were determined moisture level, pH, lipidic material consume, biomass (express like glucosamine) and enzymatic activity (lipase, protease and glucoamylase) produced during the cultivation (14, 24, 38, 48 and 63 hours). In all cases, supplementation enhanced fungal growth and enzyme synthesis. A peak of lipase activity was observed after 24 hours of cultivation, except for the medium supplemented with Tween, in which lipolytic production occurred earlier (20 hours). The medium supplemented with peptone provided the maximum lipase activity (28 U/g). The amylase activity was highest (31,8 U/g) in the medium containing olive oil and the proteases were most intensively produced (8,6 U/g) with Tween supplementation. Comparing the enzyme production by this strain of P. restrictum in submerged and solid-state fermentations, it can be concluded that the latter presents a greater technological potential for obtaining extracellular enzymes, such as lipases, proteases and amylases. 63 OTIMIZAÇÃO DE VARIÁVEIS DE UM SISTEMA DE FERMENTAÇÃO EM SUBSTRATO SÓLIDO EM COLUNAS PARA A PRODUÇÃO DE βGALACTOSIDASE DE SCOPULARIOPSIS SP Rodrigo de Oliveira Moraes e Maria Helena Andrade Santana Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, C.P. 6066, CEP 13083-970, Campinas-SP e-mail: [email protected] A enzima β-galactosidase é a responsável pela hidrólise da lactose em glicose e galactose. Na ausência de β-galactosidase, a lactose, açúcar predominante do leite, não é digerida, causando aumento na pressão osmótica dentro do intestino delgado e conseqüentes sintomas de dor abdominal, diarréia e flatulência. Este mal é conhecido como Intolerância à Lactose, e ocorre em aproximadamente 2/3 da população adulta mundial. Estudos anteriores mostraram a capacidade do fungo Scopulariopsis sp de produzir βgalactosidase em Fermentação em Substrato Sólido (FSS). A FSS apresenta como vantagens em relação à Fermentação em Substrato Líquido (FSL) a possibilidade do uso de substratos insolúveis como resíduos agroindustriais, condições de assepsia mais amenas, baixos consumo de água e energia, menor produção de efluentes e volume e custo de equipamentos menores. Como desvantagens, têm-se a dificuldade no controle de temperatura, no escalonamento para plantas industriais e o risco de contaminação devido à baixa taxa de crescimento dos fungos. Dentre os reatores de escala laboratorial, o sistema de colunas de Raimbault apresenta vantagens em relação ao sistema estático convencional em frascos por possibilitar a condução da fermentação em diferentes condições experimentais simultaneamente, em reatores de leito fixo aproximadamente isotérmicos com injeção de ar úmido à vazão controlada. A produção de β-galactosidase foi otimizada através da técnica de planejamento fatorial, em relação aos parâmetros umidade inicial do substrato, vazão de ar e tempo de fermentação, os quais apresentaram maior significância no processo. Os resultados obtidos mostram que, para o tempo de fermentação de 168 horas, os níveis ótimos dos parâmetros são 2,98 L/h de ar e 0,531 de umidade inicial para o substrato em base seca. Nessas condições, a máxima atividade enzimática é de 4,775 UA/mL. Nas condições otimizadas, a fermentação foi caracterizada através dos perfis temporais de atividade enzimática, concentração de proteínas, pH, atividade de água e umidade do substrato. 64 ESTUDO DE DIFERENTES MICRORGANISMOS NA PRODUÇÃO DE PECTINASE POR FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA Adriana B. Dartora1, Telma Elita Bertolin1*, Jorge Alberto Vieira Costa2 e Maurício M. da Silveira3 1* Centro de Pesquisa em Alimentação/CEPA-Universidade de Passo Fundo, Caixa Postal:611-CEP:99001-970; Passo Fundo-RS; e-mail: telma @upf.tche.br 2 Departamento de Engenharia Bioquímica; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Rio Grande-RS 3 Instituto de Biotecnologia-Universidade de Caxias do Sul; Caxias do Sul-RS O Centro de Pesquisa em Alimentação (UPF) juntamente com Instituto de Biotecnologia/Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Laboratório de Engenharia Bioquímica/Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) vem desenvolvendo a produção de pectinase por fermentação semi-sólida (UPF e FURG) e submersa (UCS) visando a utilização da enzima para a extração de óleos essenciais de frutos cítricos. Esta parceria tem a finalidade de estudar o desempenho dos diferentes bioreatores na produção de pectinase: bandeja, coluna, e submerso. O presente trabalho objetivou o estudo de diferentes microrganismos produtores de pectinase em reator tipo erlenmeyer para o posterior estudo nos bioreatores citados. Os microrganismos testados foram: Aspergillus oryzae CCT 3940; Aspergillus niger NRRL 3122; Aspergillus niger, Aspergillus awamori NRRL 3112 e Trichoderma sp. Farelo de trigo foi utilizado como fonte de carbono adicionado de macro e micronutrientes, inoculado com uma suspensão de 1x10 7 esporos/ml, incubado a 30ºC e amostrados entre os tempos de 0 a 142 horas de fermentação. O meio fermentado foi analisado quanto ao teor de umidade, pH, açúcares redutores totais (ART), açúcares redutores (AR) e atividade pectinolítica. Para a determinação da atividade inicialmente realizou-se uma extração a 100 rpm por 30min com tampão acetato pH 4,0. A atividade foi determinada pela medida da variação da viscosidade através do uso de um viscosímetro Brookfield modelo RVDV-II com solução de pectina 1%. A atividade máxima foi alcançada em torno de 96 horas de fermentação e os melhores resultados foram obtidos com os fungos Aspergillus niger e Aspergillus oryzae CCT 3940, com reduções de viscosidade de 90% e 80%, respectivamente. Os demais microrganismos apresentaram redução de viscosidade inferior a 50% (Projeto financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia/RS). 65 IMPORTANT PARAMETERS OF THE CONTINUOUS FERMENTATION OF SUGAR CANE BAGASSE HEMICELLULOSIC HYDROLYSATE FOR THE PRODUCTION OF XILITOL Ernesto Acosta1,2 , Silvio Silvério da Silva*1, Maria das Graças Felipe 1 1* FAENQUIL, Faculdade de Engenharia Química de Lorena, Departamento de Biotecnologia; Rod. Itajubá/Lorena Km 74,5; Caixa Postal 116; 12600-000 - Lorena - SP - Brasil. 2 ICIDCA; Apartado Postal 4026; Vía Blanca y Carretera Central; C. Habana, Cuba. E-mail: [email protected] Agroindustrial residues are generated annually and their use as raw material in technological processes for obtaining products of high added value is gaining interest. Among such residues is sugarcane bagasse, a plentiful biomass with high content of sugars, which can be used for obtaining xylitol by biotechnological means. Xylitol is a polyol with numerous applications. For instance, it can be utilized as a sweetener, with no risk of tooth decay and is ideal for diabetics, obese people and patients with problems in the metabolism of lipids. The aim of this work was to verify the influence of the dilution rate (D) and of the oxygen volumetric mass transfer coefficient (k La) on fermentations of sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate by Candida guilliermondii, for xylitol production. The experiments were performed in 1.25 L lab–scale fermentor (BIOFLO III-NBS-USA) operating at 30 o C and 300 rpm, pH 7.0, kLa 10 and 30 h-1 and D 0.01 and 0.03 h -1. Xylitol volumetric productivity of 0.56 g/L.h was obtained in fermentations with larger D, independently of the k La employed. However, increasing the k La with this dilution rate increased the factor of xylose conversion into xylitol by about 17%. The xylitol production by microbiological means was systematically influenced by the aeration level employed. ___________________________________________________________________________ Acknowledgements: FAPESP/CNPq 66 FORMA DE PRESERVAÇÃO DO MICRORGANISMO E SUA INFLUÊNCIA NA SÍNTESE DE GLICOAMILASE POR Aspergillus Ailto Merlo1; Jesus M.Z. Aguero2; Patrícia R. Vilaça 2; Celso R. D. Pamboukian2; Alberto C. Badino Jr.2; Aldo Tonso2; Willibaldo Schmidell2; Maria Cândida R. Facciotti2* 1 Sadia Concórdia S.A., Indústria e Comércio Departamento de Engenharia Química; Escola Politécnica da USP; Caixa Postal 61548; 05424-970 - SÃO PAULO – S.P; fone (+55) 11 818 2234; fax: (+55) 11 211 3020 2 Dentre as várias características que um microrganismo deve apresentar a fim de que possa ser utilizado em escala industrial, uma das mais importantes é, sem dúvida, a estabilidade fisiológica do mesmo. Em particular, no caso de um metabólito extracelular, é altamente desejável que haja uma regularidade na sua concentração nos cultivos, de forma a facilitar as operações de separação e purificação. O método de preservação do microrganismo, bem como seu tempo de preservação, são fatores que podem interferir diretamente nesta estabilidade, merecendo particular atenção. O presente trabalho apresenta resultados relativos à síntese de gllicoamilase por Aspergillus awamori NRRL 3112, quando cultivado em meio de cultura à base de farinha de mandioca, após preservação segundo dois métodos: repiques em meio sólido e em tubos contendo uma mistura de terra e areia. Verificou-se, para ambos os métodos, uma atenuação da capacidade de produção de glicoamilase, ao longo de 11-12 anos de preservação. Para o microrganismo conservado em terra e areia, obteve-se uma queda de cerca de 60% na produção da enzima, em relação ao resultado inicialmente obtido com a mesma cepa. Por outro lado, no caso da conservação por meio de repiques, observou-se para dois lotes diferentes de microrganismo, comportamentos bastante distintos, obtendo-se no caso A uma produção de apenas 8% em relação à inicial e no caso B cerca de 70% do valor inicial de glicoamilase produzida. Assim sendo, embora não se tenham observado diferenças significativas quanto ao crescimento celular, tais resultados são indicativos da possibilidade de existirem esporos coma habilidades distintas quanto à síntese de glicoamilase. 67 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DO MEIO DE CULTIVO EM FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA DE Aspergillus awamori NRRL 3112 COM A UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA COMO SUPORTE INERTE Casara, J.1*, Schmidell,W.2, Maiorano,A.E.1, Santos,G.M.1 e Bertolin,T. E.3 1* Agrupamento de Biotecnologia - Divisão de Química - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - Caixa Postal 0141-01064-970 - São Paulo - S.P. fone (+55) XX 11 3767 4677 fax (+55) XX 11 3767 4055; e-mail: nicasara@ yahoo.com 2 Escola Politécnica - Universidade de São Paulo 3 Departamento de Engenharia de Alimentos - Universidade de Passo Fundo A utilização do processo de fermentação semi-sólida pelo homem existe desde a antiguidade, principalmente na produção de alimentos tradicionais. Atualmente o interesse pelos processos sólidos de fermentação para a produção de enzimas e outros produtos de alto valor agregado, devido a vantagens como concentração do produto, elevados rendimentos volumétricos, baixo requerimento energético dentre outros, incentivaram estudos que esclarecessem alguns parâmetros deste tipo de processo. No presente trabalho verificou-se a influência do meio de cultivo na produção de glicoamilase por Aspergillus awamori NRRL 3112, e através da concentração de proteína celular, estimouse a biomassa fúngica e os valores dos parâmetros velocidade específica de consumo de oxigênio para a manutenção das células (m o) e coeficiente de conversão de oxigênio à célula (Y X/O) em fermentação semi-sólida com vermiculita como suporte inerte. Foram realizados ensaios onde variou-se a relação C/N dos meios de fermentação, a fonte de nitrogênio (uréia ou sulfato de amônio) e a fonte de carbono (amido ou maltose). Os resultados demonstram que a fonte de nitrogênio empregada apresenta maior influência sobre a produção de glicoamilase do que sobre o crescimento do fungo. Os meios de cultivo formulados com uréia apresentaram atividades superiores aos com sulfato de amônio, sendo as melhores relações C/N encontradas, para a produção da enzimas, 12,8 e 14 respectivamente. Entre as diferentes concentrações de maltose empregadas, a maior atividade enzimática, 10,3 U/gms, foi observada quando se usou uma concentração de maltose correspondente a 50% do amido presente no meio. Os resultados mostraram ainda que somente 40% da enzima foi extraída da vermiculita. Os valores de m o e Y X/O apresentados neste estudo foram, 0,026 gO 2/gcél.h e 0,389 gcél/gO 2. Para a obtenção destes valores estimou-se a biomassa através da determinação da concentração de proteína celular pelo método de Lowry. 68 ESTUDO DA PRÉ-VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA DA HIDRÓLISE DE BIOMASSA PARA OBTENÇÃO DO ETANOL Maiorano, A.E.1; Azevedo, P.B.M. 2, Russo, F.A.A. 3 1 Agrupamento de Biotecnologia – Divisão de Química; 2Divisão de Economia e Engenharia de Sistemas. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Caixa Postal 0141; 01064-970 - SÃO PAULO - SP - BRASIL Na década de 70, as dificuldades geradas pela elevação do preço do petróleo fizeram com que vários países buscassem combustíveis alternativos para substituir os derivados de petróleo. Somavam-se, ainda nessa direção, as perspectivas de ter-se a enfrentar a escassez de petróleo em futuro não muito distante. Assim, muitos esforços foram investidos para a produção de combustíveis obtidos a partir de matérias-primas renováveis. Desde o primeiro momento foi apontado o grande potencial apresentado pelo etanol, uma vez que esta substância pode ser obtida a partir de sacarose, de amido ou de celulose, matérias-primas renováveis e disseminadas na maioria dos países. No presente trabalho fez-se o estudo técnico-econômico comparativo dos processos de hidrólise ácida e hidrólise enzimática, visando a produção de etanol a partir de bagaço de cana-de-açúcar. A metodologia utilizada neste estudo baseou-se em técnicas de engenharia econômica e análise de decisão. Esta metodologia possibilita avaliar a influência das incertezas envolvidas no resultado econômico final de um empreendimento, que no caso analisado foi o preço de venda do etanol produzido. Neste estudo atribuíram-se às variáveis de incerteza, tais como rendimento do processo, custos de equipamentos, custos de insumos e outras, faixas de valores associados a probabilidade de ocorrência dos mesmos. Os resultados deste trabalho permitiram comparar os preços de venda do etanol obtido a partir de bagaço, pelos processos ácido e enzimático, com o preço de venda praticado pelo mercado de álcool. 69 DEVELOPMENT OF INTEGRATED ENZYME-BASED PROCESS TECHNOLOGY FOR ETHANOL PRODUCTION FROM BIOMASS James D. McMillan*, Nancy Dowe, Joseph D. Farmer, Jenny Hamilton, Robert Lyons, Ali Mohagheghi, Mildred M. Newman, Juan Carlos Sáez, Daniel J. Schell, David W. Templeton and A. Tholudur Biotechnology Center for Fuels and Chemicals, National Renewable Energy Laboratory 1617 Cole Boulevard, Golden, Colorado 80401-3393 USA phone: 303 384-6861; fax: 303 384-6877; email: [email protected] The National Renewable Energy Laboratory (NREL) is developing a process for converting biomass carbohydrates to fuel ethanol (bioethanol) that is based on a combination of thermochemical hemicellulose hydrolysis (pretreatment) and enzymatic cellulose hydrolysis (saccharification) followed by fermentation. The major components of this process technology are single stage dilute sulfuric acid biomass pretreatment, pretreatment slurry conditioning, cellulase enzyme production, and ethanol production using a combined enzymatic saccharification and mixed biomass sugar fermentation (simultaneous saccharification and cofermentation or SSCF) process configuration. This presentation will describe recent accomplishments achieved in effectively integrating the key processing steps of biomass pretreatment, cellulase enzyme production, and combined saccharification and fermentation. As the literature and our results demonstrate, acidic pretreated biomass slurries must generally be conditioned (detoxified) in order to achieve effective fermentation. Examples will be presented of conditioning methods that have been used to enable SSCF-based ethanol production from otherwise toxic pretreated yellow poplar feedstocks. Integrated SSCFs were carried out at total pretreated feedstock solids loadings of 15-20% w/w using recombinant xylose-fermenting Zymomonas mobilis and either commercial or NREL-produced cellulase enzymes. Results show that final ethanol concentrations reach 35% w/v and increase with increasing enzyme loading. Current studies aimed at better understanding the influence of pretreatment conditions and cellulase enzyme quality on integrated processing requirements will be discussed. 70 71 ESTUDO DA DINÂMICA DA ADSORÇÃO DE INULINASES EM COLUNAS Cesar C. Santana1* e Fábio R. C. da Silva 2 1- Depto. de Processos Biotecnológicos; Faculdade de Engenharia Química; Universidade Estadual de Campinas; Caixa Postal 6066; CEP 13081- 970; CAMPINAS-SP; fone (019) 7887621; fax (019) 2394717; e -mail:[email protected]; 2- Faculdade de Engenharia Química; Universidade Estadual de Campinas; CAMPINAS-SP A necessidade de separação e purificação de biomoléculas, com eficiência e custos compatíveis, torna-se de grande importância o desenvolvimento de técnicas e protocolos que possam otimizar e permitam “scale-up” da operação. A utilização de colunas na separação de substâncias com atividade de superfície, como é o caso das biomoléculas, podem também ser baseada em interações iônicas e utilizam diferenças de cargas das proteínas com as matrizes sólidas. Neste estudo, que envolve a interação sólido-líquido, utilizou-se como adsorvente catiônico CM- Sepharose e aniônico Accel Plus . Os parâmetros característicos de equilíbrio e cinética de adsorção foram obtidos em sistema de tanques agitados e permitiram convalidar os dados experimentais com os modelos de difusão do sorbato na superfície e nos poros do sólido. No estudo em colunas, utilizou-se da teoria da distribuição do tempo de retenção para caracterização do leito fixo. A adsorção foi realizada em colunas do tipo HR5-2 e HR5-10 da Pharmacia . Realizou-se os experimentos de saturação dos adsorventes na coluna, baseado no método de cromatografia frontal, com o extrato comercial de inulinases em soluções tampões de Acetato de Sódio para CM- Sepharose e Tris(hidrometil) aminometano para Accel Plus . O modelo teórico foi baseado nas equações de balanço de massa da fase fluída e fase sólida, no qual é considerado a dispersão axial e a resistência a transferência de massa. A técnica numérica utilizada na resolução do modelo consiste no uso do método de colocação ortogonal em conjunto com o método de Runge-Kutta de 4 a ordem e acoplado com um método de otimização não-linear multivariável para obtenção dos coeficiente otimizados de transferência de massa e dispersão axial. 72 ESTUDO DA AÇÃO DA β-GALACTOSIDASE NA HIDRÓLISE DE LACTOSE Teixeira, A.M.D. (1); Cardoso, V.L. (2)*; Ribeiro, E. J. (3); Xavier, A. M. F. (4) Universidade Federal de Uberlândia Departamento de Engenharia Química – C.P. 593 38400-902 – Uberlândia – MG e-mail: [email protected] (1) , [email protected](2), [email protected](3), [email protected](4) A enzima β-galactosidase responsável pela hidrólise da lactose tem sido muito estudada com o objetivo de obter produtos com baixo teor de lactose, pois a lactose tem baixa solubilidade causando o efeito arenosidade em produtos lácteos. Outro fator importante é que muitas crianças e adultos são intolerantes a lactose, restringindo assim o consumo de alimentos que contenham lactose. Neste trabalho estudou-se a cinética de hidrólise enzimática da lactose através da enzima βgalactosidase na forma livre. Os testes foram realizados em um microrreator de mistura, dotados de chicanas, com controle de temperatura e com agitação mecânica. O estudo da hidrólise foi realizado com solução de lactose na concentração de 50 g/L e enzima na concentração de 2% P/V, em tampão lático. A metodologia utilizada para dosagem de glicose foi a da glicose-oxidase. Verificou-se a influência da temperatura e do pH na atividade da enzima livre. A temperatura foi estudada na faixa de 10 a 60 oC e o pH na faixa de 5 a 9. A enzima apresentou melhor atividade em pH de 6,5 e temperatura de 40 oC. Estudou-se também a influência da agitação( 183, 298 e 654 rpm) e da pressão (25, 40 e 55 Psi) na estabilidade da enzima na forma livre. Verificou-se que a enzima perde atividade após 2:30 horas de agitação. Esse estudo preliminar, tem como objetivo verificar a influência da temperatura, pH, agitação e pressão na atividade e estabilidade da enzima da forma livre, visando a continuação desse estudo com a separação da enzima aplicando o processo de ultrafiltração. 73 RECUPERAÇÃO DE APROTININA ATRAVÉS DE AFINIDADE POR QUELATO METÁLICO: ADSORÇÃO VIA IMAC Rosana E. Tamagawa1, Everson A. Miranda1* e Mookambeswaran A. Vijayalakshmi2 1 * Departamento de Processos Biotecnológicos – Faculdade de Engenharia Química – UNICAMP, CP 6066, CEP 13083-970 - Campinas, SP, Brasil, email: everson @feq.unicamp.br 2 Laboratoire d’Interaction Moléculaire et das Technologie desSséparations, Université Technologie deCcompiègne,Ccentre de Recherches de Royallieu, BP 529; 60206 Compiègne Cedex – France Aprotinina é uma proteína de alto valor agregado, utilizada como anticoagulante em cirurgias cardíacas, encontrada em baixas concentrações em suas fontes naturais (órgãos bovinos, tais como fígado, pâncreas e pulmão). São necessárias múltiplas etapas operacionais para sua purificação por métodos convencionais o que acarreta um alto custo do processo. Neste trabalho objetivou-se o desenvolvimento de um processo de recuperação de aprotinina utilizando IMAC (“Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography”), técnica de baixo custo fixo e operacional, além de alta seletividade. A estratégia desta recuperação baseou-se na formação do complexo aprotinina-tripsina, explorando o fato de tripsina possuir resíduos de histidina que são os principais atuantes na interação de proteínas com matrizes IMAC. Num primeiro estágio do trabalho, determinou-se as condições de adsorção e dessorção do complexo aprotinina-tripsina a partir de solução tampão. Num segundo estágio, fez-se a aplicação destas condições na recuperação do complexo a partir de um efluente do processamento industrial de pâncreas bovino. Os estudos foram conduzidos em tanques agitados utilizando-se uma matriz IMAC constituída por sílica-IDA quelatada com íons Cu 2+. Os resultados dos estudos a partir de solução tampão indicaram altas capacidades de adsorção de complexo, da ordem de 20 mg/g, a força iônica 0,2 a 0,5 M em NaCl e pH entre 7,0 e 8,5. Dessorção de aproximadamente 100% do complexo adsorvido foi obtida a 1,0 M em NaCl e pH 2,1. Nos estudos com o efluente verificou-se baixa purificação na adsorção devido retenção paralela de impurezas. Na dessorção, observou-se uma certa seletividade com a eluição em duas etapas: numa primeira etapa eluiu-se com tampão a pH baixo, principalmente impurezas e nenhum complexo ao passo que, numa segunda etapa, houve eluição significativa de complexo a pH baixo na presença de NaCl a 1,0 M. Concluiu-se que a recuperação de aprotinina com a estratégia proposta é possível, no entanto, com necessidade de diminuição da adsorção de impurezas e aumento da seletividade na dessorção para o processo ser viável. 74 MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA DO COURO Tavares, C.R.G 1. and Almeida, E.A2. Corresponding Author: Tavares, Célia Regina Granhen 1 – State University of Maringá – Paraná – Brazil 2 – CS Pesquisas e Participações Industriais Ltda. Av. Colombo 5790, 87020-900 – Maringá-PR, Brazil Phone: (44)261-4345, Fax: (44)261-4347 – E-mail: [email protected] A indústria do couro tem uma significativa importância para a economia do Brasil e em particular para o estado do Paraná. Essa indústria no entanto, consome quantidades significativas de água gerando, por conseqüência, uma grande quantidade de resíduos. Estes resíduos possuem um grande potencial poluidor, o que dificulta o seu reciclo para o processo. Desta forma, medidas que diminuam este potencial e permitam a recirculação do resíduo para o processo produtivo, são de extremo interesse. Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho foi a implementação de medidas que permitissem a minimização da utilização dos recursos hídricos e da geração de resíduos numa indústria de couro. Duas propostas foram implementadas: Um sistema de tratamento primário e secundário convencional, com reciclo do resíduo após sistema híbrido de tratamento terciário, composto de lagoa de estabilização e filtro de areia e brita; Um sistema alternativo com centrífuga, o qual eliminou a etapa de tratamento primário, com reciclo do resíduo após o sistema híbrido de tratamento terciário. Os resultados obtidos permitiram observar que tanto o sistema de tratamento convencional quanto o sistema com centrífuga levaram a uma melhora significativa na qualidade do efluente final, sendo a performance do sistema com centrífuga ligeiramente superior. A implantação do sistema de minimização de resíduos levou a uma redução de 80% no consumo de água, sem ser verificado nenhuma queda na qualidade do produto fabricado com a água recirculada. 75 ADAPTAÇÃO DE BIOMASSA PARA CONCENTRAÇÕES ELEVADAS DE FENOL E NITROGÊNIO AMONIACAL UTILIZANDO LODOS ATIVADOS Costa, A.J.M.P. 1*; Morita, D.M. 2; Alem Sobrinho, P.3; Leite, J.V. 4 1 *Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Cidade Universitária, São Paulo, SP. CEP 05508-901. Endereço para correspondência: R. Joaquim Antunes, 977, ap.103. Pinheiros. São Paulo. SP. CEP: 05415-012. e-mail: [email protected]. 2 3 e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo – SP. 4 Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. São Paulo – SP. Apesar do sistema de lodos ativados ser reconhecidamente eficaz no tratamento de esgotos predominantemente domésticos, a partida desses sistemas quando colocados frente a compostos tóxicos e de difícil degradação, pode causar sérios problemas ao processo e até mesmo interromper suas atividades biológicas. No caso de despejos com elevadas concentrações, de compostos fenólicos (1.000 mg fenol/L) e nitrogênio amoniacal (750 mg NH3-N/L), a adaptação da população microbiana é fundamental para a garantia de bom desempenho dos sistemas de tratamento biológicos. Existem basicamente duas maneiras para adaptação de microrganismos: • Adaptação por clonagem de genes, que é mais utilizado para culturas puras, e por conseguinte, não foi de interesse para a pesquisa desenvolvida e • adaptação natural na própria estação de tratamento biológico. No desenvolvimento dessa pesquisa, a adaptação da biomassa foi efetuada pelo método da adaptação natural, através da verificação das porcentagens de remoção de fenol e nitrogênio amoniacal em dois sistemas de lodos ativados em escala piloto. Também foram realizadas determinações de sólidos em suspensão totais e voláteis dos conteúdos dos tanques de aeração para verificação do crescimento dos microrganismos A pesquisa foi dividida em três fases de testes distintas, em razão do tipo de biomassa utilizado e da configuração dos sistemas de lodos ativados estudado. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a diferença no comportamento apresentado pelos tipos de inóculos utilizados, parece estar relacionada com a memória genética da cultura, visto que o grau de adaptação aos compostos fenólicos apresentados pela biomassa de sistemas de tratamento das indústrias foi maior que o verificado na ETE cujo afluente foi predominantemente doméstico. Também foi observada a possibilidade de utilização de sistemas de lodos ativados de único estágio para o tratamento despejos com características semelhantes às utilizadas nessa pesquisa, desde que fossem mantidas temperaturas acima de 20 oC durante os períodos de inverno, para garantir o desempenho satisfatório dos microrganismos presentes, e o controle do pH ficasse situado na estreita faixa de 6,8 a 7,5. 76 POSTER 77 EFEITO DE DIFERENTES CARBOIDRATOS NO METABOLISMO DE CÉLULAS BHK-21 Patrícia R. Vilaça; Elisabeth F.P. Augusto *; Margaretti S. Oliveira Agrupamento de Biotecnologia; Divisão de Química; Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A; CP 7141; 01064-970 – SÃO PAULO – SP; fone (+55) 11 3767 4319 Células BHK-21 provenientes de subcultivos em meio de cultura com glicose como fonte de carbono foram descongeladas e subcultivadas em monocamada, em meios com diferentes carboidratos. Buscando sua adaptação à frutose e galactose, foram realizados 10 repiques sucessivos em cada um dos meios. Ao final destes subcultivos em monocamada, foram realizados cultivos em frascos tipo Spinner para se ter uma avaliação do comportamento cinético das células nas diferentes fontes de carbono estudadas. Nestes ensaios foram avaliados o crescimento celular, o consumo de carboidratos (glicose, frutose e galactose) e a produção de metabólitos (lactato e amônio). Observou-se que o crescimento celular foi semelhante frente aos 3 carboidratos, notando-se diferenças no consumo dos substratos e na produção dos metabólitos. As células cultivadas em glicose, apresentaram um elevado consumo deste substrato e uma elevada produção de ácido lático. Já as células cultivadas em frutose e galactose, apresentaram baixo consumo dos substratos e, consequentemente, baixa produção de ácido lático. Contudo, estas células foram as que apresentaram maior produção de amônio, evidenciando diferenças de metabolismo entre as células cultivadas em cada um dos carboidratos. 78 ISOLAMENTO E ESTUDO DE BACTÉRIA PRODUTORA DE BIOTENSOATIVOS Maria Benincasa, Jonas Contiero*, Iracema de Oliveira Moraes Instituto de Química; UNESP/ARARAQUARA; R. Prof. Francisco Degni, s/n; 14800900 - ARARAQUARA - SP - BRASIL;Fone:(16) 232-2021, R. 133; Fax (16) 222-7932 Considerando a necessidade de se buscar alternativas de tratamento de resíduos gerados pela atividade do homem, bem como sua reciclagem para obtenção de produtos secundários de utilidade comercial e industrial, o presente trabalho teve como objetivo selecionar e estudar microrganimos produtores de biotensoativos. Estes compostos são produzidos por microrganismos que utilizam diferentes fontes de carbono como substrato, entre elas, água residuária do processamento de azeites e óleos vegetais, caracterizada por seu alto poder poluente. Através de um isolamento realizado em solo contaminado com hidrocarbonetos de petróleo foi obtida Pseudomonas aeruginosa LBI1 que, crescendo em meio contendo óleo de girassol como única fonte de carbono, reduziu a tensão superficial do meio de 54,2 mN/m para 32,8 mN/m. A produção máxima de ramnolipídeos, determinada pelo conteúdo de ramnose, foi de 1..458 mg/L em 96 horas de fermentação. Quando se submeteu Pseudomonas aeruginosa ATCC 31479 às mesmas condições de cultivo, a tensão superficial mínima atingida foi de 32,6 mN/m e a produção de ramnolipídeos obtida foi de 896,9 mg/L em 96 horas. Os estudos demonstraram que o microrganismo selecionado apresenta características desejáveis para a produção de biotensoativos, sendo necessários, entretanto, estudos que visem a otimização das condições e do meio de cultivo para que se obtenha maiores concentrações do produto desejado. 79 80 81 SCHEME OF PLATE SCREENING THAT HELP IN SELECTING NEW BACTERIAL ISOLATES THAT PRODUCE CGTASE WITH HIGHER GAMMA-CD SELECTIVITY Graciette Matioli; Gisella M. Zanin and Flávio F. de Moraes * State University of Maringá; Chemical Engineering Department; Av. Colombo, 5790 BL. E46 - 09; 87020-900 - Maringá - PR - Brazil (e-mail: [email protected]) Alkalophylic bacilli that produce cyclodextringlycosyltransferase (CGTase) were isolated from Brazilian soil with a scheme of two plating steps. In the first step the bacterial isolate forms a halo in the cultivation medium that contains γ -CD complexing dyes. The CGTase of an isolate was purified 157-fold by biospecific affinity chromatography with β-CD showing a MW of 77,580 daltons. It produces a γ - to β-CD ratio of 0.156 and a small amount of α-CD, using maltodextrin 10% as substrate, at 50ºC, pH 8 and 22 h reaction time, reaching 21.4% conversion of the substrate to cyclodextrins. In the second screening step the isolates chosen give larger halos with γ -CD complexing dyes, and smaller halos with β-CD complexing dyes, leading to a 30% improvement in γ -CD selectivity, although at lower total yield for cyclodextrins (11.5%). This paper was published in Applied Biochemestry and Biotechnology, 70-72, 267-275, 1998 82 ENHANCEMENT OF THE SELECTIVITY FOR PRODUCING GAMMA-CYCLODEXTRIN Graciette Matioli; Gisella M. Zanin and Flávio F. de Moraes State University of Maringá, Chemical Engineering Department; Av. Colombo, 5790– BL E46–S09–Zip Code 87020-900 - MARINGÁ – PR – BRAZIL E-mail: [email protected] Cyclodextrins (CDs) which are obtained from starch by the action of the enzyme cyclodextrin-glycosyl-transferase (CGTase) have many industrial applications. The production of CDs by the CGTase of Bacillus firmus, strain number 37, was studied regarding the effect of the source of starch upon CD yield, and upon the selectivity for producing gamma-CD, in which case glycyrrhizin was added to the reaction medium to prevent gammaCD destruction by reversible reactions, since it forms a stable complex with gamma-CD. Cyclodextrins production tests run for 24h at 50 ºC, pH 8.0, 1 mg/L of CGTase, and used as substrate, maltodextrin or the starches of rice, potato and corn hydrolyzed up to D.E. 10. Results have shown that cornstarch gives the highest yields of gamma-CD. The addition of 2.5% w/v of glycyrrhizin increased the yield of gamma-CD to about 4 times of that produced with maltodextrin, while reduced the yield of beta-CD to less than half, maintaining the total yield of CDs practically unchanged. Therefore the studied CGTase is capable of giving relatively high yield of gamma-CD in the presence of glycyrrhizin, and cornstarch is the best substrate for producing gamma-CD. This paper will be published in Applied Biochemestry and Biotechnology, 2000 83 DETERMINAÇÃO DA DEXTROSE EQUIVALENTE DE AMIDO MILHO QUE PROPORCIONE MAIOR PRODUÇÃO DE CICLODEXTRINAS COM A CGTase BACILLUS FIRMUS. Regiane B. Mazzoni2; Cristiane Moriwaki2; Gisella M. Zanin3; Flávio F. de Moraes 3; Graciette Matioli1* 1* Depto. de Farmácia e Farmacologia;Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 – Maringá – PR - BRASIL; fone (+55)44 261 4301; e-mail:[email protected] 2 Depto. de Farmácia e Farmacologia;Universidade Estadual de Maringá 3 Depto. Engenharia Química;Universidade Estadual de Maringá As ciclodextrinas (CDs) são produzidas a partir do amido pela enzima Ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase) e são maltooligossacarídeos cíclicos constituídos por um número variável de unidades de glucose, unidos por ligações α-1,4. As mais comuns são: αCD, β-CD e γ -CD respectivamente com 6, 7 e 8 unidades de glucose. As ciclodextrinas tem forma de cone invertido com uma cavidade interior cujo tamanho e forma são determinados pelo número de unidades de glucose. O lado externo da CD é hidrofílico e a cavidade interna tem caráter hidrofóbico. Se a molécula se adequa complemente ou ao menos parcialmente dentro da cavidade, um complexo de inclusão pode ser formado. Os complexos formados com as ciclodextrinas podem aumentar a estabilidade da molécula hóspede e/ou melhorar sua solubilidade, sendo inúmeras as suas aplicações nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos, de alimentos, defensivos agrícolas e etc. Este trabalho teve por objetivo estudar o comportamento da CGTase frente ao substrato amido de milho com diferentes Dextrose Equivalentes (D.E.) durante um período de 24 horas, visando produção de β-CD e γ -CD. Para o estudo em questão utilizou-se a enzima CGTase de Bacillus firmus cepa 37 e amido de milho liqüefeito a 10%. A hidrólise do amido deu-se pela enzima α-amilase afim de se obter soluções com D.E. 2, 5, 10 e 15. Para avaliar a produção de β- e γ -CD pela CGTase da cepa 37 nas diferentes D.E., testes de conversão a 50 oC/24h foram realizados em reatores batelada com capacidade de 50 mL de meio reacional. Os 4 testes de conversão de diferentes D.E. foram preparados com tampão Tris-HCl 50 mM, pH 8 e CaCl2 5 mM. A quantidade de CGTase adicionada em cada reator foi de 0,05 mg de enzima purificada. A CGTase utilizada neste ensaio continha um teor de proteína de 0,0324 mg/mL. Amostras de 1 mL foram coletadas, em tempos regulares (de 1 em 1 hora), em tubos de ensaio contendo 1 mL de água, os quais foram imediatamente fechados e colocados em banho fervente por 5 minutos. A produção de β-CD foi determinada através de método espectrofotométrico pela descoloração de fenolftaleína, e a produção de γ -CD foi determinada pelo aumento da absorção de uma solução de verde de bromocresol. A determinação da D.E. foi feita pela concentração de açúcares redutores, pelo método de Somogyi-Nelson. Após as análises verificou-se que a D.E. 15 foi a que apresentou melhor produção de β-CD em relação as demais, sendo que a produção de γ -CD foi praticamente a mesma para todas as D.E. testadas (aproximadamente 1,65 mM em 24 horas). Portanto, a CGTase de Bacillus firmus cepa 37 apresenta melhor comportamento frente uma D.E. 15 com uma produção de 12,08 mM de β-CD em 24 horas. 84 MODELAGEM DA ADSORÇÃO DA γ -CICLODEXTRINA POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE BIO-ESPECÍFICA COM GLICIRRIZINA IMOBILIZADA Ana Paula Miranda Sousa, Gisella Maria Zanin e Flávio Faria de Moraes * Departamento de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, n.o 5790, Bloco D-90, Sala n.o 102; 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRASIL; fone: (55) 44 263 2652; fax: (55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] Ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos, compostos de 6, 7 ou 8 unidades de glicose unidas por ligações do tipo α-1,4, denominadas respectivamente de α-CD, β-CD e γ CD. São obtidas via transformação enzimática do amido pela enzima Ciclodextrina Glicosiltransferase (CGTase), a partir de uma reação intramolecular onde não há consumo de moléculas de água. Devido a sua estrutura cíclica com cavidade hidrofóbica, são capazes de formar complexos de inclusão com outras moléculas, conferindo-lhes maior estabilidade. Por isso, são de grande interesse industrial, mas o fator limitante para sua utilização ainda é o alto custo de produção. Em conseqüência, há um interesse amplo no desenvolvimento de um processo mais econômico de produção de γ -CD, uma vez que a indústria farmacêutica vem considerando a possibilidade de utilização desta CD, para a complexação de medicamentos modernos que são de elevado diâmetro molecular. O objetivo do trabalho é modelar a adsorção da γ -CD por cromatografia de afinidade bio-específica usando-se como ligante a glicirrizina, visando o desenvolvimento do processo de produção e separação simultânea de γ CD. A coluna de adsorção contendo sepharose-6B com glicirrizina imobilizada foi colocada em uma coluna termostatizada, e alimentada com uma solução de γ -CD 2mM com vazão de aproximadamente 0,42mL/min. Foram realizadas três adsorções nas temperaturas de 4ºC, 30ºC e 40ºC. Alíquotas de 2,5mL foram obtidas num coletor de amostras, e dosadas pelo método colorimétrico do verde de bromocresol a 620nm. As curvas obtidas dos testes realizados, comprovam que houve adsorção da γ -CD, pois a 1ª curva de adsorção situa-se deslocada por um certo tempo em relação a 2º curva. No teste a 4ºC, a dessorção da γ -CD do suporte cromatográfico foi realizada primeiramente com água destilada a 50ºC e a 80ºC, mas não foram tão eficientes. A regeneração da coluna foi realizada posteriormente, para as três temperaturas, com a aplicação de uma solução de etanol a 50% e 50ºC, que de início se mostrou mais eficiente para a eluição da γ -CD, pois produziu uma concentração maior de γ CD, formando um pico no início da eluição. Como o etanol influencia a dosagem da γ -CD, fez-se uma correção para o cálculo da concentração real dessorvida. Do teste a 4ºC para o teste a 30ºC houve uma redução na quantidade de γ -CD adsorvida, de 5,04 × 10-5 para 1,435 × -5 10 mol de γ -CD/g de gel, no entanto, do teste a 30ºC para o teste a 40ºC, houve um ligeiro e inesperado aumento para 1,505 x 10 -5 mol de γ -CD/g de gel. A quantidade de γ -CD -5 dessorvida no teste a 4ºC, com etanol, foi de 1,896 x 10 mol de γ -CD/g de gel, ou seja, 37% da γ -CD adsorvida. Já nos testes a 30ºC e 40ºC, a quantidade de γ -CD dessorvida, que foi respectivamente 3,521 x 10 -5 e 1,929 x 10-5 mol de γ -CD/g de gel, resultando maior que a quantidade adsorvida. Tais comportamentos anômalos podem ser devido à influência das cubetas, reutilizadas, contendo impregnação do corante de verde de bromocresol que adere fortemente à parede de plástico 85 INTERFERÊNCIA DE ÍONS METÁLICOS E COMPOSTOS ORGÂNICOS NA PRODUÇÃO DE CICLODEXTRINAS Monique Barbosa de Assis Marques1; Gisella M. Zanin1 e Flávio F. de Moraes 2* 1 Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR 2* Departamento de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, n.o 5790, Bloco D-90, Sala n.o 102; 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRASIL; fone: (55) 44 263 2652; fax: (55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] A enzima cyclomaltodextrina glucanotransferase - CGTase ( α,1-4- glucano-4glicosiltransferase) atua sobre o amido e outros substratos, degradando-os e conduzindo à formação, como principal produto de clivagem, de produtos cíclicos que contém ligações α,14, conhecidos como ciclodextrinas, e alguns produtos secundários, as dextrinas lineares. As principais ciclodextrinas são as α− , β− e γ − CDs, respectivamente com 6,7 ou 8 unidades de glicose. Este trabalho foi realizado com o objetivo de se obter dados experimentais que possam caracterizar a inibição da enzima CGTase WACKER e da cepa nº 37, por íons metálicos como Co ++, Mg++, Mn++, K++, Ca++, Zn++, Fe++, Cu++, Hg++ e compostos orgânicos iodoacetamida e p-cloromercuribenzoato, na concentração de 5mM, além do substrato amido de milho. A inibição ou ativação causada por esses íons e compostos orgânicos, além do substrato amido de milho, foi estudada pelo método das velocidades iniciais, sendo a produção de CDs caracterizada pela dosagem da β− e γ − CDs produzidas, por métodos colorimétricos, cujos corantes, a fenolftaleína ( dosagem da β-CD ) e o verde de bromocresol ( dosagem da γ -CD ), sofrem uma variação nas suas absorções óticas que é proporcional à quantidade de CDs presentes. Os resultados obtidos indicam que a enzima CGTase da WACKER e a CGTase da cepa n.º 37 sofrem forte inibição por íons como Zn ++, Fe++, Cu++, Hg++ e sofrem ativação pelo Mg ++, K++ e pela iodoacetamida. A concentração de substrato amido de milho também influenciou a atividade enzimática da CGTase da cepa nº 37, sendo que a máxima produção alcançada para a β-CD foi obtida com substrato na concentração de 10g/L e para a γ -CD com 100g/L de substrato. Os íons metálicos e compostos orgânicos que alteram as propriedades da CGTase devem ligar-se ao sítio ativo da enzima, ou outra parte de sua molécula, e modificar a sua configuração e consequentemente alterar a sua especificidade ao substrato. A presença dos íons metálicos inibidores nos processos industriais de produção de ciclodextrinas deve ser evitada para não reduzir o rendimento do processo, particularmente a dos íons Zn ++, Fe++, Cu++, Hg++. Por outro lado, os resultados obtidos com amido de milho, podem contribuir ao desenvolvimento de novos processos que visem ao aumento do rendimento na produção industrial de ciclodextrinas. 86 INTERFERÊNCIA DE ÍONS METÁLICOS E COMPOSTOS ORGÂNICOS NA PRODUÇÃO DE CICLODEXTRINAS Monique Barbosa de Assis Marques1; Gisella M. Zanin1 e Flávio F. de Moraes 2* 1 Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR 2* Departamento de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, n.o 5790, Bloco D-90, Sala n.o 102; 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRASIL; fone: (55) 44 263 2652; fax: (55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] A enzima cyclomaltodextrina glucanotransferase - CGTase ( α,1-4- glucano-4glicosiltransferase) atua sobre o amido e outros substratos, degradando-os e conduzindo à formação, como principal produto de clivagem, de produtos cíclicos que contém ligações α,14, conhecidos como ciclodextrinas, e alguns produtos secundários, as dextrinas lineares. As principais ciclodextrinas são as α− , β− e γ − CDs, respectivamente com 6,7 ou 8 unidades de glicose. Este trabalho foi realizado com o objetivo de se obter dados experimentais que possam caracterizar a inibição da enzima CGTase WACKER e da cepa nº 37, por íons metálicos como Co ++, Mg++, Mn++, K++, Ca++, Zn++, Fe++, Cu++, Hg++ e compostos orgânicos iodoacetamida e p-cloromercuribenzoato, na concentração de 5mM, além do substrato amido de milho. A inibição ou ativação causada por esses íons e compostos orgânicos, além do substrato amido de milho, foi estudada pelo método das velocidades iniciais, sendo a produção de CDs caracterizada pela dosagem da β− e γ − CDs produzidas, por métodos colorimétricos, cujos corantes, a fenolftaleína ( dosagem da β-CD ) e o verde de bromocresol ( dosagem da γ -CD ), sofrem uma variação nas suas absorções óticas que é proporcional à quantidade de CDs presentes. Os resultados obtidos indicam que a enzima CGTase da WACKER e a CGTase da cepa n.º 37 sofrem forte inibição por íons como Zn ++, Fe++, Cu++, Hg++ e sofrem ativação pelo Mg ++, K++ e pela iodoacetamida. A concentração de substrato amido de milho também influenciou a atividade enzimática da CGTase da cepa nº 37, sendo que a máxima produção alcançada para a β-CD foi obtida com substrato na concentração de 10g/L e para a γ -CD com 100g/L de substrato. Os íons metálicos e compostos orgânicos que alteram as propriedades da CGTase devem ligar-se ao sítio ativo da enzima, ou outra parte de sua molécula, e modificar a sua configuração e consequentemente alterar a sua especificidade ao substrato. A presença dos íons metálicos inibidores nos processos industriais de produção de ciclodextrinas deve ser evitada para não reduzir o rendimento do processo, particularmente a dos íons Zn ++, Fe++, Cu++, Hg++. Por outro lado, os resultados obtidos com amido de milho, podem contribuir ao desenvolvimento de novos processos que visem ao aumento do rendimento na produção industrial de ciclodextrinas. 87 88 PRODUÇÃO DE BUTIRATO DE BUTILA EMPREGANDO LIPASE IMOBILIZADA EM SÍLICA DE POROSIDADE CONTROLADA C.M.F Soares 1,2; H.F. de Castro 1* ; M.H.A.Santana2; F.F.de Moraes 3 ; G.M. Zanin3 1* Faculdade de Engenharia Química de Lorena - FAENQUIL; 12600-000 - LORENA SP - BRASIL 2 Faculdade de Engenharia Química; UNICAMP; 13081- 970 - CAMPINAS - SP 3 Universidade Estadual de Maringá - UEM; 87020-900 – MARINGÁ-PR Os processos que utilizam lipases são especialmente atraentes em função das diferentes aplicações industriais desta enzima. As lipases podem catalisar reações de hidrólise, esterificação, e interesterificação, com extrema simplicidade de processo, qualidade superior do produto final e excelente rendimento. Estas características conferem às lipases um potencial biotecnológico comparável ao das proteases e carboidrases - enzimas industrialmente utilizadas - estimulando pesquisas para otimização da sua produção, caracterização, imobilização e aplicação industrial. Motivado por este grande potencial de aplicação das lipases, nosso grupo tem se dedicado ao desenvolvimento de linhas de pesquisa referente a produção de bioésteres. Paralelo a este interesse, temos também realizado trabalhos experimentais para estabelecer metodologias de imobilização de lipases pancreática e microbiana em diferentes tipos de suportes, tendo em vista as vantagens oferecidas desses derivados, as quais incluem: uso repetitivo, facilidade de separação do produto e aumento de estabilidade. Em trabalho anterior a lipase de Candida rugosa foi imobilizada por ligação covalente em sílica de porosidade controlada (SPC) ativada com glutaraldeído, empregando hexano como meio de dispersão. Esta metodologia favoreceu a obtenção de um complexo lipase-suporte com elevada atividade, cujas propriedades catalíticas foram consideradas adequadas para conduzir reações de hidrólise de azeite de oliva. Em dessas características satisfatórias, julgou-se conveniente um estudo mais detalhado referente a sua aplicação na síntese de ésteres aromatizantes. Como reação modelo, foi selecionado um sistema altamente polar constituído de n-butanol, ácido butírico em heptano. Foram determinadas a influência da razão molar entre ácido e álcool no rendimento de formação do butirato de n-butila em regime de bateladas simples e repetitivas. Em regime de bateladas simples, a concentração do ácido butírico em excesso favoreceu a obtenção do butirato de butila com elevados rendimentos, sendo esta síntese otimizada para razões molares entre ácido butírico e butanol iguais ou superiores a 1,2. Nessas condições, foi observado um decréscimo acentuado da atividade da lipase imobilizada após o seu uso repetitivo em bateladas consecutivas, revelando um tempo de meia vida de apenas 32 horas. Considerando que diversas variáveis de controle da reação podem ser manipuladas para contornar tais limitações, a estabilidade operacional da lipase imobilizada em SPC foi reavaliada empregando substratos com menor grau de polaridade, isto é, a concentração do ácido butírico foi reduzida para níveis de equimolaridade com o butanol. Nessas novas condições, o tempo de meia vida da lipase imobilizada em SPC aumentou de 32 para 144 horas. Esses resultados demonstram que não ocorre desprendimento da enzima do suporte mas uma alteração das condições de hidratação da preparação enzimática imobilizada, afetando diretamente a atividade catalítica no novo ciclo. Portanto, o decréscimo da conversão de butanol em éster durante as bateladas consecutivas com reutilização da lipase imobilizada em SPC pode ser explicado pela polaridade do meio reacional que é muito mais elevada para o sistema contendo excesso de ácido butírico do que para o sistema contendo quantidades equimolares de butanol e ácido butírico. Apoio: CAPES, CNPq e FAPESP. 89 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) APLICADA NA DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTES DE CONVERSÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS Pedro Sérgio Pereiralima* e Eduardo Aoun Tannuri Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.; Caixa Postal 0141, CEP 01064-970, São Paulo (SP) Um dos problemas importantes a resolver para uma eficaz implantação de politícas de controle, que levam a otimização da operação de processos biotecnológicos, é a correta estimação das variáveis de estado, ou das concentrações das substâncias e da própria população do microrganismo ao longo do tempo. Neste trabalho é desenvolvida uma técnica baseada no princípio de conservação de massa e a análise das componentes principais (PCA) para a estruturação de um estimador de estados trivial. Mostra-se que se pode obter um estimador confiável sem o conhecimento da cinética do processo e tão pouco dos coeficientes de conversão de substratos em produtos. Uma discussão final desenvolve a possibilidade desta técnica fornecer subsídios importantes de análise quando da elaboração do modelo cinético por redes neurais. Pode-se fazer aqui a seguinte pergunta: seriam as funções velocidades específicas de formação de produtos as únicas que descrevem o processo? Poderia haver outras candidatas? É pertinente pesquisar uma base ortogonal de funções? A resposta é que existe tal possibilidade e o método apropriado para fazer esta decomposição é o da análise das componentes principais. Foi primeiramnte desenvolvido por Karhunen-Loève para séries temporais (Diamantaras, 1996). Basicamente consiste na análise da matriz de covariança de sinais temporais de média nula. Através da decomposição desta matriz em seus valores singulares, e sinais ortonormais, consegue-se determinar quantos e quais destes sinais são essenciais na reconstrução dos sinais originais. Necessariamente, quando o número de sinais base escolhido for menor do que o de sinais originais ter-se-á um erro associado. O compromisso entre quantidade de sinais e erro faz parte da escolha do projetista. Uma grande vantagem deste estimador sobre o estimador baseado nas velocidades específicas de conversão é a possibilidade de se estabelecer a melhor base, de acordo com o número de medidas disponíveis. Isto só é possível devido à associação dos valores singulares aos respectivos sinais, o que permite a escolha dos sinais com maior energia e a quantificação do erro ao se trabalhar com uma base menor do que a ideal. Este procedimento leva à determinação de uma matriz A de conversão de substratos em produtos, diferente dos usuais coeficientes de conversão Y, pois está associada a funções de conversão diferentes, no entanto tem as mesmas propriedades, podendo-se usá-la para a montagem do estimador de estados trivial, prescindindo do conhecimento dos coeficientes de conversão Y, e correlacionando todos os sinais, extraindo-se por assim dizer, a essência das informações. No entanto, estas matrizes guardam relação entre si, é possível determinar os coeficientes de conversão YSP e YS0 a partir da matriz A. Isto posto, vê-se que o método das componentes principais não contradiz o estabelecimento de funções de conversão a partir dos produtos, mas sim, há como determiná-las a partir da PCA. No entanto, se esta última proposição não for válida, se por algum motivo não se conseguir estabelecer as velocidades de conversão em produtos, ainda assim pode-se utilizar os resultados da PCA. 90 MODELAGEM DE ACUMULAÇÃO DE POLI- β-HIDROXIBUTIRATO POR Alcaligenes eutrophus (DSM 545). Gláucia .M. F. ARAGÃO 1* e Jean-Louis. URIBELARREA2 1 Departamento de Eng. Química e Eng. de Alimentos; CTC; Universidade Federal de Santa Catarina; 88.040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC - BRASIL; Fone: (48)-3319448; E-mail: [email protected] 2 Département de Génie Biochimique et Alimentaire - INSA - Toulouse – França O poli-β-hidroxibutirato (PHB) é uma substância de reserva de carbono e de energia acumulada por microrganismos em condições de limitação. Este polímero apresenta propriedades termoplásticas interessantes, com a vantagem de ser biodegradável. As culturas para produção do polímero são realizadas em duas fases: fase de crescimento para acúmulo de biomassa e fase de produção, sob ausência ou limitação de um elemento nutritivo, onde é favorecido o acúmulo do polímero. Vários modelos de crescimento do microrganismo e de acumulação de PHB estão disponíveis na literatura. Entretanto, considera-se que há uma carência de modelos simples que possam servir de base para a definição de processos industriais. O objetivo deste trabalho é propor um modelo simples de acumulação intracelular de PHB com base em resultados experimentais anteriormente estabelecidos. Resultados obtidos em culturas, onde o crescimento foi mantido durante a fase de produção, através da adição controlada de nitrogênio, mostraram que há uma relação linear entre a velocidade específica de crescimento ( µ) e a velocidade específica de produção de PHB (q PHB). Foi observado um aumento de q PHB com a diminuição de µ até um valor crítico de µ (µcrit) abaixo do qual começa a haver diminuição de q PHB com a diminuição de µ. Baseado nestas observações, foram utilizados duas estratégias de controle do crescimento durante a fase de produção para a simulação da acumulação de PHB: a manutenção de µ constante e a manutenção da velocidade de crescimento (r x), com conseqüente diminuição de µ.. O modelo permite o cálculo dos parâmetros característicos de produção: conversão do substrato em produto, porcentagem final de PHB na biomassa e produtividade em função das variáveis da cultura: tempo total de cultivo, tempo de duração da fase de crescimento não limitado e velocidade específica de crescimento a ser imposta durante a fase de produção. Os resultados mostraram que as duas estratégias de controle de crescimento não apresentam diferenças notáveis entre os valores máximos obtidos para cada parâmetro de produção. Entretanto, a estratégia a µ constante facilita o controle pois impede que o processo atinja a faixa de µcrit. 91 SIMULAÇÃO DINÂMICA E ESTUDO TÉCNICO ECONÔMICO DE BIOCONVERSÃO PARA COGERAÇÃO DE ENERGIA E SECAGEM USANDO SIMULADOR SUPERPRO DESIGNER Bayer, M. M.; Marinho Neto, J. ; Pannir Selvam, P. V. ; Novaes, W. S. Departamento de Engenharia Química; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Centro de Tecnologia; Campus Universitário; 59.072-970 - NATAL - RN – BRASIL; Fone: (84) 215-3769; Fax: (84) 215-3770; e-mail: [email protected] Este trabalho tem a finalidade de desenvolver um projeto preliminar para a produção de energia elétrica utilizando biogás, associado com secagem de frutas. Esse projeto de cogeração tem importância para a conservação de energia para os setores industrial e agrícola. Através de simulações utilizando o SuperPro Designer versão 2.7 foi desenvolvido um estudo de engenharia de processo para maximização do aproveitamento total de energia, em seguida, por meio de modelos desenvolvidos em planilha eletrônica, foi realizado um estudo técnico econômico, visando analisar o potencial e a viabilidade econômica do projeto. A análise econômica do projeto mostrou que a geração de energia elétrica usando biogás não tem viabilidade econômica, tanto em pequena como em grande escala, devido ao problema de alta depreciação e alto investimento inicial. Considerando o valor do aproveitamento de energia térmica via cogeração como 20 KW do motor-gerador associado com a secagem de 200 ton./ano de banana, o projeto terá viabilidade com bons valores de taxa interna de retorno e taxa de amortização de capital em 10 anos e também adequado nível de ponto de equilíbrio. 92 PRODUÇÃO E FORMULAÇÃO DE PRODUTO NATURAL DE BAIXO CUSTO, RICO EM VITAMINAS E PROTEÍNAS, A BASE DE MICROALGA SPIRULINA E VEGETAIS Souza, F.C.G.; Novaes, W. S. ; Pannir Selvam, P.V.. Departamento de Engenharia Química; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Centro de Tecnologia; Campus Universitário; 59.072-970 - NATAL - RN – BRASIL; Fone: (84)215-3769; Fax: (84) 215-3770 ; e-mail: [email protected] Uma significante deficiência de vitaminas, minerais e proteínas é evidenciada na população brasileira, desta forma procuramos formular um produto para suprir as necessidades diárias de vitaminas, minerais e proteínas, considerando que o custo de suprimento de micronutruientes e vitaminas ainda é alto no Brasil. A microalga Spirulina é muito rica nestes nutrientes e cresce apenas em locais muito ensolarados, como o Brasil. O presente estudo tem como objetivo desenvolver uma formulação nutricional utilizando microalgas e vegetais. O crescimento de algas foi feito em tanque de 20 litros, mantendo-se o meio de cultura com temperatura controlada e sob constante agitação. O meio é composto basicamente por água, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e também outros micronutrientes. Foram feitos estudos utilizando manipueira, turfa e esterco de gado diluído como meio de cultura pois são materiais de origem natural com o objetivo de diminuir custos e promover o desenvolvimento regional, o resultado mais positivo foi obtido com o esterco de gado fermentado anaerobicamente e diluído. O crescimento da cultura foi medido por absorbância no ultra violeta, num comprimento de onda de 665 nm, obtendo um crescimento médio de 0,4g por dia. A separação de alga é feita usando centrifugação, filtração e floculação com alginato. A estimação de custo de produção de microalgas em escala industrial foi feita no simulador “SUPER PRO DESIGNER”. A formulação se baseia numa mistura de diferentes componentes nutricionais, em quantidades adequadas de cada componente de forma a viabilizar o menor custo, com base nas necessidades diárias, para isso foi utilizado o software “WHAT’S BEST”, baseado em programação linear. A formulação obtida foi: 100g de Spirulina, dividida em 10 pacotes, administrada 10 vezes por semana, 700 g de feijão, dividido em 50 pacotes, administrados 10 vezes por semana, 400 g de repolho, dividido em 50 pacotes, administrados 8 vezes por semana, tendo um custo semanal de R$ 2,84 por cada indivíduo em relação a produto farmacêutico de composição nutricional similar, que custa cerca de R$ 6,60. Agradecimentos: PIBIC/UFRN/CNPQ/CCS/DEQ 93 MODELING CELLOBIOSE HYDROLYSIS BY CELLOBIASE Luiza P. V. Calsavara1; Flávio F. de Moraes 2 and Gisella M. Zanin3* 1,2 Chemical Engineering Department; State University of Maringá Chemical Engineering Department; State University of Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRAZIL; Telephone: (+55) 44 263 2652; Fax: (+55) 44 263 3440 E-mail: [email protected] 3* The enzyme cellobiase Novozym 188 is used for improving hydrolysis of cellulosic substrates with cellulase. A previous study on the enzymatic hydrolysis of cellobiose has shown that, although available alternative kinetic models are good for describing initial velocity rates of reaction, they are not capable of giving a consistent physical picture of the whole reaction period, starting from time zero up to the time of 100% conversion of cellobiose to glucose. This problem showed up while trying to fit the integrated kinetic models to experimental data and originated inconsistent kinetic parameters. In this work, the experimental data was further extended covering now a set of initial velocity studies and batch conversion tests up to 100% cellobiose conversion, in the temperatures of 40, 50 and 55ºC, pH 4.8, two cellobiose concentrations (2 and 20 g/L), and the presence (1.8 g/L) or absence of exogenously added glucose that produces inhibition. An orbital shaker fitted with 500 mL Erlenmeyers was used for the conversion tests. Each Erlenmeyer contained 250 mL of the reaction mixtures. Short sampling intervals (3 to 5 min) were used at the beginning of the reaction and they were increased with reaction time. With the objective of determining the kinetic parameters Km, Ks and Vmax the effect of substrate concentration on the rate of hydrolysis was studied using cellobiose solutions from 0.4 to 20 g/L (1.2 to 58.5 mM). Activity tests were carried out using the method of initial rate, using a jacketed glass batch thermo-controlled reactor equipped with magnetic stirring. A volume of 20 mL of cellobiose solution, buffered with acetate buffer at 50 mM, pH 4.8 and containing 1 mg/mL of sodium benzoate was incubated at the test temperature with the enzyme β-glucosidase. Half-milliliter samples were collected with an interval of 3 min, for a period of 18 min. In all experiments the concentration of the enzyme was 95 µL enzyme/L solution and the samples collected were boiled for 5 min an d stocked at 4 ºC for later glucose assay. The kinetic models include the inhibition by substrate (noncompetitive or uncompetitive) and product (competitive, noncompetitive or uncompetitive). Substrate and product inhibitions were experimentally observed, the latter having a strong effect on lengthening the course of reaction to reach high conversions. Integrated kinetic models including inhibition of either competitive, uncompetitive or noncompetitive type for glucose, and uncompetitive or noncompetitive for cellobiose gave inconsistent values for the kinetic parameters, such as Ki and Kcat. 94 MODELING OF FLUIDIZED BED BIOREACTOR AT HIGH ORGANIC LOADS Alexander D. Kroumov1, Marcelino L. Gimenes 1* and Rosângela Bergamasco2 1* Dep. of Chemical Engineering; State University of Maringá, Colombo str., 5790; 87020-900 - MARINGÁ – PR – Brazil; Phone (+55) 44 263 2652; Fax (+55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] 2 Dep. of Chemical Engineering; State University of Maringá; MARINGÁ – PR One of the most important advantage of Fluidized bed bioreactor (FBBR) is when it operates under conditions with fixed high biomass concentration. Biofilm thickness depends on fluidization mechanics, quantity and quality of organic loads. Hence, for the reactor performance and design in relation to aerobic wastewater purification process, crucial appears to be information about microbial population growth and its limitation. Available are two different algorithms for calculation of biomass in the bed using fluidization mechanics correlations and experimental data. Biofilm is assumed homogeneous and support particles are spherical. Furthermore, this information is used in the axial dispersion reactor model to calculate, for the steady state conditions, substrate and dissolved oxygen concentrations throughout the fluidized bed height. Decomposition approach is used to solve the model analytically. 95 BIOFILM MODEL OF FLUIDIZED BED BIOREACTOR WITH PRODUCT INHIBITION KINETICS Alexander D. Kroumov1* and Marcelino L. Gimenes 2 1* Dep. of Chemical Engineering; State University of Maringá, Colombo str., 5790; 87020-900 - MARINGÁ – PR – Brazil; Phone (+55) 44 263 2652; Fax (+55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] 2 Dep. of Chemical Engineering; State University of Maringá; MARINGÁ – PR Fluidized bed bioreactor (FBBR) may successfully operate under high organic loads. In this case, inhibition by products may occur into the biofilm decreasing efficiency of wastewater treatment process. A new model was developed for evaluation of substrate and product concentration profiles into the homogeneous biofilm layer assuming spherical support particles. Specific growth rate is represented with zero order kinetics and depends only on initial substrate (organic wastes) concentration or stoichiometric corresponding product concentration. The other assumption is that product formation rate is linked with the growth rate. Simulation and analysis of product profiles into the biofilm for different high values of organic matter shows clearly that the critical inhibition effect takes place near the support particle surface. The developed biofilm model can be very useful for optimization of FBBR conditions in processes where inhibition by degradation products exists. 96 APROVEITAMENTO DE SUB-PRODUTOS DA INDÚSTRIA ALCOOLEIRA NA FORMAÇÃO DE ÉSTERES AROMATIZANTES POR VIA ENZIMÁTICA . Regina Y. Moriya, Ernnades B. Pereira, Heizir F. de Castro 1* 1* Depto. de Engenharia Química; Faculdade de Engenharia Química de Lorena; Caixa Postal 116, 12600-000 - LORENA - SP - BRASIL; e-mail:[email protected] Entre os inúmeros subprodutos gerados pela Indústria Sucroalcooleira, o óleo fúsel apresenta um grande potencial de reaproveitamento devido sua composição rica em álcoois superiores e grande volume gerado (120 milhões de litro/ ano). Apesar do seu aproveitamento não atuar diretamente na redução do custo final do álcool, sua utilização como insumo nas indústrias de transformação, certamente, representa um importante passo para aumentar a eficiência global da produção industrial do etanol. Atualmente a taxa de recuperação do óleo fúsel é de apenas 25% do total produzido no país, ou seja, 30 milhões de litros/ ano. Possíveis alternativas para o aproveitamento deste resíduo incluem a produção de álcoois superiores por destilação fracionada simples ou dupla e produção de ésteres por síntese química ou biotecnológica . A síntese catalisada por lipases de mais de 50 ésteres de aromatizantes foi já descrita, e em princípio, a reação pode ser conduzida em uma mistura de álcool e ácido de carboxílico com ou sem solventes, resultando em produtividades elevadas e rendimentos quantitativos. Entretanto, poucos são os trabalhos encontrados na literatura referentes a aplicação de lipases na biotransformação dos álcoois presentes no óleo fúsel em seus ésteres carboxílicos respectivos. Isto pode estar associado as dificuldades técnicas envolvidas quando misturas naturais de álcoois são usadas em reações de esterificação, como por exemplo, a competição entre dois ou mais nucleofílicos pelo mesmo sítio ativo da enzima e o alto teor de água presente nesse material. Os rendimentos de esterificação tendem a diminuir com ácidos graxos menores; sendo os resultados mais baixos obtidos com ácido acético. Desta forma, a seleção do doador do grupo acila é um passo crucial para uma transformação eficiente do substrato por catálise enzimática. Estudos anteriores demonstraram que elevados rendimentos de esterificação (conversão > 95%), podem ser alcançados quando ácido láurico é usado como doador do grupo acila. O processo foi otimizado para meios reacionais isentos de solventes constituído de ácido láurico dissolvido diretamente em óleo fúsel, numa proporção de 1,8 gramas de ácido láurico/mL de óleo fúsel. Para verificar a possibilidade do uso de ácidos carboxílicos de menor tamanho de cadeia carbônica, no presente trabalho foi avaliada a influência dos ácidos butírico e octanóico, na produção de ésteres aromatizantes naturais a partir de óleo fúsel. De acordo com o estudo efetuado, o tamanho da cadeia do ácido influenciou não só na eficiência do processo como também na seletividade da enzima, sendo constatado que os ácidos de cadeia média (ácido octanóico) são mais eficientes que os ácidos de pequena cadeia molecular (ácido butírico). Os resultados obtidos indicam que para uma eficiente biotransformação do óleo fúsel em ésteres aromatizantes é recomendado o uso de ácidos graxos de cadeia carbônica maior que 8 por apresentar um grau de polaridade moderada, propiciando uma alta taxa de esterificação de álcoois secundários em curto período de tempo. Apoio: CNPq e FAPESP 97 ACTIVITY AS FUNCTION OF pH AND TEMPERATURE AND ENERGY OF ACTIVATION OF FREE AND IMMOBILIZED CELLOBIASE NOVOZYM 188 Luiza P. V. Calsavara1; Flávio F. de Moraes 2 and Gisella M. Zanin3* 1,2 Chemical Engineering Department; State University of Maringá; Chemical Engineering Department; State University of Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 - MARINGÁ - PR - BRAZIL; Telephone: (+55) 44 263 2652; Fax: (+55) 44 263 3440; E-mail: [email protected] 3* The enzyme β-glucosidase, also known as cellobiase is used for improving hydrolysis of cellulosic substrates with cellulase. Cellobiase from NOVO Nordisk has been immobilized in controlled pore silica particles by covalent binding with the silane-glutaraldehyde method (67% of proteins were retained in the support). The activity of the free and immobilized enzyme (IE) was determined with 0.2% (w/v) cellobiose, at 40 to 70 °C, pH 3 to 7 for free enzyme and pH 2.2 to 7 for IE. Activity tests were carried out using the method of initial rate, using a jacketed glass batch thermo-controlled reactor, equipped with magnetic stirring. A volume of 20 mL of cellobiose solution, at the test pH, and containing 1 mg/mL of sodium benzoate was incubated at the test temperature with the enzyme β-glucosidase, at the concentration of 95 µL of enzyme/L of solution, whereas for the immobilized cellobiase, 0.06g dry weight immobilized enzyme was used inside a stainless steel screen basket. Halfmilliliter samples were collected with an interval of 3 min, for a period of 18 min, boiled for 5 min and stocked at 4ºC for later glucose assay. At pH 4.8 the maximum specific activity for the free enzyme and IE occured at 65 °C: 17.0 and 2.2 micromol/min.mg of protein respectively. For all temperatures covered by this work, the optimum pH observed for free enzyme was 4.5 while for IE it was 3.5. The Energy of Activation was 11 kcal/mol for free enzyme and 6 kcal/mol for IE, at pH 4.5 to 5. 98 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO DE CATALISADOR E DO CO-SOLVENTE NA TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS J. M. Carter 1* , L. Marzorati 2, A. E. Maiorano1, A. Craveiro 3, A. C. R. Severo 3, C. Matumoto1 1: IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A; Divisão de Química – AB; Caixa Postal 0141; 01064-970 - SÃO PAULO - SP - BRASIL e-mail:[email protected]. Telefone: (+55) 11 37674829 2: IQ-USP – Instituto de Química da Universidade de São Paulo 3: Vallée S/A; Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1253, 9o andar; Broklin Novo; 04571070 - SÃO PAULO - SP - BRASIL As avermectinas são obtidas na forma de metabólitos secundários e intracelulares por processo fermentativo de Streptomyces avermitilis. Estes compostos são bio-sintetizados na forma de oito frações com diferentes graus de atividade parasiticida. Uma destas frações vem sendo largamente usada na terapêutica veterinária. No entanto, nos últimos anos, grande atenção tem sido dada às modificações químicas dessa substância visando a obtenção de novas moléculas com atividade parasiticida mais elevada. O objetivo do presente trabalho foi verificar a influência de parâmetros de processo na hidrogenação catalítica da fração B1 do complexo de avermectinas, originando a 22, 23dihidroavermectina, um derivado semi-sintético de elevada atividade parasiticida. A reação de hidrogenação foi conduzida em um reator Parr de 0,5 L de volume nominal, contendo a avermectina e o catalisador dissolvidos em tolueno. A velocidade de agitação e a pressão de hidrogênio foram mantidas constante. Os parâmetros estudados foram: a temperatura, a concentração de catalisador e a adição de um co-solvente. A fração B1 e o produto formado foram determinados quantitativamente por HPLC com detector UV a 245nm. A fase móvel empregada foi metanol/água (80/20) com vazão de 1 mL/min. Os resultados obtidos, do estudo da cinética da reação de hidrogenação, mostraram que a constante observada de velocidade aumenta linearmente com o aumento da concentração do catalisador nas faixas de concentrações estudadas. Por outro lado, observou-se que a cada aumento de 10 °C na temperatura, a constante observada de velocidade aumenta cerca de 2 vezes e a energia de ativação calculada apresentou um valor igual a 14,0 Kcal/mol. Os ensaios cinéticos, que estudaram o efeito da adição de etanol como co-solvente, permitiram concluir que a constante observada de velocidade aumenta com o aumento da concentração de etanol para o intervalo de concentrações estudadas. 99 DETERMINATION AND EVALUATION OF THE STABILITY AND KINETIC PARAMETERS OF THE ENZYME β-XYLOSIDASE Hasmann, F.A.a*; Silva, R.R.P. a; Pessoa-Jr, A. b; Roberto, I.C. a a* Faculdade de Eng. Química de Lorena-DEBIQ-CEP 12600-000 CP. 116 - LORENASP b Faculdade de Ciências Farmacêuticas–USP–CEP. 05389-970 CP. 66083 – SÃO PAULO-SP Enzymes are proteins specialized in catalysis of biological reactions. They are among most noticeable biomolecules because of their extraordinary specificity and a catalytic power much higher than that of catalysts developed by men. This is a study of the kinetic characteristics and stability of β-xylosidase. This enzyme belongs the xylanolytic complex, which has important applications in food and in paper and cellulose industries. The xylanolytic complex, was produced by Penicillium janthinellum fungus cultivated in sugar cane bagasse hemicellulosic hydrolysate, was submitted to fractionated precipitation with ethanol (20 and 60% v/v) for separation of β-xylosidase enzyme. The stability and kinetic parameters were determined using four pH values: 3.0, 6.0, 7.0 and 9.0. The enzyme showed high stability at acid pH values (3.0 to 6.0), 70% of its catalytic activity being preserved at pH 6.0 and temperatures of –4ºC and 4ºC. pNpX (p-nitrophenil- β-D-xylopiranoside) was the substrate used to determine the kinetic parameters k M and Vm. The characteristics of these parameters are very useful most only for the description of the enzymatic kinetics, but also for the enzyme purification and understanding of the regulator mechanisms of the enzymatic activity. The most appropriate k M and Vm values for pH 6.0 were 1.24 and 0.18, respectively. Acknowledgments: CAPES, FAPESP and CNPq O trabalho completo foi publicado como: HASMANN, F. A.; da SILVA, R. R. P.; PESSOA Jr, A. and ROBERTO, I. C. β-Xylosidase: Stability Evaluation and Kinetic Parameters Determination. Farmácia e Química, 32, 29-32, 1999. 100 ANALYSIS OF A TAYLOR-POISEUILLE VORTEX FLOW REACTOR I: FLOW PATTERNS AND MASS TRANSFER CHARACTERISTICS Roberto de Campos Giordano1 , Raquel de Lima C. Giordano1 , Duarte Miguel F. Prazeres2 ,Charles L. Cooney3 1 Departamento de Engenharia Química-Universidade Federal de São Carlos-C.P. 676CEP13565-905-São Carlos-SP-Brasil- e-mail: [email protected] 2 3 Centro de Engenharia Biologica e Quimica, Instituto Superior Tecnico, Lisboa, Portugal Chemical Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA This paper shows the results of flow visualization and residence time distribution experiments in a Taylor-Poiseuille vortex flow apparatus. It is the first of a series that starts with the identification of flow patterns inside the device and goes up to the assessment of its performance as an enzymatic reactor. Our approach is to study in depth one single geometric configuration (radius ratio η = 0.677 and aspect ratio Γ = 18.30), adequate for use as a heterogeneous reactor and/or adsorption system in bio-processes, rather than spanning a range of geometries and proposing empirical expressions for mass transport coefficients. The range of rotations and axial flow rates used here correspond to low/moderate rotational Reynolds numbers (Reθ from 130 to 615, with 1.6 < Reθ/Reθ,c < 7.7) and low axial ones (Reax from 0.172 to 1.067). An unusual behavior of the system was noticed in this operational region: the vortex drift velocities are less than one, and decrease continuously with increasing rotations, until a full stop. Except for Reθ close to the critical value, the downstream displacement of vortices is slower than the mean axial velocity. The implications of this fact on the reactor performance are discussed. 101 SÍNTESE DE ENZIMAS COAGULANTES POR FERMENTAÇÃO COM Mucor miehei Guilherme G. Silveira1; Rosana B. França2; Euclides H. Araújo3 e Eloízio J. Ribeiro3* 1- Discente do Curso de Ciências Biológicas da UFU 2- Discente do Curso de Engenharia Química da UFU 3- Docente do Departamento de Engenharia Química da UFU Caixa Postal 593 CEP-38400-902- Uberlândia-MG e-mail: [email protected] Na fabricação da maioria dos tipos de queijo, ocorre coagulação da caseína pela ação de enzimas proteolíticas, comumente denominadas coalho, dentre as quais a mais utilizada tem sido a renina, obtida industrialmente por extração a partir do quarto estômago de bezerros. Devido ao aumento crescente da produção mundial de queijos, o fornecimento de renina por meio da referida fonte, tornou-se insuficiente, implicando na necessidade de fontes alternativas para obtenção de tais enzimas. Uma alternativa tem sido a utilização de pepsina, extraída do quarto estômago de bovinos adultos, porém de uso limitado à fabricação de queijos que não passam por processo de maturação, tais como os frescais, devido a ação proteolítica da mesma. Uma outra fonte de enzima que tem sido pesquisada, é a obtenção de proteases ácidas de origem microbiana, com capacidade coagulante quando misturadas ao leite. Dentre os microrganismos citados para a produção de coalho, o mais utilizado industrialmente é o Mucor miehei, por produzir uma enzima altamente ativa e de baixa atividade proteolítica, com propriedades semelhantes à quimiosina da renina bovina. No presente trabalho, estudou-se o crescimento do fungo M. miehei NRRL 3420, e a produção de enzimas coagulantes, em dois tipos de meio de cultivo. Um dos meios era composto de glicose, extrato de malte, peptona, caseína e fosfato de potássio, denominado meio de referência e um segundo tipo de meio, à base de sacarose, em concentrações variáveis, extrato de levedura e sais. As fermentações foram conduzidas em “shaker”, à temperatura de 35°C e pH inicial de 5,5. Os resultados mostraram que no caso do meio de referência, a concentração celular atingiu 25,0 gramas de massa seca por litro de meio e produziu enzimas coagulantes extracelulares, segundo uma cinética do tipo parcialmente associada ao crescimento, atingindo atividades catalíticas da ordem de 150 Unidades Soxhlet, determinadas após 190 horas de fermentação. Para os meios à base de sacarose como fonte de carbono, o crescimento celular foi inferior àquele do meio de referência e as atividades enzimáticas alcançadas foram da ordem de 140 Unidades Soxhlet, após 100 horas de fermentação. 102 INFLUENCE OF K La ON HEXOKINASE PRODUCTION BY Saccharomyces cerevisiae Daniel P. Silva,; Adalberto Pessoa-Jr*; Michele Vitolo,. Biochemical and Pharmaceutical Technology Dept./FCF/University of São Paulo P.O.Box 66083, CEP 05315-970, São Paulo/SP, Brazil. e-mail: [email protected], Phone: (+55) 11 818 3710 Fax: (+55) 11 815.6386. Hexokinase (EC 2.7.1.1), a key enzyme in carbohydrate metabolism, catalyzes the conversion of glucose into glucose-6-phosphate (G-6-P) which is an intermediate for several metabolic pathways, including glycolisis. This enzyme presents great interest as analytical reagent for the measurement of creatin-kinase activity, ATP and hexose concentration 1. KLa measures the performance of oxygen transfer from the gaseous to the liquid phase, i.e. the culture medium, and this article deals with the effect of this variable on the HK production by Saccharomyces cerevisiae. A volume of 0.45 L of inoculum (~4.7 g dry cell/L) was poured into a 5-L NBS-MF 200-New Brunswick bench fermenter (coupled with NBS dissolved oxygen controller, DO81) containing 2.55 L of culture medium (CM). The CM composition was: 17 g/L glucose, 2.4 g/L de Na 2HPO4 12H2O, 0.075 g/L de MgSO 4.7H2O e 5.1 g/L de (NH 4)2SO4; 5.0 g/L peptone and 3.0 g/L yeast extract, at pH 4.0. The culture was then grown at a temperature of 35oC and pH 4.0. Foaming was controlled by the addition dropwise of a mixture containing silicone emulsion (10%) and water (90%). Agitation and aeration rates varied according to KLa values (15, 60, 135 and 230 h-1). Dissolved oxygen tension (DOT) was measured by polarographic electrode. The air flow was measured by an in-line rotatometer and was set using a needle valve. Aliquots of 25 mL of the fermenting medium were taken for analysis. The pH of the fermenting medium was controlled by a glass-electrode and maintained at a desired value by addition of 0,5M NaOH and 0.5 M H 2SO4. Samples were collected periodically to follow the variation of cell concentration (X), glucose (S), hexokinase activity (P). The results showed that K La values did not significantly influenced the specific enzyme activity. However, increased K La values provided higher specific cell growth rate (µx) and specific substrate consumption rate (µs). References: (1) BERGMEYER, H. U. Methods of Enzymatic Analysis, 3rd. ed., Verlag Chemie, Weinheim, 1984. (2) PESSOA JR, A.; VITOLO, M.; HUSTEDT, H. Use of k La as a criterion for scaling up the inulinase fermentation process. Appl. Biochem. Biotechnol . v.57/58, p.699-709, 1996. Acknowledgment: The authors acknowledge the financial support of FAPESP/São Paulo, Brazil. 103 HIDRÓLISE DE LACTOSE DE SORO POR MEIO DE βGALACTOSIDASE IMOBILIZADA Marcela Panaro Mariotti *, Erwing Paiva Bergamo, Henrique Celso Trevisan, Raeder Pinto DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E QUÍMICA TECNOLÓGICA INSTITUTO DE QUÍMICA-UNESP, RUA PROF. FRANCISCO DEGNI, S/N, ARARAQUARA, SP CEP14800-900* Durante as últimas décadas o desenvolvimento da tecnologia de imobilização de enzima e de novos suportes tem incentivado o estudo do processo de hidrólise do soro de leite. O soro é o principal subproduto de laticínio. Apesar de ser uma solução com aproximadamente 4,5% de lactose, além de proteínas e sais minerais, seu consumo direto ou como aditivo alimentar é relativamente pequeno. Através da enzima β-galactosidase é possível hidrolisar a lactose de soro de leite convertendo-a em (glicose-galactose), tornandose uma solução mais doce e solúvel, com diversas vantagens em relação ao soro, que permitem o obtenção de novos produtos economicamente atrativos. A imobilização da enzima apresenta-se como possível alternativa para viabilizar economicamente o processo. O trabalho tem como objetivo otimizar a preparação e o uso da β-galactsidase imobilizada na hidrólise do soro de leite. Através dos estudos realizados será possível verificar o comportamento da enzima βgalactosidase das duas fontes a avaliar a viabilidade técnica e econômica em processos industriais. Empregou-se a β-galactosidase de duas fontes distintas: Klyveromyces fragilis e Aspergillus oryzae, analisando-se a atividade inicial e estabilidade térmica. Uma análise geral dos dados evidenciou que a β-galactosidase de K. fragilis apresentou uma alta atividade (3000U/g) em relação à β-galactosidase de A. oryzae (561U/g), embora não tivesse apresentado boa estabilidade. Na tentativa de melhorar a estabilidade da enzima de K. fragilis, variou-se a quantidade de glutaraldeído, estudando-se ainda o sobre a atividade durante a imobilização por adsorção e ligações cruzadas. Os testes realizados em reatores confirmaram a melhor estabilidade para a enzima de A oryzae, que operou durante 130 dias com solução de lactose 4,5% a 40 °C e 40 dias com soro microfiltrado a 45°C, restando 30% da atividade inicial, enquanto a enzima de K. fragilis operou durante 24h a 40 °C resultando numa atividade de apenas 5-10% da inicial. Os testes realizados permitiram observar que a enzima de K. fragilis apesar de alta atividade, possui uma baixa estabilidade e o uso do glutaraldeído apresenta efeito negativo na atividade da enzima. Na enzima de A oryzae, apesar de apresentar uma atividade menor foi observada uma boa estabilidade em reatores de leito fluidizado. O glutaraldeído não possui efeito negativo sobre a enzima. Apoio: FAPESP/CNPq 104 EFFECT OF THE TEMPERATURE IN THE ACTIVITY AND STABILITY OF CRUDE EXTRACT OF FPase OF Aspergillus niger IZ-91 Claudio L. Aguiar2* e Tobias J. B. Menezes 3 2 * Depto. of Agro-indústria, Alimentos e Nutrição; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP; Av. Pádua Dias, 11; 13418-900 - PIRACICABA - SP; fone (+55)4294132; fax (+55)4294275; e-mail: [email protected]; 3 Depto. of Agro-indústria, Alimentos e Nutrição; Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP; PIRACICABA - SP Several have been the factors analyzed with the objective of obtaining great amounts of cellulolitic enzymes for microorganisms, such as type and concentration of sources of carbon, pH, the induction and inhibition, as well as temperature. The effects of the temperature in the stability of crude enzymatic preparations can be quite different from the purified enzyme. The objective of this work was evaluate the effect of the temperature in the activity and stability of the crude extract of total cellulase, or FPase, of Aspergillus niger IZ-9. For the measure of the work temperature, it was made the incubation for 30, 40, 50, 60 and 70oC for 1 hour and, for the determination of the effect of the temperature in the enzymatic stability, it was made the incubation of the crude extract to the same temperatures in growing intervals of time (30, 60, 120, 180 and 240 minutes). Samplings were made to determine the cellulolitic activity by spectrophotometric method after reaction with dinitrosalicylic acid (DNS). With relationship to the work temperature, the maximum enzymatic activity was obtained for 60oC (0,44 UI.mL -1), followed by 0,33 UI.mL -1, to 50 oC. The total cellulase showed to be practically stable to the temperatures of 30 and 40 oC, with losses of the activity around 6,3 and 9,4%, while at 60 and 70 oC, it was perceived great reduction of the initial activity. Although the enzyme has presented maximum activity for 60oC, it was not tolerant to this temperature. To the temperature of 50 oC, the activity was not very smaller, even so the stability to this temperature was larger, with loss of 25% of the initial activity. In the temperatures of 60 and 70 oC, the fall was of approximately 55%, on the average, after 240 minutes. Therefore, between the analyzed temperatures, to for 50 oC the activity of the crude extract of total cellulase would be the more indicated to the hydrolytic processes. [1CAPES] 105 SELEÇÃO DE FUNGOS CELULOLÍTICOS Leda Isabel L. C. Valente, Pedro De Oliva - Neto * Faculdade de Ciências e Letras de Assis — Unesp. Departamento de Ciências Biológicas. * Avenida D. Antônio, 2100. CEP 19800-000 Departamento de Ciências Biológicas; Assis - SP - Brasil Nos ambientes naturais a celulose constitui cerca de 1/3 da matéria orgânica vegetal. Sendo o principal componente da parede celular das plantas, sua decomposição possui um significado especial no ciclo biológico do carbono. Com o objetivo de se utilizar a biomassa celulósica, um recurso renovável e disponível em grandes quantidades no mundo, têm sido realizados trabalhos, tanto em pesquisa relacionada com a microbiologia da degradação da celulose, como em sua utilização industrial para produção de açúcares. A maior parte dos processos de produção de enzimas celulolíticas estudadas em escala pré-industrial utilizam o fungo Trichoderma reesei, em fermentação submersa. A seleção de fungos com alta atividade nas enzimas celulase e xilanase é fundamental para o avanço tecnológico nesta área. Iniciou-se um trabalho de seleção dos fungos com essa capacidade, existentes na coleção de culturas do Laboratório de Bioquímica e Microbiologia do campus de Assis. Numa seleção inicial, os fungos foram testados quanto a sua habilidade de degradar o papel de filtro e/ou capim colonião seco. Para tal, foi usado meio líquido, em tubo de ensaio, suficiente para cobrir 2/3 de uma fita (7 x 1cm) de papel de filtro Whatman n o 1. Este meio continha além do papel, 4 g/l de (NH 4)2SO4, 2.0 g/l de KH2PO4, 0.3 g/l de uréia, 0.3 g/l de MgSO 4. 7H2O, 0.3 g/l de CaCl2, 5.0 mg/l de FeSO 4. 7H2O, 1.56 mg/l de Mn So 4.H2O, 2.0 mg/l de CoCl 2, e 1.40 mg/l de Zn SO 4.7H2O, e o pH corrigido para 4.8. Os microrganismos capazes de degradar a fita de papel em menos de 14 dias foram selecionadas. Estes foram então submetidos a um novo cultivo, contendo capim (com as mesmas dimensões do papel de filtro). As cepas foram incubadas à temperatura de 28 oC e 32oC. Das cepas testadas até o momento, as que mais se destacaram a 28oC foram o Phanerochaete chrisosporium, com uma porcentagem de hidrólise do capim de 76%, o CCT 2768 com 71% e o FCLA 105 com 63,5% de hidrólise. A 32 oC o P. chrisosporium teve 77% de hidrólise do capim e o FCLA 483, 65% de hidrólise. Após esta etapa iniciamos o cultivo de T. reesei CCT 2768 em meios com variadas formulações, visando testar a influência da lactose, extrato e farinha de levedura, concentração do capim, efeito do melaço e atividade enzimática específica nesses diferentes meios. A maior porcentagem de hidrólise do capim foi de 42-43% em 72 horas com os meios: capim 2% como fonte de carbono e um complemento de sais incluindo sulfato de amônia (1,5%) como fonte nitrogenada; e capim 2% mais complemento orgânico com melaço (0,5%), sulfato de amônia (0,4%) e farinha de levedura (0,5%). Lactose até 1% causou efeito estimulador do complexo celulolítico, porém concentrações superiores (5%) causam inibição do mesmo. Após término da seleção das cepas será testada a otimização da produção de celulases e xilanases com as cepas mais promissoras, nos meios selecionados, visando futuras aplicações. 106 107 PURIFICAÇÃO DE UMA MALATO DESIDROGENASE DE ORIGEM MICROBIANA . Luiz Eduardo Thans Gomes, Hideko Yamanaka* e Cecília Laluce. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALITÍCA, INSTITUTO DE QUÍMICA-UNESP, RUA PROFESSOR FRANCISCO DEGNI, S/N ARARAQUARARA - SP, CEP 14800120. A enzima malato desidrogenase (MDH) encontra um vasto campo de aplicações analíticas podendo ser utilizada na determinação de acido malico em sucos de morango e maçã (1,2), vinhos (3) e na área clínica é utilizada na dosagem de transaminase glutâmica oxaloacética (TGO), já que a atividade desta enzima aumenta 20 vezes no soro de pacientes com infarto agudo no miocárdio (4). Laluce e colaboradores (5) desenvolveram metodologia para a produção da MDH a partir de Streptomyces aureofaciens, linhagem NRRL-1286. O objetivo deste trabalho é desenvolver procedimento para purificação da malato desidrogenase microbiana já que a maioria das enzimas empregadas na área analítica são de origem animal, o que aumenta e de custo relativamente elevado. A enzima foi obtida em mesa incubadora e após a extração da enzima intracelular, o primeiro passo purificativo empregado foi precipitação salina com sulfato de amônio. A enzima foi obtida na faixa compreendida entre 60 e 70% de saturação, apresentando um fator de purificação igual a 2. A próxima etapa foi a utilização de resinas de troca iônica do tipo DEAE Trisacriyl. Foi utilizada primeiramente uma resina do troca aniônica. Esta resina apresentou em uma primeira instância resultados insatisfatórios, já que a enzima depois de ser precipitada com sulfato de amônio dializada e percolada em uma coluna com a resina em questão, era obtida sem atividade. Porém aplicando-se o extrato enzimático bruto diretamente na mesma coluna a malato desidrogenase foi eluida aplicando-se um gradiente de 0-0,5 mol/L de NaCl e obtida com boa atividade. Referências bibliográficas: 1. R.H.Evans, A.W. van Soestbergen and K.A.Ristow, J. Assoc. Off. Anal. Chem. 66(6): 1517,1983. 2. F.G.R. Reyes, R.E. Wrolstad and C.J. Cornwell, J.Assoc.Off.Anal.Chem., 65(1):126, 1982. 3. L.P. McCloskey, Am. J .Enol.Vitic.31(3): 212, 1980. 4 J.S. LaDue, F.Wroblewski, and A.Karmen, Science 120: 497, 1954. 5. C.Laluce, J.R Ernandes and R.Molinari, Appl. Environ. Microbiol.53(8):1913,1987. 108 CARACTERIZAÇÃO FISICO QUÍMICA DA PECTINA DO SUCO DE ACEROLA E. S. Mendes 1*, S. C. Costa2, S. T. D. Barros 1 e L. M. Fernandes 1 1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900-MARINGÁ - PR; fone 44 261 4323; fax 44 261 3440;email:[email protected] 2 Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR Há muito tempo o Brasil se destaca como um grande produtor de frutas a nível mundial devido a sua privilegiada extensão territorial unida a ótimas condições climáticas e hídricas. Dentre estas frutas, a acerola ou cereja-das-Antilhas (Malpighia punicifolia L.) é considerada a planta da década de 90, pelo seu elevado teor de vitamina C. Devido a natureza perecível do fruto, o mercado internacional se interessa basicamente pela sua polpa e por seu suco concentrado. Os processos de separação com membranas se baseiam na permeabilidade seletiva de um ou mais componentes de uma mistura através de uma membrana, apresentando vantagens em relação ao processo clássico de concentração. Na maioria das vezes, o fracionamento ocorre sem mudança de fase, em temperatura ambiente, sem haja necessidade de utilização de fonte térmica; o que significa uma considerável economia de energia. Incluindo assim as brandas condições, o uso das membranas proporciona uma melhoria na qualidade do produto final, preservando substâncias termosensíveis. Sendo as pectinas comuns a todas as paredes e também presentes nas camadas intercelulares das frutas, duas propriedades merecem atenção; a capacidade de formação de gel e a atração iônica. A capacidade de formação de gel depende basicamente do peso molecular e do grau de metoxilação. O objetivo deste trabalho é realizar a caracterização físico-química das substâncias pécticas presentes no suco, bem como determinar a ação da pectinase sobre parâmetros que influenciam o fluxo e a limpeza da membrana. A análise espectroscópica ( C13 NMR) da substância péctica isolada da polpa pelo método de McCready* (1965) mostrou que se trata de uma pectina de alto metoxil, ( δ= 55,880 ppm) e de baixo conteúdo de ácido galacturônico (50,4%) determinado pelo método do Carbazol. A solução de pectina em presença de pectinase tiveram a viscosidade aparente drasticamente reduzida após 20 minutos de incubação . Os hidrolisados enzimáticos de substâncias pécticas e do suco natural de acerola foram analisados através de CLAE, sendo detectada a presença de ácido D-Galacturônico. *Mccready, R.M., Pectin and PecticAcid, In : Methods in Carbohydrate Chemistry , Academica, New York, Vol V, p.167-70, 1965. 109 FATORES INFLUENCIANDO A FORMAÇÃO DE ENZIMAS XILANOLÍTICAS PELA ARQUEBACTÉRIA HIPERTERMOFÍLICA Pyrodictium abyssi Carolina M. Andrade1, Maria Cristina A. Maia1, Garo Antranikian2, Nei Pereira Jr 1* 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO /ESCOLA DE QUÍMICA/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA, CENTRO DE TECNOLOGIA, BLOCO E, ILHA DO FUNDÃO, 21940-900, RIO DE JANEIRO FAX (021)590-4991, E-MAIL: [email protected] 2 TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG, GERMANY. Aplicações potenciais de xilanases microbianas nas indústrias de polpa e papel tem sido amplamente divulgadas. Através da adição de xilanases termoestáveis à polpa não branqueada é possível remover parte da lignina pela hidrólise das ligações que ligam a lignina via xilana, às fibras de celulose. O uso de hemicelulases em bio-branqueamento é considerado uma das mais importantes novas aplicações industriais de enzimas. A hidrólise enzimática de xilana libera, parcialmente, a lignina da polpa consequentemente reduzindo a quantidade de cloro requerido no branqueamento químico convencional de papel e, sequencialmente, minimizando a geração de efluentes organoclorados tóxicos ao meio ambiente. Xilanases também podem ser usadas na clarificação de sucos de frutas, produção de fluidos e sucos a partir de vegetais, em processos para fabricação de café líquido e correção de características de vinho. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de diferentes fontes de carbono na produção da xilanase termoestável de Pyrodictium abyssi. A primeira detecção de xilanases no domínio Archaea foi feita em extratos do hipertermofihico Pyrodictium abyssi, após crescimento em meios contendo diferentes xilanas como fonte de carbono. Entre os carboidratos usados, xilana de “oat-spelt” apareceu como melhor indutor para endoxilanase e β-xilosidase. Estudos de microscopia eletrônica não apresentaram nenhuma diferença (p.ex. xilanosomas) quando P. abyssi foi crescido nos diferentes carboidratos. Devido às propriedades fisico-químicas das xilanases termoestáveis de Pyrodictium abyssi, elas apresentam nítido potencial de aplicação, não só em processos de bio branqueamento, como também em processos de clarificação de sucos de frutas. Apoio financeiro: FUJB, CNPq e FAPERJ. 110 PRODUCTION OF AMYLASES BY Aspergillus tamarii. Francieli A. de Lima, Sophia R.F. Pedrinho, Fabiana G. Moreira, Veridiana Lenartovicz, Cristina G. M. de Souza and Rosane M. Peralta* Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Microrganismos, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brazil, 87.020-900, phone: 0xx442614715 e-mail: [email protected] Several types of enzymes are involved in the degradation of starch, mainly α-amylase, βamylase and glucoamylase. These enzymes are common in fungi, and different strains of Aspergillus are often used as sources of industrial amylases. Although genetic manipulation by classical mutation techniques and recombinant DNA technology are frequently used to increase the expression levels of amylases in well-known microorganisms, traditional screening procedures make possible to find new attractive wild organisms able to produce high amylolytic titles. Considering that a strain of Aspergillus tamarii isolated from soil during a screening programme for xylanase producing microorganisms showed great growth rate in starch as the only carbon source, the purpose of this work was to investigate the effect of different culture conditions in the production of amylases by A. tamarii as well as the effect of pH and temperature in the enzyme activity. The cultures were developed on 250 ml flasks containing 50 ml of mineral solution supplemented with various carbon sources at 1% at 30 o C on a rotary shaker at 120 rpm or under static conditions. Flasks were harvested at periodic intervals, the contents filtered through tared filter paper and the mycelia dried to constatn weigh at 60 o C. The filtrates were assayed for α-amylase and glucoamylase activities and protein. Constitutive production of glucoamylase and α-amylase was detected in sucrose, cellobiose and glucose cultures, but active synthesis of both enzymes took place during growth on maltose, starch, amylose, amylopectin and glycogen. Although higher biomass levels were obtained with shaking cultures, a four-fold increase in both glucoamylase and αamylase activities was observed under static conditions. The production of amylases by A. tamarii was tolerant to a wide range of initial culture pH values (from 4 to 10). The optimal temperature for growth and enzyme production was 30 o C. Temperatures between 30 o and 42o C had little influence on growth and amylase production, and the fungus did not grow at temperatures above 42 o C. The filtrates of starch and maltose cultures were dialyzed against water, the proteins concentrated by precipitation with cold acetone (2:1), and then loaded on to a DEAE-cellulose column. Approximately 70% of the total amylase activity was due to an α-amylase and 30% was due to a glucoamylase. Both partially purified enzymes had optimal activities at pH values between 4.5 to 6.0 and were stable under acid conditions (pH 4.0-7.0). The enzymes exhibited optimal activities at temperatures between 50 o and 60o C and were stable for more than tem hours at 55 o C. Some characteristics of A. tamarii such as easy cultivation, production of two types of amylases on cultures at different pH and temperature conditions, and stability of the amylases at acidic range of pH, make this fungus a potential source of amylase for future biotechnological applications. Supported by: CNPq, UEM 111 ESTUDO DA SUPLEMENTAÇÃO DA PALHA DE ARROZ E SUA INFLUÊNCIA NOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO DE Pleurotus sajor-caju. Santos, V. M.C.S. 1, 2 ; Mendonça, M. M. 1 ; Furlan, S. A . 3* 1. PGB/MIP/CCB/UFSC; 2. CASGO/UFSC; 3. UNIVILLE - C.P. 1361, 89. 201-972, JOINVILLE-SC % Um terço de toda a biomassa produzida no planeta consiste em lignocelulose e estima-se que somente 1,25 % da biomassa produzida mundialmente seja usada efetivamente para a alimentação humana, mesmo assim, com perdas de 9% nos processos de colheita, pós-colheita e beneficiamento. Os resíduos agro-industriais representam uma fonte lignocelulósica abundante e renovável de substratos que podem ser convertidos em biomassa microbiana de elevado valor nutricional. Os fungos de gênero Pleurotus, devido à sua alta habilidade de colonização de substratos, sua rusticidade e baixo custo de produção, apresentam grande potencial de inserção no modelo agrícola catarinense, com predominância da pequena propriedade rural e de mão-de-obra familiar, podendo contribuir para torná-la economicamente viável. O presente trabalho trata da adaptação da tecnologia de produção de cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus ao uso dos resíduos de uma das culturas mais representativas da região Nordeste do estado de Santa Catarina - a palha de arroz. O substrato foi hidratado, por imersão em água por 12 horas, esterilizado em autoclave a 121 o C, por 1 h e inoculado com uma fração de inóculo de 10 % (T). Nos demais tratamentos, o substrato foi suplementado com farelo de arroz, nas concentrações de 5% ( F1) ou 10% (F2), nitrato de 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 T F1 F2 E m iss. Prim X (dias) C u ltiv o t o t a l X ( d i a s ) N 1 N 2 Y1 Y 2 Tratam entos Frutificação X (dias) Figura 1. Ciclo de Cultivo P. sajor-caju T F1 F2 N 1 N 2 Y 1 Y 2 Tratam entos R e n d im e n t o X ( % ) P M O (% ) E f i c . B io l X ( % ) Figura 2. Índices de Produção P. sajor-caju amônia a 0,5% (N1) ou 1,0 % (N2) e extrato de levedura a 1% (Y1) ou 5% (Y2), todos na base de peso seco do substrato. O ciclo de produção (emissão de primórdios, tempo de frutificação e tempo total de cultivo) foi avaliado e os resultados são apresentados na Figura 1. Os índices de produção (rendimento, eficiência biológica e degradação de matéria orgânica) são mostrados na Figura 2. Todos os tratamentos de suplementação permitiram um aumento nos índices de produção, porém não proporcionaram diferenças significativas no ciclo de cultivo. Os maiores índices foram registrados no tratamento F1, com aumento no rendimento de 13.71% em relação à testemunha (T). Sendo o custo de suplementação com o farelo de arroz menor em relação aos demais e não sendo os índices de produção significativamente diferentes dos outros tratamentos, recomenda-se o seu uso na concentração de 5% para a suplementação da palha de arroz visando o cultivo comercial de Pleurotus sajorcaju. 112 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA FRAÇÃO DE INÓCULO E DA SUPLEMENTAÇÃO DA PALHA DE BANANEIRA NOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO DE Pleurotus sajor-caju. Santos, V. M.C.S. 1, 2 ; Mendonça, M. M. 1 ; Furlan, S. A . 3* 1.PGB/MIP/CCB/UFSC; 2.CASGO/UFSC; 3*.UNIVILLE - C.P. 1361, 89. 201-972, JOINVILLE-SC % Os cogumelos do gênero Pleurotus apresentam algumas vantagens de cultivo em relação a outros cogumelos comestíveis: se adaptam a grande diversidade de substratos; não necessitam passar pelo processo de pré-fermentação (compostagem); apresentam crescimento rápido; toleram temperaturas elevadas; apresentam características gastronômicas como aroma e sabor muito apreciadas e ainda são agressivos na competição com outros organismos. A importância do cultivo de cogumelos do gênero Pleurotus se revela mais significativa, ao representar uma alternativa eficiente para viabilizar o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos, que constituem um desperdício de matéria-prima potencial para a conversão em produtos de elevado valor agregado. O presente trabalho trata da adaptação da tecnologia de produção de cogumelos comestíveis do gênero Pleurotus ao uso dos resíduos de uma das culturas mais representativas da região Nordeste do estado de Santa Catarina - a palha de bananeira. O substrato foi hidratado, por imersão em água por 12 horas, esterilizado em autoclave a 121 o C, por 1 h e inoculado com percentagens de inóculo de 5 % (I) e 10 % (T). Nos demais tratamentos foi usada a fração de inóculo de 10%. O substrato foi suplementado com farelo de arroz nas concentrações de 5% ( F1) ou 10% (F2), nitrato de amônia a 0,5% (N1) ou 1,0 % (N2) e extrato de levedura a 1% (Y1) ou 5% (Y2), todos na base de peso seco do substrato. O ciclo de produção (emissão de primórdios, tempo de frutificação e tempo total de cultivo) foi avaliado e os resultados são apresentados na Figura 1. Os índices de produção 100 120 90 80 100 70 80 60 50 60 40 30 40 20 10 20 0 T I F1 F2 N 1 N 2 Y 1 Y 2 T ratam e n tos E m iss. P rim ( d i a s ) Cultivo Total(dias) Frutificação(dias) 0 T I F1 F 2 N 1 N2 Y 1 Y 2 Tratam entos Rendim (%) E fic. B i o l ( % ) P M O (% ) (rendimento, Figura 1. Ciclo de Cultivo P. sajor-caju Figura 2. Índices de Produção P. sajor-caju eficiência biológica e degradação de matéria orgânica) são mostrados na Figura 2. A fração de inóculo de 10% proporcionou um rendimento 15,8 % maior que a fração de 5%. Com exceção do N2 e Y2, todos os tratamentos de suplementação permitiram um aumento no rendimento e na precocidade (emissão de primórdios) em relação à testemunha (T). Os maiores índices foram registrados nos tratamentos Y1, F1 e F2. Sendo o custo de suplementação com farelo de arroz inferior ao do extrato de levedura e não sendo os índices de produção significativamente diferentes, recomenda-se o uso de farelo de arroz na concentração de 5% para a suplementação da palha de bananeira visando o cultivo comercial de Pleurotus sajor-caju. 113 THE INFLUENCE OF SALTS AND ORGANIC SOLVENTS ON LACCASE ACTIVITY FROM PLEUROTUS OSTREATUS STR. FLORIDA Oldair D. Leite, Asae S. Endo, Bruna S. Bernardo, Suely M. Obara-Doi, Rafael C. Fonseca and *Aneli M. Barbosa Depto. de Bioquímica -CCE, Universidade Estadual de Londrina; Campus Universitário; CxP 6001. CEP 86051-990 -Londrina-PR, Brasil. Fone: (+55) 43 3714270 Fax: (+55) 43 371 4216 E-mail : [email protected]. Laccases are multi-nuclear copper-containing (poly)phenol oxidases produced by many different fungi, and in particular the white-rot fungi. They are implicated in ligninolysis and in the degradation of xenobiotics, and hence find application in processing of paper and textiles, and in biotransformation reactions. In this work, the white-rot fungus, Pleurotus ostreatus (str. Florida), which produces 2 laccases (PPO-I and PPO-II), was cultivated in minimum salts medium containing 0.2 % w/v yeast extract, 1% w/v glucose, and 2 mM veratryl alcohol in submerged culture over 7 days at 28 °C. The culture filtrate was dialized against de-ionized water and freeze dried. A 10 % (w/v) enzyme solution was used to study the effect of salts and some organic solvents on the activity of both laccases. PPO-I and PPO-II activities were determined using ABTS and DMP as substrates, respectively, at 50 °C, and at their respective optimum pH (4.0 and 5.0). PPO-I was inhibited at 10 mM concentrations of ZnSO 4 (30 %), CuSO4 (50 %), HgCl 2 (100 %), CoNO 3 (52 %), EDTA (62 %), ascorbic acid (100 %), thiourea (76 %), and sodium metabisulfite (100 %). PPO-II activity was inhibited by NaF (82 %), sodium azide (98 %), ascorbic acid (100 %), thiourea (10 %) and sodium metabisulfite (100 %). Both laccases maintained total activity in the presence of DMSO during 60 min, and the stabilities were lowest in the presence of acetone, methanol and 1,4-dioxane, over the same period. Supported by: CNPq - PIBIC, PPG-UEL 114 LOW MOLECULAR WEIGHT COMPOUNDS WITH OXIDATIVE ACTIVITY PRODUCED BY WOOD-ROTTING FUNGI Medeiros,C.L., Machuca, A., Milagres,A. M. F *. Dept. of Biotechnology, Faculdade de Engenharia Química de Lorena – Faenquil Lorena – SP, CP 116 CEP 12 600 000- Brazil For many years, the wood decay process by fungi was associated almost exclusively with lignocellulosic enzymes production. However, recent studies by electron microscopy have shown that fungal enzymes are too large to penetrate into the cell wall in the early stages of decay. Thus, the hypothesis that low-molecular mass agents may initiate the breakdown of both cellulose and lignin was proposed (1). An extracellular low-molecular mass component with catalytic properties was isolated from liquid cultures containing wheat bran ascomycete Thermoascus aurantiacus (2). These compounds have not only a high affinity for the ferric form of iron, but also mediate the reduction of this metal at low pH. The purpose of this work was to obtain low-molecular weight (LMW) compounds from liquid culture of wood-rot fungi and investigate the redox properties. Ten wood decaying fungi were cultivated under stationary conditions in 2% malt extrat medium for 30 days. The siderophore production and the phenoloxidase activity were determined. The brown-rot fungi, Poria cocos and Laetiporius sulfureus produced a CAS (chromo azurol S) reaction corresponding to 68% and 46% of siderophores, respectively. Except for Phellinus pini and Phanerochaete chrysosporium, all the other fungi produced a small amount of siderophores (about 20%), and had phenoloxidase activity with 2,2’azinobis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) (ABTS), 2,6-dimetoxiphenol and o-dianisidine. The extracts of these fungi were filtered in membranes with a 10 KDa cut-off. A small phenoloxidase activity was detected in Trametes versicolor and Poria medula-panis ultrafiltrates. The supernatants of Trametes versicolor and Poria medula-panis and the ascomycete Thermoascus aurantiacus were further ultrafiltrated using a membrane with 5 kDa molecular weight cut-off. This last fungi was used as a reference owing to the fact that it had been previously described as a producer of low molecular weight compounds with low phenoloxidase activity (2). The phenoloxidase activity and siderophore were determined in the filtrates (< 5 kDa). The LMW compounds from the three fungi oxidized (ABTS), a typical phenoloxidase substrate, at pH 3. These results show that although the LMW does not have an enzymatic nature, the kinectic properties displayed by it were very similar those typical phenoloxidases. References 1. Evans, C.S., Dutton, M.V., Guillén, F., Veness, R.G. (1994) FEMS Microbiol. Ver. 13 , 235-239. 2. Machuca,A., Aoyama,H., Duran, N. (1999) Biochem. Biophys. Res. Commun 256,20-26 . Acknowledgments Supported by FAPESP, CNPq and SCT-FAENQUIL 115 116 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PENICILINA G ACILASES PRODUZIDAS POR E. coli e B. megaterium 14945 Laura Marina Pinotti1; Astréa F.Souza Silva1, Rubens Monti2, Raquel L. C. Giordano1* 1 Departamento de Engenharia Química-Universidade Federal de São Carlos-C.P. 676CEP13565-905-São Carlos-SP-Brasil- e-mail: [email protected] 2 Departamento de Alimentos e Nutrição-UNESP-Araraquara Neste trabalho foi inicialmente estudada a performance de várias técnicas para purificacação e concentração de Penicilina G Acilases produzidas por B. megaterium and E. coli. A seguir, foram preparados derivados insolúveis das enzimas, através da imobilização multipontual delas em agarose ativada com grupos glioxil. As estabilidades térmicas da enzima solúvel e respectivo derivado multipontual de PGA produzida por B. megaterium foram comparadas com as da enzima solúvel e respectivos derivados uni e multipontuais de PGA produzida por E. coli. As duas enzimas apresentaram diferentes rendimentos durante ensaios de precipitação com etanol. As técnicas que mostraram melhores resultados foram diálise e concentração com sacarose. As enzimas produzidas pelos dois microrganismos mostraram similar comportamento quanto à estabilidade térmica, com os derivados multipontuais de ambas as enzimas apresentando estabilidade muito maior que as apresentadas pelas enzimas solúveis e pelo derivado unipontual de E. coli. 117 STUDY OF DIFFERENT MEDIA FOR PRODUCTION OF PENICILLIN G ACYLASE FROM BACILLUS MEGATERIUM ATCC 14945 Laura Maria Pinotti; Astréa F.S. Silva; Rosineide G. da Silva; Raquel L. C. Giordano* Departamento de Engenharia Química-Universidade Federal de São Carlos-C.P. 676CEP13565-905-São Carlos-SP-Brasil- e-mail: [email protected] In this work, several fermentation media were tested for the production of Penicillin G Acylase (PGA) using B. megaterium. The carbon sources studied were glucose and lactose. The nitrogen sources studied were enzymatic casein hydrolysates produced with proteases of different specificity. The replacement of glucose by cheese whey and the addition of free amino acids in the PGA production were also tested. The results showed a strong correlation between the nitrogen source and enzyme yield and the presence of glucose repression. The highest enzyme concentration achieved was 138 IU/L using casein hydrolyzed with Alcalase 0.6 L and cheese whey. 118 IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE MICROBIANA EM QUITOSANA E CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES HIDROLÍTICAS DA ENZIMA IMOBILIZADA Ernandes B. Pereira 1 Heizir F. de Castro2; Flávio F. de Moraes 1; Gisella M. Zanin1* 1* Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 – MARINGÁ-PR; fone (+55)-442632652; 2 Depto. de Engenharia Química; Faculdade de Engenharia Química de Lorena; CP. 116, 12600-000, LORENA-SP. Este trabalho tem como finalidade principal a produção de derivados de lipase imobilizada em quitosana (suporte de baixo custo), visando sua aplicação em reações hidrolíticas. Os derivados foram obtidos por adsorção física usando hexano como meio de dispersão. Dois tipos de quitosana (grau analítico e farmacêutico) foram usados para imobilizar lipase de fonte microbiana (Candida rugosa) e de células animais (pâncreas de porco). Os melhores resultados com relação à retenção de proteína (80%) e eficiência de imobilização (35%) foram obtidos para a lipase microbiana e quitosana de grau farmacêutico. A caraterização das propriedades hidrolíticas foi efetuada por meio de um estudo comparativo entre lipase livre e imobilizada em termos de pH, temperatura, estabilidade térmica e estabilidade operacional. Mediante o procedimento de imobilização, ocorreram modificações para pH mais ácido (6,0) e para maior valor de temperatura ótima (45 0C) quando comparado com os valores originais da lipase na sua forma livre (pH ótimo 7,0 e temperatura de 37 0C). Os perfis das curvas de estabilidade térmica indicaram que o derivado imobilizado apresentou uma maior estabilidade térmica que a lipase livre. Enquanto a lipase livre é rapidamente desativada em temperaturas superiores a 40°C (Kd=0,039 e t 1/2=17,76 h), o derivado imobilizado em quitosana só apresentou inativação térmica em temperaturas superiores a 50 ° C (Kd=0,039 e t 1/2=17,76 h). A estabilidade operacional da lipase imobilizada em quitosana foi verificada em bateladas cíclicas de hidrólise do azeite de oliva que revelou um tempo de meia-vida de 5,0 horas a 370C. Apoio: CAPES e FAPESP 119 PRODUCTION OF LACTOOLIGOSACCHARIDES FROM LACTOSE USING β-GALACTOSIDASE Alexandre S. B. Azevedo; Flávio F. de Moraes and Gisella M. Zazin State University of Maringá, Chemical Engineering Department Av. Colombo, 5790–BL E46–S09–Zip Code 87020-900 MARINGÁ–PR–BRAZIL E-mail: [email protected] Lactooligosaccharides are sugars formed during β-galactosidase action on lactose. They are not susceptible to decomposition by the enzymes of the intestinal tract, being considered noncaloric sugars. The great advantage of the lactooligosaccharides is that they stimulate the selective growth of bifidobacterium in the intestinal tract. These bacteria are beneficial to the normal function of the intestine because they inhibit the growth of microorganisms that are potentially putrefactive. The objectives of this work were to produce and identify the lactooligosaccharides formed during enzymatic hydrolysis of lactose using the enzyme βgalactosidase, and to determine the parameters that influence their formation. The enzyme used was Lactozym 3000 L, Type HP-G, from the yeast Kluyveromyces fragilis supplied by Novo Nordisk, with 16.49 mg of protein/mL of enzyme solution and a specific activity of 89.95 µmol glucose/(min. mg protein), determined in pH 6.5 and 40 oC. Lactose solutions 20% w/v buffered at pH 6.5 were inoculated in a batch reactor with β-galactosidase solutions to give an enzyme concentration of 0.32 and 0.64 mg protein/g lactose, and incubated at 40 oC for 12 hours. The progress of the reaction was followed with HPLC, using Amino Spheri-5 (Brownlee Labs) and Aminex HPX-42C (Bio-Rad) columns. Maximum lactooligosaccharides concentration was observed with the lower enzyme dosage after a reaction time of 100 minutes. This paper was presented at: Zanin, Gisella Maria; Azevedo, Alexandre S. Barbara and Moraes, Flávio Faria de. Production of Lactooligosaccharides from Lactose using Beta-galactosidase. Twenty First Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. Fort Collins, CO-USA, 02-06/05/1999. Program and Abstracts, Poster 5-10. 120 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO ENZIMÁTICO.NOS SUCOS DE ACEROLA E ABACAXI. M. C. de Avelar 1, S. P. Almeida 1, E. S. Mendes 1, G. M. Zanin1, S. T. D. Barros 1*. 1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900-MARINGÁ - PR; fone 44 261 4323; fax 44 261 3440;email:[email protected] Nos últimos anos, o mercado de sucos de frutas concentrados tem registrado um grande crescimento, e com isso, a concorrência entre as indústrias pela maior fatia do mercado consumidor tem alavancado um grande desenvolvimento do processo de concentração. O método tradicional de concentração de sucos emprega calor o que causa uma significativa deterioração na qualidade, aroma e sabor do suco concentrado. O uso da tecnologia de membranas para clarificar e concentrar os sucos, tem sido utilizada recentemente, a mesma confere ao suco um sabor, aroma e aspecto mais próximo do suco fresco, evita a exposição do mesmo ao calor reduzindo o consumo de energia. No entanto, este processo apresenta o problema de entupimento dos poros da membrana devido ao fato da existência de polissacarídeos estruturais nos sucos. A resolução deste problema pode vir da realização de um tratamento enzimático, já que certas enzimas atuam degradando polissacarídeos reduzindo a viscosidade dos sucos de frutas, facilitando assim a clarificação e a concentração. Neste trabalho avaliou-se a influência do tratamento enzimático em sucos de abacaxi e acerola, tratados com as enzimas Celuclast e Citrozym Ultra L, ambas fabricadas pela Novo Nordisk. Análises da viscosidade e açucares redutores foram realizadas e os resultados obtidos foram favoráveis, apresentando uma redução significativa da viscosidade dos sucos e um aumento considerável dos açucares redutores. A partir dos resultados obtidos realizou-se também uma avaliação da cinética da reação enzimática. 121 SUCROLYTIC AND UREOLYTIC ACTIVITIES IN THE CAROTENOGENIC PINK-ORANGE YEAST PHAFFIA RHODOZYMA Daniele S. Persike1, Maria H. R. Santos 1, Marileusa D. Chiarello2, and José D. Fontana1* 1* LQBB-Biomass Chemo/Biotechnology Lab.- Dept.Biochemistry - Federal University of Parana / PO Box 19046 ; 81531-990 - CURITIBA-PR–BRAZIL; e-mail: [email protected]; 2CNPq / PADCT Oxygenated carotenoids obtained either from microbial sources or from chemical synthesis have a consolidated due to their natural occurrence and / or commercial uses in fish farming (astaxanthin in salmonid and crustacean meat) and poultry (astaxanthin for chicken eggs; cantaxanthin for birds feathers). Also from a strictly biochemical standpoint these pigments are convincingly recognized as natural tools for the quenching and/or scavengering of free radicals, thus acting as anti-ageing diet ingredients. The bioproduction of the pink-orange pigment astaxanthin (3,3’-dihydroxy-4,4’-diketo- β-carotene) is feasible using Phaffia rhodozyma grown in raw sugar cane juice and urea as cheap substrates. Invertase and urease are then involved as key hydrolytic enzymes in the uptake and incorporation of these C and N sources. Their biochemical characterization is thus required. No significant activity for invertase and urease was found in the cell-free culture broth lag till the stationary phase (medium / air ratio 5:1; 100 rpm; 25 oC; 24 h culture; intracellular enzymes peaking in the onset of the exponential phase. Vigorous physical means were necessary for the release of the tightly yeast cell-associated hydrolases. Extensive sonication (Cole Parmer 4710 ultrasonic homogenizer; 6 intermittent cycles of 1 min in a ice bath) or glass bead abrasion were found effective for the purpose of invertase and urease release. High activity and relatively low protein content in the solubilized fractions endorsed this approach as convenient. Extracts were concentrated in an Amicon PM-10 ultrafilter and applied on a Concanavalin A-Sepharose column. Urease was eluted with the equilibration buffer (pH 6 0.1 M sodium acetate containing 3 mM of Mg 2+, Mn2+, Ca2+ chlorides and 3 mM DTT) just after the V o volume and the strongly bound invertase then eluted thanks the addition of of 0.5 M NaCl and 1.3 M α-methyl-D-mannopyranoside in the same buffer (peak at 3 x column Vt).. Enzymes inhibition were seen respectively with aniline and thiourea while HgCl 2 inactivated both. Although Phaffia rhodozyma (one single genus and sp; isolate from Northern Japan) growth in liquid culture is negatively affected by temperatures > 27 oC, the released urease and invertase displayed maximal hydrolysis of urea or sucrose in the respective ranges of 30-35 oC and 50-60oC and differential inactivation profiles “in vitro”. Isoelectrofocusing (IEF; pI 3-9 range) of protein sonication extracts displayed a relatively simple protein profile and an isoelectric point around 4.0 for P. rhodozyma invertase activity as compared to pI 3.5 found for Saccharomyces cerevisiae invertase when the zymogram was carried out with an buffered sucrose : triphenyltetrazolium mixture. Physical preatreatments such as extensive sonication or moderate cell abrasion with glass beads were effective and partially selective for the release of cell-associated invertase and urease from the yeast Phaffia rhodozxyma. Invertase revealed greater thermostability than urease. Con A-Sepharose, as an affinity matrix, proved usefull for one-step enzymes fractionation. A possible mannoglycoprotein nature was thus suggested for P. rhodozyma invertase Invertase IEF showed a simplified protein profile for crude protein extract from sonication and a moderately acidic pI for invertase. [ Funding: CNPq and PADCT-SBIO II] 122 PRODUCTION OF HIGH-GRAVITY BEER: AN ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL PROCESS roberto Barbosa de Almeida1, João Batista de Almeida e Silva1*, Urgel de Almeida Lima2, Adilson Nicamor de Assis1. 1 Depto de Biotecnologia da FAENQUIL-LORENA-SP-BRAZIL Rodovia Itajubá-Lorena, Km 74,5 - CEP12600 fonefax (+055) 0XX125533165 e-mail [email protected] 2 Depto. de Bioquímica do Instituto Mauá de Tecnologia-São Caetano do Sul-SP In the production of beer, the use of a higher concentration of wort the one than normally employed has become more and more generalized. This process, also called high-gravity, results in more concentrated beer, which, after maturation, is diluted with water having as a basis the percentage of alcohol or the wort concentration observed at the beginning of the fermentation. This procedure allows an increase in the efficiency of the facilities and a reduction in energy consumption, operational time and costs, besides other advantages. On the other hand, higher concentrations of wort bring about some problems, such as the decrease in cell viability and low or incomplete fermentation, resulting mainly from the toxicity of the ethanol produced and from high osmotic pressures. This work is an attempt to produce beer from worts having different compositions, concentrations and pH values. After diluting the beer to the commercial concentration of 35 g/L, we compared the final volume with the initial fermentation volume (4.5 L) whose initial cell concentration was 10 6 cell/mL (25 oC). The consumption of sugars was determined by the method of Somogyi and Nelson, and the content of ethanol, by gas chromatography. The final volume of beer produced with a wort concentration of 20 oP and pH 5.5 was 7,363 mL, yp/s=0.353 g/g and fermentation rate=83.2%, whereas the final volume of beer produced with wort concentration of 15 oP was 5,955 mL, Yp/s=0.417 g/g and fermentation rate=85.9. At pH 4.5 the final volume of beer produced was 8,286 mL and the initial sugar concentration, 20 oP, whereas the volume of beer produced with wort concentation of 15 oP was 6,241 mL. The rates of Y p/s, ethanol, and fermentation for 20 oP were 0.392 g/g, 6.45 g/mL and 87.93 %, respectively, whereas for 15 oP they were 0.393, 4.85 g/mL and 86,91 %, respectively. The highest yield (8,286 mL) was obtained from fermentation at pH 4.5 and initial sugar concentration of 20 oP. Diluting the beer to the concentration of 35 g/L increased the initial volume by 84.13 %. 123 ADIÇÃO DE MALTOSE NA PRODUÇÃO DE GLICOAMILASE PELOS SISTEMAS BATELADA E BATELADA ALIMENTADA POR FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA Gean Delise Leal Pasquali1; Telma Elita Bertolin1* e Jorge Alberto Vieira Costa3 1* Centro de Pesquisa em Alimentação/CEPA-Universidade de Passo Fundo, Caixa Postal:611-CEP:99001-970; Passo Fundo-RS; e-mail: telma @upf.tche.br 2 Departamento de Engenharia Bioquímica; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Rio Grande-RS O Centro de Pesquisas em Alimentação CEPA/UPF realizou a produção de glicoamilase por fermentação semi-sólida através dos sistemas batelada e batelada alimentada. Farelo de trigo foi utilizado como principal fonte de carbono e suplementado com solução salina contendo KH2PO4, MgSO4 e uréia como fonte de nitrogênio. Maltose e amido solúvel foram utilizados como fontes de carbono suplementar. O meio foi inoculado com Aspergillus awamori, concentração de 10 7 esporos/ml. Para o estudo do sistema em batelada, verificou-se as concentrações 2,0; 2,5; 5,0 e 7,5 (p/p) e para o sistema em batelada alimentada adicionou-se as concentrações de 2,0; 2,5 e 7,5 (p/p) em alimentações assépticas nos tempos 24, 38 horas e 14, 24, 38 e 48 horas. Quando amido solúvel foi utilizado, alimentou-se o meio de fermentação nos tempos 24, 38 horas nas concentrações 0,75; 1,25 e 2,5% (p/p). Como determinações analíticas realizou-se medida de atividade enzimática, açúcares redutores, açúcares redutores totais, umidade, e pH. Concentrações maiores que 2,5% de maltose inibiram a produção de glicoamilase. Maltose e amido solúvel foram adicionadas pelo sistema de batelada alimentada em diferentes concentrações e regimes de alimentações. O aumento da atividade de glicoamilase foi de 15 e 170% no meio contendo 2,5 (p/p) de maltose e 1,25% (p/p) de amido solúvel, respectivamente. Os resultados mostraram que a maltose é um fraco indutor, quando comparado com o amido solúvel, na produção de glicoamilase por fermentação semi-sólida (Projeto financiado pela Fapergs, processo nº 98/1780-3). 124 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA EM SORO DE LEITE. Nitschke, Marcia1* e Rodrigues, Vanessa1 1 UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – ICB - CAMPUS I – BAIRRO SÃO JOSÉ, 99001-970 - PASSO FUNDO –RS * E-mail: [email protected] A goma xantana, polissacarídeo de origem bacteriana, vem sendo amplamente empregada na indústria como agente espessante, gelificante, emulsionante e estabilizante. O isolado Xanthomonas campestris C7L foi adaptado para a utilização de lactose como fonte de carbono para a produção de xantana. Visando avaliar a eficiência da utilização de soro de leite como substrato potencial, comparou-se a produção de goma xantana em meio de cultura a base de soro de leite integral (lactose) e soro de leite hidrolisado (glicose + galactose). O cultivo em soro de leite hidrolisado demonstrou que o microrganismo exibiu preferência pelo consumo de glicose/galactose , enquanto que a lactose foi consumida de forma mais lenta. A viscosidade final do meio a base de soro integral atingiu 18.000 cP enquanto que em soro hidrolisado atingiu 12.000 cP. O rendimento obtido para o soro integral foi de 71% e para o soro hidrolisado foi de 48%. O isolado C 7L demonstrou maior eficiência para a conversão de lactose em xantana enquanto que em soro hidrolisado o consumo preferencial dos monossacarídeos (glicose e galactose) não se refletiu em maior produção de xantana. 125 126 127 AROMA PRODUCTION BY KLUYVEROMYCES MARXIANUS IN SOLID STATE FERMENTATION OF CASSAVA BAGASSE Adriane B. P. Medeiros 1, Carlos R. Soccol1*, Ashok Pandey1 and Pierre Christen2 1 Laboratório de Processos Biotecnológicos, Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-970 Curitiba-PR, Brazil;. 2 Institut de Recherche pour le Dèveloppement , Université de Provence, Marseille, France Flavour and fragrance compounds synthesis by biotechnological means has achieved much attention in recent time. The consumers awareness about chemically synthesised such additives has resulted an increasingly important role of aroma compounds produced through microbial means in food, cosmetics, chemical and pharmaceutical sectors [1,2]. It is known that several microbial cultures are able to produce aroma compounds by fermentation of sugars and amino acids [3]. A study was conducted to produce and identify the aroma compounds produced by an yeast strain of K. marxianus in solid state fermentation (SSF). Cassava bagasse was used as the sole carbon source. Fermentation was carried out in 250-ml Erlenmeyer flasks by taking 15-g cassava bagasse, covered with six layers of gauze. The influence of the process parameters on volatile compounds production from the yeast culture was tested by a 2 5 statistical experimental design. The parameters studied were the substrate pH and moisture, glucose addition, inoculum size and cultivation temperature. Headspace components analysis of the flask for the volatile compounds on a Hewlett Packard 5890 Gas Chromatograph, equipped with a polar capillary column and a flame ionization detector at 250 oC resulted eleven compounds. The predominant compounds identified were acetaldehyde, ethyl acetate, ethanol, ethyl propionate, isoamyl alcohol and isoamyl acetate. It was found that glucose addition was statistically significant at 5% level for volatile compounds production. The compounds produced were also subjected to the sensory evaluation. These results, thus, proved the feasibility of cassava bagasse to be used as substrate in SSF for aroma production using the yeast culture of K. marxianus. References: [1] Bramorski, A. et al. (1998) Biotechnol Letts, 20, 359-362. [2] Berger, R. G. (1995)Aroma Biotechnology, Springer-Verlag, Berlin [3] Janssens, L. et al. (1992) Process Biochem., 27 195-215 128 CITRIC ACID PRODUCTION BY ASPERGILLUS NIGER IN SOLID STATE FERMENTATION USING AGRO-INDUSTRIAL WASTES Luciana P.S. Vandenberghe,1,2,, Carlos R. Soccol,1*, Ashok Pandey1 and Jean-Michel Lebeault2 1 Laboratório de Processos Biotecnológicos, Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Paraná, CEP 81531-970 Curitiba-PR, Brazil; 2Laboratoire de Procédés Biotechnologiques, Génie Chimique, Université de Technologie de Compiègne, 60205-Compiègne, Cedex, France Citric acid is widely used in food, pharmaceutical and chemical industries. Its global production reached 550 000 tones per year. Almost entire quantity of citric acid is produced by fermentation, mainly through submerged fermentation of starch or sucrose based media, using the filamentous fungus Aspergillus niger. Solid state fermentation (SSF) offers numerous advantages for the production of citric acid and has been a subject of interest for many authors. It is known that different agro-industrial residues can be used as substrate in SSF processes. Thus, the present work was aimed at evaluating two abundantly available agricultural residues in the State of Paraná, viz. cassava bagasse and sugar cane bagasse. SSF was carried out using two different media. In one medium cassava bagasse (CB) was used as the sole carbon source. In another, sugar cane bagasse (SCB) was used as the solid support which was mixed with a cassava bagasse hydrolysate, prepared by enzymatic hydrolysis using α-amylase (Termamyl 120L) and amyloglucosidase (AMG 200L) both from Novo Nordisk. Conditions were optimized for the hydrolysis. Best conditions were: 70 µL of Termamyl 120L/100 g of cassava bagasse for 1h at 90°C, pH 6.9, 400 µL of AMG 200L/ 100 g of cassava bagasse for 24 h at 60° C, pH 4.5 and a particle size < 0.84 mm. Both the media were enriched with urea, MgSO 4.7H2O, ZnSO4.7H2O and methanol. After a preliminary screening, a strain of Aspergillus niger LPB 21 was selected for citric acid production. Fermentation was carried out at 30°C for 120 h with initial substrate moisture of 70 and 80 % for CB and SCB media, respectively. The fungal culture grew well in both the media. Cassava bagasse medium, however, gave more then 3-fold higher citric acid yields in comparison to sugar cane bagasse medium (155 and 44 g citric acid/kg dry matter, respectively). Cassava bagasse showed its better adaptation for the production of citric acid having no need of an extra source of carbon. Further studies, including the respirometric kinetics during the SSF process are being carried out. 129 130 131 132 133 134 135 SUGARCANE BAGASSE HYDROLYSATE AS A SOURCE OF CARBON FOR MICROBIOLOGICAL XYLITOL PRODUCTION R.C.L.B. Rodrigues1, M.G.A. Felipe 1*, S.S. Silva1, I.M. Mancilha1, M. Vitolo2 1 DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA-FAENQUIL - LORENA - SP CEP 12600-000 - E-MAIL: [email protected] 2 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICA - FCFUSP INTRODUCTION: Sugarcane bagasse is an abundant and renewable lignocellulosic biomass. The main component of its hemicellulosic fraction is xylan, a polymer made from xylose units, which can be hydrolysed to this sugar by enzymes, bases and acids. Theses acids can result in some by-products, such as acetic acid, furfural, hydroxymethylfurfural and phenolic compounds. The mass ratio of acetic acid to pentose sugar in hemicellulosic prehydrolysates can be high, as a consequence of the diacetylation of acetylated pentosan. The toxic effect of acetic acid depends on its concentration, as well as on the pH and oxygen availability. This work avaluates the xylose bioconvesion to xylitol in sugarcane hemicellulosic hydrolysate with different acetic acid concentrations. METHODOLOGY: Candida guilliermondii was cultivated in sugarcane hemicellulosic hydrolysate obtained by acid hydrolysis, vaccum evaporated at 43 and/or 63 °C and pH values of 0.85, 4.76 and 8.0. The hydrolysate was treated by pH adjustment with commercial calcium oxide and activated charcoal adsorption, and suplementated with nutrients. RESULTS: The acetic acid concentration in the hydrolysate varied between 5.09 and 12.65 g/L. Vaccum evaporation at 63 °C and pH 0.85 favored the acid removal, as well as the xylitol yield (Yp/s) and productivity (Q p), whose maximum values were 0.73 g/g and 0.57 g/L.h, respectively. These results were obtained with the lowest acetic acid concentration (5.09 g/L) confirming that the acetic acid toxicity is related with its concentration in the fermentation medium and that the detoxification of the hydrolysate is important to reach good results in this bioprocess. 136 137 EVALUATION OF THE USE OF IMMOBILIZED WHOLE CELLS ON XYLITOL PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE ACID HYDROLYSATE Walter de Carvalho1, Silvio Silvério da Silva*1*, Michele Vitolo2, Ismael Maciel de Mancilha1 1 Department of Biotechnology, Faculty of Chemical Engineering of Lorena, 12600-000, Lorena, SP; 2 Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 05489-900, São Paulo, SP, Brazil. (*E-mail : [email protected]) Lignocellulosic biomass is a potential renewable source of carbohydrates that can be used as substrate in biotechnological processes. Before its utilization in biological process, hydrolysis is carried out in order to remove the sugars from the polymeric fraction. Acid hydrolysis of the hemicellulosic fraction produce mainly pentose sugars being xylose the major component, although some degradation compounds are generated. Many products can be obtained from fermentation of the hemicellulosic hydrolysate, such as xylitol. Xylitol is a special sweetener, anticariogenic and can effectively be used as a substitute for conventional sugars consumed by diabetics . The biotechnological production of xylitol is more attractive than the chemical process. However the productivities of this fermentation is still a bottleneck for the stablishment of a large scale process. Cell immobilization is a typical approach used sucessfully in many bioprocesses in order to maximizing the microbial production rates. In this work we used the yeast Candida guilliermondii FTI 20037 immobilized by entrapment in Ca-alginate beads (3 mm diameter) for xylitol production from concentrated sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate in repeated batch system. The fermentation runs were carried out in a 125 and 250 mL Erlenmeyer flasks placed in an orbital shaker at 30 ºC and 200 rpm during 72 hours, keeping constant the proportion between work volume and flask’s total volume. According to results, cell viability was substantially high (98%) in all fermentative cycles. The parameters yield and volumetric productivity in xylitol increased significantly with the reutilization of the immobilized biocatalysts. The highest values of xylitol final concentration (11,05 g/L), yield factor (0,47 g/g) and volumetric productivity (0,22 g/Lh) were obtained in 250 mL Erlenmeyer flasks containing 80 mL of medium plus 20 mL of immobilized biocatalysts. The support used in this study (Ca-alginate) presented stability in the experimental conditions used. The results show the potentiality of use immobized cells as an approach for increasing the xylitol production rates. Acknowledgements: CAPES and CNPq / Brazil. 138 ESTUDO DO CRESCIMENTO DE PSEUDOMONAS PUTIDA IPT-046 COM VISTAS À PRODUÇÃO DE POLIHIDROXIALCANOATOS DE CADEIA MÉDIA S. C. Diniz*, J. G. C. Gomez, L. F. da Silva, M. DA Costa, M. K. Taciro, S. R. da Silva e J. G. C. Pradella IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS AV. PROF. ALMEIDA PRADO, N °532 / CIDADE UIVERSITÁRIA – USP INTRODUÇÃO : Polihidroxialcanoatos são polímeros acumulados por diversas bactérias na forma de grânulos citoplasmáticos que podem representar até 80% da massa seca da célula (Anderson & Dawes, 1990). Pseudomonas fluorescentes são capazes de acumular polihidroxialcanoatos de cadeia média (PHAmcl) a partir de carboidratos (De Smet et al, 1983; Huijiberts et al, 1994). É importante a obtenção de um protocolo de alta densidade celular no crescimento para se diminuir o custo de investimento em biorreatores. O primeiro passo para a obtenção deste protocolo foi realizar experimentos para se identificar fatores inibitórios/limitantes de substratos para a fase de crescimento. METODOLOGIA : Foram feitos ensaios de crescimento utilizando como fontes de carbono glicose e frutose em biorreatores de 10L de volume útil (NBS) em diferentes concentrações e analisados nitrogênio, oxigênio dissolvido e açúcares. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Para todas as concentrações analisadas houve o consumo preferencial de glicose, observando-se diauxia. A velocidade específica de crescimento variou entre 0,18 h -1 até 0,60 h-1, sendo que a maior velocidade foi obtida com aproximadamente 20 g/L de fonte de carbono inicial. A inibição por açúcares ocorreu por volta de 40 g/L de fonte de carbono inicial, e os fatores de conversão Y x/fonteC variaram entre 0,11 g X / g fonteC até 5 g X / g fonteC. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ANDERSON, A. J. & DAWES, E. A., 1990. Microbiol. Rev., 54:450-472. DE SMET, M. J. et al., 1983. J. Bacteriol., 154: 870–878. HUIJBERTS, G. N. M. et al., 1994. J. Bacteriol., 176(6): 1661–1666. 139 PRODUÇÃO DE ELASTÔMEROS BIODEGRÁDAVEIS A PARTIR DE ÓLEOS VEGETAIS Silva, S.R.; Gomez, J.G.C.; Costa, M.; Taciro, M.K; Silva, L.F.; Santos, A. L. e Pradella, J.G.C. IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNÓLOGICAS DE SÃO PAULO S/A AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 532 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - USP CEP: 05508 - 901 INTRODUÇÃO: Polihidroxialcanoatos (PHA) têm despertado grande interesse industrial como termoplásticos biodegrádaveis. Pseudomonas do grupo I de homologia do RNAr produzem PHA contendo monômeros de cadeia média (PHA MCL) que apresentam propriedades elastoméricas. A produção destes polímeros pode ser realizada utilizando diversas fontes de carbono. A utilização de óleos vegetais, devido a presença de ácidos graxos insaturados e polinsaturados, permite a incorporação de monômeros contendo insaturações no PHA. Estas insaturações são alvos potenciais para modificações químicas do polímero, permitindo diversificar suas propriedades. Neste trabalho foi estudada a produção de PHA MCL a partir de óleos vegetais por bactérias isoladas de amostras de solo. METODOLOGIA: Inicialmente, 22 linhagens bacterianas foram cultivadas em meio mineral para verificação de crescimento celular utilizando-se óleos vegetais (arroz, canola, girassol, milho e soja) como única fonte de carbono. Em seguida as linhagens foram avaliadas em cultivo sob condições que proporcionam o acúmulo de PHA MCL. Os cultivos foram acompanhados com determinações da biomassa seca total e da quantidade e composição dos PHAMCL produzidos (Cromatografia gasosa). RESULTADOS: Oito linhagens bacterianas foram capazes de utilizar óleos vegetais como única fonte de carbono para o crescimento. Nos ensaios de acúmulo, atingiu-se até 40% da biomassa seca em polímero, sendo que os óleos de arroz, canola e soja foram os que permitiram um maior percentual de acúmulo. CONCLUSÃO: As linhagens bacterianas isoladas de solo apresentaram um grande potencial para a produção de elastômeros biodegradáveis em processo fermentativo utilizando óleos vegetais como principal matéria-prima. 140 TRATAMENTO DA ÁGUA RESIDUAL DE PETRÓLEO EM GUAMARÉ/RN: SIMULAÇÃO DE PROCESSO DE TRATAMENTO BIOLÓGICO E ANÁLISE ECONÔMICA COMPARATIVA Bittelbrunn, R. S. e Pannir Selvam, P.V.* DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. CENTRO DE TECNOLOGIA – CAMPUS UNIVERSITÁRIO - CEP: 59.072-970 - NATAL/RN – BRASIL FONE: (084) 215-3769 FAX: (084) 215-3770 - E-MAIL: [email protected] O objetivo principal deste trabalho é apresentar uma metodologia estruturada de lógica de desenvolvimento de processo para a remoção de matéria orgânica dissolvida no efluente tratado na Estação de Tratamento de Efluentes de Guamaré, Rio Grande do Norte (ETEGMR), utilizando o simulador de processos SuperPro Designer no tratamento biológico através de lagoa aerada e flotador com ar dissolvido. Foram simulados o processo complexo da biodegradação do substrato, a oxidação do enxofre, o decaimento microbiano e a respiração endógena, baseados nos parâmetros cinéticos obtidos na literatura. Estudou-se o dimensionamento da lagoa aerada para tratamento de água residual de petróleo, baseado nos modelos dinâmicos dos processos biológico e de flotação. A simulação de processos foi realizada como um estudo de caso de projeto, para uma capacidade de tratamento de água residual de 20.000 m3/dia. Estudou-se o desenvolvimento do fluxograma do processo, dimensionamento de equipamentos e plantas, estimativa de custo de equipamentos e investimento fixo, custo de operação e depreciação. Para estudo de análise econômica envolvendo o modelo do ponto de equilíbrio, fluxo de caixa e taxa de retorno, foi utilizado um software de análise e negócios em um ambiente Windows, através do aplicativo Excel. O processo biológico mostrou menor viabilidade econômica em relação ao processo com flotador, baseado em resultados obtidos com diversos parâmetros de análise econômica utilizando o simulador SuperPro Designer. Baseado nestas análises, foi possível extrair numerosas conclusões, tanto da parte técnica quanto da parte econômica. Apoio: Agência Nacional de Petróleo (ANP) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Química (PPGEQ) - UFRN 141 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DUAS CEPAS DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE CCT 1530 E CCT 1531 PARA A PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS UNICELULARES A PARTIR DE HIDROLISADO DE AMIDO DE MANDIOCA Rita de Cássia S. Curto, Agenor Furigo Jr. e Jorge L. Ninow* Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos Centro Tecnológico - Universidade Federal de Santa Catarina C.P. 476 - 88040-900 – Florianópolis, SC E-mail: [email protected] A utilização de proteínas unicelulares como substituto parcial do farelo de soja em rações de animais vem sendo testada com sucesso por vários pesquisadores. Com o objetivo de utilização futura do amido contido em resíduos de fecularias como substrato para a produção destas proteínas, foram realizados experimentos usando amido de mandioca comercial. A escolha do amido de mandioca deve-se ao fato de ser esta uma planta largamente cultivada e também à grande quantidade de pequenas e médias indústrias de farinha e fécula desse tubérculo no país, especialmente na região Sul. Para ser utilizado como substrato de cultura de Saccharomyces cerevisiae, o amido (300 g/l) foi liqüefeito com uma enzima α-amilase (EC 3.2.1.1) termoestável em presença de 70 ppm de Ca 2+, a 80-90oC e pH de 6,5. O amido liqüefeito foi sacarificado com amiloglicosidase (EC 3.2.1.3) a 55-60 oC e pH de 4,5. O tempo de hidrólise foi de 3,5 horas aproximadamente, obtendo-se nesse período uma concentração de glicose em torno de 215 g/l. As culturas das cepas CCT 1530 e CCT 1531 de Saccharomyces cerevisiae foram realizadas em processo batelada durante 24 horas em meio de sais e concentrações iniciais de glicose de 5, 10 e 15 g/l. O acompanhamento dos processos deu-se através de análises das concentrações de biomassa, etanol e glicose. Das três concentrações de glicose testadas, a de 10 g/l foi a que apresentou melhores resultados. Para essa concentração de glicose, a velocidade específica de crescimento sobre a glicose (0,48 h -1) e a produtividade em células (0,27 g.l -1.h-1) foram, respectivamente, 15,2 e 9,4 % maiores para a cepa CCT 1530. Os valores dos fatores de conversão de glicose em células (Y X/S) obtidos foram de 0,54 g/g para a cepa CCT 1530 e de 0,60 g/g para a cepa CCT 1531. Em termos de concentração final de células a cepa CCT 1531 apresentou melhor resultado, 6,14 g/l, contra 5,53 g/l apresentado pela cepa CCT 1530. Esses resultados, superiores aos observados na literatura, vêm a confirmar a potencialidade do amido de mandioca como fonte de carbono para cultura de Saccharomyces cerevisiae. 142 ESTUDO DO CRESCIMENTO DE TRÊS LEVEDURAS DO VINHO PRODUTORAS DE AROMAS ALIMENTARES Denise E. Moritz*, Jorge L. Ninow e Agenor Furigo Jr. epartamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos Centro Tecnológico – Universidade Federal de Santa Catarina Caixa Postal 476 - 88040-900 Florianópolis, SC E-mail: [email protected] Tendo em vista a necessidade de novos produtos naturais na indústria alimentícia e o custo de produtos de alto valor agregado, diversos grupos de pesquisa vêm se dedicando a investigar bioprocessos capazes de produzir compostos naturais de interesse comercial. Os aromas alimentares podem ser obtidos através de processos sintéticos (química fina), de microrganismos ou metabólitos de plantas, ou ainda, menos extensamente, do metabolismo animal. O aroma sintético derivado da petroquímica, ou outra natureza química, está sendo substituído gradativamente pelo de origem enzimática ou microbiológica. Isto deve-se tanto às novas exigências do consumidor, como também pelo fato de que os flavorizantes e aromatizantes sintéticos são artificiais, enquanto os obtidos por processos biológicos são tidos como naturais (Generally Recognized As Safe – GRAS). O presente trabalho tem como objetivo estudar a cinética de crescimento e produção de aromas alimentares (principalmente acetoína) de três espécies de leveduras do vinho, Hanseniaspora guilliermondii (CCT 3800), Kloeckera apiculata (CCT0774) e Hansenula anomala (CCT2648), em diferentes condições de cultivo. A temperatura e o pH ótimos de crescimento das leveduras estudadas foram semelhantes entre si e equivalentes a 20 0C e 5,5, respectivamente. A influência da concentração inicial de glicose no processo foi avaliada entre 10 e 40 g.L -1, sendo a temperatura controlada, a evolução do pH espontânea e o meio complexo. Hansenula anomala (CCT2648) foi a levedura que apresentou a maior velocidade específica de crescimento na fase exponencial ( µM), 0,77 h-1, quando a concentração inicial de glicose foi 15 g.L1, o pH 5,5 e a temperatura 30 0C. Esta cepa mostrou também ser a maior produtora de acetato de etila, em torno de 3,6 g.L -1, quando a concentração inicial de glicose foi de 40 g.L 1 , contudo não produzindo acetoína ou diacetil. Kloeckera apiculata (CCT 0774) teve a menor µM, 0,69 h-1. Detectou-se níveis de acetoína da ordem de 270 mg.L -1 quando 40 g.L -1 de glicose foram utilizadas como substrato. Hanseniaspora guilliermondii (CCT 3800) apresentou concentrações de acetoína mais altas que as relatadas na bibliografia, 334 g.L -1, desfavorecendo a sua utilização na elaboração dos vinhos. 143 EXPERIMENTAL DESIGN FOR THE PRODUCTION OF ETHYL ESTERS FROM SOYBEAN OIL Zagonel, G., Zamora, P. P. and Ramos, L.P. Research Center in Applied Chemistry, Department of Chemistry, UFPR - Federal University of Paraná – P.O. Box 19081 – Curitiba, PR, Brazil – 81531-990 – [email protected] Apart from the emphasis on improving the efficiency of energy use, which is often more costeffective in providing a given level of energy services than any energy supply strategy, widespread application of renewable energy technologies offers some of the best prospects for providing needed energy services in ways that are consistent with addressing the multiple challenges to sustainable development posed by conventional energy, including local, regional, and global environmental problems. In this regard, we are evaluating the technical and economic bottlenecks associated with the production of ethyl esters from soybean oil in its three different possible presentations: crude, refined and used cooking oil. Partnerships with the private sector have been proven extremely important, as it has been established with Imcopa (Araucária, PR) for the provision of crude and refined soybean oil, Risotolândia (Araucária, PR) for the required used cooking oil, Alcopar for the commercially available esterifying agent (anhydrous ethanol with less that 1.5% water content) and Tecpar for the technical evaluation of the biofuel in diesel engines. Our studies have been devoted to the evaluation of an experimental design in which the reaction kinetics have been exploited within a 40-70°C temperature range, a 0.2-0.6% catalyst loading (potassium hydroxide) in relation to the oil mass and a 6:1 to 10:1 molar ratio between the esterifying agent and soybean oil. Termination of the reaction was obtained by washing the reaction mixture with an excess of a potent electrolyte. Under these conditions, there was no apparent emulsification or soap formation during washing of the resulting ethyl esters. This experimental design has been initially developed for crude soybean oil but the conditions found therein have been proven efficient for the reactions involving both crude and used frying oil. One of the major challenges associated with this technology is the development of effective and easy-to-handle analytical tools for the determination of reaction yields as a function of reaction time. Methods for analytical determination of rection yields have included capillary gas chromatography (CGC), high-performance size exclusion chromatography (HPSEC), multivariate analysis applied to Fourier-infrared spectroscopy (MV-FTIR) and nuclear magnetic resonance of hydrogen ( 1H-NMR), the latter being only applied to our research purposes for reasons such as cost, time required for analysis and equipment availability. Special attention has been devoted to HPSEC and MV-FTIR, because the former can provide easy and straight forward measurements with excelent reproducibility, whereas the latter is perfectly conceived as the probable on-line methodology for the determination of in situ reaction yields. The State of Paraná is the largest soybean producer in Brazil, with over 7 million tons harvested in the last season, and the second national supplier of fuel ethanol (971 million liters in 1996/97), with a surplus production going well beyond 430 million liters. Therefore, the development of new niche markets for these agrocommodities has innumerous advantages to our economy and, with the petroleum market reaching US$ 25 a barrel in 1999, the time in which this alternative is to be proven economically viable is just around the corner. (Supported by CNPq, CAPES, UFPR) 144 ACID-CATALYZED STEAM TREATMENT (STEAM-EXPLOSION) OF Eucalyptus grandis WOOD CHIPS Emmel, A. 1,2, Mathias, A. L. 2, Wypych, F. 2 and Ramos, L. P. 2 1 CETSAM, Senai, Curitiba, PR, Brazil; 2 Research Center in Applied Chemistry, Department of Chemistry, UFPR - Federal University of Paraná – P.O. Box 19081 – Curitiba, PR, Brazil – 81531-990 – [email protected] Steam explosion of Eucalyptus grandis has been carried out under various pretreatment conditions (200-210 oC, 2-5 min) after impregnation of the wood chips with dilute H 2SO4 (0.25-0.5%). Acid-catalyzed steam treatment allowed good yields of hemicellulose recovery (mostly as xylose) in the water soluble (WS) fraction, as well as a relatively high susceptibility to hydrolysis of the water insoluble (WI) fraction. Formation of dehydration byproducts during pretreatment was monitored by UV spectroscopy and their concentration increased with pretreatment severity. Furfural was the main dehydration by-product as determined by HPLC. Klason lignin of steam-treated substrates also varied according to pretreatment severity. Lignin yields sometimes beyond 100% were obtained at higher pretreatment severities and these were shown to be more pronounced for longer residence times in the steam gun. However, there was no direct spectral evidence that lignin condensation had occurred as a result of pretreatment. The best pretreatment conditions were those in which 0.5% H 2SO4-impregnated chips were treated at 210 oC for 2-3 min. A nearly 70% xylan recovery was obtained while the resulting WI residue could be almost completely hydrolyzed in 72 h using low enzyme loadings. Since lignin is one of the most valuable and abundant renewable resource found on Earth, we attempted to isolated it from steam-exploded eucalypt by mild alkali extraction and further characterized it by several analytical methods. There was a gradual increase in the recovery yield of the alkali-soluble fraction towards increased pretreatment severities, with the best lignin extractability (>60%) obtained from pretreatment of 0.5%H 2SO4-impregnated chips at 200°C for 5 min. Although mild extraction conditions were chosen to avoid both fragmentation and condensation reactions, h igher pretreatment temperatures and residence times into the steam gun resulted in a more extensive depolymerization of lignin. The lignin component seemed to have undergone partial hydrolysis, a hypothesis that was further confirmed by GPC after acetylation, leading to lignin fragments that could be easily extracted by mild alkali at room temperature. This was also apparent from their analysis by differential scanning calorimetry, were a gradual decrease in the temperature required for lignin fragmentation was observed. The DTG/DSC pattern of the lowest severity alkali-soluble lignin showed that most of this sample required temperatures within 425-440 oC for complete degradation, with the remainder being consumed at much lower temperatures of 385-395 oC. In contrast, at higher pretreatment severities, both DTG and DSC pattern revealed a decrease in the relative mass loss at the higher temperature range. Therefore, a higher amount of lignin oligomers was released as a result of pretreatment and these alkali-soluble low molecular mass oligomers were likely to have a greater reactivity due to their extensive chemical modification. A considerable increase in phenolic hydroxyl groups was also observed, probably due to the homolytic cleavage of β-O-aryl linkages and this observation was confirmed by both 1H- and 13C-n.m.r. spectra. (Supported by CNPq, PADCT-II, CAPES, UFPR) 145 ESTUDO DO PROCESSO DE SECAGEM DE LEVEDURAS RESIDUAIS DA INDÚSTRIA DE ÁLCOOL POR SECADOR SPRAY Marcelino L. Gimenes *, Karina B. Rodrigues2, Helder V. Roma 3 1 Depto. de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, 87020-900 – Maringá – PR, fone (+55) 44 261 4447, e-mail: [email protected] 2 Depto. de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, MARINGÁ, PR 3 Depto. de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, MARINGÁ, PR No mundo todo, há um crescente empenho em desenvolver fontes alimentícias alternativas. Dentre estes alimentos pode-se citar o uso de proteína unicelular, em especial a levedura (Saccharomyces cerevisiae). O Brasil, maior produtor mundial de álcool de cana-de-açúcar, dispõe de grande excedente de leveduras proveniente desta indústria. No intuito de reaproveitar este excedente como fonte proteica, o trabalho visou estudar o processo de secagem de leveduras residuais. Utilizando-se um secador spray piloto e operando em diferentes condições de secagem, analisou-se as variáveis temperatura de secagem, vazão de alimentação do creme de leveduras, bem como a influência de tais variáveis sobre a granulometria, a degradação proteica e a umidade final das partículas obtidas. A metodologia se baseou num planejamento experimental, onde o secador foi operado mantendo-se constante a pressão do ar comprimido e a velocidade do ar de secagem e variouse a vazão de alimentação e a temperatura de secagem. A densidade do material foi determinada por picnometria. O teor de umidade foi obtido por secagem do material em estufa a 50 ºC até peso constante. A granulometria foi analisada por microscopia ótica. E o teor de proteínas foi determinado pelo método de Bradford. Verificou-se que a vazão interferiu diretamente na granulometria do produto obtido, isto é, maiores vazões produziam partículas maiores, e o inverso, também foi observado. Assim, sólidos de maior granulometria reteram maior umidade do que os de menor granulometria. Por outro lado, partículas menores desenvolviam maiores tempos de residência do que as partículas maiores. Dessa forma, para uma mesma temperatura houve maior degradação proteica nas partículas menores. A temperatura, por sua vez, influenciou grandemente nos resultados, onde para maiores temperaturas obteve-se maior degradação proteica, assim como o contrário também foi constatado. 146 UTILIZAÇÃO DE ZEÓLITA NA PURIFICAÇÃO DA DEXTRANA: EFEITO DA TROCA IÔNICA Classius Ferreira. da Silva 1*, Nádia Regina. C. Fernandes Machado2 e Francisco Maugeri Filho1 1 Departamento de Engenharia Química, Unioeste; Toledo, PR, fone: 45 2523535, r-225, email:[email protected] 2 Depto. Eng. Química, UEM, Av. Colombo, 5790, CEP 87020-900, Maringá, PR A dextrana é um polímero formado por unidades monoméricas de glicopiranose, obtida a partir da sacarose por via enzimática, com aplicações em indústrias de fármacos, alimentos e de cosméticos. Durante a reação de polimerização ocorre a formação de frutose como subproduto. Atualmente a frutose é recuperada por separação cromatográfica utilizando resinas de troca iônica . A separação de mistura glicose-frutose utilizada anteriormente com resina de troca iônica, vem sendo substituída por zeólitas, Y ou X, trocada com cálcio ou bário. No entanto nenhum trabalho tem reportado a utilização de zeólitas na separação de frutose obtida da síntese da dextrana. Para verificação da eficácia da utilização de zeólitas na adsorção seletiva de frutose em meio de síntese de dextrana, foram testadas zeólitas Y e A. As zeólitas utilizadas foram submetidas a modificações de troca iônica. Cada tipo de zeólita foi trocada com cálcio e bário, por 5 min e 24 horas, (por ex.CaY/24h). Foram construídas isotermas de adsorção de frutose a 303K, com cada um dos tipos de zeólitas preparadas. Foram utilizadas soluções puras de frutose, variando de 5 a 150g de frutose/L de solução. A determinação da concentração final da solução, após adsorção, foi feita por HPLC. As isotermas obtidas ajustaram-se ao modelo de Langmuir, porém em todas as isotermas os últimos pontos desviam-se do modelo. A CaY/24h apresentou a maior capacidade de adsorção, enquanto que a BaY/5mim apresentou a menor capacidade de adsorção. Com a zeólita de melhor desempenho foi realizado um teste de adsorção de frutose em meio de síntese de dextrana. Foi obtida uma relação de adsorção de 30mg de frutose/g de zeólita, que é cerca de 60% do valor da capacidade de adsorção da frutose em mesma concentração. No entanto não houve variação da concentração de dextrana no meio, indicando que não houve adsorção da mesma pela zeólita. A redução da quantidade de zeólita adsorvida ocorre devido à presença de outros componentes de síntese, além da própria dextrana, no meio que alteram as propriedades cinéticas a de transferência de massa no meio. 147 PURIFICATION OF THE EXTRACT OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI THROUGH ADSORPTION IN MODIFIED ZEOLITES Élida de Paula Moraes1*, Nádia Regina Camargo Fernandes Machado2 1 Chemical Eng. Department; State University of Maringá; Av. Colombo, 5790; CEP: 87020-900 - Maringá – PR - Brazil; Fone:(044) 261-4345 Fax: (044) 263-3440 e-mail : [email protected] 2 Chemical Eng. Department; State University of Maringá Nowadays the high standard of the technological society changed the concept of health and the introduction of new chemical products modified the alimentary habits of man, who is more and more interested in a way of healthy life. For simple aesthetic or health problems, man is substituting the well-known sugar (sucrose) for products known as sweeteners, composed with flavor similar to that of the sucrose, but with little or no caloric value. Amidst the sweeteners, we have the glycosides that are extracted of the dry leaves of the native plant denominated Stevia rebaudiana Bertoni or simply Stevia. Its leaf has several sweetener glycosides such as: stevioside, rebaudioside A, B, C, D, E and dulcosides A and B. The ones present in larger quantity are: stevioside 5-10%, rebaudioside A 2-4%, rebaudioside C 1-2%; the others are present in smaller concentrations. Those glycosides are sweeteners of natural origin, stable to a wide strip of pH and to the heat, non-caloric, non-nutritive, nonfermentable, prevent the cavities and dental plaque on teeth, which makes them industrially interesting. Due to those advantages there are many scientific articles published about Stevia and its sweetening glycosides. From revisions to patents, those include: analytic methods, purification methods, sensorial evaluation and mainly about the toxicological aspects, where everybody attests the safety of the Stevia and its sweetening glycosides for human consumption. All the processes of extraction of the sweetening substances of Stevia presented in literature follow approximately the same methodology. In a first stage, an extraction of the dry leaves of Stevia is made, with hot water or alcohols (primary), the obtained extract of dark brown color, containing all the active principles, pigments of the leaf, soluble polysaccharides and other impurities. The second stage, in the great majority of the cases, consists in the clarification of the extract, that is, in the maximum removal of the impurities, turning the extract into a clear solution, containing all sweetening glycosides. In that part of the process are usually used metallic ions, ultrafiltration or organic solvents. Nowadays in Brazil, the clarification process is done with metallic ions associated with organic solvents. The clarification of the extract is a very important stage because translates the visual quality of the final product, for that reason there are many published works and research in process in that area. There are few articles published where zeolites were used in the process with Stevia. The objective of the present work is the removal of impurities of the extract of Stevia. In that work, sodium ions in zeolites NaX and NaA were exchanged for calcium and barium; later the extract of the Stevia leaf was put in contact with the modified zeolites NaX, CaX, BaX, NaA, CaA and BaA, in batch tests under the same conditions. The zeolites CaX and BaX clarified the extract, becoming loaded of pigments. It was possible to notice that the variation in pH, Brix and in CHT is not significant; shows that the glycosides initially extracted of the leaf of Stevia didn't suffer alterations due to the contact with the zeolite. The extract that was in contact with the zeolite CaX was what obtained larger clarification and the zeolite CaX it didn't alter the flavor of the tea, while the zeolite BaX turned saline the flavor of the extract. 148 ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF MODIFIED ZEOLITES SEPARATION GLUCOSE-FRUCTOSE MIXTURE Ana Luísa S. Martinelli1*, Nádia Regina Camargo Fernandes Machado2 and Gisella Maria Zanin3 1 *Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790;87020-900 – MARINGÁ – PR; fone (+55) 44 261 4345; fax (+55) 44 261 4447; e-mail:[email protected] 2,3 Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR Fructose is one of the most important natural sugar found in the fruits and vegetates. It contains less calories and a high degree of sweetness than sucrose. Taking the relative sweetness scale of sucrose as one, glucose is measured to be 0.7 while fructose is 1.7 which is more than twice that of glucose. The hydrolysis of sucrose generates an equimolar mixture of fructose and glucose denominated inverted sugar. The overall conversion is about 45%, of which 42% is fructose, 52% is glucose, and same oligosaccharides. Even so its is desirable to have 50-60% of fructose to be considerate high-fructose syrup, fructose in the commercial market produced via separation processes. The separation of the glucose-fructose mixture using chromatographic processes with zeolites as adsorbents was proposed in several works. Some investigators studied the selective adsorption of glucose and fructose in anionic and cationic resins, the advantages and disadvantages of resins and zeolites on the separation of fructose and glucose mixture. This work evaluates the adsorption of fructose in A and X zeolites exchanged with cations of calcium, barium and potassium. The zeolites used were the Na-A zeolite and Na-X. To determine the medium chemical composition (%Na 2O, % SiO2 and % Al 2O3) and to determine the percentage of changed sodium the Atomic Absorption Spectroscopy was used. The compensation cations (calcium, barium, potassium) was introduced for ionic exchange. The methodology of ionic exchange was the same used by SILVA and MACHADO (1994). The exchange consisted on placing the zeolites with water in suspension in a reactor under agitation for 1 hour with pH among 5 and 6, adjusted with solution of HCl 6%p/p. The reactor was placed in thermostatic bathing at 75 oC, with agitation. The exchange salt solution (CaCl 2, BaCl2 and KCl) was added. After 24 hours the suspension was filtered and washed. After that the zeolite was dried off in stove at 120 oC for 24 hours. Isotherms of fructose were made using the following methodology: in glass recipients 1 g of zeolite was weighed and 20 ml of solution were added to different concentrations. The recipients were taken to a thermostatic bathing with agitation for 48 hours. After those being filtered, the final concentration was determined by the Method of the Reducing Sugar (DNS Method). The isotherms of fructose adsorption behave accordingly to the Langmuir model. The parameters used for comparison were q m and Kd, respectively maximum capacity of adsorption (fructose mg/zeolite g) and relationship between the desorption and adsorption rates constants (g/L). The q m value for the Na-X zeolite was lower in relation to the exchanged zeolites. The highest q m values were obtained for the zeolites exchanged with calcium ions, evidencing the better affinity of fructose with that cation. The Ca-X zeolite presented the highest q m e Kd values, so it will show better results in batch processes. 149 STUDY OF THE INFLUENCES OF pH AND TEMPERATURE ON THE RECOVERY OF β-XYLOSIDASE BY BDBAC REVERSED MICELLES Hasmann, F. A.a*; Silva, R. R. P. a; Pessoa-JR, A. b; Roberto, I.C. a a* b Faculdade de Eng. Química de Lorena-DEBIQ-CEP 12600-000 CP. 116 - LORENA-SP Faculdade de Ciências Farmacêuticas–USP–CEP. 05389-970 CP. 66083 – SÃO PAULO-SP β-xylosidase produced by Penicillium janthinellum fungus was prepurified by fractionated precipitation (20 and 60% v/v) with ethanol, and extracted by reversed micelles of BDBAC [N-Benzyl-Ndodecyl-Nbis(2-hydroxyethyl) ammonium chloride] cationic surfactant. A 2 2 full factorial design with centered face was employed to evaluate to influence of pH and temperature on the enzyme recovery. Liquid- liquid extraction by reversed micelles is a new and attractive method. β-xylosidase enzyme belongs to the xylanolytic complex and can be used in the food industry and in Kraft pulp bleaching. The transfer of the enzyme from the aqueous phase to the micellar phase depends on electrical conductivity, temperature and pH. The pH value is fundamental to the extraction process, since the net surface charge of the protein depends on the aqueous phase pH. In this work pH values between 2 and 4 and temperatures between 22 and 30ºC were used fot the extraction of β-xylosidase by BDBAC reversed micelles. These values were selected with a view to attaining high stability and optimum catalytic performance. The extraction was performed under the following conditions: BDBAC=0.2m, electrical conductivity=4.0mS/cm, hexanol=10%. The average recovery value, about 40%, confirms that the catalytic characteristics of the pH and temperature favour the enzyme. Acknowledgments: CAPES, FAPESP and CNPq O trabalho completo foi publicado como: HASMANN, F. A.; PESSOA Jr, A. and ROBERTO, I. C. Optimization of pH and Temperature for β-Xylosidase Recovery by Reverse Micells. Biotechnology Techniquues, 13, 239-242, 1999. 150 REMOÇÃO DE AUTO-ANTICORPOS DE PACIENTES COM DOENÇAS AUTO-IMUNES ATRAVÉS DE FILTRAÇÃO EM MEMBRANAS DE AFINIDADE R. C. A. Venturaa, R. L. Zollnerb, C. Legallais c, M.A. Vijayalakshmic e S. M. A. Buenoa* a Departamento de Processos Biotecnológicos, Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, C.P. 6066, Campinas, SP, Brasil, Tel: 0 XX 19 788 3919, e-mail:[email protected] b FCM, UNICAMP, SP, Brasil, e-mail: [email protected] c Université de Technologie de Compiègne, B.P. 20649, F-60206 Compiègne, France, email: e-mail: [email protected] As doenças auto-imunes caracterizam-se pelo desenvolvimento de auto-anticorpos devido a um reconhecimento de certos componentes celulares do próprio organismo como antígenos. Essas doenças são normalmente tratadas com a administração de medicamentos que, em geral estabilizam a doença, mas não a eliminam. O tratamento extracorpóreo de pacientes com doenças auto-imunes tem sido investigado e pode ser por troca de plasma ou adsorção seletiva do auto-anticorpo. A troca de plasma possui um custo elevado além de expor o paciente ao risco de infecções. Devido a esses inconvenientes, a terapia de adsorção seletiva de autoanticorpos tem sido a mais indicada. Como alternativa aos suportes existentes para o tratamento extracorpóreo de doenças auto-imunes utilizou-se histidina imobilizada em membranas de fibras ocas de álcool poli etileno vinílico. A fim de se determinar as melhores condições de retenção de IgG no módulo de filtração, estudou-se a influência das variáveis Q F (vazão do filtrado)/Q I (vazão de alimentação) e da concentração de IgG na alimentação na retenção de IgG no suporte através de um planejamento experimental. A variável Q F/QI não apresentou efeito significativo na retenção de IgG e a capacidade de retenção de IgG aumentou de acordo com a concentração de IgG na alimentação. Testou-se a influência da variável QF/QI, mantendo-se a concentração de IgG na alimentação (5 mg/ml) constante, para plasma humano sadio e verificou-se também que Q F/QI não apresentou um efeito relevante na retenção de IgG do suporte. Definiu-se Q F/QI igual a 0,86, valor tradicionalmente usado em circulação extracorpórea, para os experimentos de filtração in vitro com soro de pacientes com doenças auto-imunes e investigou-se a retenção e adsorção dos auto-anticorpos antidsDNA, anti-SS-A/Ro, anti-Sm, anti-Sm/RNP e anti-cardiolipina em presença de tampão Hepes e Tris-HCl. Como resultado, houve adsorção de todos os auto-anticorpos testados em ambos tampões e para anti-SS-A/Ro, as maiores quantidades adsorvidas e retidas foram obtidas em presença de tampão Tris-HCl. 151 PURIFICAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA G A PARTIR DO PLASMA HUMANO UTILIZANDO CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE COM ÍONS METÁLICOS IMOBILIZADOS- IMAC Sandra Vançan e Sônia M. A. Bueno* *UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS / FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA / DEPARTAMENTO DE PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS (DPB) CIDADE UNIVERSITÁRIA “ZEFERINO VAZ” C.P. 6066 CEP:13083-970 e-mail: [email protected] Atualmente, a purificação de proteínas do plasma utilizando métodos seletivos (cromatográficos) tem sido visto pela indústria farmacêutica como uma operação necessária, uma vez que proteínas altamente purificadas limitam os riscos de efeitos colaterais em pacientes. Por isso, o desenvolvimento de métodos seletivos de purificação em larga escala são hoje indispensáveis para aumentar a diversidade, melhorar o rendimento e o grau de pureza das proteínas terapêuticas extraídas do plasma. No presente trabalho estuda-se a viabilidade de separar imunoglobulina G (IgG) a partir do plasma humano utilizando cromatografia de afinidade com íons metálicos imobilizados, IMAC. Esta técnica explora a afinidade de proteínas por íons metálicos imobilizados e tem sido utilizada para purificar várias proteínas e peptídeos. Experimentos cromatográficos foram realizados com IgG humana pura para selecionar o íon metálico entre Cu 2+, Ni2+, Zn2+ e Co 2+, a ser imobilizado no agente quelante (IDA) e vários tampões foram testados na etapa de adsorção. As proteínas adsorvidas no suporte foram eluidas pela protonação dos grupos doadores de elétrons da proteína reduzindo-se o pH do meio ou por competição com outra espécie doadora de elétrons (gradiente crescente da concentração de imidazol). Os íons metálicos imobilizados no agente quelante IDA testados apresentaram diferentes forças de retenção da proteína (IgG humana pura). Selecionado o íon metálico Ni 2+, a seletividade do suporte em adsorver IgG foi determinada empregando plasma humano de indivíduos sadios. Como IgG não foi purificada em IDA-Ni 2+ a níveis expressivos, utilizou-se uma segunda coluna em série com a primeira, a fim de obter maior pureza de IgG. 152 MEMBRANAS DE POLI(ETERSULFONA)/POLI(VINILPIRROLIDONA) APLICADAS EM PROCESSOS DE ULTRAFILTRAÇÃO Paiva, F. S. (1); Xavier, A. M. F. (2), Cardosos, V. L(3)* Universidade Federal de Uberlândia Departamento de Engenharia Química – C.P. 593 38400-902 – Uberlândia – MG e-mail: [email protected](1), [email protected](2), [email protected](3) A ultrafiltração é um processo de separação que utiliza membranas poliméricas porosas, seletivas a solutos de alto peso molecular. As membranas poliméricas são muito usadas nestes processos por serem fontes de um filme fino e resistente e por apresentarem uma grande diversidade de características físico-químicas. Neste trabalho foi estudado a aplicação de membranas de poli(eterssulfona)/poli(vinilpirrolidona) na concentração de proteínas do soro de queijo, empregando-se o processo de ultrafiltração operando em regime contínuo. Empregou-se uma máquina de espalhar membrana e um sistema de ultrafiltração. Todas as membranas foram sintetizadas utilizando-se a técnica de inversão de fases e o processo de precipitação por imersão. As membranas foram sintetizadas a partir de duas soluções, uma contendo 18% de poli(eterssulfona), 6% de poli(vinilpirrolidona) e 76% de dimetilacetamida (solução 1) e a outra com 18% de poli(eterssulfona), 2% de poli(vinilpirrolidona) e 80% de dimetilacetamida (solução 2). O estudo da permeação foi conduzido empregando-se o soro de queijo. Para tal, analisou-se quatro membranas obtidas a partir das soluções acima variando-se o tempo de evaporação parcial do solvente (tv). Foram utilizados dois tempos para cada formulação: 30 e 60 s. Estudou-se a influência da pressão de operação em três níveis (25, 40 e 55 Psi) mantendo-se a temperatura em 25 o C e a vazão em 50 L/h. Os resultados mostraram que as membranas apresentaram resultados satisfatórios em relação ao fluxo de água e à rejeição das proteínas do soro de queijo, porém, houve uma queda significativa no fluxo instantâneo de permeado quando usou-se o soro, provavelmente devido a formação de camada gel sobre a superfície da membrana. 153 PROTEIN EXTRACTION IN A PULSED BELL-SHAPED MESHES MICRO-COLUMN Joseane Rodrigues Moro, Ana Paula B. Rabelo e Elias Basile Tambourgi * Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos - FEQ - UNICAMP CP 6066 - CEP 13081-970 - Campinas - SP e-mail: [email protected] The production and commercialization suitability of substances obtained by means of biotechnological processes depend on the separation techniques used for the purification of the desired compounds. Some features of the mixtures involved in these processes, such as low initial concentration, high purity level products desired, thermal sensitivity and the need of preserving the compounds’ properties require a purification step that must be economical and biologically compatible with the chemicals involved. As a matter of fact, liquid-liquid extraction by reversed micelles is presented as an outstanding separation technique. The hydrodynamics and the mass transfer mechanism in the interior of the extractors is fundamental for the development of more efficient equipment. The main goal of this work was the study of a micro-extractor with bell-shaped meshes for the extraction of a protein. The stirring system composed by the bell-shaped meshes promotes a better mixture of the fluids in the inner side of the column and, as a result, increase the mass transfer. The extraction system was composed of a model protein (tripsin, which is in aqueous medium), and sodium dioctilsulfosuccinate (AOT) dissolved in iso-octane, that is a reversed micellar system. The first part of this work was conducted in sampling tubes to find the optimum parameters of the chemical solutions involved, such as pH, ionic strength and AOT concentration, for the column operation. The second part was based on the use of these optimum criteria in the column, as a continuous process, in which variables such as pulsating frequencies, organic feed rate and backward extraction were studied. As a conclusion, the extraction apparatus tested here had a much better yield of protein recovery than the observed in the batch system, what makes it suitable for use in biotechnological systems. 154 INFLUENCE OF AGITATION ON HEXOKINASE AND GLUCOSE 6PHOSPHATE DEHYDROGENASE EXTRACTION BY AQUEOUS TWO-PHASES SYSTEMS Marcela Z. Ribeiro, Maria A. Souza, Adalberto Pessoa-Jr*, Michele Vitolo Biochemical and Pharmaceutical Technology Dept./FCF/University of São Paulo P.O.Box 66083, CEP 05315-970, São Paulo/SP, Brazil. e-mail: [email protected], Phone: (+55) 11 818 3710 Fax: (+55) 11 815.6386. Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) (EC1.1.1.49), which is an enzyme largely found in Saccharomyces ceverisiae, is the first enzyme in the pentose phosphate pathway. Hexokinase (EC 2.7.1.1), a key enzyme in carbohydrate metabolism, catalyzes the conversion of glucose into glucose-6-phosphate (G-6-P) which is an intermediate for several metabolic pathways, including glycolisis. These enzymes present great interest as analytical reagents for the measurement of creatin-kinase activity, ATP and hexose concentration 2,3. Aqueous twophase systems (ATPS) provide a method for enzyme purification which has several advantages, including biocompatibility, and can be easily scaled up to the industrial level 1. Factors that cause the uneven distribution of enzymes between the two-phases are little understood, and, in practice, this technique requires further experimentation to find an adequate system for each particular application. The aim of this work was to study the influence of type of agitaton (vortex or rotation) on the partition of HK and G6PDH in aqueous two-phase systems. Phase systems were prepared from PEG 1500 (20% w/w) and phosphate salts (NaH 2PO4/K2HPO4 15% w/w). Two grams of solution containing the enzymes was added to the systems and deionized water was used to adjust the concentrations (expressed as % w/w) of the components to the desired values. This components were mixed by agitation on the following conditions: vortex (1 min) and rotation at 8 rpm (20 min) and then centrifugated (1500 g, 15 min, 4oC) to speed up phase separation. Samples of the top and bottom phases were collected after 3 hours and then assayed as for enzyme activity. The results showed that rotational agitation reduced up to 50% the interface system volume as compared to vortex agitation. The rotational agitation also increased the top phase volume and as consequence this type of agitation can be used to improve the purification factor of the enzymes. It can be concluded that the rotational agitation provided better enzyme diffusion through the phases since this kind of agitation was carried out for longer period than vortex agitation. References (1) – COSTA et al. Appl. Biochem. Biotechnology. V. 70-72, p.629-639, 1998; (2) – BOROSS et al. In: Eur. Congr. Biotecnol. V.2, p.331, 1987; (3) – BERGMEYER, H. U. Methods of Enzymatic Analysis, 3rd. ed., Verlag Chemie, Weinheim, 1984. Acknowledgment: The authors acknowledge the financial support of FAPESP/São Paulo, Brazil. 155 MÉTODO DE EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLECULAR DE POLIHIDROXIBUTIRATO PRODUZIDO POR Alcalígenes eutrophus DSM 545 Elda S. Silva 1*, Rosane A. R. M. Piccoli 2 e Antonio M. F. L. J. Bonomi 2 1 Agrupamento de Biotecnologia; Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo;Av. Prof. Almeida Prado,532-Caixa Postal 7141 – 01064-970-São Paulo-SP; fone (+55) 11 3767 4570; fax: (+55) 11 3767 4055; e-mail:[email protected] 2 Agrupamento de Biotecnologia; Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – São Paulo - SP O polihidroxibutirato produzido por A. eutrophus é um polímero intracelular facilmente degradado por altas temperaturas quando tratado com ácidos, álcalis e substâncias oxidantes. A massa molecular dos polímeros é uma das características de grande importância para a sua utilização industrial, pois esta determinará as possíveis aplicações deste material. As células produzidas por processo fermentativo são centrifugadas e liofilizadas. O material é submetido à lavagem com acetona PA, seco por evaporação do solvente, quando então o biopolímero é extraído com clorofórmio em agitador rotativo a uma temperatura de 30 °C por 24 horas. O material celular é separado por filtração e o filtrado recolhido e seco por evaporação do solvente à temperatura ambiente. O filme polimérico formado é cortado em pequenos pedaços, dissolvidos posteriomente numa solução 0,1% em clorofórmio PA e filtrado em membrana 0,5µm. Amostras com diferentes concentrações de PHB (5 a 65%) foram submetidas à extração com clorofórmio para determinar a massa de células e a concentração do material necessária para extração, concluindo-se que o material necessário deve conter uma quantidade mínima de 40% de PHB acumulado. A massa molecular é determinada por GPC (cromatografia de gel permeação) tendo clorofórmio como eluente, colunas lineares Styragel HR5E (2 a 4 x 10 6), em equipamento Watters com detector de índice de refração, utilizando calibração universal com poliestireno de massas moleculares conhecidas e baixo índice de polidispersão. A reprodutibilidade do método foi medida com injeções repetidas de amostras com concentracões variadas do biopolímero, resultando em 100% de reprodutibilidade. Resultados preliminares de acompanhamento da massa molecular em ensaios de produção de PHB mostraram que à medida que a massa residual aumenta, há também um aumento na massa molecular. 156 UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO TÉRMICO NO ESTUDO DA VIABILIDADE DE Alcaligenes eutrophus DSM 545 - INATIVAÇÃO ENZIMÁTICA E COALESCÊNCIA DE GRÂNULOS. Zuccolo, M., Alli, R.C.P., Pradella, J.G.C. INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT - DIVISÃO DE QUÍMICA - AGRUPAMENTO DE BIOTECNOLOGIA CAIXA POSTAL 0141 - CEP 01064-970 - SÃO PAULO - SP - BRASIL O tratamento térmico é uma operação usual para a inativação de microorganismos e enzimas. No desenvolvimento do projeto de produção de plásticos biodegradáveis a partir da cana-deaçúcar por via Biotecnológica, buscou-se verificar a viabilidade térmica de Alcaligenes eutrophus DSM 545, em ensaios de variação da temperatura e do tempo de exposição. Esta bactéria produz grânulos intracelulares de polihidroxialcanoatos (PHAs) e suas enzimas polihidroxialcanoato-depolimerases atuam em sua degradação. Para manter o peso molecular (importante característica destes biopolímeros), procedeu-se ao estudo do tratamento térmico do microorganismo visando a inativação enzimática. O procedimento adotado foi o de elevar a temperatura de 30ºC a 85ºC, no final do cultivo fermentativo, e amostras foram tratadas em autoclave a 121ºC, para comparação. Durante este tratamento foram coletadas amostras, para determinações de concentrações de biomassa, nitrogênio total, proteínas, teores de PHAs e peso molecular. As amostras retiradas no acompanhamento do processo fermentativo e durante o tratamento térmico foram adequadamente preparadas para serem observadas por técnicas de Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). Os resultados obtidos nas determinações analíticas praticamente não variaram, exceto para as amostras tratadas em autoclave. Foram obtidos importantes observações através da MET. As fotografias revelam o processo de biossíntese dos grânulos de plásticos biodegradáveis e de sua coalescência durante o tratamento térmico. Os resultados obtidos através da MET permitem visualizar os resultados da síntese intracelular dos grânulos de PHAs, em número e tamanho durante o processo produtivo, e a coalescência gradativa dos grânulos com o aumento de temperatura. 157 REMOÇÃO DE AUTO-ANTICORPOS POR ADSORÇÃO SELETIVA: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS SISTEMAS DE AFINIDADE PSEUDOBIOESPECÍFICO L.C.L. Aquino1, P.T.V. Rosa 1, M.A. Vijayalakshmi2, S.M.A. Bueno1* 1) Departamento de Processos Biotecnológicos, Faculdade de Engenharia Química – UNICAMP C.P. 6066, CEP : 13083-970, Campinas, SP, e-mail : [email protected] 2) LIMTechS, UTC, F-60206, Compiègne, France A técnica de adsorção por afinidade, que utiliza adsorventes com alta seletividade e capacidade para adsorver compostos, principalmente proteínas, tem sido de importante aplicação no processamento do plasma, como por exemplo no tratamento extracorpóreo empregado para remover auto-anticorpos do plasma de pacientes com doenças autoimunes e também na produção em larga escala de drogas terapêuticas através do fracionamento do plasma humano ou animal. Na circulação extracorpórea para o tratamento de doenças autoimunes, o plasma do paciente é alimentado em uma coluna contendo um ligante imobilizado em uma matriz insolúvel que remove os auto-anticorpos, e as proteínas não adsorvidas retornam para o paciente. Em trabalhos prévios, verificou-se que o aminoácido histidina imobilizado em membranas de fibras ocas de álcool poli etileno vinílico (PEVA) possui afinidade por auto-anticorpos pertencentes as classes IgG e IgM encontrados em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico. Baseado nisto, nosso trabalho realiza um estudo comparativo entre dois sistemas de afinidade empregando como suportes membranas de PEVA e gel de metacrilato (Toyopearl) e histidina como ligante. São analisados a seletividade dos adsorventes através de testes de adsorção de IgG a partir do soro humano, onde a identificação das proteínas retidas e não retidas pelo suporte é realizada através de eletroforese SDS-PAGE. Através de isotermas de adsorção, determinou-se a capacidade do adsorvente e a constante de dissociação do complexo IgG-histidina (Kd), parâmetros extremamente importantes para ampliação de escala. Resultados obtidos mostraram que suportes de histidina-membranas de PEVA possuem uma seletividade e uma capacidade de adsorção para IgG humana maiores do que os suportes de histidina-gel Toyopearl. 158 ADSORÇÃO DE FIBRINOGÊNIO E ALBUMINA DO SORO HUMANO NA SUPERFÍCIE DE VIDRO, POLICARBONATO E POLICLORETO DE VINILA (PVC) Paulo T.V. Rosa1* , Antônio C. Arruda2 e Cesar C. Santana3 1* Laboratório de Biosseparações/DPB/FEQ/UNICAMP; Av. Albert Einstein, 500; C.P. 6066; 13083-970 – Campinas – SP; fone (019) 788-3905; e-mail:[email protected] 2 Departamento de Engenharia de Petróleo/FEM/UNICAMP 3 Departamento de Processos Biotecnológicos/FEQ/UNICAMP A utilização clínica de biomateriais tem se tornado intensa nos últimos anos em implantes, equipamentos médicos, produtos para diagnósticos e formulações farmacêuticas. Um dos primeiros fenômenos que ocorre quando um biomaterial entra em contato com fluidos biológicos, tal como plasma sangüíneo, é a adsorção de algumas proteínas presentes no fluído na superfície do material. Esta adsorção pode ser desejável ou não, dependendo do tipo e quantidade das proteínas adsorvidas na interface sólido-líquido. Desta forma, a análise e predição da adsorção de proteínas em biomateriais são muito importantes no estudo da compatibilidade e desempenho in vivo de materiais. Em geral, a adsorção de proteínas em interfaces é determinada através da utilização de compostos radioativos. Este método é relativamente caro, requer procedimentos especiais de segurança e pode resultar em alterações estruturais das moléculas protéicas devido à presença do composto radioativo ou às condições utilizadas no acoplamento deste composto. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de metodologia para o estudo da adsorção de albumina do soro humano e de fibrinogênio em biomateriais, utilizando como ferramenta de detecção a técnica de eletroforese capilar. O método baseou-se na adsorção das proteínas na superfície dos biomateriais, seguida da lavagem das partículas sólidas com tampão fosfato contendo cloreto de sódio e eluição das proteínas adsorvidas com uma solução de tampão fosfato/dodecil sulfato de sódio. A solução resultante foi analisada por eletroforese capilar. Os resultados da adsorção destas proteínas em superfícies de vidro, policarbonato e PVC são apresentados. Estes materiais podem ser utilizados em implantes ósseos, para preparação de membranas para separar o sangue do plasma e para a produção de tubulações utilizadas em circuitos extra-corpóreos, respectivamente. Observou-se maior adsorção de fibrinogênio nos três materiais, sendo esta mais intensa em policarbonato. 159 RECOVERY OF APROTININ FROM INDUSTRIAL EFFLUENT BY ADSORPTION ONTO IMMOBILIZED CHYMOTRYPSIN Ana Carolina Barros de Genaro and Everson Alves Miranda* Department of Biotechnological Processes School of Chemical Engineering – Universidade Estadual de Campinas C.P. 6066; CEP 13083-970 Campinas, SP Brazil e-mail: [email protected] Aprotinin is a 6.5 kDa protein molecule that is present in bovine organs and has medicalpharmaceutical applications. This work presents the development of a process for the recovery of aprotinin from industrial effluent of insulin production. The process is based on the adsorption onto immobilized chymotrypsin. The adsorption in hydroxyapatite and on ion exchange resins will also be studied as a previous stage for aprotinin recovery. Two hydroxyapatite types were compared: Ultrogel (Sigma-USA) and a sample of experimental hydroxyapatite. The hydroxyapatite Ultrogel presented larger adsorption capacity, mainly for those proteins that present pI above 7.0 (aprotinin pI is close to 10.5). Due to its larger capacity, the Ultrogel was selected for the futures assays. Factorial experimental design method was done to experimentally verify the effects of pH and ionic strenght on the aprotinin adsorption. The results showed that the best experimental condition is ionic strenght of 18 mM NaCl and pH 6.5 in 1 mM phosphate buffer.This condition resulted in a maximum adsorption capacity around 20.5 mg/g adsorbent. Dessorption assays indicated the solution of 3 mM CaCl2 was the best eluent among four others tested. Similar studies using ion exchange resin and immobilized chymotrypsin are being done. 160 CLARIFICAÇÃO DO SUCO DE ACEROLA DESPECTINIZADO POR PROCESSO COM MEMBRANA L. M. Fernandes 1, E. S. Mendes 1*, S. C. Costa2 e S. T. D. Barros 1 1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900-MARINGÁ - PR; fone 44 261 4323; fax 44 261; email:[email protected] 2 Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR A necessidade de mercado para a obtenção de sucos de melhor qualidade, onde as perdas de suas características organolépticas e nutricionais sejam minimizadas, levou pesquisadores a estudarem processos de clarificação por membranas. Na última década, algumas indústrias de sucos de frutas tem implantado o sistema de ultrafiltração, tendo como objetivo substituir as etapas de centrifugação, filtração e decantação do processo convencional de clarificação. As vantagens desse processo quando comparado com o processo convencional de clarificação são: maior rendimento na sua recuperação, redução nos custos operacionais e de resíduos acumulados durante esta etapa. O material pectínico presente no suco de frutas exerce uma forte influência sobre o desempenho da ultrafiltração. Esse tipo de material tem o potencial de formar placas de gel na superfície da membrana, reduzindo sua eficiência. Com a intenção de resolver este problema são usadas enzimas pectinases no processo de despectinização dos sucos. O suco de acerola usado neste trabalho foi tratado com enzima pectolítica Citrozym Ultra L da Novo Nordisk, na concentração de 0,00075mL/mL de suco. A ultrafiltração foi realizada em um módulo de fluxo tangencial, com uma membrana de celulose regenerada de 30 kDa. Verificou-se a variação das propriedades físico-químicas e reológicas da alimentação, retido e filtrado, bem como o comportamento da vazão de filtrado para pressões de ultrafiltração de 25, 50 e 75 psi. A observação de que não houve mudança no teor de açúcares redutores ao longo do tempo comprovou que a enzima parou de agir. Constatou-se também um aumento da vazão de filtrado com o aumento da pressão, e a retenção da polpa e de cerca de 90% das substâncias pécticas. 161 ULTRAFILTRATION/DIAFILTRATION OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI LEAVES EXTRACT BY POLISULPHONE MEMBRANES Moreschi, S.R.M 1.; Bergamasco, R *. and Gimenes, M. L. 3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - AV COLOMBO, 5790; CEP: 87020-900 MARINGÁ-PR 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Leaves of Stevia rebaudiana Bertoni (Compositae), which is a native plant from Paraguay, contain sweeteners which are 250 times sweeter than sucrose. Stevioside and rebaudioside A are the major sweeteners present in stevia leaves. Purification and concentration of stevia leaves extract were studied by using the ultrafiltration and diafiltration processes. In this study polisulphone membrane having 30,000 Daltons cutoff was tested in a tangential filtration modulus. After the diafiltration it was observed values of purities around 50%, for both stevioside and rebaudioside A. The colour and turbidity removal values obtained were 75% and 90%, respectively. 162 PURIFICATION AND CONCENTRATION OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI BY MICROPOROUS MEMBRANES Moreschi, S. R. M 1.; Bergamasco, R.*; Gimenes, M. L 3; Reis, M. H. M. 4; Di Pietro, A. C.5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA - AV COLOMBO, 5790; CEP: 87020-900 – MARINGÁ-PR 1, 3, 4, 5 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ In this work it was investigated the use of membrane separation processes, ultrafiltration (UF) and diafiltration (DF), to purify and concentrate extract of Stevia Rebaudiana Bertoni leaves. It was used three different membrane cut-offs: 10,000 Daltons (cellulose acetate), 30,000 Daltons (polysulphone) and 100,000 Daltons (polysulphone). The following parameters were evaluated: permeate flux, purity and percentage of colour and turbidity removals of crude extract, permeate and retentate . Initial values of permeate flux were proportional to the membrane aperture (cut-off). The 10,000 Daltons cut-off membrane presented a more stable flux along the filtration time than the two other membranes. The best results of purity and effective turbidity removals were obtained with the membrane of 30.000 Daltons under 10 Psi, while best results of colour removal were obtained with 10,000 Daltons membrane under 8 Psi. Diafiltration was carried out with the 30,000 Daltons membrane under 10 Psi. This have made it possible to increase the purity from 34% (in the Ultrafiltration) to values around 55%. 163 ESTUDO DA MISCIBILIDADE E MORFOLOGIA DA BLENDA PHB/PLLA Vanin, M 1*., Santana, C.C.1, Duek, E.R.2 1* Departamento de Processos Biotecnológicos / Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Caixa Postal 6066 - CEP 13083-970 - Campinas / SP, e-mail: [email protected] 2 Departamento de Materiais / Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Campinas / SP A pesquisa de polímeros naturais e sintéticos tem despertado grande interesse visando a aplicação nas áreas médica e odontológica. Devido às suas inúmeras propriedades, esses materiais abrangem um grande número de aplicações, tais como: materiais de implante, liberação controlada de drogas, bem como artigos para uso cirúrgico, fazendo parte da classe dos biomateriais. Em 1982 a Consensus Development Conference NIH definiu: "biomaterial é toda e qualquer substância (exceto drogas), ou combinação de substâncias de natureza sintética ou natural que pode ser utilizada por qualquer período de tempo, como um todo ou parte do sistema que trata, restaura ou substitui qualquer tecido, órgão ou função do corpo". Assim, antes da utilização de qualquer biomaterial este passa por um estudo complexo e minucioso de suas propriedades, sendo a biocompatibilidade a mais importante, devido a possibilidade de formação de trombos na interface sangue-superfície. Dentre esses polímeros destacam-se a classe dos poli(α-hidroxiácidos) cuja principal característica é sua degradação por hidrólise, gerando produtos absorvíveis pelo organismo. O principal objetivo deste trabalho é estudar a biocompatibilidade de um material bioabsorvível através da adsorção de proteínas do sangue. Para se alcançar esse objetivo, primeiro foi necessário confeccionar o material, que foi conseguido através da blendagem em várias concentrações de dois polímeros bioabsorvíveis o poli(L-ácido láctico) (PLLA) e o polihidroxibutirato (PHB). As blendas foram confeccionadas de duas maneiras: mistura no estado fundido no equipamento Mini Max Molder, e mistura em solução utilizando um solvente comum seguida de evaporação do mesmo, nas composições PHB/PLLA 100/0, 70/30, 50/50, 30/70, 0/100 (% em peso). As blendas obtidas foram caracterizadas por DMA e SEM, afim de se verificar sua miscibilidade e morfologia. Os resultados de DMA mostraram que a blenda PHB/PLLA é imiscível em todas as composições com a presença de duas Tg's, e os resultados de SEM apresentaram morfologia porosa para a blenda devido a presença do PHB. 164 EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN AIRLIFT REACTOR FOR TREATMENT OF TCF BLEACHING EFFLUENT WITH FREE AND IMMOBILIZED CELLS OF Lentinus edodes Paiva, T.C.B*1; Borlini, M.C.1; Castro, L.A.B.A. 1; Oliveira, S.C.1 and Durán; N.2 *1Departamento de Biotenologia, Faculdade de Engenharia Química de Lorena, CP 116, 12600-000 Lorena-SP, Brazil. e-mail:[email protected] 2 Biological Chemistry Laboratory, Chemical Institute, Universidade Estadual de Campinas, CP 6154, 13081 Campinas-SP, Brazil. Airlift bioreactors have been used for aerobic treatment of effluents owing to the high values of k La obtained in such reactors. Withe-rot fungi have an extracelular enzymatic system able to degrade compounds of high toxicity, namely phenols and hydrogen peroxides which are commonly found in effluents produced during kraft pulp bleaching processes. The treatment of these effluents by L. edodes in an airlift bioreactor showed to be an efficient process for removal of pollutants. This work evaluates the performance of an airlift biorecator for the treatment of a pulp mill TCF bleachery effluent with free and immobilized cells of this fungus. Wood chips were used as support for immobilization of the cells. The treatments were carried out in a repeated batch operation mode using a 330 mL airlift reactor operated in the following conditions: temperature (30 0C), air flow rate (300, 400 and 600 mL/min), and initial pH 5.0. Each batch operation lasted for 5 days with total reutilization of the fungal biomass in the subsequent operations. The process was evaluated in terms of its efficiency in removing total phenols and hydrogen peroxide. For the treatment employing free cells, the results of the first batch operation showed that after 3 days of treatment all hydrogen peroxide was removed. However, increases in total phenols concentration and color values were observed at the end of the operation. In the second batch operation, the results were similar. When immobilized cells were used, the results of the first batch operation showed that after 2 days of treatment all hydrogen peroxide was removed. Increases in total phenols concentration and color values were also observed at the end of the first and second batch operation. 165 CHROME SHAVINGS HYDROLYSIS USING ALCALASE AND CHARACTERIZATION OF SOLUBLE PROTEINS Andréa Renata Malagutti1, Alexandre Tadeu Paulino1, Juliane Dametto1, Cláudia C. Maebara Kimura2, Eurica M. Nogami 2, and Jorge Nozaki* 1 Departamento de Química; Universidade Estadual de Maringá; Maringá-PR. 2 Curso de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos e Continentais;Universidade Estadual de Maringá;Maringá, PR. * Departamento de Química; Universidade Estadual de Maringá. 87020-900 MaringáPR. E-mail: [email protected] Tannery industries are of great social and economic importance world-wide. In Brazil, about 600 industries produce 22 million leather per year, approximately 10% of total world production. Tanneries use different types of processes to tan the leather, and tanning with chromium salts are of great environmental concern because of its by products. Enzymatic processing of chrome shavings has been shown to be a viable treatment for complete solubilization of chromium shavings (Kimura et al.,1999). Usually the chrome shavings, produced during the tanning of leather, contain a very high concentration of chromium. The recovery of chromium and protein from chrome shavings were performed using a proteolytic enzyme Alcalase. This enzyme is produced by fermentation of Bacillus licheniformis and have high specificity related to the hydrolysis of peptide linkages. Small pieces of chrome shavings were firstly sun dried for 5 or 6 hours. Dried chrome shavings were washed with oxalic acid and distilled water in a thermostatic bath at 50 0C to remove the maximum amount of chromium. After the washing step, the enzyme Alcalase (1%) was employed for chrome shavings solubilization in a thermostatic bath. The soluble protein concentrations were determined by Kjeldhal and Biuret methods, and flame atomic absorption spectroscopy was employed for the determination of recovered chromium. Gel exclusion chromatography, using Sephadex G-10, G-15, and G-75, were employed for separation and molecular weight distribution of proteins (Garcia et al.,1999). Aminoacids were determined by high performance liquid chromatography (HPLC). Preliminary washing with oxalic acid and distilled water removed over 58% of chromium from chrome shavings. The average molecular weight of proteins found was 51000Da, and the main aminoacids found by HPLC were: glycine, glutamic acid, alanine, and arginine. On the other hand, cystine, tyrosine, and histidine were found in lower concentrations. References: 1.Kimura, C.C.M., Garcia, E.E., Martins, A., and Nozaki, J., Chemical and Enzymatic Solubilization of Chrome Shavings. Anales de la Asociacion Quimica Argentina 87,2,1999. 2.Garcia, E.E., Kimura, C.C.M., Martins, A., Rocha, G., and Nozaki, J., Chromatographic Characterization of Products Isolated from Chrome Shavings. Archives of Biology and Technology 42, 3, 1999. FNMA/CNPq-UEM 166 BIOLOGICAL REMOVAL OF RESIDUAL AROMATIC COMPOUNDS FROM PULP AND PAPER EFFLUENTS AFTER FLOCCULATION AND COAGULATION Claudenice Rodrigues1, Hélio G. Filho2, Edson M. dos Reis1, and Jorge Nozaki* 1 Departamento de Quimica; Universidade Estadual de Maringá; Maringá-PR. Depto de Engenharia Quimica; Universidade Estadual de Maringá; Maringá-PR. * Departamento de Química; Universidade Estadual de Maringá. 87020-900 MaringáPR. E-mail: [email protected] 2 Organic compounds of high molecular weight from effluents of paper and pulp industries are difficult for biological degradation. The recalcitrant compounds such as lignin and its derivatives, and also the products of bleaching process causes serious water pollution. A new method of flocculation and coagulation using natural polyelectrolytes, extracted from the cactus Cereus peruvianus, and aluminum salts has been investigated to remove high molecular weight recalcitrant organic compounds. The effluents were collected from Industria de Papel Klabin S.A., located in Telemaco Borba, Parana State, Brazil. Effluents from central channel, cellulose channel, bleaching, paper machine, and final effluents were collected and treated with aluminum salts and natural polyelectrolytes, in a Jar-Test (Milan) for flocculation and coagulation. After separation of solid residue, the effluents containing organic compounds of lower molecular weight were submitted to biological degradation by activated sludge process with contact stabilization 1. The experiment began with acclimation of microorganisms during 20 days, using commercial sugar as fresh food, and this artificial food was gradually substituted by effluents of pulp and paper industry after flocculation and coagulation. Flocculation and coagulation with natural polyelectrolytes and aluminum salts removed 70 to 80% of COD, 85-90% of aromatic compounds, and 91-97% of colour 2. Biological treatment of effluents collected from cellulose channel removed over 87% of COD. The observed efficiency was higher than the conventional method with an average removal of 30-40%, and 50% removal using oxygen bleaching 3. References: 1.Ramalho, R. Sette. Introduction to Wastewater Treatment Processes. Second Edition. Academic Press, Inc., San Diego, California-USA, 1983, 579pp. 2.Reis, E.M. and Nozaki, J., Biological Treatment of Effluents of Paper Industry after Flocculation and Coagulation with Aluminum Salts and Natural Polyelectrolytes. Archives of Biology and Technology 42, 1999 (submitted). 3.Norton, S.C., Pulp and Paper Management. Water Environment Research 64,(4),429439,1992. FNMA/CNPq/UEM 167 AVALIAÇÕES PRELIMINARES DO ESTADO TRÓFICO (PARÂMETROS FÍSICOS VERSUS BIOMASSA) DO RIO QUE ABASTECE A CIDADE DE TOLEDO (PARTE I) Freitas1, K. R., Veit 1, M. T. & Fagundes 2*, M. R. S. 1 Alunas de Iniciação Científica do Dep. De Eng. Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná / Toledo 2* Depto. De Engenharia Química -Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Toledo Rua da Faculdade, Nº 2550, Jardim La Salle; 85903-000 - Toledo - PR; (45)9785971 ou 2527936; e-mail: [email protected] O experimento desenvolvido visou destacar processo de degradação ambiental dos recursos hídricos pelo crescimento urbano, industrial e agrícola que ocorre na bacia hidrográfica do Rio Toledo. A bacia subdivide-se em três sub-bacias: rural ou de manancial, urbana e periurbana, que retratam em separado os pontos e as áreas críticas, a identificação de potencialidades e as tendências de uso e ocupação do solo dentro da bacia. A bacia hidrográfica do Rio Toledo, afluente do Rio São Francisco Falso, localizado no oeste do Estado do Paraná, abrange uma área de aproximadamente 97 km 2, situada entre os paralelos 24o 43’ e 24o 47’ de latitude sul e os meridianos 53 o 33’e 53o 45’ de longitude oeste. Foram avaliadas as condições físicas e biológicas, em relação as variações temporais e espaciais, quantificando o parâmetros: temperatura (ºC), pH, oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (µS/cm) , turbidez (NTU) e Clorofila a (biomassa), a fim de diagnosticar o grau de deterioração do rio. As coletas foram efetuadas em quatro pontos distintos, que compreendessem todas as sub-bacias, em intervalos mensais. Os resultados obtidos nos pontos peri-urbanos (antiga captação de abastecimento da cidade de Toledo) e zona receptora de efluentes industriais, mostraram alterações físicas e biológica na bacia hidrográfica. Justificada pela distribuição desordenada de ocupação, nas proximidades do rio, caracterizada por uma população de baixa renda e condições precárias de saneamento, bem como pelo aporte de resíduos industriais tratados ou não. 168 AVALIAÇÕES PRELIMINARES DO ESTADO TRÓFICO (NUTRIENTES VERSUS BIOMASSA) DO RIO QUE ABASTECE A CIDADE DE TOLEDO (PARTE II) 1 Veit 1, M. T., Freitas1, K. R. & Fagundes 2*, M. R. S. Alunas de Iniciação Científica do Dep. De Eng. Química – Universidade Estadual do Oeste do Paraná / Toledo. 2* Depto. De Engenharia Química -Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Toledo. Rua da Faculdade, Nº 2550; Jardim La Salle; 85903-000 - Toledo - PR; (45)9785971 ou 2527936; e-mail: [email protected] A bacia hidrográfica do Rio Toledo, afluente do rio São Francisco Falso, está localizada no oeste do Estado do Paraná, abrange uma área de aproximadamente 97 km 2, situada entre os paralelos 24o 43’e 24o 47’ de latitude sul e os meridianos 53 o 33’e 53o 45’ de longitude oeste, e constitue-se na sub-divisão em 3 sub-bacias: rural ou de manancial, urbana e peri-urbana, nas quais identificou-se alguns pontos críticos referentes a captação para o abastecimento da cidade de Toledo, a forte influência da urbanização, que vem atingindo fundos de vales desprovidos de uma infra estrutura satisfatória, além do impacto agroindustrial que vem somar ao processo de degradação ambiental dos recursos hídricos. O objetivo do trabalho é avaliar as condições físico-químicas e biológicas, bem como a variação temporal e espacial desses fatores, analisando a causa e o grau de deterioração do rio. As amostragens nos pontos selecionados (quatro pontos) foram em intervalos mensais, nas quais quantificou-se os seguintes parâmetros químicos: nitrogênio na forma de nitrito, nitrato e amônia e fosfatos na forma de fósforo dissolvido e ortofosfato e biológicos (clorofila a/biomassa). Os resultados obtidos mostraram uma forte diferenciação em relação aos pontos selecionados. Justificado pela influência das atividades econômicas e sociais nas proximidades dos pontos de coleta de amostras, com exceção do ponto de captação da água que abastece a cidade de Toledo. Diagnosticou-se que o ponto próximo a junção do rio Toledo ao rio São Francisco Falso, caracteriza-se por uma forte tendência a eutrofização, devida principalmente a atividades agropecuárias (criação de suínos, aves e uso de agrotóxicos). 169 INFLUENCE OF pH, TEMPERATURE, AND CARBON SOURCE ON METHANOGENIC ACTIVITY OF A ANAEROBIC REACTOR OF GELATIN INDUSTRY Rosângela Bergamasco1*, A.M.S. Vieira 1, C.R.G. Tavares 1 and B.P.Dias Filho2 1* Depto de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Maringá, PR. Brazil. CEP 78020-900 e-mail: rosâ[email protected] 1 Depto de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR 2 Depto de Análises Clínicas; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors are often used for high-rate anaerobic treatment of wastewater. A major advantage of these upflow systems is that their design permits the retention of a greater amount of active biomass in comparison with other anaerobic reactors. In this paper, the influence of the parameter pH, temperature, and carbon source on methanogenic activity and chemical oxygen demand (COD) removal of sludge from a UASB reactor treating wastewater from a gelatin industry was studied. The methanogenic bacteria enumerated using the most-probable-number (MPN) technique were at 105 cells/ml. Additions of formate or acetate to the anaerobic granular sludge cultivated in influent supernatant medium showed a significant increase in methane gas production. Methane production in sludge cultivated in growth medium supplemented with formate pressurized with H 2:CO2 showed a significant increase in the methane yield compared with the seed culture containing the same substrate and gases rate of N 2:CO2. Rate of methane production of the sludge cultivated in growth medium supplemented with acetate pressurized with H 2:CO2 or N2:CO2 was similar. The percentage of COD removal and methane gas production was most pronounced with mesophilic sludge at pH 7 in medium supplemented with carbon source. 170 ESTUDO DA CINÉTICA DA DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA DE EFLUENTE DA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS Rodrigues, E.R1*, Gimenes, M. L. 2, Bergamasco, R., Kroumov, A. D. 2 1* Depto de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá, Av. Colombo, 5790, Maringá, PR. Brazil. CEP 78020-900 e-mail: [email protected] 2 Depto de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR A utilização de bioreatores de leito fluidizado trifásico tendo sido nas últimas décadas, um processo alternativo de tratamento aeróbio de efluentes. A otimização deste processo se torna imprescindível no tocante a remoção da DQO, que ocorre pela ação dos microorganismos que se aderem as partículas poliméricas, aumentando desta maneira a eficiência deste bioreator. Este trabalho apresenta um estudo cinético da degradação biológica de efluente da indústria de laticínios com a utilização de microorganismos aclimatados e atuantes no processo de tratamento. Para este estudo foi realizado o acompanhamento do crescimento dos microorganismos, da variação de concentração de substrato (efluente a ser tratado), da formação de gás carbônico liberado pelos microorganismos na decomposição da matéria orgânica, em reator em batelada, sob uma temperatura controlada de 28°C. As concentrações de células dos microorganismos foram acompanhadas pelo método de contagem. A degradação do substrato foi analisada através do método de Dubois (teor de polissacarídeos), enquanto que o teor de gás carbônico liberado foi realizado por meio de cromatografia gasosa. Com estes resultados ajustou-se um modelo cinético para descrever a degradação biológica do efluente. 171 UTILIZAÇÃO DO REATOR SEQÜENCIAL PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE Rodrigues, A. N. M.1*; Bergamasco, R. 2*; Tavares, C. R. G.; Abreu, E. T. e Gimenes, M. L. 1* Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 – MARINGÁ – PR; fone (44) 261-4323; e-mail:[email protected]; 2 Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR A indústria de papel e celulose, interessada não só em reduzir custos, mas também em atender às rigorosas legislações ambientais que começam a vigorar, tem buscado na pesquisa científica, soluções práticas e viáveis para o tratamento de águas residuárias. Neste trabalho, investiga-se a utilização de um processo biológico aeróbio (RBS) seguido de um processo de separação com membranas (PSM), para o tratamento do efluente da indústria de papel e celulose. O RBS (reator batelada seqüencial) é um processo em semi-batelada, ocorrendo em geral em um único tanque, onde reação e separação tomam lugar em momentos diferentes. Em função disso, grandes economias de capital podem ser feitas, uma vez que não há necessidade das estruturas exigidas para a sedimentação e retorno do lodo, como no processo convencional de lodos ativados. Além disso, um RBS pode ser operado de forma a somente liberar o efluente quando o tratamento atingir os padrões de qualidade pré-estabelecidos. A membrana de ultrafiltração utilizada no processo de filtração foi de Poliétersulfona com abertura de poro de 10.000 nm e com uma área de filtração de aproximadamente 25 cm 2. Os experimentos foram realizados à temperatura ambiente (25°C) e pressão de 3 BAR. Como parâmetros de monitoramento, foram analisados, DQO (Demanda Química de Oxigênio), cor, turbidez, sólidos suspensos e pH, de acordo com o procedimento descrito pela American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (APHA -1980). O processo de tratamento utilizando o RBS seguido de ultrafiltração apresentou valores médios de remoção de DQO de 85%, cor 95% e 99,8% de turbidez, mostrando assim ser um processo alternativo viável para o tratamento do efluente da indústria de papel e celulose. 172 ESTUDO DO REAGENTE FENTON PARA A DEGRADAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE Rodrigues, A. N. M.1*; Bergamasco, R. 2*; Tavares, C. R. G.; Abreu, E. T. e Gimenes, M. L. 1* Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; Av. Colombo, 5790; 87020-900 – MARINGÁ – PR; fone (44) 261-4323; e-mail:[email protected]; 2 Depto. de Engenharia Química; Universidade Estadual de Maringá; MARINGÁ - PR As indústrias de papel e celulose produzem, anualmente, grandes quantidades de efluentes coloridos, resultantes dos diferentes processos aplicados à madeira e à sua polpa. Estes efluentes apresentam vários compostos orgânicos, responsáveis pela sua coloração marrom e se originam da degradação da lignina residual durante o processo de branqueamento da polpa. Os efluentes geralmente são tratados por processos biológicos para a redução de carga orgânica, mas em sua forma convencional, não são eficientes para a remoção de cor, turbidez e das moléculas de alto peso molecular. Este trabalho teve como objetivo estudar o desempenho do reagente de Fenton na degradação de águas residuárias da indústria de papel e celulose após o tratamento biológico. Nos experimentos realizados foram investigados os efeitos dos parâmetros pH, concentração de ferro e peróxido de hidrogênio na degradação da matéria orgânica e redução de cor e turbidez. As análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio), COT (carbono orgânico total), cor, turbidez, e pH, foram realizados de acordo com o procedimento descrito pela American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (APHA -1980). Os resultados obtidos indicam que para a ação conjunta dos dois processos, processo biológico seguido do acréscimo do reagente de Fenton, atinge-se remoções de cor e turbidez na ordem de 85%, respectivamente, além da remoção de DQO na ordem de 90%, mostrando assim que o Reagente de Fenton pode ser um processo alternativo viável para o tratamento do efluente da indústria de papel e celulose. 173 PRODUÇÃO DE β-CICLODEXTRINA E APLICAÇÃO NO ENCAPSULAMENTO DE DROGAS DE PRIMEIRO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR H.O.S. Lima *, G.M. Zanin * *, F.F.DE Moraes * *, A.M. Moraes *, L.M.A Pinto #, E. De Paula # , M.C.B Villares + e M.H.A. Santana * * Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, C.P. 6066, CEP 13083-970, Campinas-SP; * * Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá; # Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas; + Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas Os tratamentos convencionais da tuberculose além de serem de longa duração, apresentam efeitos colaterais tais como toxicidade sistêmica, resistência das espécies a vários antibióticos e curta periodicidade entre as ingestões do medicamento. Em conseqüência disso, um elevado índice de abandono tem sido verificado. Esses fatores têm incentivado a pesquisa e o desenvolvimento de novos regimes terapêuticos usando drogas convencionais, cuja toxicidade já é conhecida, e que resultem em um menor investimento quando comparado ao desenvolvimento de novas drogas. As ciclodextrinas têm sido empregadas no campo farmacêutico para proteção física e redução de efeitos colaterais de drogas tóxicas. O objetivo deste trabalho é investigar os efeitos da complexação das drogas usadas no tratamento primário da tuberculose em β-ciclodextrina, β-CD, nas propriedades de solubilidade, fotoproteção , hemólise e ação sobre o Mycobacterium tuberculosis em ensaios in vitro. Pirazinamida, Isoniazida e Etambutol foram as drogas estudadas. Complexos verdadeiros foram obtidos entre a β-CD e a parte mais hidrofóbica das moléculas de Pirazinamida e Isoniazida em uma razão molar de 1:1. Inclusão parcial foi observada com Etambutol mesmo em elevada razão molar. Os complexos de inclusão foram caracterizados por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de prótons, calorimetria diferencial de varredura e microscopia eletrônica de varredura. Os dados experimentais dos testes de fotoproteção indicaram que a fotodegradação da Pirazinamida e Isoniazida por luz UV é retardada quando estas drogas estão encapsuladas em β-CD. As taxas de dissolução de tabletes sólidos foram maiores para as drogas complexadas que para as drogas livres, indicando uma melhor biodisponibilidade dos complexos droga: β-CD. Os testes de hemólise mostraram que as drogas quando complexadas em β-CD são capazes de proteger as células de eritrócitos da lise produzida pela β-CD, acima da razão molar 500:1 (β-CD: lipídios da membrana), bem acima das concentrações nas quais a β-CD não complexada é hemolítica. Isso representa uma segurança terapêutica para a administração parenteral de drogas complexadas em β-CD. Os ensaios preliminares de susceptibilidade do Mycobacterium tuberculosis às drogas livres e complexadas, quando cultivado em meio sólido Loweinstein e exposto à soluções diluídas (10 -3 e 10-5 ) preparadas a partir de 1µg/ml de Isoniazida, 4 µg/ml de Etambutol e 20mg/ml de Pirazinamida (solução acidificada), apresentaram os seguintes resultados para 3 cepas isoladas de material clínico: a cepa 549/.98 apresentou-se sensível à Isoniazida e Etambutol e altamente resistente à Pirazinamida nas formas livre e complexada; a cepa 2087/98 apresentou resultados semelhantes quanto à sensibilidade à Isoniazida e Etambutol, e resistência de aprox. 30% à Pirazinamida, em ambas as formas; a cepa 315/98 foi sensível ao Etambutol nas formas livre e complexada, sensível à Isoniazida na forma livre porém com 36% de resistência na forma complexada, e com resistências de 2% e 8 % à Pirazinamida nas formas livre e complexada respectivamente. Esses resultados mostram que tuberculostáticos complexados em β-CD são promissores e o desenvolvimento da sua tecnologia poderá trazer benefícios para o tratamento da tuberculose. Apoio financero: FAPESP 174 ENCAPSULAMENTO DE MEDICAMENTOS EM LIPOSSOMAS PARA A TERAPIA PRIMÁRIA DE TUBERCULOSE POR INALAÇÃO Oselys R. Justo, Maria Helena A. Santana e Ângela M. Moraes* *Departamento de Processos Biotecnológicos/Faculdade de Engenharia Química Universidade Estadual de Campinas - Caixa Postal 6066 CEP 13081-970 - Campinas, SP e-mail: [email protected] Embora existam drogas eficazes para terapia da tuberculose, a taxa de mortalidade decorrente desta enfermidade ainda continua elevada. Algumas características do tratamento convencional da tuberculose são os efeitos colaterais provocados pelos medicamentos, a toxicidade das drogas às células normais, o longo tempo da terapia e a resistência dos microrganismos aos medicamentos. Formulações de lipossomas (vesículas lipídicas) contendo antibióticos encapsulados apresentam um bom potencial de aplicação na terapia da tuberculose, pois além de aumentar o índice terapêutico dos medicamentos pela modificação da sua farmacocinética e biodistribuição, grande parte dos problemas associados à terapia convencional poderiam ser minimizados. Com o objetivo de contribuir para o estudo do aumento do índice terapêutico de drogas utilizadas no tratamento primário da tuberculose, neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia para a preparação e caracterização de lipossomas encapsulando as drogas Isoniazida, Pirazinamida, Etionamida e Rifampicina em formulações potencialmente adequadas para a administração por inalação. Os efeitos das condições de encapsulamento na incorporação deste composto terapêutico em lipossomas unilamelares apresentando diâmetros médios de 300 a 400 nm foram estudados, dentre eles, a influência da variável razão molar inicial droga/lipídio usada durante a incorporação. As formulações preparadas foram caracterizadas quanto às concentrações finais de lipídios e de drogas, quanto à estabilidade de estocagem na forma de suspensão e à estabilidade frente à adição de tensoativos não iônicos. Os resultados mostram que a razão molar final droga/lipídio e a estabilidade dos lipossomas podem ser controladas pelas condições operacionais utilizadas durante a preparação das vesículas. Os resultados mais promissores foram os obtidos com Isoniazida e Pirazinamida, que permaneceram estavelmente encapsuladas em lipossomas com razões molares droga/lipídio de 0,3 por um período de 4 semanas. Agradecimentos: FAPESP, FINEP/PRONEX 175 UTILIZAÇÃO DE RECOBRIMENTO COM FOSFOLIPÍDIOS PARA A HEMOCOMPATIBILIZAÇÃO DE PVC Paula R. Marreco, Giuliana P. Alves, Maria Helena A. Santana e Ângela M. Moraes* Departamento de Processos Biotecnológicos/Faculdade de Engenharia Química Universidade Estadual de Campinas - Caixa Postal 6066 CEP 13081-970 - Campinas, SP e-mail: [email protected] Os biomateriais vêm se tornando cada vez mais importantes no cenário médico. Porém, o que restringe suas aplicações são as reações adversas que ocorrem quando estas superfícies entram em contanto com fluidos biológicos. Uma altrnativa para reduzir as reações adversas e aumentar a sua heocompatibilidade é a mimetizaçãode interfaces bilogicamente inertes como a camada externa das membranas plasmáticas de eritrócitos e plaquetas. Atribui-se esta atividade anti-trombogênica à presença dos fosfolipídios neutros fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e esfingomielina. O objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização de superfícies de policloreto de vinila (PVC) recobertas com dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) e dimiristoilfosfatidiletanolamina (DMPE) puras e em mistura entre si e com dimiristoilfosfatidiletanolamina derivatizada com polietilenoglicol de massa molecular 2.000 Da (DMPE-PEG). O método de recobrimento utilizado foi o de deposição de filmes de Langmuir-Blodgett preparados com os lipídios mencionados em superfícies planas de PVC, onde se avaliou a influência das variáveis pressão de deposição, número de camadas depositadas, velocidade de imersão e tempo de espera antes da deposição nas características finais das amostras. As superfícies recobertas foram caracterizadas pela determinação do ângulo de contato dinâmico em sistemas ar-água, do tempo de coagulação sangüínea e por microscopia de força atômica. Os resultados mostraram que o PVC pode ser efetivamente recoberto pelos compostos utilizados e que há uma boa correlação entre as técnicas de caracterização empregadas. As placas recobertas, de maneira geral, tornaram-se mais hidrofóbicas que as não recobertas e apresentaram maiores tempos de coagulação. A homogeneidade do recobrimento mostrou-se dependente da composição dos fosfolipídios e das variáveis operacionais do processo de recobrimento. Estes resultados são importantes para aplicações do PVC em utensílios médicos e em circuitos extracorpóreos. Agradecimentos: CAPES, CNPq, FINEP/PRONEX 176 ENCAPSULAMENTO DE VITAMINA C EM LIPOSSOMAS PARA APLICAÇÃO EM PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS Marcelo Simioni Pontes1 e Ângela Maria Moraes2* 1 *APV South America Indústria e Comércio Ltda. – São Bernardo do Campo, SP Departamento de Processos Biotecnológicos/Faculdade de Engenharia Química Universidade Estadual de Campinas - Caixa Postal 6066 CEP 13081-970 - Campinas, SP e-mail: [email protected] 2 Lipossomas são estruturas ocas cujo volume aquoso central é circundado por uma ou mais membranas compostas de lipídios, com diâmetros da ordem de dezenas de nanômetros a dezenas de micra. Estas vesículas lipídicas são veículos de interesse em aplicações dermatológicas, possibilitando maior penetração de agentes ativos na pele. Os lipossomas podem atuar tanto como ingredientes de formulação (encapsulando um agente de interesse) quanto como ingredientes ativos, suprindo as necessidades lipídicas da pele e aumentando sua hidratação. Diversos produtos incorporando lipossamas estão disponíveis no mercado de fármacos e cosméticos, na forma de géis, cremes, suspensões, dispersões e loções. Dentre as substâncias de interesse dermatológico paasíveis de incorporação em lipossomas, destacam-se os compostos capazes de retardar o envelhecimento da pele, como as vitaminas C e E. Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de metodologia para a preparação e caracterização de lipossomas encapsulando duas formas estáveis e comercialmente disponíveis da vitamina C, o Vitazime C e o VCPMG, em formulações potencialmente adequadas para aplicações dermocosméticas. A influência da razão molar inicial derivado de vitamina C/lipídio na eficiência de incorporação destes compostos em lipossomas unilamelares de lecitina de soja contendo ou não vitamina E foi avaliada. A incorporação de vitamina E deu-se nas bicamadas lipídicas, pela co-solubilização desta e da lecitina em solução de clorofórmio e metanol e por posterior evaporação dos solventes orgânicos. O encapsulamento dos derivados de vitamina C foi efetuado no cerne aquoso das vesículas, durante a etapa de hidratação do filme lipídico seco As formulações preparadas foram caracterizadas quanto às concentrações finais de lipídios, de derivado de vitamina C, ao diâmetro médio das vesículas e quanto à estabilidade de estocagem na forma de suspensao aquosa. Os resultados demonstram que apenas o VCPMG pode ser eficientemente encapsulado em lipossomas, obtendo-se sistemas com razão molar final VCPMG/lipídio máxima de 0,17, valor este limitado pela solubilidade do derivado de vitamina C em água. A vitamina E foi incorporada estavelmente às bicamadas lipídicas na proporção máxima de 22 %, não tendo substancialmente afetado o encapsulamento de VCPMG nos lipossomas. As vesículas preparadas apresentaram diâmetros médios de 66 a 130 nm, obtendo-se maior estabilidade de estocagem quanto à variação dos tamanhos de partículas para vesículas contendo vitamina E. Agradecimentos: FAPESP, FINEP/PRONEX 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
Download