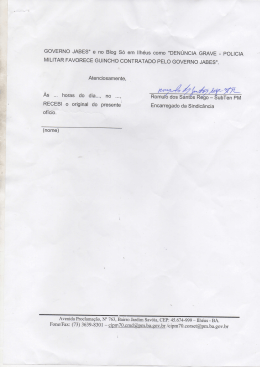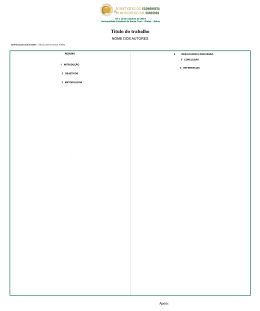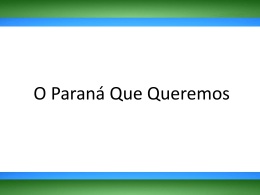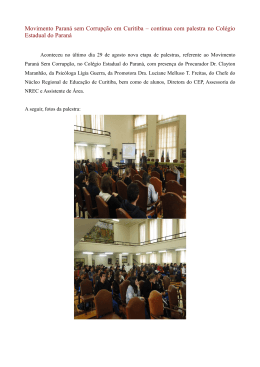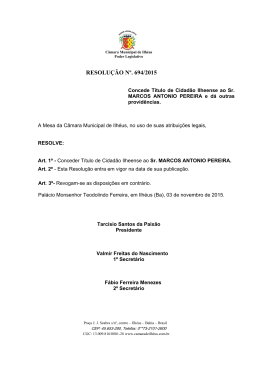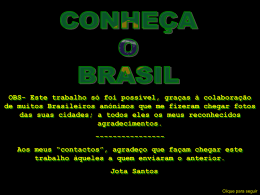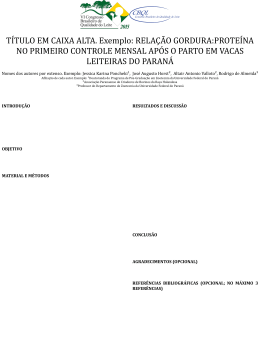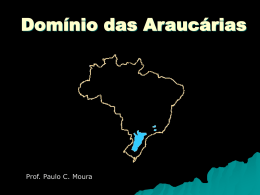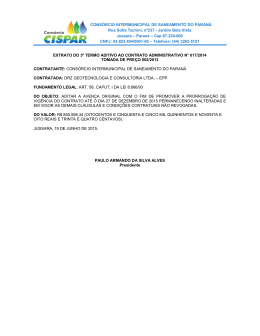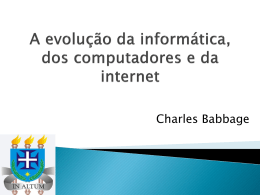SOBREPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM TERRITÓRIOS TRADICIONALMENTE OCUPADOS: ALGUMAS REFLEXÕES José Carlos Vandresen Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO [email protected] Marquiana Freitas Vilas Boas Gomes Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO [email protected] Resumo O presente texto é resultado parcial da pesquisa de mestrado em andamento, intitulado: Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de Conservação: A Cartografia Social como Instrumento de Mobilização Social, cujo objetivo é identificar e analisar os processos de sobreposição de Unidades de/ Conservação em comunidades tradicionais, caracterizando os principais conflitos/resistências na afirmação do direito ao ambiente, por meio dos produtos e resultados das oficinas de mapas da Nova Cartografia Social. Os povos e comunidades tradicionais são hoje reconhecidos como grupos culturalmente diferenciados por formas próprias de ocupação e uso dos territórios tradicionalmente ocupados. No Paraná são nove as comunidades que se auto-afirmam segundo sua identidade étnica e coletiva como povos e comunidades tradicionais. Muitos deles tiveram seus territórios sobrepostos com a criação de Unidades de Conservação, sendo algumas delas de proteção integral. Palavras-chave: Comunidades Tradicionais. Unidades de Conservação. Identidade. Ambiente. Introdução O presente texto é resultado parcial da pesquisa de mestrado em andamento, intitulado: Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de Conservação: A Cartografia Social como Instrumento de Mobilização Social, cujo objetivo é identificar e analisar os processos de sobreposição de Unidades de/ Conservação em comunidades tradicionais, caracterizando os principais conflitos/resistências na afirmação do direito ao ambiente, por meio dos produtos e resultados das oficinas de mapas da Nova Cartografia Social. Os povos e comunidades tradicionais são hoje reconhecidos como grupos culturalmente diferenciados por formas próprias de ocupação e uso dos territórios tradicionalmente ocupados. No Paraná, são nove as comunidades que se auto-afirmam segundo sua identidade étnica e coletiva como povos e comunidades tradicionais, a saber: faxinalenses, 1 pescadores artesanais, cipozeiras, ilhéus, indígenas, quilombolas, povos de terreiro, benzedeiras e ciganos. Muitos deles tiveram seus territórios sobrepostos com a criação de Unidades de Conservação. O Estado possui 67 Unidades de Conservação, entre Parques, Hortos, Reservas Florestais. Destes, 44 são de proteção integral1 Os povos e comunidades tradicionais do Paraná2, o que não se difere do restante do país, possuem uma vasta experiência e conhecimentos tradicionais para manejar diversos produtos provenientes do meio ambiente, utilizando-os de diversas formas, tanto para alimentação humana e animal, quanto para a saúde, artesanatos, e para a construção de instrumentos de trabalhos e materiais para diversas práticas tradicionais. Estes recursos são manejados sabiamente por esses grupos, que ao longo da história aprimoraram conhecimentos de manejo, respeitando o meio ambiente e colaborando para o desenvolvimento sustentável. Porém, são elas as que mais sofrem com os processos de expropriação, restrições e punições quando dá criação das Unidades de Conservação. Considerando a necessidade de estudos sobre estes conflitos territoriais no Paraná, neste texto, optamos por apresentar uma sinopse dos conflitos e resistências dos povos tradicionais em territórios sobrepostos pelas Unidades de Conservação. Para isso, dividimos o texto em três partes. Na primeira, buscando conceituar o que entendemos por comunidades tradicionais a luz da regulamentação do Estado, mas, sobretudo, pela autodefinição destes povos no território paranaense. Na segunda parte, apresentamos os conflitos decorrentes da Sobreposição das Unidades de Conservação e, na terceira e ultima parte, apresentamos sumariamente o exemplo específico da comunidade de ilhéus do Rio Paraná, sujeitos de nossa pesquisa. Povos e Comunidades Tradicionais: reconhecimento e auto-definição O processo de produção da invisibilidade social dos povos e comunidades tradicionais no Paraná e na região Sul do Brasil, e as formas tradicionais de uso dos seus territórios, juntamente com os produtos do extrativismo utilizados por essas comunidades, passaram silenciados por muito tempo, pois os governos não possuíam políticas públicas 2 diferenciadas de valorização e reconhecimento desses segmentos, especialmente políticas públicas voltadas ao extrativismo. A auto-definição de “povos e comunidades tradicionais” faz referência a grupos sociais que se identificam segundo suas identidades étnicas e coletivas, por meio de suas práticas tradicionais, desenvolvidas atualmente como forma de manutenção e defesa das comunidades. Essas práticas são expressas na religiosidade, na memória de seus ancestrais, nas técnicas produtivas, no manejo da biodiversidade, na pesca artesanal, etc. No entanto, esse critério da auto-definição é bastante novo, do ponto vista jurídico, e também no que diz respeito a sua utilização pelas comunidades. Quanto ao aspecto jurídico, fazemos referência a Constituição Federal (1988), que já garantiu direitos aos “cidadãos” de forma em geral, mas especificamente a diversidade de que é composta a sociedade brasileira. Quando nos referimos à diversidade estamos falando dos povos, como os indígenas e os quilombolas principalmente. São especificidades que já em 1988 tiveram um aporte legal garantido na Constituição Federal, que na questão indígena explícita nos artigos 230 e 231, e com relação aos quilombolas nos artigos 215 e 216, também o artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e, mais recentemente, com o decreto 4887/2003. Outro dispositivo legal, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), relevante para o fortalecimento do direito a auto-definição e o reconhecimento das identidades étnicas e coletivas foi ratificada em 2003 pelo governo federal. Ela impulsiona a luta dos grupos mobilizados por critérios fundamentados nas identidades étnicas e coletivas constituídas num processo específico e num contexto de resistência histórica. Dentre os critérios, destaca-se os vinculados a “auto-identifição”, que segundo o Almeida (2007) “reconhece como critério fundamental os elementos de auto-identificação, e reforça, em certa medida, a lógica de atuação dos movimentos sociais orientados principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades coletivas”. Mas, foi com a criação do decreto federal 6040/2007 que a diversidade das identidades étnicas e coletivas do Brasil pôde ocupar um espaço de expressão política dentro da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais-CNPCTs, vinculada a Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS e o Ministério do Meio AmbienteMMA. 3 O decreto 6040/2007 ajudou a regulamentar toda legislação nacional e internacional referente aos “povos e comunidades tradicionais” do qual o Brasil é signatário, criando um marco norteador que tem ajudado a compreender e reconhecer a diversidade étnica e coletiva no território nacional. Este processo definiu o conceito de povos e comunidades tradicionais, como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. No entanto, essa conceituação generalizadora não pode dirimir ou substituir as identidades étnicas e coletivas locais, ou seja, as especificidades que ajudaram a compor o que hoje é compreendido por “povos e comunidades tradicionais”3, sendo: os faxinalenses, as quebradeiras de coco babaçu, os geraizeiros, os fundos de pasto, os indígenas em suas muitas nações, os quilombolas, os pescadores artesanais, os povos de terreiro (religiões de matriz africana), os ilhéus do rio Paraná, as cipozeiras, as benzedeiras (portadores de ofícios tradicionais), os ciganos, os caiçaras, os pantaneiros, os retireiros, os seringueiros, entre outras. Expressões que têm buscado seu processo organizativo e de reconhecimento, por meio destes dispositivos jurídicos e a partir de outros já protocolados4 pelas comunidades nas assembleias legislativas dos estados e nas câmaras seus municípios. Embora exista esta regulamentação não há uma aplicação direta que garanta o direito das comunidades. Isto porque, mesmo dispondo dos meios legais, a comunidade precisa constantemente se auto-afirmar diante do estado em suas diferentes esferas (federal, estadual e municipal). Esta condição dos povos pode ser evidenciada na fala de um faxinalense do Paraná, Sr. Amantino Beija5por ocasião do evento de lançamento do fascículo da Nova Cartografia Social, intitulado “Faxinalenses do Núcleo Metropolitano Sul de Curitiba”, “estamos lutando pelo direito de ter direito”. Ou seja, na análise que estamos fazendo dos materiais produzidos pelas comunidades, sendo os fascículos da nova cartografia social, cartilhas, cartas de encontros, folders, processos judiciais, etc, de forma geral, identificamos uma constante necessidade das comunidades se mostrarem nos mapas, afirmarem sua existência no território 4 tradicionalmente ocupado, destacarem seus símbolos, instrumentos de trabalho, como prova de sua existência para gestores de políticas públicas e instituições. Essa afirmação tem sido necessária pela resistência ao processo de expropriação compulsória. Efetivamente, a emergência do reconhecimento social das comunidades de povos e comunidades tradicionais, em sua diversidade étnica e coletiva tem desafiado a comunidade científica e os gestores públicos diante de suas demandas, agora reivindicadas juridicamente e, representadas em documentos, mapas situacionais, cartografias, laudos, segundo sua autodefinição, frente às situações, práticas culturais e conflitos socioambientais que envolvem sua territorialidade. Conforme Almeida (2008), o sentido coletivo das auto-definições emergentes impôs uma noção de identidade à qual correspondem territorialidades específicas, pois são resultados de processos de reivindicações e das lutas dos movimentos sociais organizados por critérios étnicos e coletivos, cujas fronteiras estão sendo socialmente construídas e nem sempre coincidem com as áreas oficialmente definidas como reservadas. No Estado do Paraná, os povos e comunidades tradicionais autodefinidos6 como faxinalenses, pescadores e pescadoras artesanais, benzedeiras e benzedores, indígenas, cipozeiros e cipozeiras e ilhéus, são alguns dos grupos sociais afetados pelos processos de exploração e expropriação do modelo de desenvolvimento no Estado, entre eles, o da implementação de unidades de conservação sobre os territórios das comunidades tradicionais, também pelas políticas publicas orientadas para a produção de commodities, desprezando e desvalorizando a cadeia dos produtos extrativistas e da agricultura camponesa. A despeito das unidades de conservação, que trazem no bojo a chancela de proteção ambiental dos territórios, são contraditoriamente, espaços de expropriação dos povos que durante séculos foram os guardiões destas áreas. É sobre esta questão que nos debruçamos na parte que segue no texto. Sobreposição de Territórios: Unidades de Conservação x Comunidades Tradicionais Por décadas o Brasil tem utilizado modelos importados de conservação e preservação ambiental, processo que objetivamente foi regulamentado com o Sistema Nacional de 5 Unidades de Conservação-SNUC, porém anterior a ele muita destas “unidades de conservação” já haviam sido criadas e provocaram várias situações de sobreposição de unidades de conservação em territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades tradicionais, essencialmente povos que tem estabelecido uma cultura diferenciada na relação com o ambiente ora separado da convivência do ser humano para refúgio ambiental. O modelo de conservacionismo norte-americano espalhou-se rapidamente pelo mundo recriando a dicotomia entre "povos" e "parques". Como essa ideologia se expandiu, sobretudo para os países do Terceiro Mundo, seu efeito foi devastador sobre as "populações tradicionais" de extrativistas, pescadores, índios, (...). É fundamental enfatizar que a transposição do "modelo Yellowstone" de parques sem moradores vindos de países industrializados e de clima temperado para países do Terceiro Mundo, cujas florestas remanescentes foram e continuam sendo, em grande parte, habitadas por populações tradicionais, está na base não só de conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas protegidas. (DIEGUES, 2001 p. 35) Mesmo o Brasil seguindo modelos americanos de preservação, principalmente na criação de unidades de conservação de preservação permanente, é importante observar que quando regulamentado o SNUC-Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dentro da política ambiental no Brasil, foram instituídas como passiveis de criação duas categorias de Unidades de Conversão: 1) os de preservação permanente, como parques, estações ecológicas, com uma característica principalmente de ausência do ser humano, e 2) de desenvolvimento sustentável, como as Reservas de Desenvolvimento Sustentável-RDS e Reservas Extratistas RESEX. Ao que pese a implementação de grande parte das unidades de conservação criadas foram de preservação permanente, e aquelas que foram criadas de desenvolvimento sustentável tiveram como fundamento da luta pautada pelas comunidades que de forma tradicional ocupavam o território de forma sustentável. O significado de “tradicional” mostra-se, deste modo, dinâmico e como um fato do presente, rompendo com a visão essencialista e de fixidez de um território, explicando principalmente por fatores históricos ou pela quadro natural, como se a cada bioma correspondesse necessariamente certa identidade. A construção política de uma identidade coletiva, coadunada com a percepção dos agentes sociais de que é possível assegurar de maneira estável o acesso a recursos básicos, resulta, deste modo, numa territorialidade específica que é produto de reinvindicações e de lutas. Tal territorialidade consiste numa forma de interlocução com antagonistas e com o poder do estado. (Almeida, 2004 p.119) Efetivamente, a emergência do reconhecimento social das comunidades de povos e 6 comunidades tradicionais, em sua diversidade étnica e coletiva tem desafiado a comunidade científica e os gestores públicos diante de suas demandas agora reivindicadas juridicamente e, representadas em documentos, mapas situacionais, cartografias, laudos, segundo sua autodefinição, frente às situações, práticas culturais e conflitos socioambientais que envolvem sua territorialidade. Conforme Almeida (2008), o sentido coletivo das autodefinições emergentes impôs uma noção de identidade à qual correspondem territorialidades específicas, pois é um produto das reivindicações e das lutas dos movimentos sociais organizados por critérios étnicos e coletivos, cujas fronteiras estão sendo socialmente construídas e nem sempre coincidem com as áreas oficialmente definidas como reservadas. No Brasil, o reconhecimento destas identidades étnicas e coletivas se fortaleceu em 2003 quando o governo federal sancionou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que impulsiona a luta dos grupos mobilizados por critério fundamentados nas identidades coletivas constituídas num processo específico e num contexto de resistência histórica, destacando como fundamental os critérios de “autoidentifição”. (...) reconhece como critério fundamental os elementos de auto-identificação, e reforça, em certa medida, a lógica de atuação dos movimentos sociais orientados principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades coletivas. (ALMEIDA, 2007, p. 9-10) Está-se diante de um processo de territorialização complexo em que se deve observar o raio de abrangência dos movimentos sociais e não apenas as manchas de incidência de espécies identificadas cartograficamente nos “zoneamentos econômico-ecológicos”. Essa observação tem-se fortalecido nas várias ações da Nova Cartografia Social comentada por Acselrad (2008), principalmente nas oficinas de mapas e legendas, possibilitando a inclusão dos sujeitos nas identificações cartográficas, juntamente com suas representações, formas de organização, conflitos, etc. Ilhéus do Rio Paraná e o Parque Nacional da Ilha Grande Os Ilhéus do Rio Paraná, hoje reconhecidos como um grupo social dos povos e comunidades tradicionais do Paraná eram mais de 12.000 pessoas em 1980, ano em que foram atingidos no alagamento pela construção da barragem de Itaipu. 7 Cerca de 80% dos Ilhéus sofreram um processo de dispersão compulsória ainda na década de 80, em direção a várias cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, além de muitas famílias morando no Paraguai. Por análise empírica observou-se que muitos se tornaram assalariados da cana de açúcar, do algodão, mesmo assalariados urbanos, catadores de lixo e trabalhadores informais nas pequenas cidades do oeste do Paraná, como única saída de sobrevivência depois da criação da barragem e posterior criação das unidades de conservação integral em seus territórios. Dos que foram assentados, metade abandonou os lotes pela falta de adaptação em um lugar onde as condições físicas e de reprodução social eram incompatíveis com as do local de origem. Mesmo com todos os obstáculos legais, a indiferença do estado e o impedimento de ocupação dos territórios tradicionalmente ocupados, hoje transformados no Parque Nacional da Ilha Grande e APA Federal dos Rios e Várzeas do Rio Paraná, muitos ilhéus tem resistido para permanecer, recuperar e ainda receber uma indenização do Governo Federal por essa expropriação; dos que permanecem nas ilhas, são diariamente criminalizados pelos órgãos ambientais do estado e da união que insistem em negar os direitos destes povos permanecerem em seus territórios de origem. Sua principal demanda se resume no retorno aos seus territórios nas Ilhas do Rio Paraná ou na possibilidade de ressarcimento pela expropriação de suas terras. Gostaríamos de adiantar que a expressão “ilhéus” foi uma denominação produzida pelo Estado para referir-se aos ribeirinhos ou/e pescadores habitantes das ilhas do Rio Paraná antes e durante o processo de construção da barragem de Itaipu. Certamente, o Estado identificou vários outros ilhéus ao longo da construção das barragens. Em que pese à criação desta identificação não se referir as formas de suas próprias nomeações, foi com esse “nome” que nós mesmos passamos a dialogar com o Estado, até porque, assim o Estado nos reconhecia. Atualmente, tal definição virou de uso comum entre todos e todas nós, ribeirinhos e pescadores dessa região. Fazemos esta lembrança para explicar que não somente quem morava nas ilhas foi atingido, estima-se que metade da população expulsa habitava nas margens do Rio Paraná, em regime de posse do uso da terra e formas de vida semelhantes – agricultura de autoconsumo e pesca artesanal. 8 Esta definição ajuda a compreender porque a denominação de ilhéus utilizada pelo governo é similar à categoria de posseiro, isto é, reconhece sua condição de não proprietário, e não sua forma de vida. Desta forma, nossa desocupação da área de inundação ficou facilitada, afinal para o Estado ilhéus/posseiro é um ente “passageiro”, e não possui uma existência coletiva, nem uma tradição, tão pouco o poder de nomear-se, situação que contestamos e por isso até hoje luta por nosso território. A formação étnica do grupo dos “ilhéus” agora indicados deriva de grupos sociais que foram “empurrados” pelos fluxos migratórios de ocupação do noroeste do Paraná, no inicio do século XX. Migrantes vindos de São Paulo, Minas e Bahia, com expectativas de encontrar terras para viver e trabalho junto ao processo de colonização e construção da estrada de ferro e do porto foram dispensados logo após seu término, vinte anos depois. Como o processo de obtenção de lotes era oneroso, a maior parte dessa população encontrou nas ilhas um lugar para viver. A mobilização dos “ilhéus” (10.000 famílias) a que nos referimos começou em 1980, quando conseguimos que o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná emitisse Licenças de Ocupação das ilhas, em vista de futuras desapropriações para barragem da Ilha Grande. Em 1982, foram abertas comportas de barragens situadas rio acima (Paraná, Tietê e Paranapanema), visando assegurar o enchimento do Lago de Itaipu em 14 dias. As águas subiram e obrigaram os “ilhéus” a abandonar as pressas suas casas, perdendo suas benfeitorias e criações, e estabelecendo acampamentos precários em municípios próximos (Guairá, Terra Roxa, Icaraima, Querência, etc.). De forma desorganizada a primeira demanda dos “ilhéus” era dirigida a ausência de dialogo do governo na definição da construção das barragens e seus impactos junto às populações locais. Assim, a noticia da construção das barragens somente foi compreendida como desterritorialização com o inicio da construção das obras da Itaipu. Com o fechamento das comportas e estabilização do nível das águas, aproximadamente metade dos “ilhéus” viram a possibilidade de retornar as suas terras, entretanto já haviam se espalhado por varias regiões entre Mato Grosso do Sul e o Noroeste do Paraná. Em outubro de 82, vendo limitada a luta de retorno aos seus territórios, os “ilhéus” foram conduzidos à categoria de sem terra pelo governo, a única que poderia propiciar o acesso a 9 terra. Tal nomeação, resultado de uma conjuntura, e não de uma forma de vida, os levou a iniciar uma luta por reassentamento em outras áreas do Estado do Paraná. Em 1983 foram realizadas 8 assembléias e em abril de 1984 decidiram acampar em frente à sede do INCRA, em Curitiba, onde permaneceram por 91 dias. A luta foi difícil, mas os “ilhéus” conseguiram que o INCRA desapropriasse 33.761 há de terra para assentamento dessas famílias. Mas nenhuma família recebeu indenização pelas benfeitorias destruídas pela enchente. Uma parte dos “ilhéus” foi assentada numa península do Rio Cavernoso, no município de Candói, na região centro do Paraná. Essa fazenda havia sido ocupada em 1983, por 112 famílias de agricultores sem terra vindas de Medianeira, Missal e São Miguel, na sua maior parte gente que havia sido expulso pela barragem de Itaipu. Estes também se tornaram sem terra, que viviam em terras alagadas e se organizaram para reivindicar seus direitos, já que dependiam da terra para sobreviver. Esses trabalhadores foram despertados pelo Movimento Justiça e Terra, formado por agricultores que lutavam pelo pagamento justo das indenizações de Itaipu e que deu origem ao MASTRO (Movimento dos agricultores sem terra do Oeste do Paraná), o “embrião” do MST. Foram reassentados 1863 famílias entre 1981 e 1983. Infelizmente, cerca 80 % dos “ilhéus” sofreram um processo de dispersão compulsória ainda na década de 80, devido à demora na resolução dos conflitos. Acredita-se que muitos tornaram-se assalariados da cana de açúcar, do algodão ou mesmo assalariados urbanos. Dos que foram assentados, metade abandonou os lotes pela falta de adaptação em um lugar onde as condições físicas e de reprodução social eram incompatíveis com as do local de origem. Em 1997, não bastasse o processo desapropriatório induzido pelas barragens, o governo federal propõe a criação do Parque Nacional de Ilha Grande e a APA Federal dos Ilhas e Várzeas do Rio Paraná que irá concorrer com os “ilhéus” pela tentativa de retorno as suas terras tradicionais. No mesmo ano, um grupo de 600 “ilhéus” fundam a APIG (Associação dos Atingidos Pelo Parque de Ilha Grande). Observou-se que a Associação dos Atingidos Pelo Parque Nacional da Ilha Grande-APIG teve como principal interlocutor o IBAMA/ICMBIO, que é o responsável pelas negociações com os “ilhéus” nos processos de desapropriação. Como não houve acordo 10 relativo à modalidade de Unidade de Conservação (uso parcial/integral) e, sobretudo, na indenização de suas áreas, as questões foram encaminhadas a justiça em 2002. Hoje, mesmo dispersos os “Ilhéus” mantêm sua luta articulada, inclusive com outros povos e comunidades do Paraná e Brasil. Muitos ainda resistem dentro das Ilhas do Rio Paraná sofrendo as mais diversas formas de ameaça e repressão dos órgãos ambientais de nível federal e estadual, inclusive sendo proibidos de melhorar as moradias, apiários, abrigo de animais, etc. Por outro lado, vemos cada vez mais turistas, veranistas pescadores esportistas construindo grandes mansões e portos para aluguel sem qualquer tipo de fiscalização ou proibição7. Situação que agrava-se mais ainda pelas queimadas criminosas que têm acontecido dentro das ilhas, feitas por terceiros principalmente para retirada do gincem, vale ressaltar que essas queimadas não aconteciam em momento algum quando os “Ilhéus” tinham o domínio do território. Ademais, não poderíamos deixar de relatar todo o impacto ambiental que as ilhas do Rio Paraná têm sofrido após o alagamento da ITAIPU, sendo que em determinados locais as terras das ilhas estão sendo engolidas pelo lago, muitos locais as barrancas do rio têm caído dentro do lago provocando o assoreamento e contaminação das águas. Considerações Finais Neste texto, buscamos apresentar o cenário da institucionalização das Unidades de Conservação, bem como a contradição estabelecida entre a proteção ambiental integral e o direito dos povos e comunidades ao território tradicionalmente ocupados. A pesquisa está em andamento, na sua fase inicial. Os apontamentos referidos no texto estão consubstanciados na nossa experiência enquanto integrante dos movimentos sociais de luta pela terra no estado do Paraná, particularmente, no que se refere às comunidades tradicionais, e na análise dos fascículos produzidos no âmbito do projeto da Nova Cartografia Social. 11 Notas ________________ 1 Estas Unidades são regulamentadas por Lei e se dividem em: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Conservação com uso sustentável. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico. As unidades de conservação de uso sustentável admitem a presença humana, desde que associem a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 2 Mais informações, consultar relatório e documento final do 1º(2008), 2º(2009) e 3º(2011) Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná e a Publicação da Rede Puxirão “Processo de Criação da Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Paraná” de 2009, disponível em forma de cartilha. 3 Muitas destas auto-definições ainda estão em processo de regulamentação por órgãos públicos, porém já divulgados pelas comunidades por documentos de produção própria, a exemplo dos Fascículos da Nova Cartografia Social (2005 – 2012), disponível no site: http://www.novacartografiasocial.com. 4 Um exemplo são as comunidades que via Rede Puxirão no Estado do Paraná aguardam desde 2008 seu reconhecimento e tem procolado junto ao Estado a demanda de uma política estadual de povos e comunidades tradicionais. 5 Depoimento de um dos representantes das comunidades faxinalenses do Paraná, durante o evento de lançamento do Fascículo, na Universidade Federal do Paraná, em maio de 2011. 6 A auto-definição é o procedimento de reconhecimento entre os integrantes de um grupos social de forma coletiva ou individual, conforme o que garante a Constituição Federal no Art. 216, inciso IIl, Decreto Legislativo 5051/2002 – OIT 169; Decretos Federais 10.884/2006 e 6.040/2007. 7 Artigo 7º, inciso I, parágrafo 1º e artigo 11 da Lei 9.985/2000 – SNUC. Referências ACSELRAD, H.(Org) Cartografia social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2010. ALMEIDA, A.W.B. de. Apresentação. In: SHIRAISHI NETO, J. (org.). Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. Manaus: UEA, 2007. ALMEIDA, A.W.B. de. Conhecimento tradicional e biodiversidade: normas vigentes e propostas. Manaus: UEA, Fundação Ford, Fundação Universidade do Amazonas. 2008. ESTADO DO PARANÁ. Decreto 3446: Cria as Áreas Especiais de Uso Regulamentado. Curitiba,1997.http://www.tributoverde.com.br/site/modules/mastop_publish/files/files_490 0c0362d493.pdf. ESTADO DO PARANÁ. Resolução Conjunta 02/2009 SEAE, SEED, SEMA, SETI e SEAB, de 24 de novembro de 2009. Organização Internacional do Trabalho. Convenção n 169 sobre povos indígenas e tribais em países e Resolução referente a ação da OIT sobre povos indígenas e tribais. 2 ed. Brasília: OIT, 2005. BRASIL, República Federativa. Lei 9985: Cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC.. Brasília: Presidência da República, 2000. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm. 12 ______. Decreto Nº. 6.040 de 7 de Fevereiro de 2007. ______. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. HARTUNG, M.F. O sangue e o espírito dos antepassados:escravidão herança e expropriação no grupo negro Invernada Paiol de Telha-PR. Florianópolis: Nuer, 2004. MAZZAROLLO, Juvêncio. A Taipa da Injustiça: Esbanjamento econômico, drama social e holocausto ecológico em Itaipú. 2ª. ed. São Paulo: Loyola, 2003. 296 p. Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Ilhéus do Rio Paraná Atingidos pelo Parque Nacional da Ilha Grande a APA Federal. Fascículo 15. Rio de Janeiro:design (casa8), 2010. Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. Pescadores Artesanais da Vila de Superagui. Fascículo 16. Rio de Janeiro:design (casa8), 2010. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto Nº 4.887, De 20 De Novembro De 2003, publicado no Diário Oficial da União em 21.11.2003. Consultado dia 03/03/2010 no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/2003/D4887.htm. SOUZA, R.M, BERTUSSI, M.L. 1º. Encontro dos Povos dos Faxinais. Irati-Paraná: 2005. Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais. Processo de Construção da Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais. Paraná, 2009. 13
Download