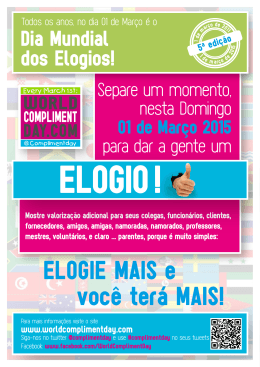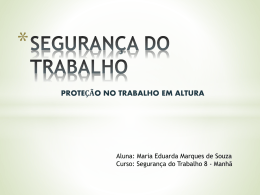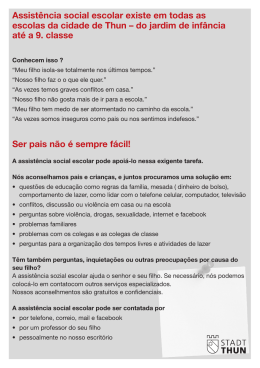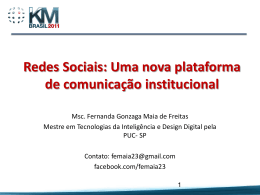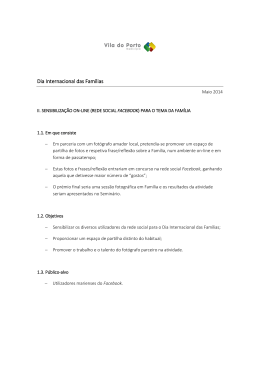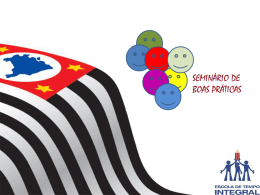UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – I PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDO DE LINGUAGENS MESTRADO EM ESTUDO DE LINGUAGENS GABRIELLA SANTANA SANTOS DAS SALAS AOS CHATS: FACEBOOK E OUTRAS REDES DE RELACIONAMENTO NUMA PERSPECTIVA EDUCOMUNICACIONAL Salvador, 2014 2 GABRIELLA SANTANA SANTOS DAS SALAS AOS CHATS: FACEBOOK E OUTRAS REDES DE RELACIONAMENTO NUMA PERSPECTIVA EDUCOMUNICACIONAL Texto apresentado ao Programa de Pós graduação em estudos de Linguagens da UNEB – Campus I, como requisito parcial para obtenção do título de Mestra em Estudos de Linguagens, na área de concentração: Leitura, Literatura e Identidades. Orientador: Prof. Dr. Silvio Roberto dos Santos Oliveira Salvador, 2014 3 FICHA CATALOGRÁFICA Sistema de Bibliotecas da UNEB Bibliotecária: Jacira Almeida Mendes – CRB: 5/592 Santos, Gabriella Santana Das salas aos chats: facebook e outras de relacionamentos numa perspectiva FOLHA DE redes APROVAÇÃO educomunicacional / Gabriella Santana Santos . - Salvador, 2014. 90f. Orientador: Silvio Roberto dos Santos Oliveira. GABRIELLA SANTANA SANTOS Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens. Campus I. 2014. Contém referências. 1. Comunicação na educação. 2. Linguagem e cultura. 3. Redes sociais on-line. 4. Facebook. 5. Comunicações digitais. I. Oliveira, Silvio Roberto dos Santos. II. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação. CDD: 371.33 DAS SALAS AOS CHATS: 4 FACEBOOK E OUTRAS REDES DE RELACIONAMENTO NUMA PERSPECTIVA EDUCOMUNICACIONAL Texto apresentado ao Programa de Pós graduação em estudos de Linguagens da UNEB – Campus I, como requisito parcial para obtenção do título de Mestra em Estudos de Linguagens, na área de concentração: Leitura, Literatura e Identidades. Aprovada em ___________________________________ BANCA EXAMINADORA ___________________________________________________________________ Orientador: Professor Doutor Silvio Roberto dos Santos Oliveira – PPGEL/UNEB ___________________________________________________________________ Professor Doutor Edson Dias Ferreira - UEFS ___________________________________________________________________ Professora Doutora Elisabeth Gonzaga de Lima – PPGEL/UNEB 5 Para Erivaldo Silva e Mayra Landim, em memória. 6 AGRADECIMENTOS “E nada a pedir, só agradecer...” esse agradecimento, por mais estranho que pareça, começou a ser escrito no dia 31 de julho de 2011, dentro de um ônibus, a caminho do Campus I, quando eu ainda fazia a minha inscrição para esse programa de mestrado. Podem chamar de certeza, autoconfiança, destino. Mas eu sabia que ia acontecer, mesmo com todos os medos que pairaram durante essa jornada. Algumas pessoas me ajudaram a ter essa certeza e a elas eu agradeço, sempre: Ana, minha mãe. Meu escudo, meu braço direito, meu coração fora do corpo. É por você, e por mais ninguém que eu vivo todos os meus dias. Você sempre acreditou, mesmo antes de eu tentar. Desculpe por tudo, obrigada. Meus sobrinhos, meus anjos em forma de criança. Alex, meu ex e eterno companheiro. Mesmo em meio a tantos percalços, você sempre esteve do meu lado. Graças a você serei “mestrinha”, viu!? Nadjena, Socorro, que revisaram esse projeto quando ele ainda era um projeto. Que aguentaram tanta coisa ao meu lado, que me ensinaram a “abraçar o mar...”. Obrigada, sempre. Aos meus amigos, de perto e de longe: Charlene, Daniela, Dayse, Éden Nilo Flávia, Francileide, Maria Luiza, Leila, Raimundo Filho, Rangel, Rouse, Sérgio, Taísa... todos vocês me ensinaram muito a acreditar. Às professoras Priscila Possidônio e Cida Ferraz, e aos seus respectivos alunos, por me permitirem acompanhar suas turmas para análises nesse trabalho. Aos colegas, professores e funcionários do PPGEL. Obrigada pelas horas compartilhadas, pelas angústias divididas, pelas dúvidas sanadas. EU AMO VOCÊS (FERREIRA, Naiara. 2012). 7 Ao meu orientador, professor Doutor Silvio Roberto Oliveira e à minha primeira orientadora, professora doutora Maria do Socorro Carvalho. Obrigada pelos links, toques, orientações. Ao professor Doutor Edson Ferreira e à professora Doutora Elisabeth Lima, pelas sinceras, diretas e importantes colaborações dadas na qualificação. Aos meus alunos ao longo desses anos, do SENAI, da Fasup e do Colégio Estadual Alaor Coutinho, e os que eu pude acompanhar como estagiária na Uneb, Campus I, que muito me ensinaram. E ao meu pai, sempre na memória. O primeiro que me ensinou o verdadeiro valor do termo “Mestre”. 8 RESUMO Este trabalho aborda o uso das redes sociais de relacionamento on line, a saber, Facebook e Youtube¸ especialmente, numa visão educacional, levando-se em conta os princípios educomunicativos, embasados, sobretudo, nos estudos realizados pelos professores Adilson Citelli e Ismar Soares, da Universidade de São Paulo (USP), sobre a inter-relação entre as ciências da Educação e da Comunicação. Nessa perspectiva, analiso, por meio da modalidade de observação participada, duas experiências de uso da rede social Facebook em sala de aula, além dos casos de aplicabilidade das redes propostos por projetos como a Khan Academy, o Youtube Educação e o Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE), do Rio de Janeiro. Assim, a presente dissertação está estruturada em cinco seções, que versam sobre a natureza e a aplicabilidade da pesquisa (Introdução, seção 1); uma breve contextualização sobre o uso da internet atrelado às práticas educativas formais e não formais (seção 2); explanação a respeito da diversidade dos canais disponíveis para abordar o tema na perspectiva educacional (seção 3); análise, à luz da semiótica peirciana, dos casos de utilização do Facebook em duas experiências de sala de aula (seção 4); e considerações finais. Foram utilizados como arcabouço teórico, além dos já citados autores, Marshall McLuhan, Zygmunt Bauman, Pierre Levy, Paulo Freire, entre outros. Palavras-chave: Educomunicação; Linguagens; Redes sociais de relacionamento; Aprendizado em rede; Internet. 9 ABSTRACT This paper addresses the use of social networking relationship on line, namely Facebook and Youtube¸ principally in educational vision, considering the educommunicative principles, based especially on studies conducted by professors Adilson Citelli and Ismar Soares, from University São Paulo (USP), on the interrelationship between education and communication sciences. In this perspective, analyze, by means of the modality of participatory observation, two experiences of using social network Facebook in the classroom, and cases of applicability of the networks proposed by projects, like of Khan Academy, YouTube Education and Experimental Gymnasium New Educational Technologies (GENTE) of Rio de Janeiro. Therefore, the present dissertation is organized into five sections, which discusses about the nature and applicability of the research (Introduction , section 1); a brief contextualization about the use of the internet coupled with the formal and non-formal educational practices (section 2); explanation about diversity available channels to approach the topic in educational perspective (section 3); analysis, in the light of semiotics of Peirce, of cases of use of Facebook in two classroom experiments (section 4), and final thoughts. Were used as theoretical framework, besides the already mentioned authors, Marshall McLuhan, Zygmunt Bauman, Pierre Levy, Paulo Freire, among others. Keywords: Educommunication; Languages; Social network relationship; Learning network; Internet. 10 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 – Página inicial do Projeto Gente 56 Figura 2 – Página inicial da Khan Academy no Brasil 60 Figura 3 – Página inicial do Youtube Educação 61 Figura 4 – Gráfico sobre tendências educacionais no ano de 2014 63 Figura 5 – Visão geral do grupo no Facebook da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães 71 Figura 6 – Imagens postadas pelos discentes no grupo do Facebook 73 Figura 7 – Pesquisa proposta pela Professora Priscila Posssidônio sobre uso do Facebook em sala de aula 75 Figura 8 – Comentários dos alunos sobre a pesquisa 76 Figura 9 – Página inicial do grupo Baú de Retalhos no Facebook 82 11 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 1.1 DAS SEÇÕES 11 19 2. REDES, INTERNET E EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA RELAÇÃO NÃO TÃO JOVEM ASSIM 23 2.1 VIRTUALIZAÇÃO E HOMINIZAÇÃO: LEVY E FREIRE 35 2.2 SALAS OU CHATS? 41 3. A DIVERSIDADE DOS CANAIS: FACEBOOK, YOUTUBE, SALMAN KHAN E PROJETO GENTE 48 3.1 NOVOS PERSONAGENS, VELHOS ROTEIROS 52 3.2 TEMPO: O MOVIMENTO É INVERSO? 57 4. A SALA DE AULA DO 9º ANO DA ESCOLA ANA LÚCIA MAGALHÃES: UM “BAÚ DE RETALHOS” NO FACEBOOK E NO BLOGSPOT 64 4.1 DE KKK´S E SILÊNCIOS 69 4.2 RETALHOS E MOSAICOS 78 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 85 6. REFERÊNCIAS 90 12 1 INTRODUÇÃO A minha graduação na área de educação me deu bases e questionamentos a respeito das práticas educacionais correntes no século XXI. Minha formação acadêmica ainda era baseada em conceitos construídos ao longo de décadas, segundo os quais o discente era tido como ser depositário de saberes, saberes esses que seriam ofertados pelos professores, pelos educadores e, principalmente, pelos livros. Era o que Paulo Freire classificava como educação bancária, constantemente contestada no ambiente acadêmico, mas reproduzida, com bastante frequência, dentro dos espaços escolares ou de formação. Claro que, em pleno início do século XXI – época em que cursei minha graduação em Letras – esse cenário já se mostrava bem diferente. Vivíamos o ápice da revolução na área das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC´s), que passavam a estar cada vez mais disponíveis para muitos, levando-se em conta as limitações geográficas, econômicas e sociais. Nesse contexto, o educando do século XXI é aquele que, além de possuir dentro do seu arcabouço de informações e formações os saberes pessoais – de formação individual e social que não raro são descartados pelas instituições de ensino – apodera-se de tantos outros saberes culturais em um click, em uma mudança de canal, em uma rápida consulta aos tablets, celulares e ferramentas cada vez mais a disposição. Esse novo personagem tem papel importante na nova história da educação, porque a pode impulsionar para reagir a antigas demandas, como reformulação de velhas práticas. Essa proposta abre espaço para questionamentos que norteiam o ponto de partida dessa pesquisa: como lidar com o novo perfil de aluno/leitor, frente às novas tecnologias e as antigas práticas educacionais? Tenho que deixar claro: talvez você não encontre as respostas para essa pergunta nesta dissertação. Isto porque os desafios educacionais não são ideias a serem pensadas apenas nos campos teóricos educacionais, até porque o campo é cíclico. Como bem questiona MORIN (2010, p. 49) “quem educará os educadores?” Ou seja, talvez seja possível perceber que as respostas não estarão postas nesta dissertação, porque o que levanto como objeto de análise são as práticas docentes 13 e discentes em relação às novas tecnologias, e, apesar de elas serem embasadas em pressupostos teóricos são em sua maioria fruto de ações que precisam ser efetivadas diariamente, no exercício do fazer educativo, levando-se em conta o chamado “aprender fazendo”. Por isso reitero que você, talvez, também não encontre essa resposta em outras dissertações ou teses a respeito do tema. Mas, no caminho contrário, a prática tem apontado para tantos possíveis caminhos quantos sejam pensados no campo das ações pedagógicas, de leitura/escrita ou das relações com os meios de comunicação e interação tecnológica. E esses caminhos passam, quase sempre, pelo estreitamento da relação entre Educação e as Ciências de Comunicação. A afinidade entre as duas ciências não é algo novo. Projetos como Jornal Escola versam de mais de cinco décadas atrás. Antes disso, já se educava a distância por correspondência ou via rádio. Entretanto, é necessário entender, antes de passar para a seara das possíveis tentativas de respostas às perguntas elencadas, que as duas ciências são co-irmãs, por lidarem com saberes, conhecimento, formação e informação. É prerrogativa necessária desse século, muito mais que se acrescentar ferramentas ou ter um celular que acesse internet, entender que buscamos conhecer e saber por sermos constantemente estimulados a conhecer e saber. Por isso, é essencial, principalmente, entender a distinção entre esses dois termos – conhecer e saber – levando-se em conta que conhecemos muitas coisas sem necessariamente sabermos muito sobre elas. Principalmente por conta do aumento da acessibilidade aos conteúdos on line, podemos dizer, por exemplo, que conhecemos diversos países do mundo, sem necessariamente termos estado neles e tido acesso aos seus saberes. Como bem afirma a filósofa Viviane Mosé, o saber é o momento em passamos para a reflexão crítica do que conhecemos. Porém, numa sociedade que “democratiza” os seus conhecimentos como a nossa – transformando a internet numa grande enciclopédia ao alcance da mão – temos tido tempo para exercitar as reflexões críticas e transformar o conhecer em saber, o decorar em aprender? Creio que não. E isso não acontece apenas dentro do ambiente escolar, mas, mais do que nunca no século vigente, em ambientes virtuais, 14 tecnológicos e no que antes eram conhecidas as Redes Sociais ou de entretenimento. Essa sociedade, que nasceu como sociedade da informação e que, com as redes sociais, se tornou sociedade do conhecimento, porque produz conhecimento em tempo real, desfez as antigas estruturas de poder, ao mesmo tempo que deu à luz novas. (MOSÉ, 2013, p. 23) Por isso, com as análises propostas nessa dissertação, pretendo refletir a respeito das possibilidades de interação desses jovens produtores de conhecimento com o mundo do saber, dentro dos espaços formais destinados a isso, como as salas de aula, e os considerados não formais, como os chats e canais de interação on line. Para tanto, proponho pensar nisso baseando-me nas interações entre educação e comunicação. Não são raras as correntes que pensam na relação educação/comunicação. De forma bastante sintética, temos três principais sendo adotadas especialmente no Brasil: Educação para os Meios; a Pedagogia da Linguagem Total; e Educomunicação1. Emprego nesta dissertação a análise de práticas que associem as ideias propostas por esta última prática, mesmo que não adotem o termo especificamente ou intitulem as suas ações como sendo educomunicativas. A Educomunicação (e suas aplicações) vem sendo estudada há aproximadamente vinte anos pelo Núcleo de Educação e Comunicação da Universidade de São Paulo - USP, mas vem sendo aplicada há cerca de trinta anos por movimentos populares e sociais da América Latina, que pretendem dar ênfase a construção de uma sociedade mais participativa e ativa frente aos meios. No Brasil, o termo foi cunhado pelo professor Ismar Soares, coordenador do NEC-Usp e autor do livro “Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação”, que teve sua primeira edição em 2009. Antes disso, o assunto era tema da revista Comunicação & Educação2, editada, também pela Usp, há dezoito anos. Ismar Soares – que também já foi um dos editores da revista define a Educomunicação como sendo: 1 Sobre as diferenças entre as três vertentes ver OROFINO, M. I, 2005, p. 31 2 “A Revista Comunicação & Educação possui como missão, basicamente, evidenciar que: os meios de comunicação estão nas salas de aula, quer das escolas que possuem um aparato tecnológico de primeira linha (escolas e clientela de nível sócio-econômico A), quer naquelas que muitas vezes são classificadas como "carentes" (escolas e clientela de nível sócio-econômico C, D e E); os meios de 15 o conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos em espaços educativos, garantindo, dessa forma, crescentes possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas (SOARES, 2003) Seriam práticas que implementariam no quefazer (FREIRE, 1983) educacional um exercício de apropriação das vivências e saberes dos estudantes. No âmbito da leitura, especificamente, aproximaria as suas práticas voltadas para o campo dos media, modificando, assim, a ideia de que a leitura e a interação com os campos midiáticos não se constitui também num exercício de leitura e, principalmente, de produção escolar. Os ecossistemas comunicativos, como afirma Soares, seriam formados por educadores, estudantes, coordenadores, pais, pesquisadores e toda uma gama de agentes sociais que não estariam apenas dentro dos espaços escolares, mas “conectados” às vivências deste aluno, levando-as sempre em conta no momento da construção do saber. Na Bahia, o professor da Universidade Federal da Bahia – UFBa, Nelson Pretto (2013), um dos nomes de destaque na discussão e estudos sobre o tema, emprega o termo “ecossistema pedagógico” para designar a rede de manutenção das práticas educativas voltadas para as demandas tecnológicas e midiáticas do terceiro milênio. Pelos motivos elencados acima, penso que a vertente educomunicacional seja a mais apropriada para responder aos atuais questionamentos quanto às formas de atrelar o conhecimento previamente estabelecido ou formado pelos educandos através dos contatos, tão precoces e constantes com as mídias, especialmente as digitais. Isso porque tal vertente envolve bem mais que o simples desejo de educar para os meios – ou estabelecer a formação de leitores críticos para o processo de mediação existente entre as informações que são passadas pelas mídias. Esta vertente questiona, entre outras coisas, qual o papel do formador frente às novas tecnologias, propõe uma relação mais estreita entre educador/comunicador (este comunicação estão presentes no cotidiano das pessoas e nelas introjetados, de tal modo que, onde houver seres humanos, os meios estarão presentes.” Retirado da página da revista, disponível em http://www.revistas.usp.br/comueduc/ 16 último como organizador de informações para que sejam transformadas em mídia ou não), entende que o conhecimento prévio e corriqueiro de cada agente educacional deve ser atrelado ao processo de formação de saber instrumentalizado – acadêmico, escolar, para o mercado ou no que ele finalmente tenha se transformado para atender as demandas sociais. Percebemos, claro, que as práticas propostas pela Educomunicação viriam, assim, preencher uma lacuna na educação formal que já deveria ter sido ocupada pela reformulação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB ou pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN´s. Tanto um documento quanto o outro defendem o princípio da interação entre os conhecimentos e vivências do educando, obtidos fora dos ambientes de educação formal, com os que são obtidos através da abordagem dos temas elencados nas grades curriculares escolares. As bases para formatação dos documentos são as mesmas, inclusive, que norteiam os princípios educomunicativos, como o pensamento freiriano de que discentes não são depósitos vazios que se encherão de conhecimento apenas dentro de salas de aula. Entretanto, as dificuldades elencadas por docentes na realização entre o que está dito na lei e o que pode ser feito em ambiente escolar ainda persistem, e, talvez, ainda seja necessário reformular ações para que não prossigamos num abismo que separa o que está escrito do que está sendo feito. Ainda Mosé, ao entrevistar Maria do Pilar, uma das responsáveis pela reformulação de políticas públicas educacionais no Brasil aborda essa questão: Viviane Mosé: a LDB surpreende a quem a lê. Porque ela realmente abre espaços muito interessantes. No entanto, a maioria dos nossos professores e, principalmente, diretores não tem tanta clareza a respeito disso. A minha pergunta é: que inovações a LDB permite? O que a LDB permite à escola, novos projetos? Maria do Pilar: (...) quem conhece a LDB e tem uma formação teórica sólida e quer ousar em termos de organização da escola pode fazer isso tranquilamente. Tranquilamente pode derrubar as paredes, os muros e tornar essa escola um espaço de aprendizagem no qual os meninos se sintam efetivamente acolhidos (...). (MOSÉ, 2013, p. 231) Através dos ecossistemas educomunicativos, que seriam ecologias do saber, que envolvem toda uma cadeia formativa onde todos os seres – conceitos importados da 17 Biologia – penso que podemos abordar todos os entes envolvidos nessa cadeia, sugerindo que tornem-se atuantes e importantes nos processos de formação escolar, derrubando os muros e as paredes que impedem que o conhecimento circule livremente. É importante pensar que através dessa vertente podemos acreditar, por exemplo, que o Facebook3, uma rede social nascida nos ambientes acadêmicas, “invadida” depois por usuários ávidos por entretenimento e estreitamento de laços com pessoas conhecidas e desconhecidas pode ser agregada às práxis educacionais justamente pelo fato de ser uma ferramenta de interação social! Entendo que a Educomunicação é a possível chave – como vertente de estudo, não como solucionadora – para dirimir a dicotomia criada por alguns educadores no trato com as mídias aliadas ao ato educativo. Reitero a minha proposta de trazer à luz a discussão a respeito do uso das mídias em educação, focando especialmente no uso das redes sociais por serem espaços frequentemente utilizados pelos jovens como mais um espaço de interação social e apreensão de saberes. Além disso, estreitando os laços cooperativos entre as ciências, criando um ecossistema onde o saber não seja hierarquizado de forma a relegar as culturas midiáticas para um papel de mero entretenimento vazio e anti-reflexivo, é possível questionar a forma como os produtos comunicativos são elaborados. Trazê-los para o campo dos saberes importantes à formação escolar e acadêmica pode ajudar a questionar as vontades de vigilâncias que cercam todos os meios e instrumentos, como as possibilidades aventadas de observação com e sem controle de postagens e publicações por órgãos governamentais, especialmente norte-americanos; a padronização identitária proposta por esses meios ou até mesmo o silenciamento de vozes dissonantes dentro do sistema vigente. 3 Lançado em 2004 nos Estados Unidos por Mark Zuckeberg enquanto estudava na Universidade de Harvard, o Facebook (originalmente thefacebook), foi concebido para focar em alunos que estavam saindo do ensino secundário (High Scool, nos Estados Unidos). (...) A ferramenta propunha criar uma rede de contatos em um momento crucial da vida de um estudante universitário, que é o momento em que este sai da escola e vai para a universidade, representando na maioria das vezes, a mudança de cidade e um espectro novo de relações sociais. No entanto, o sistema inicialmente era fechado e para entrar nele era necessário ser membro de uma das instituições reconhecidas já que o foco era escolas, colégios e universidades. (CARMO, 2013, p. 2) 18 Ou seja, pelo viés da Educomunicação somos levados a ver aquilo que Pierre Levy afirmava em seu ensaio metodológico sobre os conhecimentos diversos e dispersos, “Árvores do Conhecimento”: Como conectar, na verdade, o que você sabe ou pode fazer e o que nós podemos ou sabemos fazer juntos? Em outras palavras, como fecundar o coletivo perito pelas perícias individuais, ou identidades pela pertinência, como em uma corrente positiva? Desde que o mundo tem uma história, o conjunto das respostas a esta dupla questão se nomeia por cultivo e educação, instrução e pedagogia, formação e aprendizado. (LEVY, 1992, p. 21) Entretanto, apesar de entender que a Educomunicação é um campo extremamente relevante para as práticas pedagógicas, acredito que o seu perfil de atuação ainda encontra-se muito mais restrito ao uso instrumental das tecnologias do que no seu escopo metodológico, social e totalizante. Aliás, não só sobre a égide de práticas educomunicativas, mas grande parte das práticas que se autointitulam como educacionais “inovadoras”, “educação para o século XXI” ou coisas parecidas são, não raro, entendidas como práticas que acreditam mais na instrumentalização – dos estudantes, dos professores, do ambiente escolar – do que na reformulação de perguntas básicas. Por esse motivo, coadunando o meu pensamento com pesquisadores contemporâneos das práticas educacionais e comunicativas – não só das educomunicativas – acredito que o papel dessa pesquisa deva ser um pouco mais amplo. Além de questionar como a escola, através dos princípios educomunicacionais, pode tentar se aprimorar para enfrentar os desafios do século vigente, tento, através da observação participante responder, ou pelo menos, trazer à luz algumas questões: “Que relação pode ser estabelecida entre as redes sociais e o processo educacional?”; “Como a Educomunicação pode ajudar a solucionar a possível crise na educação do século XXI?”; “Os processos de leitura e escrita estão sendo deixados de lado na era informacional?”. Para tanto uso a análise de alguns casos locais e internacionais de uso das redes sociais nas práticas educativas. 19 A utilização da metodologia da observação participante se pauta em acompanhar os pesquisados durante os processos de construção/interação com as redes sociais, dentro dos ambientes formais de aprendizado e seus possíveis usos. Optei por essa metodologia por me permitir estabelecer uma interação mais direta com os jovens envolvidos na pesquisa (a saber, estudantes do ensino fundamental II de uma escola municipal de Lauro de Freitas e universitários do primeiro semestre do curso de Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia, Uneb, Campus I), além de ser, no primeiro caso, apenas como observadora e no segundo, como observadora e monitora do grupo, liberdade para propor práticas de escrita em ambiente virtual que possibilitaram formação de reflexão a respeito do uso das mídias. No segundo caso, especificamente, pude colocar em prática o que preconiza o antropólogo Adjair Alves (2011) sobre observação participante, ao afirmar que: Em se tratando da observação participante é fundamental que se compreenda que o conhecimento construído é oriundo da relação com sujeitos envolvidos no processo social; pesquisador e pesquisados. (...) Na prática, a pesquisa social compreende uma troca verbal, uma situação de diálogo em que é preciso conhecer a linguagem dos interlocutores a serem pesquisados.(ALVES, 2011, p. 28) A ideia dos casos diversos serve para, a princípio, montar uma análise que parta de um lócus mais micro – por isso mais próximo de nossa atual realidade – e, como num processo global que é o das tecnologias de informação e comunicação, abrir o diafragma e ver o lócus mais amplo e macro. Então, dessa forma, serão analisadas experiências de páginas no Facebook e blogs criados por estudantes de uma escola da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas e de estudantes do curso de Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia; o projeto GENTE – Ginásio Experimental de Tecnologias Educacionais, implantado na rede municipal do Rio de Janeiro; e a Khan Academy, organizada pelo americano Salman Khan, que usa vídeos do Youtube numa perspectiva inovadora de educação. Tais análises levaram em conta as práticas caracterizadas por um conjunto de ações educomunicacionais propostas por Ismar Soares e Adilson Citelli; Pierre Levy, Marshal McLuhan, Manuel Castells, Nestor Garcia Canclini e Jesus Martín-Barbero e Nelson Pretto, entre 20 outros, para entender os caminhos da inteligência cognitiva tecnológica; e nomes como Paulo Freire, Edgar Morin e Zygmunt Bauman para pensar as encruzilhadas educacionais a que nós, educadores, estudantes e eternos seres informacionais estamos expostos nessa grande infovia global e tentar analisar as questões sociais que permeiam essa necessidade de interação/cognição a que estamos submetidos. 1.1 DAS SEÇÕES Para montar um mosaico, é preciso ter uma base em mãos! Essa base se forma a partir de uma breve contextualização sobre a relação entre Internet, Redes Sociais e Educação. Na seção 2, intitulada Redes, Internet e Educação: considerações sobre uma relação não tão jovem assim, pretendo, à luz de autores como Marshal McLuhan, Vannevar Bush, Nelson Pretto e Manuel Castells traçar um panorama histórico-comparativo desse flerte entre as redes de relacionamento, a partir das ciências comunicacionais, com o processo educacional. McLuhan, já em 1964, nos brinda com desafios elucidativos dessa que viria a ser uma relação dicotômica, quando deveria ser amplamente dialógica. Com base no que o norte-americano afirma em “Os Meios de Comunicação como extensões dos Homens: understanding media”, já podemos começar a entender que, norteados por um mundo cada vez mais tecnológico, os homens não se permitiam, ainda, pensar que as máquinas, os sistemas de informação e a velocidade dos meios poderiam ser mais que aliados instrumentais. O autor, logo no inicio da obra afirma “Qualquer criança pode fazer uma lista dos efeitos do telefone, ou do rádio, ou do carro, no sentido de moldar a vida e o trabalho de seus amigos e de sua comunidade.” (1964, p. 13). Essa assertiva seria a prerrogativa básica de um projeto educomunicacional, já que pensa o educando como protagonista de um processo que envolve saberes intuitivos e instrumentais cotidianos. A partir dele e dos outros autores citados, pretendo apontar os chamados que vem sendo feitos há no mínimo seis décadas à educação do mundo todo, não para adotar uma atitude reativa frente à Torrente de Mídias (GITLIN, 2003), mas para entendê-la como parte das vivências humanas, levando-se em conta suas limitações sociais de gênero, classe social, etnia, raça, religião; ou seja, abordando conceitos que remetem a questão das plurais identidades e das experiências unas e coletivas. 21 Ainda nesta seção “convido” o educador Paulo Freire e o comunicólogo Pierre Levy para “virtualmente” discutirem conceitos de virtualização e hominização. A sub-seção Virtualização e Hominização: Levy e Freire aborda os conceitos de virtual e humano levantados pelo francês especificamente no ensaio “O que é virtual?” (1996) e as práticas de educação libertadora do brasileiro que conquistaram todo o mundo. A aproximação entre as ideias de ambos, sem sugerir aqui uma proposta de recepção e sim, uma ideia de solução global abrangente e inclusiva, nos permite pensar que, mesmo dentro de realidades distantes e distintas – o primeiro tendo como base as experiências da Europa em pleno auge econômico pós-guerra fria; o segundo vivendo a educação no campo da América Latina – o uso das tecnologias (não das tecnocracias) comunicacionais é um passo importantíssimo para que educandos e educadores aproximem-se mais das realidades de ambos, evitando os rachas e abismos que sugerem as evasões e o fracasso do atual sistema escolar. Nesta seção, à luz dos hábitos relacionais dos jovens discentes, questiono o perfil das salas de aula atuais. Para a realidade do século XXI, devemos acreditar e manter Salas ou chats? Entre um e outro temos paredes, liquidez (BAUMAN, 2001, 2004, 2013), consumo, interação, exclusão, manipulação, individualidades e coletividades. O que os diferencia? Estamos, como educadores, prontos para entender essa nova configuração espacial que se desenha frente a um tempo cada vez mais acelerado? Tempo, espaço são os mesmos para todos os elementos presentes dentro desse lócus de interação e saber? A seção seguinte, A diversidade dos canais: Facebook, Youtube, Salman Khan e Projeto Gente, trata especificamente dos cases que formam este mosaico de pesquisa e observação. No caso do Facebook, duas realidades são apresentadas: a página criada pela professora de Língua Portuguesa para os alunos de uma das duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental II da escola municipal Ana Lúcia Magalhães, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Bahia; e a página criada pelos próprios alunos do I Semestre do Curso de Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Salvador. Nesse contexto, os exemplos serão apenas tratados como tais: exemplos. Entretanto, uma análise desses dois cases, a partir dos conceitos de semiótica aplicada, deve ser feita brevemente a partir da seção 4: A Sala de Aula do 9º ano da Escola Ana Lúcia 22 Magalhães: um “Baú De Retalhos” no Facebook e no Blogspot. Mas, antes de chegar a essa análise, que será de grande valia para entender a leitura imagética e dos signos constantes nos ambientes virtuais, ainda na seção 3, pretendo questionar, de forma não menos simbólica, os enredos que envolvem Novos Personagens, velhos roteiros (sub-seção 3.1). Quem são os novos personagens da história da educação? Temos alienígenas nas salas de aula? (GREEN e BIGUM, 1995) numa perspectiva onde o saber, institucionalmente, parte do educador para educando, no século vigente, onde o saber parece estar descentrado, Tempo: o movimento é inverso? (sub-seção 3.2). Vídeos postados como tutoriais de aulas (Khan Academy), salas sem paredes e sem divisões seriais (Projeto Gente – RJ), modificam o sentido e a forma de obtenção do saber? A análise semiótica das páginas no Facebook, na já mencionada seção 4, faz parte do processo de observação participada proposto por mim no início desse projeto de pesquisa. Entender como os envolvidos veem essa experiência, que leituras possíveis são feitas a partir do signo midiático, é uma tentativa de esclarecer porque iniciativas como essa – de aproximação entre saberes – podem dar certo ou não. Recorro à teoria dos signos de Charles Sander Pierce para análise dos citados grupos e, a partir dela, tento compreender a imagem do espaço de sala de aula feita pelos alunos que interagem através da rede social, e pela professora, que no caso de Lauro de Freitas, sugeriu a ação. Este capítulo possui uma sub-seção, intitulada De kkk´s e silêncios numa referência às possíveis formas de interação polifônica em rede. É nela que registro as minhas impressões, quando da observação e interação com os discentes da disciplina Oficina de Produção Textual, oferecida à turma do I semestre do curso de Relações Públicas da Uneb, que foram instados por mim e pela professora regente da disciplina a criar uma página no Facebook e um Blog para estender para o campo do virtual – e numa via de mão dupla, trazer as experiências desse campo para o ambiente entre paredes da sala de aula – as suas concepções de leitura e produção textual, pautadas dos assuntos discutidos em aula ou pelas mídias. É preciso discorrer sobre os pontos acima elencados para que possamos perceber que Educomunicação envolve muito mais que a apropriação das mídias na sala de aula, ou ensinar o aluno a “ler” as informações de forma mais crítica, mas aspectos 23 muito mais complexos, e nem por isso menos importantes. Primeiro, porque os processos educomunicativos sugerem envolvimento de todos os personagens dessa ação de forma igualitária, e isso pressupõe igualdade de direitos, de deveres, de saberes. Será que estamos, todos os envolvidos no ecossistema comunicativo ou pedagógico, em um patamar de igualdade ou os processos acelerados e homogeneizantes calam as vozes menos favorecidas, enquadrando-as em categorias e subcategorias e reforçando os estereótipos de consumo? (BAUMAN, 2013) Responder as perguntas espalhadas ao longo dessa introdução seria o objetivo dessa dissertação. Entretanto, acreditamos que ler, escrever, experimentar, serve, como afirma Jorge Larossa (2004), para fazer novas perguntas. São as perguntas que levam as descobertas. E as descobertas, quase sempre, envolvem dolorosos e espinhosos processos de refutarmos aquilo que entendemos como real para tentarmos mirar em amplas e infinitas possibilidades de mudanças e readaptação que podem nos trazer certa desestabilização. Cito o questionamento feito por Sócrates a Glauco na Alegoria da Caverna, de Platão a respeito da saída da caverna: “se fosse obrigado a olhar exatamente para a luz, não haveria de sentir os olhos doloridos e não tentaria desviá-los e dirigi-los para o que pode ver?” (2006, p. 45). Por vezes podemos pensar, como os estranhos prisioneiros da alegoria socrática, que o caminho conhecido pode ser o mais confortável, a princípio, e, por isso, nos negarmos a fazer o caminho da dúvida e das perguntas. Entretanto, acredito, assim como McLuhan, que “nós estamos entrando na nova era da educação, que passa a ser programada no sentido da descoberta, mais do que no sentido da instrução” (1964, p. 13). Ou seja, devemos nos abrir às descobertas propostas pela sociedade vigente, e principalmente, abrir a nossa capacidade de questionar o quanto de real há dentro das nossas cavernas de repetição e prática, pois é a partir das perguntas que surgem novas hipóteses. 24 2 REDES, INTERNET E EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA RELAÇÃO NÃO TÃO JOVEM ASSIM “Criamos a época da produção veloz, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz em grande escala, tem provocado a escassez. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco” (Charles Chaplin) Pensar educação através dos processos atuais de comunicação e disseminação de informação é, antes de tudo, pensar em excessos. Na atual sociedade, conhecida como sociedade da informação, pesquisas afirmam que há queda nos processos de leitura e interação com as práticas educacionais mais tradicionais, que, segundo o perfil traçado pela pesquisa “Retratos de Leitura”4, vem perdendo espaço para entretenimentos digitais, como jogos on line, redes sociais ou filmes em DVD. Eles, os educandos e nós, os educadores, somos constantemente bombardeados com excessos de imagens, textos, mensagens... excesso de produção. Isso não parece ser uma barreira deste século. Em 1945, Vannevar Bush já falava disso como um problema, afirmando que “a dificuldade (…) [está no fato] de as publicações estarem muito além de nossa capacidade atual de fazer uso efetivo desses registros”. Muito se produz, pouco se aproveita. O próprio Bush temia por esse excesso de produção de informação, afirmando no artigo “Como Pensamos” que, diante dessa dificuldade de navegarmos em meio a tanto informação, e armazená-la de forma aproveitável, precisaríamos de uma extensão de nossa memória, o Memex 5, ideia que, ao se aprimorar para os conceitos atuais, deu origem ao que hoje conhecemos 4 Dados da edição 2012 da pesquisa, realizada pela Fundação Pro-livro e pelo Ibope inteligência. Segundo a pesquisa, Em 2011, 28% dos entrevistados disseram gostar de ler jornais, revistas, livros e textos na internet no tempo livre. O porcentual era de 36% na pesquisa anterior, em 2007. Enquanto isso, o índice de quem gosta de assistir à TV subiu de 77% para 85. 5 “Memex não é um herói de cartoon, é uma máquina um tanto quanto visionária para auxiliar a memória e guardar conhecimentos (daí o nome Memex - Memory Extension), que foi pensada pelo cientista americano Vannevar Bush e enunciada em l945”. Definição do site da Unicamp. 25 como o hipertexto6. Mas, apesar de hoje termos a nosso dispor extensões de nossa memória, ainda há, para além de nossa capacidade de absorção e leitura, muita informação sendo produzida. Muita informação e muito lixo. E lixo no sentido físico e literário. Catalogar o que é útil, mediar essa relação de apreensão do conhecimento é uma tarefa complexa, mas vital para que possamos repensar as nossas práticas de absorção, catalogação e priorização de saberes. Sobre isso, Bush afirma que Presumivelmente, o espírito do homem deve se elevar se ele puder rever seu passado sombrio e analisar mais completa e objetivamente seus atuais problemas (…). Suas incursões podem ser mais agradáveis se ele tiver o privilégio de esquecer uma série de coisas que ele não precisa ter a mão imediatamente. (BUSH, 2007, p. 31) (Grifo meu) Os processos de esquecimento, ou de filtragem de informações, não são totalmente aleatórios ou desvinculados de convenções. Temos os filtros impostos pelos meios de consumo7 – os mais perceptíveis – pelo contexto social no qual estamos inseridos, pelas nossas expectativas de vida ou familiares... Nesse contexto, tudo aquilo que não fez parte do que deve ser consumido, aprendido ou levado em conta, nos é imposto como algo descartável, passível de permanecer apenas no modo do temporário em nossa memória afetiva, instrumental ou funcional. Se não nos dá 6 7 Trabalho aqui com a definição de hipertexto trazida por Adilson Citelli (2006, p. 234): “megatexto de onde derivam textos particulares. A internet é um poderoso recurso para ter acesso ao hipertexto, facultando, através de ligações, de pesquisas processadas na rede, o esclarecimento de assuntos e temas muito preciosos (...).” e com a ideia de hipertexto contida no Dicionário do Século XXI de Jacques Atali (2001, p. 212): “Associação de ideias. Vagabundagem (sic) do espírito, caminho de exploração e descobertas entre as riquezas da Internet”. Dessa última definição também podemos pensar nos conceitos de flâneur, que devem ser tratados posteriormente, ainda nessa seção. O dicionário organizado por Atali reúne 458 verbetes que, para o autor, serão importantes para entender o século atual. Entre eles, aqueles mais comuns ao homem,como amor, educação, experiência ou dinheiro, outros mais usuais para o século vigente, como hipermídia, hipertexto, chips e bytes e alguns de sua própria autoria, como “adoletela” e “civilego”. Sobre isso, ver palestra disponibilizada pela fundação TED (acrônimo para Technology, Entertainment, Design; em português:Tecnologia, Entretenimento, Design ) a respeito dos filtros nas internet. Eli Pariser, presidente-executivo de um site de conteúdo viral, presidente do conselho de MoveOn.org e um co- fundador da Avaaz.org, fala sobre os filtros e códigos binários usados pelas redes sociais que nos tornam individualizados e personalizados, numa perspectiva de consumo e “conforto”. Para se ter uma ideia, uma busca no Google não remete o mesmo resultado para pessoas diferentes porque o sistema de buscas leva em conta 57 tipos de informações diversas para dar as respostas: local de acesso a internet, servidor usado com o padrão, ultimas buscas feitas, etc. Essa filtragem acontece para que as buscas sejam o mais úteis possível para determinada pessoa, dentro do que é chamado pelo autor do vídeo de “filtros bolha”. Vídeo disponível em http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html. 26 prazer (seja ele sensorial ou no âmbito da geração de frutos de status), não nos permite utilização prática ou nos instrumentaliza, deve ser descartado. Dito isso, antes dos processos de catalogação do que seria de vital importância ou não, é necessário ter em mente o que seria lixo, lixo de conhecimento, lixo de leitura. Ou, usando um termo mais erudito, o que estaria apenas no campo do efêmero e/ou o que, por escolha do leitor, do receptor das informações, possa ser catalogado como aproveitável e permanente. Pensemos que, antes da apreensão das culturas ditas eruditas, de “alto valor” e hierarquizadas, somos todos expostos a cultura midiática desde que nascemos. Mesmo que aja uma triagem quanto ao que é visto ou consumido – filtros familiares, sociais, identitários ou geográficos – somos todos projetados, de alguma forma, a consumirmos a cultura dos meios. Então, quem seria responsável por fazer esse processo primeiro de triagem do que é “alimento sólido” e do que é apenas descartável? A princípio nós mesmos, como seres dotados de uma memória limitada e tensionados pelas orientações sociais às quais estamos submetidos, fazemos esse processo de catalogação. Ou seja, “recordar, assim como esquecer é (...) operar uma classificação.” (CANDAU, 2011, p. 84). Mas, institucionalmente, contamos com um outro operador de esquecimentos, priorizador de lembranças e classificador de culturas: A escola. A cultura primeira do aluno é, desde já, uma cultura midiática, por força da sociedade em que vive. O papel da escola, nesse contexto, seria fazer com que tanto as crianças, quanto os jovens e adultos pudessem passar dessa cultura primeira à cultura elaborada. (OROFINO, 2005, p. 23) (Grifo meu.). Ou seja, teríamos como um dos papeis funcionais da escola, resgatar o aluno do excesso de informação a que ele é exposto, pondo em prática o caráter semântico e etimológico contido no próprio termo aluno: “sem luz”. Em meio às trevas da cultura midiática em que ele está inserido, a escola seria a lâmpada, o caminho, a ponte para que ele pudesse chegar à cultura elaborada e dita erudita. Mas, será que a ideia de passar de uma cultura para outra através do papel “orientador” que a escola 27 ainda acredita ter não é um reforço para as práticas de alijamento das culturas e dos saberes dos educandos? Porque uma cultura tem mesmo que servir de ponte a outra? E se tem que servir, quais suportes são usados para que essa ponte seja construída? “Como a educação escolar pode se colocar diante do papel que as mídias desempenham hoje, tanto nos processos de difusão de ideologias dominantes quanto na construção de novas redes de resistência e solidariedade mundial?” (OROFINO, p. 30) Para além das questões expostas acima, devo questionar o que nos faz crer que os conteúdos curriculares, impostos pelo nosso ensino formal – especificamente no Brasil – são os mais adequados para tornarem-se lembranças permanentes para os nossos jovens educandos. Por que decorar o Teorema de Bhaskara (por exemplo) é mais importante que entender como funcionam os relacionamentos interpessoais estabelecidos em sua comunidade de origem? Não à toa, tais pontos tratados como relevantes em nossos currículos são tratados de forma irônica e jocosa pelos nossos estudantes. Talvez o gerador dessas dúvidas seja a necessidade vital que nós, como educadores, e nossos discentes, acostumados com a ideia de serem apenas depositórios de conhecimento, temos de que os saberes precisam ser catalogados, separados e triados, em de maior ou menor importância e de maior ou menor grau. Orientados pelos ditames do mercado, do capital, do sistema (sic), ambos os protagonistas dessa relação sentem-se perdidos frente às novas expectativas que esse novo mundo acelerado nos mostrou. “Criamos a época da produção veloz, mas nos sentimos enclausurados dentro dela”, afirmava Adenoid Hynkel, o personagem que não queria ser imperador, de Charles Chaplin, em o Grande Ditador, de 1940. Criticando a velocidade das transformações nos meios de produção, a fita aborda como os seres humanos sentem-se perdidos num mundo em que “produzir” era palavra de ordem e consumir era a forma de se sentir incluído socialmente (não muito diferente dos dias de hoje). Distantes 72 anos do discurso do palhaço, nos encontramos tão perdidos quanto numa sociedade bem mais acelerada que aquela. Atualmente nos pergunta Canclini, ao colocar no mesmo patamar “Leitores, espectadores e internautas”: “para que servem os livros, quando é melhor pesquisar 28 na internet, se é censurável ou desejável conseguir vídeos piratas ou baixar musicas grátis? Que sentido tem fazer arte, exibi-la, ir vê-la ou não?” (2008, p. 13). Ao mesmo tempo em que ele questiona qual seria o papel das artes, educação, leitura etc. nesse novo contexto em que estamos todos mais próximos dos produtos culturais por conta da internet, Canclini alerta para a necessidade de não pensarmos os produtores e consumidores das novas mídias tecnológicas como “ilhas isoladas”. A partir do conceito do flâneur8 do século XIX, que percorre as ruas, observando os centros urbanos, descobrindo os saberes no vagar das suas ideias que passeiam junto com o balançar do vai e vem dos seus passos, temos agora a ideia do flâneur do século XXI que, pelo vai e vem dos seus olhos (SANTAELLA, 2004) exerce o seu passeio pelos códigos binários informacionais, construindo saberes através dos hiperlinks. Para internautas, as fronteiras entre épocas e níveis educacionais se esfumam. Apesar de que na web continua havendo brechas, tanto nos modos de acesso como na amplitude e heterogeneidade de repertórios aos que chegam a setores diversos, ao navegar ou “googlear” textos e imagens de diferentes épocas, a cultura dos que são vizinhos e a dos que estão distantes tornam-se espantosamente acessíveis. “Familiariza-se”. (CANCLINI, 2008, p. 52), ou seja, torna-se um viajante que recebe as diversas culturas de forma natural, ou, pelo menos, de forma que parece ser. Manuel Castells, sociólogo espanhol contemporâneo e autor da série “Sociedade em Rede” pensa em um novo paradigma tecnológico – um novo contexto social e de produção. Segundo ele, esse novo paradigma teria se firmado especialmente em meados da década de 60 e início da década de 70, com o desenvolvimento das pesquisas do que viria a ser a internet em 1969 e, dois anos depois, com o desenvolvimento do microprocessador. Seria equivocado pensar que foram as novas perspectivas tecnológicas quem regeram um novo paradigma educacional? Vivemos um novo intervalo histórico, no qual uma série de acontecimentos nos faz 8 “Para o perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso prazer para fixar residência em que o número no ondulante, no movimento, no fugidio e ao infinito. Estar longe de casa e ainda assim sentir-se em casa em qualquer lugar, ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer escondido do mundo, tais são alguns dos prazeres menores desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem pode definir, sem jeito.” Citação de Baudelaire disponível em http://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A2neur. 29 repensar as práticas antes cotidianas e mecanizadas alicerçadas pelo fordismo e pelos meios de produção fragmentados e cada vez mais especializados. (CASTELLS, 1999, p. 49). Outros autores como o brasileiro Ismar Soares, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/Usp, situam o surgimento dessa relação de educação com comunicação e de rompimentos de paradigmas entre o fim da década de 40 e o início dos anos 50. O certo é que, pós 2ª. Grande Guerra, tornou-se cada vez mais necessária a formação de seres preparados para exercerem as mais diversas funções já que, em períodos de crise e escassez de mão de obra, a valorização dos sentimentos de nacionalismo e ufanismo, a construção de identidade, eram feitas nas salas de aula e pelos noticiários radiofônicos. A nova proposta então, mesmo que ainda não tão alinhavada, era romper com o modelo de mera produção de mão de obra e alimentar um indivíduo que valorizasse, não só o papel que desempenhava em sociedade – seja de operário ou de soldado – mas aquela sociedade em que ele desempenhava esse papel. Sentimentos de apropriação de suas culturas, de seu território eram propagados em campanhas nacionalistas que podiam ser vistas em bancas de revistas, programas de TV, de rádio e, como não podia deixar de ser, na escola. Cabe aqui pensar no questionamento apontado por Edgar Morin a respeito da mudança de atitude frente aos novos desafios propostos pelos usos dos meios – e não só por eles – para nossa sociedade, não estar atrelada apenas a educação e sim na ação de respeitar as mudanças de paradigmas apontadas a partir das minorias. Pensar nesse sentido nos leva mais uma vez a acreditar que o viver em rede, pode sim ser uma grande chance de suplantar uma educação que não leva em conta as minorias e identidades sociais realmente excluídas do processo formacional. Porém o conceito de rede que discuto vai além da simples questão tecnológica. Entendo que o mundo conectado e em rede, utilizando aqui termos estritamente tecnológicos, não é um mundo tecnicista, mas menos fragmentado, mais disperso, menos especializado em questões específicas, um lócus onde, inicialmente, os saberes deveriam fazer parte dos interesses práticos de vida. Ao que parece, o próprio mercado já entendeu esse preceito. Desde o das tecnologias comunicacionais (“viver sem fronteiras”, “seja multiconectado”, “um beijo 30 compartilhado em rede é muito melhor”)9, ao próprio mercado educacional que sugere que “uma sala de aula sem paredes é muito melhor”10. Entendendo que num mundo conectado, teoricamente, todos tem voz, estimular uma aprendizagem em rede é estimular que as vozes diferentes – polifônicas – não se calem, não se perpetuem nos processos de exclusão e marginalização. Contudo, não podemos ser ingênuos e acreditar de forma utópica que o uso das tecnologias vai nos tornar mais humanos e menos individualistas, sectários e desintegrados. Em 1999, quando boa parte do que temos hoje como realidade tecnológica era apenas experimentado, mesmo nos EUA, já se questionava o desequilíbrio que era promovido por vislumbrarmos uma sociedade high tech. Jonh Naisbitt, ex-executivo da Microsoft, escrevia nesse ano “High tech * Hight touch: a tecnologia e nossa busca por significados”, no afã de discutir o desequilíbrio promovido por uma sociedade baseada apenas no tech, ou na “alta tecnologia”. Ele afirma: Ao deixarmos de pensar sobre o todo, geramos desequilíbrios. O importante é que temos hoje uma massa enorme de pessoas, gerando soluções high tech impelidas pela “economia de merado”. Proporcionalmente, há muitas poucas pessoas dedicadas a soluções de problemas sistemáticos, que fazem as desigualdades do mercado aumentarem. (...) É como se estivéssemos presos no círculo gerado pela exploração tecnológica. Presos num mundo de ilusão. A reversão para um círculo virtuoso passa pelo retorno à essência. E a volta à realidade real. É o caminho do high touch (NAISBITT, 1999, pgs. 11 e 12) Por isso, institucionalmente, mesmo depois de passadas as necessidades ufanistas demandadas pelas sucessivas guerras mundiais (encerrada a Guerra Fria, inclusive), ainda acreditamos que a escola pode cumprir o seu papel auxiliando, 9 As empresas de telefonia mais populares no Brasil já apostam na capacidade de comunicar-se e interagir em rede como um chamariz para aumentar as vendas. Para a Vivo, por exemplo, conectados vivemos melhor. A Tim sugere que devemos “viver sem fronteiras”, numa alusão clara à globalização, mas, também, às possibilidades de interação em rede. Oi e Claro seguem o mesmo padrão. As empresas de softwares vão mais longe e propõe, de forma clara, a reformulação da forma de educar seguindo um padrão apenas instrumental. No comercial do novo Windows 8, uma professora, aparentemente do ensino fundamental I, explica as vantagens de se ter um computador com o novo sistema operacional e encerra seu discurso para a câmera questionando: “Prova sem papel e caneta. Já pensou?” 10 Na Bahia, o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) lançou campanha publicitária divulgando abertura do processo seletivo no vestibular em que um dos slogans, em diversas peças promocionais, era “sou mais uma sala de aula sem paredes”, numa alusão a educação em rede. 31 como uma bússola, a nortear esse mundo tão rápido e conectado. Para isso, formadores e educandos precisam pensar para além das hierarquizações, tão em voga no início das relações entre os meios e as mensagens (McLuhan, 1964), deixando de lado os anacronismos e dispersões dialetais que assustam tanto e a todos, acreditando que: Neste “cenário operativo”, a busca de soluções de alguns problemas da ME [mídia educação] depende de uma consciência do momento cultural atual e de sua promoção nos diversos contextos projetando um modo diferente de fazer a sociedade, a escola, e a formação, onde as mídias possam ser consideradas uma questão relevante pelas interações, saberes e culturas que propicia e não só por seus efeitos negativos. (FANTIN, 2005?, p. 13) E essa busca de soluções só se daria a partir de dois momentos: um primeiro, e talvez o mais difícil de realizar por ser o mais externo ao espaço escolar, envolve a apreensão dos conceitos de identidades, experiências e valores sociais, tão díspares e heterogêneos. Pensar em rede, em uma sociedade que entrelaça as suas malhas através de nós apertados por vícios de capital – que ao mesmo tempo exigem de cada um ser único e especial, despertando sentimentos de necessidade de interação, aceitação e agregação para que possam consumir o que é produzido em escala massiva – e da não interação, deve levar em conta que a relação entre a mão de obra e a matéria no processo de trabalho envolve o uso de meios de produção para agir sobre a matéria com base em energia, conhecimentos e informação: a tecnologia é a forma específica dessa relação (CASTELLS, p. 34). Ou seja, para atingir todas as diferentes camadas sociais, o saber deve estar elevado ao padrão de consumo essencial. Como nos fazem acreditar que o efêmero é imprescindível, podemos e devemos elevar o que aprendemos e apreendemos ao patamar do utilizável, utilitário, formador. Quando alguma parte do ecossistema social se sente deslocado do seu hábito de ação, torna-se um predador dentro desse mesmo sistema. Geralmente esses predadores são vistos como outros, estranhos, estrangeiros, alienígenas. Não levamos em conta que os outros – “eles”, como o discurso nos tencionou a chamar – somos nós mesmos, numa realidade tão 32 próxima e clara quanto opaca e distante, tornada assim pelos processos de manutenção de padrões realizados constantemente pelos veículos de comunicação. Devemos pensar então em novas formas de interação social que não estejam pautadas estritamente no consumo e a exclusão daqueles que se sentem alijados do processo de manutenção dos padrões. Essas formas podem vir através da educação, mas cabe questionar as suas demandas: são utópicas ou mercadológicas? A escola vai continuar existindo (e com ela o grande filão consumidor) e seria possível continuar pensando em suas mudanças de perfil tecnológico e prático sem pensar que nela se perpetuam mais um vetor de consumo? Os educandos não deixam de ser consumidores, em momento algum, na nossa sociedade. Os são em sala de aula porque a sociedade afirma que só com formação adequada será possível tornar-se um funcionário remunerado o suficiente para consumir. O são nas redes sociais porque se tornam nichos distintos que serão tratados como tal pelas grandes empresas comunicacionais. Mas aqui temos uma outra diferença entre os meios de comunicação e a escola. Enquanto as redes e os meios de comunicação identificam as diferenças para tornar todos igualmente consumidores (dentro das suas limitações), a escola formal, ainda no século XXI, mantém separadas as limitações para tentar formar todos igualmente diferentes. Um esquadrinhamento de como seriam realizados os procedimentos atuais de leitura, qual o grau de interação na formação acadêmico/escolar e como eles podem ser agregados ao procedimento de formação social, intelectual e cognitivo seria um possível segundo passo. Elencando como esses processos se dão atualmente, compreendendo quem é esse novo leitor/educando frente ao excesso de velocidade e de informação, só a partir disso que a apropriação do que é importante, e do que é formador de leituras de mundo poderá ser feito. De antemão é importante destacar aqui uma diferença essencial: quando abordo a perspectiva da educação a partir da utilização das tecnologias comunicacionais ou das redes sociais em si, não levo em conta o processo de Educação à Distância (EAD). Claro que, inicialmente, o que conhecemos como educação por correspondência ou via rádio, ou até mesmo a atual educação feita através de encontros on-line, com ou sem tutoria presencial esporádica, trata-se de uma forma 33 de superar as distâncias espaciais e propagar educação. Mas, no caso específico de minha abordagem de pesquisa, não analiso aqui essa modalidade de educação que, segundo MORAN (apud BARROS e CARVALHO, 2011, p. 212), caracteriza-se por ser “processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente”. (Grifo meu). Ou seja, nesse caso a distância medida em quilômetros, milhas, jardas, ou na quantidade de “sal” que cada um recebe ao final de sua carga produtiva, do jeito que conhecemos e estamos acostumados, é o fator preponderante para que aconteça essa modalidade educativa. No caso das relações que envolvem o uso das tecnologias em sala de aula, ou ainda, de redes sociais como mais um vetor educacional, não falamos de distância e temporalidade nos sentidos geográficos e cronológicos das palavras, até porque em termos líquidos (BAUMAN, 1998), distâncias, espaços e temporalidades ganham novas configurações. A ideia de Educação a Distância, segundo Börje Holmberg (1981), credita que, para que o ensino aconteça, não é necessário o aporte do professor, mas sim um material previamente construído por um educador, levando-se em conta, inclusive, que o conceito de curso, nessa situação, seria de algo que ainda não aconteceu, mas que já está formatado para ser recebido pelo educando. Essa talvez seja a grande diferença do que é proposto pela Educomunicação e o EAD. Apesar de entender que o educando torna-se o protagonista do processo – escolhendo a plataforma, o horário e a forma como realiza o seu processo de leitura/aprendizado – a partir da proposta do Ensino à Distância ele torna-se também autônomo e dissociado de um ecossistema comunicativo e coletivo, pois o professor, nessa modalidade, de forma distinta do que acontece em sala de aula por não estar presencialmente, mas em processo análogo, exerce o papel de mentor ou, como usado ordinariamente, o papel de Tutor. Sem atribuir peso de qualidade para a proposta EAD, os seus preceitos entendem que a interação e adequação ao saber devem ser regidas por métodos que incluem: planejamento, procedimentos de racionalização, tais como divisão de trabalho, mecanização, automatização, controle e verificação, parecidos com os aplicados aos procedimentos de trabalhos industriais. O autor afirma ainda que o curso deve ser auto-instrutivo, numa clara oposição ao que defendem os princípios 34 educomunicacionais – a serem elencados ainda nesta seção – não por desconsiderar que as reflexões e ações individuais sejam válidas, mas por entender que o conceito de sociedade em rede (CASTELS, 1999) é oposto ao da individualização e do saber dissociado da interação com o grupo, o lócus ou o ambiente sócio-identitário. Finalmente, reforçando o que entendemos como princípio diferenciador entre a proposta EAD e o processo que envolve a Mídia Educação (e especificamente os processos educomunicativos), cito o que diz a Unesco a respeito do assunto: Por mídia-educação convém entender o estudo, o ensino e a aprendizagem dos meios modernos de comunicação e expressão, considerados como parte de um campo específico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na prática pedagógicas, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para o ensino e a aprendizagem em outros campos do conhecimento, tais como a matemática, a ciência e a geografia. (UNESCO, 1984) (Grifo meu) Ou, como afirmam Menezes, Martins e Braga (2013): Quanto ao aspecto pedagógico de uma comunidade de aprendizagem on-line, professores e planejadores de cursos podem se valer de recursos da CMC11 para criar ou utilizar ambientes (proporcionando aos aprendizes oportunidades de reflexão e autodirecionamento) (Apud SHEPERD e SALES, 2013, p. 209) Seguramente, se mantivermos a confusão entre EAD e Educomunicação, cairemos na armadilha mais feroz do processo educacional perpetuado ao longo de seis décadas: acreditaremos que as ferramentas são mais importantes que os personagens e voltaremos os nossos investimentos na aquisição de meios e não na sua apreensão. Exemplos como esses não faltam. Um dos mais caros e mais próximos de nossa realidade pode ser analisado no investimento feito pelo Governo do Estado da Bahia, quando, com o pretexto de implementar Educomunicação nas escolas públicas de todo o estado, adquiriu tecnologia de ponta, mas se esqueceu 11 Comunicação Mediada por Computador 35 do básico. O assunto virou tema de diversas matérias jornalísticas, mas cito especialmente uma, veiculada no jornal A Tarde de 12 de abril de 2009, que dizia: ESCOLAS RECEBEM TECNOLOGIA DE PONTA MAS FALTA O BÁSICO – Estado opta por investir R$ 38 milhões em TV´s Pendrive, mas faltam cadeiras, merenda e rede elétrica suficiente. (Jornal A Tarde, 2009) O nosso “novo mundo elétrico” impõe a apreensão dos meios como princípio básico para uma política de formação e educação renovadora, tal e qual como a Educomunicação vem se propondo a ser. O exemplo do Governo do Estado da Bahia mostra que, não raro pensa-se que investir – financeiramente, deixe-se claro – na aquisição de um material ainda desconhecido de alguns educadores para todas as salas de aula da rede estadual de ensino pode, junto aos professores, servir de estímulo para uma educação mais inovadora, inclusiva e cidadã. Atrelada ao equívoco governamental – alicerçado por um sistema social que se reforça em cima do modelo de acúmulo – de achar que apenas o meio (em 2009 a TV Pendrive, hoje, os tablets para os professores) faria uma revolução no quefazer educacional na Rede Pública Estadual (todas as salas de aula do estado tem a “TV azul”, porém nem todos os professores foram capacitados a usá-las; existem salas de aula que sequer tem rede elétrica com capacidade para receber o equipamento ou ainda, professores não possuem o pendrive para usar junto com a TV ou, quando o possuem, não foram capacitados para o uso do equipamento) estava a resistência do educador, também exposta na matéria, de que a tal TV fosse substituí-lo em sala de aula, diminuindo o seu potencial educacional ou, pior ainda, a necessidade de que ele mesmo estivesse em sala de aula. A resistência do professor, exposta em frases como “o aluno achou que a TV fosse fazer o trabalho do professor” ou “não fomos preparados para receber o equipamento” mostra o temor do educador “tradicional” (além do despreparo dos poderes públicos junto à nova proposta educacional) e, principalmente, a sua postura em se sentir apenas mais uma ferramenta, que pode ser substituída a 36 qualquer momento por uma mais moderna. Apenas uma educadora, das tantas ouvidas pela reportagem, posicionou-se de forma crítica quanto à utilização da ferramenta “educomunicacional” imposta pelo Estado da Bahia, parafraseando, de forma espontânea, citação de Marshal McLuhan (1964) quando afirma que os meios podem fazer muitas coisas, menos somar-se ao que já somos: Não se trata apenas da máquina, mas de ressignificar a prática pedagógica com novas formas de aprendizado [...] o pendrive é o livro, é a mesma coisa. Você vai carregar o conteúdo ali dentro. O que a gente deve se perguntar é o que o professor vai fazer com isso? (Jornal A Tarde, 2009). Os equívocos são tantos que chegamos a acreditar, como numa espécie de ficção científica retratada nos filmes da década de 70 ou nos desenhos dos Jetsons, que máquinas falantes, inteligentes e dotadas de sensibilidades poderão, de algum modo, superar os diálogos, as sensibilidades e as interações cognitivas que acontecem no exercício cotidiano da troca de saberes que acontece entre professor/aluno ou, melhor definido, educador/educando. Alguns de nós, realmente, acreditam que tecnologias não são extensões dos homens! Devemos pensar como nos deixamos endurecer de tal forma que, muitos de nós passamos a achar que mais do que meras ferramentas, as tecnologias de comunicação e conhecimento estabeleceram um campo de guerra entre os saberes. A tecnologia está posta e a consumimos, mas não precisamos apenas ser meros consumidores. Podemos ser programadores, administradores, construtores e refletores em rede, mas, principalmente, reflexivos frente a ela. 2.1 VIRTUALIZAÇÃO E HOMINIZAÇÃO: LEVY E FREIRE A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. (Paulo Freire) Nosso “novo mundo elétrico” está às portas, sem necessariamente novos mundos serem criados para adaptar-se a tal. Esse novo mundo precisa ser aberto à 37 observação, participação e conversação – usando um termo caro a Larossa, que o prefere ao quase sinônimo “diálogo” – constante, entre todos os atores envolvidos nele, para que mudanças significativas sejam percebidas. Segundo SANTOS (2001): Moran sobre isto afirma que as mudanças podem ser periféricas ou profundas: são periféricas quando o uso das TI [tecnologias de informação] restringe-se ao manuseio do equipamento (ver um programa de TV, assistir a um vídeo, aprender a usar um programa de computador) ou pior, apenas à presença física dos equipamentos, pois não são utilizados. As mudanças profundas ocorrem quando realmente existe interação entre os atores educacionais e a máquina, sendo esta utilizada como estruturante do saber. (SANTOS, 2001. p.25) (Grifo meu). Para entender o momento atual dos enfrentamentos educacionais, precisamos pensar em como chegamos a eles. Teóricos das áreas da Comunicação e da Educação concordam (aliás, não só dessas áreas, mas a cito especificamente por ser uma fusão delas o meu objeto de pesquisa) que o final do século XX e início do século XXI foi o momento do corte, de transformação e mudança de paradigma para as práticas informacionais e educativas. Não há um consenso quanto ao termo. Alguns usam as palavras em seu contexto mais fatalista, como os apocalípticos, que acreditam que a exposição constante às mídias – na década de 50 à TV; nas subsequentes, ao cinema mais veloz e menos autoral; e a partir da década de 90 à internet e às redes sociais – reforçou o declínio do pensamento crítico dos jovens e acelerou esse processo de ruptura com as práticas reflexivas e educacionais. Acredito que pensar nesse sentido é um equívoco. Pensemos que BENJAMIN (1930?) já decretava o fim da experiência narrativa por causa do surgimento do romance e jornal impresso e ela não acabou de fato, apenas de adequou. Assim aconteceu com o suposto fim do rádio por causa do cinema, deste por causa da TV e por aí adiante. Ou, como afirma BAUMAN (2004): Seria tolo e irresponsável culpar as engenhocas eletrônicas pelo lento mas constante rumo da proximidade contínua, pessoal, direta, face a face, multifacetada e multiuso. E, no entanto, a proximidade 38 virtual ostenta características que, no liquido mundo moderno, podem ser vistas, com boa razão, como vantajosas. (p. 84) Como Bauman, tantos outros acreditam que a era do virtual seja a onda onde toda a humanidade pode surfar, agregando conceitos de interação sem limites e sem exclusões, pensando sob uma perspectiva transformadora e geracional. Prefiro coadunar com o pensamento destes últimos, sem, entretanto me deixar levar por excessos de “romantismo” de que fazem prova tecnocratas ao afirmarem que a solução está nos tablets por aluno ou em TV´s Pendrive em todas as salas de aula, ou ainda em “estudos” rasos e “revolucionários” que alardeiam, sem muita contestação por parte de grande parte dos nossos pares em sala de aula, por exemplo, “que o uso do gadget na educação aumenta a criatividade e motivação dos estudantes. Por isso, não resta dúvida: os tablets vieram para revolucionar, são a mídia do futuro, uma tendência como ferramenta didática.”12 Busco consolidar essa visão, de forma crítica e estabelecendo pontos que possam apoiar soluções humanistas, em dois autores que abordam a ideia de atrelar conhecimento de mundo e identidades plurais à vivência escolar e às praticas educacionais – ainda que não utilizem como nomenclatura para suas ideias o termo “Educomunicação”: Pierre Levy e Paulo Freire. Somos seres sociais e detentores de saberes, mesmo antes de estarmos no ambiente formal de apreensão destes. Isso é um conceito freireano, defendido em seu clássico “A importância do Ato de Ler” (2005), especialmente, mas em tantos outros livros do autor, que nos remetem a práticas libertadoras, cognitivas, mas, especialmente, comunicativas. A educação fabril ou bancária, como bem definiu Paulo Freire, porém, estabelece uma outra relação do indivíduo com a sociedade. Essa relação não seria de apropriação, reflexão ou questionamento, mas de estagnação frente ao novo, alienação de força de trabalho e criação de pensamento pouco analítico acerca do 12 Exortação contida em matéria veiculada no Blog Mais Estudo, intitulada “Geração Tablet”. Disponível em http://blog.maisestudo.com.br/tabletfaculdade/?utm_source=Facebook&utm_medium=facebook&utm_campaign=fanpage 39 mundo que o cerca. Ela serve como mais um instrumento de regulação (BAUMAN, 1998), de formação de controle sobre o indivíduo, de criação de mão de obra alienada e alienante e de uma reprodução de cultura onde o oprimido nunca consegue assumir o papel de opressor porque, não raro, não sabe quem desempenha esse papel. É essa educação fabril, que há muito tempo vem sendo contestada, que não leva em conta as características culturais do indivíduo, as informações que ele traz ao longo de sua vida ou que ele recebe, numa velocidade cada vez maior na busca e criação de conhecimento. LEVY13 situa um dos momentos dessa ruptura com a relação de saber deslocado da realidade quando diz que “após o fim dos anos 60, começamos a experimentar uma relação com o conhecimento e com o savoir-faire ignorada por nossos ancestrais” (1999, p. 173). Essa relação ignorada é justamente a que desvincula educação de comunicação, comunicação de oralidade, oralidade de conhecimento, conhecimento de educação... esta relação não leva em conta a ideia de que a formação de conhecimento é cíclica, e não surge como tábula rasa – o indivíduo recebe a educação em sala de aula e só nela a adquire – mas por elementos que estão ao redor, acima e por trás do indivíduo, sejam no seu passado ou no conhecimento que ainda virá a ser adquirido. Outra perspectiva importante para se pensar em rede e em individualidades coletivas – na verdade um contraponto à ideia de que a tecnologia, por si só, pode ser “tolerante”, “agregante” ou ferramenta de voz aos excluídos é a levantada também por Pierre Levy em “As árvores do Conhecimento”. O francês aborda a questão das múltiplas identidades e, assim como Castells, que afirma que quando a rede desliga o Ser, o Ser, individual ou coletivo, constrói seu significado sem a referência instrumental global: o processo de desconexão torna-se recíproco após a recusa, pelos excluídos da lógica unilateral de dominação estrutural e exclusão social”. (p. 41) 13 Em Cibercultura, Pierre Lévy aborda os papéis dos novos veículos das mídias, da Cibercultura, na sociedade atual. No capítulo XII ele fala sobre as “Árvores do Conhecimento”, uma espécie de “dispositivo informatizado em rede que tende a acompanhar, a integrar, a colocar em sinergia, de forma positiva, todos esses processos”. 40 Levy acredita que em uma sociedade em rede – em vias informacionais – essas múltiplas identidades tendem a ser escamoteadas, tendem a ser engolidas e moldadas para tornar-se blocos de características uniformizantes e socialmente regradas ou ditadas. Entretanto, o modelo de software sugerido por Levy e Authier remonta ao saber latino e grego, onde o ser – desta vez em caixa baixa por estar se referindo especificamente à pessoa, e não aos anseios mais íntimos ou individuais – é valorizado pelo saber que carrega e não pelo poder aquisitivo que tem para obtê-lo. Segundo Levy, esse modelo de saber em árvore – clara referência ao processo biológico do saber enraigado, mas que frutifica e gera mudas, ramas, galhos, etc – pode ser aplicado às mais diversas modalidades de discussão informacional, dentro de um contexto educativo escolar clássico ou não. São mostradas fábulas e parábolas do conhecimento, ligadas ao consumo, ao aprendizado, à competitividade coorporativa ou multinacional. A metáfora da árvore aplicada por Levy na criação de um software que pudesse agregar e disseminar saberes sem qualificá-los ou hierarquizá-los em currículos escolares ou programas educacionais nos remete, claramente, à famosa analogia feita por Paulo Freire de como ele se torna um leitor de mundo muito antes de frequentar o ambiente escolar e se tornar um leitor de “palavras”: Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras,com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro, gravetos o meu giz. (FREIRE, 2005, p. 15) Assim como Levy, Freire acreditava que a valorização do saber individual era ponto importante para a manutenção de um diálogo educacional bem sucedido, onde o educando pudesse passar do papel de mero recebedor e repetidor de informação e saber determinado por um currículo – que não raro está quase de todo deslocado de sua área de saberes e voltado apenas para a necessidade de atender a uma demanda mercadológica ou social – para o papel de protagonista no exercício de 41 comunicar e compartilhar. Uma sociedade que se embasa em apenas uma determinada gama de saberes para montar um determinado currículo (que opta por valorizar a álgebra ao invés da agricultura, por exemplo) reforça a ideia de exclusão, mantendo um nicho de consumo, que causa o abandono e o fracasso das práticas educacionais. O próprio Freire dá o alerta: Em sociedade que exclui dois terços de sua população e que impõe ainda profundas injustiças à grande parte do terço para qual funciona, é urgente que a questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da luta política a que a compreensão científica do problema traz a sua colaboração (FREIRE, 2005, p. 9) Quando pensado no âmbito do virtual ou do virtualizante, o saber e o conhecimento, não raro, são entendidos como banais e, como dito no início dessa seção, na cota das informações excedentes. A construção de um conceito de que a educação em rede é mero consumo, é da cota do banal ou não está na categoria do curricular é tão equivocada quanto achar que ela vai nos trazer para o mundo sem fronteiras, como o da propaganda da empresa de telefonia. Essa construção é falha desde as academias, quando somos obrigados a escolher o que queremos ser quando mal começamos a saber quem somos, quando a construção da identidade consigo mesmo e com a sociedade ainda estão sendo criados. Passamos uma boa parte da vida escolar negando aquilo que acumulamos ao longo da vida social e, ao entrarmos na vida acadêmica, negamos mais uma vez esses saberes. Ou seja, deixamos de lado o poder humanizante do saber e passamos apenas para o que virtualmente poderíamos adquirir com o acúmulo do saber deslocado do que já vivenciamos. Fugimos, como educadores – seja no âmbito das paredes ou dos chats – do que é proposto por Freire ao acreditar que o ato de educar não deve estar restrito apenas à repetição de palavras, fórmulas e conceitos. Deixamos de levar em conta o real sentido da palavra decorar, ou seja, aprender com o coração. E esse tipo de apreensão só surge quando o conceito a ser apreendido deixa de ser virtual (hipotético, arquetipal, inexistente) e passa a ser 42 considerado como algo humanizante. Talvez, maior equívoco esteja no fato de alguns professores – alguns diretores, alguns coordenadores, muitos políticos gestores de educação pública e privada – acharem que a simples imposição de meios tecnológicos no ambiente escolar, sem preparar o educador para as questões mais elementares, como a valorização das culturas locais e individuais, dos saberes locais ou dos recursos oferecidos ao seu redor, antes negados no percurso de formação, são tão importantes quanto “o saber” que cita Freire para que haja o aprendizado. Educomunicar é mais que implantar infocentros, comprar computadores ou produzir jornais, vídeo, rádio, TV: é abrir espaço para que os saberes sejam compartilhados e transformados em experiência. É a experiência que nos torna humanos, hominizados, que nos tira do espaço virtualizante dos “hipoteticamente num ambiente sem atmosferas” dos enunciados da física, por exemplo, e nos remete para o processo de reproduções do que realmente é aprendido. É com a palavra que o homem se faz homem (FREIRE), mas a palavra não pode nem ser vazia de sentido, nem apenas virtualizante de algo inexistente. Mais uma vez, ponto para as redes sociais que, tornam o virtual real quando aproximam as sensações impossíveis e difíceis de ser alcançadas para muitos, das naturais, corriqueiras e cotidianas. Não à toa, Zuckerberg criou o Facebook para se sentir socializado dentro de um ambiente de socialização desumanizado. 2.2 SALAS OU CHATS? A princípio, a pesquisa Redes de Leitura aponta uma queda no número de leitores, afirmando que, comparados com dados de 2008, menos pessoas afirmam terem lido pelo menos um livro por ano. A pesquisa leva em conta apenas leitores de livros, não levando em consideração o fato de que, a todo instante, fazemos uma leitura de algo. Mensagens na internet, propagandas na TV, no rádio, no outdoor, páginas de jornais, revistas e periódicos. Leitores constantes, que não param de ler. Livros físicos são apenas mais um instrumento nessa sociedade midiatizada, mas, como afirma Canclini (2008), são considerados como ilhas isoladas, descontextualizadas dos processos de leitura de mundo atual. Eis que surge o novo desafio educacional: agregar as experiências de leitura feitas constantemente com os da leitura didática, 43 permitindo ao aluno/leitor maior discernimento no processo de catalogação da informação. Nem os hábitos atuais dos leitores-espectadores-internautas, nem a tensão das empresas que antes produziam em separado cada mensagem permitem agora conceber como ilhas isoladas os textos, as imagens e sua digitalização. (CANCLINI, 2008, p. 34) Ainda segundo CANCLINI (2008), existem dois tipos de leitores: leitores fortes e leitores fracos. Os fortes seriam aqueles extensivos ou intensivos, que leem com frequência e aprofundam os seus processos de leitura. Já os fracos seriam os que, segundo o autor, sentem que perdem tempo com “livros de adulto”. São os leitores que passam mais tempo conectados com os novos media, que romperam com as barreiras de territorialidade através da internet, que não entendem o fato de estarem presos a apenas um suporte físico, o livro, quando podem, ao mesmo tempo, ver, ouvir, interagir, navegar. São aqueles que acreditam no rompimento das barreiras espaciais das salas e preferem a liquidez dos chats. É nesse processo contínuo de interação que ele, esse leitor fraco, está mais exposto ao que poderia ser considerado lixo. Sem critério, mas com interação, ele tem à sua frente uma biblioteca imensa, onde o que é real e o que é virtual se misturam. A falta de barreiras dos chats permite que a experiência de ler/entender o mundo seja feita de forma mais interativa e menos limitada, ou, como afirma BAUMAN Nós entramos nos chats e temos “camaradas” que conversam conosco. Os camaradas, bem como sabe todo viciado em chats, vem e vão, entram e saem do circuito – mas sempre há na linha alguns deles se coçando para inundar o silêncio com “mensagens”. No relacionamento “camarada/camarada”, não são as mensagens em si mas o seu ir e vir, sua circulação, que constitui a mensagem, não importa o conteúdo.” (2004, p. 52) Essa interação não deve ser deixada de lado no momento em que esse leitor deixa o seu espaço virtual e sem barreiras e adentra para o espaço físico da escola. O 44 professor passa a ter à sua frente um leitor alinear, que entende pouco de muito. Hipertextual, mas desprovido de ferramentas para fazer uso adequado desse excesso de conhecimento. Elisabeth Lima (2008) vai afirmar que: “... é necessário recordar que a internet surgiu sob a utopia de incorporar todo o conhecimento humano, uma espécie de hiper biblioteca, que forneceria ao leitor virtual a possibilidade de navegar e interagir com todo o conhecimento produzido pelo homem do passado e do presente. No entanto, a prática revelou que a internet se assemelha mais a uma grande enciclopédia, reunindo um significativo repertório cultural, mas abrigando indiscriminadamente o trash, ou seja o lixo cultural que invade a web, tornando-a território livre e sem controle. É nesse ponto que o navegador necessita ser, antes de tudo, um leitor atento e crítico do universo da cibercultura, conhecendo suas demandas próprias e suas ciladas” (LIMA, 2006, p. 11) No âmbito educacional, ainda está nas mãos do educador o papel de mediar a formação desse leitor descrito por Lima como um navegador que, num ambiente tão “livre e sem controle”, deve apurar seu senso crítico. Sobre a formação do leitor, é consenso de que é na escola que deve acontecer essa mediação de forma mais apropriada. Afinal, onde, senão no local de apropriação de saber – não só ele, mas o institucionalizado – que os processos de catalogação deveriam acontecer? Novas formas de pensar educação estão sendo discutidas aqui. Mais que a exposição continuada dos temas, de forma linear, com avaliações pontuais e quantitativas. É necessário pensar educação como mais um processo comunicativo, talvez o mais importante, porque é a partir dele que o que é apenas imagem passa a ser significado, o que é apenas palavra passa a ser texto. Em seu artigo “Meios de Comunicação a serviço da educação (Pedagogia dos meios)”, MATTOS (1995) vai elencar as inúmeras possibilidades do uso das TV's educativas e do sistema radiofônico em sala de aula. Pode parecer algo retrogrado quando pensado no ano de publicação do artigo, mas ainda é a forma como as esferas públicas de poder pensam quando se fala em educação atrelada a 45 comunicação. O investimento nesse sentido é feito na aquisição de material tecnológico, computadores, TV's, equipamentos radiofônicos, tablets. Sugata Mitra14, pesquisador de tecnologias educacionais relatou, na edição do Campus Party 15 de 2012 que os experimentos que realiza há 15 anos mostram que, quando as crianças são expostas a um computador num lugar público, aprendem sozinhas a utilizá-lo e há um desenvolvimento muito rápido da capacidade de leitura, aprendizagem e de responder a perguntas. Novos equipamentos são adquiridos todos os dias pelos governos estaduais e municipais, mas, em contrapartida, o tema “Educomunicação” ocupou apenas quatro páginas da cartilha criada pelo Governo Federal em 200816. O texto de MATTOS parece tão tecnocrata quantos as afirmativas de Mitra, mas o primeiro dá o alerta para o que deveria ser a práxis educacional: Devemos lamentar o fato de que também, nós, educadores, não estamos sabendo ainda usar devidamente o potencial pedagógico destes veículos. Exatamente por isso precisamos lutar para engajar nossas escolas no progresso tecnológico de nosso tempo, procurando desenvolver tecnologias alternativas, através das quais possamos usufruir dos benefícios dos meios de massa no processo de ensino aprendizagem, na perspectiva de universalização das oportunidades educacionais. A educação é a solução para todos os nossos problemas. (MATTOS, 1995, p. 196) A escola já é esse lugar de formação de um leitor crítico, que deixa de ser o que LIMA (2008) denomina como “leitor/navegador”, em oposição ao “leitor/imersivo”. Para servir de mediador nesse local, onde leitores navegam pelas ondas de informação ao invés de imergirem mais profundamente nos conhecimentos, numa sociedade dominada pelo hipertextual – usando o termo cunhado pelas pesquisas de Vannevar Bush – é necessário que o educador se aproprie de alguns princípios 14 Em entrevista concedida ao portal do Jornal O Globo. 15 A Campus Party é um evento criada há 16 anos na Espanha, e que acontece há seis edições no Brasil. Atrai anualmente geeks, nerds, empreendedores, gamers, cientistas e outros profissionais da área de tecnologia e comunicações para acompanhar atividades sobre Inovação, Ciência, Cultura e Entretenimento Digital. Informações http://www.campus-party.com.br/2013/o-evento.html 16 Cartilha criada pelo Governo Federal para orientar as escolas quanto a construção das conferências escolares de Meio Ambiente. 46 norteadores, para que ele mesmo não se sinta “afogado” num mar de excessos e “lixo”. A Educomunicação propõe esses princípios, deslocando o papel de detentor do poder do conhecimento do professor para todo o ambiente de formação, proporcionando a todos os atores envolvidos nesse processo uma maior mobilidade nessa torrente que não para de invadir os ambientes virtuais e físicos. Ele próprio – o educador, que para a Educomunicação passa a ser um “educomunicador” precisa estar ciente de que, assim como o aluno, é um alvo permanente dessas torrentes de mídia. O educomunicador que, segundo COSTA (2008), deveria ter entre suas atribuições: introduzir as mídias existentes na sala de aula, transformando ou acolhendo os meios de comunicação como mais um material didático, junto com livros, cadernos, etc; capacitar o professor a utilizar a tecnologia da comunicação para elaborar seus próprios materiais pedagógicos. Para tanto a autora sugere que a vontade política – traduzida como o desejo de ser capaz de criar projetos inovadores e eficientes usando ferramentas pouco usuais – é mais importante que a própria habilidade em manejar tais equipamentos tecnológicos; estimular a produção e apropriação de veículos de comunicação pelos alunos também seria atributo desse profissional, destacando que, mais importante que o produto final desse estímulo é o processo de criação, que fará com que os envolvidos construam novos conceitos, despertando o lado critico que irá proporcionar ao aluno a capacidade de apropriar-se do conhecimento, podendo fazer uso dele não só em ambientes escolares, mas quando a oportunidade surgir; por fim, seria também atributo desse profissional trabalhar a comunicação em todo o espaço educativo – além das paredes da sala de aula e com todos os atores desse processo, como outros professores, diretores, coordenadores e pais, proporcionando “ecossistemas assim comunicativos” “canais de (SOARES). troca Essa de informações” última função ou do educomunicador reforça o seu papel de operário social, que deve interagir em todos os espaços, e não só nas salas de aula. Essas, talvez, sejam as tarefas mais difíceis. O educador, não raro os casos, põe-se no papel do preso da Alegoria da Caverna, de Platão, com medo do conhecimento 47 novo que se apresenta. Ao invés de tomar como mais uma fonte de saber e ferramenta de mediação os media, o educador se opõe a elas, ou apenas as agrega em momentos lúdicos, desassociados do contexto educacional. Talvez isso ocorra porque ele próprio, o educador, ainda não saiba fazer a correta distinção entre o que é lixo e o que é informação palatável. Os atuais processos tecnológicos têm aberto portas para infinitas possibilidades. Os limites territoriais agora se tornam líquidos, aproximando pessoas, derrubando barreiras, aumentando o fluxo de imagens, informações e velocidade com que essa informação é enviada, acessada, comentada, modificada. O educando imerso nesse novo mundo também é novo. É um personagem desse novo contexto. Um personagem que não lê, mas é considerado leitor. Que não navega, mas é considerado navegador. Que não produz, mas é considerado, não raros os casos, como produtor de lixo e, ao mesmo tempo, está imerso nele. Vive a ilusão de que ao toque de um mouse ou o piscar de uma tela, terá ao seu alcance toda a informação que possa acessar. Mas entende que precisa de uma mediação. Mesmo para aqueles que defendem a tecnologia como maior aliada da educação atual – e que o professor perder o seu papel para uma máquina é algo plausível – concordam que, mais do que uma máquina, o futuro do conhecimento está numa mudança de perfil: dos educadores, das formas de avaliação, dos processos de criação e disseminação do saber. Educar, ensinar a ler – meios, palavras, “saber em árvores”, mais que forma de disseminação de informação, deve ser pensada como define LAROSSA (2004, p. 316), afirmando que ler serve, sobretudo para se fazer perguntas. E não importa se são novas perguntas ou se são perguntas de sempre. E o caminho do pensamento tem a ver, parece-me, com chegar às próprias perguntas, ou à própria formulação das velhas perguntas. 48 Os tecnocratas também pensam assim: A solução é: professores, façam uma boa pergunta que motive os alunos! Certa vez eu perguntei a crianças na China como o iPad podia saber a localização delas. Após meia hora de pesquisas na internet, eles responderam, corretamente, que era por meio de três satélites. Então eu perguntei por que o iPad não usava apenas dois ou 20 satélites para fazer isso. Eles pesquisaram de novo e descobriram que era por causa de algo chamado trigonometria. Aí eu falei para o professor de matemática deles: a porta está aberta. (Sugata Mitra, 2012) Se a solução passa pelo mundo das perguntas, devemos estar atentos então aos questionamentos que deixamos de fazer quando deixamos de agregar o novo, ou quando colocamos o temos como conhecimento base de lado. O desafio educomunicacional talvez seja como desafio empírico, descrito por BACHELARD (1996): um desafio que propõe conhecer para melhor questionar. Cabe a nós, educadores, abrirmos nossas bem cheias cabeças para o novo, entendendo que ele sempre se tornará novo, num exercício cíclico de pesquisa e saber. 49 3 A DIVERSIDADE DOS CANAIS: PROJETO GENTE, YOUTUBE, SALMAN KHAN E FACEBOOK “Margie, não podemos economizar com os meios que irão educar os nossos filhos”. (Diálogo entre Homer e Margie Simpson, sobre contratação de serviço de TV a cabo, no episódio Bart vs.Lisa vs.3ª série) A sociedade do século XXI, conhecida como sociedade da informação e do espetáculo, tornou-se refém das novas tecnologias ou as molda a partir de suas necessidades? Manuel Castells em A sociedade em Rede (1999) afirma que, na verdade, não existe esse dilema, pois a sociedade é a tecnologia. Somos os aparelhos, os produtos, as invenções que criamos, que usamos para tornarmos as distâncias menores, os espaços menos delimitados e as fronteiras menos visíveis. O pensamento do autor coaduna com o de Marshall McLuhan, quando afirma que o meio é a mensagem – ou de forma mais ampla – que as tecnologias só passam a existir porque nós existimos. Coaduna, também, com o que afirmam Levy e Lemos (2010) o questionar o futuro da internet. Os autores, assim como tantos outros entusiastas das tecnologias informacionais, afirmam que estamos caminhando para uma sociedade onde as configurações de tempo e espaço, entre outras, por conta das cibervias e ciberculturas, estão sendo reformuladas de modo que passemos a entender que o tempo, agora, é um tempo do “real”, palpável e imediato, enquanto que o espaço é virtual, assando para o campo daquilo que é imediatamente sensível ou entendível, ou seja, semântico (p. 225). Reproduzimos isso em nossas relações mais primárias (pessoais, de trabalho, com a natureza, com as coisas). Essa forma tecnológica e automatizada com que passamos, no século vigente especialmente – digo isso porque o nosso processo de automatização e tecnologização vem sendo construído desde os primórdios do século XIX, com a Revolução Industrial – nos dá uma ideia de urgências e emergências, urgências essas que perdem o seu real sentido de existência quando postas à luz da clareza e do criticismo. 50 O senso crítico mais “apurado” pode evocar a rigidez das formas de agir pautadas em padrões seculares para dizer que a sociedade high tech não muda as formas de convivência em sociedade, muito menos de aprendizagem. Isso nos põe frente a um desafio que consiste em enfrentar as teconofobias, termo cunhado pelo cientista e escritor de ficção científica Isaac Asimov. Para o autor, célebre por ter escrito o compilado de contos futuristas “Eu, Robô” e ser o responsável pela propagação das Três Leis da Robótica17 – e tão entusiasta quanto a maioria dos teóricos citados nesse trabalho da relação homem/tecnologia – o medo das tecnologias, ou tecnofobia, nos impede de aprender e apreender o possível a respeito dessa relação, por questões que vão do medo de perder definitivamente o “poder” e o “espaço” de decisões para as máquinas aos dilemas espirituais/religiosos/filosóficos. Penso que o desafio que está posto para toda sociedade, e especialmente para nós, educandos e educadores, para que não pensemos que somos os únicos seres escravizados pela evolução tecnológica, é o de mediar esse conflito. Ainda citando Lemos e Levy, a tendência nos tempos atuais é que todas as organizações instituídas clássicas tornem-se redes sociais, e, principalmente, redes de compartilhamento de saberes e conhecimento on line. Num mundo em que as relações vão estar além das fronteiras geográficas, podemos pensar que a reconfiguração de conceitos de tempo e espaço se dá de forma que pensemos que tudo é urgente, emergente e instantâneo. Desta forma, compartilho da opinião publicada recentemente pela articulista Eliane Brum, em artigo para a Revista Época, intitulado “É urgente recuperar o sentido de urgência”. Falando sobre essa sensação de que tudo é muito rápido e muito urgente e, por nos permitirmos estar conectados 24 horas, somos escravizados pelas urgências alheias – ou das coisas que não são tão urgentes assim – ela afirma: Vivemos ao mesmo tempo o privilégio e a maldição de experimentarmos uma transformação radical e muito, muito rápida em nosso ser/estar no mundo, com grande impacto na nossa relação com todos os outros. Como tudo o que é novo, é previsível que nos atrapalhemos. E nos lambuzemos um pouco ou até bastante. Nessa 17 “1- Nenhum robô pode ferir um ser humano, nem permitir que sofra, por inação, qualquer dano; 2Um robô tem que obedecer às ordens que lhe forem dadas pelo ser humano, a menos que contradigam a primeira lei; 3- A obrigação de cada robô é preservar a própria existência, desde que não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei.” (ASIMOV, 2006). 51 nova configuração, parece necessário resgatarmos alguns conceitos para que nosso tempo não seja devorado por banalidades, como se fosse matéria ordinária. (BRUM, 2013) Para ela, a grande solução foi abandonar as benesses da tecnologia. Não usa celular, mal atende ao telefone fixo, só marca e acerta compromissos por email. Ou seja, uma solução tecnofóbica, uma forma de regresso à sociedade quase primitiva, onde o homem, por medo do novo, se recolhia e excluía do processo de transformação e interação, justamente por não saber lidar com ele. Não acredito que a solução esteja em atitudes tão drásticas, até porque a tecnologia é e continua sendo uma realidade cotidiana no mundo, mesmo que nos neguemos a usá-la. Mas, nessa discussão a respeito da utilização de forma a não nos escravizarmos pelos meios, ela chega a uma questão chave: o senso crítico no uso dos meios. Para que pensemos como o uso das mídias em sala – ou a relação educacional em rede – pode ser pensada de forma critica, recorro mais uma vez aos princípios educomunicativos, já listados nessa dissertação. Uma das linhas de articulação teóricas da Educomunicação, apontada por Ismar Soares em livro de mesmo nome (2011) indica a vertente como sendo um campo de interface. Ou seja, o papel da Educomunicação, como já dito anteriormente em diversos pontos, não seria apenas instrumentalizar ou agregar ferramentas ao fazer educacional, mas estabelecer cruzamentos entre o campo da educação e da comunicação e, principalmente, das tecnologias comunicacionais e das redes de interação social, de modo que possamos ser usuários críticos dos meios, desde os processos de aquisição até os de criação e aprendizado virtual e virtualizante. O autor exemplifica tal interface da seguinte forma: A Educomunicação, ao reconhecer e codividir tais preocupações, situa-se a partir de seu lugar específico, que é a interface. Reconhece, em primeiro lugar, o direito universal à expressão, tanto da mídia quanto de seu público. No caso, mais especificamente o direito do público, levando em conta que o sistema vigente desconsidera essa hipótese. Em decorrência, fará todo o esforço necessário para ampliar o potencial comunicativo dos membros da comunidade educativa e – no contexto de seu espaço privilegiado que é a escola – de todos os membros desta comunidade, sejam docentes ou discentes, ou, ainda, a comunidade do entorno. (SOARES, 2011, p. 18. Grifo meu) 52 Entretanto, o educador pode pensar que, assim como muitas coisas se revolucionaram socialmente a partir do uso constante das tecnologias (os conceitos de tempo e espaço, por exemplo) o seu papel também se adequa à nova realidade. Ao contrário disto, o seu papel nessa situação é tão mutável quanto o de todos os personagens sociais envolvidos nesse processo de transformação em que estamos inseridos. Ele, mais que os produtores de tecnologias, passa a ser o grande mediador desse processo, pois é a partir de educação para os meios – educação crítica, dotada de múltiplas leituras de mundo, que proponha uma interface e discussão direta entre aquilo que acreditasse ser descartável e aquilo que acreditávamos ser essencial – é que os cidadãos do terceiro milênio passarão de meros escravos alienados pelas máquinas para usuários atentos ao mundo tecnológico e a cibercultura. O papel da Educomunicação – e das vertentes educacionais que pensam a educação em rede – seria de auxiliar na formação desse novo personagem, que se junta aos já existentes, tentando construir um roteiro que desmonte o já habitual, de sala de aula entre paredes, aprendizado orientado, tempo de avaliação e saber compartimentado. Analisando algumas experiências de educação que utilizam a rede como ferramenta, escopo e até mesmo ponto de partida, pude perceber que os princípios educomunicativos são universais, mesmo quando adotados sem uma definição explicita do termo. E que, apesar de termos diferenças sociais que nos remetem a contextos de educação formal bastante diferenciados, o que se desenha como desafio do século XXI para a forma de educar é o mesmo em qualquer lugar do mundo: quebrar com os velhos roteiros de aprendizado, entendendo os novos personagens que foram formados a partir da relação de saberes e da torrente de informações. Isso se daria através do exercício do diálogo mútuo entre os envolvidos nos processos transformadores vigentes. O caráter dialógico das novas mídias e do século da informação, por consequência, é bem claro. Deixamos de lado o conceito de mídia massiva, onde a interação se dava pela emissão direta de uma mensagem para um grupo massivo e visto como uniforme e passamos para uma época onde todos, potencialmente, são geradores de informação, de forma heterogênea e difusa. Como educadores, vide experiências analisadas a seguir, ainda nos sentimos 53 bastante perdidos com esse excesso de mensageiros. Afinal, acreditávamos que esse era o nosso papel, de grande emissor de formação e (in)formação. Nessa perspectiva, o processo dialógico era apenas um ensaio, não uma realização concreta do fato. Talvez, nisso, resida o grande vácuo existente entre os personagens/alunos do século XXI e os professores: os alienígenas sem sala de aula já se apropriaram dos canais dialógicos tecnológicos com naturalidade ímpar. Ou porque já nasceram sob o signo da informação, ou porque entenderam rapidamente que a “ética da inteligência coletiva é uma ética de diálogo, uma espécie de ‘netiqueta’ suprema” (LEMOS E LEVY, 2010, p. 233). 3.1 NOVOS PERSONAGENS, VELHOS ROTEIROS É uníssono entre os autores que versam sobre o uso das tecnologias em rede que um novo perfil de educador deve ser pensado, frente à realidade tecnológica, em rede e sistêmica do século vigente. Enquanto PIVA Jr., em seu livro voltado especialmente para os educadores brasileiros e os dilemas da nova “sala de aula digital” (2013), vai afirmar que esses profissionais serão os “facilitadores de aprendizado”, os estudiosos a respeito da Educomunicação vão chamar esse perfil de novo profissional de “Educomunicador”, conforme já explicitado na seção 2. Entretanto, mediando ou passando a cumprir um novo papel dentro do ambiente de aprendizado, esse novo profissional não é o único novo personagem a ser incorporado no ambiente educativo. Como dito acima, é apenas através do diálogo entre os envolvidos que a nova realidade educacional será melhor recebida, com perspectivas de superação do nó górdio vigente no sistema atual. Ou, como afirma CUNHA (2013) em dissertação sobre o tema: Se fundamentarmos o processo educativo no diálogo, a comunicação refaz o elo entre o professor e o aluno. Essa conexão também se dá no ciberespaço, ambiente acolhedor à troca e ao compartilhamento, onde as relações se horizontalizam. O desencontro entre professor e aluno, hoje, se dá à margem das tecnologias. (p. 83) Para ilustrar esse descompasso listo abaixo, relatos de quatro cenas – três ficcionais e uma real – de ambientes de aprendizagem, com seus novos cenários e seus mais variados personagens do século XXI que nos remetem ao novo perfil de educando: 54 Cena 1: Ainda de farda, aluna, aparentemente do ensino médio, com traços andróginos, fuma escondida num canto da piscina da escola. Em cena anterior, havia citado trechos de autores niilistas em sala de aula, questionando a dualidade – e a não multiplicidade – das questões da vida, e, por fim, comparando o mundo conectado a uma imensa sociedade capitalista que só se preocupa com os três elementos que movem o capital: o individuo, a guerra e o consumo. Enquanto a menina fuma, não se sabe o que pensa. Nenhum narrador ou voz em off explana o que passa por suas ideias. Seus colegas, jovens da mesma idade e da mesma classe, a encontram nessa posição e a espancam, de forma humilhante e vil. Ela parece reagir friamente, como a água da piscina que passa a exibir o seu reflexo, sem chorar ou reagir. Quando as agressões e insultos cessam, ela volta para a borda da piscina, reacende o cigarro e permanece, calada, sozinha em seus pensamentos... Cena 2: Alunos de uma mesma escola vivem uma série de conflitos típicos de sua idade. Drogas, separação dos pais, descoberta da sexualidade – sua e daqueles que os cercam – sentimentos de deslocamento social. Enquanto lidam com os seus conflitos, são expostos aos conflitos dos outros, através de vídeos viralizados através de celulares de última geração. Nenhum de seus medos e experiências é novidade para o período, desde que a adolescência foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como fase imprescindível para a formação do caráter humano. Mas, nesse contexto, são as suas formas de lidar com esses conflitos que definem os rumos dessa história. E tudo é compartilhado – através das redes e dos canais de comunicação – entre eles. Cena 3: Um professor de literatura e gramática, alunos. Alguns novatos, outros oriundos de classes antigas, mas da mesma escola. Nessa instituição, o fardamento não os distingue, pois ele não é cobrado. Cada aluno sem fardamento é um fragmento de uma determinada esfera social. Demonstram tédio ao aprender, e, talvez por isso mesmo, questionam metodologia, aplicabilidade social do que está sendo dito, posição de poder em sala de aula... Uma delas quer saber porque os exemplos usados pelo professor trazem nomes americanos para os personagens. Um outro registra a aula, a sala, o intervalo, os colegas, a mãe e tudo o mais que 55 ocorre na sua vida com o seu celular multitecnológico. O professor, um adulto jovem, sente-se ao mesmo tempo refém de uma situação com a qual não sabe lidar e libertador desses alunos, jovens seres humanos tão diferentes entre si e com desejos tão iguais de interação e aceitação. O desconforto evolui até gerar o embate. Catarse. Cena 4: Alunos produzem textos em sala de aula. A maioria já saiu da adolescência, mas muitos deles ainda estão no momento de transição entre a vida adulta e os hábitos infantis. A maioria acabou de sair do nível médio, estão iniciando os passos na trajetória acadêmica. Todos muito jovens, conectados, descolados. A ideia da aula é a escrita livre, com um tema, mas sem sugestão de forma. Uma escreve uma poesia. O outro, um conto. A menina escreve um roteiro de clipe, com direito à trilha sonora e tudo. Todos leem. Alguns choram. Outros riem. Na era da conexão, a professora pede que montem um blog, ou uma página no “Face”. Eles aceitam, mas não se sabe por que, não executam a tarefa de alimentar a página com suas produções cotidianamente. Alguns dizem que não se sentem muito “pertencidos” ao propósito. A professora leva os instrumentos para a sala de aula: o computador, a internet... a internet institucional é ruim, a solução é usar o sinal que vem do celular de um deles (!). Como numa imensa lan house, eles começam a se divertir (com horário cronometrado). Dentro dos limites do espaço cibernético e da sala de aula, sentiram-se, finalmente, integrados ao projeto... As quatro cenas relatadas são recortes que retratam a realidade social e educacional de jovens contemporâneos. São, na ordem, trechos de um seriado 18, filmes19 e de uma experiência real20, todas realizadas ou vivenciadas nessa primeira metade de um século que já nasce sob a égide de ser o século da informação. Os relatos são globais. Mudam-se os cenários (Salvador, São Paulo, Paris...), mas, em todas as cenas, guardados os marcadores geográficos e sociais, temos realidades bastante semelhantes. Se lidássemos apenas com uma história, a sinopse envolveria o cenário como as salas de aula – espaços que não comportam mais o 18 A menina sem qualidades, MTV Brasil, 2013. 19 As melhores coisas do mundo (Brasil, 2010) e Entre os muros da escola (França, 2008). 20 Experiência de utilização da rede em sala de aula realizada junto à turma de RP da Uneb, Campus I. 56 tempo de aprendizado dos alunos – e dois protagonistas antagônicos (em tempos líquidos, é difícil definir papeis de forma maniqueísta, com mocinhos e bandidos): o educando e o educador. Enquanto o primeiro tenta lidar, ao mesmo tempo, com as mudanças impostas pelo tempo e pelo espaço e com o engessamento dos programas educacionais mundo afora, o segundo usa as mudanças tecnológicas como aliada para melhor entender o mundo em que está inserido. Algumas experiências vêm sendo realizadas em busca de possíveis soluções para essa questão. Uma delas é a utilização do Facebook em sala de aula – experiências que serão ponderadas na seção 4, numa perspectiva de avaliação dos signos e dos símbolos, com apoio das teorias semióticas. No Brasil, temos diversos exemplos sendo analisados, tanto no campo das políticas públicas como sob perspectivas mais teóricas, mas talvez o de maior visibilidade seja o Projeto do Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Experimentais, implementado no Rio de Janeiro no ano de 2012. O Projeto Gente, como é chamado, segue os moldes da escola da Ponte, em Lisboa, que acredita que o aluno “deve estar no centro do processo de aprendizagem”, como afirma o vídeo disponibilizado no site do projeto 21. São atendidas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, abordando uma proposta que consiste em conceber e desenvolver um novo modelo de escola que: inova na arquitetura do prédio escolar; se apropria integralmente de novas tecnologias educacionais; promove inovação curricular; coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem e tem ênfase na formação dos professores. O Projeto Gente, apesar de aplicado nas escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro, é um projeto financiado por instituições privadas – incluindo Ong´s – o que nos leva mais uma vez a questão do incentivo da relação educação/tecnologia/consumo. Não nos surpreende perceber que tal iniciativa é apoiada financeiramente principalmente por um instituto de uma grande empresa de cosméticos nacional, mesmo estando dentro do que planeja a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando afirma , como princípios da educação nacional. 21 http://www.institutonatura.org.br/projetos/projeto-gente/ 57 Figura 1 Página Inicial do Projeto Gente I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, a arte e o saber III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais VII – valorização do profissional da educação escolar VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino IX – garantia de padrão de qualidade X – valorização da experiência extra-escolar XI – vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, grifos meus) A LDB estabelece a Educação como uma tarefa a ser partilhada entre o Estado (ou seja,atribuições repartidas entre as diferentes instâncias governamentais - União, Distrito Federal, Estados e Municípios) e a sociedade. É o que acontece no caso do Projeto Gente, que implementa ações de interesse público, fomentadas por instituições privadas da sociedade civil organizada, de modo a fomentar, principalmente, os princípios 3, 10 e 11 (grifados na citação), da Lei homologada em 58 1996. Entretanto, experiências como a do Rio de Janeiro, que poderiam se tornar políticas públicas de Estado e até mesmo do Governo Federal, encontram em sucateamento de equipamentos, má utilização da verba pública para implantação de equipamentos de ponta e falta de capacitação de professores e profissionais dedicados a lidar com as novas tecnologias, entraves graves (vide seção 2, exemplo da “TV Pen Drive” no Estado da Bahia). Quando se espelha no projeto da Escola de Ponte, de Lisboa, que existe há 40 anos, o escopo do projeto Gente se torna abrangente. Entretanto, um caso de sucesso que não é levado adiante ou expandido numa perspectiva de política de Estado que ainda segundo Lemos e Levy também deve ser reformulado a fim de atender as prerrogativas da sociedade da informação vigente torna-se só mais um caso inovador. Por em prática o diálogo, acima dos percalços vigentes é necessidade dos projetos como o Gente. E é isso que o aproxima dos ideais educomunicativos e do que está sendo planejado há duas décadas pelas leis educacionais brasileiras. 3.2 TEMPO: O MOVIMENTO É INVERSO? “As escolas do futuro apresentarão aulas em circuitos fechados de TV e todos os alunos aprenderão os fundamentos da tecnologia dos computadores.” (Isaac Asimov, em texto escrito em 1954, sobre como seria a educação em 2014) Levar em conta a perspectiva do tempo nas relações com as redes é o mesmo que estabelecer uma nova relação de sistematização de prioridades ou de prazeres. Tempo, na definição (ou no sentido) cronológico, nos remete a frações lineares (minutos, segundos horas) que devem ser organizadas de forma sistemática, a fim de que possamos fazer uso adequado de frações – porções – maiores de tempo (dias, meses, anos) que, agregados, formam outras sequencias maiores de tempo (décadas, séculos, milênios). Ou, numa perspectiva mais humana e prática, o conjunto de momentos se tornará apenas um complexo e emaranhado conceito do que seria a vida. 59 Ora, nos encontramos então, numa dicotomia filosófica: levamos tempo/horas (minutos, segundos, dias, meses, anos...) organizando a nossa vida para que possamos vivê-la. Em educação esse tempo Cronos, então, é mais cruel ainda: formulamos o saber em níveis ou ciclos – que à primeira vista dão uma ideia de saber circular, mas, na verdade, nos remetem apenas a algo que começa e termina, não que retorna e se mantém continuamente – unidades e horários. Para a educação formal, o saber é compartimentado e fracionado, levando-se em conta o principio romano da divisão do tempo – em partes e frações. Ou, como afirma a LDB, aprovada em 1996, a configuração legal de tempo escolar torna obrigatório o cumprimento de 800 horas efetivas de aulas por ano, com 200 dias letivos. Temos, então, o horário de Português, de Matemática, de Física, de História etc. Horários que não se encontram, a não ser quando um termina para o outro começar, mantendo os saberes guardados em seus compartimentos isolados, como se o saber precisasse ser isolado para se manter organizado. Na já citada coletânea de entrevistas realizada por Viviane Mosé a respeito dos desafios da educação no século XXI, todos os educadores ouvidos pela educadora questionam, de alguma forma, como o tempo é tratado como aliado ou inimigo no processo de construção do saber. Legal e multidisciplinarmente, no Brasil, com a LDB, temos instituído o saber interdisciplinar e transversal, que sugere uma direção oposta à da fragmentação temporal e conceitual. Entretanto, o sinal de alarme dos nossos corredores escolares (outra reprodução do sistema fabril do século XIX) não nos deixa esquecer da imposição de Cronos em nosso dia a dia educativo. Temos um enfrentamento, como afirmam FERREIRA e ARCO-VERDE Embora legalizadas e implantadas tanto as propostas que organizam o ensino em ciclos, como as de extensão da jornada escolar, sabe-se que o enfrentamento de novos tempos e de novas práticas no âmbito das escolas não se dá de forma linear. Não há desdobramentos mecânicos, previsíveis, que possam ser resumidos em aceitar ou não as reformas educacionais. Existe uma cultura escolar construída que não se destrói, pelo menos imediatamente, com a regulamentação de políticas públicas. Os profissionais de educação têm explícita ou implicitamente suas crenças e opiniões, além de estarem sujeitos às 60 pressões das instituições políticas, sociais e da própria instituição escolar e seus mecanismos de coerção. (2001, p. 13) Porém, discentes são experientes em subverter as lógicas impostas como regras. Ao que nós, professores, consideramos prova de desatenção, explicitada através das conversas paralelas, da abstenção da sala de aula, ou até mesmo da presença física enquanto que as ideias fluem – flanam – em outros espaços não reconhecíveis, é entendido pelos discentes como pluralidade no uso do tempo. A prática docente nos apresenta isso cotidianamente, nas mais diversas formas: alunos que realizam atividades de uma disciplina no “horário” da outra; assuntos que fogem do que é estipulado pelo currículo trazidos à luz no momento das explanações teóricas... Não raro, mais que nós, docentes, nossos educandos entendem que o viver é inter, multi, pluri. Espertamente eles se apropriam do “sinal do tempo” quando lhes é adequado, quando já se sentem fartos daquele saber especifico e desejam ir embora. Qual tempo seria o mais adequado a se pensar no princípio do saber? Deveríamos propor uma inversão no processo de utilização do tempo? Quando a tecnologia nos traz uma nova forma de encarar o tempo – nos lembrando que ele pode ser Cronos, mas também é Kairós22 - novas possibilidades educativas podem se apresentar. Um dos primeiros exemplos que nos chamaram atenção nesse processo de mudança na relação tempo/espaço escolar foi a experiência proposta pelo Norte-Americano Salman Khan. Em 2008, ao perceber dificuldades de um sobrinho em lidar com os assuntos abordados nas aulas de matemática, ele resolveu criar vídeos tutoriais com experiências de fórmulas matemáticas aplicadas. O jovem os assistia e passou a compartilhá-los no Youtube, para os colegas. 22 Há várias versões disponíveis sobre a relação entre os tempos Cronos e Kairós. Na Wikipédia, conta que Kairós era o filho de Cronos. A enciclopédia colaborativa ainda afirma que “Os gregos antigos possuíam duas palavras para a moderna noção de tempo": chronos e kairos. Enquanto a primeira era usada no contexto de tempo cronológico, sequencial e linear, ao tempo existencial os gregos denominavam Kairos e acreditavam nele para enfrentar o cruel e tirano Chronos. Enquanto o primeiro é de natureza quantitativa, Kairos possui natureza qualitatitva (http://pt.wikipedia.org/wiki/Kairós). Já ASSMAN apud FERREIRA e ARCO-VERDE (2001, p. 7) afirma que “no grego bíblico, há distinção nítida entre Chrónos e Kairós, em que Káiros significaria:tempo do Dom, hora da graça, da salvação; tempo propício, dia da libertação; hora da “visitação”; momento em que “o anjo passa”; dia do Senhor; shabat; jubileu. Kairós representa o tempo subjetivo, vivencial. A junção de Chrónos e Kairós é traduzida pelo poema bíblico: Tudo tem o seu tempo” 61 Figura 2 Página Inicial da Khan Academy no Brasil O site da instituição afirma que: No Brasil, a experiência de maior alcance é a da Khan Academy: mais de 10.000 alunos, de 8 a 10 anos de idade, de escolas públicas do Ceará ao Paraná puderam aprender matemática com o auxílio de uma plataforma de exercícios, vídeos e colaboração online. Os professores têm informação em tempo real sobre os alunos e podem incorporar à sua estratégia de aula maneiras de garantir o progresso de cada aluno. A partir de janeiro, a plataforma ficará aberta gratuitamente na internet e chegará a 100 mil alunos. (...) Desde 2012, escolas públicas brasileiras usam a plataforma de exercícios similar à disponível na Khan Academy em inglês. Hoje mais de 10 mil alunos de 3º, 4º e 5º anos dos estados de São Paulo, Paraná e Ceará participam do projeto Khan Academy nas Escolas. O objetivo é contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos em matemática e experimentar a metodologia em sala de aula, com a formação e a contribuição dos professores. Na ferramenta, cada aluno avança no seu próprio ritmo, assistindo aos vídeos e fazendo os exercícios correspondentes. Já os professores monitoram a aprendizagem de cada estudante em tempo real. Isso permite um planejamento de aulas personalizado, considerando as dificuldades e as demandas individuais. Assim, os professores podem intervir com aqueles que apresentam mais dificuldade ou estimular quem já pode avançar para o próximo assunto. No início do ano letivo de 2014, plataforma de exercícios e relatórios estará disponível em português, 62 gratuitamente na internet. (...) Você pode usar os vídeos como preferir: para reforçar o que aprendeu na escola, para relembrar algo que já estudou, ou como ferramenta para aprender com orientação de um professor, dentro ou fora da sala de aula. (...) No projeto Khan Academy nas Escolas, a plataforma de exercícios e relatórios serve como ferramenta para o professor monitorar o aprendizado dos alunos e para planejar as aulas, considerando as dificuldades e necessidades de cada um.(...) Sem dúvida, com o planejamento e orientação do professor, o aprendizado é muito maior.” (site da Khan Academia no Brasil) A ideia inicial de dar um suporte extra-didático a um aluno que não conseguia exercer o diálogo prático entre o saber institucionalizado e as suas vivências se expandiu e deu origem a um projeto que já atinge diversos países, como o Brasil. A experiência abriu espaço para que diversas plataformas voltadas antes para o entretenimento disponibilizassem canais de vídeos educativos ou de educação à distância (mais uma vez não confundir com o Ead), de forma gratuita. O Youtube lançou, no fim de 2013, um canal dentro do site onde vídeos educacionais, das mais diversas modalidades estivessem agrupados, especialmente para alunos do ensino médio, podendo ser acessados de forma fácil e em qualquer lugar em que haja conexão com internet. Figura 3 Página inicial do Youtube Educação 63 Apesar de ser bastante acessível e encantador, devemos sempre nos ater ao alerta dado por ADORNO (1995, p. 122) quando afirma que os meios são fetichizados, porque os fins, que representam a vida humana digna, encontram-se encobertos e desconectados da consciência das pessoas. Nesse sentido, parece fundamental indagar: se o tempo contado pela “inquestionável ciência exata” é hoje questionável, relembrando que PRIGOGINE anuncia que “o tempo é criação”, poderia a escola ousar romper as amarras do tempo e redimensionar sua prática? Parece-nos que o futuro da escola e de seus tempos permanece aberto... São vários os exemplos de plataformas digitais e redes de relacionamento que são utilizadas atualmente. Gráfico (Figura 4) de site especializado em educação afirma que 2014 será o ano da utilização, simultânea, de inovações tecnológicas, experiências, inovações e maior investimento na humanização da educação. Plataformas de aprendizado como o Mooc, que oferecem cursos on line e gratuitos de diversos centros de ensino do mundo (entre eles renomadas universidades como Oxford e Harward) e sites que agregam videoaulas e tutoriais dos mais diversos versando sobre assuntos que vão desde os tratados frequentemente nos currículos escolares – geometria, álgebra, regras gramaticais e ortográficas – aos que são desenvolvimentos principalmente para estimular a capacidade cognitiva e criativa são abertos diariamente, tornando acessíveis à pessoas – especialmente aos jovens – saberes que vão do aritmético ao evolutivo/espiritual. Entretanto, as experiências relatadas nessa seção e as que serão analisadas na seção 4 fazem parte desse estudo, especialmente, por se tratarem de exemplos que ilustram de forma bastante clara as rupturas literais entre espaços delimitados por paredes e ciclos – como no caso do Projeto Gente – ou invertendo a lógica do tempo linear empregado nas salas de aula, nos casos da Khan Academy e do mais recente Youtube Educação. 64 Figura 4 Gráfico sobre tendências educacionais para o ano de 2014 Nos casos específicos das abordagens que usam como plataforma em rede o site de relacionamentos Facebook (na Escola Ana Lúcia Magalhães e na Turma de Relações Públicas da Uneb), a serem analisados, nos chamou a atenção o fato de os símbolos de sala de aula e espaço legal de aprendizado serem remodelados e readaptados – ainda que de forma bastante incipiente – para atender às necessidades de ambiente de relacionamento em rede. Relacionamentos esses que se iniciam e se mantém na esfera do contato “olho a olho”, por assim dizer, e se reconfiguram e se adaptam no contato “face a face” ou, ainda, “post a post”. Em termos mais técnicos, numa interação Comunicação Mediada por Computador, para não ilustrar tais situações comunicacionais com os termos “real” e “virtual”, respectivamente. 65 4 A SALA DE AULA DO 9º ANO DA ESCOLA ANA LÚCIA MAGALHÃES: UM “BAÚ DE RETALHOS” NO FACEBOOK E NO BLOGSPOT “A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não é transparente no mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual se constrói uma visão, um sentido particular do mundo.” (Patrick Charaudeau) Uma nova configuração educacional está em andamento. Ela surge por meio da utilização, seja oficialmente instituída ou não, dos meios eletrônicos, das redes sociais e das ferramentas multimídia e hipermídia em sala de aula. Como vimos, o processo não é novidade. Como educadores, devemos nos apropriar o máximo possível das novas práticas tecnológicas a fim de conseguirmos utilizar a linguagem vigente no século XXI. Pensemos de modo pragmático: será que os usos das redes sociais como instrumentos educativos estão sendo feitos de forma a colaborar com a dialógica educacional, como proposta por Paulo Freire e Pierre Levy ou estariam apenas à disposição de uma novidade tecnológica e de consumo, a fim de que governos expandam as suas possibilidades de vendas/compras de equipamentos? Para responder a essas perguntas, devemos levar em conta alguns processos de interação que seguem passos – provavelmente lineares. Primeiro: o uso das mídias, em especial das redes sociais – inicialmente o Orkut e os blogs e fotologs, depois Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Flickr, e tantas quantas existirem – como ferramenta de aprendizagem e extensão do espaço da sala de aula foi se impondo aos educadores como algo necessário e urgente. Estudantes tem acesso às redes sem sair de suas carteiras escolares, em seus celulares, tablets, palmtops23. Em 2011, segundo a última pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, o país tinha o título de quinta maior população em redes sociais do mundo. Diante do crescente uso desse tipo de mídia pelos discentes – para entretenimento, acesso a informação, relacionamento interpessoal – os educadores do século XXI que não querem perder 23 Segundo a pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, publicada em 2013, 91% dos jovens tem celular e 21% deles usam para acessar a internet. 66 o seu espaço dentre das linhas da sala de aula se viram obrigados a apreender a linguagem midiática que estava sendo utilizada pelos estudantes. Porém, em alguns casos, a construção feita pelos discentes e docentes do espaço de aprendizagem, como num ciclo reprodutivo, repete ou legítima os processos didático-pedagógicos realizados em sala de aula. Um exemplo disso foi a propagação da utilização de plataformas de interação educacional/pedagógica nos ambientes escolares/acadêmicos, muitas vezes visando uma certeza de que a utilização das redes sociais seriam suprimidas dos atos de interação escolar e pessoal por essas plataformas. O professor Nelson Pretto narra um exemplo de como soa equivocada essa lição em artigo intitulado “A vida no Orkut: narrativas e aprendizagens nas redes sociais”24: Estava em minha sala de um prédio totalmente vazio, conectado no moodle25, um dos ambientes da disciplina, esperando algum sinal dos alunos, nesse semestre, a maior parte deles, do Curso de Pedagogia. (...) No ambiente coletivo, onde a princípio todos os alunos poderiam e deveriam estar, apenas duas alunas. Uma delas me pergunta no chat: “e aí, profe (sic), vai ter aula hoje?! É que estou aqui com outros colegas da disciplina no Orkut e todos se perguntam a mesma coisa”. (...) O fato concreto é que o ambiente “educacional” moodle não se constitui no ambiente de interação para essa turma jovem – os nossos estudantes (...) – que, em vez disso, estavam todos se comunicando, interagindo e, especialmente, vivendo um outro espaço no mesmo ciberespaço. Ou seja, estavam todos no Orkut que se constituía, naquele e em muitos momentos, o verdadeiro ambiente de vivência e aprendizagem. (PRETTO, 2013, p. 190) 24 O texto escrito por professor Nelson Pretto serve de apresentação para livro homônimo, organizado por Edvaldo S. Couto e Telma B. Rocha, editado pela Edufba em 2010. A rede social mais popular no Brasil, à época, era o Orkut, sendo que mais da metade dos usuários eram brasileiros. 25 “MOODLE é o acrônimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software livre, de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado nesse programa, acessível através da Internet ou de rede local. Em linguagem coloquial, em língua inglesa o verbo "to moodle" descreve o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto fazem-se outras coisas ao mesmo tempo. Utilizado principalmente num contexto de e-learning ou b-learning, o programa permite a criação de cursos "on-line", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas diferentes. Conta com 25.000 websites registrados, em 175 países.” (definição disponível na página da Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle) 67 O exemplo dado por Pretto ilustra a realidade cotidiana dos nossos educandos. Se você está lendo esta dissertação no ano de 2014, quando ela foi redigida, sabe que o Facebook é a rede social que mais cresce no Brasil atualmente. Mas se você está em um outro momento de leitura, talvez num futuro não muito distante, basta substituir o termo “Facebook” pela rede social que estiver “bombando” no momento! Então, se os discentes estão nas redes sociais e os professores já sabem disso (e na maioria das vezes também estão lá), basta irmos até onde eles estão e falarmos a linguagem deles para começarmos a caminhar em passos largos para tornarmos a educação mais interativa, participativa e dialógica? Basta aceitarmos o desafio imposto pelas tecnologias, perdermos o medo de sermos substituídos pela máquina, inserir uns “emoticons”, neologismos e “kkk´s” em nossos planos de aula e, voilà, nos aproximaremos da perspectiva educomunicativa atendendo às expectativas vigentes? A partir da análise de uma sala de aulas de Língua Portuguesa que se propõe para além das paredes da escola e de uma página no Facebook e blog criados por discentes da disciplina Oficina de Produção Textual, oferecida pelo curso de Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia, pretendo avaliar o quanto de repetição e legitimação de padrões vigentes e o quanto de “práticas educomunicativas” podem ser construídas numa interação que leva em conta o uso das redes sociais como instrumentos dialógicos educacionais, propondo a formação de uma rede educativa. Adotando como base as práticas da observação participante, tomo como objetos de análise o grupo criado por uma Professora de Língua Portuguesa da Escola municipal Ana Lúcia Magalhães, no município de Lauro de Freitas, no Facebook, com o objetivo de reunir os alunos do 9º. ano do Ensino Fundamental II em ambiente virtual, para onde as atividades e discussões propostas em sala de aula seriam estendidas; e a página na mesma rede social produzida e gerenciada por estudantes do primeiro semestre do ano de 2013 do curso de Relações Públicas, oferecido pelo Departamento de Ciências Humanas do Campus I da Universidade do Estado da 68 Bahia (Uneb, Salvador)26. O estudo se baseará nos estudos semióticos de Charles Sanders Pierce, especialmente nas tríades primeiridade/secundidade/terceiridade e sin-signo/quali-signo/legi-signo. Sendo a semiótica a ciência detida ao estudo dos signos, ícones e seus significados conceituais, acredito que analisar as representações feitas pelos membros desses grupos, numa perspectiva observante (no caso da página dos estudantes da Escola Estadual de Lauro de Freitas) e observante-participativa (no caso dos graduandos em Relações Públicas da Uneb), me daria algumas respostas para as questões levantadas quanto as possíveis formas de apreensão do uso das redes sociais no quefazer educativo. Coadunam com o meu pensamento OROFINO, ao afirmar que A semiologia, enquanto teoria geral dos signos nos possibilita compreender as unidades mínimas de significação (signos) e suas articulações entre si na construção de representações. Ela nos permite, também, compreender a arbitrariedade de determinadas opções, nos revelando o caráter social e histórico (portanto, potencialmente transformável), da construção das linguagens e das relações entre significantes e significado (2005, p. 94) e FANTIN (2005?) também coaduna quando afirma que: Na relação da ME27 e das ciências da comunicação a grande contribuição reside inicialmente no campo dos estudos semióticos, pois é da semiótica que a ME extrai uma metodologia de análise dos textos, reconhecendo os elementos gramaticais, os códigos e estruturas narrativas de um texto (ampliando o conceito de textualidade, fazendo análise estrutural da imagem, análise da narrativa - seus personagens, ação e transformação -, e análise pragmática) e reconstruindo a estratégia de comunicação utilizada.” (FANTIN, 2005?, p. 7. Grifo meu) Essa análise que Fantin afirma ser dos códigos e estruturas da narrativa e Orofino destaca como possibilitadora de interpretações das “unidades mínimas de significação” é que vai permitir que vejamos onde estamos apenas mudando as 26 Todas as informações levadas em conta para esta parte da nossa análise foram coletas das referidas páginas, por isso são de domínio público. 27 Mediação Educacional. 69 ideias de lugar – saindo das salas e levando para as redes – e onde estamos apreendendo a linguagem dos “nativos digitais”. Se até mesmo os responsáveis pela manutenção da rede social no ar – Mark Zuckerberg e seus executivos – já entendem que a rede não deve se limitar ao mero entretenimento e consumo, lançando uma cartilha28 sobre a possível aplicação dela como ferramenta educativa, devemos pensar quais as reais possibilidades dessa ferramenta, levando em conta as relações imagéticas e que fazem referência aos signos que ela reproduz. Seria demasiado prolongado expor aqui as vertentes semióticas e seus preceitos nessa seção, fugindo, inclusive, do objetivo primeiro dessa pesquisa, que se pretende como um estudo de práticas educacionais atreladas ao uso das novas mídias e não um estudo sobre as teorias de linguagens. Entretanto, é importante delimitar o porquê de a Semiótica Pierciana ter sido a vertente escolhida para analisar as práticas educacionais nos dois casos por mim propostos, ao invés de utilizar, por exemplo, uma vertente mais comumente utilizada pelos estudos que versam sobre leitura e produção textual, como a Semiótica Sausseriana, por exemplo. Primeiro, optar por estudos baseados nas tríades de Charles Sanders Piercie nos permite analisar conceitos de lei, legitimação, simbolização e ícone, enquanto que a dicotomia sausseriana reflete apenas a respeito dos signos e seus significados. Segundo, que, enquanto a Semiótica Sausseriana aposta em discussões de sentido psicológico e/ou de natureza associal, podemos afirmar, através de SOUZA que 28 “Em nossas conversas com professores, muitos disseram que estão buscando maneiras de entender melhor os novos estilos de aprendizagem digital dos alunos. Os educadores também expressaram que estão interessados em aprender a integrar o Facebook em seus planos de ensino para enriquecer a experiência educacional dos alunos, aumentar a relevância do conteúdo e incentivar a colaboração efetiva dos alunos com seus colegas. O Facebook pode fornecer aos alunos a oportunidade de apresentar suas ideias, conduzir discussões on-line e colaborar de forma efetiva. Além disso, o Facebook pode ajudar você, como educador, a se familiarizar com os estilos de aprendizagem digital dos seus alunos. Por exemplo, isso pode facilitar a colaboração entre os alunos e fornecer maneiras inovadoras para você envolver os alunos em sua matéria. Também acreditamos que o Facebook pode ser uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a se conectar aos seus colegas, compartilhar conteúdo educativo e melhorar a comunicação entre professores, pais e alunos.”, afirma a cartilha, lançada durante a produção desta dissertação. Seu lançamento coincidiu com o processo final de análise dos grupos, não nos permitindo um aprofundamento maior sobre seus norteamentos teóricos, relacionando com a prática discente. 70 Pierce sempre defendeu a natureza social do signo, não opondo, como fez Saussure, língua/fala, mas eliminando simplesmente o sujeito do discurso. O eu que fala é o lugar de comunicação do interpretante em situação e toda situação é social. (SOUZA, 2006, p. 157) Analisar representações reais de espaços concretos leva em conta os aspectos amplos da representação de signo e a leitura de Pierce nos permite essa amplitude representativa, para além das dicotomias saussureanas. Ainda Souza nos lembra que foi o americano Pierce o responsável por aliar os princípios matemáticos à leitura e a interpretação dos objetos e das suas representações, numa clara alusão à necessidade de inter-relação das teorias para avançar nos processos interpretativos. 4.1 DE KKK´S E SILÊNCIOS O perfil no Facebook dos alunos da escola Ana Lúcia Magalhães foi criado pela professora de Língua Portuguesa da escola em 2011, com o intuito de relacionar os conteúdos e leituras realizadas em sala de aula com as práticas virtuais, abrindo espaço para comentários e discussões entre os estudantes, professores e outros membros da comunidade escolar. A ferramenta, no início, dialogava com o projeto “Ciranda de Leitura”, também criado na disciplina Língua Portuguesa, realizado de modo presencial em sala de aula, que incentivava os alunos a ler e discutir obras canônicas e não canônicas em sala de aula, construindo resenhas dos livros lidos e compartilhando suas impressões com outros alunos. O diálogo entre as duas iniciativas se dava, a princípio, com o estimulo da publicação das resenhas dos livros lidos, feitas pelos estudantes, na rede social, com o objetivo específico de estimular que os colegas lessem os livros uns dos outros. Nesse ano, segundo a professora regente da disciplina, o projeto foi implantado por iniciativa própria, ainda sob a desconfiança dos pais, coordenadores pedagógicos e outros professores, que acreditavam que o uso do Facebook pelos alunos iria estimular a dispersão dos mesmos. No ano de 2012, a página passou a destinar-se não só a ser uma extensão do projeto realizado em sala de aula, mas também a disseminação de todo tipo de informação referente às aulas da disciplina, para as duas turmas do 9º ano do ensino fundamental II da escola, a saber, o 9º ano A e o 9º ano B. A vontade da 71 professora em usar a rede, mais uma vez, justifica-se com dados estatísticos, não expressos diretamente pelos envolvidos na construção da citada página, mas que podem ser elencadas aqui e demonstram uma possível influência: estudo recente da Experian Hitwise aponta que o brasileiro é o que mais interage com as redes sociais, sendo que só no Facebook, são mais de 56 milhões de usuários29. Outra pesquisa, dessa vez do Ibope/YouPix, realizada no mês de julho de 2013, mostrou que 92% dos jovens do País que acessam a internet usaram redes sociais. Mesmo quando se leva em conta o total de pessoas que navegam na rede, de todas as idades, são 78% acessando algum tipo de rede social.30 Além disso, a rede possibilita interação quase imediata, com dispositivos de comunicação em tempo real (bate-papo), postagem de vídeos, fotos, textos e slides. O grupo era formado por 87 membros, sendo 86 alunos e a professora idealizadora do projeto (Figura 5). Eu fui “aceita” no grupo, depois de expor a minha intenção em analisar a proposta de interação pedagógica à luz dos preceitos educomunicativos. Digo “aceita” porque a participação só era permitida apenas àqueles que fossem convidados pela professora; por isso ficou restrita apenas a alunos das duas turmas do 9º ano da escola, apesar de, segundo a professora, outras turmas tentarem participar. A professora afirma que, como idealizou o grupo apenas para servir de complemento às atividades realizadas pelas turmas de 9º ano, não abria a participação para outros alunos da escola ou para interessados em geral. Inicialmente, já podemos perceber uma reprodução da prática física no espaço virtual. Como portas e paredes, que separam as classes, excluem as intervenções externas e cerceiam a comunicação ilimitada entre entes que não são “apropriados” ou pertencentes àquele espaço, a aceitação ou não de membros externos ao grupo no Facebook servia, ao mesmo tempo, para não desviar a atenção dos alunos do seu propósito de aprendizagem. 29 Segundo matéria veiculada no site Yahoo!, intitulada “Os internautas são a cara do Brasil”. Além desses dados, o texto diz ainda que o número de crianças em idade escolar que tem acesso a internet cresceu 19% em um ano. 30 Segundo matéria também do Yahoo!, com informações do jornal O Estado de São Paulo. A mesma matéria revela um dado importante a respeito do tempo que o brasileiro dispensa usando as redes sociais: “o tempo gasto na rede garantiu ao Brasil (12 horas por mês, segundo o Facebook) a segunda colocação no ranking de países do Facebook, ultrapassando a Índia, que tem um número total de usuários maior. O Brasil é também segundo colocado em usuários, atrás apenas dos Estados Unidos, do Twitter e do Facebook”. 72 Figura 5 Visão geral do grupo no Facebook da Escola Ana Lúcia Magalhães Essa primeira pista dada quando do inicio da minha aproximação com o grupo a ser estudado já me remete a uma das tríades peircianas. Como dito no início dessa seção, seria mais lógico e até mais simples pensar em Saussure e suas dicotomias para analisar a forma como o par professores/alunos lidavam com a imposição/transposição dos espaços de aprendizagem em ambiente de web. Lucia Santaella, que também estuda o perfil cognitivo dos leitores atuais, nos dava o alerta das possíveis dificuldades em usar a semiótica peirciana: aplicar a teoria dos signos de Pierce não é uma tarefa simples: seus conceitos são lógicos, definidos com precisão matemática, geométrica. São muito gerais e abstratos, de acordo com aquilo que prescreve uma teoria filosófica que se quer cientifica. (SANTAELLA, 2005, p. XV) Mas, recorrer aos conceitos tríadicos piercianos poderá nos ajudar a entender que estamos, involuntária ou voluntariamente, reproduzindo considerações e legitimando imagens. Utilizamos como base os conceitos de primeiridade, secundidade, 73 terceiridade e de sin-signo, quali-signo e legi-signo, nos quais podemos evidenciar a ideia de “sala de aula” feita pelos alunos, a partir de suas postagens e seus comentários. Para Peirce, os fenômenos de percepção da mente são divididos em três esferas: a primeiridade, que mantém relação com ações ligadas ao acaso, possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, mônada; a secundidade, que mantém ligação com ideias de dependência, determinação, dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida; e a terceiridade, que mantém relação com ideias de generalidade, continuidade, crescimento e inteligência. (SANTAELLA, 2009, p. 7). Ainda pensando nos fenômenos de percepção, identifica-se que a forma mais simples da terceiridade manifesta-se no signo, sendo que o signo seria qualquer coisa, de qualquer espécie, que representa algo (o objeto do signo), produzindo assim um efeito interpretativo (interpretante). Mantendo-se num raciocínio triádico, Pierce vai afirmar que o vai dar capacidade formal para algo ser um signo seriam a qualidade, onde tudo pode ser signo; a existência, onde tudo é signo; e a lei, onde tudo deve ser signo. Nesse sentido, algo que funcione como qualidade para designar um signo é o quali-signo. À sua potencialidade como ser, existente, que liga sua existência a outras coisas, é dado o nome de sin-signo. Já algo que institui o signo como referência para outra coisa – a saber, um hino, uma bandeira, ou algo que emoldura o singular ao conjunto das coisas, agindo sob força de lei – é dado o nome de legi-signo. O grupo no Facebook do 9º Ano da Escola Ana Lúcia Magalhães é uma representação das salas de aula do 9º Ano da referida escola. Pode ser qualificado como uma representação em terceiridade da classe, pois “segundo Pignatari (2004, p. 45), a terceiridade traz as noções de generalização e de lei. Na terceiridade, o signo provoca na mente uma ligação, um reconhecimento automático, baseado naquilo que é uma lei, uma convenção.”(BRUNELLI, 2008, p.6. Grifo meu). Sendo a sala de aula física uma convenção social, onde quem rege e comanda é a professora, esta é quem exerce sob os alunos o papel de detentora da lei. Assim 74 ocorre no grupo do Facebook, onde os alunos são convidados apenas pela professora, que os aceita ou os expulsa, de acordo com o seu comportamento dentro do espaço virtual. Isso pode ser visto em postagens onde os alunos questionam diretamente à professora se haverá aula ou prova, se devem ler esta ou aquela obra, ou se podem ou não realizar determinada tarefa. Apesar de ser um espaço destinado à extensão das práticas, boa parte das postagens age como um legi-signo da prática escolar. Os alunos interagem entre si postando imagens e trechos de obras, mas não mais que assuntos relacionados ao cotidiano escolar. Em sua maioria, as imagens são representações de momentos das aulas, geralmente feitas pela própria professora, conforme pode ser visto da Figura 6. Figura 6 Imagens postadas pelos discentes no grupo Além de registrar e reproduzir o ambiente escolar, a professora ainda se comporta como a detentora do poder dentro do grupo, quando comenta as imagens. Na foto acima, onde podem ser vistos alunos dentro do espaço da sala de aula – em momento de descontração, mas dentro do espaço escolar – ela comenta em tom professoral com a aluna: “Inara Pires... conversadeira q só ” (sic); ao que obtém como resposta uma onomatopeia que representa risos: “kkkkkkkkkkkkkkkkkk´ sim, 75 sim” (sic), numa reprodução do que poderia certamente ser um comportamento de sala de aula. A análise do grupo teve início em agosto de 2012. A partir desse período, podemos notar que a maioria das postagens partia da professora, numa evidente hierarquização do poder de utilização do espaço – mais uma representação de lei, do legi-signo. Mesmo em ambiente virtual, ela é a professora. A princípio, as duas turmas conviviam no mesmo grupo, respondendo aos estímulos da professora com postagens a respeito dos livros lidos ou das atividades programadas em sala de aula. Não muito depois, no mês de setembro, segundo a própria professora, os alunos solicitaram que o grupo fosse dividido, tornando-se um para o 9º ano A e outro para o 9º ano B. Outra evidência de reprodução do ambiente escolar, já que a divisão, justificou a professora, deveu-se ao fato de que os alunos de uma classe não queriam que os alunos da outra classe soubessem o que eles faziam ou como eram desenvolvidas as suas atividades, mantendo e estendendo na rede uma espécie de competição que já existia entre as paredes escolares. Mesmo com a utilização – e a aprovação por parte dos alunos – de ferramentas inovadoras em sala de aula, a prática pedagógica em questão continua sob o signo da lei, representado na forma de um quase simulacro a sala de aula real, com paredes, quadro, porta e horários. Estudiosos da aplicabilidade dos estudos culturais em sala de aula afirmam que estamos “numa era na qual a tecnologização da natureza e a naturalização da tecnologia apagaram antigas e confortadoras fronteiras (...)” (GREEN & BIGUM, 1995, p. 229). Entretanto, a utilização de ferramentas midiáticas como o Facebook em sala de aula como forma de reprodução da prática educativa reforçam essas fronteiras que antes estavam apagadas, dando a elas apenas novos lócus. Na figura 7, vemos a aprovação dos alunos quanto ao uso do Facebook em sala de aula. Os comentários, com algumas exceções, são repletos de onomatopeias que representam o riso (sin-signos de risadas dos alunos) (Figura 8). Quando não isso, sugerem a utilização de ferramentas que possam tornar o uso do Facebook em sala 76 mais eficiente (quali-signos). Além disso, o diálogo também é um signo, que reforça mais uma vez a representação (legi-signo) da sala de aula, que, se lido sem levar em conta a linearidade textual – marca da construção feita em rede – pode ser visto como a mesma conversa cheia de ruídos e frases entrecortadas, esboçando um diálogo dual e complexo. Figura 7 Pesquisa proposta pela docente Os risos, ou melhor, as onomatopeias de riso emitidas pelos alunos também podem ser interpretadas a partir das teorias do cômico e humor, como algo que substitui a ausência de interação, ou pior ainda, que substitui a tensão existente em um determinado ambiente. O ambiente escolar já é, per si, um lócus de tensão entre dois componentes: professores e alunos. A transposição para a rede social, lugar de interação mais descontraída, leve e sem os possíveis atritos causados pela normatização escolar e pela cobrança de resultados positivos – notas, presença, assiduidade, pontualidade – poderia amenizar esse padrão, trazendo a leveza do humor para dentro das “paredes” e “salas”. 77 Figura 8 Comentários dos alunos para a pesquisa Entretanto, como pode ser visto nas análises acima e nas imagens postadas, essa tensão se reproduzia, podendo ser legitimada ou pelos constantes “silêncios” (ausência de interação nas postagens, falta de respostas às perguntas feitas pela professora ou de postagens espontâneas que levantassem abordagens diferentes para os temas escolares), ou pelos “risos”, que não raro eram utilizados como respostas padrão para qualquer pergunta ou repreensão. Para pensar melhor sobre isso, cito Bergson (1900) e sua análise do riso como forma de superar os embates: Quelquefois, il est vrai, ce mécanisme est plus malaisé à apercevoir. Et nous touchons ici à une nouvelle difficulté de la théorie du comique. Il y a des cas où tout l’intérêt d’une scène est dans un personnage unique qui se dédouble, son interlocuteur jouant le rôle d’un simple prisme, pour ainsi dire, au travers duquel s’effectue le dédoublement. Nous risquons alors de faire fausse route si nous cherchons le secret de l’effet produit dans ce que nous voyons et entendons, dans la scène extérieure qui se joue entre les personnages, et non pas dans la comédie intérieure que cette scène ne fait que réfracter. Par exemple, quand Alceste répond obstinément « Je ne dis pas cela ! » à Oronte qui lui demande s’il trouve ses vers mauvais, la répétition est comique, et pourtant il est clair qu’Oronte ne s’amuse pas ici avec Alceste au jeu que nous décrivions tout à 78 l’heure. Mais qu’on y prenne garde ! il y a en réalité ici deux hommes dans Alceste, d’un côté le « misanthrope » qui s’est juré maintenant de dire aux gens leur fait, et d’autre part le gentilhomme qui ne peut désapprendre tout d’un coup les formes de la politesse, ou même peut-être simplement l’homme excellent, qui recule au moment décisif où il faudrait passer de la théorie à l’action, blesser un amourpropre, faire de la peine. La véritable scène n’est plus alors entre Alceste et Oronte, mais bien entre Alceste et Alceste lui-même. De ces deux Alceste, il y en a un qui voudrait éclater, et l’autre qui lui ferme la bouche au moment où il va tout dire. Chacun des « Je ne dis pas cela ! » représente un effort croissant pour refouler quelque chose qui pousse et presse pour sortir. Le ton de ces « Je ne dis pas cela ! » devient donc de plus en plus violent, Alceste se fâchant de plus en plus — non pas contre Oronte, comme il le croit, mais contre lui-même. Et c’est ainsi que la tension du ressort va toujours se renouvelant, toujours se renforçant, jusqu’à la détente finale. Le mécanisme de la répétition est donc bien encore le même. (BERGSON, 1900, p.?)31 O chiste repetitivo e os kkk´s que se repetem, muitas vezes não sendo a real expressão do riso real, quebram a frieza do ambiente que se propõe leve, ao mesmo tempo que legitimam a aparência de rotina escolar, onde os risinhos, as piadinhas e os gracejos de uns, frente a sisudez, a sobriedade e a dureza de outros (esteriotipais e arquetipais, claro) servem para estabelecer quem é o detentor do saber e quem deve ser o receptor desse saber. Além disso, é interessante pensar mais uma vez na informação de Bauman quando pensamos na necessidade dos kkk´s, por exemplo, nas redes sociais ou nos comentários em rede que refletem onomatopeias ou outras marcas típicas da linguagem fática. Eles servem para marcar o lugar de fala e ao mesmo tempo para demonstrar que há uma interação social presente ali. De outra forma, o humor pode servir também como forma de amenizar situações de conflito que, em rede, não são passíveis de solução de forma tão clara quanto com o diálogo “olho no olho”. “No caso das [relações] socioafetivas, observa-se que a presença do humor nas 31 Creonte pergunta a Alceste se seus versos são ruins, e Alceste (Alceu, na verdade) reponde "eu não disse isso". A repetição da frase "eu não disse isso" produz um efeito cômico. Mas cuidado, existem dois Alceu presentes: um misantropo que jurou dizer sempre a verdade e outro, um gentil homem polido. A cena não é mais entre Orestes e Alceu, mais entre esses dois Alceus, um que quer explodir e outro que se cala e só consegue dizer: "eu não disse isso", Cada um desses "eu não disse isso" representa um esforço maior para reprimir algo que pede para sair assim, o tom dos "eu não disse isso" se faz cada fez mais violento, estando Alceu zangado não contra Oreste, como este pensa, e sim contra si próprio, e assim a tensão vai se renovando. O mecanismo da repetição está ai, mesmo sendo diferente.... (N. A) 79 interações colaborativas on-line parece amenizar possíveis divergências e diferenças nas comunidades.” (SHEPERD e SALIÉS, 2012, p. 221). O uso da semiótica para entender a linguagem adotada pelos estudantes e por professores na construção e participação de um grupo de uma disciplina, de uma determinada escola, em uma determinada rede social, nos faz refletir a respeito das construções escolares que pretendemos fazer. Como vem sendo dito ao longo dessa dissertação, emerge a necessidade de uma nova configuração escolar, principalmente pelo grande fluxo de informação a que todos nós – como discentes, docentes ou apenas cidadãos/consumidores – estamos expostos. Com o aumento vertiginoso do número de brasileiros em redes sociais como o Facebook, concomitantemente com o aumento da permanência dessas pessoas nessas redes, proporcionado pela facilidade com que elas podem ser acessadas através de celulares e outros equipamentos de pequeno porte, fica evidente que as fronteiras – cada vez mais difíceis de distinguir – irão continuar em constante processo de liquidez. Entretanto, quando essa rede é usada como forma de legitimar um signo em seu formato usual, vemos que estamos ainda diante de um desafio que nos confronta de forma direta. O melhor uso das redes, em especial do “Face” em sala de aula é como legitimador do poder simbólico da sala entre paredes? Mudar as práticas apenas de plataforma é uma nova forma de utilização da linguagem e dos signos? Podemos utilizar signos inovadores sem legitimar os que já existem? Percebe-se que no grupo analisado, talvez esse tenha sido um caminho. Os interpretantes – tanto estudantes quanto professora – talvez tenham agido apenas sob a força de lei do signo sala de aula. 4.2 RETALHOS E MOSAICOS Diferente do grupo do Facebook na escola estadual de Lauro de Freitas, a página no Facebook criada pelos discentes de Relações Públicas foi feita em parceria direta entre discente/docente. Participei desse processo de forma mais direita, já que os 80 discentes eram meus alunos na disciplina Oficina de Produção Textual, ministrada para cumprir o estágio docente obrigatório para obtenção do título de mestra. A princípio, a escolha da disciplina foi motivada pela relação próxima entre Comunicação/Educação. A ementa da disciplina envolve noções de Gêneros Textuais como Narração, Descrição, Dissertação, além de textos midiáticos e a produção de uma peça de mídia como forma de avaliação final. Tradicionalmente essa mídia era um cartaz, mas, pensando num possível diálogo entre a temática da minha pesquisa, o pedido feito pela professora regente de “dar novos ares à sua disciplina” e o perfil previamente analisado dos discentes da turma, definimos que a culminância desse projeto seria um blog com o resultado das produções textuais e imagéticas dos alunos, dentro da temática “Ver a Cidade” (sugerida pela professora regente e voltada para as análises e percepções pessoais da cidade de Salvador). O perfil dos discentes: jovens de 17 a 25 anos, recém-saídos (em sua maioria) do ambiente escolar formal, moradores de Salvador, majoritariamente de classe média, quase todos iniciando uma trajetória acadêmica pela primeira vez. Esse perfil se encaixa no perfil da chamada Geração Y, onde a comunicação e as tecnologias de informação fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Muitos deles afirmaram optar pelo curso de Relações Públicas por almejar outros percursos profissionais (Jornalismo, Roteiro Cinematográfico, Produção Cultural), o que demonstra, também, uma certa incerteza quanto ao futuro acadêmico/profissional. Esse perfil coaduna com a temática proposta pela minha pesquisa, ajudando a formular questões importantes para a minha dissertação, tais como “Que relação pode ser estabelecida entre as redes sociais e o processo educacional?” ou “Como a Educomunicação pode ajudar a solucionar a possível crise na educação do século XXI?”, ou ainda “Os processos de leitura e escrita estão sendo deixados de lado na era informacional?”. Estes questionamentos foram externados por mim aos discentes no momento do primeiro encontro, quando fui arguida, por eles, qual seria o meu objetivo com o tirocínio e como eles poderiam participar. O dinamismo e o “estar sempre conectado”, características da juventude do século XXI, também eram qualidades marcantes da turma, tanto que no primeiro momento 81 em que foi sugerida a interação do aprendizado em sala de aula com atividades on line, os mesmos se mostraram amplamente dispostos e sugeriram, inclusive, que não uma, mas as duas ferramentas fossem usadas pela turma, a saber, a construção do blog e da página do Facebook destinada a socializar a produção textual feitos em sala de aula. Foram feitas, depois do início das aulas, mais duas chamadas de matrículas, o que acarretou um aumento considerável de alunos em sala de aula (eles passaram de 20 para 40 em média) mais um atraso geral nas atividades por conta de alguns deles não estarem familiarizados com a dinâmica da disciplina apresentada no primeiro dia de aula. Esses atrasos não permitiram que todas as atividades do módulo e previstas on line fossem aplicadas, mas não impediram que a página da turma fosse aberta no Facebook32 e o blog33 fosse criado. Ambas intituladas “Baú de Retalhos”, as páginas foram iniciadas em sala de aula, pelos próprios alunos e, tinham como ideia inicial servir de plataforma de compartilhamento dos textos produzidos em sala. Todo o processo de criação, produção de material e manutenção das páginas foi pensado pelos discentes. O nome foi escolhido através de sugestões dadas por eles em classe e, no fim, foi votado entre eles por trazer um significado que remete a relação entre o mosaico de ideias que eles formam – por serem muitos e diferentes uns dos outros – e o revirar de pensamentos e reflexões guardados nas memórias de cada um que as atividades de produção textual despertam. A produção dos espaços virtuais, o texto e a linguagem utilizados, tanto pelos discentes quanto pela professora regente da disciplina e a disposição – pouca – para interação entre ambiente web e ambiente físico, mais uma vez, reforça a lógica peirciana para analisar a utilização das redes em sala de aula. Os envolvidos nesse processo – interpretantes, segundo Pierce – utilizam-se de códigos que podem ser chamados de experiências de comunidade. Ainda citando Souza: 32 http://www.facebook.com/pages/Ba%C3%BA-de-Retalhos/318500381610225 33 http://www.bauderetalhosrp.blogspot.com/ 82 É o campo da virtualidade, onde tudo está para ser criado. Na secundidade, estão os tipos de comunidades restritos, baseados na experiência existencial, os clubes, as gangues, as associações religiosas e acadêmicas, cuja linguagem é específica: gíria, linguagem técnica, jargões (...) A sociedade é um código múltiplo com regras estabelecidas, mas que podem ser transformadas cada vez que os interpretantes da primeiridade e da secundidade propõe novas experiências. (SOUZA, 2006, p. 169). O projeto “Ver a cidade”, como explicado anteriormente, era o projeto de avaliação final proposto pela Professora Cida Ferraz, regente da disciplina. Consistia em analisar a cidade, em grupos de no máximo 4 alunos (o número varia de turma a turma), e, através de uma temática escolhida por cada grupo, discorrer sobre as visões sobre a cidade de Salvador. A ideia da produção do projeto é apresentada sempre no início da disciplina, quando da leitura da ementa, e o tema central (a construção da imagem da cidade de Salvador) é discutido ao longo de toda a disciplina, com textos literários e poéticos que passam por leituras de cidades, por sensações citadinas (vistas de janelas de ônibus, sensações corriqueiras de visões de rua, da casa, do bairro, construções de lembranças particulares, etc.) e que vão incitando os discentes a construírem uma visão mais crítica no lócus onde estão inseridos. Acompanhando as atividades semanais da disciplina, sugeri que cada construção dessas fosse registrada em linguagem verbal e imagética. Como a culminância do projeto seria nos últimos cinco encontros (formatação, produção de resenha baseada em discussões de textos teóricos sobre o tema constantes no “Caderno de Atividades” e, por fim, apresentação do produto final), nas duas primeiras unidades a temática foi alimentada a partir de postagens feitas pelos alunos especificamente na página do Facebook da turma, onde o espaço de discussão e interação seria mais aberto. Trechos de textos deles ou canônicos, filmes e imagens foram publicados, a partir dos temas que estavam sendo propostos em sala de aula para produção. (Figura 9) 83 Figura 9 Página inicial do grupo de Relações Públicas no Facebook Uma das aulas foi ministrada no laboratório de informática do Departamento de Ciências Humanas34, proporcionando a realização de um encontro de forma digital. Nesse dia iniciamos a produção do que viriam a ser os primeiros cartazes de divulgação dos grupos para o projeto “Ver a cidade”, atualizamos o blog com textos e imagens da aula e a página do Facebook com postagens sobre o que eles chamaram de “bastidores da aula”. O encontro serviu também para que eles avaliassem o andamento da disciplina no plano da proposta on line, parcialmente, e sugerissem mudanças que fariam com que a interação fosse maior. 34 A utilização dos espaços acadêmicos para utilização das redes sociais ainda é um entrave a ser superado. Não só no caso relatado nesta dissertação, como pode ser visto em texto de CARMO sobre experiência parecida com a nossa, realizada no Campus III da Uneb. O autor afirma: “Embora haja um entusiasmo no meio acadêmico acerca da apropriação e da utilização dos sites de mídias e redes sociais no ambiente acadêmico, a discussão teórica da utilização dessas ferramentas esbarra em uma questão prática e burocrática dentro da Universidade do Estado da Bahia. O sistema de funcionamento da Universidade é Multicampi, são 29 departamentos, em 24 campus. O acesso a internet em todos eles se dá através de login e senha específicos e individuais, estudantes e professores não tem acesso aos sites de Redes e Mídias sociais, a Unidade de Desenvolvimento Organizacional, UDO, instância da Universidade ao qual a Gerência de Informática, Gerinf, está subordinada, alega que se o acesso for liberado provocaria um congestionamento na rede, já que a largura de banda não dá conta de toda a demanda acadêmica, na capital e no interior da Bahia.” (2013, p. 9) 84 Com a mudança do produto final de um cartaz para ferramentas digitais, os grupos montaram clipes e blogs para expor as temáticas escolhidas: Comércio informal e de shoppings em Salvador; Janelas Polifônicas; Cidade Vivida x Cidade Vendida e os Grafites Gritam. Apenas um grupo não conseguiu apresentar o seu trabalho, por problemas... tecnológicos! O resultado das atividades também foi compartilhado on line¸ através das já referidas mídias sociais, mas os relatos de como as construções dos filmes e dos registros fotográficos influenciaram mudanças no olhar dos alunos foi o resultado mais recompensador de toda a disciplina. Através da experiência desse semestre, pude perceber como as redes sociais podem servir como grandes fortalecedores de laços reais. A turma, numerosa, estabeleceu vínculos e desejo internos, que foram externados nos contatos virtuais, mas, também, nos resultados das leituras e dos compartilhamentos dos “retalhos” guardados em seus Baús pessoais. Entretanto, pude notar as mesmas dificuldades de transposição de experiências primárias e secundárias que foi percebido no grupo da escola Ana Lúcia Magalhães. Quando os estudantes de Relações Públicas foram tencionados a publicar, espontaneamente, sem nenhum tipo de retorno quantitativo – nota, pontuação extra ou coisa similar – acontecimentos cotidianos que não versassem apenas sobre as produções textuais sugeridas em sala (como as manifestações que aconteceram pelo Brasil durante o período e nas quais a maioria da turma esteve presente ativamente), os discentes relegaram o espaço criado por eles próprios a segundo plano, mesmo que fizessem o que foi pedido pela professora regente e por mim (compartilhar os seus registros visuais das manifestações, suas impressões, proporem soluções para os problemas apontados pelos manifestantes...) em suas páginas pessoais. Essa distância da página criada em sala de aula para as páginas pessoais reforça a ideia de que, mesmo em ambiente virtual, há, da parte dos envolvidos, uma ideia de separação de espaços, onde as salas de aula são apenas espaços formais de aprendizado. Em diversos momentos a produção textual, apenas sugerida por temas definidos por professora Cida Ferraz, levou a turma inteira a rir ou a chorar de emoção, ampliando 85 uma visão que parece ser imediatista e desprovida de sentimento quando exposta apenas à fria folha de papel ou a insípida tela do computador. Ainda nos últimos encontros com a turma, depois de sugestão da professora regente, os discentes pediram que o blog, uma iniciativa de socialização apenas de produtos de uma disciplina, permanecesse por todo o curso, como uma Atividade Curricular. Eles próprios sugeriram a apresentação de um projeto para a coordenação do curso, fazendo com que o endereço www.bauderetalhosrp.blogspot.com se torne um espaço de discussão acadêmica, do curso, da carreira, e dos sonhos de jovens escritores de suas próprias histórias. Tanto na página do Facebook da turma de Relações Públicas da Uneb, no blog criado por essa turma – ambos observados durante entre março e julho de 2013 – quanto página na mesma rede social da turma do 9º da escola Ana Lúcia Magalhães é possível coletar referências imagéticas que nos reportam a criação de um universo que recria os espaços externos de aprendizado. No caso da sala do 9º ano do Ana Lúcia Magalhães, isso se exemplifica pelas constantes postagens de imagens que refletem o cotidiano em sala de aula: momentos de estudo, descontração ou não, espaços que são delimitados ainda pelas paredes escolares mais uma vez ganham grande relevância para os alunos. Como é apenas um grupo dentro de um espaço já delimitado por características próprias (a página do Facebook e os grupos criados dentro dela, ao contrário de outras redes sociais voltadas especificamente para a interação entre membros, a respeito dos mais diversos assuntos, não permite personalizações muito drásticas em seu layout. O padrão azul, as fontes ou a disposição das imagens, não são mutáveis, apesar de muitos usuários acreditarem nessa possibilidade). No caso do Blog e da página no Facebook “Baú de Retalhos”, são a linguagem e a interação nas postagens que dão o tom da necessidade de apropriação do espaço, mesmo reforçando espaços legitimados de ensino. Entretanto, nos dois casos, é possível perceber que, para que o projeto educomunicativo funcione, é preciso repensar os papeis desempenhados pelos personagens desses roteiros, indo além da simples mudança de cenários. 86 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS “Devemos assimilar o mundo que apreendemos pela vista à estada na prisão, à luz do fogo que ilumina a caverna à ação do sol. Quando à subida e a contemplação do que há no alto, considera que se trata da ascensão da alma até o lugar inteligível.” (Platão) Quando Platão, através do diálogo entre Sócrates e Glauco, ilustra o mito do homem que sai da caverna e vê mais que as sombras a que ele estava acostumado dentro de seu claustro, mostra que aquilo que julgamos conhecer como verdade, pode apenas ser o reflexo das sombras, as projeções do real que se colocam como verdadeiro e definitivo. A primeira reação do homem que sai da caverna ao encarar o mundo “real” é o estranhamento. Logo em seguida, sofre com a sensação de dor frente aquilo que não conhece e, por fim, acomodação ao novo e rejeição daquilo que julgava como certo. Ao ser recolocado ao seu ambiente de origem, esse homem que um dia começou a entender que o sol era quem gerava as sombras que via de dentro de seu cárcere e que estas eram homens iguais a ele, novamente se encontra na posição de estranhamento. Agora, ele se torna um estranho numa realidade que antes era “sua”, e essa comparação das imagens do que via e do que viu o tornam confuso quanto ao seu lugar de origem, transformando o seu novo saber em vão. Podemos ver claramente na Alegoria da Caverna um dos contrapontos conceituais explanados ao longo dessa dissertação. Afinal, concretamente, o que é real ou o que é virtual? A realidade é aquilo que conhecemos ou é apenas o reflexo daquilo que somos tencionados a acreditar? A análise desses conceitos, especialmente nas seções 2 e 3 desse trabalho nos permitiu entender que todos nós, seres dentro de um espaço coletivo de inteligência, mas, especialmente, educadores e educandos, somos em algum momento esses “estranhos prisioneiros”, como qualifica Glauco quando apresentado, a princípio, a alegoria socrática. 87 Do mito da caverna podemos avaliar o quanto é difícil por em prática algo que se propõe a ser a interação entre as formas de ver a realidade de dentro das cavernas e do lado de fora delas. Primeiro, quando se pensa em algo que nos tire de uma realidade a que estamos acostumados, acomodados, e nos leve para uma outra, o medo e o estranhamento são reações imediatas. “E se alguém tentasse retirar os seus laços, fazê-los subir, você acredita que, se pudessem agarrá-lo e executá-lo, não o matariam?”, pergunta Sócrates a Glauco. O medo do estranho companheiro que voltou a caverna e quer ajudar os outros a entender a realidade lá fora é o primeiro desafio a ser superado pelo educador moderno. Escondido atrás do medo de ser substituído pelos meios, pelas ferramentas tecnológicas, ou ainda, afixada atrás do receio de que, em meio a um já tão penoso claustro de rotinas, ele precise acrescentar mais uma – a de administrar diversas realidades – há na verdade um sentimento maior de estranhamento, que na maioria dos casos impede que esses meios sejam agregados às práticas educacionais a fim de proporcionar uma leitura de mundo um pouco mais próxima daquilo que viria a ser um fragmento do real, levando em conta inclusive as experiências do outro, do educando, do aluno, que, assim como o educador, também vê sombras. Ainda na seção 2, mas, especialmente, na seção 4, quando das análises das experiências que foram observadas durante essa pesquisa, podemos perceber que essa mudança de espaços de “realidades” nos leva a uma oposição, ou quem sabe, ainda, a uma ruptura nos papeis de legitimação de poder institucionalizado. “(...) Quanto às recompensas concedidas àquele que fosse dotado de uma visão mais aguçada para discernir a passagem das sombras na parede (...)”. Quanto ao poder simbólico daquele que é dotado do “saber científico”, único necessário, que não leva em conta o arcabouço social do outro, e se glorifica de exercer esse poder dentro de um ambiente que deveria ser de troca de saberes, e não de reprodução de sombras? A manutenção desse poder simbólico do “dotado de visão mais aguçada” é outro obstáculo a saída da caverna. Levar em conta saberes que não são dominados pelo detentor desse poder é outro desafio para o educador moderno. Mediá-los é o passo seguinte. Essa mediação se mostra possível, mas não simples ou tranqüila, como podemos ver, pois ainda legitimamos os valores referentes aos 88 espaços entre paredes, sem avaliarmos como aplicá-los, levando-se em conta as diferenças existentes nos espaços líquidos das cibervias. “Devemos assimilar o mundo (...) à estada na prisão”. A estada na caverna e as sensações que isso proporciona são os fragmentos de realidade que se põe aos olhos de todos os indivíduos, distorcendo sombras, aumentando monstros, viciando o olhar. Fragmentada é a realidade, fragmentados são os saberes, fragmentadas são as imagens e as informações dispostas na sociedade do século XXI. Os presos que tem a sua cabeça virada apenas para uma direção são os indivíduos dessa sociedade fragmentada que tem a vista inclinada apenas para um foco, o foco do alienado. A subida da alma para esse lugar inteligível é este posto que se deva desejar alcançar, propondo ao educador o papel daquele que foi até fora da caverna e voltou, que venceu o medo, o estranhamento e a acomodação e que soube utilizar aquilo que já tinha como conhecimento inato para apreender aquilo que lhe é apresentado como “saber real”. O desafio não é simples. Envolve mudar hábitos antigos, assumir fraquezas, aprender a valorizar os erros e os acertos, os processos de aprendizado e não apenas os resultados finais... E o desafio também não é óbvio. Educomunicar não é apenas agregar ferramentas tecnológicas em sala de aula, brincar de ensinar ou de ouvir os saberes dos educandos, relegando a papéis subalternos conhecimentos que não sejam acadêmicos. Entretanto, mesmo nas previsões mais catastróficas acerca do futuro da educação no século XXI35, o professor continua com o seu papel primordial de alfabetizador, e o tempo de formação dos saberes mantém-se contínuo e ilimitado. Se conseguirmos pensar que o indivíduo que sai da caverna é o detentor das boas novas e que aqueles que ainda estão presos são os que não querem ver mais do que as sombras entenderemos, num período em que as mobilizações e as pressões por mudanças têm partido das iniciativas on-line, que estamos realmente num período em que as vozes poderão ser ouvidas a partir das malhas das cibervias. 35 Ainda no Dicionário do Séc. XXI de Atalli, ao definir educação, há prognósticos de que a educação como conhecemos se tornará uma industria do espetáculo, que levará a um relativo descrédito dos professores aos olhos dos alunos capazes de se defrontar com um outro saber disponível nos meios de comunicação. (p. 147-148) 89 Através da observação participada e das experiências em sala, pude perceber que um longo caminho ainda pode ser trilhado rumo ao processo de adotar as tecnologias, especialmente as de interação social como o Facebook e o Youtube, por exemplo, em sala de aula. Mesmo fazendo uma pesquisa que trilhou, inicialmente, o caminho da revisão bibliográfica dos temas abordados, posso dizer que esse trabalho também se insere na gama dos empíricos, por se tratar de uma experiência em que pude vivenciar a aplicabilidade de uma proposta inovadora, que era a utilização do Facebook como extensão – e por que não dizer – reapresentação do espaço de aprendizado e leitura. Para os preceitos educomunicativos, fazemos parte, junto com os nossos educandos, de um ecossistema. Segundo Lemos e Levy “um ecossistema, uma espécie viva, uma sociedade animal, uma sociedade humana, um organismo, um sistema imunológico ou um cérebro podem ser chamados de ‘inteligentes’” (2010, p. 221). Ou seja, a inteligência viria dessa rede de compartilhamentos celulares que podemos construir, abrindo caminho para processos de experimentação como os relatados ao longo desta dissertação ou, apenas, para o diálogo mais aberto e pluridisciplinar, como é proposto por lei, mas relegado ao esquecimento por aqueles que creem apenas na reprodução fabril do século XIX. A conclusão do artigo de SOARES sobre o perfil do profissional que se enquadra no perfil de educomunicador é de que Um grande número de respostas ao questionário (aplicado aos educadores) aponta, por fim, como expectativa de resultado, a formação para a cidadania e para a ética profissional, objetivando a educação do “cidadão global.” (grifo nosso) O que está em jogo para a saída da caverna em direção a aplicabilidade da proposta educomunicacional é a capacidade do educador de abrir os espaços escolares para a sua função mais inata, a da troca de experiências e de saberes, sem medos ou restrições, valorizando os conhecimentos inatos e os tecnológicos, utilizando-se dos meios como ferramentas e não como substitutos, proporcionando uma mediação 90 construtiva entre informação e conhecimento, a fim de que as novas leituras de mundo sejam construídas, dissipando as sombras e facilitando o olhar – de educandos e educadores – direto à luz. Sozinho, sabendo que havia sol lá fora, o prisioneiro que volta da caverna é só mais um prisioneiro que viu a luz do dia por outro ângulo. Se os outros prisioneiros o ouvissem, ou ao menos se mobilizassem para entender as sombras que se formavam – e não apenas tivessem medo delas, talvez o movimento proposto pelo tempo da educação deixe de ser inverso, como sugerido na seção 3, passando do obrigatório Cronos para o prazeroso Kairós e, quem sabe, para um tempo alinear, multidirecional e transdisciplinar, como as cibervias, tornando possível o acesso ao saber por diversos caminhos possíveis e passíveis de serem trilhados. 91 6 REFERÊNCIAS A DÉCADA DA Educomunicação? Disponível em http://portal.aprendiz.uol.com.br/2012/02/07/a-decada-daeducomunicacao/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=Twitter. Acesso dia 19 de junho de 12 A TECNOLOGIA VAI MELHORAR a educação, mas não substituí-la", defende professor da Universidade do Futuro. Disponível em http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/07/a-tecnologia-vai-melhorar-aeducacao-mas-nao-substitui-la-defende-professor-da-universidade-do-futuro4203273.html. Acesso em 18 de julho de 2013. A TRISTE RADIOGRAFIA da leitura no Brasil, Disponível em: http://www.menosumnaestante.com/2012/04/a-triste-radiografia-da-leitura-no-brasil/. Acesso em 12 de abril de 2012. ALMEIDA, Jaqueline Maria de. Uso do Blog na Escola: Recurso Didático ou Objeto de Divulgação? Inter Science Place. Brasil, volume 1, edição 22, p. 174 a 193, julho a setembro de 2012. ALVES, Adjair. Treinando a Observação Participante: juventude, linguagem e cotidiano. Recife: Editora Universitária, UFPE, 2011. ASIMOV, Isaac. Eu, robô. (trad.) Jorge Luiz Calife. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. AS PREVISÕES DE Isaac Asimov para 2014, 50 anos atrás. Disponível em: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/01/previsoes-de-isaac-asimov-para2014-50-anos-atras.html. Acesso em: 03 de janeiro de 2014. ATTALI, Jaques. Dicionário do séc. XXI. (trad.) Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001. BACCEGA, Maria Aparecida. Televisão e escola: uma mediação possível? São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003. BACHELARD, Gaston. A noção de obstáculo epistemológico (plano de obra). In: BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. BARROS, Maria das Graças e CARVALHO, Ana Beatriz Gomes. As concepções de interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. In: SOUSA, Robson Pequeno de; MOITA, Filomena da M. C da S. C. e CARVALHO, Ana Beatriz Gomes (Orgs). Tecnologias digitais na educação. Campina Grande: EDUEPB, 2011 BAUMAN, Zygmunt. Amor Liquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. (trad.) Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2004. ________________. Modernidade Liquida. (trad.) Plinio Deutzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. 92 ________________. O mal estar da pós-modernidade. (trad.) Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998 ________________. Sobre educação e juventude: conversas com Ricardo Mazzeo. (trad. ) Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. BENJAMIM, Walter. O narrador: reflexões sobre a obra de Nikolai Lesskov. In: sobre arte técnica, linguagem e política. Lisboa: Relógio D’água, 1992. BRASIL PEGOU FIRME no ensino online. Disponível em http://blogs.estadao.com.br/link/ensino-online-pega-firme-no-brasil/. Acesso em 11 de janeiro de 2014. BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação. Passo a passo para a conferência de meio ambiente na escola + Educomunicação: mudanças ambientais globais. Senic, 2008. BRUM, Eliane. É urgente recuperar o sentido de urgência. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/04/e-urgenterecuperar-o-sentido-de-urgencia.html. Acesso em 12 de maio de 2013 BRUNELLI, Tiago da Silva. Semiótica Peirceana: uma análise de seriados humorísticos. In: Revista Científica Plural: Curso de Comunicação Social da Unisul – Tubarão/SC , Edição 002 , Julho 2008 BUSH, Vannevar. Como pensamos. In: RIBEIRO, Ana Elisa e COSCARELLI, Carla Viana. (orgs.) O hipertexto em tradução. Belo Horizonte: Fale/UFMG, 2007. CANCLINI, Nestor Garcia. Leitores, espectadores e internautas. (trad.) Ana Goldberger. São Paulo: Iluminuras, 2008. CANDAU, Joel. Pensar, classificar: memórias e ordenação do mundo. In: Memória e identidade. São Paulo: Contexto, 2011. CARMO, Juliano Ferreira do. Apontamentos para a utilização do Facebook como ferramenta acadêmica no curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia. Disponível em http://www.uneb.br/ecovale/files/2013/08/artigo13.pdf., Acesso em 12 de agosto de 2013. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Paz e terra, 1999 CHAPLIN, Charles. O grande ditador. Filme, vídeo. Direção de Charles Chaplin. United Artists. EUA: 1940, 124 min. CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. (trad.) Angela S. M. Correa. São Paulo: Contexto, 2009. 93 CITELLI, Adilson Odair e COSTA, Maria Cristina Castilho (org.) Educomunicação: construindo uma nova área de conhecimento. São Paulo: Paulinas, 2011. ______________. Palavras, media e escola. In: CITELLI, Adilson. Palavras, meios de comunicação e educação. São Paulo: Cortez, 2006. COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. (trad.) Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. COSTA, Maria Cristina Castilho Costa. Educomunicador é preciso. Disponível em <www.usp. br/nce>. Acesso em: 15 mar. 2009. ECO, Umberto, CARRIÈRE, Jean-Claude. Não contém com o fim do livro. (trad.) André Telles. Rio de Janeiro: Editora Record, 2010. FACEBOOK potencializa a banalidade da nossa falta de afeto, diz Pondé. Disponível em http://www.paulopes.com.br/2012/04/facebook-potencializa-banalidade-da.html, acesso em 12 de junho de 12 FANTIN, Monica. Novo olhar sobre Mídia-Educação. Comunicação. N. 16. Santa Catarina: UFSC, [2005?] GT Educação e FERREIRA, Valéria Milena Röhrich e ARCO-VERDE, Yvelise Freitas de Souza. Chrónos & Kairós: o tempo nos tempos da escola. Educar, Curitiba, n. 17, p. 63-78. Editora da UFPR: 2001 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? (trad.) Rosisca de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. ________________. Pedagogia do oprimido. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. ________________. A importância do ato de ler. In: A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 49ª. Ed. São Paulo: Cortez, 2005. GARCIA, Letícia Afonso Rosa, BINI, Renan Paulo. A Educomunicação como instrumento de construção de leitores críticos de Mídia. Revista Travessias, Universidade Estadual do Nordeste do Paraná, ISSN 1982-5935 Vol 7 Nº 1 – 2013 17ª edição. GERAÇÃO TABLET, http://blog.maisestudo.com.br/tabletfaculdade/?utm_source=facebook&utm_medium=facebook&utm_campaign=fanpage , acesso em 20 de julho de 2013 GITLIN, Todd, Mídias sem limite. (trad.) Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 94 GOMES, Ana Luisa Zaniboni, A Lei de Diretrizes e Bases e o Campo da Educomunicação. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: 2005. GREEN, Bill e BIGUM, Chris. Alienígenas na Sala de Aula. In: SILVA. Tomas Tadeu da Silva (org.). Alienígenas na Sala de Aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. HOLMBERG, Börje. Educación a distancia: situación y perspectivas. Buenos Aires (Argentina): Editorial Kapelusz, 1981. INTERNET ESTIMULA criatividade, mas afeta a escrita dos jovens, diz estudo, Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/07/internet-estimulacriatividade-mas-afeta-escrita-dos-jovens-diz-estudo.htm. Acesso em 17 de julho de 2013 LAROSSA, Jorge. Linguagem e Educação depois de Babel. (trad.) Cynthia Farina. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. LEVY, Pierre. As árvores de conhecimento. (trad.) Monica M. Seincman. 2ª. Ed. São Paulo: Editora Escrita, 2000. ____________ A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. (trad.) Luiz Paulo Rouanet. 3ª. Ed. São Paulo: Edições Loyola, 1998 (2000). ____________. Cibercultura. (trad.) Carlos Lineu Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. ____________. O que é virtual?. (trad.) Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996. LIMA, Elizabeth Gonzaga de. A leitura, o leitor e a ilusão. Tabuleiro das Letras, v. 01, p. 01-12, 2008. LORENZO, Eder Maia. A utilização das redes sociais da educação: importância, recursos, aplicabilidade, dificuldade. Rio de Janeiro: Editora Clube dos Autores, 2013. MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. (trad.) Ronald Polito e Sérgio Alcides. 6ª edição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. MATTOS, Sérgio. Meios de Comunicação a serviço da educação (Pedagogia dos meios). In: RUBIM, Albino. (org.). Idade Mídia. Salvador: Edufba, 1995. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem: undertanding media. (trad.) Décio Pignatari. 3ª edição. São Paulo: Editora Cultrix, 1964. MEMEX, disponível em http://www.unicamp.br/~hans/mh/memex.html, acessado em 23 de março de 12. 95 MOORE, Steven Dean. Bart vs. Lisa vs. 3ª Série. Série, vídeo. Direção de Steven Dean Moore. Fox Filmes. EUA: 2002, 22 minutos. MORAN, José Manuel. A Educação que desejamos: novos desafios de como chegar lá. 1ª ED. São Paulo, SP: Papirus, 2007 MORIN, Edgar. Para onde vai o mundo. (trad.) Francisco Morás. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. MOSÉ, Viviane. A escola e dos desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. “NA CAMPUS PARTY, Sugata Mitra fala sobre tecnologia educacional”, disponível em http://oglobo.globo.com/tecnologia/na-campus-party-sugata-mitra-fala-sobretecnologia-educacional-3908239. Acesso em 5 de abril de 2012 NAISBITT, Jonh e MOTOMURA, Oscar. Hight tech * Hight touch: a tecnologia e a nossa busca por significado. (trad.) Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Editora Cultrix, 1999. OROFINO, Maria Isabel. Mídias e mediação escolar: pedagogia dos meios, participação e visibilidade. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 2005. OS INTERNAUTAS são a cara do Brasil! Disponível em http://br.noticias.yahoo.com/os-internautas-o-cara-brasil-140900822.html. Acesso em 27 de dezembro de 2012 PHILLIPS , Linda Fogg, BAIRD, Derek, & FOGG , BJ. Facebook para Educadores. Disponível em http://www.sead.ufscar.br/outros/Facebook%20para%20Educadores. Acesso em 20 de agosto de 2013. PINTO, Débora Morato. Consciência e Memória. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013. PIVA Jr., Dilermando. Sala de aula digital: uma introdução à cultura digital para educadores. São Paulo: Saraiva, 2013. PRETTO, Nelson de Luca. Reflexões: ativismo, redes sociais e educação. Salvador: Edufba, 2013. PROFESSOR INFLUENCIA hábito de leitura, diz pesquisa. http://www.blogdogaleno.com.br/texto_ler.php?id=12216&secao=32. Acesso em 30 de julho de 2012 QUAIS HABILIDADES um professor precisa ter para ensinar no mundo digital? Disponível em http://www.desafiosdaeducacao.com.br/quais-habilidades-umprofessor-precisa-ter-para-ensinar-mundo-digital/. Acesso em 29 de julho de 2013 96 ROGER CHARTIER fala sobre analfabetismo digital, disponível em http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/roger-chartier-fala-analfabetismodigital-leitura-livros-747601.shtml. Acesso em 24 de julho de 2013 ROSSETTI, Fernando. Educação pela comunicação: uma pedagogia para o século 21. Disponível em <www.serprofessoruniversitario.pro.br>. Acesso em 9 de março de 2009. SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo. São Paulo: Paulus, 2004. __________________. Semiótica Aplicada. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. _________________. Os espaços líquidos da cibermídia. Revista da associação Nacional dos Programas de pós-graduação em Comunicação. Abril de 2005 SANTANA NETO, J. A. . O homoerotismo: uma análise da discursividade visual. In: João Antonio de Santana Neto; Carlos Augusto Magalhães. (Org.). Redemoinho de linguagens. Redemoinho de linguagens. 1ª ed. Curitiba: Appris, 2011, v. 1, p. 145-154. SANTOS, Batya Ribeiro dos. Escola: incluindo ou excluindo??. In: ALVES, Lyna Rosalina Gama e SILVA, Jamile Borges da. Educação e Cibercultura. Salvador: EDUFBA, 2001. SANTOS, Boaventura de Souza. A universidade no séc. XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São Paulo: Cortez, 2004. ____________ "Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências", Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, 237-280. São Paulo: 2002. SHEPERD, Tania G. e SALES, Tania G. Linguística da Internet. São Paulo: Contexto, 2013. SILVA, Edielson Ricardo da e SILVA, Maria das Graças Amaro da. A Educomunicação e sua proposta. Intercom, XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. Maceió: Julho 2013. SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação – o conceito, o profissional, a aplicação: contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas, 2011 SOARES, Ismar de Oliveira. Alfabetização e Educomunicação: o papel dos meios de comunicação e informação na educação de jovens e adultos ao longo da vida. Disponível em <www.usp. br/nce>. Acesso em 15 de março de 2009. ________. O perfil do educomunicador. Disponível em <www.usp. br/nce>. Acesso em 24 de maio de 2009. 97 SOUZA, Licia Soares de. Introdução às teorias semióticas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006 TECNOLOGIA A FAVOR da educação. Disponível em http://blog.maisestudo.com.br/tecnologia-a-favor-da-educacao/. Acesso em 20 de julho de 2013 TORREÃO, Luisa e VIEIRA, Amélia. Escolas recebem tecnologia de ponta, mas falta o básico. Jornal A Tarde, ano 90, p. A4, 12 abr. 2009. WALTY, Ivete Lara Camargos, (et ali). Palavra e Imagem: leituras cruzadas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. .
Download