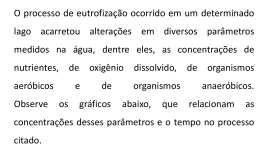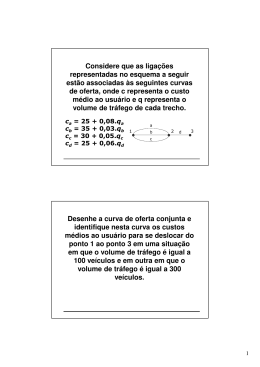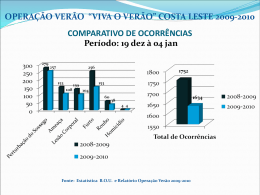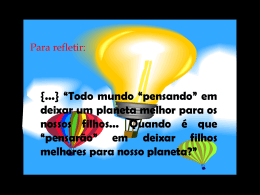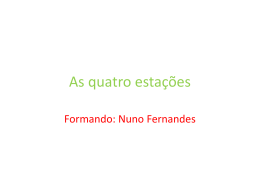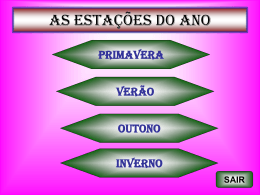CONTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES RODOVIÁRIAS NA QUALIDADE DO AR DA CIDADE DO PORTO César Oliveira (1), Patrícia Santos (2), Teresa Nunes (3), Casimiro Pio (4), Alexandre Caseiro (5) e Peter Wåhlin (6) (1, 2, 3, 4, 5) Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal (6) Department of Atmospheric Environment, National Environment Research Institute, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde, Denmark (1) [email protected]; (2)[email protected]; (3)[email protected], (4)[email protected]; (5) [email protected]; (6)[email protected] RESUMO Efectuaram-se campanhas de medição de poluentes na cidade do Porto (uma de Inverno e outra de Verão) em dois locais, um situado junto a uma via de tráfego intenso e outro cerca de 500 m afastado das principais vias de tráfego, reflectindo um “fundo urbano”. Em ambos os locais monitorizaram-se em contínuo CO, O3, NOx e PM10 (monitor β). Também se efectuaram medições de PM2,5-10 e PM2,5 através de um sistema de amostragem sequencial, com quantificação gravimétrica e elementar (PIXE) das partículas retidas em filtros Nuclepore. As variações diárias, semanais, sazonais e espaciais dos poluentes estudados evidenciaram a importância das emissões (fontes), química (consumo e produção), diluição e transporte (fenómenos meteorológicos e processos de camada limite) na definição da evolução das suas concentrações num local pertencente a uma área urbana. A concentração dos poluentes gasosos primários NOx, CO e partículas exibiu um padrão diário e semanal que mostrou a influência do tráfego automóvel, enquanto o O3 sofreu o fenómeno inverso, com concentrações médias mais elevadas durante o fim-de-semana. Do ponto de vista sazonal, o NOx e o CO exibiram concentrações mais elevadas durante o período de Inverno enquanto o SO2, o O3 e as partículas apresentaram concentrações mais reduzidas. A contribuição das partículas finas para o total de partículas foi superior no Inverno e mais reduzida no Verão. A maior parte dos elementos apresentaram fortes correlações entre os dois locais de amostragem, com algumas diferenças ao nível das concentrações e distribuição por tamanhos. 1. INTRODUÇÃO Apesar dos recentes desenvolvimentos na produção de combustíveis mais amigos do ambiente e da constante preocupação na construção de veículos menos poluentes, a poluição atmosférica resultante do tráfego rodoviário é um problema crescente nas áreas metropolitanas, tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos. Esta provoca efeitos prejudiciais à saúde humana, afectando os sistemas respiratório e circulatório, sendo também uma das causas do cancro do pulmão (WHO, 1999). A circulação automóvel provoca a emissão de partículas para a atmosfera, quer de uma forma directa, quer pela existência de transformações gáspartícula. Actualmente, um dos aspectos mais críticos associados à qualidade do ar relaciona-se com o elevado número de excedências da concentração de partículas na atmosfera que são detectadas em Portugal pelas redes de monitorização da qualidade do ar relativamente à legislação em vigor (Instituto do Ambiente, 2003). No âmbito do projecto Europeu SAPPHIRE, que tem como objectivo principal identificar as principais fontes de poluentes atmosféricos particulados em áreas urbanas na Europa, foram realizadas duas campanhas de amostragem, uma no Verão e outra no Inverno de 2003, que pretenderam avaliar a influência na poluição atmosférica tanto do tráfego de Verão e de Inverno como das diferentes condições meteorológicas existentes nesses períodos. Neste contexto foram monitorizados simultaneamente em dois locais no centro da cidade do Porto alguns poluentes atmosféricos relacionados com o tráfego automóvel, com o objectivo de avaliar a sua contribuição para os níveis actuais de contaminação ambiental urbana. Neste artigo apresentamse, comparam-se e interpretam-se dados resultantes da monitorização directa de poluentes gasosos e de matéria particulada em suspensão. 2. METODOLOGIA 2.1. Local de amostragem As amostragens efectuaram-se na cidade do Porto, Norte de Portugal (aproximadamente 41ºN, 8ºW). A cidade conta com 258 200 habitantes para uma área de 42 km2, e encontra-se inserida numa área metropolitana com 1 261 000 habitantes que engloba também os concelhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Valongo e Espinho. Para além da influência do tráfego automóvel e de pequenas e médias indústrias locais, a área poderá ser influenciada por emissões provenientes de grandes instalações industriais, como por exemplo uma refinaria de petróleo e uma unidade de incineração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No âmbito do projecto SAPPHIRE foram efectuadas campanhas em dois locais distintos. Um desses locais (posteriormente denominado “junto à estrada”) sujeito a emissões directas de veículos motorizados, ficou situado junto a uma intersecção de vias fortemente movimentadas (Tabela 1), verificando-se a circulação e paragem de elevado número de veículos pesados de passageiros (Praça Mouzinho de Albuquerque), enquanto que o outro (adiante designado por “fundo urbano”), distante do anterior cerca de 500 m e afastado dos principais eixos rodoviários (instalações do Instituto de Reinserção Social, sito na Rua do Melo), seria mais afectado por massas de ar envelhecidas de origem urbana. A monitorização da concentração de poluentes foi efectuada em duas épocas distintas (Julho e Novembro/Dezembro de 2003), cada uma durante 30 dias consecutivos. Os períodos de amostragem distintos pretenderam avaliar as influências das condições meteorológicas e do tráfego de Verão/Inverno na concentração dos poluentes em cada local. Tabela 1 – Distribuição aproximada (%) dos veículos em classes, segundo várias fontes. Dados locais e nacionais. Classe de veículo MEET/COSTa ACAP b Local de amostragem junto à estrada c 76 16,6 2,3 4,6 Local de amostragem fundo urbano c Gasolina 69,3 65,1 Diesel 7,5 18,5 Motociclos 16,2 14,1 Pesado de passageiros 0,3 0,2 Pesado de 6,7 2,1 0,6 mercadorias a MEET/COST – Projectos europeus: “Methodologies for estimating air pollutant transport” (MEET) e “Estimation of pollutant emissions from transport” (COST 319); Comércio Automóvel de Portugal; c contagens efectuadas no local (~8h-20h). 73,6 23,8 1,9 0 0,7 emissions from Associação do b 2.2. Colheita e análise das amostras Nos dois locais de amostragem foram monitorizados em contínuo O3, CO, NOx, SO2 e PM10 pelo método β (Tabela 2). Em paralelo, foram também recolhidas em filtros de membrana de policarbonato (25 mm de diâmetro), tipo NUCLEPORE, partículas finas e grosseiras (filtros com 0,4 e 12 µm de tamanho de poro, respectivamente) utilizando um sistema de amostragem sequencial provido por uma cabeça de impacção à entrada que remove partículas maiores que 10 µm (Tabela 2). Este sistema, calibrado pela Universidade de Hertfordshire, permitiu a Tabela 2 – Características dos instrumentos de recolha / monitorização de poluentes utilizados. Período de média (min.) Fundo Junto à urbano estrada 5 15 5 15 5 15 Poluente Tempo de resposta (s) NOx O3 CO 10 10 10 SO2 10 5 15 10 5 - Dados meteorológicos PM10 (método β) Partículas finas e grosseiras d Período (h) 1;2a Ciclo (h) 12 (24 a) Fabricante Modelo ENVIRONNEMENT S.A. ENVIRONNEMENT S.A. ENVIRONNEMENT S.A. ENVIRONNEMENT S.A./ THERMO ENV. e AC31M O341M CO11M AF22M/43S e DAVIS ISS ENVIRONNEMENT S.A. MP101M Período de amostragem 6:00-12:00b 7:00-17:30c 18:00-0:00b 19:00-5:30c Contagens de 8 contadores dispostos nas proximidades do local de amostragem junto à estrada tráfego a durante parte do período de amostragem de Inverno; b durante o período de amostragem de Verão; c durante o Inverno a amostragem foi semi-contínua, com alternâncias de 1,5 hora; d partículas finas com volume aerodinâmico inferior a 2,5 µm, e grosseiras com volume aerodinâmico entre 2,5 e 10 µm; e o primeiro foi utilizado na estação fundo urbano, enquanto o outro na estação junto à estrada. medição das concentrações de PM2.5 e PM10 por gravimetria (pesagem dos filtros antes e depois da amostragem, sob idênticas condições de humidade relativa) e a análise elementar dos filtros por PIXE (Particle Induced X-ray Emission). 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 3.1. Monitorizações contínuas Na Figura 1 apresentam-se os resultados médios de diversos parâmetros monitorizados continuamente nos períodos de Verão e de Inverno, nomeadamente concentrações médias diárias aos sábados, domingos e dias úteis. Uma análise inicial desta figura permitiu verificar que os níveis de poluentes directamente relacionados com emissões móveis, como os NOx e o CO foram consideravelmente mais elevados junto à estrada relativamente ao local de fundo urbano, estando o perfil diário das suas concentrações relacionado com as variações do volume de tráfego automóvel, combinadas com processos de camada limite, factores meteorológicos e reacções químicas em que participaram as espécies em questão (consumo e formação). É de salientar o facto dos poluentes típicos de emissões provenientes do tráfego (NOx, CO e PM10) terem apresentado níveis médios inferiores ao sábado e domingo, em comparação com os dias úteis, o que evidenciou a contribuição relativa do tráfego nas suas concentrações. O O3, pelo contrário, apresentou concentrações médias mais elevadas ao fim-de-semana, o que está de acordo com o observado em várias cidades (Qin, 2004). Sendo o O3 um poluente secundário cuja produção depende da temperatura, radiação, concentração e razão entre os seus percursores (NOx e COVs), não é fácil encontrar uma relação simples com qualquer das variáveis discutidas anteriormente. De um modo geral, a existência em quantidades elevadas de emissões de NO e COVs com origem no tráfego rodoviário conduzirá a uma maior destruição que formação de O3 pela cadeia de reacções fotoquímicas em que estes compostos são envolvidos. Por isso, devido ao processo geralmente conhecido como titulação do ozono pelo NO emitido de fresco pelos veículos, os seus níveis devem ser em média mais baixos nos centros urbanos relativamente às áreas suburbanas. Verão 160 Fundo urbano Junto à estrada NO (ppbv) 120 Semana Sábados Domingos / Feriados 80 40 NO2 (ppbv) 0 30 15 0 O3 (ppbv) 30 15 0 SO2 (ppbv) 15 10 5 CO (ppbv) 0 1800 1200 600 0 0:00 NO (ppbv) 160 8:00 16:00 Hora 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 Hora 00:00 Inverno Junto à estrada Fundo urbano 120 Semana Sábados Domingos / Feriados 80 40 NO2 (ppbv) 0 30 15 O3 (ppbv) 0 30 15 SO2 (ppbv) 0 15 10 5 CO (ppbv) 0 1800 1200 600 0 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 08:00 16:00 Figura 1 – Representação gráfica dos valores médios diários obtidos na monitorização de poluentes durante os dois períodos de amostragem. Adicionalmente, quando se compararam as concentrações de NOx detectadas nos dois períodos de amostragem verificou-se que os valores obtidos foram superiores durante o Inverno, possivelmente devido a uma menor diluição vertical causada por uma camada limite mais baixa, assim como à queima de uma maior quantidade de combustíveis fósseis para aquecimento. Pelo contrário, o O3 (poluente eminentemente secundário) apresentou em média concentrações mais elevadas na estação de fundo urbano, o que denotou um consumo significativo deste junto à estrada com a consequente formação de NO2. Uma análise mais pormenorizada dos resultados apresentados na Figura 1 conduziu às seguintes considerações: O perfil de concentrações exibido pelo NO seguiu em parte a evolução do volume de tráfego automóvel, tendo exibido concentrações reduzidas durante a noite (Figura 1) por falta de produção/emissão. Genericamente, as emissões provocadas pelo tráfego automóvel conduziram ao aumento dos níveis de NO até este atingir o seu máximo da manhã. De seguida, após um ligeiro decréscimo, o aumento de temperatura normalmente ocorrido à tarde provocou uma maior diluição por aumento da altura da camada limite, assim como o seu consumo no ciclo fotoquímico, o que terá originado a diminuição da sua concentração. Durante o Inverno, as concentrações de NO voltaram a subir significativamente ao final da tarde, o que não se verificou no período de Verão onde estas não sofreram alterações significativas. Este comportamento distinto durante as duas épocas em estudo pode ter estado relacionado quer com a intensidade dos ciclos fotoquímicos quer com a meteorologia, já que não se observou uma grande diferença na intensidade média de tráfego nos dois períodos (Figura 2). Quando se compararam os níveis de NO existentes nos dois locais de amostragem verificou-se que a sua concentração foi significativamente inferior no local de fundo urbano, o que poderá estar relacionado com um efeito de diluição das contribuições do tráfego automóvel. As concentrações de NO2, após atingirem valores mínimos no final da noite por falta de produção, aumentaram com a presença de tráfego automóvel, atingindo um primeiro máximo por volta da hora de ponta matinal (Figura 1). Seguidamente, a sua destruição fotoquímica conduziu a uma diminuição de concentração, menos pronunciada no local de amostragem junto à estrada por este se encontrar próximo de fontes mais intensas. Posteriormente, atingiram-se valores máximos por volta das 20 horas, coincidindo com os períodos de trânsito mais congestionado. Relativamente à razão NO2/NO (Figura 1), esta foi mais elevada no local de fundo, evidenciando uma conversão rápida a NO2 do NO transportado até ao local. Pode verificar-se ainda que no Verão, durante as horas de maior tráfego matinal o NO2 foi rapidamente consumido pela formação fotoquímica de O3, conduzindo a concentrações de NO2 por volta das 13 horas com níveis próximos dos observados durante a madrugada. Por outro lado, por existir uma menor intensidade da radiação solar no Inverno, o consumo fotoquímico de NO2 terá sido menos intenso, originando concentrações mais elevadas durante a tarde, ao contrário do que aconteceu no período de Verão. No Inverno a concentração média máxima atingida foi genericamente superior às observadas no Verão. Este facto poderá ter-se devido a uma acumulação de NO2 provocada por um menor consumo fotoquímico nas tardes de Inverno ( NO2 + hυ + O2 → NO + O3 ) ou por uma menor degradação do NO2 por radicais hidroxilo com formação de HNO3 e PAN (peroxilacetilnitrato). Numa atmosfera urbana, a presença de CO encontra-se fortemente associada ao tráfego automóvel e à existência de combustões incompletas, sendo por isso bastante dependente do estado de manutenção do motor dos veículos motorizados (Seinfeld, 1998). Adicionalmente, o tempo de vida na atmosfera relativamente elevado permite que este composto seja misturado e diluído, homogeneizando a sua distribuição espacial e temporal. Este efeito foi mais sentido no Verão que no Inverno, como se pode observar pela análise da Figura 1. Da análise desta figura pode ainda verificar-se que no Inverno as concentrações médias de CO ao longo do dia foram mais elevadas, tal como se observou para o NO e o NO2, e apresentaram dois máximos de concentração bem pronunciados (durante a manhã e final da tarde), enquanto no Verão foi detectado apenas um máximo de concentração presente ao início da manhã. Atendendo a que o fluxo médio de tráfego não diferiu substancialmente entre o período de amostragem de Inverno Junto à estrada 3000 1500 16:00 Hora 00:00 40 20 0 00:00 16:00 Hora 08:00 00:00 40 30 2D Graph 2 20 10 90 2,5 Gravimetria |Grosseiras|/|Finas| 60 2,0 1,5 1,0 30 90 0,5 0,0 4,0 Junto à estrada 3,0 2,0 60 1,0 30 0,0 0 -1,0 4/07 11/07 18/07 25/07 Julho 2003 Frequência (horas) Inverno Junto à estrada -3 PM10 (µg.m ) -3 PM10 (µg.m ) Precipitação (mm) veículos h -1 4500 |Grosseiras|/|Finas| 3,0 PM10 (monitor β) |Grosseiras|/|Finas| Fundo urbano 3000 1500 0 00:00 08:00 40 30 20 10 0 100 Fundo urbano 80 60 40 20 0 100 Junto à estrada 80 60 40 20 0 22/11 16:00 Hora 00:00 30 Direcção dominante do vento 0 - 90º 90 - 180º 180 - 270º 270 - 360º 15 0 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 2D Graph 2 PM 10 (monitor β) 4,0 Gravimetria |Grosseiras|/|Finas| 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 29/11 6/12 13/12 20/12 Novembro-Dezembro 2003 |Grosseiras|/|Finas| 0 0 -3 08:00 Direcção dominante do vento 0 - 90º 90 - 180º 180 - 270º 270 - 360º |Grosseiras|/|Finas| -3 PM10 (µg.m ) Precipitação (mm) 0 00:00 PM10 (µg.m ) Verão 60 Frequência (Horas) Veículos h -1 4500 Figura 2 – Representação gráfica dos valores de precipitação, concentração de PM10 (medições efectuadas simultaneamente por gravimetria e usando o monitor β) e razões PM10-2.5/PM2.5 durante os dois períodos de amostragem. e de Verão (Figura 2), esta diferença de concentrações dever-se-á possivelmente a uma maior contribuição de outras fontes de combustão usadas para aquecimento, assim como a uma menor dispersão vertical no Inverno e à existência de inversões de temperatura. Neste período, estas inversões terão sido quebradas mais tardiamente da parte da manhã e manifestaram-se mais cedo da parte da tarde. Durante a noite a concentração de O3 foi reduzida devido à ausência de produção por falta de radiação solar (Figura 1), tendo-se atingido valores mínimos pouco antes do nascer do dia (o O3 produzido durante o dia anterior terá sido disperso ou consumido). Posteriormente ao nascer do sol e com o aumento do volume de tráfego automóvel, as concentrações de O3 aumentaram, contribuindo para isso a maior intensidade de radiação solar e a grande disponibilidade de gases precursores (VOCs, NO2 e CO). Os valores máximos de concentração foram atingidos da parte da tarde, quando a radiação solar foi máxima, tendo-se seguido um decréscimo da sua concentração provocado quer por concentrações mais reduzidas de gases precursores quer por valores de radiação solar substancialmente inferiores. Este último facto justificará também a existência de concentrações de O3 mais reduzidas durante o Inverno, quando comparadas com a época de Verão (Figura 1). Quando foram comparadas as concentrações existentes nos dois locais de amostragem, detectaram-se valores inferiores junto à estrada. Pode observar-se ainda a existência de concentrações relativamente elevadas antes do amanhecer, com origem provável em mecanismos de transporte e não em fenómenos de produção, por falta de radiação solar durante o período nocturno. Quando se compararam os valores obtidos durante os dias de semana com os registados aos sábados e domingos ou feriados, verificou-se que de forma geral estes últimos apresentaram concentrações superiores, mesmo na presença de concentrações mais reduzidas dos seus gases precursores (NOx). Este comportamento tem sido observado em várias cidades e é conhecido como “weekend effect” (Qin, 2004). Uma das possíveis causas para este efeito será a sensibilidade do sistema fotoquímico aos VOCs e a diminuição das emissões de NOx aos fins de semana, assim como a menor dispersão de luz solar causada pelo decréscimo do número de partículas finas na atmosfera, o que aumentaria a eficiência de formação de O3 devido a um maior aproveitamento da radiação solar. As fontes maioritárias do SO2 presente nas atmosferas urbanas são normalmente a queima de combustíveis fósseis e de biomassa. Da análise da Figura 1 pode verificar-se que a concentração de SO2 não apresentou um padrão de variação análogo a qualquer um dos restantes poluentes medidos. Quando se compararam as concentração médias de SO2 obtidas durante o período de Verão com o padrão diário da direcção do vento (Figura 2), verificou-se que ambos os locais atingiram valores máximos de concentração de SO2 quando foram afectados por ventos dominantes de Noroeste, o que poderá indiciar a presença de emissões de SO2 provenientes da refinaria de petróleo instalada junto ao porto de Leixões, ou de qualquer outras instalações fabris de elevado volume que circundam essa área. A comparação dos valores obtidos durante os dois períodos em estudo permitiu detectar concentrações de SO2 mais elevadas durante o período de Verão. 3.2. Partículas Embora se tenham efectuado medições das concentrações de PM10 em contínuo (monitor β), no que respeita às fracções fina (PM2,5), grosseira (PM2,5-10) e total (PM10), optou-se por apresentar e discutir os resultados essencialmente com base em medições gravimétricas, descontínuas. Na Figura 2, para ambos os locais e períodos em estudo, apresentam-se as concentrações de PM10 obtidas quer por gravimetria quer com o monitor β, assim como a razão entre as concentrações de partículas grosseiras e finas. Como se pode observar da análise desta figura, de um modo geral as concentrações de partículas PM10 medidas pelo monitor β são inferiores às detectadas gravimetricamente, sendo esta diferença mais acentuada no local junto à estrada, em particular no Inverno. A comparação dos registos directos da medição de PM10 por atenuação β para os dois locais, embora tenha apresentado boas correlações não evidenciou uma diferença de concentrações tão acentuada como aquelas calculadas com base em medições gravimétricas. Esta dissemelhança poderá ser artificial, visto estes aparelhos serem afectados pela natureza das partículas, provocando erros de quantificação significativos. Na Tabela 3, apresentam-se os Tabela 3 – Parâmetros de regressão entre os valores de concentração de PM10 medidos pelos métodos gravimétrico (x) e atenuação β (y) nos dois períodos de amostragem. Parâmetros de regressão linear Local Período Declive Ordenada na origem r2 Verão 0,77 -0,46 0,92 Junto à estrada Inverno 0,72 -1,67 0,92 Verão 0,96 0,17 0,90 Fundo urbano Inverno 0,96 -1,60 0,89 parâmetros de regressão entre os valores de concentração de PM10 medidos pelos métodos gravimétrico e de atenuação β para os dois períodos e locais de amostragem. Da análise desta tabela verificou-se que (i) o local junto à estrada apresentou declives inferiores aos calculados para o fundo urbano, e (ii) no Inverno, ambos os locais apresentaram declives inferiores aos de Verão. Estes resultados, para além de evidenciarem a importância da calibração destes analisadores, mostraram que a comparação de valores de PM10 provenientes de estações de medição diferentes e épocas do ano distintas deve ser efectuada após correcções baseadas em dados experimentais obtidos por gravimetria, em condições análogas. Os dois locais apresentaram entre si correlações relativamente elevadas de matéria particulada (Tabela 4), com o local de fundo urbano de um modo geral a mostrar valores inferiores, com diferenças mais acentuadas na fracção grosseira. Estes resultados evidenciaram o facto das emissões resultantes dos escapes dos veículos, bem como da ressuspensão provocada pelos seus rodados serem factores a considerar no controle dos níveis de partículas na atmosfera. Devido à precipitação, a concentração ambiente de partículas foi fortemente influenciada por fenómenos de lavagem, uma vez que nesses períodos a diminuição da concentração de matéria particulada foi bastante nítida (Figura 2). No Verão, detectaram-se níveis médios de partículas superiores aos registados no Inverno (Figura 3), tendo-se obtido neste último período menores contribuições da fracção grosseira para a concentração de PM10, em ambos os dois locais. No local de fundo urbano, as médias e os desvios padrão da razão [finas]/[grosseiras] foram 2,1 ± 1,2 e 1,4 ± 0,7, respectivamente para o Inverno e Verão, enquanto no local junto à estrada os valores foram 2,0 ± 0,9 e 1,1 ± 0,4. Os padrões diários de variação da concentração de PM10 não apresentaram diferenças significativas entre os dias úteis e o fim-de-semana, pelo que na Tabela 4 se apresentaram os dados não discriminados. A variação diária média da concentração de partículas PM10 apresentou uma grande dispersão de valores durante todo o período, com maiores amplitudes junto à estrada relativamente à estação de fundo urbano (Figura 3). As concentrações de PM10 mais elevadas de um modo geral foram atingidas no período de Verão durante a manhã, enquanto no período de Inverno foram observadas ao final da tarde, tal como ocorreu para o CO e o NOx. 3.3. Análise elementar às partículas PM2.5 e PM10-2.5 Na Tabela 4 apresentam-se resultados da análise elementar efectuada por PIXE às partículas PM2.5 e PM10-2.5 recolhidas em filtros Nuclepore. Da análise dos valores médios apresentados para os dois locais de amostragem, verificou-se que a maior parte dos elementos apresentaram concentrações superiores na estação junto à estrada relativamente ao fundo urbano. Elementos como o Cl e o Br exibiram concentrações muito semelhantes nos dois locais, com fortes correlações tanto na fracção fina como na grosseira, pelo que as suas concentrações não serão grandemente influenciadas pelo tráfego. O facto de ambas as fracções estudadas terem exibido declives bastante próximos da unidade levou-nos a concluir da existência de uma fonte de área. No caso do Cl, quer o facto deste se ter distribuído maioritariamente na fracção grosseira, quer das amostragens se terem localizado numa zona costeira, poderão ser fortes indícios que este Tabela 4 – Concentrações médias e parâmetros de regressão linear entre os locais junto à estrada (y) e fundo urbano (x) para os elementos quantificados por PIXE a. Elemento / Poluente Cl Br S Zn Pb Ca Ti Mn Fe K Si Rb Cu Sr Sb Zr Al Sn Ni Se V As Mo Ba Ga Cr 0 92 1,11 0,90 0,96 0,79 0,86 0,66 0,93 0,73 0,99 0,49 0,59 0,56 0,67 0,43 0,62 0,34 0,47 0,52 0,75 0,51 0,74 0,53 0,77 0,26 0,55 0,53 0,60 0,12 0,70 0,22 0,35 0,42 0,72 Ordenad a na -0 01 -0,04 0,0001 -0,0008 -0,006 0,05 0,001 0,003 -0,002 -0,01 0,1 0,02 0,002 0,001 0,002 0,002 0,06 -0,009 0,05 0,02 0,07 -0,01 0,0004 0,0001 0,003 -0,006 0,0005 0,0001 0,003 -0,003 0,001 0,0003 0,08 0,01 Coeficiente de correlação 0 98 0,97 0,95 0,93 0,91 0,97 0,97 0,98 0,94 0,92 0,86 0,85 0,88 0,84 0,81 0,95 0,82 0,88 0,89 0,97 0,85 0,91 0,79 0,91 0,78 0,91 0,84 0,81 0,60 0,89 0,78 0,78 0,83 0,70 0,70 0,001 0,90 0,76 0,0002 0,91 0,60 0,0002 0,87 0,80 0,0005 0,89 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c Fracção [JE]méd / [FU] méd b Declive Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina Grosseira Fina 1 57/1 42 0,32/0,32 0,006/0,006 0,008/0,007 0,33/0,25 1,97/1,74 0,13/0,089 0,43/0,41 0,020/0,013 0,13/0,12 0,69/0,45 0,28/0,18 0,38/0,023 0,017/0,013 0,015/0,0080 0,024/0,017 1,13/0,44 0,86/0,39 0,33/0,22 0,61/0,49 1,17/0,67 0,054/0,039 0,003/0,002 0,003/0,002 0,066/0,020 0,065/0,030 0,004/0,003 0,002/0,001 0,021/0,005 0,017/0,009 0,008/0,003 0,044/0,002 0,57/0,32 0,031/0,024 0,008/0,004 0,022/0,016 0,004/0,003 0,011/0,008 0,0003/0,0003 0,001/0,001 0,004/0,003 0,014/0,012 0,0006/0,0005 0,002/0,002 0,005/0,002 0,004/0,001 0,04/0,02 0,03/0,02 0,0005/0,0003 0,0004/0,0003 0,009/0,005 0,008/0,006 c c c c c c c c c c c c c c c Número pontos 99 65 91 75 92 93 95 89 90 89 96 92 92 81 74 84 88 91 93 92 90 82 82 87 91 91 92 85 41 38 96 93 85 73 60 76 37 88 51 81 70 87 51 51 48 46 60 61 43 16 61 44 a Total de Grosseira 16,0/11,4 0,60 1,75 0,87 98 Fina 22,9/18,0 0,81 -0,41 0,95 96 partículas agruparam-se os dados de Verão com os dados de Inverno; b [JE]méd e [FU] méd concentrações médias Verão 70 Junto à estrada Fundo urbano PM10 (µg.m-3) 60 50 Semana Fim-de-semana 40 30 20 10 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 Hora 00:00 Inverno 70 Junto à estrada Fundo urbano PM10 (µg.m-3) 60 50 Semana Fim-de-semana 40 30 20 10 0 00:00 08:00 16:00 Hora 00:00 08:00 16:00 junto à estrada e em fundo urbano; c a distribuição de pontos não se aproxima a uma recta. Figura 3 – Representação gráfica dos valores médios diários de PM10 (monitor β) para os dois períodos de amostragem. terá como origem principal o sal marinho (Valius, 2003). O Br, ao contrário do Cl, distribuiu-se de forma semelhante pelas duas fracções. O S, Zn e Pb apresentaram-se maioritariamente na fracção fina, exibindo concentrações semelhantes em ambos os locais (declive próximo da unidade). No entanto, a fracção grosseira apresentou concentrações bastante mais elevadas junto à estrada, como se verificou pelo declive significativamente inferior à unidade e pelos valores médios apresentados. Este facto indiciou que estes elementos não terão tido a sua origem numa contribuição eminentemente local nem pontual, mas sim num transporte regional efectuado a longas distâncias, com as partículas finas como veículo preferencial por possuírem um tempo de permanência na atmosfera mais elevado. Por outro lado, o facto de no local junto à estrada esses elementos possuírem concentrações mais elevadas na fracção grosseira, indiciou a possibilidade de terem outra fonte local, como por exemplo a ressuspensão de poeiras ou o desgaste dos travões e pneus originado pela passagem dos veículos. Outros elementos como o Ca, Ti, Mn, Fe, K, Si, Rb, Cu, Sr, Sb, Zr e Al, nas duas fracções estudadas apresentaram relações aproximadamente lineares, exibindo concentrações mais elevadas junto à estrada (declive bastante inferior à unidade). Estes elementos parecem estar associados à presença de tráfego automóvel (escapes, travões, desgaste de pneus e ressuspensão), podendo atribuir-se as elevadas correlações ao facto do local de fundo urbano se encontrar sensivelmente no centro de um conjunto de artérias principais que rodeiam a área. No caso do Ni, Se e V, apenas a fracção fina apresentou um comportamento semelhante aos elementos anteriores, exibindo uma fraca correlação para a fracção grosseira. Estes elementos encontram-se normalmente associados à queima de combustíveis fósseis (Pio, 1998). O As, Mo, Ba, Ga e Cr, obtiveram uma fraca correlação entre os dois postos de amostragem para as duas fracções estudadas, exibindo concentrações médias mais elevadas junto à estrada. Este facto sugeriu a existência de outras fonte(s) localizada(s) nas imediações de um dos postos de amostragem, podendo a direcção do vento e/ou a maior proximidade de um dos locais de amostragem serem responsáveis pelas diferenças observadas (por exemplo, o As é normalmente associado às emissões resultantes da queima de carvão). No entanto, o facto do erro de quantificação destes elementos poder ser elevado relativamente à sua concentração real (obtiveram-se algumas concentrações negativas, só justificáveis pelo facto das concentrações serem da mesma ordem de grandeza do limite de detecção para esse elemento), poderá mascarar a análise. 4. CONCLUSÕES Este estudo, apesar de ainda não se encontrar completamente concluído (apresentam-se aqui apenas uma parte dos resultados do projecto, que globalmente inclui por exemplo análises de iões por cromatografia, de compostos orgânicos por GC-MS, etc.) evidenciou o importante papel desempenhado pelo tráfego na qualidade do ar dos centros urbanos, revelando que locais afastados algumas centenas de metros entre si podem apresentar concentrações de poluentes bem distintas, principalmente aqueles associados às emissões rodoviárias, como por exemplo o CO, o NOx, partículas e alguns metais. O local situado na proximidade das principais vias apresentou níveis de poluição que em alguns casos atingiram mais do dobro do local de fundo urbano. As variações diárias, semanais, sazonais e espaciais dos poluentes estudados evidenciaram a importância das emissões (fontes), química (consumo e produção), diluição e transporte (fenómenos meteorológicos e processos de camada limite) na definição da evolução das suas concentrações num local pertencente a uma área urbana. A concentração dos poluentes gasosos primários NOx, CO e partículas exibiu um padrão diário e semanal que mostrou a influência do tráfego automóvel, enquanto o O3 (poluente secundário) sofreu o fenómeno inverso, com o seu padrão semanal de concentração inversamente proporcional ao volume de tráfego automóvel. No caso do O3, alguns factores micrometeorológicos poderão ter estado associados à definição do padrão diário da sua concentração. Por seu lado, o SO2 evidenciou uma elevada independência relativamente ao tráfego automóvel. Do ponto de vista sazonal, o NOx, o CO e as partículas exibiram concentrações mais elevadas durante o período de Inverno, com um padrão diário ligeiramente diferente do observado durante o Verão, e evidenciando a influência de processos de camada limite, tais como a altura da camada limite e inversões de temperatura. No caso do SO2 e O3, as concentrações foram menores durante o Inverno, tendo-se verificado a importância da disponibilidade de radiação solar na formação de O3. A concentração de partículas mostrou-se fortemente influenciada por fenómenos de lavagem, sendo mais baixa em períodos de chuva. Num mesmo local, a variação sazonal não foi muito pronunciada. No entanto, a contribuição das partículas finas foi em média maior no Inverno, e a concentração das partículas grosseiras foi mais elevada durante o Verão. Ao nível da composição elementar, verificou-se que ambos os locais apresentaram concentrações semelhantes de Cl, Br (ambas as fracções), Zn, S e Pb (fracção fina), o que poderá ter-se devido a um transporte regional mais do que a uma contribuição do tráfego local. O Zn, S e Pb, apesar de terem apresentado uma boa correlação entre os locais exibiram junto à estrada uma concentração da fracção grosseira superior. O Cl ocorreu maioritariamente na fracção grosseira, o S e o Zn principalmente na fracção fina, enquanto o Br e o Pb distribuiramse sensivelmente em partes iguais pelas duas fracções. O Ca, Ti, Mn, Fe, K, Si, Rb, Cu, Sr, Sb, Zr e Al, para as duas fracções estudadas apresentaram relações aproximadamente lineares nos dois locais de amostragem, com concentrações mais elevadas junto à estrada. Genericamente, o Ca, o Ti, o Fe, o Si, o Sr, o Zr e o Al ocorreram preferencialmente na fracção grosseira, enquanto o Mn e o K na fracção fina. O Rb e o Cu distribuíram-se igualmente pelas duas fracções, enquanto o Sb de forma mais irregular. Esta distribuição poderá estar associada às contribuições directa e indirecta do tráfego (gases de escape, travões e ressuspensão). A correlação entre os dois métodos de medição de partículas (gravimétrico e atenuação β) revelou-se boa. No entanto, a utilização do método por atenuação β a nível local requererá uma correcção dos valores registados pelos aparelhos, de modo a possibilitar a comparação de valores entre diferentes estações e épocas do ano. 5. AGRADECIMENTOS César Oliveira agradece à Fundação para a Ciência e a Tecnologia uma bolsa de pósdoutoramento. Agradece-se à CCDR – Norte a utilização de dados de monitorização da qualidade do ar da região do Porto, ao Instituto de Reinserção Social do Porto a cedência de instalações, e à Divisão de Tráfego da Câmara Municipal do Porto as contagens de tráfego. 6. REFERÊNCIAS Instituto do Ambiente (2003) Relatório do Estado do Ambiente 2002; Ministério das Cidades Ordenamento e Ambiente Pio, C., Ramos, M. e Duarte, A., (1998): Atmospheric aerosol and soiling of external surfaces in an urban environment, Atmospheric Environment, 32, 1979-1989. Qin, Y., Tonnesen, G. e Wang, Z., (2004): Weekend/weekday differences of ozone, NOx, CO, VOCs, PM10 and the light scatter during ozone season in southern California, Atmospheric Environment, 38, 3069-3087. Seinfeld, J. e Pandis S., (1998): Atmospheric chemistry and physics, from air pollution to climate change, John Wiley and sons, Inc., Nova York Vallius, M., Lanki, T., Tiittanen, P., Koistinen, K., Ruuskanen, J. e Pekkanen, J., (2003): Source apportionment of urban ambient PM2.5 in two successive measurement campaigns in Helsinki, Finland, Atmospheric Environment, 37, 615-623. WHO (1999) Air Quality Guidelines for Europe, 2ª Ed. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
Download