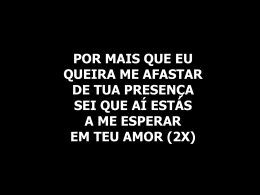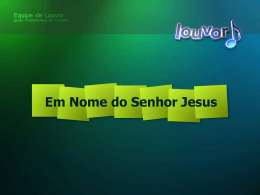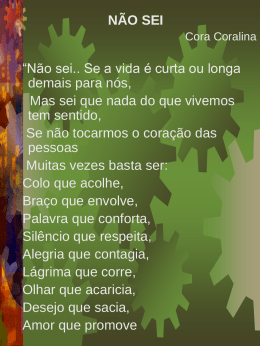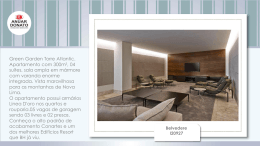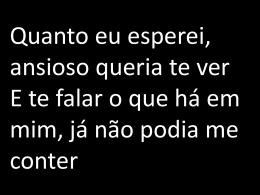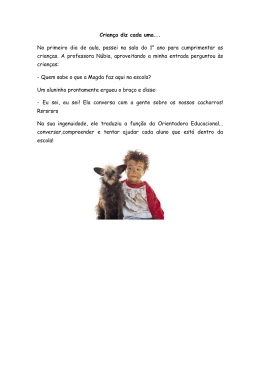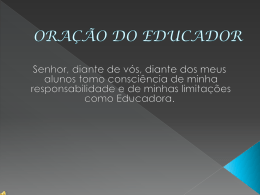se eu não preciso mais nem do que está dentro de mim, como você pode vir bater nesta porta atrás de restos? De pequenos objetos, sem importância, deixados para trás. Como pode atravessar a cidade toda para vir buscar esse seu tão pouco que sobrou? Porque eu não tive tempo. Está me ouvindo? Eu ainda não tive tempo de arrumar as suas coisas. Eu não achei nenhuma caixa de papelão pelo apartamento e não quis jogar tudo em uma sacola de plástico como a gente faz com o lixo, então eu. Acho melhor você parar de bater na porta desse jeito. Nesse mesmo ritmo. Com esse mesmo intervalo entre as batidas, como se tivesse ensaiado antes. Eu não vou abrir. Está ouvindo? Hoje serei a desobediente. A menina que, depois do não, escreve a mesma frase na lousa centenas de vezes até o final do giz. A teimosa que estende a mão para receber a força da régua. O sabão na boca. A que tenta se equilibrar, com a saia levantada, sobre as pernas do pai para não cair durante as palmadas fazendo vermelho na pele. Há anos coleciono castigos. E hoje novamente desobedeço. Não abro esta porta apesar da vontade de ver a sua cara de decepção do outro lado. Eu não estou morta como você gostaria. Eu ainda não estou morta. Sei que você desejava sentir um cheiro forte e azedo saindo por este vão aqui embaixo. Invadindo o 11 corredor. Que gostaria de bater e bater, sem parar, por horas e não ouvir nenhuma resposta; que adoraria voltar com o porteiro curioso para mexer na fechadura e arrombar o apartamento com um chute bem forte; que gostaria de me encontrar sobre o tapete, rodeada por meus gatos famintos, miando atrás de comida. Caída no escuro, com as janelas fechadas abafando o gemido de um sax no repeat do aparelho de som, mas. Eu não estou morta, está me ouvindo? Não completamente. Porque olha: as janelas estão abertas. O sol tem entrado quase todas as manhãs, teimoso, se contorcendo entre os vãos dos prédios da frente. Passando pelos mínimos espaços que encontra entre tantos obstáculos até aqui. É preciso abrir as janelas, não é? É preciso deixar que pelo menos um filete de sol passeie pelo apartamento todos os dias. É preciso de pelo menos um raio milimétrico de luz para que a planta não morra. Mais do que encharcar a terra com água, é preciso abrir as janelas, eu sei. Deixo aberta? Não. Pode fechar. As cortinas também? As cortinas também. Mas. Você estudou? Ontem. A tarde toda, depois da escola. E então? Tem um trecho que. Qual? No meio da música. Aqui? Não. 12 Me mostra. Tocando? Não. Com o dedo. Me aponte na partitura. Aqui. Aqui? Este trecho. Eu não passava dele. A tarde inteira apenas até ele como se meus dedos dessem um nó nessa parte. Se enrolassem entre o preto e o branco das teclas. Deixa eu ver. Este. Não. Agora tocando. Posso abrir as cortinas? Não. Mas assim eu. Não. Eu sei que poderia desvirar a chave e abrir poucos centímetros desta porta. Que poderia olhar a sua cara pelo pequeno espaço e falar tudo para os seus olhos, mas são os pequenos vãos que permitem a entrada de insetos silenciosos no meio da madrugada. E você invadiria o apartamento como um deles. Bicho nojento, de asas e antenas, atravessando a casa atrás de migalhas. De grãos caídos sobre o tapete. Se escondendo rapidamente em um canto escuro e gelado. Debaixo de um móvel. Atrás de um quadro. Entre os vestidos de festa ou na gaveta de calcinhas. No silêncio úmido de um dos armários. Mas eu não vou abrir. Hoje, não. Está me ouvindo? Porque vou voltar para onde estava. Para como estava. Para o que sentia. Ignorar suas batidas, nesse mesmo ritmo, e retornar para alguns minutos 13 atrás: pegar de novo a caneca de um café que deu errado – muito pó? – segurá-la entre as mãos, pelo menos para esquentar os dedos; encostar a cabeça no vidro da janela e olhar a cidade inútil. O labirinto de ruas. A vida banal e suas personagens imperceptíveis. Homens e mulheres confinados com seus pequenos problemas. Trancados no cada um por si com seus vícios e crimes imaginários. Vestidos de arame-farpado. Sorrisos forçados. Indo e vindo sem se olhar nos olhos. Tentando sobreviver na causticante repetição dos dias. De longe e por trás do vidro, pode parecer bonito. Um mar calmo, azul e perfeito. Uma água clara e translúcida que só revela seu mau cheiro, aos poucos. Com o avançar sobre a areia. Com o molhar dos pés na primeira onda. A distância engana. . . . . . . Dois minutos atrás, então: os cacos ainda espalhados pelo chão da sala, a caneca amarga descongelando os dedos das mãos, a testa encostada na janela, a respiração embaçando o vidro frio, o silêncio escorrendo pelas paredes, o olhar no prédio da frente e a inveja da mulher que preparava o jantar do outro lado do abismo que separa os nossos prédios. Até o silêncio interrompido por suas batidas infernais na porta, o desejo de ser a desconhecida da outra janela. A mulher que arrumava a mesa. Colocava os pratos. Distribuía os talheres sobre a toalha, antes de tomar o banho quente e escolher a roupa, nua, no meio do quarto. Peitos brancos moles e calcinha larga, antes da chegada do marido. Do jantar rápido 14 e calado. Das ligeiras trocas de olhares. Do filme vagabundo na televisão. Do sono virado para lados diferentes. É nos finais de tarde, no limbo entre o dia e a noite, quando o céu se disfarça de cores estranhas, que me sinto sozinha. Que invejo essas vidinhas perfeitamente medíocres. Pequenas. Ordinárias. Que sonho em estar no prédio da frente. Do outro lado do abismo. Dentro da outra janela. Na vida comum e sem graça de outra pessoa. Dias em que sonho com vidinhas de merda só para não estar sozinha. Só nós duas? Seu pai não vai jantar. Quer que eu retire? Não. Pode deixar. Talvez ele. O que foi? Nada. Você chorou? Não. Seus olhos. Não. Querer ser outro já foi algo obsessivo para você? Porque comigo agora isso, quase todos os dias. Os finais de tarde e a vontade de ser a desconhecida. A estranha que observo no outro prédio. A mulher que, do outro lado da rua, apenas cumpre seu roteiro mal escrito. Obedece. Que reproduz suas falas, silêncios e expressões, sem mudar nada. 15 CENA UM – INTERIOR/QUARTO – NOITE: vemos o rosto da mulher da outra janela iluminado pela luz de um pequeno abajur no canto do cômodo. Sobre o móvel de madeira, revistas amassadas, um copo de água pela metade, a pequena imagem de um santo qualquer e sua expressão de sofrimento, duas fotografias antigas. Vemos a mulher deitada sobre a cama. Tem um livro apoiado sobre o peito, mas os olhos parados. Não lê nenhuma linha. Não vira nenhuma página. Não está ali. Debaixo das cobertas, seus pés estão gelados e, apesar da existência de outros pés, talvez mais quentes, a poucos centímetros dos dela, mais uma vez dormirá com frio, assim que o pequeno comprimido tomado em um único gole de água fizer efeito. A mulher não sabe quem escreve seu filme ruim. Sua história diária. Seus capítulos estranhos. Seus episódios repetitivos. Quem arruma o cenário e coloca vidros de comprimidos sobre sua cabeceira. Filmes vagabundos na televisão da sala. Comidas sem sal, silêncios e poucas palavras em seus jantares. Mas pede, todas as noites, pela cena em que se levanta e vai embora. Sem trocar de roupa, sem fazer as malas, sem dizer nenhuma frase, ela apenas se levanta e vai embora. Como um dos ratos da fábula que seguia há tanto tempo o som da flauta que o conduzia e que, de repente, em uma noite qualquer, em uma esquina, em um beco cheirando a urina, simplesmente se cansa e decide deixar o grupo. Sair da fila. Virar para o outro lado e seguir sozinho. Todas as noites, com a comida cinza e marrom ainda pesando no estômago, preparando o gosto ruim e amargo que terá tomado conta de sua boca na manhã seguinte, a mulher sonha com sua cena final. Com um desfecho pelo menos para aquela história. Porque sabe que a vida são histórias dentro de histórias. Finais e finais provisórios até a última cena. Com o remédio fazendo efeito e as frases do livro embaralhadas, formando uma única mancha negra para seus 16 olhos, a mulher pede, como em um delírio de febre, para que o autor de seu roteiro prepare logo sua parte final: o levantar da cama, o atravessar do quarto. O abajur esquecido aceso. A porta deixada aberta. Os pés descalços pelo corredor. A descida das escadas até a rua. O olhar retribuído para a outra mulher que, com a cabeça encostada no vidro e uma caneca de café amargo esquentando as mãos, acompanha tudo do prédio da frente. Antes de descer pela calçada de camisola e cabelos despenteados, pretejando os pés na sujeira da cidade até o fim da rua, o final da última cena: o olhar devolvido para a mulher presa em uma outra história. Até sumir na esquina, desviando do lixo empilhado em um dos postes, o último olhar para o vulto no alto do prédio. Para a outra mulher que, naquele momento, deixa de observar a rua. Para a estranha, um pouco mais distante, que se afasta da janela ao ouvir o som de batidas. Para a mulher, em sua outra história, que não abre a porta, mas fala com quem está do outro lado: se eu não preciso mais nem do que está dentro de mim, como você pode vir bater nesta porta atrás de restos? De pequenos objetos, sem importância, deixados para trás. Como pode atravessar a cidade toda para vir buscar esse seu tão pouco que sobrou? Porque eu não tive tempo. Está me ouvindo? Eu ainda não tive tempo de arrumar as suas coisas. Eu não achei nenhuma caixa de papelão pelo apartamento e não quis jogar tudo em uma sacola de plástico como a gente faz com o lixo, então eu. Acho melhor você parar de bater na porta desse jeito. Nesse mesmo ritmo. Com esse mesmo intervalo entre as batidas, como se tivesse ensaiado antes. Eu não vou abrir. Está ouvindo? Hoje serei a desobediente. Sei que naquele dia eu também tinha jurado. Prometido a mim mesma que não abriria a porta, mas você chegou com aquela capa que guardava o cheiro de todas as chuvas que já havia 17 tomado e. Com o casaco mais comprido, por cima da roupa, misturando seu perfume com o de todas as gotas absorvidas nos últimos tempos. Antes de você subir, naquela tarde, eu espiei pela janela: você, parado em frente ao prédio no meio da chuva. Esperando, como se fosse derreter com a água que ia pelo chão. Se molhando ainda mais com as poças espirradas pelos carros. Com a sujeira escorrida da cidade. Com o caldo imundo e frio. Eu só deixei que você entrasse para salvar as flores. Naquela tarde, eu só permiti que você voltasse para poupar o que trazia debaixo do braço. Os botões sem defesa, despetalados pela chuva durante o caminho até o apartamento. Porque eu não queria abrir a porta, você sabe. Naquele dia, eu também não queria que entrasse de novo, mas. Você chegou com aquela capa que guardava o cheiro de todas as chuvas e. Será que você pode parar um pouco de bater? Pelo menos por um instante. Porque assim eu não consigo pensar no que dizer. E tenho certeza de que vou me arrepender depois. Sempre nos lamentamos mais tarde, não é? A vida inteira nos torturando com o mastigar de palavras e frases que deveriam ter sido colocadas para fora em momentos que só poderiam ser aqueles, mas que restaram dentro da boca para ser ruminadas até a morte. Enjoando o estômago até lá. Há tanto que deveria ter sido dito. Desse trecho. De chegar até ele. Está suando. Como se logo na primeira nota eu tivesse a certeza. Do erro? De que ele se aproxima. De que chegará de qualquer maneira. Pode ser que não aconteça. Desde a primeira tecla afundada com o indicador ainda levemente, eu sei. Não vou conseguir. Todas as tardes, depois da escola, apenas isso e. Eu sei. Por que não consigo? Talvez precise de mim por aqui mais vezes. Não. De mais aulas. Não. O quê? Eu não quero. Que eu venha? Não. Me apresentar. Eu não quero me apresentar. Está suando. Não se preocupe com a partitura. Mas. Eu viro. Você sabe. Não é isso. Então? Medo. De quê? 18 Posso abrir a janela? Não. 19 Mas hoje não chove. E não há flores nem botões despetalados. Ramalhete debaixo do braço a ser recuperado na água limpa de um vaso de vidro. Hoje você não me trouxe nada, não é? Apenas as duas mãos fechadas em forma de soco prontas para bater infinitas vezes no pedaço de madeira que nos separa. Nada, eu sei. Apenas esse desejo de encontrar o silêncio do outro lado da porta. Apenas a vontade de sentir o cheiro azedo e insuportável pelo vão. De ouvir o ruído desesperado dos gatos cheios de fome me rodeando atrás de comida – já falamos disso? Hoje, você não me trouxe nada, eu sei, além da vontade de arrombar a porta com um chute violento e colocar seus restos dentro de uma caixa. De atravessar a cidade de volta levando embora, de uma vez por todas, o pouco que ficou. Foram esses livros, não foram? É por isso que você os quer de volta. Seus romances ruins. Suas poesias baratas. Suas peças vagabundas. Eu não mexi em nada. Eles continuam empilhados no canto da sala porque eu mudei pouca coisa aqui dentro. Ainda. Se você entrasse agora veria que quase tudo permanece do mesmo jeito. O mesmo cenário dos seus últimos atos. O mesmo palco das suas últimas cenas. As cortinas pesadas escancaradas. Os refletores acesos para iluminar seus gestos afetados e sua voz impostada. As marcações de movimento desenhadas em giz sobre o chão. Os cartazes de letras tortas lembrando as partes mais difíceis de ser decoradas. As fileiras da frente reservadas para seus convidados. A bilheteria aberta para vender mais ingressos. Seu teatro. Eu não mexi em nada ainda. Apenas nas fotos. Já disse que troquei as fotos? Todas. Porque não aguentava mais seus sorrisos pelos cantos. Seus olhos pregados nas paredes observando os meus dias. Suas miniaturas vivendo em cima dos móveis. Ao lado da cama. Sobre o velho piano, como se nada tivesse acontecido. Como se a última noite não tivesse existido. Você, em todos os lugares do apartamento. Em todos 20 os momentos. Olhando os meus sonos. Ouvindo as minhas conversas. Acordado, me fazendo companhia nas insônias sem que eu pedisse. Sem que eu quisesse. Pares de olhos arregalados pela casa, brotando por todos os lados. Espiando, do corredor, meus banhos de porta aberta. Minhas saídas e minhas voltas. Meus choros. Minhas febres. Escutando minhas orações. Aplaudindo minhas danças no meio da sala. Cantarolando com meus assobios desafinados. Descobrindo os segredos que carrego nos bolsos. Fantasma controlando os meus horários. Por isso, eu troquei as fotos. Todas. Por coisas da infância, já disse? No seu lugar, agora, um outro passado. Mais distante. Em vez de seus olhos, os de uma menina descolorida pelo tempo. Amarelada. Pelo apartamento, no lugar de seus sorrisos de fotografia, uma criança de roupas delicadas e olhares duros, desbotando aos poucos. No lugar de seus retratos, agora, os de uma menina que me pergunta todos os dias quando olho para ela, sem querer: Por que não cuidou de mim? – Não sei., eu sempre respondo. – Não sei., eu ia responder, hoje de novo, um pouco antes de sua chegada. Minutos antes de sua primeira batida, eu 21
Download