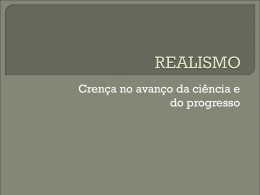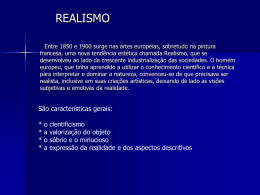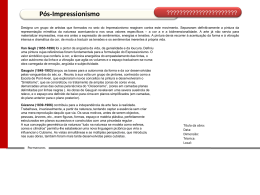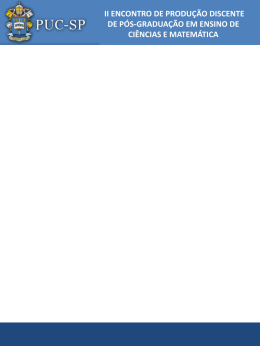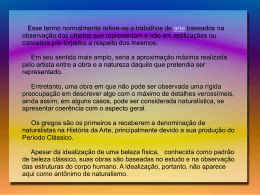Breve análise de uma pintura religiosa chinesa Bony Braga Schachter Universidade do Estado do Rio de Janeiro Resumo: breve análise de uma pintura religiosa chinesa. Trataremos de identificar o tema, entendendo como a pintura se configura como discurso artístico sobre teologia e poder. Principiemos pela definição do nosso objeto: uma pintura sobre seda proveniente da dinastia Ming (século XVI) que encontra-se no Monastério da Nuvem Branca, em Beijing, possuindo 140 x 80 cm (figura 1). Quando junto de outras duas imagens ela forma o conjunto denominado pelo taoísmo de Tríplice Transparência, os deuses mais elevados do panteão. Sabemos, portanto, a matriz cultural de nossa imagem: a religião taoísta. Cumpre assinalar com veemência: o taoísmo é uma religião (e os próprios taoístas das diversas ramificações entendem a si mesmos como religiosos, o que por si só basta para classificar sua prática dentro de tal categoria), dotada de uma estrutura hierárquica, um clero institucionalmente organizado (em diversas escolas e ramificações) que, de uma forma ou de outra, tem sua origem histórica no movimento iniciado em fins da dinastia Han (aproximadamente 206 a.C. A 220 d.C), na atual Sichuan, liderado por Zhang Daoling. Segundo a tradição taoísta, ele teria recebido de Taishang Laojuni, no ano de 143 d.C., os princípios e diretrizes de uma nova relação entre os deuses e os homens. Segundo a Associação taoísta da China: “O caminho ZhengYi, também denominado ramificação ZhengYi, tem suas origens no fim da dinastia Han com o caminho da Poderosa aliança ZhengYi de Zhang Daoling, depois denominado caminho do Mestre Celestialii”. O caminho do Mestre Celestial, em seus primórdios, tinha um caráter teocrático e pretendia construir um reino celeste na terra, um reino que seria possível depois de uma série de calamidades e catástrofes (cuja descrição podemos encontrar em diversos textos do cânone taoísta). Na história as coisas não surgem do nada. A religião preconizada por Zhang Daoling tem seus fundamentos nos antigos cultos locais e estatais rejeitados, no entanto, como práticas inferiores e, até mesmo, perniciosas e demoníacas. O movimento era contra o culto aos seis céus (liutia 六 天 ), um termo do confucionismo Han que, segundo Kristoffer Schipper, denota o panteão dos santos e deuses do Estado. Um dos princípios básicos do taoísmo de Zhang Daoling era a rejeição dos sacrifícios onde o sangue de animais imolados (e outrora até mesmo de pessoas) era derramado. Um fato notável é a importância do pensamento e da imagem de Laoziiii para o caminho do Mestre Celestial. Os deuses do Estado e dos cultos populares não estavam no mesmo plano transcendental da verdade revelada por Laojun a Zhang Daoling. A verdade contida no livro do caminho e da virtude só seria acessível por meio do culto aos verdadeiros deuses e da prática de transformação de si mesmo pelas técnicas corretas. Zhang Daoling transferiu seus poderes religiosos ao filho Zhang Heng que, por sua vez, investiu o filho Zhang Lu da mesma autoridade. Segundo Terry Kleeman, Zhang Lu deveria ser considerado o verdadeiro organizador do grupo. Registros históricos descrevem o território sob o governo de um Mestre Celestial como sendo dividido em vinte e quatro regiões, cada uma dirigida por um líder e contando, também, com locais onde os famintos e mendigos poderiam comer e beber de graça. O caminho do Mestre Celestial também ficou conhecido como o caminho dos cinco celamins de arroz por causa da contribuição anual de cinco dou (uma medida antiga que equivale a nove litros) de arroz de seus membros, o que garantiria a manutenção das práticas de caridade. Zhang Lu estabeleceu na região de Sichuan, em aproximadamente 180 d.C., um Estado teocrático independente onde funcionários Han foram substituídos por oficiais do Mestre Celestial até que, em 215, o Estado taoísta foi submetido por Cao Cao ,das forças imperiais, de maneira amistosa. Tão amistosa que aquilo que poderia ter resultado num sangrento conflito armado acabou, na verdade, numa aliança entre as famílias do Mestre Celestial e do líder militar, já que seus filhos casaram. Ainda segundo Kleeman, seis razões principais residem nas origens do movimentoiv. Os praticantes da religião parecem, desde o início, estar preocupados com ataques demoníacos e práticas de exorcismo, como pode ser confirmado na liturgia do taoísmo contemporâneov, que clama participação direta na linhagem de Zhang Daolingvi. É muito comum o leigo confundir taoísmo com budismo, ou simplesmente desconhecer a existência de uma religião taoísta. Isso é justificável pois alguns elementos iconográficos da arte budista podem ser vistos nas imagens do taoísmo. Também é bom esclarecer que o budismo é uma religião nascida na Índia, brotando do seio da cultura hindu (como heresia), tendo sido difundida posteriormente na China, no Japão e em outros países. Talvez caiba aqui o comentário de Gombrich acerca da arte chinesa em The Story of art. O historiador identifica, na arte chinesa, duas características que podemos distinguir na pintura que olhamos: dignidade e graça, além de ausência de rigidez e um senso de movimento, que é muito presente na imagem do Senhor Celestial do Princípio Inicial, que usa muitas sinuosas. Ainda segundo Gombrich: Chinese artists did not go out into the open, to sit down in front of some motif and sketch it. They even learned their art by a strange method of meditation and concentration in which they first acquired skill in 'how to paint pine trees', 'how to paint rocks', 'how to paint clouds', by studying not nature but the works of renowned masters. Only when they had thoroughly acquired this skill did they travel and contemplate the beauty of nature so as to capture the moods of the landscape. De fato, quando olho para o motivo de nuvens em torno da imagem do deus, a impressão que tenho é de que elas são formadas a partir de um vocabulário plástico preciso, como a escrita chinesa que, com apenas 26 traços básicos compõe um silabário com mais de 15000 caracteres. O que quero dizer é que, de fato, em pintura chinesa, existe um método preciso que ensina, como bem observou Gombrich, a 'como pintar' um grande número de motivos, desde nuves, árvores, bambus e pedras até dragões e tigres. Não apenas um senso de movimento orientou o artista como, também, um senso de simetria. A pintura poderia ser dividida em duas partes, então obteríamos semicírculos, pelo corte daqueles motivos que parecem ser duas espécies de grandes auréolas que se projetam em todas as direções a partir das costas, e tais auréolas parecem, também elas, ser formadas a partir de um vocabulário plástico. A divindade, em sua vestimenta azul, está sentada sobre um trono que se eleva aos céus. Ao fundo, e bem no alto, podemos identificar formas que remetem à corte celeste, o que aumenta a sensação de verticalidade que certamente era uma intenção do artista nos passar. As cores que predominam são o verde, o azul e o vermelho, que salta à nossa vista pelo contraste com as cores frias. O Senhor Celeste está envolto em nuvens. O espaço externo às nuvens é azul como as suas vestes, enquanto que o espaço interno, que toca o seu trono e preenche a distância das auréolas ao corpo é pintado em verde. Com isso o artista criou um equilíbrio interessante entre o espaço do corpo divino e o espaço místico que o cerca. E tanto um espaço como o outro se comunicam pelo uso de cores iguais. O espaço místico e o corpo divino são uma e a mesma coisa. Também é possível que o pintor tenha seguido as instruções de Xie Hevii (謝赫) – da dinastia Liu Song, 420 a 479 d.C. aproximadamente –, um teórico da arte e historiador. A pintura nos mostra uma série de elementos: nuvens, o trono, o gesto que o deus faz com a mão direita, bem como o objeto que segura com a esquerda, o gorro no alto de sua cabeça, a flór de lótus, as duas auréolas. Cada um desses elementos tem um significado preciso dentro da tradição taoísta, portanto, cada um simboliza alguma coisa. Elementos iconográficos que sempre se repetem nas diversas representações da divindade são: auréolas (às vezes apenas uma, circundando sua cabeça), seu trono, o gorro e o manto. Elementos que variam: o uso de trigramas (os símbolos provenientes do livro das mutações, constituídos de linhas inteiras e interrompidas) nas vestes, os gestos feito pelo deus, que em algumas pinturas é representado segurando um bastão de jadeviii, enquanto em outras segura um objeto redondo, semelhante a uma pérola. O deus está envolto em nuvens. Levando em consideração a função religiosa da imagem, é interessante notar que o rito taoísta tem início com a oferenda de incenso. Algumas canções de oferta de incenso descrevem como nuvens perfumadas o vapor produzido pela sua queima, e que permitiria a comunicação com os deuses. Os motivos de nuvens criam uma continuidade entre o espaço físico do altar e o espaço pictórico, quando celebrados os ritos. Ao fundo, nós podemos ver a cidade de jade, como fica claro quando lemos na liturgia, na Canção dos três tesouros: o caminho está na montanha cidade de jade. Na montanha cidade de jade a lei foi revelada. A revelação da lei beneficia o homem e o céu.ix O termo caminho é uma referência ao Senhor Celestial do Princípio Inicial. Isto pode ser confirmado através do texto do daozangx denominado Tratado da obtenção do caminho do céu anterior revelado pelo Senhor Celestial do Princípio Inicial ( 元 始 天 尊 說 先 天 得 道 經 ) onde, logo na abertura do texto, o referido deus é mencionado no seu palácio celeste, na montanha cidade de jade. Também o uso das cores é simbólico, contribuindo para a função religiosa da pintura. Segundo a tradição, há cinco energias fundamentais, que representam de modo diagramático o movimento do sopro que gera o universo. A cada uma dessas cinco energias estão relacionados: uma cor, dois órgãos do corpo, uma nota musical, um tipo de sabor e uma virtude. As energias são denominadas de cinco movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. O Senhor Celestial do Princípio Inicial é entendido pelos taoístas como o sopro gerador de todas as coisas. Para esclarecer a afirmação talvez seja necessário aumentarmos nossa compreensão acerca da teologia taoísta. Para isso recorreremos às palestras proferidas pelo Mestrexi Wu Zhi Cherng no Templo da Sublime Transparência (Rio de Janeiro), registradas em dois volumes do Iniciação ao taoísmo: Todos os quatro céus estão dentro do Rei de Jade e cada qual tem a claridade e o tamanho do Rei de Jade. Esses cinco [o Rei de Jade e os Reis do Sul, do Oeste, do Norte e do Leste] da Consciência Universal na hierarquia do estudo da Teologia Taoísta. [...] cada um desses quatro céus da Onipotência se desdobra em mais sete céus. Criando os sete céus do Oeste, do Leste, do Norte e do Sul. Sete multiplicado por quatro é igual a vinte e oito. Então formam-se vinte e oito céus na terceira escala da hierarquia universal. [...] Sem querer complicar: cada um dos vinte e oito céus ainda possui sessenta e quatro subdivisões. [...] Sendo assim, multiplicando-se sessenta e quatro por vinte e oito, formam-se mil setecentos e noventa e dois céus. [...] Existe um tratado imenso que descreve um por um todos esses céus. [...] Começa com o céu do Rei de Jade e vai descrevendo um por um até terminar com sexagésimo quarto dos vinte e oito. No trecho acima, o Mestre Wu está se referindo à hierarquia celeste do panteão taoísta. Para entendermos claramente a teologia taoísta podemos fazer um paralelo seu com a metafísica de Espinosa, tal como foi descrita por Julián Marías em História da filosofia: Espinosa define Deus como o ente absolutamente infinito; ou seja, a substância que contém infinitos atributos, cada um dos quais expressa uma essência eterna e infinita. Esse ente coincide com a única substância possível. É o ente necessário e a se, e fica identificado com a substância; os atributos desta são os infinitos atributos de Deus. E este Deus de Espinosa, igual à substância, é natureza. Deus sive natura, diz Espinosa. A substância – ou seja Deus – é tudo o que existe, e todas as coisas são afecções suas. É, portanto, natureza num duplo sentido: no sentido de que é a origem de todas as coisas, – a isso Espinosa chama natura naturans; mas, por outro lado, Deus não engendra nada distinto d`Ele, de modo que que é natureza num segundo sentido: as próprias coisas que emergem ou brotam – e a isso chama natura naturata. O sistema de Espinosa é, portanto, panteísta. [...] Ser não quer dizer em Espinosa ser criado por Deus, mas simplesmente ser divino. A última linha de Marías é muito precisa, muito clara. O Deus de Espinosa é uma heresia do ponto de vista da teologia cristã pois para o cristianismo, como deixa claro Julián Marías, o “conceito que permite interpretar o ser do mundo desde o de Deus é o de criação.” E a teologia panteísta de Espinosa está muito distante da concepção de Deus como criador: antes, o ser do mundo é emanação de Deus, não sua criação. [...] o cristão parte de uma posição essencialmente distinta da grega, ou seja, da niilidade do mundo. Em outras palavras, o mundo é contigente, não necessário; não tem em si sua razão de ser, mas a recebe de outro, que é Deus. O mundo é um ens ab alio, diferentemente do ens a se divino. Deus é criador, e o mundo, criado, dois modos de ser profundamente distintos e talvez irredutíveis. [...] A criação não deve ser confundida com o que os gregos chamam de gênese ou geração. [...] Na criação [...] não há sujeito. Deus não fabrica ou faz o mundo com uma matéria prévia, mas o cria, o põe na existência. A criação é criação a partir do nada; segundo a expressão escolástica, creatio ex nihilo; de modo mais explícito, ex nihilo et subjecti. Mas um princípio da filosofia [cristã] medieval é que ex nihilo nihil fat, do nada nada se faz, o que pareceria significar que a criação é impossível, que do nada não pode resultar o ser, e seria a fórmula do panteísmo; mas o sentido com que essa frase é empregada na Idade Média é de que do nada nada pode ser feito sem a intervenção de Deus, ou seja, justamente sem a criação. A concepção teológica do taoísmo está muito mais próxima do panteísmo de Espinosa que do pensamento cristão. Segundo o Mestre Wu Zhi Cherng, “Dentro da Teologia Taoísta, o Rei de Jade é a divindade suprema que governa todas as coisas. [...] o Rei de Jade é universal, estando em toda parte e em todas as coisas, inclusive em nós.” No entanto, inquirido por um ouvinte acerca da relação do Rei de Jade com o conceito ocidental de criação, o Mestre Cherng deixa de modo absolutamente claro o fato de a teologia taoísta entender Deus (Shen) como governador, mas não como criador. “O presidente é o criador do Brasil? Tampouco o Shen é o criador do Universo. Shen é aquele que governa o Universo. Por isso nós não chamamos o Shen de criador.” O Rei de Jade é uma emanação dos deuses mais elevados do panteão taoísta, que formam a Tríplice Transparência. Segundo a Associação taoísta da China (Continental): Dentro do suntuoso e solene Grande Palácio da Tríplice Transparência do taoísmo, regularmente são realizadas oferendas de modo correto à trindade dos Senhores espirituais, os mais elevados deuses do taoísmo, a Tríplice Transparência. A Tríplice Transparência compreende a Transparência de Jade do Senhor Celestial do Princípio Inicial, a Transparência Superior do Senhor Celestial do Tesouro do Espírito e a Transparência Sublime do Senhor Celestial do Caminho e da Virtude. A Tríplice Transparência está relacionada ao conceito de sanyi ( 三 一 ) da filosofia taoísta. O daodejing, capítulo quarenta e dois, diz: “O caminho gera o um, o um gera o dois, o dois gera o três, o três gera os dez mil seres. Os dez mil seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro. E se harmonizam através do esplêndido sopro.” Do grande dao sem nome é gerada energia primordial do caos, da energia primordial nascem as duas energias yin e yang, da união de yin e yang nascem o mundo e os seres vivos.xii A associação taoísta da linhagem Shang Qingxiii (上清), de Taiwan, por sua vez: Os ancestrais do caminho da Tríplice Transparência são denominados de o Senhor Celestial do Princípio Inicial da Transparência de Jade, o Senhor Celestial do Tesouro do Espírito da Transparência Superior, o Senhor Celestial do Caminho e da Virtude da Transparência Sublime. O Senhor Celestial do Princípio Inicial nasce antes do caos primordial, seu momento no universo é sem forma, sem energia, sem coisas, o sopro uno do Princípio Inicial se divide no sopro da verdadeira transformação, através da transformação do sopro uno há o três. Na vazia e natural instância celeste Daluo, a fragmentação da transformação causa o Princípio Inicial, o Tesouro do Espírito e o Caminho e a virtude, a Trindade dos Senhores Celestes. Este sopro uno também é chamado sopro ancestral do Princípio Inicial, [...] O Senhor Celestial do Princípio Inical está no Céu Qingwei da Sagrada instância da Transparência de Jade, também denominado Senhor Celeste da não-forma, Lorde do Tesouro Celestial; o Senhor Celestial do Tesouro do Espírito está no Céu Yuyu da Verdadeira instância da Transparência Superior, também denominado Senhor Celeste do não-princípio, Lorde do Tesouro Espiritual; o Senhor Celestial do Caminho e da Virtude está no Céu Dachi da Imortal instância da Transparência Sublime, também denominado Senhor Celeste da sagrada forma, Lorde do Tesouro Divino. A trindade dos Senhores Celestes unidos se chama dao (o caminho 道), mas habitualmente chamados de Tríplice Transparência (San Qing 三清 ), são os mais elevados deuses do taoísmo.xiv Não importa se o templo taoísta está localizado no Rio de janeiro, em Beijing ou em Taibei: se a tradição for ortodoxa e legítima, os deuses a ocuparem o lugar mais alto do altar serão os deuses da Tríplice Transparência. Recorramos a mesma ordem taoísta Shang Qing para sabermos mais sobre o Rei de jade: O Imperador Superior Rei de Jade, em tempos passados denominado Imperador Superior do Amplo Céu, de modo abreviado é chamado Rei de Jade. As escrituras sagradas do cânone taoísta dizem: O Rei de Jade está sentado no centro do Palácio dos Três Princípios da Transparência de Jade. Assim, o Imperador Superior Rei de Jade é brevemente denominado Rei de Jade. O Imperador Superior Rei de Jade é a transformação do Corpo da Tríplice Transparência no primeiro Divino Senhor da fronteira Taiji.xv O texto acima citado menciona uma certa fronteira Taiji ( 太 極 界 ). Há uma hierarquia celeste. Os textos sagrados chamam de Wuji jie ( 無極界 ) o plano do qual emanam todos os céus. A fronteira Wuji confunde-se com os próprios deuses da Tríplice Transparência, assim como o Rei de Jade se confunde com a fronteira Taiji. Wuji é também denominada pela tradição taoísta de céu anterior – ou seja, aquilo que precede a geração do universo; os textos litúrgicos, como a Canção da construção da plataforma suscitam imagens poéticas que sugerem que o céu, a terra e os seres vivos brotaram da união de yin e yang. A fronteira Wuji é formada por trinta e seis céus. Do Rei de Jade emanam, imediatamente, os quatro Reis denominados Violeta Sutil, Rei Celeste, Vida Eterna e Flor Azul, bem como o Senhor do Trovão e o Senhor da Salvação. Todo altar taoísta é regido por estes dois últimos deuses, representados pelos seus Ministérios que ocupam, respectivamente, as partes direita e esquerda do local onde são realizados os serviços religiosos. E os Ministérios representam a Justiça e a Bondade, duas das cinco virtudes reverenciadas por taoístas. Assim, Justiça e Bondade estão ligadas a dois do cinco movimentos do sopro original que nós mencionamos anteriormente: metal e madeira, respectivamente. Madeira, fogo, terra, metal e água são representados pelas cores azul, vermelho, amarelo, branco e preto. Há uma infinidade de técnicas de restauro da saúde que consistem na visualização de órgãos do corpo envoltos por luzes da mesma cor representativa do órgão. Por exemplo: o pulmão, segundo a medicina chinesa (que se baseia em princípios cosmológicos taoístas), é regido pelo metal. A técnica de reparo da saúde do pulmão, portanto, consiste em imaginá-lo envolto numa luz branca. O que nos interessa nessa simbologia das cores, onde cada uma tem um significado preciso e estabelecido pela tradição taoístaxvi, é que o pintor da imagem do Senhor Celestial do Princípio Inicial que se situa em Beijing usou as cores verde e azul para preencher tanto o espaço do corpo do deus como o espaço que o circunda – criando uma curiosa adequação entre a pintura e o discurso teológico. Além disso, devemos levar em conta uma peculiaridade da língua chinesa, que chama pelo mesmo nome as cores que chamamos de verde e de azul. Qing ( 青 ) é o vocábulo usado pelos chineses para se referirem, por exemplo a qingtian (céu azul 青天) ou a qingcai (vegetais verdes 青 菜 ). Os chineses também dispõem de vocábulos específicos para verde e para azul, intercambiáveis com os nossos. Mas isto não vem ao caso pois os textos litúrgicos usam o vocábulo qing para descrever imagens que nós não saberíamos como traduzir, se por azul ou por verde. Os textos de liturgia, por exemplo, denominam os dragõesxvii pelo termo Qinglong (青龍), que pode ser traduzido tanto por dragão azul como por dragão verde, embora não possamos saber, pelo texto, se o dragão é verde ou azul. As inúmeras pinturas chinesas que têm o dragão como tema representam-no em verde, amarelo ou roxo, ou são monocromáticas. Certamente a nossa visão é condicionada pela cultura em que vivemos. Mas o artista chinês, como nós, viu duas cores diferentes ao pintar o manto da divindade e o espaço que o circulava, mesmo que ele só dispusesse do termo qing para denominar aquilo que nós entendemos hoje como sendo duas cores. Para ser mais preciso, talvez possamos dizer (se tentarmos nos colocar no lugar de um chinês do século XVI) que ele entendia estar usando duas tonalidades diferentes da mesma cor para pintar tanto o espaço do corpo sagrado do Senhor Celeste como para pintar a aura misteriosa que o cerca, construindo, com isso, uma interessante alegoria da onipresença do sopro original que, simultaneamente, é o princípio de onde tudo emana e cada coisa emanada. O termo qing está relacionado às cores verde e azul que, por sua vez ligam-se, na cosmologia taoísta, à energia denominada madeira, cuja virtude atribuída pela tradição é a Bondade. A pintura do Senhor Celestial, que analisamos brevemente é, a um só tempo, um discurso sobre o poder e uma alegoria da Bondade do deus, bem como, já dissemos, da sua onipresença e da identidade existente entre o deus e o espaço que o circunda, o espaço celeste que ele legisla. Um dos textos mais importantes do cânone taoísta, o Tratado da Salvação (Durenjing) é entendido como tendo sido revelado pelo próprio Senhor Celestial do Princípio Inicial para o benefício de todos os seres: um registro da sua Bondade salvífica que gera, mantém e nutre todas as vidas. A justaposição dos poderes divino e temporal sempre esteve presente na história da China dos imperadores. Durante a dinastia Ming, o taoísmo foi muito apreciado pelos soberanos. O tipo de imagem que vemos na pintura do Senhor Celestial não pode ser entendida como reflexo das políticas imperiais. Muito pelo contrário, esse tipo de produção artística, que permite associar a imagem do sagrado com a imagem do imperador é, antes de tudo, uma força ativa e constituinte de uma determinada situação política, tendo sido empregada não apenas pelos Ming. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS FAIRBANK, J.K. China: uma nova história. Porto Alegre, RS: L&PM, 2007. GOMBRICH, E.H. The story of art. Londres: Phaidon, 2004. KITAURA, Yasunari. Historia del arte de China. Madri: Cátedra, 1991. KLEEMAN, Terry. Tianshi dao: way of the celestial masters. In: The encyclopedia of taoism. Londres: Routledge, 2007. MARÍAS, Julián. História da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. ROBINET, Isabelle. Taoism: growth of a religion. Califórnia: Stanford University Press, 1997. SCHIPPER, Kristoffer. The taoist canon: a historical companion to daozang. Chicago: The University of Chicago Press, 2004. WU, J.C. Iniciação ao taoísmo. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. Site: www.taoism.org.cn Sobre o autor Bony Braga Schachter é graduando em História da arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo apresentado duas comunicações sobre o tema na referida instituição. Desenvolve pesquisas sobre historiografia da arte e sobre taoísmo, tendo como foco o estudo de sua tradição de imagens e de sua produção literária analisando, principalmente, textos teológicos. Isto é, o Laozi deificado. i ii 正一道又稱正一派,其始祖是漢末張道陵及他開創的“正一盟威”之道,后稱天師道. iii O lendário escritor do livro do caminho e da virtude, deificado em 166 d.C. como Taishang Laojun. iv Que são, como seguem: (1)The Han Confucian understanding of an active Heaven and Earth that respond to human action (ganying) through natural occurrences that reflect their approbation or condemnation. (2) The prophecies and apocryphal texts (chenwei; see *Taoism and the apocrypha) that, appearing near the end of the Former Han, fed beliefs in esoteric meanings to traditional texts and encouraged the linking of signs or portents with dramatic political changes. (3) A widespread faith, evident first in Mozi (ca. 470-ca. 400 BCE), that Heaven has impartial, unwavering moral standards for humanity and that its representatives will reward and punish individuals for their adherence to or transgression of these precepts. (4) The growing popular belief that divine teachers like Laozi have played a significant, recurring role in Chinese political history, appearing age after age under different names and guises to act as advisors to emperors, and that these sacred sages continue to appear today in human form to guide the people and the government onto the right path. (5) A conviction among many that current natural and human disasters reflected divine disapproval of an increasingly evil world, that conditions would only worsen as disorder and civil war left commoners unprotected against both human and demonic malefactors, and that supernatural aid was essential for survival against the increasing threat. (6) A belief among some that this situation would worsen until a crisis was reached, when many would die, after which a realm of Great Peace would be established, where all members of society would be cared for and their basic needs met. v A invocação da luz dourada, por exemplo, registra: 萬神朝禮役使雷霆鬼妖喪膽精怪忘形內有霹靂 雷神隱名洞慧交徹五炁 輝騰金光速現覆護真人壇庭 O rito da dinastia dos dez mil deuses enviará os servos do trovão. Demônios tremerão de medo, espíritos se regozijarão da minha presença. Dentro há o poder do trovão, do espírito do trovão do nome secreto. Retornarei ao sagrado brilho, ascenderão os cinco sopros, a luz dourada: resguadará o homem sagrado, a entrada do altar. vi Hoje, portanto, a tradição taoísta alega que o atual Mestre Celestial é o sexagésimo quarto de uma linhagem ininterrupta. vii Em seu Registro de classificação dos pintores antigos (guhuapinlu 古 畫 品 錄 ), Xie He separa 27 pintores em três classes diferentes, de acordo com seus méritos, em três subdivisões. Além disso, a introdução desse texto de história da arte chinesa (baseado na análise das pinturas dos artistas) configura-se como um tratado de pintura. Xie He determina os Seis príncipios da pintura (huihualiufa 繪 畫 六 法 ) que dizem respeito aos critérios de verificação de qualidade de uma pintura, usados por ele para escrever a sua história da arte. viii Instrumento usado por sacerdotes para dirigir os cultos. A nobreza do material do bastão empunhado pelo sacerdote depende do seu grau hierárquico. O nível mais baixo é de sândalo. O mais elevado, usado apenas pelo Mestre Celestial, é feito de ouro. De acordo com a tradição oral, o instrumento era usado há séculos em audiências: a voz que se dirigisse ao Imperador deveria ser perfumada pelo bastão de sândalo. ix 道在玉京山玉京山說法說法利人天 x Ou seja, o cânone taoísta, cuja versão moderna é baseada num compilação da dinastia Ming que possui mais de 1500 textos. xi Mestre é um título relativo à posição ocupada na hierarquia sacerdotal, que consiste de 16 níveis. Wu Zhi Cherng, que fundou a Sociedade Taoísta do Brasil na década de 90, tinha o título de Alto Ofício, Mestre da Lei. Todos os sacerdotes taoístas recebem um treinamento formal de seus mestres, mas dependem da aprovação de um órgão denominado Comitê Central, que transmite diplomas e certificados que legitimam a competência de um indivíduo no que diz respeito à execução dos serviços religiosos. xii 在庄严肃穆的道教三清大殿中,通常供奉着神态端庄的三位尊神,这就是道教的最高神“三清”。三清即玉清元始天 尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,三清为道家哲学“三一”学说的象征。《道德经》第四十二章曰:“道生一,一生 二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。”由无名大道化生混沌元气,由元气化生阴阳二气,阴阳之相 和,生天下万物。 xiii São muitas as Ordens da religião taoísta. As duas maiores são a Ortodoxa Unitária (Zheng Yi) e Real Integrada (Quan Zhen). Há outras Ordens, como a Shang Qing, a Mao Shan, a Ling Bao etc. xiv 三清道祖為玉清元始天尊,上清靈寶天尊,太清道德天尊之合稱也。 元始天尊生於混沌之先,其時宇宙無形、無氣、無 物,元始一氣分真化氣,以一氣化而為三 ,在虛無自然的大羅天境,分化為元始、靈寶、道德三位天尊,此一氣亦稱元始 祖氣 [...] 元始天尊居於玉清聖境清微天,亦號無形天尊天 寶君;靈寶天尊居於上清真境禹餘天,亦號無始天尊靈寶君,道 德天尊居於太清仙境大赤天,亦號梵形天尊神寶君。三位天尊統稱為「道」,而習稱「三清 」,是道教最高之神。 xv 玉皇上帝,亦即上古時的昊天上帝,簡稱玉帝。道藏真靈位業圖說:「玉帝居玉清三元宮第一中位」,即以玉皇上帝簡 稱為「玉帝」[...] 玉皇上帝,乃是三清所化身的太極界第一位尊神. xvi xvii Ou seja, eu não estou supondo nada, apenas compartilhando dados obtidos em pesquisa de campo, através de entrevistas realizadas com sacerdotes da linhagem Zheng Yi. O dragão é um dos quatro animais míticos, que são os deuses do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste. Os outros são o tigre, a tartaruga e a fênix. A PLÁSTICA CORPORAL XAVANTE NO RITUAL DANHÕNÕ Cristina R.Campos – PPGARTES/UERJ RESUMO A plástica corporal Xavante está intimamente ligada à sua cosmologia e se configura em um “texto” eminentemente visual que reflete as concepções acerca da composição do universo e dos componentes que o envolve: a natureza, os animais e os espíritos. O Ritual Danhõnõ baliza a passagem dos adolescentes para a vida adulta e organiza a maneira pela qual o indivíduo se socializa na aldeia. As iniciações constituem um ciclo de cerimônias elaboradas e ricas em significados simbólicos, traduzem a natureza dual dessa cultura. Gestos, performances, cores e formas consolidam o sentido estético Xavante. Palavras-chaves: arte corporal Xavante, performance ritual, Danhõnõ. A arte faz o trânsito de ida e volta entre a prática e o discurso. Revela como se constitui o imaginário e a percepção dos homens a partir de suas visões de mundo, orientando o sentido das práticas e das formulações teóricas sob o critério da sensibilidade, dos afetos, dos vínculos, além das formas de valoração e sentido. Compreende-se assim a necessidade de elucidar novas condições, reconstruções e padrões de análise que exigem um alargamento do discurso artístico, uma vez que esse discurso pode se manifestar de outros modos em diferentes culturas. O próprio caráter expansivo da estética, com suas atuais contextualizações, torna inviável garantir – a priori – propriedades definidoras, exigindo uma atitude menos eurocêntrica da idéia de sensibilidade estética. A visão antropológica da arte vem desde o final do século passado se espraiando para além de suas fronteiras disciplinares. Possui a força de abertura para a alteridade. Price (2000) diz que, ao longo das últimas décadas, um número cada vez maior de estudiosos que aplicam o conhecimento da história da arte ao estudo da arte primitiva reconhece a necessidade de sutileza e cuidado na descrição da delicada interação entre a criatividade individual e os ditames da tradição ocidental. Alguns observadores ocidentais, que pensam que sua sociedade representa um fato singularmente superior na história da humanidade, insistem em cultivar a imagem de artistas primitivos como ferramentas não pensantes e não diferenciadas de suas respectivas tradições, a quem é essencialmente negado o privilégio da criatividade, devendo dessa forma continuar no anonimato. O ponto crucial do problema é que a apreciação 1 da arte primitiva quase sempre tem sido apresentada de forma falaciosa: ou é vista pela beleza exótica através das lentes de uma concepção ocidental ou pela antropologia de seu material. (PRICE, 2000). Price propõe uma reflexão sobre a natureza da experiência estética nas sociedades primitivas, reconhecendo a existência e a legitimidade dos arcabouços dentro dos quais a arte é criada: (...) a contextualização antropológica representa não uma explicação tediosa de costumes exóticos que compete com a “pura experiência estética”, e sim um modo de expandir a experiência estética para além da nossa linha de visão estreitamente limitada pela cultura. (...) A contextualização não mais representa uma pesada carga de crenças e rituais esotéricos que afastam da nossa mente a beleza dos objetos, e sim um novo e esclarecedor par de óculos. (PRICE, 2000, p. 134). A construção do instrumental metodológico para a percepção da arte corporal Xavante deve incluir uma discussão profunda do seu ambiente social e histórico com investigações acerca da natureza dos indicadores estéticos específicos dentro dos quais se mantém viva. Ou seja, como argumenta Isabela Frade (2004), através de uma intra-estética – não no sentido usado por Geertz quando critica os estudiosos que tratam as manifestações artísticas como se pertencessem a uma única categoria – mas quando se apropria do termo (intra-estética) no sentido de explicitar que cada grupo social constrói seu discurso artístico que legitima uma “forma” criando categorias próprias de eleição e fruição estética. No decorrer deste artigo, dialogo com outros pesquisadores, autores e antropólogos que contribuíram para o entendimento das estruturas conceituais que informam os atos do “sujeito” Xavante e para a construção de um sistema de análise em que o conteúdo simbólico revivido (reproduzido, relembrado, recriado, modelado...) possa ser abarcado a partir do seu próprio modelo discursivo. As fotografias cedidas pelo antropólogo Paulo Delgado, que esteve em 2005 na Terra Indígena São Marcos, MT; as fotografias de Rosa Gauditano publicadas no documento imagético – “Raízes do Povo Xavante” e as imagens dos Xavante da TI Sangradouro registradas no momento em que estive, em 2005, colhendo material para pesquisa de campo, contribuem e potencializam a análise que apresento neste trabalho. Investigo e interpreto alguns elementos da plástica corporal Xavante, suas articulações e ressignificações pela qual o “corpo Xavante”, pintado e 2 revestido com os paramentos cerimoniais, estabelece conexões entre os diferentes atores e as influências que fazem parte da pós-modernidade, compreendendo-o como locus privilegiado dessas relações que exercem ligações entre o global e o local. O DANHÕNÕ Os Xavante concebem que, na natureza, uma série de eventos e mudanças ocorre através da intervenção dos espíritos que são invocados em situações de liminalidade – ritos de passagem. Os ritos de passagem têm suas próprias funções: marca transições, marca o assumir de novos hábitos e responsabilidades. É uma cerimônia que sanciona, legitima o acesso de um indivíduo de uma fase a outra, de um status a outro, de uma esfera a outra. Os papéis rituais desempenhados pelos indivíduos são balizados e demonstrados a toda comunidade através dos objetos rituais usados na indumentária Xavante. Para Sullivan (1986 apud Müller, 1996), esses processos são realizados em ações de caráter estético, como a produção de sons, a execução do canto ritual, e são, por isso mesmo, compostos de sons simbólicos, isto é, dotados de significação, por meio da própria forma da ação. Trata-se de uma forma específica de ação simbólica. Essa forma criada no fazer é performance. Müller (1996) explica que do ponto de vista de Sullivan os rituais indígenas tratam-se das maneiras pelas quais os conteúdos de uma tradição são transmitidos – “performance cultural” – , ou seja, uma experiência simbólica da unidade de sentido que possibilita uma cultura se convencer da unidade do significado. Manifesta-se em articulações específicas e implica sinestesia. Do ponto de vista de Turner (1986 apud Müller, 1996) o processo ritual é entendido como uma experiência psicossomática que atribui sentido aos eventos dramáticos. Para ele tanto o ritual como a performance derivam da fase liminar do “drama social”. Nessa fase, os conteúdos das experiências do grupo são “reproduzidos, desmembrados, relembrados, remoldados, amoldados e, silenciosamente ou oralmente, dotados de significação”. (Turner op.cit.: 45). As duas abordagens (“performance cultural” nos termos de Sullivan e “drama social” nos termos de Turner) convergem para as mesmas indagações sobre a vida social. Nesse sentido, a performance ritual Xavante, no uso da voz 3 e do corpo apresenta suas experiências afetivas, emotivas e estéticas. A experiência está sempre sendo criada e é evocada pela performance, sendo conseqüência dos mecanismos poéticos e estéticos e dos vários meios comunicativos expressados simultaneamente. São momentos liminais e transformativos, caracterizados pela inversão, pela reflexividade e pela criatividade. É o nexo da tradição e da arte. No momento em que as regras que normalmente ordenam o cotidiano Xavante são invertidas para uma “ordem”, uma forma ritualística, transformadora, assinalada pela transição de status – de não-iniciados a iniciados – a arte corporal apresenta-se eclodida de expressividade e criatividade que favorecem um modo singular de apresentar o sentido estético desse grupo indígena. O ritual Danhõnõ é uma cerimônia que baliza a passagem dos adolescentes (wapté) para a vida adulta (ritéi’wa). A preparação para o Danhõnõ é feita em etapas, cada uma delas cuidadosamente elaborada e a confecção dos acessórios especialmente para as cerimônias têm a marca dos detentores da tradição (os homens maduros e os “velhos” 1 ), cada detalhe, se faz significativo quando integra a retórica artística Xavante. O Conselho da Aldeia composto por estes “sábios” homens seleciona e fixa, graças a acordos coletivos, os significados que regulam as performances rituais – os acessórios cerimoniais, a plástica corporal e o desempenho dos participantes são passíveis de apreciação. Tornam explícitas as definições que julgam valiosas. Antes do início do ritual, os adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, podendo variar para mais ou para menos, de acordo com a vontade dos pais, são tirados da família e passam a morar em uma única casa, o Hö (casa dos solteiros), onde ficam reclusos por cerca de cinco anos, só saindo para tomar banho, fazer as suas necessidades e, atualmente, para irem à escola. Maybury-Lewis (1984) salienta a importância de perceber que, quando se fala de “reclusão”, o termo é empregado no sentido restrito. Os jovens podem visitar suas casas e, se quiserem passar até mesmo parte do dia. Essa separação simboliza um distanciamento social em relação ao conjunto da sociedade, ou seja, marginal ao sistema. Esse tempo de reclusão não é totalmente ocioso. Aprendem as técnicas tanto cerimoniais quanto práticas; aprendem a caçar, a fazer suas próprias armas, suas esteiras de dormir, as canções públicas 4 (cantadas em ocasiões específicas) e também as particulares (sonhadas por homens maduros e de caráter forte). O autor conclui que o Hö (casa dos solteiros) é a pedra fundamental do sistema de classes de idade. Lá eles aprendem a participar do companheirismo que caracteriza o sistema e que supera distinções entre clã e linhagem. Os jovens sairão da casa dos solteiros unidos por laços de afinidade que os acompanharão por toda sua formação. Juntos participarão das cerimônias, das caçadas e da ornamentação corporal, entrelaçando seus destinos. No ano em que se estabelece para celebrar o Danhõnõ, o cultivo dos campos é cuidado de modo particular. Todos vão à caça de araras para arranjar penas necessárias aos paramentos cerimoniais. Quando termina a estação da chuva e tudo está pronto e o milho maduro, os patrocinadores – padrinhos 2 dessa cerimônia – fixam com os “velhos” o dia da abertura. Nesse dia, os padrinhos pintam-se de vermelho e colocam ao redor da cabeça uma fita de casca também vermelha. A franja do cabelo é pintada da mesma cor. O Danhõnõ, que só se repete de cinco em cinco anos, dura aproximadamente cinco meses e compreende várias cerimônias – batendo água, furação de orelhas, corrida do Nõni, dança das máscaras, dança dos padrinhos e a grande corrida final Sau’ri. Batendo água Completada a reclusão no Hö, os não-iniciados passam por rituais de imersão na água do rio. Caminhando em fila indiana (um atrás do outro), entram na água e começam a bater fazendo movimentos sincronizados (Figura 1), preenchendo o espaço com “formas” (gotas de água) que caem sobre suas cabeças proporcionando-lhes a purificação. Giaccarria (2000) argumenta que além do poder de purificação e fortalecimento que a água tem para os Xavante, ela faz com que os lóbulos das orelhas fiquem amolecidos, permitindo uma melhor perfuração. 5 Figura 1 – Wapté no rio batendo na água. Foto: Rosa Gauditano – 1995. Fonte: Raízes do Povo Xavante. São Paulo: Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e patrocínio Caixa Econômica Federal, 2003. Maybury-Lewis (1984) considera que o ritual de imersão está associado a um complexo de narrativas dedicadas a um único tema: “o poder criador”. Em cada caso, é sempre a categoria dos wapté (solteiros) que detém tal poder. Ele cria a água e passa a viver dentro dela, onde adquire uma aparência de grande beleza: engorda e sua pele se torna macia; seu cabelo brilhante cresce até o meio das costas. Seu afim vai visitá-lo na esperança de tornar-se igual. O criador wapté transforma seu afim em sapo e finge tratar de seu cabelo para fazê-lo crescer. O wapté passa então, a viver na água, isolando-se assim das outras pessoas. Durante o ritual, atestam simbolicamente a separação do wapté criador em relação a seus companheiros e ao outros homens, estabelecendo uma distinção de categorias, já que o jovem abandona por completo a terra, indo viver na água. Furação de orelhas Após aproximadamente trinta dias, os “velhos” se reúnem com os homens maduros, no warã (pátio central da aldeia), e decidem que é chegado 6 o tempo de furar as orelhas. Os pauzinhos são preparados com uma erva especial, chamada buruteyhi e são colocados em uma cabaça furada e tingidos com urucum. Ao raiar do dia, cada iniciando recebe ordens para sentar-se numa esteira que é colocada à frente da casa de seus pais, quando terá suas orelhas furadas. O padrinho, depois de ter pintado de vermelho a barriga e de preto as pernas, inicia a furação. Ajoelha-se com a perna direita. Com a mão direita segura o osso da perna traseira da onça parda para fazer o furo no lóbulo da orelha (Figura 2). Depois, retira da cabaça um dos pauzinhos e o introduz no orifício fazendo-o girar, à medida que retira o osso. Com as orelhas furadas, os jovens, que permaneceram impassíveis durante a cerimônia, levantam-se e entram na casa de seus pais, onde a irmã menor o pinta de preto, como já o fizera há um mês, todas as tardes. Figura 2 – Furação de orelha – Aldeia Pimentel Barbosa. Foto: Rosa Gauditano – 2001. Fonte: Raízes do Povo Xavante. São Paulo: Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e patrocínio Caixa Econômica Federal, 2003. 7 O corpo se apresenta pintado de vermelho na abertura da cerimônia e pintado de preto, no encerramento. Essa oposição é coerente com a que existe no pensamento Xavante, pois “o vermelho está associado à criação e, portanto, com início, enquanto o preto está associado à destruição e, portanto, com a idéia de fim”. (Maybury-Lewis, op.cit.: 317). Corrida do Nõni Durante aproximadamente trinta dias que sucedem à cerimônia da perfuração, os jovens participam diariamente de pequenas corridas que lhes proporcionam resistência e velocidade para as atividades subseqüentes. Os homens, por determinação dos “velhos”, limpam a aldeia por fora e por dentro e preparam uma pista para a corrida. Essa faixa começa a cerca de 50 metros da aldeia e inclui a casa dos solteiros e o local de reunião dos homens maduros. Dois troncos finos de árvores são plantados e dispostos de modo a servir como postes de chegada. Enquanto os homens preparam a aldeia, os jovens confeccionam enormes capas de palha, chamadas Nõni – um ajuntamento de folhas de buriti trançadas e amarradas juntas, que se leva na cabeça por meio de um cabo e se coloca sobre os ombros, como um manto. Um padrinho do clã Öwawẽ, escolhido pelos “velhos” para carregar a capa – o Nõni, recebe em seu corpo uma pintura diferenciada. A massa grossa do vermelho do urucum cobre todo seu tronco e braços. Nas costas, duas faixas largas na cor preta apresentam-se dispostas, uma ao lado da outra e seu cabelo preso na forma de um rabo-de-cavalo (Figura 3), no estilo adotado pelos Xavante nas ocasiões em que estão envolvidos em atividades cerimoniais. Os jovens se preparam para a corrida do Nõni recebendo na pele uma pintura específica para o evento – a forma retangular vermelha no estômago e nas costas. Nas pernas, o preto do carvão, aglomerado com óleo de babaçu. Usam “gravatas” no pescoço, que são confeccionadas com fios de algodão torcido – danhõredzu’a, e cordões novos de fibra vegetal – danipsi, nos punhos e tornozelos (Figura 4). 8 Figura 3 – Nõni. Figura 4 – Jovens pintados para a corrida – Aldeia Sangradouro. Fotos: Cristina R.Campos – 2005. Fonte: Arquivo particular. Quando todos terminam de se pintar, saem do Hö e se dirigem para a pista, em direção ao wedetede (três forquilhas de madeira que servem para apoiar o manto cerimonial), nesta ordem: primeiro os dois jovens do clã Poreza’õno – que recebe o nome Pahöriwá; depois os dois jovens do clã Öwawe – o Tebe; em seguida, todos os outros jovens que participam da corrida e, por fim, o Nõni. Chegando ao wedetede, pegam o manto e o colocam sobre os ombros do Nõni, que coloca a alça na cabeça, sustentando-o assim sobre as costas. Depois, voltam para a aldeia na ordem inversa. Uma outra dicotomia tem expressão no momento da realização das corridas. O portador do manto cerimonial, o Nõni, do clã Öwawe, inicia a corrida, finalizada pelos Tebe, do clã Öwawe, e Pahöriwá, do clã Poreza’õno, nessa ordem. A complementaridade é enfatizada também quando a classe de idade que está para deixar a categoria de rapazes, nesse momento pintados de preto – simbolizando o fim de sua condição de guerreiros, canta para a classe de idade que está sendo iniciada, estes pintados de vermelho – simbolizando sua passagem para a posição deixada vaga por seus antecessores. Acentuam, dessa forma, uma dialogia cromática expressa nas cores vermelho e preto. Após esse rito inicial, tem início a corrida (Figura 5) propriamente dita. Sr. Adão Top’tiro 3 , pajé da aldeia Abelhinha, relata que essas corridas não implicam uma competição. São demonstrações 9 cerimoniais, e cada desempenho é julgado individualmente de acordo com as limitações físicas de cada um. Porém, toda apresentação (organização, desempenho, habilidade na confecção dos paramentos e ornamentos corporais) é apreciada por todos. A platéia estimula os iniciandos, que correm com grande energia, apresentando sua melhor performance. Figura 5 – Corrida do Nõni – Aldeia Sangradouro. Foto: Cristina R. Campos – 2005. Fonte: Arquivo particular. Dança das máscaras Enquanto as cerimônias acontecem, os jovens e os homens da aldeia vão buscar broto de buriti, para a confecção das máscaras, e caçar. Terminada a caçada, os pais começam a fazer, cada um, a máscara wamnhõrõ para o próprio filho. Amarram as sedas do buriti com um cordão branco feito pelas esposas. Passam entre elas um barbante de algodão, feito pelo pai. Complementando as máscaras, correntes de semente de capim navalha, unhas de veado e penas de arara adornam os paramentos cerimoniais. Depois, pintam as folhas com listras verticais ou horizontais, conforme o clã. MayburyLewis (1984) explica que o wamnhõrõ é como cone de palha aberto embaixo, com uma fenda em um dos lados. Pode ser usado cerimonialmente como capa apoiada na cabeça ou carregado na mão direita, para poder ser balançado no ar pelos “dançarinos” durante a cerimônia de iniciação. Os padrinhos e todos os homens adultos da aldeia participam da dança das máscaras (Figura 6). Eles saem das suas casas segurando uma máscara e dirigem-se ao pátio, movimentando-se até formar um círculo. Cada clã, durante a dança, executa 10 um movimento particular. Todos ficam com as pernas abertas, com o pé esquerdo na frente, e marcam o ritmo com leves flexões dos joelhos. Figura 6 – Dança das máscaras – Aldeia Pimentel Barbosa. Foto: Rosa Gauditano – 1995. Fonte: Raízes do Povo Xavante. São Paulo: Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e patrocínio Caixa Econômica Federal, 2003. Essas máscaras são símbolos da própria iniciação e dos laços de afinidade contraídos a partir da cerimônia. A maturidade que os não-iniciados obtêm a partir dessas cerimônias implica em casamento e estabelecimento de relações específicas de afinidade com os padrinhos. Suas canções, danças e as máscaras, agitadas ao ar, estão intimamente relacionadas aos espíritos wadzepari’wa, que são malévolos e usam vários disfarces, todos eles aterrorizantes. Diz-se que esses espíritos são atraídos ao local onde as máscaras ficam dependuradas, durante o processo de confecção. Paralelamente, os Tebe ( Figura 7) fazem a sua apresentação no ritual, que irá durar toda a noite e os Pahöriwá (Figura 8) fazem sua dança ao sol. As danças dos jovens são sempre precedidas pelas apresentações dos pares que dançaram essas cerimoniais pela última vez, ensinando-os e orientando-os durante a cerimônia. Os Pahöriwá antecedentes ensinam aos novos os movimentos da dança, que se desenvolve da seguinte maneira: ajoelham-se sobre a perna esquerda, conservando a mão com os dedos trançados sobre o peito; depois ritmam uma batida com o pé direito na terra e giram a cabeça ora à direita, ora à esquerda; ajoelham-se e levantam-se percorrendo um breve trecho. O percurso dos dançarinos corresponde perfeitamente à idéia que eles 11 têm do caminho do sol; por isso, parece fundada a hipótese de que no sol e, mais precisamente, no itinerário que o sol faz no céu, inspira-se essa dança dos Pahöriwá. (GIACCARIA, op. cit. : 169). Figura 7 – Tebe. Figura 8 – Pahöriwá Ité (antecedente) – Aldeia Sangradouro. Fotos: Rosa Gauditano – 1995. Fonte: Raízes do Povo Xavante. São Paulo: Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e patrocínio Caixa Econômica Federal, 2003. Dança dos padrinhos Os padrinhos também têm sua performance, chamada Wanaridobê, para a qual se preparam em apresentações diárias, acompanhados pelas mulheres de sua classe de idade – as madrinhas. Dançam para os iniciandos todos os dias, de manhã e à noite, com função determinada de trazer alegria e de afastar as coisas ruins que acontecem eventualmente na comunidade. As apresentações são realizadas com a supervisão dos “velhos”, que exigem uma boa performance e contam com a apreciação da platéia formada pelo restante da comunidade. A dança dos padrinhos apresenta um passo bem marcado em movimento cíclico, enriquecida por um canto Xavante. Os componentes, para a realização dessa dança, além do vestuário vermelho ou preto, revestem a pele com uma diversificada pintura corporal. De acordo com Maybury-Lewis (1984), todos se pintam com urucum e argila branca. Fazem no corpo grafismos inspirados em animais e espíritos, utilizando para isso a tinta de jenipapo misturada com carvão (Figura 9). Os padrinhos surgem nos 12 momentos de clímax das cerimônias ostentando uma pintura corporal especial. “O efeito é intencionalmente fantasmagórico e os Xavante dizem que assim é “para amedrontar”. (Maybury-Lewis, op. cit.: 319). Figura 9 – Pintura dos padrinhos da Aldeia Pimentel Barbosa. Foto: Rosa Gauditano – 1992. Fonte: Raízes do Povo Xavante. São Paulo: Apoio institucional da Prefeitura do Município de São Paulo e patrocínio Caixa Econômica Federal, 2003. Tal concepção está associada à idéia de que a forma (o corpo adornado), como uma das expressões privilegiadas da metamorfose – humanos que são transformados em animais ou espíritos, é um “envoltório”, uma “roupa” a esconder a forma interna, dotada do poder de transformar a identidade de seus portadores. As “roupas” animais/espíritos não são fantasias, mas instrumentos que recobrem uma essência interna dotada das afecções e da capacidade que os definem. Os corpos são descartáveis e trocáveis, e “atrás” deles estão subjetividades formalmente idênticas à humana. (Viveiros de Castro, 2002). Esse é um caso específico em que a pintura corporal se apresenta para além dos padrões usualmente destinados às classes de idade, isto é, usada por indivíduos que se distinguem pelo exercício de funções rituais, incluindo a presença de mudanças estilísticas, com possibilidades de criações individuais reconhecidas e valoradas na sociedade Xavante. O conjunto dos pigmentos usados na pintura corporal dos padrinhos, além do urucum, do jenipapo, do carvão e da argila, atualmente conta com um novo material – o guache (Figura 13 10). A introdução de novos cromas – como o azul, o amarelo, o rosa e o laranja do guache – que se compõem com os tradicionais preto/vermelho remete-nos à reflexão sobre o papel tradicional da pintura: o que se apresenta é a geração de outras e novas composições. (Figura 11). Figuras 10 e 11 – Padrinhos das Aldeias Guadalupe e São Marcos. Fotos: Paulo Delgado – 2005. Fonte: Arquivo particular. Hiparidi Top’tiro 4 , presidente da Associação Warã Xavante, diz que a introdução da tinta guache é uma “questão política da época, uma questão atual. É uma criatividade. Isso é dinamismo”. Essas novas cores e materiais refletem as mudanças efetivadas pelo contato com a “sociedade nacional” 5 : a tinta guache, material introduzido pela escola e pelos estrangeiros que ocasionalmente visitam as aldeias, desperta na sociedade Xavante novas possibilidades de utilização e criação. (Campos, 2007). Além do novo pigmento-guache, eles também têm acesso a outros materiais artísticos industrializados e sucatados como, plumas, miçangas, tampinhas de remédio, lã, máscaras de carnaval, perucas e outros tantos que a criatividade do artista Xavante reclama nesse momento (Figuras 12 e 13). O uso desses materiais reflete a face criativa que irrompe na indumentária Xavante uma irreverente diversidade. Esses novos elementos plásticos se 14 tornam motivadores para a criação, apontando para uma nova inscrição do estético no processo de subjetividade e significação social. (Campos, 2007). Figuras 12 e 13 – Madrinhas das Aldeias Guadalupe e São Marcos. Fotos: Paulo Delgado – 2005. Fonte: Arquivo particular. Entendendo como questão atual a hibridização da sociedade Xavante, o revestimento corporal com o guache e outros materiais exógenos é uma alternativa inventada pelo próprio Xavante, que se rebusca com a novidade e as diversificadas possibilidades plásticas que esses materiais proporcionam. Os padrinhos gozam de um estatuto misto de apresentação; ao mesmo tempo tradicional, que eterniza o ritual, e inovador, que acrescenta novos elementos na plástica corporal dos participantes. O corpo se apresenta modificado e, cada vez mais, inventado/alterado, desafiando e, em alguns casos, incomodando os costumes tradicionais 6 . Corrida final Encerrada a cerimônia dos padrinhos, os jovens devem participar do Sau’ri, a corrida final – uma maratona realizada num percurso de 17 km, na hora mais quente do dia. Giaccaria (2000) conta que os jovens partem para a corrida, porém atrapalhados por dois homens mais velhos que jogam contra 15 eles um pó mágico. Os padrinhos partem para defender os afilhados. Correm junto com eles armados também do pó, que é colocado dentro do upawã (instrumentos de sopro) e soprado contra os adversários. Os jovens temem essa maratona, pois nela é preciso superar o cansaço e os obstáculos que são colocados no caminho pelos mais velhos. Se, durante o percurso ou após a chegada, algum jovem desmaia, as mulheres e seus parentes jogam-lhe água e sopram-lhe nos ouvidos (Figura 14). Quando recobram os sentidos, dois parentes o pegam sob os braços e o fazem correr até o rio para se banharem, explica Giaccaria (2000). Figura 14 – Jovem no final da corrida – Aldeia Guadalupe. Foto: Paulo Delgado. Fonte: Arquivo particular. Passar nesse teste de resistência significa estar preparado para enfrentar o medo e vencer todos os obstáculos da vida. Os jovens agora já são homens, deixam de ser wapté para se tornarem ritéiwa. De acordo com Jurandir Siridiwê 7 , presidente do IDETI: Os ritos de passagem marcam cada momento importante de nossa vida: acompanham o nascimento, a puberdade, o casamento, as cerimônias de cura, a caça, o plantio. Eles permitem o contato com o mundo espiritual, transformam o corpo e a alma, preparam para a vida. Marcam cada momento importante, marcam a passagem do tempo e o nosso crescimento. Esses rituais são a herança dos nossos ancestrais e foram transmitidos de geração a geração. 16 Trazem para o presente esse tempo que não tem data, o tempo do poder. Eles dão a base para a nossa vida. Os rituais de iniciação e formação perpetuam as marcas internas da sociedade Xavante. Atuam como força conservadora, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio e da tessitura social desse grupo indígena. Os signos e símbolos transmitidos através das cerimônias, das danças, das pinturas corporais, das crenças, dos mitos, dos ritos de passagem, enfim, de toda a produção de sua sociedade que as diferencia das demais, é fundamental para o equilíbrio e a sobrevivência do povo Xavante. Com o “poder” da tradição, os rituais servem para organizar o universo Xavante. Princípios se recriam, possibilitando a afirmação desse povo. O corpo, ao se apresentar extraordinariamente em rituais e cerimônias, é o instrumento fundamental para a “encorporação” 8 dos elementos da natureza, dos animais e dos espíritos, assim como das próprias categorias sociais Xavante. Sendo o lugar da perspectiva diferenciante, o corpo deve de ser maximamente diferenciado para exprimi-la completamente. (CASTRO, 2002). Todos os corpos, o humano inclusive, são concebidos como vestimentas ou envoltórios. Essas “roupas”, esses corpos “descartáveis e trocáveis”, recobrem uma essência e uma subjetividade que preside os processos de socialidade, sustentando uma economia simbólica onde gestos, performances e modos de ser e agir consolidam o senso comum das aldeias. Esses corpos performáticos configuram um processo que desemboca numa inquietação visual. Essa investidura, essa vontade imperiosa de diferenciação não se resume apenas em decorá-lo, mas de construí-lo, contribuindo efetivamente para o entrelaçamento entre a estética e as características dos domínios da sociedade, da natureza e da sobrenatureza. O corpo não é apenas um suporte de um discurso simbólico, ele também participa como elemento plástico. Suas qualidades formais integram o sentido estético Xavante. O símbolo não mais se explicita. Forma e conteúdo, significado e significante se complementam. O corpo se faz forma. O Xavante lança mão de elementos plásticos, não para representar um ou outro elemento da natureza e/ou sobrenatureza, mas para “se tornar um” – é a presentificação de uma identidade animal/espiritual/social/cultural/política que ocorre na totalidade corpo-forma. 17 A dicotomia evidenciada pelas metades cerimoniais que se opõem ritualmente é marcada e demonstrada para toda a comunidade através dos objetos rituais e das cores vermelho e preto que revestem seu corpo. Essas cores são apresentadas como complementares da relação de oposição necessária à sociedade Xavante, às quais se combinam, vão dando forma ao sujeito: quando uma maior área de vermelho é pintada aparenta um indivíduo “vaidoso, com vitalidade e beleza”, se for de preto, um indivíduo “responsável e corajoso, pronto para o enfrentamento”. A relação com o outro também se expressa de forma complementar e dialógica através do “toque das mãos”. Esse contato determina a relação no momento em que se pintam, integrando os sentidos que a pintura se apresenta enquanto atributo necessário para a intensa experimentação ritualística vivenciada. Esta preocupação plástica explicita nos corpos performáticos é apreciada pelo Conselho da Aldeia 9 que julgam e consagram os indivíduos/artistas da aldeia, pelos termos itsiprá – os que não têm habilidade, e itsipe – os que têm habilidade. O Conselho examina o corpo-forma privilegiando e invocando a tradição. Para o Xavante, integrar-se ao universo – à natureza, aos animais, aos espíritos – é estar em conexão com o Espírito Criador. A celebração dos rituais, na forma como foram ensinados pelos seus ancestrais, presentifica a tradição que, em essência, é o que mantém vivo o Espírito da Criação. Os rituais de iniciação e formação perpetuam as marcas internas da sociedade Xavante. Atuam como força conservadora, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio e da tessitura social desse grupo indígena. Os signos e símbolos transmitidos através das cerimônias, das danças, das pinturas corporais, das crenças, dos mitos, dos ritos de passagem, enfim, de toda a produção de sua sociedade que as diferencia das demais, é fundamental para o equilíbrio e a sobrevivência do povo Xavante. A plástica corporal Xavante não se esgota na ornamentação corporal. É um poderoso instrumento de rememoração, atualização e experimentação da própria natureza de sua cultura. Criatividade, expressão estética e possibilidades de transformação estão presentes nos atributos corporais que envolvem a cultura Xavante. O corpo é sítio primordial dessas relações – compõe a plástica corporal Xavante. O corpo é preparado com todos os atributos, que são cuidadosamente elaborados. 18 O corpo é apresentado para a platéia, que o admira. O corpo é apreciado pelos velhos, que julgam sua performance. É neste circuito de fruição estética que se encontra o discurso artístico comungado na sociedade Xavante. Esta explicitação ritualizada de um desejo, de uma intenção formal é coletivamente compartilhada e se encontra sobre o princípio de excelência – traduzido pelos Xavante por wẽdi, a beleza – quando essa forma traz um apelo, uma emanação da tradição. A tradição é a arte Xavante que se insere nos ritos. É um sistema estético, que em sua dinâmica percorre a literatura mítica, como a performance e a pintura cerimoniais intensamente. O que é apropriado e aceito como arte, ali encontra o seu sentido. 1 Homens maduros são indivíduos casados que participam da vida política da aldeia. Velhos são homens que já passaram por todas as etapas de formação da tradição Xavante – homens mais respeitados e ouvidos na aldeia. Esses homens formam o Conselho da Aldeia, decidem as questões relativas à vida da comunidade. 2 Conforme tradução Xavante, padrinho é o indivíduo da classe mais nova dos homens adultos, oriundo da turma que participou do ritual de iniciação dez anos antes. Cabe a ele transmitir os valores fundamentais que aprendeu, em seu momento de iniciação, como imitar bichos, caçar, pescar, lutar, ser forte e valente, confeccionar os ornamentos e também indicar como se comportar na sociedade Xavante. 3 Adão Top’tiro – depoimento colhido em pesquisa de campo na Aldeia Abelhinha, TI Sangradouro, MT, jul.de 2005. 4 Hiparidi Top’tiro – depoimento concedido à pesquisadora na Associação Warã Xavante, São Paulo, SP, ago. de 2006. 5 Termo utilizado na antropologia para definir a sociedade civil e destacar o caráter marginal ocupado pelas comunidades indígenas. 6 Percebi, durante esse tempo de estudo, que existe uma discussão entre os Xavante para julgar a pertinência ou não das inovações trazidas, interferindo e regulando as assimilações dos novos elementos. 7 Jurandir Siridiwê – depoimento retirado do site do IDETI (Instituto das Tradições Indígenas) Disponível em: <http://www.ideti.org.br/intro.html>. Acesso em: 06 nov. 2006, 10 nov. 2006, 04 jan. 2007 e 05 jan. 2007. 8 Viveiros de Castro cria o neologismo encorporar para explicitar certas disposições específicas – esquemas de percepção e ação – em que a forma corporal humana é apreendida pelo perspectivismo ameríndio: “traduzo o verbo inglês to-enbody e seus derivados, que hoje gozam de uma fenomenal popularidade no jargão antropológico, pelo neologismo ‘encorporar’, visto que nem ‘encarnar’, nem ‘incorporar’ são realmente adequados” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 374). 9 Homens maduros são indivíduos casados que participam da vida política da aldeia. Junto com os velhos, esses sujeitos formam o Conselho da Aldeia, decidem as questões relativas à vida da comunidade. REFERÊNCIAS CAMPOS, Maria Cristina Rezende de Campos. O corpo emana: elementos da plástica corporal Xavante. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PPGARTES/UERJ, 2007. FRADE, Isabela. O lugar da arte: o paradigma multicultural frente ao primitivisimo. In: NCP/IART/UERJ. Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares. Vol. 1. Rio de Janeiro: NCP/IART/UERJ, 2004, p. 17-24. 19 GIACCARIA, Bartolomeu. Xavante ano 2000: reflexões pedagógicas e antropológicas. Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco, 2000. MAYBURY-LEWIS, David. A Sociedade Xavante. Tradução Aracy Lopes da Silva. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora S/A, 1984. MÜLLER, Regina Pólo. Ritual e performance artística contemporânea. In: TEIXEIRA, J. L. C. (Org.) Performáticos, performance e sociedade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996, p. 43-46. PRICE, Sally. Arte Primitiva em Centros Civilizados. Tradução Inês Alfano. Revisão técnica de José Reginaldo S. Gonçalves. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. CURRÍCULO RESUMIDO Mestre em Artes, PPGARTES/UERJ. Especialista em Arte-educação, UNILASALLE, RJ e em Arteterapia, UCAM/AVM, RJ. Graduada em Ed. Artística - História da Arte, UERJ. Profª. de Antropologia, Arte e Cultura, Prática Pedagógica no curso de Pedagogia da UCAM. Profª. de Artes no Ensino Fundamental e Médio da rede estadual e municipal de Niterói, RJ. 20 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Desenhos de Caderno Daniela Corrêa Seixas Graduanda em Artes Plásticas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Resumo: O texto que segue visa expor o início de uma pesquisa sobre desenhos espontâneos, sua concepção e suas implicações: a intencionalidade, as interações texto/imagem e pensamento/ato, o caderno e a margem (formal e metafórica). Os desenhos de caderno são traços, rabiscos, desenhos não concebidos como projetos, esboços ou obras de arte, e sim realizados de maneira casual, em situações na maioria das vezes de tédio, ansiedade ou distração. Surgem em momentos não dedicados a eles e seu suporte, a princípio, não está ali para os servir. Esses desenhos se intrometem em linhas de caderno, conversas telefônicas, listas de supermercado e em outras situações cotidianas. Saindo da margem, participando de outra folha e reinstaurando a primeira, esse desenho dá profundidade à página. Transbordando, os limites se interpenetram, texto e imagem são postos lado a lado e vão assumindo a mesma importância. O tempo da aula e o tempo da dispersão estão presentes e não se sabe bem quando começa um e quando termina outro. Não excluindo o chamado à realidade prática, o texto da aula também foi parar na margem. A margem foi expandida e atenção/distração, atividade/passividade, consciência e desligamento concebem juntos outra relação espaço/tempo. O tempo do relógio e o tempo sentido se fazem, concorrem em estreita relação e o que ‘comanda’ é o prazer do gesto no tédio, na ansiedade. Pensando nessa superfície e seus aprofundamentos, rabiscos e imagens que se dão no cotidiano, a presente comunicação estará centrada em questões decorrentes da reflexão em torno desse fazer espalhado em folhas de papel desde muitos anos. Devido à minha escolha em nomear desenho o que falo e mostro, futuramente far-se-á necessária uma reflexão mais aprofundada em torno de suas relações com o percurso da categoria, com o campo da arte e suas fronteiras. As frágeis fronteiras do suporte, do momento e dos estados em que esse desenho ocorre, suscita o difícil tratamento das relações entre ato, pensamento e o lugar do desenho. Ao contemplarmos um breve panorama histórico do desenho, nos deparamos com sua utilização como sinônimo de projeção de uma imagem mental que, a posteriori, se materializará: esboços, plantas de edifícios, estudos compositivos, etc. Enfim, muitas são as classificações e formas que o aparente simples ato de friccionar o grafite sobre um pedaço de papel podem tomar. As hierarquias em torno do desenho já foram quebradas, ou por assim dizer, muitas vezes reorganizadas. O esboço ao assumir o estatuto de arte evidencia o valor do desenho por si só. Mas o esboço, o estudo, mesmo que considerado arte sem a necessidade de uma Página 1 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes continuação, ainda assim surge da intenção de preparação, seja da realização material ou da idéia (se assim podem ser separadas). Em cadernos de anotações de artistas, embora sejam explorados o caráter livre e espontâneo dos desenhos, estes ainda se colocam a favor de uma funcionalidade de repositório. Talvez como um diário para que o artista não se perca em seus próprios tempos e feitos. E que lhe assegure, mesmo que ilusoriamente, a apreensão de uma trajetória de retorno. No que diz respeito à minha pesquisa, tendo a não encarar o ato de desenhar como sinônimo de um ato de projetar, nem de repositar memórias e inspirações. A distinção entre conceber e inscrever acaba por entrar em um estado de latência no qual a simultaneidade, a sincronia, se não pode ser assegurada, pode ser timidamente descrita como uma pulsação, na qual os intervalos não se fazem de maneira regular e segura, embora conserve um limo ou frescor de previsibilidade. Em texto sobre Cy Twombly, Roland Barthes, em algumas linhas, anota que “nenhuma superfície é virgem: tudo já nos chega áspero, descontínuo, marcado por acidente” (1990, p.147). Assim como a superfície do papel não é virgem, nós e o espaço que nos envolve sofremos inscrições a todo instante. É nesse instante que este desenho que se faz na margem e à margem se realiza; transforma borda em centro, sendo que embora assim inicialmente estabelecidos, borda e centro estão à mercê das constantes máculas que as possibilidades dinamicamente nos subordinam e nos servem. Nem a atividade primeira nem os rabiscos são mais os mesmos, pois se misturam a traços e assuntos ordinários, transformando e sendo transformados. Os desenhos são, portanto, contaminados e ganham novos lugares, renovados pelo cotidiano utilitário. Resgata-se o rabisco do esquecimento e do lixo e acaba-se por valorizar aquele papel efêmero, como um jornal, um bloco de recados telefônicos, um guardanapo, uma palavra cruzada já completa, uma folhinha de calendário ou o papel do pão da manhã. E se geralmente a ordem prática é quem dá utilidade, o desenho aqui re-insere uma ‘utilidade’ ao objeto, ao papel. Acaba por restaurar a memória, verbo que poderia consistir em um erro, já que em determinado aspecto, a memória é a própria coisa, pois de certo modo é a única coisa que temos. Talvez a memória que esse desenho importa ao suporte seja a do vestígio da Página 2 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes pulsão transbordada, porém não daquele que pode ser organizado estrategicamente para garantir um caminho de segurança. Na verdade, o caminho do desenho nunca pode ser refeito. No caso dos desenhos realizados nos cadernos de aula, em notas de reuniões e em outras situações em que o papel geralmente é guardado, o que ocorre é o desenvolvimento de uma troca dupla mais explícita de funções, violações e consentimentos. O desenho se mistura e rompe, mas também se adapta ao funcionalismo do papel onde se coloca. Mantém-se, porém, livre de censuras conscientes, pois as escolhas se dão em ínfimos instantes de distração, de escapes. Não há um julgamento exatamente lúcido de uma composição. A correnteza do fluxo não nos permite evitarmos um desenho pueril, um clichê ou um traço demasiado. Lidamos aqui com a interseção de instantes. Os desenhos surgem nos cantos, produzem outros, fazem-se morada e relento. Margem e centro ocupam-se (culpam-se) em arroubo ou em sutil movimento. Essa troca além de física se dá também nas intricadas relações de dependência, criação, função e sentidos. Ao tratar aqui desse desenho, ou melhor, ao escolhê-lo já acabo por maculá-lo e transformá-lo em outra coisa. O fato de não possuir em sua concepção a intenção de ser arte ou de qualquer outra coisa, o transforma em seu próprio capataz. Do mesmo modo que gesto e pensamento se tornam difíceis de serem distinguidos em etapas, o limite entre o que esse desenho era e o que será após essa proposta nos confunde. E o que inicialmente indicava uma entrada e uma saída se torna labirinto. Onde fica o artista? Se a ausência de intenção era o atrativo, como evitar que criador seja dispensado pela criatura? Se o fato do desenho impor seu trajeto imprevisto ao desenhista foi a sedução, aí também se encontra a perdição. Enfim, tudo parece se confundir e mudar de lugar a cada pensamento, a cada palavra escrita. E se tratamos aqui de um labirinto, com que autoridade podemos impor nomes e trajetos? O fio, o traço condutor, se coloca à margem e acaba por submetê-la. Na negociação entre o controle dos fluxos, dos consentimentos, se colocam em suspensão, justamente como acontece com o tempo em que o desenho surge, o tempo do lapso. Tudo se dá nos intervalos, nos entres, e por isso mesmo, no todo. É como o olhar tão freneticamente veloz que se externiza no olhar aparentemente parado. E de repente, a importância do estalo da situação primeira na qual surgiu o desenho. É difícil estabelecer como se dá o trato. Se me arrisco a nomear tal relação, diria que se trata de uma simbiose, quase uma sinestesia de instantes. E porque não já uma sinestesia de intenções. No desenho, talvez, o fim seja o caminho. Página 3 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes ___________________________________ Sinto o contato do grafite na folha, alguém me chama, acho algo que ouvi interessante, volto a escrever, adormeço para aquela voz, volto ao desenho... para o mesmo? Mesmo tipo de gesto? De linha? De pensamento? É figurativo ou abstrato? Não quero saber em que ele vai se tornar; os labirintos do se¹ viram fluxos orgânicos, quase involuntários. A memória não se sente procurada. Paro e parto de repente para outra atividade, para outro lado do papel, para outro rumo não determinado. A linha esquece para onde ia e vira letra lá no outro canto da folha. Volta sombra em outro dia da semana e está esquecida lá no mês anterior. Não sabe se é feita de grafite ou tinta esferográfica. Não sabe se dura ao pedido de uma folha, a uma passagem a limpo do texto. Não quer saber o que ela é, de qual nicho, de qual estilo. Vai crescer. Ganhando três dimensões? Não é iluminura, não é ilustração... Não é! Para ser outra coisa em breve; é um instante de contato (grafite e papel) do “descontato”. Da cabeça escapou um minutinho só, se desdobra e vira anúncio, telefone de contato, nome da matéria e até sumário. Posso sair do concreto, ser boneco recheado ou de palito, pois ali não sou responsável. Estou para ser traído por uma voz na sala, um celular, qualquer estalo. Vai ser já já o que se orgulhava de não ser, se estica, se disfarça na definição, faz ser comentado por ele próprio, quem sabe assim a linha não escapa sóbria. Em um lugar nômade, às vezes demais apertado, se funde o espaço. Sou um fluxo que saio do corte, do rompimento de outro fluxo. Quase um fractal que se aproveita da transformação que ocorre quando é observado. Enfim, as letras e eu temos um trato firmado assim no descaso. Se ela dança até ¼ da parede eu não passo, mas se o próximo parágrafo der um intervalo eu entro e monto um aglomerado. Nesse buraco, raramente a borracha entra. De causa, conseqüência e consciência, às vezes estou afastado. Se essa rima que incomoda me persegue agora, também sou perseguido às vezes por um quadrado ou por um sombreado cheio de audácia que aparece em tudo que faço. Fujo da memória e me encontro na memória. Até onde ela vibra, até onde nasce do acaso do momento, do barulho, do retorno ao interesse. Como me apresentar então? Transformando-me no meu inimigo, pondo-me simplesmente visível mesmo sabendo que não posso concorrer com ele. Página 4 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Nota 1 Refiro-me ao labirinto das possibilidades carregadas aqui pela conjunção se. Referências Bibliográficas: BARTHES, Roland. CY Twombly ou Non multa sed multum; In: O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 143-175. BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual; Porto Alegre: Zouk, 2007. LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). A pintura – Vol.1: O mito da pintura. São Paulo: Ed.34, 2006. p.42- 50. LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). A pintura – Vol. 2: O desenho e a cor. São Paulo: Ed.34, 2006. Currículo: Cursando Bacharelado e Licenciatura em Artes Plásticas; Bolsa Faperj de Iniciação Científica (2006), projeto Manoel, escultor das palavras e Bolsa de Extensão (2007), projeto Laboratório de Cinema e Vídeo. Exposição coletiva no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro - Estudos sobre corpos dóceis: Corpo e Estudos sobre corpos dóceis: objeto (2007); Talentos Artísticos Incubadora Furnas (2007). * Todas as imagens são desenhos realizados pela autora do texto. Caneta esferográfica e grafite s/ os suportes: cadernos, blocos de notas e palavras cruzadas. As datas de realização não são precisas. Página 5 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes A arte de Amarna: Permanências e rupturas na arte do período de Akhenaton Evelyne Azevedo Mestrado em História - UNICAMP Resumo: A arte egípcia do período amarniano é conhecida pela aparente ruptura radical com a arte dos períodos anteriores. Caracterizada, grosso modo, pelo destaque da família real e pela inserção de uma nova noção de espaço e temporalidade, a arte deste período é reconhecida por seu estilo marcadamente exagerado em comparação ao estilo dos períodos anteriores. Atrelada a mudanças nos campos religioso e político, a arte amarniana teve importante papel na política “reformadora” do faraó Akhenaton. O objetivo deste trabalho é propor um amplo entendimento da arte de Amarna a partir da compreensão das reformas promovidas pelo faraó não só no campo artístico, mas também no político e no religioso. A presente comunicação é fruto do Trabalho Final de Graduação apresentado aqui na UERJ no ano passado sob a orientação da professora Maria Berbara. Intitulada A arte de Amarna: Permanências e rupturas na arte do período de Akhenaton, o objetivo deste texto é, a partir das características da arte egípcia, desmistificar a arte do período amarniano, mostrando que as novas características inseridas na arte ao longo destes 17 anos são plenamente coerentes com o pensamento político-religioso construído pelo faraó. A arte egípcia é notadamente reconhecida pela sua unidade, possuindo características que vão permanecer inalteradas ao longo de seus 3000 anos de história. Ao olharmos uma imagem como esta , reconhecemos imediatamente que se trata de uma obra egípcia. É importante lembrar que esta é uma obra oficial produzida para decorar o interior da tumba de um nobre e que sobreviveu à ação do tempo e chegou aos dias atuais. Isso não quer dizer que não existisse uma arte popular cujos exemplares – feitos de matérias perecíveis – não sobreviveram. A arte canônica egípcia era uma arte a serviço do Estado e, consequentemente, da religião. A decoração das tumbas e templos, onde estavam representados o morto, o faraó e as divindades, tinha uma função ritual. Para os egípcios, a imagem era, de certa forma aquilo que ela representava, “podendo suscitar magicamente a realidade”I. Por exemplo, cada vez que se lesse a oração escrita em uma estela representando o morto com as suas oferendas, ele estaria alimentado pela eternidade. Além disso, os relevos e as pinturas serviam para transferir esses rituais do tempo presente para a eternidade, assegurando ao morto a vida eterna. Expressão máxima da ideologia estatal, a arte representava suas concepções religiosas, por isso, a necessidade de se estabelecer rígidas regras de representação. Página 1 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Podemos dizer que a arte era regida fundamentalmente por quatro princípios básicos dos quais originaram-se os outros: a profunda unidade entre a arte e a escrita hieroglífica; a ausência de espacialidade, a representação das figuras humanas e objetos no ângulo que melhor os identificasse e a utilização de uma escala de representação que variava de acordo com a importância das pessoas. A unidade existente entre a arte e a escrita hieroglífica permitia que as imagens egípcias pudessem ser lidas. Por exemplo, a água de um tanque é representada da mesma forma que o seu hieróglifo. A não utilização da profundidade levou à representação dos objetos e das figuras humanas em seu ângulo que melhor os identificasse, procurando representá-los em sua totalidade, pois o uso de volumes e de profundidade acarretaria a perda de parte da imagem. Por exemplo, as pessoas eram representadas com o rosto de perfil, mas um dos olhos e metade da boca eram vistos de frente, bem como os ombros, o tórax e o seio feminino, já o ventre e o quadril eram vistos em três quartos (para que o umbigo aparecesse) e quanto às pernas e os pés, também eram vistos de perfil. As mãos é que podiam ser representadas invertidas (a direita no lugar da esquerda e vice-versa) para que a oposição do polegar aparecesse II. Outra característica da arte egípcia que decorre da falta de perspectiva é a utilização de uma linha de base para toda a cena, de forma que todas as figuras representadas estariam no mesmo plano. Isso conferia à imagem solenidade e a tornava estática, de modo que essa imobilidade procurava dar um sentido de eternidade. Por isso é que também não se representava luz e sombra a fim de não ocultar nenhuma parte da figura. Desta forma é que tanto as figuras humanas quanto os objetos eram deslocados de sua posição para que não ocultassem uns aos outros. Por exemplo, quando um casal era representado de frente para uma mesa de oferendas, o homem ou a mulher aparece atrás do outro (deslocamento horizontal) significando que estão lado a lado; o mesmo acontece na mesa de oferendas: todos os gêneros aparecem sobrepostos, empilhados uns sobre os outros, quando também estariam dispostos lado a lado (deslocamento vertical). A utilização das cores (limitadas às cores básicas: vermelho, amarelo, azul, verde, preto e branco) também obedecia a padrões rígidos, normalmente associados às cores dos objetos representados: a vegetação era verde, a água azul e o ouro amarelo. A pele das figuras masculinas é de um marrom avermelhado, enquanto a pele das mulheres da elite era ocre ou amarela, permitindo a rápida identificação dos elementos representados. Isto indicaria que essas mulheres passariam a maior parte do tempo em casa, enquanto seus servos faziam o trabalho fora dela, além disso, o contraste entre as cores das peles masculinas e femininas seria provavelmente, uma idealização, não observável na realidade. É possível que esta diferenciação refletisse a oposição público/privado, pois cabia às mulheres a função de “senhoras do lar” enquanto aos homens o trabalho fora deste. Além disso, na representação de procissões, as cores das peles dos personagens alternavam entre nuances mais claras e mais escuras a Página 2 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes fim de distinguir os indivíduosIII, podendo alternar, por exemplo, de um ocre para um marrom avermelhado. Era comum também que o morto fosse mostrado à esquerda da mesa de oferendas, posição essa que vai se cristalizar como um lugar de honra na arte egípcia. Muito possivelmente, esta característica deva estar associada à posição das necrópoles, a oeste do Nilo, onde o Sol se põe. Característica essa que vai inclusive se repetir, de certa forma na escultura egípcia. Finalmente, a utilização de uma escala de tamanhos fazia com que as figuras humanas fossem representadas segundo a sua superioridade ou inferioridade social, de modo que os filhos de um casal poderiam ser representados como crianças, independentemente de já serem adultos. Do mesmo modo, os servos de uma família eram sempre muito menores que esta. Cada uma das cenas menores era organizada em registros, o espaço a ser decorado é dividido em linhas horizontais, enquanto o morto ocupava uma posição de destaque, enfatizando assim a importância de cada coisa. Em linhas gerais, esta escala obedecia a um quadriculado de 18 quadrados de altura para um homem e sua largura poderia variar conforme a cena. Ao apresentarmos esta outra imagem, novamente não duvidamos de que ela seja egípcia. Contudo, existem traços nela que a tornam diferente das anteriores. Características estas que se fundamentam nas mudanças políticas e religiosas implementadas por Akhenaton. Ao longo de seu reinado, o faraó – antes chamado Amenófis IV – introduziu uma série de medidas religiosas que geraram conseqüências no campo político. Lembrando que os egípcios possuíam uma visão monista de mundo, em que todas as coisas estavam interligadas. Portanto, política e religião eram dimensões inerentes uma à outra. Profundamente associadas, as mudanças religiosas e políticas tiveram seus reflexos na arte. Durante este período, Akhenaton adotou um novo deus dinástico, o Aton; baniu os cultos dos outros deuses, instituiu o culto do faraó em vida e construiu uma nova capital. A partir da produção artística desse período, é possível compreender sua reforma e suas dimensões políticas e sociais. Diferentemente dos outros deuses, que possuíam formas antropomórficas, o deus Aton era representado exclusivamente por um disco solar. Outra importante mudança foi a adoração do casal real como deuses. Somente através deles se chegaria ao Aton. Eles eram, portanto, seus sumo-sacerdotes e seus únicos intérpretes. Akhenaton e sua esposa Nefertiti junto com o deus Aton substituíam assim a tríade divina Osíris, Ísis e Hórus; identificando-se aos deuses do mito cosmogônico de Heliópolis: Shu e Tefnut. Página 3 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Consequentemente, as cenas representadas tradicionalmente nas tumbas e templos foram abandonadas enquanto outras tiveram que ser reinterpretadas. Nos períodos anteriores, a decoração tradicional dos templos consistia no amplo uso de cenas rituais em que o rei adora e faz oferendas ao deus e é enlaçado por ele enquanto lhe dá o sopro da vida. Um exemplo disso é a cena do livro dos mortos que vimos anteriormente. “No período de Amarna, essas cenas são combinadas em um tipo invariável de cena em que o rei adora ou faz oferendas ao disco solar, e ao mesmo tempo, os raios do Aton enlaçam-no e oferecem-lhe o símbolo da vida [Ankh]. Enquanto as rainhas e princesas apareceram pouco nos períodos anteriores em cenas de rituais, durante o período de Amarna sua presença era quase onipresente.” IV “Uma das formas mais óbvias em que a arte de Amarna diferenciou-se da tradicional está no estilo e na proporção das figuras, especialmente nas de Akhenaton e sua família. O rei é mostrado com traços salientes, pescoço longo, ventre saliente, pesados quadris e nádegas, pernas curtas e braços longos e finos.”V Ao se representar com formas andróginas, Akhenaton estaria se comparando ao deus Atum, deus criador do mito cosmogônico de Heliópolis, que tinha em si os princípios masculinos e femininos e que por sua vez, criou os outros deuses. Ao longo de seu reinado, Akhenaton abandonou essas formas na mesma medida em que delegou poder à sua esposa Nefertiti, alçando-a à condição de deusa e princípio feminino no mito criacionista. Esta mudança está associada aos deuses Shu, o deus do ar, que no mito da criação separou o céu da terra, depois de nascer da boca do Deus primordial Atum, e Tefnut, que junto com seu irmão Shu constituiu, no mito heliopolitano da criação do mundo, o primeiro par de deuses, criado por Atum através do onanismo ou cuspindo. Desta forma, o deus Aton, Akhenaton e Neferiti estariam sempre associados à idéia de uma tríade divina: tanto a da criação do mundo – Atum, Shu e Tefnut; quanto a da constituição da monarquia divina: Osíris, Ísis e Hórus. As conseqüências do destaque da família real foram a inserção de uma nova noção de espaço e de temporalidade. Um exemplo disso é esta estela em que a família real aparece em uma cena doméstica. O casal real passa a aparecer em cenas domésticas e a ser representado em momentos cotidianos, capturados de sua intimidade, como na estela abaixo em que Akhenaton e Nefertiti aparecem com duas de suas filhas. Era comum também vermos os personagens realizando ações, de modo que a inserção destas duas características levou, inclusive, a adoção do movimento, que não chega a ser um novo conceito de movimento, pois não nega a importância da linha de base da imagem. Ao deslocarmos as imagens da base e as distribuirmos em planos diferentes, isto daria uma noção de profundidade, mas que ainda não pode ser considerada uma forma perspectivada da imagem. Além disso, as figuras animadas fazem movimentos restritos, indicativos das ações que realizam. Página 4 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Outra característica comum era a representação de sentimentos tanto entre Akhenaton e Nefertiti quanto entre estes e suas filhas. Esta nova noção de temporalidade contrasta com a noção estática dos períodos anteriores, em que eram representadas “cenas para a eternidade” em que predominavam as linhas retas e as figuras animadas possuíam posições rígidas. Cenas totalmente diferentes foram desenvolvidas para a decoração de tumbas e estelas privadas, as quais substituíram quase completamente o tipo tradicional mostrando o dono da tumba sentado de frente para uma mesa de oferendas ou diante de uma divindade. Elas passaram a mostrar a família real em várias situações domésticas; já que o deus Aton não assumia uma forma antropomórfica, o rei e sua família passaram a substitui-lo como foco iconográfico. VI As modificações impostas pelo faraó Akhenaton tiveram importantes ecos, modificando inclusive a arte depois dele. Muitas das inovações propostas por ele foram mantidas em obras de períodos posteriores como nos de Tutanckamon e Ramsés II. Como podemos ver na cena que se encontra no encosto do trono de Tutanckamon. O próprio culto ao faraó vivo foi resgatado por Ramsés que passou a ser cultuado ainda em vida. Página 5 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Bibliografia: ALDRED, C. Egyptian Art. Londres: Thames & Hudson, 1996. CARDOSO, C. F. A arte canônica egípcia: regras básicas para os desenhos e relevos. Niterói, notas de aula, inédito, 2002. ________. “De Amarna aos Ramsés”, in : Phoînix, 7, Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001. ________. Gênero e Androginia em Amarna (século XIV a. C.). notas de aula. Inédito, ano n/d FREED, R. E., MARKOWITZ, Y. J., D’AURIA, S.H. (org.) Pharaohs of the Sun. Boston: Museum of Fine Arts, 2000. LALOUETTE, C. L’art figuratif dans l’Égypte Pharaonique. Manchecourt: Flammarion, 1996. MEKHITARIAN, Arpag. Egyptian Painting. Genebra: Skira, ano n/d. PUTNAM, James. An Introduction to Egyptology. Inglaterra: Quantum Books, 1998. ROBERTS, T. R. Gift of the Nile – Chronicles of Ancient Egypt. Nova Iorque: Metrobooks, 1998. ROBINS, G. Egyptian Painting and Relief. Aylesbury: Shire Publications LTD, 1990. __________. Proportions and Style in Ancient Egyptian Art. Londres: Thames & Hudson, 1994. SCHULZ, Regine e SEIDEL(Edit), Mattias. Egipto O Mundo dos Faraós. Colônia: Könemann, 2001. TYLDESLEY, J. Nefertiti – Egypt’s Sun Queen. Londres: Penguin Books Ltd., 1998. WILKINSON, R. Reading Egyptian Art. Londres: Thames & Hudson, 1992. Página 6 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes IMAGENS: Cena de caça da Tumba de Nakht Pintura In: PUTNAM, James. An Introduction to Egyptology. Inglaterra: Quantum Books, 1998. Estela representando a família real adorando o deus Aton Relevo In: FREED, R. E., MARKOWITZ, Y. J., D’AURIA, S.H. (org.) Pharaohs of the Sun. Boston: Museum of Fine Arts, 2000. Detalhe do encosto do Relevo em ouro In: FREED, R. E., S.H. (org.) Pharaohs of the Arts, 2000. trono de Tutanckamon MARKOWITZ, Y. J., D’AURIA, Sun. Boston: Museum of Fine Página 7 de 8 I CARDOSO, Ciro, A Arte Egípcia: um estudo de suas características fundamentais, notas de aula, p. 1 CARDOSO, Ciro. A Arte Egípcia: um estudo de suas características fundamentais, notas de aula, p. 4. III ROBINS, Gay. Egyptian Painting and Relief, p. 25. IV ROBINS, Gay. Egyptian Painting and Relief, págs. 48 e 49. V Idem. VI Idem. II Currículo Resumido: Mestranda em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas e bolsista da FAPESP. Bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense/UFF e bacharel em Artes – Especialização em História da Arte pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ. Atualmente dedica-se ao estudo das tradições clássicas no século XVII. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Discussões autográficas: uma problemática atual Fernanda Marinho Mestrado Historia da Arte – Unicamp Bolsista Fapesp As reflexões que serão aqui expostas são decorrências das análises de quatro pinturas religiosas compreendidas entre o Quatrocentos e o Quinhentos italiano e flamengo. Apesar da abordagem autográfica nunca ter sido o ponto de principal interesse de seus estudos, foi percebido no decorrer dos mesmos que esta era inevitável, uma vez que tais autografias tratavam-se de atribuições, não possuindo, portanto, uma comprovação mais certa do que o expertise de historiadores da arte. Pretende-se aqui, desta forma uma dedicação exclusiva a estas questões, procurando pensá-las dentro do atual cenário crítico-institucional. Torna-se pertinente, portanto, refletirmos a respeito deste estudo na atual produção artística contemporânea que parece alegar cada vez mais uma desconexão entre o conceito da obra e a individualidade expressiva de cada artista, se pensarmos nesta expressividade como forma de uma subjetividade impressa através do gesto, do traçado, da pincelada, que foge à concepção de criação artística dos ready-mades, por exemplo. Mostra-se igualmente desafiador pensar na relação do desenvolvimento destes estudos e as instituições que conservam tais obras, uma vez que estes assuntos tangenciam o valor mercadológico das mesmas. Tratemos, portanto, das obras anteriormente mencionadas como elucidação desta discussão. Estas são atribuídas a Botticelli (figura 1 - Madona com Menino e São João Batista), Mabuse (figura 2 Madona com Menino e cerejas), Andréa del Sarto (figura 3 -Madona com Menino e São João Batista) e Giampietrino (figura 4 - Madona amamentando o Menino e São João Batista criança em adoração), estando as três primeiras conservadas na Fundação Eva Klabin (Fek), no Rio de Janeiro e a última no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Apesar destas instituições divulgarem tais autorias, sabemos que as mesmas carecem de comprovações, uma vez que não estão assinadas e não apresentam nenhum tipo de documentação que as corroborem, o que acaba permitindo uma ilimitada discussão a este respeito. Não se pretende aqui, no entanto, tratar da autenticidade dessas obras, nem tão pouco por a prova o expertise de conceituados historiadores e críticos de arte, mas objetiva-se sim pensar nesta interminável e incansável discussão de atribuição e o seu real valor nos dias de hoje. Percebemos que as pinturas aqui tratadas possuem a mesma temática religiosa e comparandoas, não demoramos a notar suas semelhanças estéticas e estruturais presentes na centralização compositiva das Madonas, na distribuição equilibrada de seus personagens, na força cênica dos drapejamentos do manto, na presença majoritária da paisagem ao fundo da composição e principalmente naquilo que todas estas escolhas estéticas codificam: a pureza da religiosidade e do amor materno. Estes esquemas visuais eram muito repetidos no Quatrocentos italiano, se perpetuando no século seguinte e em grande parte da produção artística européia. O objetivo maior dos artistas daquela época não era a Página 1 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes busca por uma suposta originalidade estética, mas sim o alcance de uma beleza pura, mais próxima o possível da natureza ou do próprio conceito de belo. As produções pictóricas eram bastante extensas e intensamente exercidas nos ateliês, onde os mestres e seus discípulos se dedicavam muitas vezes a reprodução de um mesmo modelo, como notado nas supostas Madonas de Mabuse do Policka Museum (figura 5), do Museu de Belas Arte de Valenciennes (figura 6) e da Fek. Pensar estas obras no atual cenário da crítica de arte é também refletir sobre a sua importância dentro do mesmo. Cabe, portanto, analisá-las segundo o conceito de obra aberta definido por Umberto Eco como aquela capaz de provocar uma liberdade interpretativa por parte do espectador dada na hora de sua fruição. No entanto, o autor observa que apesar das obras modernas, especificamente as de vanguarda, se aproximarem mais a uma estética do inacabado deixando assim um considerável espaço de complementação conceitual por parte do espectador (que cumpriria igualmente o papel de criador), esta abertura também poderia ser estendida às ditas obras clássicas, se considerarmos o termo no seu sentido amplo, uma vez que “qualquer obra de arte exige uma resposta livre e inventiva, mesmo porque não poderá ser realmente compreendida se o intérprete não a reinventar num ato de congenialidade com o autor”1. Apesar de propor esta óptica mais abrangente, se analisarmos as pinturas aqui tratadas em comparação com as tais obras modernas mencionadas por Eco, logo percebemos os limites deste conceito. Podemos dizer que na leitura das pinturas das Madonas esta abertura em termos de liberdade interpretativa não existe, uma vez que seus signos não permitem uma livre relação com um significado qualquer, ela existe sim como lacunas informativas de complementação simbólica de sua composição, mas o seu preenchimento se encontra mais no compromisso entre o leitor da imagem e a história do que entre o mesmo e sua própria subjetividade. Eco reconhece o limite desta abertura, tanto que relaciona a mesma ao “dinamismo” e à “ilusão” proporcionados pela forma barroca em oposição à “definitude estática e inequívoca da forma clássica renascentista” 2. Percebemos este “fechamento” formal nas linhas de contorno das figuras que demarcam os limites corporais na pintura atribuída a Botticelli, especialmente no braço de São João Batista (figura 7) e no jogo de mãos da Virgem e do Menino (figura 8). Nas pinturas atribuídas a Mabuse e a Giampietrino os drapejamentos de suas vestes e véus também exemplificam esta delimitação da forma (figura 9 e 10), da mesma maneira que nesta última os ladrilhos ajudam a definir a perspectiva e a idéia de interioridade reforçada pela pequena janela lateral. Já na pintura atribuída a Andréa del Sarto, apesar de sua estrutura ainda estar bastante relacionada aos padrões clássicos, a sua composição apresenta aberturas formais marcadas pelo jogo de pés da Madona e do Menino (figura 11), que causam um ilusionismo óptico da organização destes elementos. Não sabemos ao certo a quem pertence este pé, que aparentemente é desproporcional ao tamanho do Menino, mas também não se encaixa na posição contorcida da Mandona. Esta estrutura se aproxima à composição maneirista que prevalece sobre uma ambigüidade 1 2 ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1971; pg. 41. ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1971; pg. 44. Página 2 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes interpretativa. Do mesmo modo notamos a presença da estrada no fundo da paisagem na mesma pintura que devido a sua rápida pincelada nos remete também às águas correntes de um rio. Para melhor estudarmos estas pinturas sob o ponto de vista da possibilidade de suas aberturas cabe expandir suas análises para além dos seus aspectos formais, abrangendo a intenção artística que precede a sua criação. Não se trata, contudo, de considerar a obra de acordo com alguma poética individual de seu criador, mas sim, e principalmente, quanto o seu contexto histórico artístico. Podemos claramente relacionar a feição da Virgem na pintura holandesa, atribuída a Mabuse, a Gerard Davi e Lucas van Leyden; a figura musculosa do Menino a Dürer; e o alongamento de suas formas a uma afinidade com a estética gótica. No entanto, considerar a autoria de Mabuse para esta pintura é também assumir uma relação entre a mesma e a pesquisa estética italiana, principalmente depois de 1508, data de sua viagem à Itália. E tal consideração nos leva a analisar esta pintura mais sob a perspectiva do humanismo renascentista da Contra-Reforma do que da estética reformista flamenga. Ela nos instiga assim a priorizar o nosso olhar focalizando a relação entre a Madona e o Menino, segundo o sentimento da pureza da maternidade, de uma intensidade religiosa mais próxima à Teoria do Decoro, tratada no Concílio de Trento que objetivava como principal finalidade da estética da arte a “incitação da piedade e um meio de salvação” 3. Na pintura atribuída a Andrea del Sarto percebemos uma insinuação do desequilíbrio da forma clássica, no entanto, ainda tímida para ser relacionada aos rebuscados esquemas visuais maneiristas, motivo pelo qual esta obras já foi aproximada a Michele Tosini. Uma das principais diferenças que afastam estes dois artistas é aquela que separa a beleza clássica como qualidade racional, muito difundida nos escritos de Alberti, da graça, pretendida e admirada por Vasari, estando a estética de Tosini mais próxima à primeira e Andrea del Sarto à segunda. Em muitos aspectos podemos relacionar a pintura do Masp às pesquisas estéticas desenvolvidas por Leonardo da Vinci, tendo principal destaque o emprego do tão difundido sfumato. No entanto não podemos negar haver em suas obras características particulares de sua produção, assim como os demais leonardescos, como Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto e Bernardino Luini. Vale, portanto, para este presente estudo, ressaltar aqueles aspectos que nos levam a relacionar a pintura do Masp mais à produção de Giampietrino do que a de seu mestre. As perspécticas paisagens de Leonardo que costumam abarcar toda a extensão da composição, sendo esta uma cena de interior ou não, como no caso da Madona Litta e da Madona com Menino e Santa Ana, não encontrarão muita repercussão na produção de Giampietrino. Assim como a pintura do Masp, reparamos no detalhe do painel do Bagatti Valsecchi Museum (figura 12) e na Madona do Hermitage Museum (figura 13), nas quais as paisagens aparecem como detalhes compositivos ocultos pelas cortinas. A aplicação da perspectiva do quadro do Masp se concentra, portanto, mais na geometrização dos azulejos demonstrando uma tendência do artista a investir mais nos elementos que interferem diretamente na leitura de seus personagens do que 3 BLUNT, Anthony. Teoria artística na Itália: 1450 – 1600. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001; pg 146. Página 3 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes naqueles que possivelmente pudessem criar um outro foco de atenção, reforçando a idéia de interioridade e aconchego, de acordo com os pensamentos de São Jerônimo a respeito da pureza da imagem da Virgem, do hortus conclusus. Apesar da paisagem desta pintura também aparecer apenas sob uma pequena fresta, a sua cortina não é o elemento que a encobre, ela não cumpre o papel de delimitação do espaço interno, mas envolve a coluna ao fundo da composição que apresenta uma ornamentação que lembram folhas de parreira. Esta pode ser uma alusão a Dionísio fazendo, portanto, referência à simbologia do sacrifício. É importante notar que estas folhas são como relevos decorativos da coluna (figura 14), não se tratam de folhas reais na composição, o que pode ligar Giampietrino ao início da tradição de integração simbólica sacrifical entre o mundo pagão e o cristão, uma vez que a presença deste elemento na composição ainda é tímida e este não aparece como parte integrante da cena principal, como podemos ver na Virgem das Rochas de Leonardo (figura 15). Percebemos que as diferentes autografias sugeridas às obras aqui analisadas indicaram novos diálogos estéticos para a análise das mesmas, enriquecendo a sua leitura, transformando símbolos em signos. Podemos dizer que a discussão de autoria pretende primeiramente suprir a ausência de documentações que facilitam o estudo das obras, no entanto, ao ampliarmos seu conceito nota-se que esta se apresenta mais como um exercício histórico que permeia o campo sócio-cultural de seu contexto. Isso nos leva a considerar a imagem sob um conceito estruturalista, ou seja, para ser melhor compreendida pressupomos um forte vínculo entre o significado de sua estrutura formal, narrativa e simbólica e o seu contexto histórico, seu círculo de relações estéticas e sociais. Pensando na referida abertura tratada por Eco, podemos estendê-la às Madonas aqui analisadas, se a considerarmos como metodologia de estudo das mesmas. Uma abertura que teria como condição o infindável levantamento de possibilidades que não se pretende como resolução dos problemas autorais da obra, mas sim como processo ativo de enriquecimento de sua pesquisa. Página 4 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Anexo – Imagens Figura 1: Botticelli (Fundação Eva Klabin) Madona com Menino e São João Batista Figura 2: Mabuse (Fundação Eva Klabin) Madona com Menino e cerejas Página 5 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Figura 3: Andrea del Sarto (Fundação Eva Klabin) Madona com Menino e São João Batista Figura 4: Giampietrino Museu de Arte de São Paulo Madona amamentando o Menino e São João Batista criança em adoração Página 6 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Figura 5: Mabuse (Policka Museum) Madona com Menino Figura 6: Mabuse (Museu de Belas Arte de Valenciennes) Madona com Menino Página 7 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Figuras 9 e 10: Detalhes Madona com Menino e São João Batista, Botticelli. (FEK) Figuras 11 e 12: Detalhes Madona com Menino e SJB, Andrea del Sarto. FEK Página 8 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Figura 13: Giampietrino (Hermitage Museum) Madona com Menino Figura 14: Giampietrino (Museu Bagatti Valsecchi) Detalhe painel Virgem com Menino Página 9 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Figura 15: Detalhe da coluna, Giampietrino Madona amamentando o Menino e São João Batista criança em adoração (Masp) Figuras 16 e 17: Leonardo da Vinci (National Galley) Virgem das Rochas e detalhe das folhas de parreira Página 10 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Bibliografia ARGAN,Giulio Carlo. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Editora Estampa, 1988. __________________. Ideology and Iconology. Critical Inquiry, Vol 2, pg 297 – 305, 1975. __________________. Strutturalismo e critica. In: Storia moderna dell’arte: manifesti polemiche documenti. Org: paola Barocchi. Milano, 1965. BLUNT, Anthony. Teoria artística na Itália: 1450 – 1600. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001. ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1971. Página 11 de 11 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Labirinto Sued Gilton Monteiro Jr Mestrando em História e Crítica de Arte no PPGARTES, UERJ, onde realiza pesquisa sobre a obra do pintor Eduardo Sued. “a solução do mistério é sempre inferior ao mistério. O mistério faz parte do sobrenatural e até mesmo do divino; a solução, da arte de fazer truques.” Jorge Luís Borges. O legado da destruição, a “lição de Picasso”, Eduardo Sued, faz uso particular. Isto, é o que fica evidente tão logo iniciamos uma apuração em torno de seu agir. A destruição, como ato fundamental para a atualização de um desafio a ser reposto no interior da pintura, longe de suscitar ou afirmar um sentido “negativo” nas determinações de sua poética, restitui e afirma o pintar como ato insuperável de investigação sobre o enigma da visualidade e materialidade do mundo contemporâneo. No que toca a obra do pintor carioca, já teria sido observado por um de seus críticos se tratar de uma espécie de work in progress, um trabalho cujo sentido estaria em se realizar na constância de seu desafio, na permanência de um destino insondável. Afirmar que seja necessário desfazer-se de toda coordenada prévia para o agir; saber ouvir unicamente as exigências lançadas pelo instante, aprender com ele, e buscar ali por uma resposta que lhe seja satisfatória, é algo que sugere questões. Daí a pergunta pela conseqüência desta ação destrutiva, o que ela desdobra para o conjunto de sua obra. Indagarmos, por exemplo, se este modo de agir deve, ou melhor, pode ser entendido, em seu caso, como uma espécie de anti-prática, devendo a destruição regular e repor o sentido e destino do ato de pintar. Seu método nos diz: é preciso perder-se neste labirinto, e até mesmo suspender a astúcia de Dédalus; é preciso, em último caso, manter-se perdido. O ato de contrariar ou destruir as marcas de um caminhar é se esforçar para conservar vivo o caminho. Neste instante aquilo que deveria repor uma imagem angustiante, atormentada acerca de um proceder, contraria as expectativas mostrando-se completamente sereno. Estranho paradoxo, que poderá ser em parte compreendido se considerado que o agir do pintor revela um temperamento desapegado, não passional, em sintonia constante com os limites e as aberturas de seu íntimo, segundo as exigências do self, as imposições das circunstâncias. A errância fragiliza, pois, o significado histórico de seu fazer, cujo sentido não mais se ampara pura e simplesmente em determinações técnicas e soluções já alcançadas. Como conseqüência, este proceder aberto, investigativo, reduz constantemente a zero todos os elementos da pintura, inviabilizando qualquer princípio impositivo que venha definir papéis a priori ao seu exercício. O pintor, imerso em movimento ininterrupto de retomada e atualização de seu saber, torna os caminhos sempre Página 1 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes desconhecidos. Esta perscrutação de possibilidades para a pintura é que define a realidade labiríntica de suas investigações. As infinitas relações possibilitadas pelas cores, o espaço como um constructo ininterrupto, a constante realização do corpo em seu processo de espacialização, tudo comunica uma configuração labiríntica da própria pintura, na medida em que nela se organiza complexamente cada um destes fatores, implicando-se mutuamente. A imagem do labirinto, neste aspecto, está condizente a reprodução constante e originária da experiência da pintura, a partir de uma soma incessante e nunca perfeitamente determinável das circunstâncias e do próprio acontecimento em que ela consiste. Assim, a realidade da pintura é labiríntica em sua construção, em seu engendrar-se: ao pintar, o pintor repôe para si a margem do insondável. A mobilização de cada um dos componentes da pintura tende a revificar e engrossar esta margem, corroborando para a edificação de uma imagem única e precisa, que só poderia ser obtida na experiência. Destruir, ao contrário do que se possa pensar, é, antes de tudo, um gesto intensamente afirmativo, que se crê dentro de um horizonte não mais compartilhado pelo niilismo e negativismo legados pela crise da arte como ciência européia. Neste caso, nos vale um dos mais famosos contos de Jorge Luiz Borges, em que o escritor trata da saga de Pierre Menard a produzir sua monumental obra literária, Dom Quixote, segundo a mesma forma lingüística já manifesta naquela concebida por seu predecessor, Miguel de Cervantes. Ali, astuciosamente o ficcionista argentino descreve sua concepção do tempo, da autoria, da forma, da legitimidade etc. Rigidamente construída nos moldes da narrativa seiscentista homônima, Menard reconduziria o desafio de tornar-se autor de um novo Quixote, uma outra obra que deveria figurar de forma igualmente inédita no círculo do romance ocidental. Considerando as distintas circunstâncias que estaria envolvendo ambas as produções, viríamos o amplo arco da criação desdobrar-se e apresentar-se de maneira completamente inédita, tornando singular as respectivas obras. E este é apenas mais um dos diversos momentos em que o Borges expõe sua vertiginosa visão acerca da estrutura labiríntica presente nas instâncias do ato criador, de sua concepção do tempo, da leitura, da realidade e da escrita. É de forma notável que em seus textos deixa transparecer uma busca pela escorregadia imagem da realidade, sendo comum, inclusive, a afirmação de que a estrutura do labirinto teria haver com certa concepção de não-linearidade do tempo. De fato, entre todas as imagens possibilitadas pela leitura de seus contos, nenhuma, talvez, seja mais efetiva que a do labirinto. A paisagem gerada pelo ambiente “onírico” borgiano reproduz uma experiência deslizante do tempo, desfazendo os pontos fixos e as determinantes cronológicas e espaciais. Sabe-se que este escritor foi um grande apreciador dos romances policiais norte-americanos, bem como da literatura fantástica, para ficarmos entre dois dos diversos gêneros de sua estima, não Página 2 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes havendo ninguém melhor para tirar proveito da estrutura obliqua comum a ambos os gêneros. Que esta estrutura labiríntica participe em sua maneira de conceber a natureza do ato de leitura, não a reduzindo a um mero objeto temático em sua obra, é algo possível de se conjeturar. O fato é que se nos detivermos, com calma sobre algumas de suas mais relevantes narrativas, logo percebemos edificar-se diante nossos olhos uma complexa construção (ou destruição?) de sentidos. Alinhavando e aproximando elementos dispares e distantes entre si, Borges parece nos revelar a fragilidade de nossos esquemas de entendimento, propondo no mesmo movimento, uma concepção do tempo e dos fatos pouco afeitos às reduções do positivismo e determinismo moderno. Porém, é em um notável e breve ensaio que o escritor deixa evidente sua concepção da natureza da tradição, invertendo toda ordem de relações restritas ao enquadramento cronológico. A famosa passagem em que torna claro sua confiança no poder de leitura é exemplar: “toda obra de arte cria sua precursora”. O dilema de Kafka estaria sendo revelado, e com ele jamais o passado deveria ser visto da mesma maneira. Aqui o tempo da leitura não mais coincidiria com o dos fatos, se é que isso já foi algum dia possível. Segundo Borges, a obra do escritor tcheco, não apenas envergaria um arco gravitacional ao seu redor, como também possibilitaria, através de sua leitura, a aproximação de obras completamente estranhas entre si. É desta maneira que uma vertiginosa trama de relações tornaria vesgo o olhar do entusiasta positivista, para em seu lugar revelar uma densa e indescritível paisagem histórica. Não é estranho aos estudos literários, a maneira como, nestes termos, a relação presente e passado, em Borges, é suspensa, para em seu lugar instalar-se uma dimensão temporal única. Ora, como se sabe a concepção labiríntica da leitura e, consequentemente, da tradição para Borges, não veio expressa sotoposto em seus contos e poemas. O autor de “Ficciones” avança com o problema da tradição, frisando as propriedades determinantes da leitura e seu papel na constante construção histórica do sentido da obra. Segundo este olhar, o ato da leitura permitiria um confronto renovado com a história, na medida em que tece, entre as obras de arte, uma rede de bifurcações, possibilitando, a cada instante, a abertura de novos horizontes de entendimentos. A tradição, entendida como algo em processo contínuo, ininterrupto, sempre atualizado, desfaz a imagem de um passado monolítico, imutável, permanentemente recuado e inatingível, obediente às leis da cronologia dos fatos. Deste modo, a tradição não passaria de uma ampla projeção virtual, cujo fundo anacrônico tenderia não apenas a dissolver e reduzir a espessura histórica sob a qual se envolve a arte, mas ao contrário, tornaria ainda mais complexa sua margem descritiva. Em Borges, tanto em sua tese acerca da força do passado, quanto em sua vertiginosa concepção de leitura1, é feita a defesa da mobilidade de idéias insubordinadas à concepção cronológica do tempo e da história, ressaltando o papel que a imagem do labirinto desempenha em sua poética. Ademais, tal elaboração labiríntica do tempo viria acompanhada pela sua quase anárquica concepção de realidade. Próximo ao raciocínio fantástico de Kafka, Borges parece prezar por uma espécie de imagem 1 Ambas expressas em Kafka y sus precursores. Página 3 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes sem fim do mundo, onde as encruzilhadas da existência projetariam o eu para um turbilhão de impossibilidades2. Nesta atmosfera uma névoa inebriante parece consumir todas as coisas. As ações, antes de comportarem um traço preciso da realidade, estariam destruindo suas margens descritivas, inviabilizando sua apreensão holística, unitária. É desta maneira que sua literatura estaria avançando com os princípios kafkianos contidos naquilo que o escritor argentino identificou como sendo o gênero das fantasias da conduta e do sentimento3. Assim, o que de antemão vem sendo atacado neste vertiginoso esquema narrativo é a própria forma de condescendência e subordinação da experiência da realidade. Isto, todavia, não a partir do exame de componentes psicológicos, e tampouco de estruturas sociológicas; antes sim de esquemas imanentes à própria realidade, mas que se mostram insatisfeitos a abordagens pretensamente científicas de qualquer ordem4. Nesta moção labiríntica da experiência humana, o que vem sendo posto em questão é uma espécie de transgressão da moral, da lógica etc. E nestes termos, Borges parece querer evidenciar que, para o olhar que a percebe, os eventos da realidade perdem seu centro, restando por se verificar, em cada segmento do processo, apenas a manifestação de um determinado uso, certo mode d’emploi que repõe a normatização aos fatos, restituindo à realidade do agir sua natural rotina. A ambiência construída pela literatura borgiana não ignora as bases da realidade empírica. Seu mecanismo, na verdade, questiona os próprios ajustamentos desta realidade. Sua narrativa desfaz as coordenadas do senso comum através da radicalização de sua experiência, por meio de manobras operadas no âmbito da razão, elevando e anulando sua força motriz. É a este labirinto que o olho de Borges parece se ater o tempo inteiro, perscrutando as arestas mais agudas de nossas ações mais banais, dos momentos vilipendiados e aparentemente irrelevantes da vida, opondo ao esclarecimento absoluto e às certezas maximizadas a presença seca e inenarrável do mistério; seu labirinto é a própria abertura ou fissura do invólucro paisagístico do mundo, revelando a força e impenetrabilidade de sua obscuridade essencial. Se por um lado, os acontecimentos vêm sendo afunilados pela operação do reconhecimento, isto não quer dizer que a experiência da realidade mostra-se fechada, centrípeta, arrefecida. O instante atual encontrar-se-ia, em sua imanência, aberto para uma profundidade sem fim, apontando para um enigma vivo e necessário, um mistério que nos doaria a constante eminência de uma revelação. Por isso, para Borges, o mundo não seria mais que uma combinação de signos a comunicar algo, uma mensagem que, recolhida em sua aparência mesma, pede para ser decifrada5. 2 TAVARES, Braulio. Contos Borgianos. Em: Contos Fantasticos no Labirinto de Borges. RJ: Casa da Palavra. 2005. 3 Id., Ibid. 4 Id., Ibid. 5 Id., Ibid., pág. 278 Página 4 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Nos termos adequados, poderíamos dizer que a realidade da pintura, para Sued, não seria menos enigmática. E neste momento a imagem do labirinto, como aspecto misterioso que abarca todas as nossas experiências, voltando-se contra aos imperativos da razão, concentraria uma massa amorfa da realidade, cujos códigos mentais proporcionados por aspectos inapreensíveis, abrangeriam uma região de escala desmesurada, estranha àquela projetada pela determinação concreta de nossas ações. Segundo os critérios borgianos, mesmo esta determinação, inclusive, não poderia indispor-se do fundo virtual sobre a qual foi gerida. Em Sued o labirinto parece residir nesta atualização constante do contato com o mundo, e no seu caso, através da pintura. O gesto do pintar amparado no confronto aberto com o instante, perscrutando simultaneamente a particularidade dos meios junto às exigências do self, estaria repondo para o pintor o desafio de articular e até mesmo construir os sentidos. Os elementos da pintura consistem em uma matéria viva cuja articulação abriga e possibilita o vigor do íntimo. É verdade que a relação que esta obra estabelece, com o espaço e a matéria, não vem amparada por determinantes oriundos de regiões idealísticas um tanto comum às narrativas borgianas, como tampouco estaria circunscrita no reduto racionalista, contra a qual esta literatura se volta. A estrutura labiríntica que circunscreve este agir está caracterizado no princípio aberto de sua investigação, na urgência imposta pelos meios. Articular os sentidos parece estar afim com a mobilização do íntimo do pintor, buscando ouvir os apelos provindos de suas profundezas. Opondo-se ao pragmatismo que tende a encerrar a realidade nas redondezas imediatas do agir, poderíamos arriscar que Sued busca pela experiência empírica e fenomenológica, aberta e nada superficial. Ela enfim, toca a paradoxal condição de opressão e fragilidade proporcionadas pelos objetos em seu estar no mundo, que faz da realidade uma camada plástica, por vezes sufocante, mas que basculada por fissuras permite ao artista entrever novos significados, isto é, perceber novas conjugações de formas, sob a manutenção da reserva de vigor dos sentidos. O ato de destruição, portanto, não poderia advir senão como um gesto de desvio em relação ao apreendido; uma forma de anular as mortificações de um hábito construído pelas soluções sedimentadas na prática, convertendo-as em fórmulas aprazíveis. Restituir a condição de possibilidade para a pintura, empregar sob o regime de atualização o saber adquirido com a prática, restituir ao fazer a urgência de seu emprego na intimidade com os meios, tudo isso é reposto pela ação destrutiva do pintor, que parece desejar-se inaugurativa, autêntica: a verdade dos instantes, portanto, revelando-se incalculável, desmesurada, imprevista, apreendida somente nas insubordinações de sua vigência. O mundo tal qual visto através da obra de Sued, é também um mundo de revelação súbita, um mundo positivado pela experiência concreta do agir, um terreno para a construção dos sentidos e articulação das idéias. Eis uma obra cuja dialética latência-revelação (dialética, aliás, comum às artes Página 5 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes plásticas) deverá ser resolvida nas mediações do fazer, encontradando aí uma fonte de energia em manacial, conservando possível e legítimo o ato de pintar. Página 6 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Falsas Pistas Inês de Araújo UERJ O texto aborda alguns aspectos poéticos e críticos das obras de Jasper Johns e Robert Morris. Discute traços do movimento de desmistificação e questionamento do conceito de arte que motiva essas démarches. Examina fendas dos seus objetos críticos e apropriações poéticas. Num artigo de John Cage sobre Jasper Johns publicado em 1966, a seguinte passagem introduz o texto: “Na varanda, na casa de Edisto. Os discos de Henry enchendo o ar de rock’n’roll. Disse que não podia compreender o que o cantor estava dizendo. Johns (rindo): É porque você não está ouvindo.”1 A resposta do pintor ao amigo parece óbvia, mas considerando o interesse que ganha no trabalho musical experimental de Cage tudo que não é música – ou que não é escutado, ou não é compreendido – a resposta banal pode também apontar para outras ressonâncias. Permite vislumbrar uma série de novas questões. Na trilha das experiências sonoras de Cage, não ouvir pode suscitar uma série de questões sobre a ultrapassagem do domínio da música pelo que deixa de ser música. Pode justamente revelar que tudo aquilo que se compreende automaticamente e se escuta cristalinamente registra apenas o que deixou de ter ressonância. As questões suscitadas pelo trabalho de Johns também chamam atenção para o silêncio. Exploram limites e paradoxos na pintura, não entre entender e escutar, mas entre o visível e o olhar, interrogam um visível silêncio e um olhar opaco. O ruído surdo que produz interferência no visível, no trabalho de Johns, lança luz sobre a perda de expressividade da pintura. Diz respeito a algo óbvio, mas nem tanto, como a idéia de que entendemos o que vemos, e de que as imagens visíveis correspondem às significações automáticas atribuídas a elas. Conta-se que o insight da pintura de Jasper Johns surgiu com um sonho. Um dia ele sonhou que estava pintando uma bandeira dos Estados Unidos; no dia seguinte ele fez esse quadro. Mas não se tratava exatamente da representação de uma bandeira, e sim de uma pintura que era também uma bandeira, primeiro havia a estrutura de uma bandeira e suas divisões, a pintura vinha depois. Os papéis tinham sido invertidos não era a pintura de uma bandeira, a bandeira ocupava toda a superfície da pintura, a pintura era ela também a bandeira. Ou melhor, havia uma pintura e uma bandeira, melhor ainda o que havia não era nem uma pintura nem uma bandeira. No mesmo texto, Cage observa que Johns em seus quadros, realiza uma espécie de subtração aditiva. Por exemplo, ocorre que pintura e bandeira sendo ao mesmo tempo o que são e o deslocamento de um signo em relação a sua designação; se Página 1 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes subtraem e se somam, mostram ser também outra coisa. No entanto é nas palavras do próprio pintor que essa operação paradoxal de uma subtração aditiva ganha mais foco: “ Estou interessado em coisas deixando de ser o que eram, com o seu tornar-se alguma outra coisa do que o que são, com qualquer momento no qual se pode identificar alguma coisa precisamente e com o escapar desse momento, com qualquer momento vendo ou falando e deixando-se chegar até isto.”2 As figuras emblemáticas da pintura de Jasper Johns, como letras, números, alvos, tramas, bandeiras, mapas, pinceladas, cores, escapam a qualquer narrativa ou história, não permitem identificar nenhum traço da psicologia do pintor, nem cumprem a função que designam. Menos do que o singular, do que o tema, do que a cena, do que a narrativa, do que o assunto, os aspectos dessa pintura tem mais a ver com a interpenetração de objetos do que com a representação. Dispostos didaticamente, arbitrariamente, compostos metodicamente, mimeticamente, repetitivamente, esses signos visuais deixam pouca margem para qualquer reconhecimento de traços individuais ou estados de espírito particulares. São figuras que recusam qualquer idealização, ou qualquer significado simbólico, mesmo a sensualidade da pincelada é desprovida de dramaticidade ou expressividade, trata-se de uma pincelada repetitiva e aleatória. Diante dessas pinturas o exame do nosso olhar, seduzido pela pátina pictórica aleatória, é conduzido passivamente. Automaticamente, no entanto, nosso olhar chega a duvidar de si mesmo. Monotonamente, descobre-se suavemente refazendo o seu próprio percurso de leitura, ao qual emblematicamente a pintura remete. Sem chegar a imagem nenhuma, o olhar repara-se como uma imagem. Ou melhor, percebe-se como mais um signo no percurso da imagem que a pintura descreve e reverbera. A pintura não é mais do que uma imagem, mas imagem de uma reflexão sobre a pintura. Uma demonstração de que nada do que vemos é o que vemos, de que todos os sistemas de registro, letras, números, mapas, pinceladas gestuais, se prestam a um exame, mas sua investigação dissolve suas representações, figuras traços ou expressões fixas, subjetivas e pessoais. Assinalando um todo ausente, multiplo, números, letras, mapas, alvos, fragmentos, são signos indiciais, sem centro, sem unidade, vazios, desencarnados, anônimos, se referem à cultura ou à natureza da cultura. O material desse trabalho, seus sinais que nada fixam, senão um funcionamento passível de variações, é a linguagem. Mas o que comparece na pintura permanece investido das dissonâncias das sensações, aberto à realidade da percepção mutável dos fenômenos. O que aparece nas oscilações das aparências, como um limite arbitrário, se cristaliza como um emblema, como uma escolha não intencional. No final dos anos 50, Jasper Johns e Duchamp tiveram alguns encontros, por ocasião de uma viagem deste último à América. O pintor relata que numa dessas ocasiões perguntou a Duchamp por que este tinha parado de pintar; a resposta de Duchamp foi que isso simplesmente acontera, ou seja, que no fundo não houvera nenhuma razão, fora como quebrar uma perna. Após a morte de Duchamp, em 68, Página 2 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Jasper Johns escreveu um texto em sua homenagem, numa das passagens dessa homenagem o pintor observa que: “Duchamp foi um artista pioneiro que moveu as fronteiras retinianas que haviam sido estabelecidas pelo impressionismo para um campo em que a linguagem, o pensamento e a visão agem uns sobre os outros.” E adiante explica que: “Suas referências cruzadas de visão e pensamento, o foco cambiante dos olhos e da mente, deram um sentido renovado ao tempo e ao espaço que ocupamos, negaram qualquer preocupação com a arte como arrebatamento. Nenhum fim está à vista nesse fragmento de uma nova perspectiva.”3 Mas é no seu trabalho que o artista melhor evoca e retoma o campo aberto por Duchamp, ou a resposta de Duchamp, seu ato não intencional. Nele, mais do que testemunhar uma contribuição tutelar ou uma influência, explora a compreensão desse novo campo cujas fronteiras foram movidas pelo gesto não intencional de Duchamp. Gesto que implica a indeterminação de uma definição para arte e do qual decorre a suspensão do julgamento estético. Pode-se dizer que esta pintura é menos relativa ao paradigma do fim da pintura, e à superação das categorias tradicionais das belas-artes, do que relativa à mudança ou deslocamento do paradigma da arte. Ainda que ela se sirva de imagens mundanas e banais, que nela introduza um questionamento sobre a cultura de massa. Atuando como instrumento de análise, uma pincelada, uma cor, uma letra, um número, um nome, uma imagem, um mapa, uma forma de registro, um alvo, uma repetição, interrompem o encadeamento linear das representações mentais, examinam um limite sem marca, sublinham uma fronteira indeterminada – do campo entre pensamento, linguagem e visão – e a fazem definitivamente oscilar. O lugar dessa pintura reside não tanto naquilo a que ela se opõe, ou naquilo que nela se afirma, mas no que nela se coloca em suspenso através dos seus exames. Nela alguma coisa aconteceu que não diz respeito a nenhum acontecimento mas ao horizonte de alguma coisa que deixou de acontecer. Na ausência que se insinua, nesse apagamento de traços que se possam identificar a uma pessoa, o olhar não pode mais se confundir com seus objetos, se projetar em seus objetos, mas experimentar um modo de exploração das suas próprias pistas. Mas se nada do que se vê é investido de conteúdo, se todo conteúdo que atribuímos a arte nada diz sobre a arte, então o que vemos o que é? Tal pergunta está fadada a permanecer sem resposta, mas colocá-la ou faze-la persistir em algumas de suas ressonâncias, não é tampouco evidente. Pois toda crença que depositamos no que vemos inclui não apenas nossa situação histórica, nossos afetos e limites, como também toda a negatividade do nosso olhar, a negação da positividade de nossas crenças. Em 1989, olhando retrospectivamente para o seu trabalho, para os seus primeiros anos de carreira, o artista americano Robert Morris se referiu àquele momento como o da escuta da reverberação nas quatro paredes de um estrondoso “não”. Página 3 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes “Não à transcendência e aos valores espirituais, à escala heróica, às decisões angustiadas, ao historicismo narrativo, à valoração de uma fatura artística, às estruturas inteligentes, às experiências visuais interessantes.”4 Sabe-se que, nas estratégias minimalistas de eliminação de todos os aspectos composicionais dos objetos artísticos, de deslocamento da significação do trabalho das relações internas do resultado para o seu processo, estão em jogo, tanto a crítica aos valores afirmados pela pintura expressionista abstrata e por uma estética do sublime, quanto uma discussão sobre o estatuto da arte e sua concepção como valor formal e autônomo. Esse debate muito deve a uma leitura da filosofia contemporânea, sobretudo da fenomenologia e da filosofia analítica, por essa geração de artistas. Muito das experiências de desmaterialização da arte do final dos anos 60 se inspira dessa leitura. Dois traços dessas experiências, merecem ser destacados. Um enfatiza o caráter social da linguagem, rejeita significações universais, sublinha a dependência de qualquer significação a uma esfera pública, nesta perspectiva a significação é considerada como um fato social, não um dado a priori. Outro diz respeito ao caráter finito da consciência, a consciência é consciência num corpo, o que significa a recusa de uma definição transcendental do sujeito. De modo que a consciência considerada como consciência intencional é relativa aos limites da experiência perceptiva, corporal e móvel, inscrita no tempo. Destaquei esses traços porque neles também me parece repercutir o estrondoso não ao qual se refere Robert Morris. Um dos primeiros trabalhos do artista, “caixa com o som da sua própria fabricação”, de 1961, consiste num objeto manufaturado com um gravador no interior reproduzindo o som da fabricação do objeto, a gravação dura três horas. Sobre tal objeto muito pouco se pode dizer. Trata-se de um objeto sem qualidade, privado de interioridade, reduzido à exterioridade, ao acréscimo de um registro de seus rastros, ou ao que remete apenas a um reflexo temporal, a descrição sonora de subtraídas evidências dos impulsos criativos, imateriais e invisíveis, que se recusa aceder às aparências ou se adequar às categorias visuais, mas que não cessam de se exteriorizar a cada nova descrição. Essa caixa sem conteúdo, representa um paradigma em relação a um conjunto de outras caixas no trabalho do escultor. A “caixa com o som da sua própria fabricação” é uma matriz de várias ressonâncias no trabalho de Robert Morris, que fez caixas sendo deslocadas, caixas com som, caixas de espelhos, performances com caixas, caixa do eu, caixa do não, e mesmo os emblemáticos elementos minimalistas permutáveis não deixam de ser uma espécie de caixote. No texto “O tempo presente do espaço”, o escultor refere-se ao ruído para explicar algo do encadeamento propriamente cultural da prática artística: “O discurso cultural envolve uma hierarquia de representações. Essas representações procedem das intenções individuais para as manifestações, para as reproduções e para as interpretações daquelas manifestações individuais. A cada nível de transformação nessa cadeia de representações que se ampliam, um “ruído” adicional entra no sistema.”5 Página 4 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Dos sons aos ruídos, assim como do conjunto de caixas aos labirintos, há menos do que um passo, há apenas um rastro. Mas nesses trabalhos em que a forma se desmaterializa, em que o objeto é reconduzido ao nada, resta ainda uma tarefa a ser cumprida, a de aí permanecer, e reverberar esse coeficiente zero da significação, e recusar totalizar qualquer objeto, e fazer durar seu intervalo ao repercutir-se em seus rastros, reflexos e ressonâncias, como o som da sua própria fabricação. A atualidade da reflexão desse trabalho, mesmo que seja na forma de seus vestígios, ainda depende de uma medida sem distância, da sonoridade estrondosa de um não, dos seus impulsos criativos imateriais invisíveis, para poder se processar para além de um objeto, ressoar alguma outra coisa que não o seu fim, do que um limite físico. Esse lugar que não leva a lugar nenhum, lugar sem visibilidade, circular, movediço, de incessante produção de indícios, cuja presença se identifica com a ausência, encontra no labirinto suas figuras emblemáticas: duplos, abismos, miragens, fantasmas, armadilhas, repetições, reflexos, fixações, tropismos, registrando assim o espaço de um embate com as imagens, propício à indagação sobre suas marcas. Opacas, não projetivas, não subjetivas, tais caixas especulativas, descrevem infinitamente seus vestígios, rebatendo-se sobre si mesmas, não passam da dimensão da trajetória que inscrevem, cuja distância é relativa no tempo presente sem distância, se situa no intervalo da experiência atual, se estreita na ligação entre a reflexão e o corpo. Em seus múltiplos desdobramentos, esses espaços auto-reflexivos explorados pelo conjunto de caixas, labirintos e desenhos no trabalho de Morris, não culminam em nenhuma representação ou não-representação. Nem deixam de reformular uma marca do corpo sem topos. Desigual como o lugar atual da nossa presença. Notas: 1 CAGE, John, “Jasper Johns: Histórias e Idéias”, in A Nova Arte, Gregory Battcock, São Paulo, ed. Perspectiva, 2004. 2 “I am concerned with thing’s not being what it was, with its becoming something other than what it is, with its becoming something other than what it is, with any moment in which one identifies a thing precisely and the slipping away of that moment, with at any moment seeing or saying and letting it go at that. (Swenson 1964)”, in Jasper Johns, A Print Retrospective,ed. The Museum of Modern Art, 1986. Tradução livre. 3 JOHNS, Jasper, “Marcel Duchamp (1887-1968)”, in Escritos de Artistas,org.Glória Ferreira e Cecília Cotrim,(orgs.), Rio de Janeiro, ed. Zahar, 2006. 4 ART SINCE 1900, org. Hal Foster, Rosalind Krauss, Yves-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchlon, London,ed. Thames & Hudson, 2004. p.493. 5 MORRIS, Robert, “O tempo presente do espaço”, in Escritos de Artistas anos 60/70, Glória Ferreira e Cecília Cotrim, (orgs), Rio de Janeiro, ed. Zahar, 2006, pp. 401-420. Página 5 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Currículo Resumido: Inês de Araujo é artista plástica e mestre em Artes pelo programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura do Instituto de Artes da UERJ, 2007. Desenvolve atualmente um trabalho de desenhos instantâneos improvisados. Página 6 de 6 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Entre o táctil e o visual – sobre a natureza da produção plástica infantil Kriciane Assunpção Ferreira IART/ UERJ Resumo: A pesquisa visa observar o desenvolvimento de crianças entre 5 e 6 anos, refletindo sobre aspectos individuais e/ou coletivos em sua produção plástica, apresentadas de acordo com o grau de maturação em que se encontram e, ainda, o processo de socialização no qual estão inseridas. Em um estudo de revisão da literatura científica na área de arte/educação, foco as teorias de Victor Lowenfeld (1970) sobre o desenvolvimento da cognição, em especial a hipótese que ele desenvolveu sobre a relação entre os aspectos tátil e visual no processo de criação plástica infantil. Revejo seus postulados levando em consideração trabalhos relevantes de pesquisadores contemporâneos nas áreas de educação e artes, as observações e experimentações diretas que realizo atualmente na educação infantil. Hoje o mundo está imerso em tecnologias produtoras de imagem, as crianças demonstram prazer pelo novo conhecimento e buscam o domínio do mesmo. Alguns artistas, em especial, usam esses novos meios tecnológicos como propulsores da arte. No entanto, estamos perdendo a intimidade do contato que fortalece as bases intelecto-cognitivas do pensamento e fundamenta as relações interpessoais. O toque perde paulatinamente seu sentido quando os dedos manuseiam somente o teclado ou a tela de um computador. As relações corporais se perdem pela supressão dos movimentos e das ações desse corpo que se deixa inerte na maior parte do tempo. “Nossa tradição separou a visão do toque. As crianças se recusam a esse corte, não é o toque apenas pelo prazer, é o toque para aprender” como diria Fernando Pessoa e a quem bem lembra o educador Rubem Alves (2005) ao falar sobre as distâncias impostas pelo nosso meio e a supressão do toque no mundo contemporâneo. Grande parte da potência estética das artes foi produzida através do privilégio ao deleite visual. Especialmente a partir do período renascentista, a arte começou a ser produzida para a contemplação depurada e fragmentada da imagem, operando pela admiração dos retratos pintados em forma de quadros nos salões da nobreza. Desde o posicionamento diferenciado de artistas como Da Vinci, acrescentando a primazia da razão às obras encomendadas (“A pintura é uma coisa mental”) e, até muito posteriormente, um artista como Duchamp, que afirmando as bases da criação artística pelos seus aspectos conceituais, abriu novos paradigmas para a arte, mas seguiu mantendo a dicotomia corpo/mente: onde o olhar é apenas o meio de entrada, ou abertura, para contemplação reflexiva. No entanto, o que manteve sua força nos processos citados e, também em grande parte nas discussões em arte, foram as imagens, decantadas, desmaterializadas. E os demais sentidos? Ficaram esquecidos até surgirem trabalhos como os de Hélio Oiticica, Ligia Clark, Lígia Pape, Celeida Tostes – citando apenas artistas do âmbito nacional. Esses artistas entre Página 1 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes outros, conseguiram através de seus trabalhos o envolvimento das pessoas de maneira sensitiva. O contato do espectador com as produções interativas desses artistas citados trazem a discussão da expressão espontânea, da livre influência na arte, de uma educação para todos. Esses pensamentos tiveram origem na escola nova (Europa e EUA) e em 1930 surge no Brasil tendo sua disseminação no período de 1950/1960. Trabalhos que radicalizaram a relação corpo/obra. São trabalhos que envolvem o espectador e precisam da interação do público para se manterem ativos e atuantes. Trazem prazer, repulsa, tensão, relaxamento, tornando o outro parte do processo: o corpo faz parte da obra quando a experimenta. A forma de registro desses movimentos de corpo/obra, foi produzida pela fotografia, pelo vídeo, e hoje esses registros que ganham realidade tornando os trabalhos – antes vinculados intrinsecamente à vivência e experimentação corporal – pura imagem. Hoje, na medida em que se tornaram, elas também, imagens desmaterializadas, essas obras se revertem ao sentido anterior e estão ficando esquecidas as experiências que as motivaram. Com raras exceções, e em que pesem os esforços de alguns curadores e críticos para trazerem ao menos em parte sua vivência radical, as obras são apenas contempladas. Os professores como mediadores entre artistas, suas obras e opiniões de críticos tem a responsabilidade de proporcionar as diferentes experiências para seus alunos, a fim de que os mesmos possam conquistar autonomia em suas observações e reflexões. É indiscutível a importância da visão na percepção da obra plástica, o que não se pode esquecer é a necessidade do toque para o amadurecimento da visão: o olho só identifica a profundidade, textura e movimento representados na imagem depois de experimentar a topologia do mundo. O olhar da criança ganha grandes significados porque vem acompanhado do toque, da informação que a experiência táctil produz em conjunto com a visão. “Não foi então que eu adquiri tudo o que me sustenta agora? E eu ganhei tanto, tão rapidamente, que durante o resto de minha vida eu não adquiri uma centésima parte disso. De mim mesmo como uma criança de cinco anos para mim mesmo como sou agora existe apenas um único passo... À distância entre mim mesmo como bebê e mim mesmo no presente é enorme.” (Tolstoy) Leon Tolstoy, ao escrever sobre os primeiros anos de sua vida, resume a importância dessa fase para a formação do indivíduo. Nesse período também acontece o maior desenvolvimento e progresso na esfera estética, momento que a criança se torna capaz de se expressar através dos vários sistemas simbólicos disponíveis em sua cultura. A criança conhece primeiramente o mundo através de suas experiências tácteis. Até um ano ela leva os objetos, assim como vivenciava com os seios da mãe, até a boca e os identifica espacialmente assim; aos poucos a pele fica mais sensível aos diferentes materiais e formas. A criança ganha domínio de seus movimentos e aprende a utilizar a manipulação dos objetos presentes em seu ambiente para Página 2 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes expressar o que sente e pensa. As sensações corporais se concentram cada vez mais em suas mãos: parte do corpo que ganha independência a ponto de construir símbolos em formas, cores, e depois a escrita sem se esquecer da relação de força, equilíbrio e estabilidade com todo corpo. A criança vê, identifica e quer tocar, ela não se satisfaz apenas com as informações visuais porque sabe que o toque tem muito a lhe proporcionar. Um dos livros de Rubem Alves é “Aprendendo porque amo”, que cito por estar aí enfocada a importância em suscitar amor no que se faz, em experimentar diferentes modos de ação a fim de identificar-se a ponto de amar o que se produz. E qual seria a tarefa primordial da educação senão levarnos a aprender a amar, a sonhar, a fazer nossos próprios caminhos, a descobrir novas formas de ver, de ouvir, de sentir, de perceber? O ousar a pensar diferente, a sermos cada vez mais nós mesmos aceitando o desafio do novo... Nesse momento em que vivemos, inovar é trazer de volta todos esses sentidos para a arte, o resgate de valores que desejamos recuperar absorvidos por uma nova atitude. O objetivo deste trabalho não é excluir a importância das leituras visuais e sim ressaltar a necessidade da experiência táctil envolvida nos processos de aprendizagem junto às imagens, especialmente em se tratando da educação para crianças. O ensino de arte vem sofrendo transformações conceituais profundas. Especialmente voltadas, no caso da educação infantil, para atividades gráficas e para a leitura de imagens. Resolvi rever posições marcadas principalmente pelo período compreendido entre os anos 60 e 70, palco do surgimento do Movimento Arte-Educação na Europa e nos EUA, momento no qual desponta um intenso pensamento crítico a partir dos conceitos de "arte infantil" e "livre expressão" , defendidos por Read com base em pesquisas feitas por Lowenfeld. Vicktor Lowenfeld, educador e pesquisador austríaco, imigrou para os EUA em 1939. É notável a sua pesquisa sobra às fases do desenvolvimento infantil. Segundo ele, a expressão plástica da criança denota sua estrutura cognitiva - que se daria em sucessivos patamares -, cada qual com suas especificidades. A cada etapa do desenvolvimento infantil, o educador deveria, segundo Lowenfeld, trabalhar de modo desafiador, estimulante, propiciando os meios adequados para que o educando pudesse realizar suas próprias experiências plásticas. O pesquisador foi um dos responsáveis por retirar a arte do entretenimento, reduto de uma elite e restituiu seu campo de funções psicossociais capazes de mobilizar indivíduos, principalmente em sua infância. Foi o primeiro a acreditar que os cegos eram capazes de esculpir com expressão. Apesar de sua infância pobre, teve a oportunidade de viver experiências que o tornaram sensível às capacidades artísticas do ser humano. Enquanto dava aula e estudava em Viena correspondia-se com Hebert Read na Inglaterra, o que possibilitou grandes conquistas teóricas em sua reflexão sobre os processos criativos infantis, em especial a modelagem. Ao fugir da guerra indo para Inglaterra, Lowenfeld conseguiu editar seu livro “A Natureza da Atividade Criadora” (1939) que ganhou destaque na arte- Página 3 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes educação através dos comentários críticos de Herbert Read. A troca de correspondências entre ambos possibilitou a escrita de uma educação através das artes. Esses fatos situam os principais marcos históricos da década de 1940, na qual despontou internacionalmente o Movimento Educação Através da Arte (1942) liderado por Hebert Read. A pesquisa desenvolvida por esses autores foi de fundamental importância para o pensamento da arte na infância. Posteriormente, a idéia defendida por Rudolf Arnhein (1954) de uma arte para o desenvolvimento da cognição. Vem reafirmar a necessidade de se pensar como a criança compreende a arte e de que forma a arte interfere em seu desenvolvimento. Ele considera aspectos da forma, cor, espaço e movimento como manifestações de um meio coerente, valoriza o entendimento das coisas através dos sentidos e percebe a negligência geral sobre esse fato. Através de seus estudos e observações percebeu que a visão não é um registro mecânico de elementos, mas sim a apreensão de elementos significativos. Identifico minhas pesquisas com os estudos de Arnhein sobre a percepção visual principalmente quando o autor aponta a importância do meio onde a arte está inserida: não é o olhar simplesmente pela visualização da forma e sim a estrutura desse olhar: o olhar sobre o objeto ganha diferentes dimensões de acordo com os detalhes destacados pelo próprio olho, é uma seleção de informações, a apuração das relações do espectador com o objeto artístico. Quando falamos sobre a criança, consideramos seus conhecimentos prévios, tudo o que foi vivido pela criança torna-se o suporte para que seu olhar estabeleça relações perceptuais e canalize os conhecimentos anteriores com as novas aprendizagens trazidas no contato com as obras que elas vêm conhecendo. Por isso destaco a importante tarefa do professor em criar oportunidades para as crianças vivenciarem a arte. As informações diversas trazidas pelos artistas em suas produções vão enriquecendo a estrutura do olhar infantil, complexificando-o. As informações vindas das obras, biografias, discursos dos artistas e críticos de artes formam a consciência para as artes. Ao entrar em contato com novas produções plásticas, o olhar infantil se organiza na remissão aos significados particulares presentes em cada obra. As pesquisas abordando a modelagem, além de serem escassas, caíram no esquecimento. A disponibilidade cada vez maior das impressões gráficas computadorizadas, propagandas, cinemas e vídeos veio acrescer novos modos de expressão e, no entanto, nos fizeram esquecer do primordial, o toque, como já dito anteriormente, da busca primeira do ser humano para sentir-se vivo no mundo. Fernando Hernández, doutor em Psicologia e professor de História da Educação Artística e Psicologia da Arte na Universidade de Barcelona, em seu livro “Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho”, 2000 aponta a experiência em arte como estruturante nas conquistas do indivíduo em formação. O autor aborda a arte como parte da vida e por isso ela não pode estar fora do sistema de ensino. Segundo ele, as relações entre as crianças e as trocas vividas em aula são construtivas e Página 4 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes produzem aprendizado. A “experimentação livre” ajuda na construção de hipóteses, fundamental para o aprendizado nesta faixa etária. Além do “livre fazer”, Hernández coloca a importância do “livre pensar”. A criança absorve o discurso ouvido, debate com os demais e forma seu próprio discurso sobre o objeto e as experiências que lhes são significativas. Essas trocas acontecem principalmente no ambiente escolar, quando há oportunidades para ouvir as crianças e não somente lançar-lhes conteúdos. A partir desses autores foi possível pensar em uma arte infantil. Ao refletir sobre a forma como a criança concebe a arte é possível entender seu processo de aprendizagem e acrescentar um campo próprio da arte em seus conhecimentos.“Os artistas não são as únicas pessoas conscientes do passado; as crianças também baseiam seus trabalhos na arte que as rodeia”.( Ana Mae, 2005, p.92) O papel do professor é ressaltado nesse momento pois o mesmo deverá questionar suas próprias posições, assim como qual conteúdo pretende levar para o trabalho com os pequenos. Pensando sobre o ensino de artes e seu distanciamento cada vez maior de experiências concretas significativas, especialmente as que envolvam os canais tácteis, resolvi propor a um grupo de crianças de 5 a 6 anos atividades com modelagem. Observei esse grupo a partir das premissas e pesquisas que partiram Lowenfeld e mais tarde exploradas por outros pensadores, em especial Herbert Read, buscando entender a razão do abandono de suas propostas educacionais. Constatei alguns postulados que considerei ainda pertinentes e outros que precisariam ser revistos com apoio de outros pensadores e pesquisas mais atualizadas. Acredito que no momento mesmo dos alunos aprenderem a fazer arte, eles podem também apreender uma obra importante e dela extrair conhecimentos, mas para isso acontecer com o apoio do professor é preciso que este desenvolva um entendimento profundo sobre o desenvolvimento infantil. Considero a produção plástica infantil como produção em artes. Quando digo que é possível a criança aprender a fazer arte, penso no fazer artístico como a produção a partir da própria cultura infantil. Como já comentei, são muitas as informações que as crianças recebem desde que nascem, elas assimilam os conhecimentos através de observações e imitações dos adultos, transformam as informações, as tornam suas no momento em que fazem relações cognitivas com suas experiências. Diferente das obras de artes inseridas e valorizadas pelos museus e galerias, elas são obras infantis discutidas e valorizadas nos meios escolares. Esta produção deveria manter um diálogo com as discussões de artistas e críticos de arte, disponibilizadas pelos professores. O fazer artístico deixa de ser apenas a experimentação de materiais e passa a abrir uma reflexão que envolve o sentido sobre o que é realizado, propondo diálogos com a história da arte. Essas discussões em sala de aula são transformadas a partir do olhar desses “pequenos artistas” que passam a produzir arte, conscientes de que a mesma é uma forma de expressão e linguagem. As crianças fazem arte ao mesmo tempo em que vivem as artes. Página 5 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Uma das preocupações entre os arte/educadores, da qual compartilho, é influir no alargamento do universo cultural dos estudantes que envolve a potencialização da recepção crítica do mundo adulto, assim como a produção estética realizadas pelas próprias crianças. O manuseio de diferentes materiais e processos, do mesmo modo como o contato com objetos de arte já conceituados e disponibilizados pela nossa cultura sensibiliza o indivíduo para o universo da arte - aqui me referindo à sensibilidade como refinamento dos sentidos aliado à expansão do potencial cognitivo-afetivo dos sujeitos. Ao discutir sobre sua própria produção a criança reforça e amplia o seu lugar de consciência viva no mundo e na comunidade à qual integra. Através da arte é possível, ainda em tenra idade, desenvolver a percepção e a imaginação, fazer projetos e transformar a realidade observada. Página 6 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Bibliografias ALVES, Rubem. Educação dos sentidos e mais... Campinas, São Paulo: Verus, 2005. ARNHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual - uma psicologia da visão criadora. Trad.Ivonne Terezinha de FariaSão Paulo:1954,1974. BACHELARD, Gaston. A Terra e os Devaneios da Vontade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. BARBOSA, Ana Mae (org). Arte/ Educação Contemporânea: consonâncias internecionais. São Paulo: Cortez, 2005. VILLAÇA, Nízia (org). Nas Fronteiras do Contemporâneo: território, identidade, arte, moda, corpo e mídia. Rio de Janeiro: Mauad: Tujb, 2001. FRADE, Isabela. “Cerâmica como Processo” in Revista Concinnitas no. 3,ano 2. Rio de Janeiro, Instituto de Artes da UERJ, 1999. GARDNER, Howard. A criança pré-escolar: como pensa e como a escola pode ensiná-la; trad. Carlos Alberto S. N. Soares. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. _____________ As artes e o desenvolvimento humano: um estudo psicológico artístico; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Trad. Jussara Haubert Rodrigues. Artemed, 2000. IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte- sala de aula e formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. JORGE, Lirdi Muller “A modelagem em argila” In:Cerâmica Arte da Terra. GABBAI, M São Paulo: Callis, 1987. LOWENFELD, Viktor e BRITAIN, W. Lambert.Desenvolvimento da capacidade criadora; Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1970. PACHECO, E. D. (org). Televisão, Criança, Imaginário e Educação. Campinas: Papirus, 1998. READ, Hebert. A educação pela arte; trad. Valter Lellis Siqueira. São Paulo: Martins Fontes, 2001. Página 7 de 7 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes León Ferrari: estranhamento e intensidade Mariana Gomes Paulse UERJ Resumo: Esse trabalho tem como objetivo analisar o caráter crítico das obras do artista plástico argentino León Ferrari. Estas se mostram contra determinadas ideologias, especialmente a da cultura ocidental e cristã. Observa-se como o artista traz tal questionamento para o âmbito da arte, se apropriando de imagens da história da arte por ele catalogadas para a realização do seu trabalho. Os mecanismos de desconstrução, subversão e inversão dos valores dessa cultura, como ele os realiza e sua intensidade também serão abordados. Essa pesquisa tem como objeto de estudo o trabalho do artista plástico argentino León Ferrari. Através da seleção de suas obras de caráter crítico, tal como o próprio artista as designa, pretende-se analisar como esse artista expõe determinadas ideologias da sociedade ocidental e cristã– termo por ele muito empregado em seus textos e nos títulos de algumas obras. Para isso, se utiliza de diferentes estratégias artísticas. Em seu trabalho pode-se verificar a diversidade de materiais como caixas, hastes de alumínio, galhos, reproduções de obras de arte, santos e brinquedos de plástico, utensílios de cozinha etc. Num primeiro momento, a seleção de obras a serem estudadas prioriza as que tratam da questão do feminino nessa sociedade. Dentre elas, é aqui destacada “A Vênus tocada”, de 1964. (Figura 1) Caixa de fundo preto de pequenas dimensões com um arame comum para pendurá-la. Recortes de fotografias colados, Vênus e mãos, muitas mãos. Estranhamento e desconforto à primeira vista de A Vênus tocada(1964), obra de León Ferrari. No centro da caixa, está inserida a fotografia da escultura da Vênus, deusa esculpida desde a Antigüidade clássica e de grande relevância para a construção do feminino na história da arte. Essa figura se destaca como ícone na representação da mulher, especialmente no que se refere à idealização. A deusa da fertilidade, extremamente sensual, ideal de beleza clássico permanece como ícone do feminino na sociedade ocidental e cristã. Esta se apresenta de costas ao observador, diferentemente da posição frontal em que é habitualmente exposta e fotografada, apesar de ser trabalhada na sua tridimensionalidade. Colocá-la de costas é uma das inversões e dos estranhamentos causados pelo artista. As vestes dela estão ao seu lado, ao que é possível ver, está totalmente nua. Não tem cabeça, nem braços. É tocada por mãos que claramente não são as suas e encontra-se passiva a essas. Página 1 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Fig. 1. A Vênus tocada, 1964. Caixa com colagem de fotografias, 52 x 36 x 5cm. Col. Alicia e Leon Ferrari. (GIUNTA, 2006, p. 16) Os recortes de mãos grosseiras e masculinas se sobrepõem a ela sem delicadeza. A cor escura das mãos difere da cor do mármore da fotografia da escultura, logo estabelecendo contraste. Isso é reforçado pela planaridade que essas mãos possuem. Pode-se fazer um contraponto desse efeito nessa obra e nas colagens cubistas, a partir da seguinte afirmação de Greenberg (2001, p. 86), “a planaridade pintada ocuparia pelo menos a semelhança de uma semelhança de espaço tridimensional, enquanto a planaridade bruta, não-pintada da superfície literal era salientada como algo ainda mais plano.” Pensando sobre isso, no trabalho de León Ferrari, pode-se perceber que diferente da imagem da deusa, com nuances que sugerem seu volume e tridimensionalidade, a colagem das mãos planificadas, quase achatadas sobre o corpo da deusa (re)forçam a percepção de que se trata de uma fotografia bidimensional de uma escultura tridimensional. A relação entre essas mãos e a reprodução da representação da mulher produz mais estranhamento e uma tensão entre volume e superfície. O volume da caixa, a planaridade das mãos, a fotografia da escultura da deusa, o fundo preto. As mãos que se encontram sobre o ombro e as ancas da Vênus parecem posicionadas para mais do que tocá-la. Esse toque é para possuir essa imagem/ícone/deusa/mulher, que no mundo fora da caixa só pode servir à observação. É um possuir também prazeroso e erótico, que satisfaz ainda a vontade de poder tocar em obras de arte, vedado à maioria do público. A quantidade dessas mãos insere mais do que apenas o artista nesse prazer. Há um deleite e um incômodo provocado por essa Página 2 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes configuração. Esse toque ou a possibilidade do toque nessa representação idealizada do feminino desloca-a do lugar inalcançável e coloca-a mais perto dos homens. Diminuída, encaixada e tocada, a Vênus é dessacralizada, assediada, aviltada. As mãos colocadas mais abaixo, a partir das nádegas, já se mostram diferentes das da parte superior, parecem ainda mais grosseiras, rudes. Apesar de essas tocarem-na eroticamente, colocam-se de forma a poder desestabilizá-la, segurando-a pela perna e, especialmente, pelo tornozelo, podendo puxá-la e fazê-la cair. Há nesse posicionamento também um tom humorístico. Aproximar a deusa e a arte dos homens significa uma ameaça para a tradição que os distancia. Assim, León Ferrari coloca em risco o patamar sacralizado em que a obra de arte, de modo geral, é tradicionalmente situada, evidenciando sua instabilidade e a iminência da queda. Como afirma Francis Francina (1998, p. 94-95), ao tratar da colagem, e sua origem no Cubismo, “Também importante é o fato que não só as partes da colagem podem atuar como significantes, mas as relações particulares entre elas, como no caso da inversão, são cruciais para um entendimento do que é significado pela obra como um todo”. A posição desse artista contra um pensamento ocidental construído sobre a arte e, como será visto adiante, sobre a mulher é evidenciada na relação entre esses elementos. O recorte da Vênus se encontra centralizado, numa posição de destaque, acentuada pelo fundo preto. Ao utilizar uma configuração tosca e precária para inserir como elemento central a imagem dessa deusa, o artista explicita a reprodutibilidade da obra escultórica da Vênus, através da técnica fotográfica, inviabilizando a manutenção de valores tradicionais como a autenticidade¹ e a unicidade da obra de arte. Depois, a imagem recortada, colada e reinserida em outro espaço, construído pelo artista, e não o espaço do templo ou do museu em que esse tipo de escultura tradicionalmente se encontra para servir ao ritual religioso ou apreciação estético-formal. Nesse novo espaço, a caixa de fundo preto, para o qual essa técnica da colagem permite deslocá-la, ainda poderia colocar a Vênus numa zona central de atenção exclusiva, pela ausência de elementos no fundo, mas não o faz. O artista continua jogando com operações que parecem estranhas e aleatórias, deslocando a deusa para servir ao questionamento da lógica da tradição que a fundamenta. Uma dessas operações é fazer a imagem da deusa competir atenção com as mãos, em especial, a que não está sobre o corpo da Vênus, pois desvia o olhar da área central e causa dispersão. Essa mão, contextualizada na obra – que se assemelha a uma tela de pintura por sua disposição e pelo arame precário que a sustenta na Instituição – permite também uma generalização do toque. A obra de arte como um todo, e não somente a Vênus é tocada, dessacralizada, discutida e questionada. Importante ressaltar, ainda, a presença desse arame precário que se mostra para pendurar. León Ferrari é um artista, está dentro do sistema de arte e apresenta seu trabalho dentro de museus, galerias, centros culturais. Ao inserir nesses espaços sua (re)leitura da Vênus, da tradição e da própria instituição, ocasiona uma tensão dentro do sistema de que faz parte. Põe, assim, em questão o fazer Página 3 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes artístico, inclusive o seu, ao trazer uma imagem de uma obra sacramentada para dentro do seu próprio trabalho e ao utilizar técnicas como a colagem e materiais como a caixa e o próprio arame, brincando com a produção de efeitos desejados, sem negar o inesperado, ou as diversas possibilidades de significação que técnicas e discursos diferenciados possibilitam. O trabalho de León Ferrari, seja pelo uso de técnicas diferenciadas, seja pelo uso da ironia, seja pela contestação dos valores institucionalizados, remete também ao movimento do início do século XX, o Dadaísmo. Argan (2004, p. 356) expõe um aspecto desse movimento que tem relação com essa produção contemporânea: “o Dadaísmo propõe uma ação perturbadora, como fito de colocar o sistema em crise, voltando contra a sociedade seus próprios procedimentos ou utilizando de maneira absurda as coisas a que ela atribuía valor.” Essa obra fala de um ou vários aspectos da arte, de um sistema que vigora e pretende desestabilizar. Quando insere o arame, ironiza as obras que são feitas para museu, explicitando que não são os recursos e estratégias, técnicas ou materiais que fazem um trabalho ser obra de arte, mas o sistema de arte como um todo. Esse sistema criticado é o mesmo a que pertence León Ferrari como artista e A Vênus tocada como obra de arte. No entanto, seu trabalho não se coloca no sistema passivo como sua Vênus. Traz, ainda, outras questões para além do âmbito da arte, mas também de contestação de valores estabelecidos. Por se situar no contexto dos anos 60, marcado por lutas feministas, suscita o questionamento da posição da mulher na sociedade. Coloca em questão uma postura de passividade feminina em relação ao masculino, a dificuldade de inserção nessa sociedade de forma mais ativa, o lugar que lhe é dado pela tradição e como esse lugar é muito mais idealizado do que privilegiado. Ao utilizar uma caixa para fazer sua colagem, brinca com a idéia de volume que se projeta para fora da superfície da colagem, em direção ao “real”, de onde buscou elementos para inserir na caixa. O trabalho se coloca próximo do espectador enquanto as mãos achatadas e o corpo que sobrepõem se colocam à frente, auxiliadas pelo fundo preto que as destaca, e distante pelo espaço que há entre o espectador e o fundo da caixa. Assim, León Ferrari estabelece dicotomias – masculino/feminino, volume/planar, próximo/distante – e as ressalta através de procedimentos visuais. O contexto histórico de sua obra crítica como um todo, em contraponto com trabalhos estritamente formais, inclusive do próprio artista, e como lida com esses dois pólos, a utilização do humor e da ironia para o seu fazer crítico e outras estratégias para expor as ideologias que se posiciona contra são questões levantadas que serão abordadas no prosseguimento da pesquisa. Página 4 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADES, Dawn. Dada e Surrealismo. In: STANGOS, Nikos (org.). Conceitos de Arte Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1999. ARGAN, Giulio Carlo. Dada. O Surrealismo. In: ______. Arte Moderna. Trad. Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: ______. Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1986. CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. Trad. Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins Fontes, 2005. GIUNTA, Andrea (ed.). Leon Ferrari: Retrospectiva. Obras 1954-2006. São Paulo: Cosac Naify/Imprensa Oficial, 2006. GREENBERG, Clement. Colagem. In: _______ . Arte e Cultura. Tradução de Octacilis Nunes. São Paulo: Ática, 2001. HARRISON, Charles; FRASCINA, Francis; PERRY, Gill. Primitivismo, cubismo, abstração: começo do século XX. Tradução de Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. WOOD, Paul [et alii]. Modernismo em disputa: a arte desde os anos quarenta. Tradução de Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. A autora é aluna do Curso de Graduação de Artes Visuais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e bolsista do Programa de Iniciação Científica da mesma Universidade, orientanda da Professora Vera Beatriz Siqueira. Notas 1 Segundo a definição de Walter Benjamin, “A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico.” (BENJAMIN, 1988, p. 168) Página 5 de 5 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes “Michael Angelvs Pictor” – retrato de Michelangelo Buonarroti por Francisco de Holanda Raphael do Sacramento Fonseca IART/ UERJ Esta comunicação centrar-se-á na análise do “Retrato de Michelangelo” realizado por Francisco de Holanda, entre os anos de 1538 e 1540. Inserida no “Álbum de desenhos das antigualhas”, a obra participava de um projeto de revitalização da produção artística portuguesa, cujo maior incentivador e patrono era D. João III. Para tal, o monarca envia o jovem Francisco de Holanda ao território italiano, a fim de estudar as antiguidades greco-romanas, além da produções artísticas contemporâneas, cujo máximo expoente era o “divino” e, devidamente institucionalizado, Michelangelo Buonarroti. Pretende-se nesta fala dedicar especial atenção à frase que rodeia a figura pintada do artista italiano: “Michael Angelvs Pictor”, que, a princípio, aponta uma possível contradição para com a preferência declarada de Buonarroti pela escultura, em detrimento à pintura. O Álbum de desenhos das antigualhas foi desenvolvido entre os anos de 1538 e 1540. Seu autor é Francisco de Holanda, figura um tanto quanto peculiar na história da arte. Fortemente ligado à cultura do humanismo, este fazia parte de um projeto de revitalização cultural de Portugal, coordenado pelo então regente D. João III, que esteve no poder entre 1521 e 1557. Partindo do princípio de que a península ibérica como um todo não era detentora de uma longa tradição no campo das artes plásticas, nada mais coerente do que enviar pessoas ao território italiano, a fim de pesquisarem suas antiguidades greco-romanas e a produção de seus tão celebrados artistas. Fazendo coro a esse objetivo, Francisco produz durante seus dois anos de viagem o citado caderno de desenhos. Permeando seu conteúdo, atenção deve ser dada, em primeiro lugar, à sua portada que deixa bem clara sua intenção: “Reinando em Portugal El-rei D. João III que Deus tem, Francisco d´Ollanda passou a Itália e das antigualhas que viu retratou de sua mão todos os desenhos deste livro”I. O português acaba tornando comuns em sua obra seus agradecimentos ao regente. Em seu célebre texto Da pintura antigua, Holanda mais uma vez irá dedicá-lo ao seu querido D. João III. Esta escrita por sua vez está diretamente articulada a esse álbum de desenhos, já que, como seu próprio título indica, está baseada nas antiguidades também vistas no decorrer de sua viagem pela Itália, em que atravessou cerca de quarenta cidades. Folheando seu álbum, nos deparamos com os cerca de duzentos desenhos que giram em torno de suas trajetórias, com as mais diversas abordagens: paisagens, desenhos de arquitetura e desenhos alegóricos, retratos. Na presente comunicação pretendo dar enfoque a esse último gênero artístico encontrado no Álbum das antigualhas. Logo após a portada, nos deparamos com dois retratos (imagens 1 e 2). Enquanto à esquerda temos a representação do então Papa Paulo III, na outra página vemos um retrato de Michelangelo Buonarroti. O artista italiano tem importante papel no que diz respeito à fortuna crítica de Francisco de Página 1 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Holanda. Devido à não-publicação de nenhum de seus textos quando vivo, o humanista português permaneceu por cerca de três séculos silenciado pela história da arte. Suas merecidas publicações apenas se iniciaram ao fim do século XIX. Imagens 1 e 2 – Retratos de Pieto Lando e Michelangelo Buonarroti (1538/40), por Francisco de Holanda. A mais conhecida de suas obras, provavelmente, é a segunda parte de Da pintura antigua, que recebeu o alcunho de Diálogos em Roma. Neste texto, Francisco transcreve quatro diálogos cujo cerne é a prática artística, debatendo com outros ilustres italianos, como Vitória Colonna e Lorenzo Tolommei, sobre as possíveis relações entre Flandres, Itália e Portugal, além de outros paragones constantes à teoria da arte no Renascimento. O que veio a se tornar chamariz para a futura atenção dada a Holanda foi o fato dele ter incluído dentre os personagens o sublime Michelangelo. Justamente em sua boca foram colocadas as considerações mais incisivas a respeito das artes plásticas. Prontamente, os historiadores da obra e da vida do mestre florentino iniciaram uma longa discussão em torno da autenticidade destas falas, se perguntando se teria Francisco efetivamente conhecido Michelangelo. Página 2 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Nos detendo sobre a imagem, questionamentos começam a ser realizados. A figura encontra-se centralizada à sua circunscrição. A conjugação entre seu corpo, suas vestes negras, seu rosto e suas mãos é um tanto quanto tensa, não nos trazendo a impressão de grande verossimilhança. Suas mãos parecem flutuar em relação à plasticidade de suas roupas. Sua cabeça encontra-se estranhamente de perfil para o leitor do álbum, ao passo que seu corpo encontra-se voltado, de certa forma, para frente. Quando confrontamos este retrato com o que se encontra logo ao lado deste no álbum, as diferenças ficam ainda mais claras. A figura que representa o Papa Paulo III possui toda uma animação de cores e linhas, ao passo que o retrato de Michelangelo soa sem muita inspiração. Por outro lado, ao pesquisar os retratos que eram realizados na mesma época no território português, nos deparamos com soluções formais semelhantes ao do retrato de Michelangelo, como nos retratos de D. Afonso V e D. João II (imagens 3 e 4). Imagens 3 e 4 – Retratos de D. Afonso V e D. João II. Autoria desconhecida. Página 3 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes O mesmo perfil e a mesma estranha relação de seus rostos com o resto de seus corpos. Outra leitura da obra de Francisco de Holanda seria uma possível intenção de enquadrá-la formalmente à semelhança das antigas moedas romanas (imagem 5). Basta compararmos as imagens e perceberemos como constâncias a utilização do perfil e o enquadramento circular das figuras principais. Imagem 5 – Moeda romana com efígie de Nero (54/68). Somados a isso, temos como mais um ponto a favor desta hipótese o já aqui comentado valor positivo atribuído por Francisco (e pelo Renascimento na Itália) ao gosto pelo antigo. Basta lembrarmos que seu principal texto baseia-se na apreciação da produção greco-romana. A historiadora da arte Sylvie Deswarte-Rosa, ao analisar esta imagem, irá dizer que o português, ao inserir Michelangelo entre duas coroas, uma de louro e outra de rosas, estava a recodificar outros símbolos antigos, presentes também nas coroações dos grandes imperadores. A autora ainda associa as coroas à figura do poeta Petrarca, conhecido por seu coroamento no Capitólio, precisamente num domingo de Páscoa: Esta coroação que tinha sido feita com uma vontade de celebrar ao mesmo tempo a Antiguidade e o Cristianismo, adaptava-se perfeitamente ao pintor, o qual no próprio acto de pintar uma obra imortal, realizava a união entre o mundo sensível, ‘mecânico’, e o mundo espiritual. A coroa de louros representa a vida contemplativa e a de rosas, a vida activa, segundo um simbolismo miguelangelesco de origem dantesca que encontraremos também nas esculturas de Lia e Rachel.II E quanto à frase que circunda Buonarroti? “Michael Angelvs Pictor”, ou seja, “Michelangelo Pintor”. Que problemas ela traz para as leituras desse retrato? Faz-se necessária, primeiramente, uma rápida avaliação da fortuna crítica do artista italiano quanto ao clássico confronto entre as ciências do desenho. Em seu caso, precisamente duas – a escultura e a pintura - são constantemente problematizadas por seus comentadores. Autores contemporâneos a ele tendiam a elogiar sua habilidade como escultor, sendo Michelangelo possuidor, com larga vantagem sobre os outros, da posição de ser Página 4 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes tido como o maior de sua época. Porém, no que diz respeito à sua habilidade em lidar com a pintura, as opiniões se divergem por longo período de tempo, se estendendo ainda contemporaneamente. Mesmo Giorgio Vasari, célebre por ter dado a ele a posição de maior artista de todo o Renascimento italiano, quando realiza uma crítica do seu afresco do Juízo Final, na Capela Sistina, reluta em traçar claros elogios a Michelangelo: É suficiente para nós que entendamos que esse extraordinário homem sempre escolheu recusar-se a pintar qualquer coisa exceto o corpo humano em suas mais belas proporcionais e perfeitas formas e em sua maior variedade de atitudes, e isso para expressar a ampla extensão das emoções da alma e alegrias. Ele estava contente em provar a si mesmo no campo em que ele era superior a todos os seus companheiros, e pintar seus nus de grande maneira e mostrar seu grandíssimo entendimento dos problemas do disegn.III Como Joseph Manca afirma em artigo sobre o assunto, Vasari discretamente não afirma durante seu texto que Michelangelo era um dos melhores pintores de seu tempo, especialmente em trechos como o supracitado, ao colocar a produção buonarrotiana de forma panorâmica, em que a escultura sempre ganha proeminência. Outro famoso biógrafo de Buonarroti, Ascanio Condivi relata a popular anedota em que o florentino tenta não aderir à encomenda da Capela Sistina: Michelangelo, que ainda não havia usado cores e que percebeu que era difícil pintar uma abóbada, fez todos os esforços para não aceitá-la, propondo Raphael e alegando que essa não era sua arte e que ele não obteria sucesso; e ele foi tanto recusando que o Papa quase perdeu sua calma.IV Mesmo depois do término desta sua obra-mor em pintura, o próprio artista, conhecido também por sua certa aversão a um extenso falar sobre arte, permaneceu assinando suas cartas como “Michelangelo, Escultor”. Falando nelas, especial atenção merece a carta enviada pelo mestre a Benedetto Varchi. Este último, após discurso proferido na Accademia Fiorentina sobre o paragone acerca da escultura e da pintura, pede a oito artistas célebres que discutam a comparação através de uma carta. Michelangelo escreve: Digo que a pintura parece-me tanto melhor, quanto mais se aproxima ao relevo, e o relevo, tanto pior, quanto mais se aproxima da pintura; parecia-me, assim, que a escultura fosse o farol da pintura, e que a ambas separasse a mesma distancia que há entre o sol e a lua.V No que diz respeito a uma possível teoria das artes da parte do italiano, cada vez mais destaque acadêmico tem sido dado à sua categórica afirmação de que “... se pinta com o cérebro e não com as mãos, e quem não pode tê-lo consigo desonra-se...”.VI Esse pintar cerebral geralmente é conjugado com o seu conceito de disegno como desenho interno, projeto da obra a ser realizada plasticamente a posteriori. Mesmo tendo apresentado alguns fatores críticos que parecem contribuir com um parecer de que, muito possivelmente, Francisco de Holanda estaria completamente equivocado ou teria um senso Página 5 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes estético discrepante de boa parte de seus contemporâneos, cabe agora definir o que é a pintura para o português. Para tal, recorro a suas próprias palavras: A pintura diria eu que era uma declaração do pensamento em obra visível e contemplativa, e segunda natureza. É imitação de Deus e da natureza prontíssima. É mostra do que passou, e do que é presente e do que ainda será. É imaginação grande que nos põe ante os olhos aquilo que se cuidou tão secretamente da idéia, mostrando o que se ainda não viu, nem foi por ventura, o qual é mais. É também ornamento e ajuda das obras divinas e naturais, dando a árvore do homem que as raízes traz do céu o maravilhoso fruto da pintura.VII Consultando seu Da pintura antigua encontramos diálogos claros com o neoplatonismo, como, por exemplo, no título de seu primeiro capítulo, “Como Deus foi pintor”. De forma geral, porém, notamos que o português configura a querela das três ciências do desenho de forma discrepante ao debate comum na Itália. Em primeiro lugar, ele claramente coloca a pintura como mais importante entre as três artes. Sempre que possível Holanda chama a atenção não do artista, mas do pintor. O próprio título de seu texto já aponta para esse caminho – não se trata de uma teoria da arte baseada na apreciação da arte greco-romana como um todo, mas sim, principalmente, relativa à pintura. Escultura e arquitetura, para ele, são partes integrantes da pintura, tendo ele inclusive escrito capítulos intitulados “Da pintura arquitecta” e “Da pintura estatuária ou escultura”. A prática pictórica é “... honor das artes, e uma mostra do interior homem, semelhante à delicadeza da alma, e não do corpo”.VIII Outro aspecto que deve ser notado é que Francisco de Holanda como que reinterpreta as idéias de Michelangelo. Se para o italiano o disegno precedia a realização das obras, mantendo uma clássica subordinação das artes à ciência do desenho, Holanda acredita que o “desenho mental”, a que ele dá o nome de “invenção”, somado ao desenho plástico, ou seja, rascunho formal da futura obra, já são partes integrantes da pintura. ... digo que a primeira entrada desta ciência e nobre arte é a invenção, ou ordem, ou eleição a que eu chamo idéia, a qual há-de estar em o pensamento. E sendo a mais nobre parte da pintura, não se vê de fora, nem se faz com a mão, mas somente com a grande fantasia e a imaginação...IX (...) O qual desenho, como digo, tem toda a substância e ossos da pintura: antes é a mesma pintura, porque nele está ajuntado a idéia ou a invenção...X O português consegue reunir três instâncias diferentes presentes em parte da teoria da arte na Itália em uma coisa só, que ele denomina apenas pelo nome de “pintura”. Dessa forma, ele começa a tecer um vocabulário muito particular sobre as artes plásticas. Logo, julgo que ao referir-se a “Michelangelo Pintor”, além de explicitar sua preferência pela pintura em detrimento da escultura, Francisco de Holanda ainda está a ressaltar um aspecto constante na fortuna crítica de Michelangelo, sua habilidade com o disegno como cosa mentale e, conseqüentemente, como artista. Cabe concluirmos refletindo sobre as pequenas contradições que parecem brotar incessantemente da obra de Holanda. Sua escrita é deveras confusa e lidar com ela é como pisar sobre Página 6 de 8 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes ovos; deve-se constantemente problematizar suas poucas obras que restaram, além de nos questionarmos também sobre sua utilização de palavras, como no exemplo aqui abordado. Página 7 de 8 HOLANDA, Francisco de. Álbum de desenhos das antigualhas. Lisboa: Livros Horizonte, 1989, p. 16 DESWARTE-ROSA, Sylvie. Idéias e imagens em Portugal na época dos descobrimentos. Lisboa: Difel, 1992, p. 82-85 III Tradução livre de VASARI, Giorgio. “The lives of the artists” apud MANCA, Joseph. “Michelangelo as a painter: a historiographic perspective” in: Artbus et Historiae. Volume 16, número 31. Krakov: IRSA 1995. IV Tradução livre de CONDIVI, Ascanio. “The life of Michelangelo” apud Idem, Ibidem, p. 113. V BUONARROTI, Michelangelo. “Carta de Michelangelo Buonarroti e Benedetto Varchi” apud BERBARA, Maria. “A carta de Michelangelo a Benedetto Varchi: considerações sobre o vínculo entre o epistolário e as concepções artística buonarrotianas”. In: Concinnitas – Revista do Instituto de Artes da UERJ. Número 8. Rio de Janeiro: UERJ, 2005, p. 109. VI Idem. Tradução inédita do epistolário de Michelangelo Buonarroti. VII HOLANDA, Francisco de. Da pintura antigua. Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 20. VIII HOLANDA, Francisco de. Da pintura antigua. Lisboa: Livros Horizonte, 1984, p. 20. IX Idem, ibidem, p. 42. X Idem, ibidem, p.45. I II Graduando em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa “Recepção da tradição clássica”, coordenado pela professora Dra. Maria Cristina Louro Berbara. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Peter Greenaway, Frans Hals, Hieronymus Bosch e a gula Raphael do Sacramento Fonseca IART/ UERJ Esta comunicação confrontará três obras: o filme “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” (1989), de Peter Greenaway; o “Retrato do banquete dos oficiais da Guarda Cívica de São Jorge” (1627, Museu Frans Hals); e a “Gula”, de Hieronymous Bosch, parte integrante da “Mesa dos sete pecados capitais” (1480, Museu do Prado). A partir da leitura e detalhamento de cada uma destas propostas estéticas, advindas de diferentes contextos históricos, pretende-se fazer emergir as semelhanças e diferenças entre as obras, problematizando estas relações possíveis e dando valor a uma leitura da gula como topos constante da atividade artística. Peter Greenaway costuma dizer que não é cineasta; prefere ser tratado como um pintor que faz filmes. Em diversas entrevistas consultadas, o britânico possui uma postura severa para com a produção americana, chegando a afirmar que seus diretores “... não entendem sobre o que se trata de fazer metáforas em cinema. Eles são extremamente bons em fazer filmes corretos, com narrativas lineares, que entretém soberbamente. Mas eles muito raramente fazem alguma outra coisa”.I O que incomoda Greenaway é uma criação cinematográfica que tende a subordinar a potencialidade proporcionada pela utilização de imagem em movimento e do som à narrativa. Com tais afirmações é inevitável termos em mente sua formação acadêmica, realizada em pintura. Por outro lado, em sua obra como um todo as possibilidades de narrativa não são meramente negadas, visando uma construção audiovisual baseada unicamente na tradição das imagens das artes plásticas. Peter constrói sim ficções, sendo algumas delas, inclusive, recheadas de diversos estranhos personagens. O que faz diferença em sua poética é uma preocupação clara em fugir do lugar comum, problematizando sempre os conceitos de linearidade narrativa, metalinguagem e, porque não, história da arte. Assistir a uma obra sua é lidar com recodificações claras de questões muito amplas e caras à produção artística como um todo. Como ponto de partida para esta pesquisa, tomei como exemplo seu filme comercialmente mais bem-sucedido, intitulado “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante”, realizado em 1989 (imagem 1). Dentre as diversas possibilidades de abordagem que poderia pensar junto a esta obra, resolvi optar por uma que julgo ser constante dentro de diversos filmes de Greenaway: a gula. Página 1 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Imagem 1 – frame de “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” (1989), de Peter Greenaway. Um dos primeiros registros claros e objetivos da gula como tendência comportamental digna de preocupação, dá-se com João Cassiano, no século IV. Este, após conviver com alguns monges cristãos no deserto do Egito, tomou nota de oito de seus comportamentos mais nocivos. Encabeçando a lista, lá está a gula. Mais tarde, diversos importantes nomes do cristianismo irão dedicar algumas linhas ao assunto, como por exemplo, Evágrio Pôntico, padre também do século IV: A gula é a mãe da luxúria, o alimento de maus pensamentos, a preguiça de jejuar, o obstáculo ao asceticismo, o temor do propósito moral, a imaginação da comida, o delineador dos temperos, a inexperiência desenfreada, frenesi descontrolado, receptáculo da moléstia, inveja da saúde, obstrução das passagens corporais, gemido das vísceras, o extremo dos ultrajes, aliada da luxúria, poluição do intelecto, fraqueza do corpo, sono difícil, morte sombria.II Como podemos perceber, em algumas escritas a gula torna-se inclusive o pecado capital mais grave, por poder conseguir levar seu portador a todos os outros (atuais) seis pecados. Para alguns teólogos medievais e renascentistas e até para a própria bíblia, o alimentar-se se torna um grande problema quando esquecemos sua função meramente fisiológica e começamos a nos deter sobre os pequenos ou grandes prazeres das bebidas e comidas degustadas. “Não estejas entre bebedores de vinho, nem entre comedores de carne, pois bebedor e glutão empobrecem, e o sono veste o homem com trapos”, já diz o livro de Provérbios.III No caso do filme citado de Peter Greenaway, encontramos indícios de uma possível abordagem do tema em seu próprio título, que devidamente coloca um “cozinheiro” em seu início. Esta obra se desenrola em cima de, basicamente, os quatro personagens de seu título. O ladrão é o detentor de maior destaque e o grande guloso da película. Sua esposa por sua vez possui um comportamento completamente inverso ao do marido. Enquanto o personagem dele se põe a tagarelar durante todas as duas horas de filme, sua esposa é deveras silenciosa. Além disso, seus hábitos alimentares também destoam. O ladrão come praticamente sem parar as mais diversas especiarias, numa busca incessante Página 2 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes por se adequar ao gosto refinado do cozinheiro francês; sua esposa, aparentemente mais acostumada com pratos finos, apenas se preocupa em comer calmamente e sofrer as conseqüências do comportamento agressivo do ladrão. Esta narrativa toda se passa em cerca de três ambientes: uma cozinha, um restaurante (chamado Le Hollandais) e um banheiro. Para cada ambiência cenográfica, uma cor diferente: verde, vermelho e branco. Quanto ao amante do título, ele acaba se transformando na solução de fuga possível para a esposa. Tão comedido quanto ela, eles iniciam um caso extraconjugal sem a menor necessidade de palavras. Ao contrário do verborrágico ladrão, eles dois conseguem estabelecer comunicação com meros olhares. Greenaway consegue construir seu filme através de uma linguagem cinematográfica comedida no que diz respeito a movimentos de câmera e enquadramentos. O diretor economiza na edição de imagens e abusa dos planos-seqüência, além de se basear em travellings e planos que privilegiam a horizontalidade. Todo o tempo estamos a lidar com uma obra que conjuga pólos aparentemente opostos: a visualidade classicizante de uma direção segura e o comportamento do ladrão que, assim como os textos de teólogos medievais previam, se inicia com a gula e desemboca na concretização de outros pecados capitais, tais como a ira, a soberba e a inveja. Com o desfecho do filme próximo, o ladrão descobre que está sendo traído. Rapidamente, após quebrar todo seu restaurante num acesso de raiva, ele muni-se com garfo e faca e grita diversas vezes: “Vou matá-lo e comê-lo!” (imagem 2). Tal ato não se concretiza, porém, o amante, que era um colecionador de livros, é assassinado tendo de engolir páginas e páginas sobre história da Revolução Francesa (imagem 3). Página 3 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Imagens 2 e 3 – frames de “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” (1989), de Peter Greenaway. Sua esposa pede ao cozinheiro que asse o corpo de seu amante e, junto a toda a equipe do restaurante Le Hollandais, obriga que o ladrão pratique um ato de canibalismo (imagem 4). Pela primeira vez, este fica tão enojado a ponto de vomitar ao ver o prato que lhe é oferecido. Em seguida, é morto com um tiro. Neste exercício da gula, o pecador acaba punido. Imagem 4 – frame de “O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante” (1989), de Peter Greenaway. Observadores atentos constatarão que, durante as seqüências filmadas dentro do restaurante vermelho, o ladrão e seus comparsas são acompanhados por uma extensa pintura, que durante todo o filme é repetida, sendo inclusive o pano de fundo para seus créditos finais. Trata-se do Banquete dos oficiais da Companhia de Milícia de São Jorge em Haarlem, de Frans Hals, datada de 1616 (imagem 5). Página 4 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Imagem 5 – “Banquete da Milícia de São de Jorge em Haarlem” (1616), de Frans Hals Greenaway opta por seguir a tradição holandesa dos retratos em grupo nas suas opções de enquadramentos, além de colocar a reprodução da obra ao fundo do restaurante, da mesma forma como as milícias holandesas penduravam os retratos em seus espaços de reunião. O inglês está claramente a reler a história da arte e a tomar como modelo comportamental e estético de seus personagens os homens pintados por Frans Hals. Ambos são indivíduos cujo status social está em ascensão, levando-os à busca de notoriedade. Os do filme através do restaurante recém-aberto e da sua tendência a atitudes coletivas e irracionais; os holandeses através de seu próprio retrato, registro imagético que permanece resguardado, ecoando suas memórias. Como afirma Amy Lawrence, As milícias eram sociedades de homens beberrões que tinham pouco a ver com um militarismo doméstico contra os espanhóis. Elas eram uma desculpa para se vestirem bem e ficarem bêbados com os rapazes... queixas barulhentas, bebedeira, os barulhentos tiros de armas de fogo, indisciplina no uso de pólvora e insultos às mulheres eram lugar comum… A gigante reprodução da pintura no restaurante é um ícone para mau comportamento…IV Penso que podemos prolongar esta leitura da gula também para esta obra de Hals. O próprio artista foi integrante da milícia de São Jorge, tendo, assim como seus companheiros, uma fortuna crítica que aponta para os pecados da carne – Arnold Houbraken, historiador do século XVIII, por exemplo, afirma que Frans costumava “encher a cara todo final de tarde”.V Nesta obra, percebemos um elemento constante nos retratos de grupos holandeses, o banquete como propósito formal para transmitir a idéia de unidade e comunhão entre os homens pintados. Alois Riegl, historiador suíço, escreveu um extenso texto em que traça uma linha evolucionária desse gênero da pintura holandesa, colocando Frans Hals no cume de sua história. Segundo ele, o pintor nascido em Haarlem seria capaz de conjugar tanto a coordenação das figuras, que dão atenção ao observador externo, quanto a subordinação das mesmas, sempre entretidas com algum acontecimento interno ao Página 5 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes espaço pictórico. Logo, Hals engloba coordenação e subordinação, coerência interna e externa ao quadro, fazendo correspondência à estrutura de crítica de arte proposta por Riegl.VI Fazendo jus às suas outras representações de banquete, Frans expõe os homens à mesa, todos portando taças de vinho, que orgulhosamente ostentam, mostrando-as uns aos outros. Além disso, nos detendo sobre os alimentos sobre a mesa, vemos carne de porco, animal esse tradicionalmente também relacionado ao pecado da gula. É sabido também que, devido ao alarde e ao rombo financeiro que os banquetes faziam, chegando a durar até mesmo uma semana, algumas regiões criaram leis que obrigavam as festas a serem interrompidas caso ultrapassassem quatro dias de duração.VII Diferente do filme de Greenaway, em que o personagem guloso é devidamente punido, Frans Hals constrói um monumento ao joie de vivre; sua pintura celebra uma efemeridade constante aos doze homens sentados à mesa. É um monumento ao mundano, ao passageiro, aos prazeres de se comer, beber e viver. Se há algum espaço para condenação deste comportamento, ele está fora da tela – cabe ao espectador julgar positivamente ou negativamente esses homens. Contextualizando a pintura e a inserindo num panorama do Seiscentos holandês, não nos parece improvável que seu efeito moralizante estivesse justamente nessas entrelinhas, da mesma forma como outras obras de Hals que, para alguns historiadores, possuem tendência moralizante discreta – como ditava o calvinismo, a religião da maioria holandesa desse recorte histórico. Falando em discurso moralizante, religião e a possível dicotomia entre celebração e condenação, julgo podermos conjugar como a pilastra final desta pesquisa uma outra pintura de outro holandês – o célebre Hieronymus Bosch. Nascido na isolada cidade de ‘sHertogenbosch, o pintor possui uma fortuna crítica extensa e irregular, mas que dialoga com uma possível dicotomia entre celebração ou condenação dos temas de suas pinturas. Seria Hieronymus um herege que através de suas obras cultuava o demônio ou, num percurso inverso, um católico fervoroso que buscava a aplicar funções didáticas às suas pinturas? Domenicus Lampsonius, poeta e humanista flamengo, dedica algumas linhas ao pintor: “Por quê, Hieronymus Bosch, esses teus olhos atônitos? Por quê essa palidez no rosto?”.VIII Faço de suas perguntas as minhas ao me deparar com sua mesa dos sete pecados capitais, de 1480/1500 (imagem 6). Ao centro, Jesus Cristo mostra suas chagas. Abaixo dele, lemos a frase “Cave cave deus videt”, ou seja, “Cuidado, cuidado, o Senhor vê” (imagem 7). Os pecados que o circundam são percebidos por seus olhos. Dentre eles, obviamente temos a gula (imagem 8). Página 6 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Imagens 6, 7 e 8 – “Mesa dos sete pecados capitais” (1480/1500), de Hieronymus Bosch. Página 7 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes Trata-se de uma cena que se passa no interior de uma casa. Um homem gordo, sentado à mesa, devora algo que se assemelha ao osso de um animal e fita o espectador. Implorando por comida, na altura de seus joelhos, uma estranha figura, típica da pintura de Bosch: um anão, uma criança ou simplesmente mais um de seus estranhos seres? Do outro lado, já tendo chutado para longe a cadeira em que estava sentado, outro homem bebe vorazmente. Abaixo, mais comida está sendo preparada. À esquerda, possivelmente a esposa de um dos homens representados, chega, passivamente, com mais comida, pronta a servi-los e a cumprir com seu papel de mera dona-de-casa. Analisando esta obra em perspectiva para com as outras duas aqui citadas, encontramos um comportamento dos homens representados muito semelhante à forma como os personagens de Peter Greenaway se relacionam entre si e com o espaço cenográfico do restaurante, que chega a ser destruído pelo personagem principal. Diferindo, temos em Greenaway uma personagem feminina que consegue punir seu marido guloso, ao passo que em Bosch a mulher parece apenas cumprir uma função socialmente estereotipada: preparar mais comida e colocá-la à disposição de seu parceiro. Por outro lado, também poderíamos ler esta atitude de outra forma: como não percebemos nesta figura nada que indique que ela estivesse a comer vorazmente, podemos julgá-la como uma inteligente mulher, que apenas está a incentivar o pecado alheio, observando tudo com um olhar um tanto quanto cínico. No que diz respeito às relações entre Bosch e Hals, devemos ter em mente, inicialmente, que ambos são holandeses, logo a obra de Frans Hals se dá num lugar cujo espaço de experiência já havia sido marcado pelas pinturas de Hieronymus. Além disso, estamos lidando claramente com ações que acontecem em torno de mesas, sendo a obra de Bosch inclusive pintada sobre o tampo de uma. Se em Hals lidamos com um retrato que parece querer registrar e tecer um “elogio da loucura”, no melhor sentido erasmiano, em Bosch parece ser difícil nos descolarmos de sua aparente função didática, principalmente devido à inclusão de Cristo ao centro, e à construção formal que remete aos olhos de Deus. Ainda contamos com mais duas legendas, citações da bíblia, que Bosch introduz. Acima, “Porque são gente falha de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios! Que isto entendessem, e atentassem para o seu fim!”; abaixo, “Esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim”.IX Hieronymus ainda tem o trabalho de incluir mais quatro círculos, um representando a morte e outro o Juízo Final, e por fim a escolha que deve ser tomada por nós ao contemplarmos a mesa – ir a favor dos pecados e cairmos no Inferno, ou aceitarmos sua postura didática e subirmos ao Paraíso. Como se percebe, Bosch está claramente a dialogar com uma tradição medieval das representações cristãs. Ao propor tal cruzamento entre três diferentes obras, de diferentes contextos artísticos e históricos, espero ter exemplificado uma forma que considero mais flexível e menos evolucionista (historicista) de história da arte. De nenhuma forma se pretende estabelecer uma linha evolutiva das representações da gula. Muito pelo contrário, pretende-se demonstrar como artistas que aparentemente Página 8 de 10 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Centro de Educação e Humanidades – Instituto de Artes – Programa de Pós-graduação em Artes II Semana de Pesquisa em Artes nada tem em comum, podem ser lidos em conjunto, cabendo a nós a missão de ressaltar suas semelhanças e discrepâncias. Peter Greenaway acaba por punir seu pecador; Frans Hals eterniza um banquete; Hieronymus Bosch materializa os olhos de Deus. Constante aos três é a recodificação do pecado que envolve um “engolir sem mastigar”, ou seja, a gula. Página 9 de 10 Entrevista concedida a Film Comment na edição de maio/junho de 1990. PÔNTICO, Evágrio in SHAW, Teresa M. The burden of the flesh: fasting and sexuality in early Christianity. Minneapolis: Fortress Press, 1998. apud PROSE, Francine. Gula. São Paulo: Arx, 2004, p. 18. III PROSE, Francine. Ibidem, p. 33. IV LAWRENCE, Amy. The films of Peter Greenaway. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 170. V HOUBRAKEN, Arnold. De groote schouwburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Amsterdã, 1718/21. apud SLIVE, Seymour. Pintura holandesa – 1600-1800. São Paulo: Cosac & Naify, 1998, p. 33. VI RIEGL, Alois. The group portraiture of Holland. Los Angeles: The Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, 1999, p. 321-347. VII SLIVE, Seymour. Ibidem, p. 43. VIII LAMPSONIUS, Domenicus. Pictorum aliquot celebrium germaniae inferioris effigies. Tradução inédita de Maria Berbara. IX BOSING, Walter. A obra de pintura – Bosch. Rio de Janeiro: Editora Paisagem, p. 26. I II Graduando em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Integrante do grupo de pesquisa “Recepção da tradição clássica”, coordenado pela professora Dra. Maria Cristina Louro Berbara.
Download