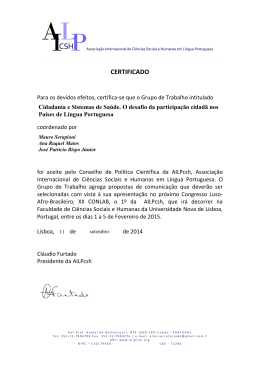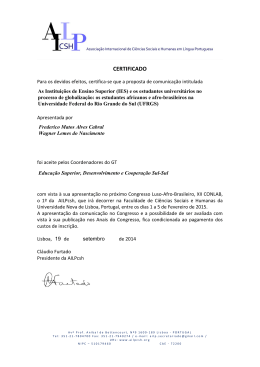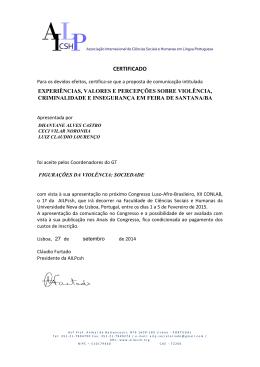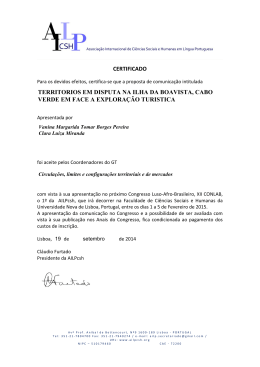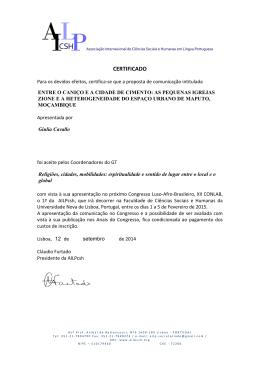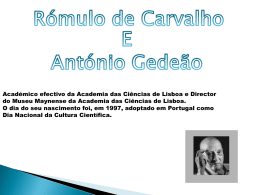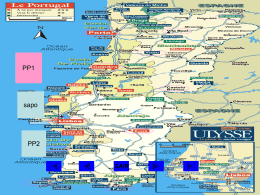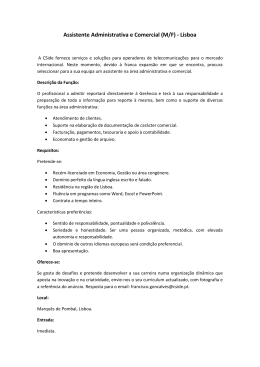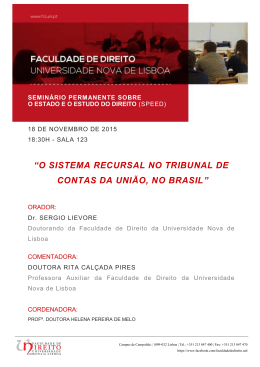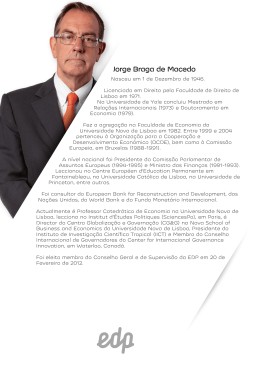Faculdade de Letras da Universidade do Porto Colóquio “Por prisão o infinito: censuras e liberdade na literatura”. 26 e 27 de Setembro 2011 Maria Velho da Costa: uma escrita que se faz “barragem contra a voz passiva” (…) “Guarda-te porém dos que te vêm pelo lado esquerdo, já corruptos da imitação comedida dos teus próprios passos, dando-te a jornada por finda. Guarda-te dos fruidores, tropeços crónicos, bancários da sabedoria que sangra. Guarda-te dos que não vão amar senão à tua imagem, afagadores subtis de espelhos bafejados, os arteiros do opaco. Guarda-te do mecenato servil que te oferecem, que outra coisa não é senão escrínio e bom gosto da tua escravidão. Guarda-te dos pequenos mercadores do tempo que só esses saberão encerrar-te em criptas derradeiras e fazer-te póstumo à obra e à indagação. (…) Nada há de mais pernicioso sobre a terra do que os parasitas da consciência alarmada e desperta, os coleccionadores de nomes e desastres alheios. Mata, porque esses são deveras os mediadores dos tiranos, os partidários da esperança iníqua de que tudo possa ser sem esforço ou danação. (…) Que tu és para matar e ter sobrevivido. Íntegra, textualmente, texto e acto.”1 Maria Velho da Costa, in Cravo Num colóquio que abre sob o signo do infinito e da liberdade ativa, e ao qual me propus trazer Maria Velho da Costa, pareceu-me adequado iniciar a minha comunicação pela leitura de excertos de um texto da própria autora que se intitula, muito significativamente, “Voo de amiga pelos maiores céus”, e cujo tom é o de um manifesto em favor da inteireza do escritor e da sua função indagadora do mundo e instigadora das consciências. 1 - Costa, Maria Velho da “Voo de amiga pelos maiores céus”, in Cravo, Lisboa, 1994, D. Quixote, p.6566.. 1 Atribuindo ao escritor o propósito de “alinhar palavras por forma a que lhe façam sentido. E aos outros.” (Costa, 1994:25), o percurso de Maria Velho da Costa tem vindo a cimentar-se no seu fascínio pela língua e pelas potencialidades desse “verbohistória português” (idem:84) de que é preciso fazer eco, e de que competirá aos escritores a responsabilidade de preservar enquanto fator de identidade cultural nacional, estimulando o seu conhecimento profundo e a destreza no seu manuseio para que, como diz em Cravo, não “se estanque no povo a vocação de indagar do difícil e do trabalhado” (idem:85). Datados embora do período pré e imediatamente pós-revolucionário, e nesse contexto necessariamente colados a um certo fervor mais ideológico e socialmente interventivo que marcou, nessa fase, muitos artistas, os textos de Cravo e de Desescrita, em formato de crónica, têm vindo, na minha perspetiva, a balizar a produção literária de Maria Velho da Costa e a contextualizar as suas opções discursivas e os universos ficcionais que engendra, e, nesse movimento, a fecundar os conceitos de censura e de liberdade de que se ocupa este colóquio. Nessas crónicas do período revolucionário, a escritora brandia a língua como voz ativa face ao poder e insurgia-se contra os criativos “a soldo” (Costa, 1973:41) que, pelo seu dizer fácil, ratificavam o analfabetismo do povo e fomentavam o entorpecimento mental e o unanimismo, coartando o poder enérgico da língua na sua capacidade de desencadear a indagação. Hoje, o conjunto da sua obra está aí para atestar a coerência de um percurso onde a escrita é atividade subversiva, porque agitadora da pacatez amorfa e acrítica, e exercício sempre comprometido, enquanto permanente indagação sobre o mundo e a sua ordem ou as suas desordens. A consciência da possibilidade de um uso subversivo da língua apareceu muito cedo na vida desta escritora, quando se apercebeu dos interditos familiares, sociais ou morais, e da conveniência de falar sem dizer nada, estratégia do saber estar e do saber viver nos círculos que conhecia. Contra isso, arremessou a “indecência de querer dizer quando falava” (Costa, 1994: 176) e começou a explorar as potencialidades libertadoras da palavra. Daí até ao conhecimento e ao fascínio pelos códigos dissonantes e à experiência própria da dissonância foi apenas mais um golpe de ousadia que lhe abriu o acesso a possibilidades infinitas de tessitura textual e de produção de sentidos. Porque, em Maria Velho da Costa, é de querer dizer que se trata, de língua comprometida em ato através do gesto laborioso de um artesanato da palavra para a tornar “instrumento de pesquisa do real total” (idem: 26), exercício prospetivo e 2 instigador da reflexão sobre o homem e o mundo. Diz-nos a autora no seu “Manifesto de escritor em linguagem fácil para uma campanha difícil”: “O escritor, exactamente porque oficia nessa via sacra para a maior consciência que é a palavra, sabe sempre que mente quando mente. E mentir, na profissão, é ser conveniente ou entreter” (ibidem). Seria essa a estratégia para passar incólume ao lápis censor da ditadura. Será essa hoje a solução para aparecer nos escaparates das livrarias ou na secção cultural dos supermercados e receber os proventos das grandes tiragens. Mas hoje, a autora está consciente de que a sua forma de alinhar palavras não é vendável e que o leitor comum anda arredio. Essa constatação, partilhada com o seu parceiro de escrita, Armando Silva Carvalho, no romance epistolar O Livro do meio através da pergunta “Mas quem é o leitor comum que nos pega?” (Carvalho e Costa, 2006: 29), é a de quem sabe ter uma escrita frontal, íngreme e, portanto, incómoda. Durante a ditadura, era assim que a escritora reagia à imposição de uma escrita conveniente: Ecidi escrever ortado; poupo assim o rabalho a quem me orta. Orque quem me orta é pago para me ortar. Também é um alariado. Também ofre o usto de ida. (…) A iteratura eve ser uma oisa éria e esponsável. Esta é a minha enúncia ública. (Eço esculpa de esitar nalguns ortes, mas é por pouco calhada neste bom modo de scrita usta ao empo e aos odos). (…) Olegas, em ome da obrevivência da íngua, vos eço pois: Reinai-vos a ortar-vos uns aos outros Omo eu me ortei. (Costa, 1973:55-56) É de escrita comprometida que se trata, portanto, e desassombrada. Hoje, como em 1969, data da publicação de Maina Mendes, ou nos primeiros anos da década de 70, fase da criação de Novas Cartas Portuguesas e de Desescrita, ou ainda como nos anos fervilhantes da revolução dos cravos, a escrita de Maria Velho da Costa mantém-se fiel ao compromisso de ser “barragem contra a voz passiva” (Costa, 1979:83) e de, como tal, se erguer em exercício obrigatório de indagação, em “compulsividade de registo” (ibidem) para “entender o que nos comove e move para onde”, objetivo que apresenta numa das crónicas de Cravo, em texto datado de Dezembro de 1975 (Costa, 1994:11). A expressão “barragem contra a voz passiva” é uma espécie de lema de vida de Elisa, personagem escritora em Casas Pardas, mulher emancipada e rebelde, em percurso de autoconhecimento e de busca do seu lugar numa escrita que quer significante e de visão apurada sobre o mundo. Reivindicando sempre o direito a dizer contra o bom tom das conveniências e da hipocrisia familiar e social, Elisa erige-se em barreira contra os que dela esperariam a postura dependente, cordata e socialmente aprazível de um sujeito passivo, de que a sua irmã Mary é exemplo trágico. O lugar de 3 Elisa será sempre o do sujeito que age e nunca o do que se sujeita à ação de um qualquer agente. E se, de facto, como se diz no romance, “Ela abandona-se é o contrário de Ela é abandonada” (Costa, 1979:83), Elisa estará sempre do lado dos que escolhem e vão desenhando o seu percurso de vida, assumindo os riscos e as responsabilidades desse exercício de liberdade que se autoimpõem, sem admitir que outros decidam por si. É com Maina Mendes que, na grande ficção, Maria Velho da Costa começa a rasgar o caminho da transgressão, quer em termos do código linguístico, quer ao nível das convenções sociais e familiares. Publicado em 1969, este romance foi acolhido pela crítica portuguesa como um marco literário no âmbito da construção narrativa e do trabalho sobre a língua, emparceirando significativamente com A Noite e o Riso, de Nuno Bragança, lançado no mesmo dia. Nele, Maina Mendes protagoniza uma expressiva reação contra uma sociedade patriarcal castradora onde se espera que todos falem na mesma voz. Curiosamente, Maina abdicará desse instrumento maior de afirmação de si para, em exercício de negação, se afirmar e se impor aos outros na sua individualidade e na sua inteireza. Dessa forma, constitui-se em reduto íntimo inviolável onde esperará, no silêncio que se autoimpõe e exibe aos outros, as sementes de uma transformação social. Maina cala-se para que no silenciamento da sua voz se torne audível a reivindicação do seu lugar no mundo. Pela sua força simbólica, o seu protesto é o de gerações de mulheres confinadas a um espaço vital de estreitos e predeterminados limites e a papéis passivos e alienantes. Trata-se, pois, de um grito de alerta, ainda que mudo, para a consideração de uma nova ordem e de novas sensibilidades que põem em jogo diferentes cenários de poder, a partir dos quais se problematizam processos sociais e identitários ao longo de três gerações. Na represa onde segura a voz até que a mereçam, Maina Mendes guarda, como diz Eduardo Lourenço no prefácio à quarta edição do romance, “a voz silenciada, negada ou submersa que se recusa à afonia definitiva”.2 A publicação, em 1972, de Novas Cartas Portuguesas, obra escrita em parceria com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, continuou o fulgor subversivo do primeiro romance, rasgando os véus de hipocrisia social e moral e reivindicando para a mulher o direito a dizer-se, a dizer o seu corpo e a sua sexualidade, e reclamando para ela o estatuto de equidade que lhe cabia numa sociedade habituada a pensar no masculino e escorada sobre as vigas já carcomidas de um conservadorismo burguês 2 - Eduardo Lourenço, in prefácio à 4ª edição de Maina Mendes, 2001, Lisboa, Publicações D. Quixote, p.14. 4 retrógrado. Arrojado e transgressor, considerado pornográfico e atentatório da moral pública, este livro representou, para Isabel Allegro de Magalhães, a “conjunção da denúncia da opressão no domínio privado e da opressão no domínio público” (Magalhães, 1992:155), sustentando-se, agora no dizer de António Guerreiro, sobre um “discurso da reivindicação do corpo da mulher, da nomeação, por ela própria, do seu prazer, do seu desejo, do seu erotismo (…) do poder de nomear” contra uma lógica de dominação machista (Guerreiro, 2011: 32). Escrito a três, numa assunção primeira de que a autoria dos textos permaneceria incógnita, este livro continua a suscitar o interesse quer dos críticos quer do público em geral, o que determinará ter atingido presentemente a nona edição, que é também a primeira edição anotada, por uma equipa liderada por Ana Luísa Amaral. Atentatória em toda a linha, até ao nível da linguagem que aí fulgura de disrupção e variância, etiquetada de subversiva, esta obra projetou decisivamente o nome das suas autoras no domínio público. Desde então, Maria Velho da Costa tem sido uma das Três Marias, o que a conotou irremediavelmente com uma ala feminista radical e transgressora. A apreensão da obra pelo regime e o processo judicial entretanto movido às autoras foram a sua “melhor campanha publicitária”3, como viria a admitir Isabel Barreno. O alarido que se gerou, pela notícia da perseguição às três escritoras e pela natureza transgressora de convenções de Novas Cartas Portuguesas, provocou forte impacto nos movimentos feministas europeus, o que, acrescente-se, viria posteriormente a desagradar a Maria Velho da Costa por sentir o livro demasiado aprisionado a um conceito. Em carta ao jornal A Capital, a escritora dirá: “Não gosto do que foi feito daquele livro. Não gosto do que foi feito de mim com ele. Quando foi feito, era um livro. Hoje é um livro feminista” (apud Gallo, 2008:34). Reação natural de quem conhece, e por isso mesmo recusa, as peias dos movimentos clubistas e o quanto eles podem conter de força paralisante da língua e do pensamento. Com efeito, se é verdade que a ficção de Maria Velho da Costa se constrói maioritariamente em torno de personagens femininas e que muitos dos trabalhos académicos que sobre ela se produziram enfatizam a vertente feminista e o pendor libertário que sempre se lhe associou, se é verdade também que as mulheres da sua escrita empreendem percursos de vida que são roteiros de ousadia num universo de cinzentismo masculino entorpecedor, parece-me muito redutor confinar a sua obra a um discurso de emancipação feminista, pesada embora a sua pertinência e atualidade no 3 - Afirmação de Isabel Barreno em entrevista a Textos e Pretextos, nº 3, 2003, pp. 67. 5 contexto dos anos sessenta e setenta. Se é certo que as mulheres são preponderantes na sua ficção, a funcionalidade da sua utilização terá mais a ver com a multiplicidade de funções a que se dedicam e com a versatilidade que as caracteriza e lhes permite funcionar, no universo literário engendrado pela autora, como instrumentos de análise de múltiplos setores de vida e como agentes de transformação. Desde a mulher burguesa ociosa e fútil, que nos bancos dos colégios de freiras iniciava a sua formação na arte da conveniência de se acomodar à passividade e ao estatuto de acompanhante fina do marido, (veja-se o caso da mãe de Maina, de Mary ou da sua mãe, em Casas Pardas), à mulher doméstica e remediada, como Elvira, também em Casas Pardas, que se desdobra em tarefas para garantir um quotidiano digno e confortável, à dona de casa amarga e insensível (como acontece com a mãe de Mariana Amélia em Lucialima), ou às criadas de diferentes estatutos e funções que vão fornecendo imagens de bastidores sociais, a panóplia é rica e diversificada. E o leitor vai também acedendo às diferentes vivências do amor e da sexualidade, à consciência ou à alienação cívica ou política de alguns setores sociais, ao embate cru e duro com a delinquência, os dramas da imigração e da exploração humana, a violência e a solidão, a incomunicabilidade e o vazio existencial que constituem muitos dos dramas da contemporaneidade e habitam os universos ficcionais de Lucialima, Missa in Albis, Dores, Irene ou o contrato social e, mais recentemente, Myra. Nas diferentes obras de Maria Velho da Costa, esses contextos têm vindo a prefigurar um mundo feito de relações de poder, bipolarizado, e onde nem sempre é fácil às personagens “cortar fronteira entre farrapo preto e crepes” (Costa, 1979:180), como se reconhece em Casas Pardas. Trata-se, quase sempre, de confrontar o leitor com roteiros de devastação, numa abordagem algo trágica da atualidade e que, de alguma forma, enferma de uma espécie de “ordem das mágoas”, expressão que importo do poema “Princípio”4, de Joaquim Manuel Magalhães por achá-la elucidativa de uma tendência para a disforia, ainda que por vezes irónica e cáustica, que me parece marcar a obra de Maria Velho da Costa, mas também alguma da nova ficção portuguesa recentemente publicada, como sejam os casos de Dulce Maria Cardoso, José Luís Peixoto ou valter hugo mãe. Estes roteiros de devastação não se oferecem em “lisura informativa” (Carvalho e Costa, 2006:181), estratégia que n’O Livro do Meio, se denuncia como prática 4 - Joaquim Manuel Magalhães (1974), Os Dias, Pequenos Charcos, Lisboa, Presença, p.13. 6 frequente de muitos autores, mas através de múltiplas plataformas enunciativas e relacionais e de uma hibridez discursiva que exercitam a atenção do leitor e espevitam a sua capacidade crítica e indagadora. Aliás, o aviso sobre as suas opções discursivas tinha sido dado já em 1975, num texto a que a autora chamou “Nota de leitura”: “… a percepção discursiva da realidade não me é a via mais natural e o meu modo preferencial de comunicar por escrito não é a explicitação” (Costa, 1994:105). Sempre de olhar centrado no mundo e nas pessoas que o habitam, Maria Velho da Costa não os escreve na sua ficção enquanto objetos do texto, mas apenas como elementos convocados, escusando-se sempre ao que chama a “desenvoltura retrateira” (Costa, 1979:89). A autora opera por estratégias que são sobretudo de alusão e de “deslize da referência” (Gusmão, 1988: 51), como reconhece Manuel Gusmão, desprotagonizando a História e, dessa forma, intemporalizando as situações de forma a permitir uma abordagem evolutiva que suscita, por parte do leitor, uma postura crítica e reativa. Tratar-se-á aqui de um “Zeitgeist muitas vezes difuso, mas nem por isso menos real” (Barrento, 1995:157), expressão que João Barrento utiliza para designar o sentido do tempo e da História na poesia contemporânea, mas me parece poder aplicar-se cabalmente aos universos ficcionais de Maria Velho da Costa. Tempo e História, apesar de presentes, não objetivam nem contextualizam as imagens do mundo, servindo apenas de atmosferas para a configuração de territórios subjetivos onde as personagens evoluem, se interrogam e se buscam num processo onde o leitor é permanentemente convocado. Este, como já se disse, exige-se ativo perante a ficção desta autora, pela natureza interrogativa do seu texto. Este conceito, na formulação apresentada por Catherine Belsey, designa a solicitação que o texto opera sobre o leitor no sentido de o levar a um processo de indagação sobre a matéria implícita ou explicitamente suscitada pelo texto (Belsey, apud Hutcheon, 2002:220-221). Na sua vocação de comprometimento, que faz das suas obras plataformas de indagação do mundo, mas também dos outros e de si, Maria Velho da Costa confere à sua escrita uma importante dimensão autorreferencial onde permanentemente se equaciona o fazer literário e as condições em que os textos poderão ou não interagir com os seus leitores. Nesse âmbito se joga muitas vezes a vertente interventiva da sua escrita e a sua vocação de autonomia e de liberdade. A criação de personagens escritoras é forma engenhosa, e enviesada, de trazer ao universo ficcional uma espécie de consciência autoral delegada, através da qual recorrentemente se chama à reflexão sobre o estatuto e as funções do escritor, as potencialidades da língua e o uso que dela é 7 feito. Se, como diz no romance Missa in Albis, tudo se resolve num vertiginoso “acto a três: o autor, a surpreendente voz do escrito e o censor que é aquele que vai ler” (Costa, 1988:229), torna-se pertinente a pergunta deixada n’O Livro do Meio: “Mas também quem é que quer o leitor para lesma submissa?” (Carvalho e Costa, 2006:308). Estamos, portanto, perante uma escrita que se faz barragem. Contra a voz passiva, mas também contra a leitura passiva. A barragem a que se alude orgulhosamente em Casas Pardas não é, no entanto, necessariamente uma força de bloqueio. Contra os que usam a língua, ou a literatura, em atitude de subserviência ou de covarde e alienada mansidão, a barragem que Elisa ergue pode ser reduto de aprendizagem e de reflexão para outros, oportunidade para compreender e assimilar o potencial enérgico da palavra e, a seu tempo, experimentá-la também em exercício consciente e empenhado. Não é por acaso que, ao contrário de uma barreira, uma barragem contém pontos de fuga, escapes libertadores por onde a água jorra impetuosamente após o cerco imposto pelas comportas fechadas. Este parece ser o compromisso da escrita de Maria Velho da Costa: o de ser altaneiramente autónoma e de, pelo seu exemplo, suscitar o mesmo impulso. Un Barrage contre le Pacifique é o título de um romance de Marguerite Duras, já adaptado ao cinema. Desconheço a existência de uma qualquer intenção no estabelecimento de afinidades entre este título e a expressão já referida, embora ela não seja de descartar, tendo em conta o gosto de Maria Velho da Costa pelas citações e o seu engenho no entretecimento de referências culturais de vária ordem nos seus textos. Propositadamente ou não, Un Barrage contre le Pacifique ecoa no texto de Casas Pardas e fecunda-o do vigor resistente e subversivo dessa outra autora coetânea, Marguerite Duras, cujas personagens femininas se oferecem também em versões marcantes de ousadia e de inconformismo. Maria José Carneiro Dias BIBLIOGRAFIA COSTA, Maria Velho da . (1969), Maina Mendes, Lisboa, Moraes Editores, (4ª edição, prefácio de Eduardo Lourenço, Lisboa, Dom Quixote, 2001) . (1973), Desescrita, Porto, Afrontamento. . (1976), Cravo, Lisboa, Moraes Editores (2ª edição: 1994, Lisboa, Publicações D. Quixote). . (1977), Casas Pardas, Lisboa, Moraes Editores (2ª edição: 1979, Lisboa, Moraes Editores; 4ª edição: 1996, prefácio de Manuel Gusmão, Lisboa, Publicações Dom Quixote). . (1988), Missa in Albis, Lisboa, Publicações Dom Quixote. 8 . (2000), Irene ou o Contrato Social, Lisboa, Publicações Dom Quixote (2ª edição: 2002, Lisboa, Publicações Dom Quixote). . (2008), Myra, pinturas de Ilda David, Lisboa, Assírio e Alvim. e CARVALHO, Armando da Silva (2006), O Livro do Meio, Lisboa, Editorial Caminho. BARRENTO, João (1995), “O astro baço – A poesia portuguesa sob o signo de Saturno”, in Revista Colóquio Letras, nº 135-136, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 157-168. GUERREIRO, António (8 de Janeiro de 2011), “Feminismo, ontem e hoje”, in Expresso – Cartaz, Lisboa, pp.30-32. GUSMÃO, Manuel (1988) “Textualização, polifonia e historicidade”, in Revista Vértice, nº 6, II série, Lisboa, Editorial Caminho, pp.47-51. HUTCHEON, Linda (2002), A poetics of postmodernism, New York, Routledge, 2nd edition. LOURENÇO, Eduardo (2001), Prefácio à 4ª edição de Maina Mendes, Lisboa, D. Quixote. MAGALHÂES, Joaquim Manuel (1974), Os Dias, Pequenos Charcos, Lisboa, Presença. MAGALHÂES, Isabel Allegro (1992), “Os véus de Ártemis: alguns traços da ficção narrativa de autoria feminina”, in Colóquio/Letras, nº 125/126, pp. 151-169. 9
Download