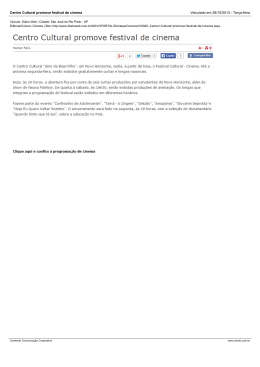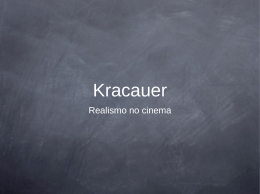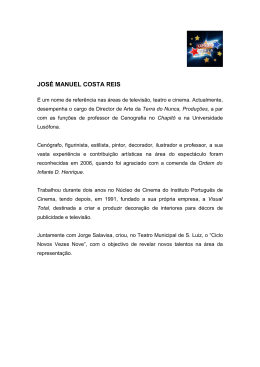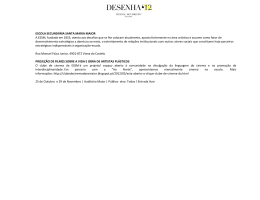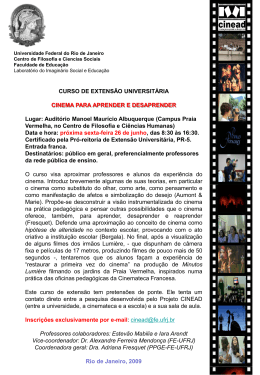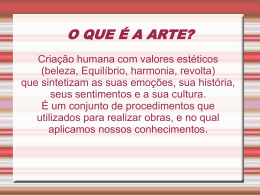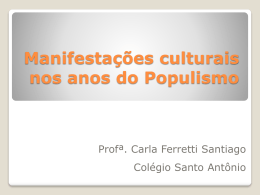PROJETO DE PESQUISA TÍTULO: CINEMA E PUBLICIDADE: RELAÇÕES INTERTEXTUAIS E MERCADOLÓGICAS CURSO: Programa de Mestrado em Comunicação LINHA DE PESQUISA: Inovações na Linguagem e na Cultura Midiática PROFESSOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Roberto Elísio dos Santos PESQUISADORA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Paulo Victor Trajano Mathias Duarte RESUMO: Orientada para a venda de produtos comerciais, para alavancar o consumo e para o convencimento do público, a Publicidade1 também possui uma perspectiva estética (desde as fontes tipográficas e ornamentos dos primeiros cartazes impressos até os recursos digitais da atualidade). Da mesma forma, o Cinema, invenção técnica que nasceu para documentar a realidade, desenvolveu sua linguagem própria, tornou-se narrativo e enveredou pela senda artística. A Publicidade audiovisual relaciona-se de diferentes maneiras com as produções cinematográficas, seja pelo uso de técnicas fílmicas, seja pela relação intertextual. O Cinema, por sua vez, absorve da Publicidade formas de vender produtos dentro do filme e, assim, angariar recursos que garantam sua viabilidade econômica. Esta pesquisa, qualitativa e de cunho exploratório, objetiva relacionar as duas linguagens, da Publicidade e do Cinema, tanto no aspecto estético como no mercadológico, a partir de análise de peças publicitárias e filmes. Para tanto, será preciso levantar e selecionar o material e proceder à análise de conteúdo. 1 Neste trabalho será utilizada a distinção feita por Sant’Anna (1998, p. 75-76) entre Publicidade e Propaganda: Publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, um serviço ou uma firma, enquanto a Propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias. INTRODUÇÃO Após o sucesso da invenção da fotografia, na primeira metade do século XIX, o passo seguinte foi agregar a ilusão de movimento aos registros fotográficos, o que se tornou possível na década de 1890 com as invenções de Thomas Edison (cinetoscópio) e dos irmãos Lumière (cinematógrafo). Inicialmente utilizado para captar imagens da realidade (uma bailarina dançando, o trem chegando à estação, operários deixando o local de trabalho, o movimento nas ruas das grandes cidades etc.), logo se tornou um espetáculo para as massas. Costa (1989, p. 28) define o cinema como técnica, indústria, arte, espetáculo, divertimento, cultura. O mágico e empresário teatral francês Georges Méliès, ao perceber o potencial do cinema para atrair o público, criou efeitos no processo de filmagem e dirigiu narrativas ficcionais. Segundo Costa (1989, p. 58-59): Edgar Morin já abriu a Méliès (além dos pioneiros de Brighton [cineastas ingleses]) o mérito de ter realizado a passagem do cinematógrafo ao cinema (...). Com o primeiro termo o estudioso francês indica o puro e simples aparelho de fazer tomadas e projeção de fotografias animadas criado pelos irmãos Lumière, que nunca demonstraram excessiva confiança nas possibilidades artísticas de sua invenção. Com o segundo, Morin quer indicar aquele complexo expressivo-espetacular capaz de articular uma linguagem própria e cujas potencialidades estariam já enunciadas pela produção de Méliès. Mas o cinema feito por Méliès era uma forma de “teatro filmado”, com a câmera parada filmando as ações dos atores em um único plano. No início do século XX, procurando desenvolver uma linguagem própria para o cinema, diversos cineastas elaboraram maneiras de aperfeiçoar o relato cinematográfico. Em 1903, o diretor Edwin S. Porter filmou nos Estados Unidos o primeiro primeiro plano do Cinema, no filme O grande roubo de trem. O diretor norte-americano David W. Griffith, de 1908 a 1914 realizou mais de 500 filmes curtos de diversos gêneros (western, comédia, drama) para a produtora Biograph e, nesse período, fez experiências que depois se tornaram usuais, ampliando a “expressividade” e a mobilidade da câmera e a montagem do filme: a montagem paralela (duas ações simultâneas que convergem para o mesmo ponto), a fragmentação dos planos (do plano geral ao close-up). E, para reunir todo o material filmado de forma coerente, empregava a decupagem clássica (reunião de planos, cenas e sequências seguindo regras de continuidade). De acordo com Xavier (1982, p. 27), Griffith foi sem dúvida o primeiro grande sistematizador, o modelo a ser seguido pelos cineastas. Formas diferentes de filmar e de organizar as imagens cinematográficas foram criadas por diretores e teóricos ao longo do tempo, a exemplo da montagem dialética de Eisenstein (contraposição de planos) e da câmera estilo dos autores da Nouvelle Vague (plano-sequência). Essas maneiras distintas são comuns ao chamado Cinema de Arte (especialmente o europeu e o asiático), que possui uma preocupação estética e promove a inovação artística e narrativa. Mas é preciso ressaltar que a maior parte dos filmes produzidos – principalmente o cinema comercial, industrial, voltado para o entretenimento – segue os princípios da linguagem clássica iniciada com Griffith. Como o cinema tem, há mais de um século, atraído e influenciado diversas gerações de espectadores no mundo inteiro, a relação dos filmes com outros produtos comunicacionais (histórias em quadrinhos, TV, Publicidade) também se consolidou. É o caso da Propaganda, que, na visão de Sant’Anna (1998, p. 1), não pode ser pensada como fenômeno isolado. Para esse autor, ela faz parte do panorama geral da comunicação e está em constante envolvimento com fenômenos paralelos, onde colhe subsídios. Nesse sentido, Covaleski afirma: O cinema é claramente uma das expressões artísticas mais consumidas e cultuadas, alimentando o imaginário coletivo de pessoas ao redor do mundo. Entre os públicos que mais tiram proveito dessa fonte de consulta e inspiração, na qual o cinema se constituiu, estão os publicitários. Dois conceitos se tornam importantes para a realização deste trabalho: o de pósmoderno e o de intertextualidade. O primeiro é definido por Santos (2006, p. 7-8), como o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, por convenção, se encerra o modernismo. Algumas características desse período que podem ser observadas nos produtos comunicacionais como o Cinema e a Publicidade são o pastiche, a citação, a metaficção e a nostalgia. É nesse contexto que serão analisadas as relações entre Cinema e Publicidade. Já Bulhões (2009, p. 128) afirma que a intertextualidade ocorre quando um texto faz transparecer suas relações com outros textos; quando interage explicitamente com outro e quando a existência de um texto depende estritamente de outro, seu anterior, como no caso da paródia. No caso do Cinema e da Publicidade, essa relação intertextual se manifesta de ambos os lados: peças publicitárias que citam ou parodiam sequências de realizações cinematográficas e filmes que usam técnicas publicitárias para anunciar produtos em meio à narrativa fílmica com a intenção de ampliar suas receitas. Dessa forma, este projeto pretende contribuir para o aprofundamento das relações entre Cinema e Publicidade, demonstrando empiricamente como a questão da intertextualidade se manifesta nesses produtos culturais midiáticos. REFERÊNCIAS BULHÕES, Marcelo. A ficção nas mídias. São Paulo: Ática, 2009. COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. 2.ed. São Paulo: Globo, 1989. CHAVES, Antonio. Cinema, TV, Publicidade cinematográfica. São Paulo: LEUD, 1987. COVALESKI, Rogério. Cinema, Publicidade, Interfaces. Curitiba: Maxi, 2009. RAMOS, José Maria Rodriguez. Cinema, Televisão e Publicidade: Cultura Popular de massa no Brasil nos anos 1970-1980. 2.ed. São Paulo: Annablume, 2004. SANT'ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 7.ed. São Paulo: Pioneira, 1998. SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. 11.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. (Primeiros Passos, 215). XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. OBJETIVOS Partindo do problema voltado à identificação das maneiras como Cinema e Publicidade se relacionam, esta pesquisa objetiva: 1) Relacionar a linguagem da Publicidade e do Cinema e mostrar suas correspondências estéticas e mercadológicas. 2) Analisar o conteúdo de peças publicitárias e filmes, para identificar as relações entre as linguagens publicitária e cinematográfica. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA Mês/ano Atividade Agosto/2011 Leitura e fichamento da bibliografia básica Setembro/2011 Leitura e fichamento da bibliografia básica Outubro/2011 Leitura e fichamento da bibliografia básica Novembro/2011 Levantamento documental Dezembro/2011 Levantamento documental Janeiro/2012 Levantamento documental Fevereiro/2012 Análise do material coletado Março/2012 Análise do material coletado Abril/2012 Análise do material coletado Maio/2012 Redação de artigo científico Junho/2012 Submissão do artigo a periódico acadêmico Julho/2012 Elaboração de Relatório final da pesquisa PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS Trata-se de uma pesquisa qualitativa de nível exploratória, que empregará os seguintes procedimentos metodológicos: 1) Técnicas de coleta de dados (levantamento documental de peças publicitárias televisivas e de filmes); 2) Análise de conteúdo a partir do método semiológico. FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS Com um viés qualitativo, os dados coletados durante a pesquisa serão analisados de acordo com a análise de conteúdo para demonstrar as maneiras como o Cinema e a Publicidade se relacionam (como a Publicidade se apropria do Cinema e como o Cinema emprega técnicas publicitárias para anunciar produtos, o merchandising2). 2 Para Sant’Anna (1998, p. 23), merchandising seria a atividade que engloba todos os aspectos de venda do produto ou serviços ao consumidor, prestados através de canais normais, do comércio através de meios, que não sejam os veículos de publicidade.
Download